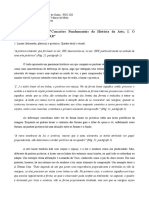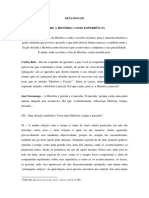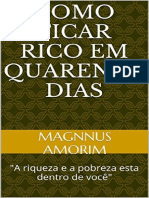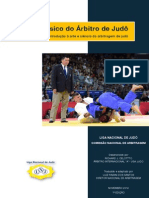Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Bela Morte - Laurie Laufer PDF
Enviado por
Nana DDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Bela Morte - Laurie Laufer PDF
Enviado por
Nana DDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A “bela morte”
Laurie Laufer
Psicanalista.
Professor,
Universidade de
Paris 7 Diderot,
CRPMS EA 3522, Resumo: É com uma realidade encoberta, com o pudor e com a
Paris Sorbonne Cité. vergonha que se articula a visão do corpo do morto; a problemática
do fantasma ligado ao morto. Se a sexualidade parece-nos, atual-
Tradução: Roberta
Bertone
mente, menos velada do que na época clássica, a morte, por sua vez,
tornou-se tabu e deslocou-se para a esfera privada, para o território
da intimidade psicológica, o que Phillipe Ariès denomina “a morte
tornada selvagem”. Na descrição que Flaubert faz do falecimento de
Ema, em Madame Bovary, as imagens da morte e da decomposição do
corpo morto mantêm vivas uma iconografia recalcada, “aureolada”.
O processo de censura contra o livro é emblemático da repressão
da sociedade sobre a representação da morte.
Palavras-chave: Morte, visibilidade, censura, catarse, fantasia.
Abstract: The “beautiful death”. It is in the hidden visibility, in
the modesty and in the shame that the issue of viewing the body
of the dead takes shape, going towards the phantasmal aspect
(aspect of fantasy) linked to the dead. If sexuality seems less veiled
as compared to the classical era, death in itself has become a taboo
and withdraws itself into the private sphere, into a psychological
intimacy, what Ariès calls “the barbarization of death”. Concerning
Flaubert, writing about the death of Emma Bovary, the imagery
of the body’s decomposition and of death creates a repressed,
“halo-ed” imagery. The censor process against Madame Bovary is,
in this respect, symbolic of society’s repression of the representa-
tion of death.
Keywords: The dead, visibility, censure, catharsis, fantasy.
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
16 Laurie Laufer
“O rosto no momento da morte: cinza, absolutamente cinza. Eu nunca tinha visto aquilo,
e no entanto, foram numerosos os mortos ao meu redor. Como era inesperado e surpreendente,
esse rosto cinza, mais cinza!”
(Fala de uma paciente)
É com uma realidade encoberta, com o pudor e com a vergonha que se articula
a visão do corpo morto; a problemática do fantasma ligado ao morto. É nesta
perspectiva que a morte do objeto amado pode nos incitar a explorar o arcaico e
o primitivo. O surgimento da dor está ligado à perda do objeto, ao que ele era, e à
maneira como ele estava inscrito na vida infantil do enlutado. Então, o que perde
o enlutado? A possibilidade da realização de seus desejos ligados aos fantasmas
sexuais infantis não estaria no centro da questão que articula fantasma, luto e
desejo? A experiência de ver é uma das que se encontra no coração da vivência
infantil: não se diz que “a curiosidade é um vil defeito”? A fórmula produz o
fantasma do que há para ser visto, daquilo que no corpo é o mais exposto: sua
relação com a morte e com o sexo.
Esta visibilidade da morte, do corpo do morto, faz parte da “mortalidade da
morte”. A morte é mortal porque é barulhenta, visível, porque está em movimen-
to, porque fabrica fantasmas. A imortalidade da morte a torna mortífera. Ora, a
doença do luto é uma crença na imortalidade, num corpo imortal. O melancólico
é imortal porque não acredita no que sabe, não brinca com seu saber. Quando
se coloca a questão do “porquê da morte” ele se esvazia, consome-se querendo
respondê-la. A questão esvaziada da sua função de enigma, repetida à exaustão,
abre espaço para a melancolia.
Atualmente, a morte e a visibilidade do corpo morto não existem mais. Desde
que a morte teve seu sentido “invertido”, passando a ser dissimulada, encoberta,
rechaçada, asseptizada, tudo se passa como se sua fábrica de produzir fantasmas
estivesse inativa.
Isso não quer dizer que não vejamos mais a morte: as imagens banalizando
valas, mortes violentas, assassinatos e atentados desfilam antes e depois das man-
chetes esportivas e meteorológicas, mas a linguagem e o espaço de construção
fantasmática estão suprimidos: não falamos mais da morte, ela nos é projetada,
e a imagem que vem do exterior imobiliza tanto a palavra quanto o fantasma.
A imagem sidera, destrói o movimento do visível.
Assim, a obra de Geoffroy Gorer, Pornographie de la mort (1965) é esclarecedora.
A ascensão da burguesia e a liberação sexual parecem estar na origem de uma
mudança de tabus. Se a sexualidade parece-nos, atualmente, menos velada do
que na época clássica, a morte, por sua vez, tornou-se tabu e deslocou-se para a
esfera privada, para o território da intimidade psicológica, o que Phillipe Ariès
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
A “bela morte” 17
denomina “a morte tornada selvagem”. O luto torna-se um assunto pessoal a
ser tratado solitariamente, uma “massa a dois” entre o morto e o sobrevivente,
como se o terceiro (palavra, coletivo, comunidade) tivesse sido excluído dessa
relação dual.
É esse deslocamento de sentido que Gorer analisa ao desenvolver o argu-
mento de que, há 200 anos, nossa relação com as três experiências humanas
fundamentais, a saber, a copulação, o nascimento e a morte, eram desprovidas
de mistério:
“as crianças eram convidadas a pensar sobre a morte, sobre sua própria morte,
e aos instrutivos e premonitórios sepultamentos alheios. Durante o século XIX,
quando a taxa de mortalidade era elevada, raros foram os que não testemunharam,
ao menos uma vez, uma verdadeira agonia, ou que não tenham participado de
uma cerimônia fúnebre. Os funerais eram ocasiões de grande ostentação, tanto
na classe operária quanto na classe média e na aristocracia. Os cemitérios eram
o centro de cada velha aldeia e os que se localizavam em cidades tinham, em ge-
ral, uma posição privilegiada. Foi muito tarde, no século XIX, que a execução de
criminosos deixou de ser, ao mesmo tempo, um divertimento e uma advertência
pública.” (GORER, 1965, p.22)
O espetáculo da morte era o acontecimento que possibilitava olhar para a
morte, para o corpo do morto, e, pela visão do irrepresentável, permitia uma
abertura e um jogo com a morte em si mesma. Ver é necessário para criar um
mundo imaginário, e para não ficar preso a uma só imagem, o que seria uma
paralisação da vida psíquica. Uma criança que não pode assistir ao enterro de seus
pais, a quem a participação no funeral é interditada, fica presa a uma imagem:
o que é que estão me proibindo? O irrepresentável continua, assim, irrepresen-
tável e pode tornar-se inominável e impensável. Que formas adquirem, na vida
psíquica, o inominável, o impensável e o irrepresentável?
Gorer constata uma mudança que ocorre no século XX: “no momento em
que se começa a poder falar do ato sexual, particularmente nas sociedades
anglo-saxônicas, torna-se cada vez mais chocante falar da morte como fenômeno
natural” (ibidem) e Ariès comenta:
“Os processos naturais de putrefação e de decomposição tornaram-se repugnantes,
tanto quanto os processos naturais do parto e da copulação o eram há um século
atrás. O interesse por esses fenômenos era mórbido e doentio, ao ponto de ser
desaprovado para todos e punido para os jovens. Nossos avós aprenderam que os
bebês eram encontrados sob as folhas dos pés de groselha ou de repolho; nossos
filhos estão aprendendo, provavelmente, que os que ‘partiram’ tornaram-se flores ou
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
18 Laurie Laufer
repousam em agradáveis jardins. Os horrores são implacavelmente camuflados; a arte
dos embalsamadores é a da negação total.” (ARIÈS apud GORER, 1979, p.285)
Assim nasce a “bela morte” romântica: camuflar os horrores, apagar os traços
de sofrimento, sumir até com os vestígios dos corpos, dos mortos. O que vê quem
está vivo se não aquilo que traz as marcas de seus mortos? E o que acontece com
ele quando se confronta com a negação da morte?
O sociólogo inglês mostra que a morte tornou-se tão vergonhosa e proibida
quanto o sexo na época vitoriana. Uma proibição articula-se a outra, modela
os comportamentos, enrijece os modos de pensamento e permite o controle e
a repressão das condutas sexuais e “mórbidas”. Totens e tabus, a morte e o sexo
tornam-se, no apogeu da ideologia burguesa, os eixos segundo os quais podemos
classificar os desviantes, ou os “anormais”.1
Segundo Gorer e Ariès, a fonte da censura sobre a morte e o sofrimento
por ela provocado é a mesma dos mecanismos que atuam na repressão da
sexualidade.
“Hoje, a morte e o luto são tratados com o mesmo recato que as pulsões sexuais o
foram, há um século (...) Atualmente, admitimos como sendo normal que os ho-
mens e as mulheres sensíveis e razoáveis possam dominar-se perfeitamente, durante
seus lutos, pela força de vontade e por seu caráter. Eles não têm mais necessidade
de manifestá-los publicamente; no máximo é tolerado que eles o façam privada e
furtivamente, como um equivalente da masturbação.” (GORER, 1965, p.26)
Assim, o que Gorer propõe — e que é retomado por Ariès — é que a imagem
do enlutado solitário e aflito é parte integrante da supressão do luto e do desapa-
recimento social da visibilidade da morte: “Eu sustento que o trabalho do luto é
favorecido ou entravado, e sua evolução facilitada ou tornada perigosa de acordo
com a forma como a sociedade em geral trata o enlutado” (idem, p.168).
Esse isolamento no qual o trabalho do luto se realiza é, para Ariès, o obstá-
culo, fruto de uma sensibilidade romântica, contra o qual se debateu o século
XX no que tange ao luto, à morte e à sua visibilidade.
“Sem querer, os psicólogos fizeram de suas análises do luto um documento histó-
rico, um atestado da relatividade histórica. A tese deles é que a morte de um ente
querido é um dilaceramento profundo que, no entanto, cura-se naturalmente, desde
que não se impeça a sua cicatrização. O que nos interessa é que nossos psicólogos
1Cf. o extraordinário curso de M. Foucault, Les Anormaux (1974-1975). Paris: Seuil-
Gallimard, 1999.
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
A “bela morte” 19
descrevem o luto como sendo, desde sempre, um fato natural, parte da natureza
humana. A morte sempre provocaria nas pessoas mais próximas um trauma que
só uma série de etapas permitiria curar. Caberia à sociedade ajudar o enlutado a
ultrapassar essas etapas, porque ele não tem força para fazê-lo sozinho. Mas esse
modelo que parece, aos psicólogos, ser parte da natureza humana, remonta somente
ao século XVIII; o estado ao qual eles se referem não é um estado de natureza e
data somente do século XIX. Antes do século XVIII o modelo era diferente e é este
que, se quiséssemos, poderia, pela sua durabilidade milenar e sua imobilidade, ser
aproximado de um estado de natureza.” (ARIÈS, 1979, p.290)
O medo do cadáver anuncia a sua supressão.2 Sobre o cadáver jogou-se um
véu e o olhar foi excluído. Ver o morto, tal seria a experiência do luto, é algo
que precisa ser vivido; é a condição que possibilitaria dar ao irrepresentável um
estatuto de discurso. Mas o que é ver o morto? Em que condição sabemos que
vimos o morto?
A sensibilidade romântica à dor jogou um véu pudico sobre a experiência de
ver o morto, sobre o desejo de vê-lo. Uma vez a morte erigida em ícone, a imagem
se imobiliza porque não emociona mais. É a ideia da morte que emociona. É no
intelecto que a ideia da morte se fixa. Nada do corpo é atravessado. Eu insisto na
articulação entre o corpo, a imagem e os processos de pensamento que Freud
propõe em seu texto O tratamento psíquico (1895) Fora desta articulação, o
enlutado conserva em si a imagem imobilizada do morto.
De certa maneira, que poderia parecer paradoxal, a imagem do morto como
ícone é o irrepresentável da sua morte. O movimento psíquico para no limiar
desta visão, que é, de fato, o insuportável psíquico do representável. O ícone é um
suporte fixo da representação, uma imagem sem sombra, sem movimento.
“Compreendemos, assim, o que se passa diante de nossos olhos. Por bem ou por
mal, fomos todos transformados pela grande revolução romântica do sentimento.
Ela criou, entre nós e os outros, laços cuja ruptura nos parece impensável e into-
lerável. É essa primeira geração romântica que, pela primeira vez, recusa a morte.
Ela exaltou-a, hipostasiou-a e, ao mesmo tempo, ela fez do ser amado — não do
desconhecido, não de todo mundo — um imortal inseparável.
Essa ligação ainda perdura, apesar de certa aparência de relaxamento, devido,
sobretudo, a uma linguagem mais discreta, com mais pudor (...) E ao mesmo
tempo, por outras razões, a sociedade não suporta mais a visão das coisas ligadas
2 Frente à recusa contemporânea da morte, Philippe Ariès falou da “morte que se tornou
selvagem”.
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
20 Laurie Laufer
à morte — e, consequentemente, daquelas referentes ao corpo do morto e àqueles
que o choram.” (ARIÈS, p.292)
A experiência do luto é uma experiência do visível, da (-)patia, e da catarse, reto-
mando as coordenadas aristotélicas comentadas por Marie-José Mondzarin: “Con-
sequentemente, para estimular o intelecto é preciso que haja desejo, e, da mesma
forma, para estimular o outro, é preciso dirigir-se a seu desejo.” (MONDZAIN,
2003, p.117).
“Quem fala purgação diz expulsão de um dejeto fecal, e parece improvável que
Aristóteles considere as paixões como algo a ser descartado, ainda mais através
do uso repentino de uma palavra tirada do vocabulário médico, sem que seu uso
metafórico seja esclarecido. Como imaginar, neste caso, que ele tenha considerado
a paixão como motor do julgamento? É que com o uso da palavra katharsis, no sen-
tido do efeito de euforia provocada pela arte, perdemos toda a força da expressão
perainein katharsin. Aristóteles não diz katharein, ele não utiliza o verbo, mas associa a
operação catártica a um outro verbo que significa ‘atravessar de lado a lado, per-
correr até o fim’. Esse termo parece, de fato, próximo do alemão Durcharbeiten, que
os tradutores de Freud interpretaram como perlaborar (...) A natureza da katharsis é
visual.” (idem, p.119)
A operação catártica consiste em ser atravessado de lado a lado. Ela permite a
perlaboração do sofrimento e do traumatismo. Não nos desfazemos da dor, do
tormento provocado pela morte do outro, unicamente por um efeito de discurso,
o elaboramos pela visão e pela palavra, pelo olhar e pela voz. A palavra é catártica
quando ela atravessa o corpo. Ora, as condições que tornam possível essa travessia
do corpo são dadas pela visão. Uma imagem que não emociona não incita. “A
especificidade da imagem é emocionar, logo incitar: as imagens não dizem nada,
elas fazem falar” (idem, p.27). A imagem é a articulação possível entre o corpo
e a palavra. Entretanto, é a imagem do corpo que queremos esconder, é dela
que queremos fazer desaparecer as imperfeições, torná-la harmônica, limpá-la
de todos os resíduos e de todos os horrores da carne.
Uma vez fechada o necrotério, que permitia a contemplação de vítimas de
morte violenta, sórdida, a iconografia (pintura e fotografia) passa a retratar os
mortos de maneira plácida, como se falecidos de morte natural, serena, bela.
Durante a exposição O último retrato, no museu d’Orsay, em Paris, na primavera
de 2002, pude perceber a que ponto todo o traço de violência, de erotismo, e até
do cômico, tinham desaparecido na representação da morte no século XIX.
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
A “bela morte” 21
“Geralmente, o leito de morte é arrumado para assegurar uma exposição digna
e apagar os traços da agonia: o último retrato é autorizado quando tudo está em
ordem (...) a morte deve ser bela... Quando a morte foi acidental ou criminosa, a
transferência para um leito bem feito, entre lençóis, minimiza as circunstâncias
da morte.”3
Vejamos um exemplo emblemático da ação do recalque sobre o caráter
erótico da morte.
“Durante a sua viagem à Itália em 1834, Paul Delaroche conhece Louise Vernet,
filha do pintor Horace Vernet, então diretor da Villa Medicis. Eles se casam e Louise
morre dez anos mais tarde, com 31 anos. Louco de dor (nos diz o catálogo), seu marido
a pinta sobre seu leito de morte, a cabeça virada para trás, os cabelos desgrenhados,
a boca entreaberta, a pele emaciada e o peito coberto, com os ombros magnifica-
mente desnudos.”4
Posso acrescentar os olhos semicerrados, as pupilas viradas para trás, o peito
oculto por uma imensa cabeleira que cobre o corpo como um véu. O corpo
cobrindo o corpo.
“Imagem ambígua (continua o catálogo), inspirada em referências do barroco romano
— pensamos em Caravaggio e sobretudo no Êxtase de Santa Teresa, de Bernini — em
que Eros e Tânatos se misturam: podemos ver nesta imagem a morte, mas também
o orgasmo.5 É, sem dúvida, para disfarçar o caráter íntimo desta obra que o pintor
acrescenta uma auréola, transformando sua mulher numa santa.”6
Para mim, não se trata verdadeiramente de um “disfarce”: seria preciso uma
ingenuidade suspeita, ou uma extraordinária negação da parte do expectador
para deixar-se “confundir” por esta auréola que, neste gesto negativo, “acusa”
o traço erótico do corpo. “Não, espectador, não pense que eu quis erotizar a
morte da minha mulher. Veja, há até uma auréola, é uma santa”... “Não pense,
sobretudo, que se trata da minha mãe!”7 De tanto querer retirar o erotismo, a
violência e o cômico da representação da morte, do corpo morto, eles retornam
3 Le dernier portrait, catálogo da exposição, Paris: Édicion de la Réunion des Musées Nationaux,
2002, p.40.
4 Ibidem.
5 Nota do tradutor: em francês, “petite mort”.
6 Idem, p.62.
7 Cf. esse é o paciente que Freud evoca no seu artigo “A negação” (1925).
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
22 Laurie Laufer
— neste caso sob o traço da auréola, que tem, para mim, a função de um chiste
inconsciente do autor.
Assim, a bela morte asseptizada, livre de seus maus cheiros, de suas últimas
palavras cômicas e da violência, passa a ocupar, no final do século XIX, o espaço
coletivo e ritual, esvaziando-o das ferocidades e lascívias relativas ao morto.
Na descrição que Flaubert faz do falecimento de Ema, em Madame Bovary,
as imagens da morte mantêm vivas uma iconografia recalcada, “aureolada”.
O processo de censura contra o livro é emblemático da repressão da sociedade
sobre a representação da morte, a ponto do grande poeta romântico francês,
Lamartine, dizer a Flaubert: “Você me fez mal, você me fez literalmente sofrer!
A expiação é desproporcional ao crime; você criou uma morte atroz, espantosa
(...) é um suplício como jamais tínhamos visto. Você foi longe demais, você me
fez mal aos nervos.”
Extraordinária confissão do mais romântico dos poetas franceses, que não
pôde suportar nem a imagem, nem a exposição do corpo da morta criadas por
Flaubert. A violência, o erotismo e a comicidade desta exposição da morte a
tornam uma passagem audaciosa da literatura e são uma das razões pelas quais
Proust tanto amava Madame Bovary.
“Ema tinha a cabeça pendida para o ombro direito. O canto da boca, que conser-
vava aberta, parecia um buraco negro escuro na parte inferior do rosto; os dois
polegares permaneciam dobrados para a palma das mãos; cobria-lhes as pestanas
uma espécie de poeira branca e os olhos começavam a desaparecer numa lividez
viscosa, que se assemelhava a um tecido tênue, como se neles lhe tivessem as ara-
nhas feito uma teia. O lençol desenhava-lhe o corpo desde o seio até os joelhos,
erguendo-se depois na ponta dos pés; e a Carlos afigurava-se que pesavam sobre
ela massas infinitas, um peso enorme.
Felicidade soluçava:
— Ah! Minha pobre patroa! Minha pobre patroa!
— Olhe, como está bonita ainda! — dizia, suspirando, a estalajadeira. — Dir-
se-ia que vai levantar-se, de uma hora para outra.
Depois, inclinaram-se sobre ela, para lhe porem a grinalda. Foi preciso erguer-
lhe um pouco a cabeça e então saiu-lhe da boca, como um vômito, uma onda de
líquido negro.
— Ah! meu Deus! — exclamou a Sra. Lefrançois. — Tome cuidado com o vestido.
Ajude-nos aqui! — disse ela ao farmacêutico. Estará com medo, por acaso?
— Medo, eu? — replicou ele, encolhendo os ombros. — Que ideia! Vi muito
pior do que isto no hospital, quando estudava farmácia. Nós até fazíamos ponche
no anfiteatro das dissecações, pois não há nada que espante um filósofo e até, já o
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
A “bela morte” 23
tenho dito muitas vezes, é minha intenção legar o meu corpo aos hospitais, a fim
de servir mais tarde à ciência.” (FLAUBERT, 1970)
Nesta cena da morte de Ema, ao misturar a violência do cadáver vomitando
com o cômico da tolice de Homais, Flaubert degrada o espírito da bela morte
romântica.
Como se não bastasse, há ainda Carlos Bovary, que Flaubert erige ao ranking
de cômico da situação, não sem alguma provocação à moral burguesa. A morte
provoca em Carlos sensações, tanto de horror misturado de curiosidade, como
de excitação sexual.
“Carlos (…) vinha fazer suas despedidas.(…) A cera dos círios cobria de grandes
pingos os lençóis da cama.(…) Viam-se tremular clarões no vestido de cetim,
branco como o luar.(…) Demorou-se muito tempo a recordar-se de todas as
felicidades perdidas, das suas atitudes, dos seus gestos, do timbre da sua voz.”
(Idem, p. 248 a 249)
Flaubert descreve a seguir cenas jocosas, leves, cheias de frescor, que evocam
os pensamentos de Carlos, como se quisesse acusá-lo de lembrar-se, de uma
forma devota e banal, de um cotidiano açucarado, livre de todo erotismo, mas
tingido pelo imaginário tacanho do pequeno burguês provinciano.
“Depois, de repente, via-a no jardim de Tostes, sentada no banco, encostada à sebe
de silvas, ou, então, nas ruas de Ruão, à porta da sua casa (…) Ouvia ainda os rapa-
zinhos rindo e dançando debaixo das macieiras; o quarto estava cheio do perfume
dos seus cabelos e o vestido, estremecia-lhe nos braços com um rumor de fagulhas.
Era a mesma, aquela!” (idem, p.249, grifos nossos)
A evocação poderia ser a de um sonho de Carlos. Sonho, lugar de todas as
imagem proibidas, imagens cujo movimento escava o leito do luto.
A ironia de Flaubert acerca do estilo rebuscado do romantismo aparece no
final do parágrafo. O retorno do recalcado está na frase curta, que tem função
de chiste. A lembrança aureolada da Ema rodopiante, bela, perfumada, que
age sobre a melancolia do romântico Lamartine, é ridicularizada (escutemos
os risos) e encenada de forma cômica no final do parágrafo: “era a mesma,
aquela!” e o cadáver, cujas entranhas apodreciam, vomitando um jato negro
sobre o vestido.
Da mesma forma, dois parágrafos adiante, depois dessas lembranças pueris,
lemos que Carlos “teve uma curiosidade terrível: lentamente, com a ponta dos
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
24 Laurie Laufer
dedos, levantou-lhe, palpitante, o véu; mas soltou um grito de horror, que des-
pertou os outros dois.”
A forma estilística usada por Flaubert, neste trecho, é emblemática de uma
encenação mascarada. O cadáver está coberto por um véu, e no ato de descobri-lo,
sem o uso de uma única palavra, Flaubert nos mostra o afeto de Carlos Bovary. Ele
utiliza a elipse como figura de estilo, quer dizer, faz uso de um recurso estilístico
que descentraliza o objeto, que expõe a imagem ao afeto. A elipse é a figura de
estilo da máscara: ela expõe, sugere, libera imagens, exibe uma ausência.8
A elipse é aparecimento, no fluxo da linguagem, de uma expressão concisa
que remete a um sentido implícito: “ele levantou o véu. Mas deu um grito de
horror”. Entre as duas proposições, existe uma ausência de palavras que permite
ao leitor tornar presente, na sua própria linguagem, a imagem do corpo.
Ao sugerir em vez de demonstrar, a elipse cria uma conivência com o imaginá-
rio, permitindo-lhe uma abertura. Ela estabelece uma ruptura entre dois termos,
ou entre um grupo de termos. Essa ruptura é uma falta, não um vazio, como nos
mostra, inclusive, sua etimologia grega. Ela revela o que está enterrado.
A elipse engendra, supõe ou revela uma profundidade, uma espessura de
sentido mascarada pela superfície lisa e ordenada do explícito e das unidades
lexicais, que ela abandona aos dicionários. Labirinto do inconsciente, novo pa-
radigma ou sistema, outra visão do mundo: brincando e rompendo a máscara,
a elipse descortina uma dimensão que, mesmo sempre tendo estado em jogo,
estava até então eclipsada.
A elipse é uma forma retórica que expõe sem palavras, ela pertence ao campo
da imagem, do afeto e do sintoma.
Flaubert encobre a visão do leitor, mas nesse processo ele revela a putrefação
do cadáver de Ema. É através do sentimento de Carlos que o leitor vê Ema. É, tam-
bém, através dele que lhe é permitido ver o que o narrador lhe oculta. O analista
poderia ver através do afeto o que o inconsciente oculta ao analisando?
Para concluir sobre a morte de Ema Bovary, Flaubert, por meio de outra figura
de estilo mascarada, erotiza o desejo “necrófilo” de Carlos.
Carlos Bovary acaba de descobrir as cartas dos amantes de Ema, precisamente,
as de Rodolfo. Longe de ser tomado por um ciúme ambivalente (“seu ciúme
8 Elipse (etimologia: do latim ellipsis, do grego elleipsis, “falta”. De elleipseine, “deixar de lado”).
Segundo o dicionário Robert, é uma figura retórica, um procedimento discursivo que
consiste na não expressão de uma ou várias palavras que o espírito deve suprir. A elipse
pode ocorrer tanto numa imagem quanto numa forma da linguagem. A elipse intervém na
formação de certas palavras e expressões (abreviação: “cit”). Elipse do sujeito (faças o que
deves), do verbo (para quando a sua visita?), do sujeito e do verbo, ao mesmo tempo (longe
dos olhos, longe do coração).
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
A “bela morte” 25
incerto perdeu-se na imensidão de sua tristeza”), ele se deixa levar por uma
fantasia plena de desejo:
“‘Não podiam deixar de adorá-la’, pensava. ‘Todos os homens, com certeza, a
tinham cobiçado’. Ema pareceu-lhe ainda mais bela; e concebeu um desejo per-
manente, furioso, que lhe inflamava o desespero, e que não tinha limites, porque
já era irrealizável.
Para lhe agradar, como se ela vivesse ainda, adotou suas predileções, as suas
ideias; comprou botas de verniz e passou a usar gravatas brancas. Punha cosméticos
no bigode. (…) Ema corrompia-o do além túmulo. (…)
Coisa estranha é que Bovary, pensando continuamente em Ema, ia-se esquecendo
dela e desesperava-se vendo como a imagem se lhe apagava da memória, apesar
dos esforços que fazia para a reter.
Ainda assim, todas as noites sonhava com ela; aproximava-se-lhe, mas, quando
ia abraçá-la, desfazia-se-lhe em podridão nos braços.” (Ibidem)
Flaubert insiste: durante o enterro de Ema, no momento mesmo em que cada
um a transforma, para sempre, em lembrança, o corpo podre de Ema torna-se o
sepulcro psíquico de Carlos. Nenhuma concessão à bela morte, dolorosa e romântica:
a lembrança de Ema é, no inconsciente de Carlos, um corpo putrefato, e é este
corpo putrefato de Ema que, do além-túmulo, “corrompe” Carlos.
Compreendemos que essas imagens tenham chocado a moralidade da época
e que, em decorrência, o requisitório do processo contra a obra tenha sido de
grande violência. O caráter lascivo, voluptuoso, o elogio ao adultério e a críti-
ca à religião tiveram papel fundamental no processo, mas entre os principais
pontos da acusação encontram-se a morte e a maneira pela qual ela é tratada
por Flaubert.
Trecho extraído do processo:
“um dia ele abre sua escrivaninha e encontra o retrato de Rodolfo, suas carta e as
de Leon. Vocês pensam, que neste momento, o amor acaba? Não, não, ao contrário;
ele se excita, ele se exalta por essa mulher que outros possuíram, devido a essas lem-
branças voluptuosas que ela lhe deixou; e a partir deste momento ele negligencia
a sua clientela, sua família. Ele desperdiça, jogando aos quatro ventos as últimas
parcelas do seu patrimônio, e um dia ele é encontrado morto no caramanchão
do seu jardim, segurando nas mãos uma longa mecha de cabelos negros.” (idem,
p.423, grifos nossos)
Não apenas Carlos é corrompido do além-túmulo, pior: ele “se excita” por
uma morta que ele fetichiza e de quem guarda relíquias.
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
26 Laurie Laufer
“E, uma vez o corpo frio, é preciso respeitar acima de tudo o cadáver que a alma
deixou. No trecho em que o marido está lá, ajoelhado, chorando sua esposa, depois
de ter estendido o sudário sobre ela, qualquer outra pessoa teria interrompido o
relato, porém o senhor Flaubert termina: ‘O lençol desenhava-lhe o corpo desde o
seio até os joelhos, erguendo-se depois na ponta dos pés.’”
Depois da citação, ele retoma o requisitório: “Eis a cena da morte. De certa
forma, eu a resumi, a reagrupei. Cabe aos senhores julgarem e apreciarem se
estamos diante de uma mistura do sagrado com o profano, ou se não seria, antes,
a mistura do sagrado com o voluptuoso” (grifos nossos)
E o requisitório segue, no mesmo estilo, na tentativa de convencer o tri-
bunal de que o “gênero do senhor Flaubert é um gênero lascivo, voluptuoso,
ultrajante”. Ultraje quer dizer que passa dos limites. De qual limite? O do afeto,
do nominável e do desejo. A imagem do corpo é, neste caso, uma fábrica de
desejos, e mostrá-la é ultrapassar o limite. É precisamente esse limite que traça
a moral burguesa do século XIX a propósito da morte e da sexualidade. O que
condena o requisitório é o “ultraje” (na acepção de “passar dos limites”, como
Lacan utiliza em sua referência a Antígona) que faz vacilar o ser, o faz ultrapassar
obstáculos, ir mais além (l’hybris).
A condenação de Madame Bovary aconteceu em 1857, alguns anos antes do co-
meço da campanha pelo fechamento da Morgue.9 Momento no qual a ideologia
do recalque está, pouco a pouco, encobrindo as evocações violentas, eróticas e
cômicas da morte e do corpo do morto.
A carne, a encarnação do corpo, não a pura lembrança, mas seu cerne que
é a pulsionalidade do fantasma, são reprimidos de maneira manifesta e radical.
Tudo se passa como se o recalcamento da evocação da morte deixasse vivas,
pulsionais e ativas a erotização e a violência da situação.
“O que chamamos, atualmente, a boa morte, a bela morte corresponde exatamente
ao que, antigamente, considerava-se uma morte maldita, la mors repentita et improvisa,
que passava despercebida. ‘Ele morreu esta noite, enquanto dormia: não mais des-
pertou. Ele teve a morte mais bela que existe.’” (ARIÈS, 1979, p.297)
9 Nota do tradutor: no século XVIII, funcionou em Paris uma morgue, ou necrotério. Em
1868, ela ganha um novo prédio com ares de um pequeno templo grego, arquitetura do barão
Haussmann. Nesta época, visitar a Morgue era um dos passeios mais na moda em Paris. Os
cadáveres a serem identificados (sobretudo vítimas de afogamento) ficavam expostos por
três dias, deitados em 12 mesas inclinadas, feitas de mármore preto, numa sala separada do
público por um vidro.
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
A “bela morte” 27
Essa “morte que passa despercebida”, sobrevive atualmente de forma ativa;
o mais distante, o mais violento, o mais pulsional não podem passar desperce-
bidos. Essa morte dissimulada, digna, silenciosa, virtuosa faz do enlutado um
“vivo que passa despercebido”.
O papel do analista, na elaboração do luto, não seria o de criar, pela e na
transferência, as condições de possibilidade da fabricação de imagens que emo-
cionem, dando assim, mobilidade a vida psíquica para que o enlutado seja afetado
pela imagem e aceda a palavra erótica, violenta e cômica do luto?
Liberar a imagem à possibilidade de ver. De ver como ato de conhecimento.
Toda a imagem é um retorno a si mesmo.
O trabalho do luto torna-se o trabalho de sobrevivência, de que fala Didi-
Huberman à partir de sua leitura de Aby Warburg. Sobrevivência do recalcado,
de movimentos psíquicos que agem como fósseis em movimento.
O mais recalcado é o mais persistente, o mais antigo é o mais ativo, o mais
morto é o mais vivo. O que sobreviveu retorna em todas as formas e conteúdos
pelas forças da imagem em movimento.
O processo de identificação é um processo de mão dupla: não é apenas o
sujeito que se identifica ao objeto, mas o objeto, também, identifica o sujeito.
A identificação se faz, ainda, pelo olhar de quem me olha. São com essas iden-
tificações em movimento que trabalha a operação de ver. É o desdobramento
de um olhar que, para ir além das aparências, deve ser captado em um reflexo.
Não é somente o espectador que olha o objeto, ele é também olhado pelo ob-
jeto, no caso, o cadáver. Este seria o ponto de emergência da angústia: “O que
é percebido, por muitas pessoas, como sendo capaz de provocar, no mais alto
grau, uma sensação de estranheza inquietante são as coisas relacionadas à morte
e aos cadáveres, ao retorno dos mortos, aos espíritos e aos fantasmas” (FREUD,
1919, p.246).
É a experiência da semelhança, ou melhor, do que aparece ao olhar como
semelhante, que cria a inquietante estranheza daquilo que sobreviveu, quer dizer,
que dá a condição de possibilidade da sua intrusão no espaço psíquico.
A violência da imagem tornaria acessível um espaço psíquico que através
angústia liberaria o fantasma. Um dos aspectos da experiência analítica do luto
seria essa experiência de violência, no sentido de que a aparição de figuras, de
formas, poria em movimento aspectos da vida psíquica, que e a defesa, por meio
da clivagem, teria fixado.
Tratar-se-ia, nesse retorno das formas, de deslocar as linhas de fratura, como
se um terremoto movimentasse as placas tectônicas separando os continentes,
cujos recortes se encaixariam perfeitamente.
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
28 Laurie Laufer
“A luta com a sombra é a única luta real. No momento em que a sensação visual
afronta a força invisível que a condiciona, ela desobstrui uma força capaz de vencer
aquela, ou bem de fazer dela uma amiga. A vida grita para a morte, mas justamente
a morte não é mais esse visível-demais que nos faz desfalecer, ela é essa força in-
visível que a vida detecta, descobre e deixa ver gritando. É da perspectiva da vida
que julgamos a morte, e não o inverso onde nós nos satisfazemos.” (DELEUZE,
1981, p.42)
E Deleuze cita Bacon: “se a vida vos excita, a morte, seu oposto, como
uma sombra, deve vos excitar” ibidem. Acolher a excitação na vida como
na morte.
O ato de ver é violento porque sua plasticidade obriga a abertura de novas
vias. A imagem vista modifica a forma de ver. É o que Bacon desenvolve quando
utiliza os termos “romper para ver”, uma violência que conduz a outra coisa. Essa
violência comporta o traço da hostilidade, tal como Warburg (1923) o designava:
“Podemos supor que a obra de arte é uma coisa hostil que se movimenta em
direção do espectador.” Encontramos nessa ideia, a concepção de que o ato de
ver não é um fato que depende somente de quem olha, implica também o que
emana do que vemos. Reencontramos as ideias desenvolvidas acima, do reflexo e
de “receber e rejeitar”. De fato, a palavra ‘hostil’ tem essa estranha configuração
semântica, ela significa ao mesmo tempo “o hospedeiro que recebe” e “aquele
que rejeita”.
Ver o morto pelo prisma da forma alucinada do fantasma põe em jogo de ma-
neira radical a posição do sujeito na experiência visual. Segundo Didi-Huberman
(2000), para aceder à experiência da visão, é preciso que a imagem seja ‘fratura’.
Tanto no sonho como num momento de despersonalização, a visão do morto
fratura o olhar em dois. É a “diabolie” do olhar: eu vejo e não reconheço. Tem
uma presença e uma ausência. O que aparece ao olhar é fruto de uma deformação
(à semelhança do trabalho do sonho).
A paciente que diz ter medo de tornar-se louca, vê se formar pela deformação
da alucinação a aparição de um sintoma. Podemos conceber a “imagem-fratura”
como uma formação do inconsciente dada a deformação que ela apresenta, que
ela põe em cena. Trata-se, através da imagem, de “propor” ao expectador as
condições de possibilidade de uma “cisão” que descentra o sujeito e dá acesso
ao inconsciente, à formação de sintoma.
Na experiência analítica, a questão da angústia encontra-se no centro da
“imagem-fratura”. São as questões freudianas da inquietante estranheza e do
duplo, experiências nas quais vemos o outro em sua forma primitiva.
Tudo se passa como se a experiência da “imagem-fratura” fosse a experiên-
cia própria da angústia. O que o retrato nos mostra não é o tempo da história
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
A “bela morte” 29
cronológica, mas a história como incessante anacronismo. A “imagem-fratura”
é a figurabilidade do anacronismo.
“As imagens só conservam sua força ativa se as consideramos como fragmentos
dissolvendo-se enquanto agem, ou deterioram-se rapidamente, à semelhança de
organismos vivos, frágeis e mortais. Elas só possuem um sentido se as consideramos
como centro ativo da energia e lugar de cruzamento de experiências decisivas. As
obras de arte só adquirem seu verdadeiro sentido graças à força de insurreição que
contêm.” (DIDI-HUBERMAN apud EINSTEIN, 2000, p.17)
Imagens que se dissolvem ao mesmo tempo em que agem, não é precisamen-
te o que ocorre com obra imaginal do sonho, composta de imagem plásticas e
dialéticas? Os retratos de cera, as máscaras mortuárias seriam o que existe de
mais próximo dessa dialética da imagem. Criam o descentramento necessário
ao olhar, pelo campo de profundezas que geram, pela inquietude, pela angús-
tia e mal-estar. O acesso ao inconsciente se faria por esse descentramento que
desnudaria a imagem e a deslocaria no espaço e no tempo.
Aboliu-se toda a representação do espetáculo da morte, dessa “pornografia
da morte”. O que era um modo social de figuração da morte foi reprimido e
como consequência o movimento imaginário que proporciona a narração, fixou-
se numa imagem. Tudo se passa como se o corpo real tivesse sido excluído da
imagem do morto. A nudez e o horror misturados à fascinação abrem a uma
crueldade do olhar que por efração permite o movimento da imagem.
“As imagens orgânicas teriam duas faces. Alberti sugere-o afirmando que o corpo
aberto, esfolado, é para um corpo nu o que este é para um corpo coberto. Goethe,
por sua vez, sugere o mesmo afirmando que a parte interna do organismo aparece
na natureza exterior ‘eternamente mutável’ do seu envelope visível.
Tais proposições são ao mesmo tempo evidentes e difíceis de serem apreendidas
em todas as suas implicações: o interior pode ser pensado como a estrutura subja-
cente — o esqueleto, em primeiro lugar, o imutável, que dá ao conjunto do corpo
sua lei física de harmonia; neste sentido, o interior assegura a função de esquema,
quer dizer, o poder mesmo da forma (...) Mais uma vez, somos obrigados a pensar
juntos, mas sem esperança de um dia unificá-los, a harmonia e a beleza de um
lado, e a efração e a crueldade de outro. Toda a questão da nudez parece suspensa
nesta dialética. Estrutura ou ferida? Forma ou informe? Conformidade ou conflito.”
(DIDI-HUBERMAN, 1999, p.41)
“Imagens de duas faces”, como as que aparecem ao sonhador; de duas faces,
ou mesmo, de múltiplas faces, cujas anamorfoses significantes são tantas quantas
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
30 Laurie Laufer
as palavras possíveis, tantos elos para recompor uma posição subjetiva atingida
por um traumatismo. Atingida na sua constituição imaginária, na medida em
que ela perdeu algo do morto que ela desconhece, o enlutado faz assim um
trabalho de reconstituição das imagens internas. O trauma rompeu o espelho
constitutivo da imagem de si e embaralhou o reflexo do enlutado, será necessá-
rio o reencontro do semelhante para reinvestir o que está vivo. Semelhante que
possa fazer emergir o movimento psíquico. Emocionar para incitar. A angústia
permite o surgimento do movimento.
Para praticar a crueldade do olhar, Didi-Huberman propõe que vejamos os
nus harmoniosos de Botticelli. As polaridades estão contidas numa mesma es-
trutura: os nus horripilantes dos cadáveres expostos convocam uma polaridade
harmoniosa, uma forma estética “do grito” mais do que a do horror.
O grito encontra-se no que desconhecemos do horror e da fascinação, da be-
leza e da crueldade. Razão pela qual a imagem-movimento do morto se inscreve,
segundo minha opinião, num entre-dois, no espaço do grito e do inarticulado,
entre a imagem e a palavra. A representação (mas a palavra representação seria
ainda adequada?) do morto, seja ela: no ritual, na forma imaginada, ou na forma
real do cadáver provém de uma experiência do olhar que dilacera um espaço
visual próprio. Um espaço, como eu já disse, limítrofe, de travessia, de passagem.
Travessia das aparências se seguirmos as lições de Starobinski: “O olhar prende-
se dificilmente à pura constatação das aparências (...) ele abre caminho a um tipo
de impulso que não é mais interrompido. Falar: inteligência, crueldade, ternura é dizer
pouco. Elas não são apaziguadas, saciadas” (STAROBINKI, 1994, p.10-11).
Travessia das aparências, pela e na pulsão que não se interrompe, tal é o ob-
jetivo de uma encenação da morte, um espaço intermediário no qual sentimos
“o sopro indistinto da imagem”.10 A pulsionalidade do olhar abre a um tempo
libidinal no qual o pensamento é novamente possível, ele é de novo mobilizado
pela vida psíquica.
Essa violência, essa hostilidade que “vai” na direção de quem olha é, na
minha opinião, a experiência mesma do exercício da crueldade que representa
o trabalho do luto. Os rituais africanos, as paradas romanas em grande pompa,
as exposições de cadáveres participam dessa hostilidade. Eles são a abertura de
um caminho necessário para que a imagem não se fixe, para que sejam postas
novamente em circuito identificações móveis. Algo se quebra no lugar aonde
olhamos.
Recebido em 10/6/2011. Aprovado em 24/3/2012.
10 Segundo a expressão de Pierre Fedida, “Le souffle indistinct de l’image”, in La Part de
l’œil, n.9, Arts plastiques et psychanalyse II, 1993.
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
A “bela morte” 31
Referências
ARIÈS, Philippe. (1979) L’homme devant la mort. Paris: Seuil.
DELEUZE, Gilles. (1981) Francis Bacon: Logique de la sensation, Paris: Diffé-
rence.
DIDI-HUBERMAN, Georges. (2000) Devant le temps, Paris: Minuit.
. (1999) Ouvrir Vénus, Nudité, rêve, cruauté. Paris: Gallimard.
FEDIDA, Pierre (1993) Le souffle indistinct de l’image, La Part de l’œil, n.9,
Arts plastiques et psychanalyse II.
FLAUBERT, G. (1970) Madame de Bovary. São Paulo: Abril Cultural. (Os
Imortais da Literatura Universal, v.3).
FOUCAULT, M. (1974-75/1999) Les Anormaux. Paris: Seuil-Gallimard.
Freud, Sigmund.(1919/1985) “L’inquiétante étrangeté”, in: L’inquiétante
étrangeté et autres essais. Paris: Gallimard, p.209-264.
. (1925/1985) “La négation”, in: Résultats, idées, problèmes II. Paris:
PUF, p.135-137.
Gorer, Geoffrey. (1965/1995) Ni pleurs, ni couronnes, Paris: Epel.
MONDZAIN, Marie-José. (2003) Le commerce des regards, Paris: Seuil.
STAROBINKI, J. (1994) L’œil vivant. Paris: Gallimard.
Laurie Laufer
laurie.laufer@wanadoo.fr
Roberta Bertone
robertabertone7@gmail.com
ágora (Rio de Janeiro) v. XV n. 1 jan/jun 2012 15-31
Você também pode gostar
- Português - User Manual - Lavieen - Version - 20170112Documento38 páginasPortuguês - User Manual - Lavieen - Version - 20170112Locação Cristiane Vilas BoasAinda não há avaliações
- Reiki Xamânico Amadeus PDFDocumento29 páginasReiki Xamânico Amadeus PDFmaestroluciano100% (11)
- Exame Neurológico, Bases Anátomo-Funcionais - Gusmão.Documento344 páginasExame Neurológico, Bases Anátomo-Funcionais - Gusmão.Mayara RaussaAinda não há avaliações
- O Recalcamento Da Morte Na ContemporaneidadeDocumento9 páginasO Recalcamento Da Morte Na ContemporaneidadeCigano Capoeira100% (1)
- História Da Morte No OcidenteDocumento4 páginasHistória Da Morte No OcidenteBeatriz Oliveira0% (1)
- INDÍOS NO BRASIL - Manuela Carneiro Da CunhaDocumento22 páginasINDÍOS NO BRASIL - Manuela Carneiro Da CunhaJudite Madureira Dos Santos100% (1)
- BENJAMIN, Walter - Magia e Tecnica Arte e Politica (Obras Escolhidas, V.1)Documento257 páginasBENJAMIN, Walter - Magia e Tecnica Arte e Politica (Obras Escolhidas, V.1)Joao Castelo Branco100% (7)
- Fichamento Linear e Pictórico - EHADocumento2 páginasFichamento Linear e Pictórico - EHAAlice Bello100% (1)
- Manual de Uso de RegletesDocumento12 páginasManual de Uso de RegletesrenatomerliAinda não há avaliações
- Resumo Sobre Documentário: O Poder Do CérebroDocumento3 páginasResumo Sobre Documentário: O Poder Do CérebroHellayne Sousa100% (1)
- A Bela MorteDocumento17 páginasA Bela MortepoetafingidorAinda não há avaliações
- O Tabu Frente Ao Problema Da Morte (Wilma Da Costa Torres, 1979)Documento10 páginasO Tabu Frente Ao Problema Da Morte (Wilma Da Costa Torres, 1979)Victor VitórioAinda não há avaliações
- A Morte DomadaDocumento3 páginasA Morte DomadaPatricia CarlettiAinda não há avaliações
- Antropologia Da Morte Um Fato Social FatalDocumento4 páginasAntropologia Da Morte Um Fato Social FatalWeriquisSalesAinda não há avaliações
- Boa Morte No MedievoDocumento15 páginasBoa Morte No MedievoYgor Olinto Rocha CavalcanteAinda não há avaliações
- A Representação Da MorteDocumento14 páginasA Representação Da MorteAvimar JuniorAinda não há avaliações
- Ensaios sobre mortos-vivos: The Walking Dead e outras metáforasNo EverandEnsaios sobre mortos-vivos: The Walking Dead e outras metáforasAinda não há avaliações
- V 28 N 2 A 12Documento29 páginasV 28 N 2 A 12Mirsailles16Ainda não há avaliações
- Morte e Luto No CiberespaçoDocumento15 páginasMorte e Luto No CiberespaçoNuricel Villalonga AguileraAinda não há avaliações
- Bataille e As Distintas Faces de Eros PDFDocumento5 páginasBataille e As Distintas Faces de Eros PDFJosé Flávio da PazAinda não há avaliações
- KOVÁCS - Morte e Desenvolvimento Humano - Capítulos 1 e 9Documento29 páginasKOVÁCS - Morte e Desenvolvimento Humano - Capítulos 1 e 9Luiz Manoel MartinsAinda não há avaliações
- A Morte Na Perspectiva Do Fabulário Brasileiro - Os Entes Folclóricos e Sua Relação Com A Morte (Artigo)Documento11 páginasA Morte Na Perspectiva Do Fabulário Brasileiro - Os Entes Folclóricos e Sua Relação Com A Morte (Artigo)Maximiliano RusteAinda não há avaliações
- Fichamento - MORIN - o Homem e A MorteDocumento20 páginasFichamento - MORIN - o Homem e A MorteMarcela Rochetti ArcoverdeAinda não há avaliações
- Psico e Familia SeminárioDocumento3 páginasPsico e Familia SeminárioLavinia RochaAinda não há avaliações
- ELPIS (Ensaio Sobre A Morte)Documento15 páginasELPIS (Ensaio Sobre A Morte)Marcelo LafontanaAinda não há avaliações
- La Petite Mort - Transgressão e Gozo Erótico PDFDocumento122 páginasLa Petite Mort - Transgressão e Gozo Erótico PDFArielRibeiroTolentino100% (1)
- Conceitos de Psicanálise e o Filme O AnticristoDocumento11 páginasConceitos de Psicanálise e o Filme O AnticristoJoell RabeloAinda não há avaliações
- Romance Existencial de VergílioDocumento4 páginasRomance Existencial de VergílioPedro Fonseca E SilvaAinda não há avaliações
- Tabu Da Morte, José Carlos Rodrigues (1A Edição)Documento151 páginasTabu Da Morte, José Carlos Rodrigues (1A Edição)Dani WolfAinda não há avaliações
- TRABALHoDocumento4 páginasTRABALHoJhéssica BarrozoAinda não há avaliações
- E A Tristeza Nem Pode Pensar em ChegarDocumento20 páginasE A Tristeza Nem Pode Pensar em ChegarJaqueline SousaAinda não há avaliações
- Os Enigmas Da Criminalidade À Luz Da PsicanáliseDocumento14 páginasOs Enigmas Da Criminalidade À Luz Da PsicanáliseRaquel PinheiroAinda não há avaliações
- Psicanálise - O Masoquismo e A Analidade - Sobre HistóriaDocumento3 páginasPsicanálise - O Masoquismo e A Analidade - Sobre HistóriaPiterson RochaAinda não há avaliações
- Do Sonho Ao PesadeloDocumento13 páginasDo Sonho Ao PesadeloCris PagotoAinda não há avaliações
- A Solidão Dos MoribundosDocumento6 páginasA Solidão Dos Moribundosjcchagas100% (1)
- Deyve Redyson - Kierkegaard e Cioran - Melancolia e Pessimismo FilosóficoDocumento11 páginasDeyve Redyson - Kierkegaard e Cioran - Melancolia e Pessimismo FilosóficoRodrigo AraujoAinda não há avaliações
- DIBUK - Os Destinos Da Paixao Na AdolescenciaDocumento37 páginasDIBUK - Os Destinos Da Paixao Na Adolescenciathiagosilva26100% (1)
- FT Aparição Vergilio FerreiraDocumento7 páginasFT Aparição Vergilio FerreiraFilomena Maria Cadete PalhasAinda não há avaliações
- Elementos de teoria geral do processo: poder judiciário, jurisdição, ação e processoNo EverandElementos de teoria geral do processo: poder judiciário, jurisdição, ação e processoAinda não há avaliações
- Bataille, o Pensador Do CorpoDocumento6 páginasBataille, o Pensador Do CorpoAndre AraujoAinda não há avaliações
- 07 - 27-01 - PELBART, Como Viver SoDocumento11 páginas07 - 27-01 - PELBART, Como Viver SoLorena TavaresAinda não há avaliações
- Edilson Baltazar Barreira Júnior - Norbert Elias e A Solidão Dos MoribundosDocumento7 páginasEdilson Baltazar Barreira Júnior - Norbert Elias e A Solidão Dos MoribundosValdinei Dias BatistaAinda não há avaliações
- Ética e Morte No Contexto HospitalarDocumento47 páginasÉtica e Morte No Contexto HospitalarWillian BotanAinda não há avaliações
- O Estrangeirismo e Absurdismo Na Existência HumanaDocumento4 páginasO Estrangeirismo e Absurdismo Na Existência HumanaMatheus FernandesAinda não há avaliações
- Estorvo Esquizofrenia e EsquecimentoDocumento8 páginasEstorvo Esquizofrenia e EsquecimentoLuiza FriedrichAinda não há avaliações
- Outubro 2023Documento3 páginasOutubro 2023Angela Lângaro BeckerAinda não há avaliações
- O Vestígio e A AuraDocumento5 páginasO Vestígio e A AuraAdriano SilvaAinda não há avaliações
- Nietzsche FocaultDocumento16 páginasNietzsche FocaultAlexandre MartinsAinda não há avaliações
- Folha de S.Paulo - A Tourada Como Tragédia - ELIANE ROBERT MORAES 13 - 07 - 2002Documento3 páginasFolha de S.Paulo - A Tourada Como Tragédia - ELIANE ROBERT MORAES 13 - 07 - 2002João HalloweenAinda não há avaliações
- BARROS, O Erotismo Mítico Da NinfetaDocumento100 páginasBARROS, O Erotismo Mítico Da NinfetaJo Fagner100% (1)
- ARQUIVO AArtedeMorrer-artigoDocumento19 páginasARQUIVO AArtedeMorrer-artigobrunasouzaAinda não há avaliações
- Fernando Pessoa e I Distúbio de Personalidades MúltiplasDocumento19 páginasFernando Pessoa e I Distúbio de Personalidades MúltiplasHudson SilvaAinda não há avaliações
- VILHENA, NOVAES & ROSA. A Sombra de Um Corpo Que Se AnunciaDocumento14 páginasVILHENA, NOVAES & ROSA. A Sombra de Um Corpo Que Se AnunciaRenan Martimiano Vieira100% (1)
- O Sagrado e o Profano A Mulher Na Ficcao de Jose Alcides Pinto Inocencio de Melo FilhoDocumento19 páginasO Sagrado e o Profano A Mulher Na Ficcao de Jose Alcides Pinto Inocencio de Melo Filhoinventário do marAinda não há avaliações
- Como Viver Só - Pelbart.Documento14 páginasComo Viver Só - Pelbart.Déborah DavidAinda não há avaliações
- Sapiens DemensDocumento16 páginasSapiens DemensJacque SobralAinda não há avaliações
- Apresentado Por: Marina Sales Rodrigues Da SilvaDocumento29 páginasApresentado Por: Marina Sales Rodrigues Da SilvaCaroline VanzinAinda não há avaliações
- O Mundo Imaginário deDocumento8 páginasO Mundo Imaginário decarolineAinda não há avaliações
- Existência Sem Papel - Segunda ParteDocumento6 páginasExistência Sem Papel - Segunda ParteTiago CferAinda não há avaliações
- Resenha - Elias, N. A Solidão Dos MoribundosDocumento5 páginasResenha - Elias, N. A Solidão Dos MoribundosMarianaAinda não há avaliações
- Trabalho Ev125 MD1 Sa11 Id2815 15052019125038Documento13 páginasTrabalho Ev125 MD1 Sa11 Id2815 15052019125038Lucas SantosAinda não há avaliações
- Peter Pelbart - Como Viver SóDocumento7 páginasPeter Pelbart - Como Viver SóMarcello NunesAinda não há avaliações
- A Criança e o Luto - A Vivência Da Morte Na InfânciaDocumento14 páginasA Criança e o Luto - A Vivência Da Morte Na InfânciaTalita GomesAinda não há avaliações
- A Batuta Da Morte A Orquestrar A Vida - Altair Macedo Lahud Loureiro PDFDocumento10 páginasA Batuta Da Morte A Orquestrar A Vida - Altair Macedo Lahud Loureiro PDFNana DAinda não há avaliações
- Dialogo III - A Historia Como Experiencia - Unidade IDocumento7 páginasDialogo III - A Historia Como Experiencia - Unidade INana DAinda não há avaliações
- Arte Poética - AristótelesDocumento53 páginasArte Poética - AristótelesJoão AmadoAinda não há avaliações
- ANDERSON, Perry. Trajetos de Uma Forma Literária.Documento16 páginasANDERSON, Perry. Trajetos de Uma Forma Literária.Tiago DuqueAinda não há avaliações
- JAMESON, Frederic. O Romance Histórico Ainda É PossívelDocumento19 páginasJAMESON, Frederic. O Romance Histórico Ainda É PossívelNathaniel FigueiredoAinda não há avaliações
- A Antropologia Da Morte e o Rito Funeral - Gustavo MagnaniDocumento5 páginasA Antropologia Da Morte e o Rito Funeral - Gustavo MagnaniNana DAinda não há avaliações
- Curriculo e GeneroDocumento12 páginasCurriculo e GeneroNana D100% (1)
- Indicadores Sociais JanuzziDocumento9 páginasIndicadores Sociais JanuzziFabio Da Silva SmoliakAinda não há avaliações
- A Maquinária Escolar - Texto 1Documento28 páginasA Maquinária Escolar - Texto 1Nana DAinda não há avaliações
- JanuzziDocumento22 páginasJanuzziNana DAinda não há avaliações
- Biblioteca Publica e IdosoDocumento12 páginasBiblioteca Publica e IdosoNana DAinda não há avaliações
- Metodologia de Ensino de Sociologia Na Educação BásicaDocumento229 páginasMetodologia de Ensino de Sociologia Na Educação BásicaNana DAinda não há avaliações
- DOUGLAS, M. O Mundo Dos Bens. Vinte Anos Depois.Documento16 páginasDOUGLAS, M. O Mundo Dos Bens. Vinte Anos Depois.Carolina PeriniAinda não há avaliações
- A Velhice Simone de BeauvoirDocumento11 páginasA Velhice Simone de BeauvoirSenilda BarretoAinda não há avaliações
- A Escola Do Futuro em SkinnerDocumento3 páginasA Escola Do Futuro em SkinnerNana D50% (2)
- Cultura e Razão Prática 2Documento20 páginasCultura e Razão Prática 2Nana DAinda não há avaliações
- Tensoes Experiencias Um Retrato Das Trabalhadoras Domestic As Brasilia SalvadorDocumento234 páginasTensoes Experiencias Um Retrato Das Trabalhadoras Domestic As Brasilia SalvadorNana DAinda não há avaliações
- 1º SemestreDocumento1 página1º SemestreNana DAinda não há avaliações
- Idosos em Familia - Chefia Ou Dependência - Determinantes Socioeconômicos e Demográficos - Ana Luisa Oliveira Da Costa ReisDocumento134 páginasIdosos em Familia - Chefia Ou Dependência - Determinantes Socioeconômicos e Demográficos - Ana Luisa Oliveira Da Costa ReisNana DAinda não há avaliações
- Marshall Sahlins - Cultura e Razão Prática Dois Paradigmas Da Teoria AntropológicaDocumento34 páginasMarshall Sahlins - Cultura e Razão Prática Dois Paradigmas Da Teoria Antropológicafabicre100% (6)
- Sismologia Da PerformanceDocumento44 páginasSismologia Da PerformanceNana DAinda não há avaliações
- Setton - A Teoria Do HabitusDocumento11 páginasSetton - A Teoria Do HabitusJackeline Yaad100% (1)
- Como Ficar Rico em Quarenta Dias - Tavares LeilaDocumento107 páginasComo Ficar Rico em Quarenta Dias - Tavares Leilahjohjop100% (1)
- Trabalho em Grupo de OOO 1Documento17 páginasTrabalho em Grupo de OOO 1Horacio ZacariasAinda não há avaliações
- Avaliação AutismoDocumento9 páginasAvaliação AutismoAmanda Cristina CamposAinda não há avaliações
- Reflexo PupilarDocumento2 páginasReflexo PupilarjoaquinAinda não há avaliações
- E-Book 90 Dicas para Falar MelhorDocumento22 páginasE-Book 90 Dicas para Falar MelhorWarley Ribeiro100% (1)
- Manual Basico Do Arbitro de JudoDocumento41 páginasManual Basico Do Arbitro de Judofcoantunesleal8927Ainda não há avaliações
- BIOFÍSICADocumento5 páginasBIOFÍSICACaioRolandodaSilvaAinda não há avaliações
- Despiste de Alterações VisuaisDocumento15 páginasDespiste de Alterações VisuaisBárbara Vieira100% (1)
- Guia Varilux de Adaptação Óptica Com Lentes Varilux Regras para o Êxito Da CompensaçãoDocumento24 páginasGuia Varilux de Adaptação Óptica Com Lentes Varilux Regras para o Êxito Da Compensaçãomaralilian100% (1)
- Arte CoresDocumento14 páginasArte Coressoraialeite86Ainda não há avaliações
- Batiki Catalogo Viagem 2023 - PreçoDocumento30 páginasBatiki Catalogo Viagem 2023 - PreçoRAMOSO FFAinda não há avaliações
- As VitrinesDocumento27 páginasAs VitrinesMarcelaAinda não há avaliações
- Adobe Scan 08 de Mar. de 2022Documento1 páginaAdobe Scan 08 de Mar. de 2022Ricardo Bordin MatteviAinda não há avaliações
- A Conquista Do SheikDocumento127 páginasA Conquista Do SheikIsabel AlmeidaAinda não há avaliações
- Aula 4 - A Força Dos Tons - DesenhefacilDocumento18 páginasAula 4 - A Força Dos Tons - DesenhefacilAlex AlvesAinda não há avaliações
- Termos Semiologicos PortoDocumento7 páginasTermos Semiologicos PortoIsabela AmorimAinda não há avaliações
- MACHADO, Arlindo. O Sujeito Na Tela, 2007 3Documento30 páginasMACHADO, Arlindo. O Sujeito Na Tela, 2007 3Marcello OliveiraAinda não há avaliações
- Norma de IluminaçãoDocumento122 páginasNorma de IluminaçãozeiloAinda não há avaliações
- Apostila 3 Avaliação 2º AnoDocumento15 páginasApostila 3 Avaliação 2º AnoJúlio Alexandrino PinheiroAinda não há avaliações
- Roteiro 21 ItensDocumento14 páginasRoteiro 21 ItensRogério LimaAinda não há avaliações
- Infográfico CaixetaDocumento57 páginasInfográfico CaixetaSamuel KatsumataAinda não há avaliações
- Artigos Espíritas - A Telestesia (Vidência) Gabriel Delanne - A Alma É ImortalDocumento30 páginasArtigos Espíritas - A Telestesia (Vidência) Gabriel Delanne - A Alma É ImortalNoblat AndradeAinda não há avaliações
- Sensor Infravermelho Passivo - WikipediaDocumento8 páginasSensor Infravermelho Passivo - WikipediaFernando DumboAinda não há avaliações
- Perguntas - 2º Frequência-1Documento11 páginasPerguntas - 2º Frequência-1DanielaAinda não há avaliações