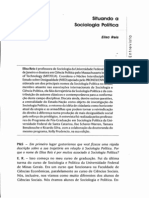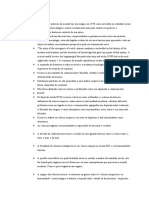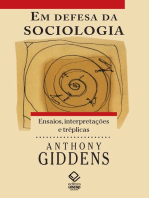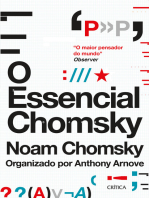Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizaçõesANDERSON, Benedict. Estruturas de Comparação
ANDERSON, Benedict. Estruturas de Comparação
Enviado por
José VictorANDERSON, Benedict. Estruturas de Comparação
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você também pode gostar
- Template TCF F3 - BrancoDocumento18 páginasTemplate TCF F3 - BrancoFerreira Lu100% (2)
- Prova Psicologia Organizacional e Do Trabalho - Prova Final ObjetivaDocumento9 páginasProva Psicologia Organizacional e Do Trabalho - Prova Final ObjetivaMestre Walla100% (1)
- Método de Alfabetização e Compreensão TextualDocumento23 páginasMétodo de Alfabetização e Compreensão TextualAlexandra Cerqueira CésarAinda não há avaliações
- Resenha - A Escola de ChicagoDocumento3 páginasResenha - A Escola de ChicagoElton Sousa Ferreira100% (1)
- Adam Kuper Parte 1Documento36 páginasAdam Kuper Parte 1Izomar Lacerda100% (11)
- Entre A Ciência e A SapiênciaDocumento2 páginasEntre A Ciência e A SapiênciaCristiano Ferreira100% (3)
- Orientação VocacionalDocumento12 páginasOrientação VocacionalJoao L. Andreta100% (3)
- Psicologia de DesenvolvimentoDocumento53 páginasPsicologia de DesenvolvimentoArsénio Sadique Aualo100% (3)
- Immanuel Wallerstein - Trajetória Intelectual e Política - Margem Esquerda Entrevista - Blog Da BoitempoDocumento15 páginasImmanuel Wallerstein - Trajetória Intelectual e Política - Margem Esquerda Entrevista - Blog Da BoitempoMauricioAinda não há avaliações
- JOHNDEWEY-Biografiaeid ®iasDocumento7 páginasJOHNDEWEY-Biografiaeid ®iasFernando PlacidesAinda não há avaliações
- Ciências SociasDocumento14 páginasCiências SociasTainá MoraesAinda não há avaliações
- Edward Said e o Pós-ColonialismoDocumento12 páginasEdward Said e o Pós-ColonialismoFlávia Ribeiro RibeiroAinda não há avaliações
- Situando A Sociologia Política - Elisa ReisDocumento25 páginasSituando A Sociologia Política - Elisa ReisCarmen SilvaAinda não há avaliações
- História Do Pensamento Político.. Apostíla!Documento15 páginasHistória Do Pensamento Político.. Apostíla!Aparecida Fernandes100% (1)
- Julian Marias - Estado e UniversidadeDocumento4 páginasJulian Marias - Estado e UniversidadeFausto ZamboniAinda não há avaliações
- Nelson Maldonado-Torres - Pensamento Crítico Desde A SubalternidadeDocumento25 páginasNelson Maldonado-Torres - Pensamento Crítico Desde A SubalternidadeDaniel E. Florez MuñozAinda não há avaliações
- Dale Tomich - Binghamton UniversityDocumento10 páginasDale Tomich - Binghamton UniversityDine EstelaAinda não há avaliações
- Por Uma História Da Esquerda Brasileira - Maria Paula Nascimento AraújoDocumento21 páginasPor Uma História Da Esquerda Brasileira - Maria Paula Nascimento AraújoCastro RicardoAinda não há avaliações
- 10 Lições Estudos CulturaisDocumento4 páginas10 Lições Estudos CulturaisFabio Martelozzo MendesAinda não há avaliações
- 3 - Moses Finley e A Escola de FrankfurtDocumento17 páginas3 - Moses Finley e A Escola de FrankfurtLenin CamposAinda não há avaliações
- FERES Teoria PolíticaDocumento14 páginasFERES Teoria PolíticaGabriela Ribeiro CardosoAinda não há avaliações
- Escola HistóricaDocumento58 páginasEscola HistóricaOdirlei shultesAinda não há avaliações
- Além Da Pós-Colonialidade - A Sociologia Periférica e A Crítica Ao EurocentrismoDocumento17 páginasAlém Da Pós-Colonialidade - A Sociologia Periférica e A Crítica Ao EurocentrismoMurilo MangabeiraAinda não há avaliações
- Entrevista Com HobsbawmDocumento10 páginasEntrevista Com HobsbawmFlavia BorbasAinda não há avaliações
- Jacques MaritainDocumento10 páginasJacques MaritainDani LeiteAinda não há avaliações
- José Arthur Rios - Raízes Do Marxismo UniversitárioDocumento15 páginasJosé Arthur Rios - Raízes Do Marxismo Universitáriokaio-felipeAinda não há avaliações
- MALDONADO-ToRRES, Nelson - Pensamento Crítico Desde A SubalternidadeDocumento26 páginasMALDONADO-ToRRES, Nelson - Pensamento Crítico Desde A Subalternidadejuliana.fmeloAinda não há avaliações
- Uma História Da Afinidade Das Ciências Sociais Com o FascismoDocumento10 páginasUma História Da Afinidade Das Ciências Sociais Com o FascismoDenis LimaAinda não há avaliações
- 29290-Texto Do Artigo-128570-1-10-20200922Documento28 páginas29290-Texto Do Artigo-128570-1-10-20200922João FerreiraAinda não há avaliações
- Resumocienciasp AmericanasDocumento4 páginasResumocienciasp AmericanasrbmmagalhaesAinda não há avaliações
- Feminismo e Pós-Colonialismo Nas RiDocumento13 páginasFeminismo e Pós-Colonialismo Nas RiJúlia TordeurAinda não há avaliações
- Texto 1 - LEVINE, D Visoes Da Tradicao Socioologica - A Tradicao AmericanaDocumento9 páginasTexto 1 - LEVINE, D Visoes Da Tradicao Socioologica - A Tradicao AmericanaSara Santos100% (1)
- Teoria Da Literatura e Estudos CulturaisDocumento22 páginasTeoria Da Literatura e Estudos CulturaisTamberg CavalcanteAinda não há avaliações
- Guillermo O'DonnellDocumento31 páginasGuillermo O'DonnellMario H. Morocini de Azambuja Jr.Ainda não há avaliações
- 2 Anos Roteiro 10 07 A 18 de JunhoDocumento4 páginas2 Anos Roteiro 10 07 A 18 de Junhoangeloliver1208Ainda não há avaliações
- Alusão Histórica.Documento4 páginasAlusão Histórica.Roberto Henrique NevesAinda não há avaliações
- Bases para Uma Teoria Do Jornalismo 2Documento16 páginasBases para Uma Teoria Do Jornalismo 2Brenda Tmz MAinda não há avaliações
- Teorias de Política ComparativaDocumento3 páginasTeorias de Política ComparativaArthur Ribeiro DiasAinda não há avaliações
- Entrevista Com Jesús Martín Barbero - Immacolata LopesDocumento21 páginasEntrevista Com Jesús Martín Barbero - Immacolata LopesnllanoAinda não há avaliações
- Textos Mandel - Movimento Estudantil - Maio 68Documento61 páginasTextos Mandel - Movimento Estudantil - Maio 68Gustavo CorreaAinda não há avaliações
- Desafios Do Historiador L PradoDocumento12 páginasDesafios Do Historiador L PradoLucas FeitosaAinda não há avaliações
- Apontamentos Livro World SystemDocumento3 páginasApontamentos Livro World Systemmelissa costaAinda não há avaliações
- Artigo Final Teoria Sociológica IDocumento7 páginasArtigo Final Teoria Sociológica IBruna MeloAinda não há avaliações
- Escola de Chicago Por Howard BeckerDocumento12 páginasEscola de Chicago Por Howard BeckerThemisinha100% (3)
- Todos Os TextosDocumento87 páginasTodos Os TextosÁlvaro Saluan da CunhaAinda não há avaliações
- Introducaoao A Logica Marxista PDFDocumento60 páginasIntroducaoao A Logica Marxista PDFMaria Danimar100% (1)
- Oliveira (2014) O Percurso Historiográfico de Warren Dean, o Ambientalismo e A Ditadura BrasileiraDocumento11 páginasOliveira (2014) O Percurso Historiográfico de Warren Dean, o Ambientalismo e A Ditadura BrasileiraBernardo GomidesAinda não há avaliações
- Abordagens Marxistas Sobre A Idade Média PDFDocumento21 páginasAbordagens Marxistas Sobre A Idade Média PDFreginaldo aliçandro BordinAinda não há avaliações
- O HistorismoDocumento32 páginasO HistorismoAlexandre Galvão CarvalhoAinda não há avaliações
- Teoria Política I Jorge ChaloubDocumento5 páginasTeoria Política I Jorge ChaloubIdeal EducaçãoAinda não há avaliações
- Repensando Ideologia e CurrículoDocumento15 páginasRepensando Ideologia e CurrículoKiko BragaAinda não há avaliações
- Estudo Crítico Dos Textos: "Educação Após Auschwitz", de Theodor Adorno e "A Arqueologia Na Construção Da Identidade Nacional: Uma Disciplina No Fio Da Navalha", de Tânia Andrade Lima.Documento3 páginasEstudo Crítico Dos Textos: "Educação Após Auschwitz", de Theodor Adorno e "A Arqueologia Na Construção Da Identidade Nacional: Uma Disciplina No Fio Da Navalha", de Tânia Andrade Lima.Bruno Leonardo Ricardo RibeiroAinda não há avaliações
- Escola Metódica - Escola HistóricaDocumento6 páginasEscola Metódica - Escola HistóricaJeronimo Ferreira75% (4)
- Estudos Culturais - Renato OrtizDocumento9 páginasEstudos Culturais - Renato OrtizLarissa NascimentoAinda não há avaliações
- Cultural Studies - Daniela Cruz Nº12573Documento5 páginasCultural Studies - Daniela Cruz Nº12573Daniela CruzAinda não há avaliações
- Introducao A Logica Marxista - George NovackDocumento120 páginasIntroducao A Logica Marxista - George NovackRenan MacedoAinda não há avaliações
- Correntes e Controversias em Sociologia Da Educação PDFDocumento13 páginasCorrentes e Controversias em Sociologia Da Educação PDFDrica CordeiroAinda não há avaliações
- O grande debate: Edmund Burke, Thomas Paine e o nascimento da esquerda e da direitaNo EverandO grande debate: Edmund Burke, Thomas Paine e o nascimento da esquerda e da direitaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O essencial Chomsky: Os principais ensaios sobre política, filosofia, linguística e teoria da comunicaçãoNo EverandO essencial Chomsky: Os principais ensaios sobre política, filosofia, linguística e teoria da comunicaçãoAinda não há avaliações
- A diplomacia mediatizada: Em busca do refrão de um brasil megalonanicoNo EverandA diplomacia mediatizada: Em busca do refrão de um brasil megalonanicoAinda não há avaliações
- Paulo de Tarso na filosofia política atual e outros ensaiosNo EverandPaulo de Tarso na filosofia política atual e outros ensaiosAinda não há avaliações
- Política e Ceticismo na Filosofia de Michael OakeshottNo EverandPolítica e Ceticismo na Filosofia de Michael OakeshottAinda não há avaliações
- BIBLIOTECONOMIA - A Formação Do Informador - Luís MilanesiDocumento34 páginasBIBLIOTECONOMIA - A Formação Do Informador - Luís MilanesiJocenir RibeiroAinda não há avaliações
- Arquivo 7 PDFDocumento8 páginasArquivo 7 PDFAlessandroPolicarpoAinda não há avaliações
- 27075-Texto Do Artigo-140816-1-10-20210615Documento10 páginas27075-Texto Do Artigo-140816-1-10-20210615Talita MendesAinda não há avaliações
- Rádio Web Inespec para o MundoDocumento774 páginasRádio Web Inespec para o MundoinespeccebrAinda não há avaliações
- GUIA DE APRENDIZAGEM 26022020 Lilian1Documento2 páginasGUIA DE APRENDIZAGEM 26022020 Lilian1Lilian Rios Dos SantosAinda não há avaliações
- A Dimensão Subjetiva Do Processo EducacionalDocumento13 páginasA Dimensão Subjetiva Do Processo EducacionalschwarzkaAinda não há avaliações
- Relatório Final Do Estágio - Inês LovisDocumento36 páginasRelatório Final Do Estágio - Inês LovisInesAinda não há avaliações
- 1774 PDFDocumento164 páginas1774 PDFDiego CamargoAinda não há avaliações
- Luiza Oliveira de MenezesDocumento46 páginasLuiza Oliveira de MenezesMax AndradeAinda não há avaliações
- (De) Colonialidades Na Relacao Escola-Univ. (Seminário)Documento27 páginas(De) Colonialidades Na Relacao Escola-Univ. (Seminário)Carla NaianeAinda não há avaliações
- O Mètodo Filipino de Ensino de MatemáticaDocumento1 páginaO Mètodo Filipino de Ensino de Matemáticaest concursosAinda não há avaliações
- Ata Nº 6 Da Planificação Semanal de 23 A 27 de Outubro de 2023Documento2 páginasAta Nº 6 Da Planificação Semanal de 23 A 27 de Outubro de 2023Osvaldo Portela OliveiraAinda não há avaliações
- ANASTASIOU Metodologia de Ensino HistoricidadeDocumento11 páginasANASTASIOU Metodologia de Ensino HistoricidadeClecioAinda não há avaliações
- Manual RedaçãoDocumento28 páginasManual RedaçãoLeandro Moreira AlvimAinda não há avaliações
- DissertaçãoDocumento273 páginasDissertaçãoMário MineiroAinda não há avaliações
- Atitudes e ValoresDocumento60 páginasAtitudes e ValoresJesieldo Lima Lima100% (1)
- Bingo MathDocumento12 páginasBingo MathmarianaAinda não há avaliações
- Gabaritos Montes Claros-1Documento19 páginasGabaritos Montes Claros-1Fabricio CardosoAinda não há avaliações
- O Filosofar Hoje PDFDocumento75 páginasO Filosofar Hoje PDFbudambar100% (1)
- Dinâmicas para As Aulas de InglêsDocumento9 páginasDinâmicas para As Aulas de InglêsLuis Vashti MachadoAinda não há avaliações
- Novo Regulamento Ufrn 2024Documento30 páginasNovo Regulamento Ufrn 2024fidelispamela02Ainda não há avaliações
- E-Book - Extensão Universitária - ZAPPES Et Al. 2023Documento157 páginasE-Book - Extensão Universitária - ZAPPES Et Al. 2023Sullivan ReeisAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro Ampliando o Repertório Do Coro Infanto-Juvenil: Um Estudo de Repertório Inserido em Uma Nova EstéticaDocumento5 páginasResenha Do Livro Ampliando o Repertório Do Coro Infanto-Juvenil: Um Estudo de Repertório Inserido em Uma Nova EstéticaDébora AndradeAinda não há avaliações
- Avaliação Do Desempenho DocenteDocumento4 páginasAvaliação Do Desempenho DocenteRicardo100% (2)
ANDERSON, Benedict. Estruturas de Comparação
ANDERSON, Benedict. Estruturas de Comparação
Enviado por
José Victor0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações13 páginasANDERSON, Benedict. Estruturas de Comparação
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoANDERSON, Benedict. Estruturas de Comparação
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações13 páginasANDERSON, Benedict. Estruturas de Comparação
ANDERSON, Benedict. Estruturas de Comparação
Enviado por
José VictorANDERSON, Benedict. Estruturas de Comparação
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 13
Estruturas de comparação
Benedict Anderson reflete sobre sua formação intelectual
Nos meus primeiros tempos em Cornell, o uso do conceito de
"comparação" ainda era um pouco limitado. Não quero dizer que as
comparações nunca foram feitas: foram feitas o tempo todo, conscientemente e
(mais frequentemente) inconscientemente, mas invariavelmente de maneira
prática e em pequena escala. Ainda hoje, na faculdade de artes e ciências da
Universidade de Cornell, apenas um departamento (Literatura Comparada) usa
o termo em seu título, e esse departamento não existia no início dos anos 1960,
quando eu parti para a Indonésia para realizar trabalhos de campo.
Historiadores, antropólogos, economistas e sociólogos raramente pensavam
sistematicamente em comparação. O departamento de Ciência Política era uma
exceção parcial, já que tinha uma subseção chamada de Governo Comparativo,
da qual pertenciam. Mas as comparações que meus colegas de classe e eu
estudamos foram focadas na Europa Ocidental. Isso foi compreensível. Os
países europeus durante séculos interagiram uns com os outros, aprenderam
uns com os outros e competiram uns com os outros. Eles também acreditavam
que eles compartilhavam uma civilização comum baseada na antiguidade e
diferentes cristianidades. As comparações pareciam simples e relevantes.
Para mim, o estranho era que o governo comparativo não cobria os
próprios EUA, que era preservado de uma subseção diferente, chamada de
governo americano. Em um nível, esta divisão foi fácil de entender. Os alunos
de graduação, pensando em futuras carreiras como políticos, burocratas,
advogados e assim por diante, estavam extremamente interessados em cursos
sobre a política do próprio país. O mesmo interesse "nacionalista" pode ser
encontrado na maioria dos países. Meu departamento era dominado por
americanistas por causa da demanda estudantil. Um fator menos óbvio foi a
mentalidade penetrante da "rã sob o coqueiro" criada pelo "nacionalismo oficial".
Não houve cursos sobre a política do México ou do Canadá e, até a minha
aposentadoria em 2001, era raro encontrar um aluno que pudesse nomear o
presidente do primeiro ou o primeiro-ministro deste último.
Um dos mitos centrais do nacionalismo americano tem sido um
"excepcionalismo" - a idéia de que a história, a cultura e a vida política dos EUA
são, por definição, incomparáveis. Não é necessário dizer que isso é absurdo.
De diferentes maneiras, dependendo de quais países em que períodos são
relevantes, os EUA são perfeitamente comparáveis, especialmente com a
Europa, a América do Sul, o Japão e os domínios britânicos do império (Canadá,
Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, etc.). Outra característica desta
perspectiva é o seu provincialismo profundamente enraizado. Daí a forte
resistência ao caso lógico para incluir a política americana na política
comparativa.
Poderíamos acrescentar plausivelmente outros dois fatores, mais
específicos. A primeira é a história institucional do estudo da política nos Estados
Unidos. Uma relíquia clara desta história é que ainda existem vários
departamentos de ciências políticas que se chamam de departamentos de
governo (Harvard e Cornell entre eles). Sua linhagem deriva da fusão de lei
(principalmente lei "constitucional") e administração pública, ambos
eminentemente preocupados com os aspectos práticos da governança. Na
Europa, a linhagem era bastante diferente: departamentos de filosofia,
sociologia, economia e política, baseados na grande tradição de Maquiavel,
Smith, Constant, Ricardo, Hegel, Marx, Tocqueville, Weber e assim por diante.
Meu departamento teve uma subseção chamada Teoria Política, que geralmente
era ensinada por um estudioso europeu e cujo alcance se estendeu de Platão a
Marx, mas não incluiu americanos.
O segundo fator é que os americanos não são naturalmente dados a
grande teoria. Um olhar sobre as ciências sociais e as humanidades para os
"grandes teóricos" do século passado torna isso muito claro, seja na filosofia
(Wittgenstein, Heidegger, Derrida, Foucault, Habermas, Levinas), na história
(Bloch, Braudel, Hobsbawm, Needham, Elliott), sociologia (Mosca, Pareto,
Weber, Simmel, Mann), antropologia (Mauss, Lévi-Strauss, Dumont, Malinowski,
Evans-Pritchard) ou estudos literários (Bakhtin, de Man, Barthes). Todas essas
figuras fundamentais são europeias. A grande exceção americana é Chomsky,
que revolucionou o estudo da linguística e, talvez em menor grau, Milton
Friedman em economia, embora Keynes possa durar mais. Isso não significa
que as universidades contemporâneas dos EUA não estão obcecadas com a
"teoria", só que a "teoria" vem de fora da América, é modelada em economia
(que tem uma forte teorização importante para entender o funcionamento da
sociedade moderna) Ou é sustentado pelo igualitarismo dos Estados Unidos:
todos, por assim dizer, podem e devem ser teóricos, embora a história mostre
que os indivíduos genuinamente capazes de produzir teoria original são raros.
Minha tese (1967) quase poderia ter sido escrita em um departamento de
história. Mas até então, o que mais tarde se lembrava de que a era do
comportamento, entendida como fazendo o estudo da política "científica", estava
em ascensão.
Os 35 anos que eu passei como professor de governo em Cornell me
ensinaram duas lições interessantes sobre a academia dos EUA. A primeira foi
que a teoria, refletindo o estilo do capitalismo tardio, incorporou a obsolescência,
à maneira de produtos high-end. No ano X, os alunos tiveram que ler e mais ou
menos reverenciar a Teoria Y, enquanto afiam seus dentes sobre a Teoria do
passado. Não foram muitos anos depois, foi-lhes dito para afiarem os dentes na
Teoria Y, admirar a Teoria Z e esquecer a Teoria W. A segunda lição foi que -
com algumas exceções importantes, como o trabalho de Barrington Moore, Jr -
a extensão da ciência política à política comparativa tendia a prosseguir,
conscientemente ou inconscientemente, com base no exemplo norte-americano:
uma medida de distância Os países estavam progredindo em aproximar a
liberdade dos Estados Unidos, o respeito pela lei, o desenvolvimento econômico,
a democracia, etc. Assim, o rápido aumento e a queda igualmente rápida de uma
abordagem que hoje parece bastante morta - a teoria da modernização. Não
sendo necessário dizer que, muitas vezes, havia um objetivo abertamente
declarado da Guerra Fria por trás desse tipo de teoria. Ou seja, provar que o
marxismo era fundamentalmente errado. Em sua inocência, essa teoria da "visão
de mim" geralmente ignora coisas tão embaraçosas quanto a taxa de
assassinato muito alta nos EUA, sua população carcerária de negros
extremamente desproporcional, analfabetismo persistente e níveis significativos
de corrupção política.
Mesmo assim, não há dúvida em minha mente de que minha experiência
como estudante de pós-graduação inconscientemente me preparou para o
trabalho comparativo posterior. Meus deveres como assistente de ensino na
política americana e em políticas comparativas (europeias) obrigaram-me a
estudar muitos textos que eu não teria lido de outra forma. Os estudantes de
graduação naqueles dias eram 90% americanos e sabiam muito pouco sobre a
Europa. Para ajudá-los, achei útil comparações constantes entre os EUA, Reino
Unido, França e Alemanha. Eu mesmo tomei cursos de pós-graduação na União
Soviética, Ásia, EUA e Europa Ocidental. Finalmente, o formato do programa do
Sudeste Asiático obrigou-me não só a começar a pensar em toda a região em
um sentido comparativo, mas também a ler em todas as disciplinas,
especialmente antropologia, história e economia. Foi tudo divertido porque era
tão novo para mim.
Minha introdução gradual ao pensamento comparativo, no entanto, era
bastante liberal e "intelectual" até eu ir para para a Indonésia. Lá, pela primeira
vez, minhas tendências emocionais e políticas entraram em jogo no meu
trabalho. No entanto, o principal efeito não era fazer com que eu pensasse mais
teoricamente em qualquer sentido geral. Em vez disso, eu me encontrei me
tornando uma espécie de nacionalista indonésio (ou indonésio-javanesa), e me
sentindo irritado quando sofri bullying de funcionários americanos que
desprezavam os indonésios, não tinham tempo para Sukarno e eram
anticomunistas, a ponto de quando Sukarno pronunciou furiosamente sua
famosa frase anti-americana: "Para o inferno com a sua ajuda!", eu me senti
representado.
Foi nesse quadro que escrevi meu primeiro trabalho explicitamente
comparativo, um longo artigo intitulado "A ideia do poder na cultura javanesa",
publicado em 1972 em Culture and Politics in Indonesia, editado por Claire Holt.
O ensaio teve uma origem improvável. Um dia, quando eu estava sentado no
meu escritório com a porta aberta, dois professores sêniores caminharam,
conversando alto no caminho para almoçar. O homem que falava a maior parte
era Allan Bloom, que mais tarde publicou um bestseller chamado The Closing of
the American Mind, uma figura bastante fascinante e até intimidante.
Grosseiramente esclarecido, e claramente favorecendo sua masculinidade sobre
suas estudantes, ele era, no entanto, um conferencista carismático e um
estudioso de primeira classe no campo da teoria política (Platão a Marx). Na
Universidade de Chicago, ele estava entre os melhores estudantes de Leo
Strauss e um conservador filosófico de princípios, muitos dos quais os alunos
(judeus especialmente brilhantes e ambiciosos) continuaram a liderar o
movimento neoconservador na vida política americana sob Reagan e os dois
arbustos, bem como nas melhores universidades.
O que eu ouvi o Bloom dizer foi isso: "Bem, você sabe que os antigos
gregos, mesmo Platão e Aristóteles, não tinham conceito de "poder" como o
conhecemos hoje. Nunca me ocorreu que os dois mestres filosóficos, a quem
sempre nos diziam que venerávamos como fundadores do pensamento
ocidental, não haviam a menor ideia do que era poder. Eu corri para a biblioteca
para consultar um dicionário clássico em grego. Eu poderia encontrar tirania,
democracia, aristocracia, monarquia, cidade, exército, etc., mas nenhuma
entrada para qualquer conceito abstrato ou geral de poder.
Isso me fez pensar sobre o poder no contexto de Java e Indonésia. Pouco
antes, houve um acalorado debate no encontro entre Clifford Geertz e o jornalista
suíço Herbert Lüthy. Ocorreu entre o final de 1965 e início de 1966, quando os
comunistas e seus simpatizantes foram massacrados na Indonésia após a
tentativa de golpe de 1965. Lüthy havia começado escrevendo um ensaio sobre
a "irracionalidade" da vida política e do discurso indonésio. Bem irritado, Geertz
respondeu com uma retorta severa intitulada 'Are the Javanese Mad?', Que
defendeu fortemente a racionalidade indonésia, com base em sua longa
experiência em fazer trabalho de campo em Java. Geertz já era a influência
dominante na antropologia americana e, junto com Kahin e Benda, uma das três
figuras seniores em estudos indonésios. Como bom nacionalista indonésio, eu
estava do lado de Geertz, mas estava começando a pensar em um estudo mais
sistemático e histórico da "racionalidade" em termos de teoria política.
O meu colega indonésio favorito em meados da década de 1960 era um
historiador de meia-idade, branco, chamado Soemarsaid Moertono, a quem
todos gostamos carinhosamente de "Mas Moer". Mas é um termo de endereço
javanesa, um pouco mais formal do que "big brother", mas perto do seu
significado. Ele me mostrou os rascunhos de sua tese de mestrado sobre
aspectos da regra real javanesa tradicional (publicado eventualmente como
State and Statecraft em Old Java). Sem dúvida, o estranho de todas as
passagens fascinantes e estranhas em seu texto era a história, solenemente
relacionada nas crônicas, do que aconteceu na morte em 1703 de Amangkurat
II, um monarca javanês malsucedido do final do século 17 que não designou um
herdeiro. Enquanto os requerentes e os cortesãos cercavam seu leito de morte,
um deles, o Príncipe Puger, notou que o pênis do rei morto estava ereto e, na
sua ponta havia uma gota de líquido brilhante. Ele correu para beber, e o pênis
caiu. O cronista acrescentou que isso mostrava que a tédja, ou a luz mágica da
realeza, havia passado para o príncipe, que se tornou Amangkurat III.
Como eu tinha certeza de que os javaneses eram tão racionais quanto
qualquer outra pessoa, eu me perguntava quais os pressupostos básicos que
estavam em jogo para tornar essa história estranha razoável. Lembrando a
observação de Bloom, perguntei se, como Platão, os javaneses não poderiam
ter um conceito abstrato de poder como um relacionamento estritamente entre
seres humanos. As conversas com Moertono confirmaram que este era o caso,
mas eles tinham um conceito claro de poder "concreto", uma espécie de mana
imanente no cosmos, e detectável em objetos mágicos, espíritos e seres
humanos (incluindo seus órgãos sexuais). Isso me pareceu a chave que poderia
abrir a porta para perseguir o campo social da racionalidade javanesa por campo
social (assumindo a burocracia, a diplomacia, a tributação, a agricultura, etc.) e
ajudar a explicar o comportamento e as aspirações que Lüthy considerou
irracionais. Pode-se então voltar para o Ocidente e ver muitas semelhanças
antes da chegada de Maquiavel, o primeiro filósofo político ocidental a excluir de
seus pensamentos algo "divino" ou "mágico". A ironia era que Bloom e Moertono,
no mesmo campus ao mesmo tempo, desconheciam completamente a
existência um do outro.
Quando eu estava escrevendo a versão final de 'The Idea of Power in
Javanese Culture' - concebida como um estudo na filosofia política comparativa
- tentei antecipar e prevenir a reação fácil da maioria dos leitores ocidentais:
"Bem, os javaneses eram e são primitivos e nós não somos ". O conceito de
"carisma" veio a meu auxílio: Hitler, Reagan, Mao, Eva Perón, de Gaulle,
Sukarno, Gandhi, Fidel Castro, Lênin e Khomeini: que racionalidade estava
presa à imaginação das pessoas? Havia um substrato de velhos modos de
pensar sobre o poder (mana, tédja) mesmo em culturas que se consideravam
completamente modernas? Muito mais tarde, fiquei satisfeito ao saber que
Reagan nunca tomou decisões importantes antes de sua esposa ter telefonado
para seu adivinho e que os principais líderes do Partido Comunista Chinês de
hoje consultam ansiosamente astrólogos e mestres do feng shui - fora do centro
das atenções, é claro. Os dois pontos principais que eu quero fazer sobre este
artigo são, em primeiro lugar, que eu comecei a fazer comparações de um ponto
de vista nacionalista e dentro de uma estrutura oriental versus ocidental muito
popular entre os orientalistas, mas nesta comparação eu queria mostrar que os
javaneses Ou os indonésios podem ser vistos como tão "racionais" quanto os
ocidentais e outros povos, desde que compreendamos os pressupostos básicos
de seus pensamentos. Em segundo lugar, assumir essa abordagem foi pura
sorte: eu era o colega júnior de Bloom e amigo de Moertono.
Nos próximos dez anos, no entanto, não fiz nada de comparativo, e
quando voltei sistematicamente para a questão das comparações, minhas
perspectivas e interesses eram completamente diferentes. Mesmo um breve
olhar sobre "A ideia do poder na cultura javanesa" (1972) e Imagined
Communities (1983) revelará imediatamente o quão distantes estão. Com
certeza, era em parte uma questão de idade. Em 1972, eu tinha 36 anos, ainda
não tinha certeza e havia sido recentemente expulso da Indonésia. Em 1983, eu
tinha 47 anos, professor completo, novo diretor do programa Cornell para o
Sudeste Asiático e ocupado com o estudo do Siam. Mas a diferença de idade
não foi, de modo algum, o fator mais importante. Aqui, eu gostaria de anotar
algumas notas sobre três influências poderosas sobre mim durante aquela
década - sem nenhuma ordem especial. Primeiro, meu irmão um pouco mais
novo, conhecido pelo mundo como Perry Anderson, mas dentro da família por
seu nome irlandês original, Rory. Depois de me formar em Oxford, penso que
por volta de 1959, mergulhou na política marxista e na vida intelectual.
Juntamente com alguns de seus amigos de Oxford, ele se mudou rapidamente
para trabalhar na Revisão da Nova Esquerda recentemente estabelecida, para
reviver e modernizar uma política de esquerda no Reino Unido que há muito se
tornou fossilizada sob o auspicio pouco suscetível do Partido Comunista
Britânico.
Os fundadores da NLR (New Left Review) foram Edward Thompson, o
grande historiador radical da Inglaterra rural e trabalhadora e o pensador social
jamaicano Stuart Hall, que mais tarde se tornaria conhecido como um dos
fundadores dos estudos culturais. Os jovens turcos tinham apenas carinho e
respeito pelo Hall, mas as relações com Thompson eram muitas vezes difíceis e
eventualmente ele saiu. Ele era um homem brilhante, mas inglês até os ossos e,
de certa forma, um Pequeno Englander com uma hostilidade tradicionalista às
tradições intelectuais da Europa Continental. Meu irmão e seus amigos
acreditavam firmemente que o isolamento intelectual britânico tinha que ser
interrompido por 1) uma importação maciça de obras traduzidas por marxistas-
chave além do Canal: Sartre, Merleau-Ponty, Althusser, Debray, Adorno,
Benjamin, Habermas, Bobbio e muitos outros; E 2) tornando NLR tão
internacionalista quanto possível nos problemas que abordou. A partir de 1974,
comecei a ler NLR de capa a capa e fui profundamente reeducado no processo.
Aqui entrei em contato com o trabalho de Walter Benjamin, que teve um impacto
decisivo sobre mim, já que os leitores de Comunidades Imaginadas
reconhecerão imediatamente. Nas visitas a Londres, comecei a conhecer o
círculo NLR e fazer amigos entre eles. Gostei e não respeitei ninguém mais do
que Tom Nairn, o nacionalista-marxista escocês que, em 1977, publicou sua
polêmica The Break-up of Britain, que causou um verdadeiro alvoroço e levou a
um ataque de Eric Hobsbawm, então a figura principal entre os Geração mais
antiga de historiadores marxistas.
A segunda grande influência sobre mim foi o meu contemporâneo em
Cornell, James Siegel, que hoje é, na minha opinião, o antropólogo mais
impressionantemente original nos EUA. Ele era um dos últimos estudantes de
Clifford Geertz antes do famoso homem, enfurecido pelo radical radicalismo
estudantil do final da década de 1960, abandonou o ensino para um eyrie no
Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde durante muito tempo ele era
praticamente o único cientista social. Jim e eu fizemos o trabalho de campo na
Indonésia ao mesmo tempo, ele em Atjeh e eu em Java. Nos encontramos pela
primeira vez em Medan, uma cidade no norte de Sumatra, na primavera de 1964,
e imediatamente nos tornamos amigos. Sua tese, publicada mais tarde como A
Corda de Deus, era diferente de qualquer trabalho antropológico anteriormente
escrito na Indonésia.
Por volta de 1967, um cargo de antropologia surgiu em Cornell para um
jovem asiático do sudeste e Jim se inscreveu. Naqueles dias radicais, os
candidatos não eram mais entrevistados apenas por professores, mas também
por estudantes de pós-graduação. Quando a decisão final teve que ser feita, a
maioria dos professores era a favor de James Peacock, que havia escrito uma
tese sobre ludruk, o popular teatro urbano de Java Oriental, que ele
caracteristicamente chamava de Ritos de Modernização e que foi publicado com
o Mesmo título. Este título parsonense não ajudou sua causa com os alunos,
para quem a "modernização" era um fetiche abandonado. Eles votaram
esmagadoramente por Jim e a faculdade cedeu. Jim e eu frequentemente
ensinamos cursos juntos, incluindo um seminário em que insistimos que todos
os alunos falassem em indonésio. Foi ele quem me apresentou seriamente a
antropologia de alta classe, incluindo o inspirador trabalho africanista do católico
britânico Victor Turner. Ele também me fez ler Mimesis de Erich Auerbach, um
relato extraordinário da história da "representação" no Ocidente de Homer para
Proust. Nossa aula favorita foi um seminário conjunto sobre a ficção do grande
escritor indonésio Pramoedya Ananta Toer, que ainda estava em um dos gulags
de Suharto. Uma leitura cuidadosa e próxima de ficção com um grupo de
excelentes alunos foi bastante nova para mim. Graças a Jim, comecei a pensar
sobre como eu poderia usar meu treinamento inicial na literatura clássica e da
Europa Ocidental, bem como na indonésia, para um novo tipo de análise das
relações entre imaginação e realidade no estudo da política.
A terceira influência veio dos alunos do programa SEA (South East Asia).
Eles tinham pouco interesse no conceito formal americano de uma gigantesca
zona do Sudeste Asiático como tal. Mas eles adquiriram mais pequenos tipos de
solidariedade entre eles. A raiva das longas e severas ditaduras do Sião e da
Birmânia, a Indonésia islâmica, as Filipinas católicas, os levaram a rejeição. Em
inglês, eles poderiam trocar informações que foram fortemente suprimidas em
seus países de origem. Eles se acostumaram a fazer comparações que nunca
antes imaginaram.
Quanto às comparações típicas das Comunidades Imaginadas, elas
foram moldadas pelas intenções polêmicas do livro. Quase todas as obras
teóricas importantes escritas sobre o nacionalismo após a Segunda Guerra
Mundial foram escritas e publicadas no Reino Unido (o estudo comparativo
pioneiro de Miroslav Hroch sobre "pequenos nacionalismos" na Europa Central
e Oriental, escrito em alemão na Praga com governo comunista, teve que
esperar Muito tempo para ser traduzido para o inglês). Quase todos foram
escritos por judeus, embora de perspectivas políticas muito diferentes. À direita
foi Elie Kedourie, que nasceu e cresceu na antiga comunidade judaica de Bagdá,
mudou-se para Londres como jovem e passou a influenciar Michael Oakeshott,
então filósofo político conservador mais famoso da Grã-Bretanha. Na direita
moderada, Anthony Smith, um judeu ortodoxo praticante de língua inglesa, que
ensinou história em Londres ao longo de uma longa carreira. Convencido de que
os judeus eram as nações mais antigas, ele argumentou consistentemente que
o nacionalismo moderno surgiu de grupos étnicos de longa data. Na esquerda
liberal foi o filósofo, sociólogo e antropólogo Ernest Gellner, um judeu checo
criado em Praga, que se dirigiu para Londres logo após o fim da guerra. Um
liberal de iluminação robusto, ele foi pioneiro na chamada visão construtivista do
nacionalismo, argumentando que era estritamente um produto da
industrialização e da modernidade. Na extrema esquerda estava o grande
historiador Eric Hobsbawm, de descendência judaica parcial, nascido no Egito
colonial e educado substancialmente na Áustria pré-nazista. Hobsbawm era um
construtivista e comunista, e contribuiu de forma marcante para o crescente
debate sobre o nacionalismo no Reino Unido com The Invention of Tradition
(1983), uma coleção que compilou com Terence Ranger. O estranho fora era
Tom Nairn, estritamente escocês.
Todas essas pessoas mais ou menos se conheceram. Todos, exceto
Nairn, estavam muito ligados ao Reino Unido, em parte porque era amplamente
descontaminado pelo fascismo e pelo antissemitismo violento e, em parte,
porque o estado, incluindo a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda
do Norte, se sentia mais como supranacional (se agora extinto) austro-húngaro
do que os estados-nação europeus padrão, como a França, a Itália e a Suécia.
E todos eles eram basicamente orientados para a Europa, embora Gellner
estudasse no Magrebe e aprendesse um pouco de árabe, enquanto Kedourie
escrevia muito sobre seu Iraque natal e, obviamente, sabia muito bem o árabe
iraquiano.
Este foi o círculo largo, mas muito "britânico" no qual as Comunidades
Imaginadas foram apontadas. O debate foi desencadeado por The Break-up of
Britain, que argumentou que o Reino Unido era uma relíquia fossilizada,
conservadora e imperialista, condenada a romper suas quatro nações
constituintes, com a Escócia liderando o caminho. O livro foi fortemente atacado,
especialmente por Hobsbawm, que declarou que nenhum marxista verdadeiro
poderia ser nacionalista; O marxismo havia sido cometido desde o início ao
internacionalismo. Eu gostava muito do livro, por sua própria causa, mas também
como irlandês (a Irlanda do Sul, depois de séculos de domínio colonial inglês, só
ganhou sua independência, pela luta armada, em 1922). Eu não pensei em
Comunidades Imaginadas como um livro estritamente acadêmico, e nunca me
ocorreu no momento em que eventualmente teria uma grande audiência
internacional. Muitas pessoas se queixaram de que é um livro difícil e
especialmente difícil de traduzir. A acusação é parcialmente justificada. Mas uma
grande parte da dificuldade não está no campo das ideias, mas na sua posição
polêmica e no seu público-alvo: a intelectualidade do Reino Unido. É por isso
que o livro contém tantas citações e alusões a poesias inglesas, ensaios,
histórias, lendas, que não precisam ser explicadas aos leitores ingleses, mas
que provavelmente não serão familiares aos outros. Também há piadas e
sarcasmos, apenas os ingleses achariam divertido ou irritante. Por diversão, eu
sempre intitulei os governantes britânicos como se fossem pessoas comuns, p.
Charles Stuart para Charles I, mas usou o formato padrão para reis estrangeiros
(Louis XIV).
As Comunidades Imaginadas foram formadas em um quadro polêmico
mais amplo do que The Breakup of Britain. O primeiro alvo foi o eurocentrisma
que vi no pressuposto de que o nacionalismo nasceu na Europa e depois se
espalhou em formas imitadas para o resto do mundo. Era claro para mim que os
movimentos nacionalistas tinham suas origens históricas na América do Norte e
do Sul, bem como no Haiti, e que esses movimentos não podiam ser explicados
em nenhuma base "étnica" ou linguística. O segundo alvo era o marxismo e o
liberalismo tradicionais. Nairn argumentou, com razão, que esse tipo de
marxismo evitava o nacionalismo em grande medida e nunca havia podido
explicar o seu vasto poder histórico-mundial. Mas ele realmente não tentou
oferecer uma solução marxista ao problema. Eu estava convencido de que uma
solução era possível se considerássemos a peculiaridade dos livros impressos,
que começaram a ser publicados em grandes quantidades na Europa no século
XVI. Os livros eram certamente commodities produzidos pelo capitalismo inicial,
mas também eram recipientes e fornecedores de ideias, emoções e
imaginações, ao contrário da cerveja ou do açúcar. O liberalismo clássico teve
falhas semelhantes. O alvo final era uma tradição poderosa que tratava o
nacionalismo como se fosse apenas um outro - sobre o mundo - ou seja, um
sistema de ideias ou uma ideologia. Esta maneira de olhar para o nacionalismo
não poderia começar a explicar seu enorme poder emocional e sua capacidade
de fazer as pessoas dispostas a morrer por sua causa.
Esta estrutura ajuda a explicar algumas das formas típicas de comparação
que eu empreguei, que eram radicalmente diferentes das usadas no formato
leste-oeste de "A ideia do poder na cultura javanesa". Onde antes eu estava
interessado principalmente na diferença, desta vez eu me concentrei na
semelhança. O longo capítulo "Pioneiros crioulos", nas Américas, é um bom
exemplo. A maior parte do trabalho existente sobre o nacionalismo nos Estados
Unidos simplesmente insistiu em sua excepcionalidade ou vinculou-a às
tradições britânicas. Então eu decidi comparar os primeiros anos dos EUA com
a confusão de novos nacionalismos na América espanhola, e colocar os EUA no
final do capítulo e não no início. Eu gostava de antecipar o aborrecimento que
seria causado por chamar Franklin e Jefferson 'Creoles', como se fossem
simplesmente uma extensão de padrões em todos os lugares visíveis ao sul da
fronteira dos EUA e comentando que Simón Bolívar era uma figura mais
impressionante do que George Washington. Da mesma forma, juntei
deliberadamente a Rússia tzarista com a Índia britânica, a Hungria com o Sião e
o Japão, a Indonésia com a Suíça e o Vietnã com a África Ocidental Francesa.
(Muitos anos depois eu gostei de classificar o nacionalismo taiwanês como uma
forma tardia de nacionalismo crioulo). Essas comparações foram destinadas a
surpresa e choque, mas também a globalizar o estudo da história do
nacionalismo. Embora eu ainda goste deles, eles não são muito semelhantes
aos tipos de comparação feitos no governo comparativo convencional, que
geralmente são baseados em estatísticas e pesquisas.
Não foi até muito mais tarde, de fato, depois de me aposentar, que
comecei a reconhecer a desvantagem fundamental desse tipo de comparação:
que usar a nação e os nazistas como unidades básicas de análise ignorou
fatalmente o fato óbvio de que, na realidade, essas unidades foram ligadas e
cruzadas por correntes político-intelectuais globais, como o liberalismo, o
fascismo, o comunismo e o socialismo, bem como vastas redes religiosas e
forças econômicas e tecnológicas. Eu também tive que levar a sério a realidade
de que poucas pessoas já foram exclusivamente nacionalistas. Não importa o
quão forte o seu nacionalismo, eles também podem ser dominados por filmes de
Hollywood, neoliberalismo, gostar de mangá, direitos humanos, desastre
ecológico iminente, moda, ciência, anarquismo, pós-colonialismo, "democracia",
movimentos de povos indígenas, salas de conversação, Astrologia, línguas
supranacionais como espanhol e árabe e assim por diante. O reconhecimento
desta falha grave ajuda a explicar por que sob três bandeiras: o anarquismo e a
imaginação anticolonial (2005) focaram não apenas no anarquismo global no
final do século XIX, mas também nas formas globais de comunicação,
especialmente o telégrafo e o navio a vapor.
Porque meu quadro agora mudou, assim como o estilo das comparações.
Embora "A Ideia do Poder na Cultura Javanesa" e as Comunidades Imaginadas
fossem trabalhos muito diferentes, eles tinham em comum um forte impulso
longitudinal. No primeiro, o leitor atravessa três séculos de história javanesa, no
último da invenção do capitalismo impresso no século 15 para os movimentos
anticoloniais de meados de 20. Em Under Three Flags, o impulso dominante é
latitudinal. O tempo básico é marcado, não por séculos, mas por décadas,
apenas quatro deles entre 1861 e 1901. O que mais me interessou foi como os
desenvolvimentos políticos e literários, como o anarquismo e a escrita de
vanguarda, estavam visivelmente ligados, no que chamado Walter Benjamin
"Tempo homogêneo e vazio", no Brasil, Cuba, Reino Unido, Bélgica, Itália,
França, Espanha, Alemanha, Rússia, África do Sul, Japão, China, Oceania e
Filipinas.
Esse tipo de estudo exigia um novo tipo de estrutura narrativa, mais
parecida com uma novela serializada em um jornal do que o tipo ordinário de
trabalhos históricos acadêmicos. O leitor é convidado a saltar de ida e volta entre
Nápoles, Tóquio, Manila, Barcelona, Paris, Rio de Janeiro, Bruxelas, São
Petersburgo, Tampa e Londres. A ênfase é sobre o aprendizado contemporâneo,
as comunicações e a coordenação em relação às ideologias e ao ativismo
político, graças à rapidez da comunicação telegráfica entre as fronteiras
estaduais e nacionais. Alguns franceses estavam aprendendo com alguns
americanos e belgas, alguns chineses de alguns filipinos e japoneses, alguns
italianos de alguns espanhóis e russos, alguns filipinos de alguns alemães e
cubanos. E assim por diante. Enquanto o estresse geral era sobre
simultaneidade e semelhança, o núcleo do livro é uma análise do contraste entre
o anarquismo global e os nacionalismos locais. O emblema mais legal para este
contraste surge de uma investigação da onda de assassinatos durante o período,
que se estende de Buffalo, New York para Harbin, Manchuria. Os assassinos
nacionalistas sempre tentaram matar "seus próprios" líderes de estado odiados,
enquanto os assassinos anarquistas frequentemente visavam não só os
opressores locais, mas os líderes políticos notórios em outros países.
*******************************************
É importante reconhecer que a comparação não é um método ou mesmo
uma técnica acadêmica; em vez disso, é uma estratégia discursiva. Existem
alguns pontos importantes a ter em conta quando se deseja fazer uma
comparação. Em primeiro lugar, é preciso decidir, em qualquer trabalho dado,
se é principalmente após semelhanças ou diferenças. É muito difícil, por
exemplo, dizer, e muito menos provar, que o Japão e a China ou a Coréia são
basicamente similares ou basicamente diferentes. Qualquer um dos casos
poderia ser feito, de acordo com o ângulo de visão, a estrutura de um e as
conclusões sobre as quais se pretende mover. (Nos anos jingoist na véspera da
Primeira Guerra Mundial, quando os alemães e os franceses foram encorajados
a odiar-se, o grande teórico austro-marxista Otto Bauer gostava de afastar os
dois lados ao dizer que os parisienses contemporâneos e os berlinenses tinham
muito mais em comum do que com seus respectivos antepassados medievais).
Aqui tentei, como talvez oferecendo um exemplo útil, mostrar como as obras
comparativas que escrevi entre o início da década de 1970 e a década de 2000
refletiam, na sua diferença real, mudanças de perspectivas, enquadramentos e
intenções.
Um segundo ponto é que, dentro dos limites do argumento plausível, as
comparações mais instrutivas (seja de diferença ou similaridade) são aquelas
que surgem. Nenhum japonês ficará surpreso com uma comparação com a
China, uma vez que foi feita há séculos, o caminho está bem pisado, e as
pessoas costumam ter suas mentes já inventadas. Mas uma comparação do
Japão com a Áustria ou o México pode atrapalhar o leitor.
Uma terceira reflexão é que as comparações longitudinais do mesmo país
durante um longo período de tempo são pelo menos tão importantes quanto as
comparações entre países. Uma razão para isso tem a ver com o poder de um
certo tipo de história nacional de estilo de livro-texto que não despreza os mitos
e tem interesse em continuidade e perpetua uma antiga "identidade nacional".
Os escoceses que querem acreditar e insistem em ter sido oprimidos pelos
ingleses não gostam de lembrar que Londres foi governada por uma dinastia
escocesa durante a maior parte do século XVII; Da mesma forma, muitos
japoneses não tomam gentilmente a sugestão de que os primeiros "imperadores"
de seu país podem ter sido de origem parcialmente coreana. Daí os estudiosos
podem lucrar imensamente lendo amplamente na história antiga.
Um quarto ponto é que é bom pensar sobre as próprias circunstâncias,
posição de classe, gênero, nível e tipo de educação, idade, língua materna, etc.,
ao fazer comparações. Mas essas coisas podem mudar. Quando você começa
a viver em um país cujo idioma você entende mal ou não, você obviamente não
está em boa posição para pensar de forma comparativa, porque você tem pouco
acesso à cultura local. Você se sente sexualmente privado, sozinho e até mesmo
isolado, e você busca outros cidadãos para se manter. Você não pode evitar
fazer comparações, mas é provável que sejam superficiais e ingênuas. Então,
se você tiver sorte, você atravessa a parede do idioma e se encontra em outro
mundo. Você é como um explorador, e tenta perceber e pensar sobre tudo de
uma maneira que você nunca faria em casa, onde muito é dado como certo. O
que você vai começar a notar, se seus ouvidos e olhos estiverem abertos, são
coisas que você não pode ver ou ouvir. Você começará a notar o que não existe,
bem como o que está lá, assim como você perceberá o que não está escrito,
bem como o que está escrito. E isso funciona tanto para o país em que você está
morando como aquele do qual você veio. Muitas vezes, ele começa com
palavras. O indonésio, por exemplo, tem uma palavra especial, gurih, pelo sabor
do arroz ("deliciosamente pungente" de acordo com um dicionário). Se você vier
da Inglaterra, então você está surpreso ao perceber que o sabor do arroz não
pode ser descrito com uma palavra inglesa designada. Por outro lado, o
indonésio não tem nenhuma palavra como o "sepia" inglês para a cor das
fotografias antigas. O mesmo se aplica aos conceitos. Javanês tem uma palavra,
longan, para o espaço vazio sob uma cadeira ou cama, o que o inglês não.
Esse período de luta com uma nova linguagem é especialmente bom para
treinar-se para ser seriamente comparativo, porque ainda não há tradução
automática de palavras estrangeiras na língua na sua cabeça. Você
gradualmente conhece o suficiente para notar mais, e ainda assim você ainda é
um estranho. Se você continuar com o tempo suficiente, as coisas ficam
garantidas de novo, pois eles estavam de volta para casa, e você tende a ser
muito menos curioso e observador do que antes - você começa a dizer a si
mesmo: "Eu sei que a Indonésia está de dentro para fora". É que as boas
comparações geralmente provêm da experiência da estranheza e das
ausências.
Cartas Vol. 38 No. 3 · 4 de fevereiro de 2016
Fiquei intrigado em ler em "Frameworks of Comparison" de Benedict
Anderson que Anderson ouviu Allan Bloom observando que os antigos gregos
não tinham conceito de poder e que Anderson não conseguiu encontrar qualquer
entrada para esse conceito no "dicionário clássico grego" que ele se apressou
em consultar (LRB, 21 de janeiro).
Parece difícil aceitar que ele ou Bloom poderiam ser facilmente
enganados. Mesmo que Anderson percebesse Bloom (como parece, ele deve
ter: Bloom foi depois de tudo treinado como um classicista), um mergulho
superficial no pensamento grego antigo teria trazido sua atenção para palavras
como dynamis ou ananke, geralmente traduzidas como "poder" e 'Necessidade',
respectivamente. Nem precisamos esperar por Platão e Aristóteles, pois essas
ideias foram exploradas com grande sutileza e explicitação em sua dimensão
política por escritores gregos anteriores. Apenas para tomar o exemplo mais
óbvio, cujas credenciais neocon estarão completas sem verificação de nomes,
Thucydides e o Diálogo Meliano?
Colin Wells
Westport, Nova Iorque
Lembrei-me, lendo os comentários de Benedict Anderson sobre o método
comparativo, da definição de Wordsworth de "agência criativa":
A música falaria
Daquele edifício interminável erguido
Por observação de afinidades
Nos objetos onde não existe uma fraternidade
Para mentes passivas.
A afinidade entre os dois é impressionante, não menos importante porque
o próprio Wordsworth acabou se lembrando do sapo sob a casca de coco que
Anderson se esforçou para não ser.
Michael Falk
Universidade de Kent
Vol. 38 No. 4 · 18 de fevereiro de 2016
O falecido Benedict Anderson afirma, em suas memórias, que "os
americanos não são naturalmente dados à grande teoria", e denomina cinco
grandes teóricos sociológicos do século passado: Mosca, Pareto, Weber,
Simmel e Mann (LRB, 21 de janeiro). No entanto, se a "grande teoria" estiver
associada a qualquer indivíduo com o sociólogo norte-americano Talcott
Parsons, alvo de um ataque de desaparecimento de C. Wright Mills, que cunhou
o termo precisamente nesse propósito em The Sociological Imagination (1959).
Parsons foi acusado de ter pouco sentido do que era o mundo social e de
inventar o pouco que ele tinha enquanto estava sentado em seu escritório em
Harvard. Mills foi um pouco injusto, já que Parsons era responsável - junto com
o próprio Mills - por ter feito muitas das ideias da tradição sociológica europeia
disponíveis para o mundo de língua inglesa.
Charles Turner
Universidade de Warwick, Coventry
Você também pode gostar
- Template TCF F3 - BrancoDocumento18 páginasTemplate TCF F3 - BrancoFerreira Lu100% (2)
- Prova Psicologia Organizacional e Do Trabalho - Prova Final ObjetivaDocumento9 páginasProva Psicologia Organizacional e Do Trabalho - Prova Final ObjetivaMestre Walla100% (1)
- Método de Alfabetização e Compreensão TextualDocumento23 páginasMétodo de Alfabetização e Compreensão TextualAlexandra Cerqueira CésarAinda não há avaliações
- Resenha - A Escola de ChicagoDocumento3 páginasResenha - A Escola de ChicagoElton Sousa Ferreira100% (1)
- Adam Kuper Parte 1Documento36 páginasAdam Kuper Parte 1Izomar Lacerda100% (11)
- Entre A Ciência e A SapiênciaDocumento2 páginasEntre A Ciência e A SapiênciaCristiano Ferreira100% (3)
- Orientação VocacionalDocumento12 páginasOrientação VocacionalJoao L. Andreta100% (3)
- Psicologia de DesenvolvimentoDocumento53 páginasPsicologia de DesenvolvimentoArsénio Sadique Aualo100% (3)
- Immanuel Wallerstein - Trajetória Intelectual e Política - Margem Esquerda Entrevista - Blog Da BoitempoDocumento15 páginasImmanuel Wallerstein - Trajetória Intelectual e Política - Margem Esquerda Entrevista - Blog Da BoitempoMauricioAinda não há avaliações
- JOHNDEWEY-Biografiaeid ®iasDocumento7 páginasJOHNDEWEY-Biografiaeid ®iasFernando PlacidesAinda não há avaliações
- Ciências SociasDocumento14 páginasCiências SociasTainá MoraesAinda não há avaliações
- Edward Said e o Pós-ColonialismoDocumento12 páginasEdward Said e o Pós-ColonialismoFlávia Ribeiro RibeiroAinda não há avaliações
- Situando A Sociologia Política - Elisa ReisDocumento25 páginasSituando A Sociologia Política - Elisa ReisCarmen SilvaAinda não há avaliações
- História Do Pensamento Político.. Apostíla!Documento15 páginasHistória Do Pensamento Político.. Apostíla!Aparecida Fernandes100% (1)
- Julian Marias - Estado e UniversidadeDocumento4 páginasJulian Marias - Estado e UniversidadeFausto ZamboniAinda não há avaliações
- Nelson Maldonado-Torres - Pensamento Crítico Desde A SubalternidadeDocumento25 páginasNelson Maldonado-Torres - Pensamento Crítico Desde A SubalternidadeDaniel E. Florez MuñozAinda não há avaliações
- Dale Tomich - Binghamton UniversityDocumento10 páginasDale Tomich - Binghamton UniversityDine EstelaAinda não há avaliações
- Por Uma História Da Esquerda Brasileira - Maria Paula Nascimento AraújoDocumento21 páginasPor Uma História Da Esquerda Brasileira - Maria Paula Nascimento AraújoCastro RicardoAinda não há avaliações
- 10 Lições Estudos CulturaisDocumento4 páginas10 Lições Estudos CulturaisFabio Martelozzo MendesAinda não há avaliações
- 3 - Moses Finley e A Escola de FrankfurtDocumento17 páginas3 - Moses Finley e A Escola de FrankfurtLenin CamposAinda não há avaliações
- FERES Teoria PolíticaDocumento14 páginasFERES Teoria PolíticaGabriela Ribeiro CardosoAinda não há avaliações
- Escola HistóricaDocumento58 páginasEscola HistóricaOdirlei shultesAinda não há avaliações
- Além Da Pós-Colonialidade - A Sociologia Periférica e A Crítica Ao EurocentrismoDocumento17 páginasAlém Da Pós-Colonialidade - A Sociologia Periférica e A Crítica Ao EurocentrismoMurilo MangabeiraAinda não há avaliações
- Entrevista Com HobsbawmDocumento10 páginasEntrevista Com HobsbawmFlavia BorbasAinda não há avaliações
- Jacques MaritainDocumento10 páginasJacques MaritainDani LeiteAinda não há avaliações
- José Arthur Rios - Raízes Do Marxismo UniversitárioDocumento15 páginasJosé Arthur Rios - Raízes Do Marxismo Universitáriokaio-felipeAinda não há avaliações
- MALDONADO-ToRRES, Nelson - Pensamento Crítico Desde A SubalternidadeDocumento26 páginasMALDONADO-ToRRES, Nelson - Pensamento Crítico Desde A Subalternidadejuliana.fmeloAinda não há avaliações
- Uma História Da Afinidade Das Ciências Sociais Com o FascismoDocumento10 páginasUma História Da Afinidade Das Ciências Sociais Com o FascismoDenis LimaAinda não há avaliações
- 29290-Texto Do Artigo-128570-1-10-20200922Documento28 páginas29290-Texto Do Artigo-128570-1-10-20200922João FerreiraAinda não há avaliações
- Resumocienciasp AmericanasDocumento4 páginasResumocienciasp AmericanasrbmmagalhaesAinda não há avaliações
- Feminismo e Pós-Colonialismo Nas RiDocumento13 páginasFeminismo e Pós-Colonialismo Nas RiJúlia TordeurAinda não há avaliações
- Texto 1 - LEVINE, D Visoes Da Tradicao Socioologica - A Tradicao AmericanaDocumento9 páginasTexto 1 - LEVINE, D Visoes Da Tradicao Socioologica - A Tradicao AmericanaSara Santos100% (1)
- Teoria Da Literatura e Estudos CulturaisDocumento22 páginasTeoria Da Literatura e Estudos CulturaisTamberg CavalcanteAinda não há avaliações
- Guillermo O'DonnellDocumento31 páginasGuillermo O'DonnellMario H. Morocini de Azambuja Jr.Ainda não há avaliações
- 2 Anos Roteiro 10 07 A 18 de JunhoDocumento4 páginas2 Anos Roteiro 10 07 A 18 de Junhoangeloliver1208Ainda não há avaliações
- Alusão Histórica.Documento4 páginasAlusão Histórica.Roberto Henrique NevesAinda não há avaliações
- Bases para Uma Teoria Do Jornalismo 2Documento16 páginasBases para Uma Teoria Do Jornalismo 2Brenda Tmz MAinda não há avaliações
- Teorias de Política ComparativaDocumento3 páginasTeorias de Política ComparativaArthur Ribeiro DiasAinda não há avaliações
- Entrevista Com Jesús Martín Barbero - Immacolata LopesDocumento21 páginasEntrevista Com Jesús Martín Barbero - Immacolata LopesnllanoAinda não há avaliações
- Textos Mandel - Movimento Estudantil - Maio 68Documento61 páginasTextos Mandel - Movimento Estudantil - Maio 68Gustavo CorreaAinda não há avaliações
- Desafios Do Historiador L PradoDocumento12 páginasDesafios Do Historiador L PradoLucas FeitosaAinda não há avaliações
- Apontamentos Livro World SystemDocumento3 páginasApontamentos Livro World Systemmelissa costaAinda não há avaliações
- Artigo Final Teoria Sociológica IDocumento7 páginasArtigo Final Teoria Sociológica IBruna MeloAinda não há avaliações
- Escola de Chicago Por Howard BeckerDocumento12 páginasEscola de Chicago Por Howard BeckerThemisinha100% (3)
- Todos Os TextosDocumento87 páginasTodos Os TextosÁlvaro Saluan da CunhaAinda não há avaliações
- Introducaoao A Logica Marxista PDFDocumento60 páginasIntroducaoao A Logica Marxista PDFMaria Danimar100% (1)
- Oliveira (2014) O Percurso Historiográfico de Warren Dean, o Ambientalismo e A Ditadura BrasileiraDocumento11 páginasOliveira (2014) O Percurso Historiográfico de Warren Dean, o Ambientalismo e A Ditadura BrasileiraBernardo GomidesAinda não há avaliações
- Abordagens Marxistas Sobre A Idade Média PDFDocumento21 páginasAbordagens Marxistas Sobre A Idade Média PDFreginaldo aliçandro BordinAinda não há avaliações
- O HistorismoDocumento32 páginasO HistorismoAlexandre Galvão CarvalhoAinda não há avaliações
- Teoria Política I Jorge ChaloubDocumento5 páginasTeoria Política I Jorge ChaloubIdeal EducaçãoAinda não há avaliações
- Repensando Ideologia e CurrículoDocumento15 páginasRepensando Ideologia e CurrículoKiko BragaAinda não há avaliações
- Estudo Crítico Dos Textos: "Educação Após Auschwitz", de Theodor Adorno e "A Arqueologia Na Construção Da Identidade Nacional: Uma Disciplina No Fio Da Navalha", de Tânia Andrade Lima.Documento3 páginasEstudo Crítico Dos Textos: "Educação Após Auschwitz", de Theodor Adorno e "A Arqueologia Na Construção Da Identidade Nacional: Uma Disciplina No Fio Da Navalha", de Tânia Andrade Lima.Bruno Leonardo Ricardo RibeiroAinda não há avaliações
- Escola Metódica - Escola HistóricaDocumento6 páginasEscola Metódica - Escola HistóricaJeronimo Ferreira75% (4)
- Estudos Culturais - Renato OrtizDocumento9 páginasEstudos Culturais - Renato OrtizLarissa NascimentoAinda não há avaliações
- Cultural Studies - Daniela Cruz Nº12573Documento5 páginasCultural Studies - Daniela Cruz Nº12573Daniela CruzAinda não há avaliações
- Introducao A Logica Marxista - George NovackDocumento120 páginasIntroducao A Logica Marxista - George NovackRenan MacedoAinda não há avaliações
- Correntes e Controversias em Sociologia Da Educação PDFDocumento13 páginasCorrentes e Controversias em Sociologia Da Educação PDFDrica CordeiroAinda não há avaliações
- O grande debate: Edmund Burke, Thomas Paine e o nascimento da esquerda e da direitaNo EverandO grande debate: Edmund Burke, Thomas Paine e o nascimento da esquerda e da direitaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O essencial Chomsky: Os principais ensaios sobre política, filosofia, linguística e teoria da comunicaçãoNo EverandO essencial Chomsky: Os principais ensaios sobre política, filosofia, linguística e teoria da comunicaçãoAinda não há avaliações
- A diplomacia mediatizada: Em busca do refrão de um brasil megalonanicoNo EverandA diplomacia mediatizada: Em busca do refrão de um brasil megalonanicoAinda não há avaliações
- Paulo de Tarso na filosofia política atual e outros ensaiosNo EverandPaulo de Tarso na filosofia política atual e outros ensaiosAinda não há avaliações
- Política e Ceticismo na Filosofia de Michael OakeshottNo EverandPolítica e Ceticismo na Filosofia de Michael OakeshottAinda não há avaliações
- BIBLIOTECONOMIA - A Formação Do Informador - Luís MilanesiDocumento34 páginasBIBLIOTECONOMIA - A Formação Do Informador - Luís MilanesiJocenir RibeiroAinda não há avaliações
- Arquivo 7 PDFDocumento8 páginasArquivo 7 PDFAlessandroPolicarpoAinda não há avaliações
- 27075-Texto Do Artigo-140816-1-10-20210615Documento10 páginas27075-Texto Do Artigo-140816-1-10-20210615Talita MendesAinda não há avaliações
- Rádio Web Inespec para o MundoDocumento774 páginasRádio Web Inespec para o MundoinespeccebrAinda não há avaliações
- GUIA DE APRENDIZAGEM 26022020 Lilian1Documento2 páginasGUIA DE APRENDIZAGEM 26022020 Lilian1Lilian Rios Dos SantosAinda não há avaliações
- A Dimensão Subjetiva Do Processo EducacionalDocumento13 páginasA Dimensão Subjetiva Do Processo EducacionalschwarzkaAinda não há avaliações
- Relatório Final Do Estágio - Inês LovisDocumento36 páginasRelatório Final Do Estágio - Inês LovisInesAinda não há avaliações
- 1774 PDFDocumento164 páginas1774 PDFDiego CamargoAinda não há avaliações
- Luiza Oliveira de MenezesDocumento46 páginasLuiza Oliveira de MenezesMax AndradeAinda não há avaliações
- (De) Colonialidades Na Relacao Escola-Univ. (Seminário)Documento27 páginas(De) Colonialidades Na Relacao Escola-Univ. (Seminário)Carla NaianeAinda não há avaliações
- O Mètodo Filipino de Ensino de MatemáticaDocumento1 páginaO Mètodo Filipino de Ensino de Matemáticaest concursosAinda não há avaliações
- Ata Nº 6 Da Planificação Semanal de 23 A 27 de Outubro de 2023Documento2 páginasAta Nº 6 Da Planificação Semanal de 23 A 27 de Outubro de 2023Osvaldo Portela OliveiraAinda não há avaliações
- ANASTASIOU Metodologia de Ensino HistoricidadeDocumento11 páginasANASTASIOU Metodologia de Ensino HistoricidadeClecioAinda não há avaliações
- Manual RedaçãoDocumento28 páginasManual RedaçãoLeandro Moreira AlvimAinda não há avaliações
- DissertaçãoDocumento273 páginasDissertaçãoMário MineiroAinda não há avaliações
- Atitudes e ValoresDocumento60 páginasAtitudes e ValoresJesieldo Lima Lima100% (1)
- Bingo MathDocumento12 páginasBingo MathmarianaAinda não há avaliações
- Gabaritos Montes Claros-1Documento19 páginasGabaritos Montes Claros-1Fabricio CardosoAinda não há avaliações
- O Filosofar Hoje PDFDocumento75 páginasO Filosofar Hoje PDFbudambar100% (1)
- Dinâmicas para As Aulas de InglêsDocumento9 páginasDinâmicas para As Aulas de InglêsLuis Vashti MachadoAinda não há avaliações
- Novo Regulamento Ufrn 2024Documento30 páginasNovo Regulamento Ufrn 2024fidelispamela02Ainda não há avaliações
- E-Book - Extensão Universitária - ZAPPES Et Al. 2023Documento157 páginasE-Book - Extensão Universitária - ZAPPES Et Al. 2023Sullivan ReeisAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro Ampliando o Repertório Do Coro Infanto-Juvenil: Um Estudo de Repertório Inserido em Uma Nova EstéticaDocumento5 páginasResenha Do Livro Ampliando o Repertório Do Coro Infanto-Juvenil: Um Estudo de Repertório Inserido em Uma Nova EstéticaDébora AndradeAinda não há avaliações
- Avaliação Do Desempenho DocenteDocumento4 páginasAvaliação Do Desempenho DocenteRicardo100% (2)