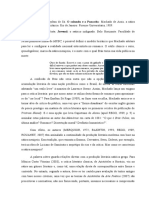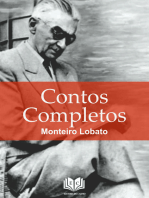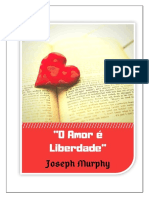Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aspectos de Teoria Do Conto em Machado de Assis-2 PDF
Aspectos de Teoria Do Conto em Machado de Assis-2 PDF
Enviado por
KeithreeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aspectos de Teoria Do Conto em Machado de Assis-2 PDF
Aspectos de Teoria Do Conto em Machado de Assis-2 PDF
Enviado por
KeithreeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aspectos de Teoria do Conto em Machado de Assis
Raquel Parrine (USP)1
Resumo:
É discutível o marco histórico da origem do conto no Brasil.
Entretanto, muitos autores vêem, com razão, na obra de Machado de
Assis os elementos indiscutíveis da consolidação do gênero no nosso
país. A unidade de impressão, por exemplo, tal qual teorizada por
Edgar Allan Poe, é visível em muitos contos do autor brasileiro, como
por exemplo “A cartomante”, “O relógio de ouro” e “A causa secreta”.
A opção teórica adotada por Machado na construção de seus contos,
ainda que não desenvolvida em nenhum texto crítico próprio, aparece
fortemente marcada pelas características dos contos do autor norte-
americano e, mais do que isso, é decisiva para a formação do fazer
literário da tradição brasileira.
Palavras-chave: teoria do conto, Machado de Assis, conto moderno.
Abstract:
The actual landmark of the creation of Brazilian short story is most
indefinable. But, most of the critics have pointed in Machado de Assis’ works
the ultimate expression of the modern storytelling. The unity of impression,
as Edgar Allan Poe theorized, can be easily identified in short stories as “A
Cartomante”, “O Relógio de Ouro” and “A Causa Secreta”. Machado de
Assis’ options concerning the short story, despite the fact that he himself
never wrote a piece about the subject,were crucial in the construction of the
Brazilian literary tradition.
Palavras-chave: short story, literary theory, Machado de Assis.
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484)
Raquel Parrine
Introdução
N
ão é exata a fixação do marco do início do conto no Brasil. Em
primeiro lugar, porque as características desse gênero tiveram uma
delimitação traiçoeira, ligada à falta de prestígio que ele tinha, no
momento áureo da criação do romance – mas, também, por outro lado,
refletindo a dificuldade inerente de classificá-lo. A pergunta ficava no ar, ainda
que não proferida: o que é o conto? Não creio que os anos passaram para que
nós a respondêssemos.
Fato é que as origens do conto estão intimamente envolvidas com um
tipo de produção que se dava no jornal em meados do século XIX. Quer ou não
tivessem “qualidade literária”, ou qualquer outro critério que se estabeleça,
esses textos de cunho ficcional delimitaram os modos e o estilo do conto
moderno como seria praticado posteriormente. Segundo Barbosa Lima
Sobrinho:
...estreita vinculação existente entre as duas atividades, a do jornalista
e a do conteur, vinculação com que se documenta a poderosa
influência do periódico na expansão e multiplicação do conto
moderno, aquêle que se dirige, não mais aos círculos palacianos ou a
uma nobreza restrita, mas ao grande público, que se vai acumulando
nas cidades de nosso tempo e, sobretudo, a essa burguesia numerosa,
que as indústrias e as atividades urbanas despertam para uma missão
política (LIMA SOBRINHO, 1960. p.16).
Assim, a aproximação entre o jornalismo e a literatura se apresenta, não
só em termos estilísticos, mas no que diz respeito ao público, ao leitor implícito,
à circulação e à circunscrição social em que esse fenômeno se dará. No âmbito
romântico, no que compete a esses precursores do conto,
A primeira impressão que êles nos dão é a de jornalistas, habituados
com os modelos europeus, e interessados em transportar para o
Brasil um tipo de ficção, que estava sendo um dos fatôres de êxito
nos periódicos literários ou políticos, que circulavam no Velho
Mundo. (LIMA SOBRINHO, 1960. p.16)
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 473
Aspectos de Teoria do Conto em Machado de Assis
Enquanto a questão da transposição dos modos de prestígio da Europa é
parte da problemática de qualquer âmbito de produção romântica, o tema da
predileção desses autores pelo jornalismo, fez com que largassem a produção
ficcional e se dedicassem somente àquela atividade, postergando o
aparecimento do conto.
Isso tudo é importante para entender a importância do marco do conto
ter sido dado como 1841, por Edgar Cavalheiro, com a publicação de “Duas
Órfãs”, de Norberto de Sousa e Silva, um folheto de 30 páginas posteriormente
recolhido num volume chamado Romances e novelas2 (note-se bem, não
“contos”). E, por Barbosa Lima Sobrinho, dois marcos: o precursor romântico,
uma espécie de gênero intermediário entre crônica e conto, “A caixa e o
tinteiro”, de Justiniano José da Rocha, publicado em um jornal em 1836.
Entretanto, “se exigirmos um mínimo de qualidades literárias”, segundo Lima
Sobrinho, o conto literário “começa mesmo com Machado de Assis”, e a data é 5 de
janeiro de 1858, com a publicação de “Três tesouros perdidos”, também em
jornal, segundo a bibliografia de J. Galante de Sousa(LIMA SOBRINHO, 1960.
p.10).
A polêmica das datas não nos revela mais sobre elas do que sobre os seus
critérios: afinal, o que é um conto? Se, para Lima Sobrinho, a resposta passa por
uma consideração a respeito do valor literário, a discrepância em relação ao
critério de Edgar Cavalheiro também nos mostra uma forte questão de forma –
discussão esta a que Machado de Assis, senão o criador do conto no Brasil, pelo
menos sua voz mais forte, não era alheio.
1.
Em seu primeiro livro de contos, Contos Fluminenses, Machado de Assis
inclui junto aos outros contos, um texto que ele chama de “romance”, “Miss
Dollar”, em capítulos. Essa espécie híbrida aparecerá outras vezes, no caso de
“O alienista” e “Igreja do diabo”, por exemplo. Isso mostra a instabilidade
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 474
Raquel Parrine
inerente do gênero nessas suas manifestações mais precoces. Entretanto, fato é
que a maior parte da produção de contos de Machado segue um formato estrito,
que o aproxima mais ao conto moderno. A preocupação reside, na verdade, na
defesa desse gênero não consolidado. Ouvimos ecos disso na abertura de
Histórias da Meia-Noite, de 1873, segundo livro de contos do escritor: “Não digo
com isto que o gênero seja menos digno da atenção dele [do leitor], nem que deixe de
exibir predicados de observação e de estilo” (ASSIS, 2008)– a interlocução se dá a
partir de uma expectativa de que o conto não é um gênero provido de
qualidades.
É ainda neste terreno movediço que, na abertura de Várias Histórias, de
1896, Machado cita os contos de Poe e Merimée e lhes confere um status de
obras-primas. Essa atitude surge como uma espécie de delimitação de
linhagem, mas também “a referência aos dois mestres do conto fantástico não é
casual, fortuita reminiscência da leitura”, como aponta Afrânio Coutinho (1971,
p.39), “mas revela, antes uma evidente preferência por essa espécie de literatura”. A
percepção do crítico a respeito do legado do conto fantástico à produção de
Machado o leva a concluir que
...êsse elemento, de tanta importância indireta, como se vê, na
evolução do conto brasileiro, pela fixação primordial de alguns dos
seus fatôres preponderantes, em especial quanto à forma,
apresentação das personagens, exposição dos episódios, preparação
do clímax... (COUTINHO, 1971. p. 42)
Talvez seja exatamente essa implicação indireta na forma do conto, essa
infiltração do fantástico nas origens do conto brasileiro o que chamou a atenção
de Afrânio Coutinho; mas também vem sendo indicado tantas vezes pelo
próprio Machado o traço principal dessa linhagem originária. Quer dizer, pode
ser essa influência indireta, mas primordial, do conto fantástico o traço mais
fundamental da produção desse primeiro grande contista brasileiro. Isso que
não é uma “fortuita reminiscência de leitura” pode estar radicalmente ligado ao
estilo original de Machado.
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 475
Aspectos de Teoria do Conto em Machado de Assis
2.
Partindo da primeira das características que, segundo Coutinho, derivam
do conto fantástico na obra de Machado, a saber, a “forma”, não é estranho que
exatamente em Poe este tema ganhará uma atenção especial. Poe será um dos
primeiros a discorrer a respeito deste ainda bruxuleante gênero. Sua noção de
conto será largamente estudada por gerações, especialmente por causa da
atenção especial que Charles Baudelaire dedicará à obra do norte-americano.
Poe tinha uma visão muito específica a respeito do conto. No ensaio
bastante celebrado “A filosofia da composição”, afirma que:
Se alguma obra literária é longa demais para ser lida de uma
assentada, devemos resignar-nos a dispensar o efeito imensamente
importante que se deriva da unidade de impressão, pois, se se
requerem duas assentadas, os negócios do mundo interferem e tudo o
que pareça com totalidade é imediatamente destruído (POE, 1999.
p.103)
A importância da unidade de impressão e do efeito da obra é uma
questão fundamental para Poe – chegando a afirmar, em certo ponto, que
“...teve seu começo pelo fim, por que devem começar todas as obras de arte”(POE, 1999.
p. 108), pois só tendo o epílogo constantemente em vista está assegurado o
desenvolvimento da intenção. Assim, se a intenção ou o efeito dependem da
unidade e esta só está assegurada pela curta extensão, o tamanho do texto é
uma questão fundamental para esta teoria de conto.
A mesma questão não passa desapercebida por Machado – quer a tenha
colhido ou não de Poe. Assim, ele diz na advertência de Várias Histórias, de
1896:
O tamanho não é o que faz mal a este gênero de histórias, é
naturalmente a qualidade; mas há sempre uma qualidade nos contos
que os torna superiores aos grandes romances, se uns e outros são
medíocres: é serem curtos. (ASSIS, 2008)
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 476
Raquel Parrine
Ainda que povoada pela ironia própria do seu autor, a afirmação não
está completamente descontextualizada. A preocupação com o tamanho e com
a forma do texto aproxima efetivamente sua obra aos contos fantásticos criados
por Poe. A tensão desenvolvida nos contos de Machado, a reviravolta no fim do
relato, os personagens que se revelam somente no epílogo de fato não são de
forma alguma alheios à sua produção ficcional.
3.
A questão do epílogo em vista é fundamental em contos como “A
cartomante”, publicado em Várias Histórias. E já está, efetivamente, desde o
começo, no primeiro parágrafo:
Hamlet observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do
que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela
Rita ao moço Camilo, numa sexta feira de novembro de 1869, quando
este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a
diferença é que o fazia por outras palavras.3 (ASSIS, 2008)
Observe-se que a primeira palavra do conto é “Hamlet”, e que este tem
pouca, senão nenhuma, importância em relação ao que se está contando. Toda a
primeira frase, no tempo presente, nos ilude que este será o tempo da narrativa,
ou seja, que o presente é Hamlet contando a Horácio. Mas, na verdade, o que
ocorre neste momento é narrado em um tempo passado (“dava”, “ria”, “ter
ido”, “fazia”) que não o é em relação ao tempo da primeira frase, mas ao tempo
do narrador, que se instaura, de supetão, entre esses dois pontos. Isso é uma
estratégia para adiar a apresentação das personagens, que se dará,
efetivamente, muito depois. Se analisarmos o parágrafo, do ponto de vista dos
acontecimentos, o que está dito por último é o que aconteceu primeiro, numa
espécie de inversão. Então: na véspera, Rita consultou uma cartomante, depois
encontrou Camilo, então lhe contou, ao que ele fez uma pilhéria, que afinal foi
respondida com o que se dirá a seguir e que imita Hamlet. O príncipe
dinamarquês, que abre o conto, não aparece diretamente implicado.
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 477
Aspectos de Teoria do Conto em Machado de Assis
De fato, esta é a estratégia primordial do conto: a inversão. E está
executada a fim de causar um efeito, ou melhor, de dar o máximo de impacto ao
final, ao desenrolar da narrativa, ao que Poe chamaria de epílogo.
Assim, de fato, a apresentação dos personagens vai acontecer de uma
forma peculiar. Sem dizer muito mais que seus nomes, o narrador deixa revelar
pouco a pouco algo sobre eles. De partida, sabemos que têm uma relação
amorosa quando Rita lhe diz “eu tinha medo de que você me esquecesse”, no
segundo parágrafo. Mas, isso ocorre depois de “’a senhora gosta de uma pessoa’”,
que, ao imitar o dizer generalizante do discurso de uma cartomante, nos adia a
revelação de quem é essa pessoa. Até aí se pode pensar que não há nada entre
os dois personagens.
A idéia da infidelidade aparece sugerida em “Vilela podia sabê-lo, e
depois...” (Mas, quem é Vilela?) e, ainda, na menção a uma “casa de encontro”.
Entretanto, é só no 14º parágrafo que efetivamente é entregue o caráter
das personagens e suas histórias. Nele, o narrador suspende a narrativa para
dizer “Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das suas
origens. Vamos a ela”. Ainda assim, quando se refere ao casamento de Vilela e
Rita, diz “onde casara com uma dama formosa e tonta”. Ao leitor impaciente pode
até passar desapercebido que esta dama é, na verdade, Rita, e então a surpresa
será maior quando ouvir-lhe o nome, somente no parágrafo seguinte, na
indicação de um diálogo.
A questão do epílogo sempre em vista, vem, no conto, com a expectativa
crescente de Camilo, providencialmente preso no trânsito, em seu caminho fatal
à casa do amigo: “na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório:
por que em casa?”, “Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão,
afigurou-se-lhe trêmula”, “viu a ponta da orelha de um drama, Rita subjugada e
lacrimosa, Vilela indignado, pegando a pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele
acudiria, esperando-o”, “tom de mistério e de ameaça”. O clima de tensão é, então,
quebrado pela voz da cartomante, que recobra a paz de espírito, assim:
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 478
Raquel Parrine
“recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde
é que ele lhe descobrira a ameaça?”.
O final sangrento é ainda antecipado pelo ambiente: “a casa estava
silenciosa”, “Vilela não lhe respondeu; tinha as feições decompostas”, “Camilo não pôde
sufocar um grito de terror”. Assim, Machado deixa para a última frase o desfecho
da história, a inversão de expectativa em relação aos acontecimentos, mas,
ainda, como uma história de detetive – gênero criado, aliás, pelo próprio Poe – a
sensação de que a verdade estava à mão todo o tempo. Se, como Camilo, fomos
apaziguados pela voz da cartomante, se aceitamos a explicação sobrenatural
para a carta, nos surpreendemos ainda mais com que, no final, a explicação
racional fosse verdadeira desde o início e estivesse sempre à mão. Fomos à casa
de Vilela apesar de o julgamento mais acertado nos dizer para não ir.
4.
A questão da unidade no conto preocupou também o contista argentino
contemporâneo Julio Cortázar, em seu não menos celebrado artigo “Alguns
aspectos do conto”. Para ele, “o conto parte da noção de limite, e, em primeiro lugar,
de limite físico” - característica, como vimos, enfatizada por Poe. Liga essa idéia,
em seguida, à da unidade: “o contista sabe que não pode proceder acumulativamente,
que não tem o tempo por aliado; seu único recurso é trabalhar em profundidade,
verticalmente...”. Assim, “o tempo e o espaço do conto têm de estar como que
condensados, submetidos a uma alta pressão espiritual e formal”, “um conto é ruim
quando é escrito sem essa tensão que se deve manifestar desde as primeiras palavras”.
No fim, no combate entre leitor e obra, “o romance ganha sempre por pontos,
enquanto que o conto deve ganhar por knock-out” (CORTÁZAR, 1974. pp 151-152).
Vemos aí, não só ecos da teoria de Poe, mas também sua perenidade: a
singularidade do conto, assim, está sempre identificada na atitude do escritor
frente ao tamanho do texto, quer dizer, à consciência de uma atitude
diferenciada em relação ao seu funcionamento.
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 479
Aspectos de Teoria do Conto em Machado de Assis
Dessa forma, se o conto deve operar uma panela de pressão sob as
palavras, “A cartomante”, então, é o conto perfeito. Desde as primeiras
palavras, os rodopios em relação à linearidade, a construção da causalidade e
da atmosfera, tudo é trabalhado com intensidade, em prol de um resultado,
uma resposta – o que significa a carta de Vilela?
A questão do mistério não está aí à toa. E, se pensarmos em Poe, essa é
uma característica inerente a sua concepção de narrativa. Os contos de Poe estão
centrados – aliás, como muitos de Cortázar, no enigma4 – o que faz suas
similaridades não se limitarem à teoria do conto. Vemos isso também em vários
contos de Machado, como é o caso de “A causa secreta”, do volume Várias
Histórias, de 1885, e “O relógio de ouro”, de Histórias da Meia-Noite, de 1873.
Esse tipo de conto faz que essas características que traçamos se realcem.
5.
Em “A causa secreta”, o tema do segredo está anunciado já no título.
Entretanto, fato é que o primeiro segredo é, de fato, descobrir qual é essa tal
causa secreta. Somos levados, como leitores, até a acreditar em dada parte do
conto que a questão é novamente de infidelidade. Mas, não é bem isso.
Do ponto de vista da forma, encontramos uma evolução temporal
bastante parecida com o que assinalávamos em “A cartomante”. Eis o primeiro
parágrafo:
Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de
balanço, olhava para o teto; Maria Luísa, perto da janela, concluía um
trabalho de agulha. Havia já cinco minutos que nenhum deles dizia
nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, - de Catumbi,
onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde, que adiante
se explicará. Como os três personagens aqui presentes estão agora
mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. (ASSIS,
2008)
Temos, na primeira frase, a apresentação das personagens. Pelo menos,
sua primeira menção. Já sabemos que Fortunato e Maria Luísa são casados, ou
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 480
Raquel Parrine
pelo menos imaginamos, e que há uma situação constrangedora envolvendo os
três personagens. Daí a primeira impressão, dado que o conto se chama de fato
“A causa secreta”, de que se trata de um caso de adultério. Segue o segundo
parágrafo:
Tinham falado também de outra coisa, além daquelas três, coisa tão
feia e grave, que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do
bairro e da casa de saúde. Toda a conversação a este respeito foi
constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda
trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de
severidade, que lhe não é habitual. Em verdade, o que se passou foi de
tal natureza que para fazê-lo entender é preciso remontar à origem da
situação. (ASSIS, 2008)
Fica claro, então, que a situação é, de fato, constrangedora e que foi
ocasionada, por sua vez por “outra coisa” de que se tratou nesta noite, que
causou a cessação total da conversa. Além disso, o tema provocou tremor nos
dedos de Maria Luísa e um olhar de severidade por parte de Garcia. Outra vez
lidamos com pistas para entender esse mistério, essa causa secreta, essa “outra
coisa”. E outra vez nos é sugerido um ambiente, como na cena da tensão de
Camilo, em “A cartomante”. E outra vez a expectativa será frustrada.
Além disso, toda essa operação também é levada a cabo por uma
inversão temporal: o que se conta no primeiro parágrafo só vai ser retomado
muito depois, dessa vez somente no 52º parágrafo. A manutenção da
expectativa é máxima. É o momento em que se começa a explicar, de fato, o que
é a tal causa secreta, o porquê do estranho comportamento de Fortunato e,
afinal, se frustra a expectativa do adultério. Junto a isso vem um clima mórbido
que não se dissolverá, ao contrário, se consolidará no final do conto, com a
morte de Maria Luísa5 – lembrando outra vez os contos neo-góticos de Poe.
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 481
Aspectos de Teoria do Conto em Machado de Assis
6.
A idéia de “causa secreta”, uma noção de que há algo que não se está
revelando, ou, em “A cartomante”, de uma história em transcurso a que nós,
leitores, não temos acesso (ou seja, a constatação da traição por parte de Vilela e
a sua atitude em relação a isso) é a característica principal ressaltada em relação
ao conto por outro dos seus teóricos contemporâneos, o escritor argentino
Ricardo Piglia. Em seu ensaio “Teses sobre o conto”, ele estabelece:
Primeira tese: um conto sempre conta duas histórias. (...) O conto
clássico (Poe, Quiroga) narra em primeiro plano a história 1 (...) e
constrói em segredo a história 2 (...). A arte do contista consiste em
saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Um relato visível
esconde um relato secreto, elíptico e fragmentário.//O efeito de
surpresa se produz quando o final da história secreta aparece na
superfície.(PIGLIA, 2004. pp.89-90)
Será talvez necessário agregar-se que:
Não se trata de um sentido oculto que dependa de interpretação: o
enigma não é outra coisa senão uma história contada de um modo
enigmático. A estratégia do relato é posta a serviço dessa narração
cifrada. Como contar uma história enquanto se conta outra? Essa
pergunta sintetiza os problemas técnicos do conto. // Segunda tese: a
história secreta é a chave da forma do conto e de suas
variantes.(PIGLIA, 2004. p. 91)
Pensando melhor sobre essa questão, poderíamos dizer que em “A
cartomante”, as duas histórias trocam de lugar. Parece-me que a história 1 seria
algo do gênero: a moça traía o marido, que um dia descobriu o adultério e
matou os dois amantes. E a história 2 seria a da cartomante, a hesitação de
Camilo, a tensão entre o místico e o racional. Entretanto, é o desfecho da
história 1 o que está escondido, soterrado pelas hesitações da personagem. Algo
análogo ao que acontece no conto “Relógio de ouro”, em que a segunda
história, o fato que resolve o enigma da posse do relógio, que na verdade é a
primeira, mas que permanece em segredo, vem para destituir a história
contada, a hipótese do adultério feminino. E, como nos contos que analisamos,
também é revelada somente na última palavra, postergada até o final.
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 482
Raquel Parrine
Em “A causa secreta”, a teoria parece aplicar-se claramente. Já até
anuncia-se essa história secreta no título e, de fato, ela percorre os fatos em
sigilo, é a causa do comportamento estranho das personagens e também das
escolhas formais da narrativa.
Em outras narrativas de Machado, como “A missa do galo”, a segunda
história – no caso, o adultério feminino – é só inferida, não pode ser confirmada,
algo no estilo célebre do escritor em produções como Dom Casmurro.
7.
Machado não escreveu sua própria teoria do conto, nem nos deixou
reflexões vastas sobre o tema. Também não é certo que tenha lido os ensaios de
Poe6. Suas coincidências com a teoria do autor de “O corvo” podem passar por
fortuitos lances do acaso, mas também há quem diga que são fruto da aguda
consciência de Machado em relação à escritura. A perfeita adaptação dos contos
que analisamos às teorias de Cortázar e Piglia, em toda sua anacronia, pode ser
justificada pela mesma intuição genial do escritor. Entretanto, esse
deslocamento temporal nos inverte a causalidade: Machado não previu o que
seria dito a respeito do conto, mas o determinou.
O que pensamos a respeito do gênero, hoje, não só na teoria literária,
como de uma forma ainda mais geral, nossa resposta à questão posta ainda no
século XIX, “o que é o conto?” está moldada profundamente pelas noções de
Machado. Se ele decidiu responder a essa pergunta, não de forma direta, mas
demonstrando os limites do conto, trabalhando sua organicidade e atingindo o
máximo efeito, nossas teorias do conto estão invariavelmente moldadas pelas
suas realizações. O que significa criar o conto no Brasil é exatamente isso: que
quando, um dia, se disser “conto”, ou se discorrer a respeito disso, se está
pensando necessariamente em Machado.
Referências Biliográficas:
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 483
Aspectos de Teoria do Conto em Machado de Assis
ASSIS, Machado de. Obras Completas. Disponível em:
www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 20/11/2008.
_____. Várias Histórias. Disponível em:
www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/historias.html. Acesso em: 20/11/2008
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. Vol. I. Rio de Janeiro: Editorial Sul
Americana, 1971.
CORTÁZAR, Julio. “Alguns aspectos do conto”. In Valise de cronópio. Trad.
Davi Arrigucci Jr. e João Alexandre Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 1974.
LIMA SOBRINHO, Barbosa. Panorama do Conto Brasileiro. Vol. 1- Os
precursores do conto no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte:
Civilização Brasileira, 1960.
MASSA, Jean-Michel. “Entrevista”. In: Teresa, revista de literatura brasileira.
Nº 6/7. São Paulo, pp. 457, 469, 2006.
PIGLIA, Ricardo. Formas Breves. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São
Paulo: Companhia das Letras, 2004.
POE, Edgar Allan. Poemas e Ensaios. Trad. Oscar Mendes e Milton Amado. 3ª
ed. São Paulo: Globo, 1999.
Notas:
1
Autora
Raquel PARRINE, Bacharel
Universidade de São Paulo (USP)
Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada (DTLLC)
raquel.santana@usp.br
2
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. Vol. I. Rio de Janeiro: Editorial Sul Americana, 1971. p.
39.
3
Todas as referências aos contos de Machado foram retiradas da versão on-line do domínio público.
Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 20/11/2008.
4
Não é à toa que ele será o precursor do conto policial, ou conto de enigma, bem como das narrativas de
terror e da ficção científica.
5
Na verdade, a transformação da expectativa do adultério em morbidez e fatalidade faz desse conto uma
espécie de “Missa do Galo” ao revés. Neste conto, o clima criado com a escuridão profunda, o avanço da
madrugada em contraste com a claridade do vestido da moça e seu comportamento estranho é mudado
lentamente em favor da perspectiva do adultério.
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 484
Raquel Parrine
6
Jean-Michel Massa, crítico francês de Machado, nos leva a duvidar dos conhecimentos de inglês do
escritor. Sua hipótese é que tenha lido Poe em sua tradução ao francês. MASSA, Jean-Michel.
“Entrevista”. In: Teresa, revista de literatura brasileira. Nº 6/7. São Paulo, p. 457, 469, 2006.
Revista Eutomia Ano II – Nº 01 (472-484) 485
Você também pode gostar
- Modelo Regimento Interno Condominio ComercialDocumento10 páginasModelo Regimento Interno Condominio ComercialAurigeu SaraivaAinda não há avaliações
- FichamentoDocumento32 páginasFichamentoFran SilvaAinda não há avaliações
- Um estudo do ciúme em Machado de Assis: as narrativas e os seus narradoresNo EverandUm estudo do ciúme em Machado de Assis: as narrativas e os seus narradoresAinda não há avaliações
- Nelves 02Documento6 páginasNelves 02darrel_julioAinda não há avaliações
- Análise Comparativa Entre Habilidoso e o MacheteDocumento13 páginasAnálise Comparativa Entre Habilidoso e o MacheteYejin ChoiAinda não há avaliações
- Artigo FolhetimDocumento8 páginasArtigo FolhetimMarcella A. MoraesAinda não há avaliações
- 13 Dona PaulaDocumento23 páginas13 Dona PaulaIlidioMedeirosAinda não há avaliações
- Resumo Papeis AvulsosDocumento18 páginasResumo Papeis Avulsosluloures7412Ainda não há avaliações
- Metaficção HistoriográficaDocumento9 páginasMetaficção HistoriográficaRayner LacerdaAinda não há avaliações
- 12125-Texto Do Artigo-37292-1-10-20091201Documento9 páginas12125-Texto Do Artigo-37292-1-10-20091201Michelle CarolineAinda não há avaliações
- Resumo Papeis Avulsos PDFDocumento18 páginasResumo Papeis Avulsos PDFLuci BernadeteAinda não há avaliações
- A Forma Conto e A Sua Importância PDFDocumento17 páginasA Forma Conto e A Sua Importância PDFKeithreeAinda não há avaliações
- Contos - Machado de AssisDocumento4 páginasContos - Machado de AssisIce Man-YTAinda não há avaliações
- Mania de Saber - Ironia e Melancolia em o Alienista de Machado de AssisDocumento15 páginasMania de Saber - Ironia e Melancolia em o Alienista de Machado de AssisVictorAinda não há avaliações
- Nacao e Ficcao No Brasil Do Seculo XIXDocumento21 páginasNacao e Ficcao No Brasil Do Seculo XIXDiego FernandesAinda não há avaliações
- Tema 02Documento6 páginasTema 02José Carlos Redson CarlosAinda não há avaliações
- Clarice e o ContoDocumento11 páginasClarice e o ContoJean Paul Costa SilvaAinda não há avaliações
- Machado de Assis Cronista (Gledson e Granja)Documento3 páginasMachado de Assis Cronista (Gledson e Granja)RDPereiraAinda não há avaliações
- EnfermeiroDocumento11 páginasEnfermeiroPatrícia Francyane100% (1)
- CARPEAUX, Otto Maria. Contos de Machado de AssisDocumento27 páginasCARPEAUX, Otto Maria. Contos de Machado de AssisLuiza TofoliAinda não há avaliações
- 13 Matheus Menarim Moers-163363060340285Documento1 página13 Matheus Menarim Moers-163363060340285Christian G. SeidlAinda não há avaliações
- Livo Completo TaniaDocumento33 páginasLivo Completo TaniaRaissa D' AquilaAinda não há avaliações
- Os MaiasDocumento22 páginasOs Maiasaegil8891Ainda não há avaliações
- LB II Portfólio 3 Talita RodriguesDocumento3 páginasLB II Portfólio 3 Talita RodriguesTalita RodriguesAinda não há avaliações
- A Fabula de Um CronistaDocumento21 páginasA Fabula de Um CronistaJhony SkeikaAinda não há avaliações
- Artigo Sobre o Conto Cadeira de Jose Saramago 09 - Artigo - Tereza - Isabel - de - Carvalho PDFDocumento8 páginasArtigo Sobre o Conto Cadeira de Jose Saramago 09 - Artigo - Tereza - Isabel - de - Carvalho PDFLemuel DinizAinda não há avaliações
- Ana Maria Lisboa de Mello - Caminhos Do Conto BrasileiroDocumento14 páginasAna Maria Lisboa de Mello - Caminhos Do Conto BrasileiroHerman Augusto SchmitzAinda não há avaliações
- Aspectos Do Realismo-Naturalismo No BrasilDocumento20 páginasAspectos Do Realismo-Naturalismo No BrasilSusanlima LimaAinda não há avaliações
- Enylton Sá RegoDocumento3 páginasEnylton Sá RegoMarcelo BurmannAinda não há avaliações
- O Realismo em Machado de AssisDocumento6 páginasO Realismo em Machado de AssisMilka FonsecaAinda não há avaliações
- Memorias Póstumas de Bras Cubas É Realista?Documento6 páginasMemorias Póstumas de Bras Cubas É Realista?Yasmin VieiraAinda não há avaliações
- MELLO, Ana Maria Lisboa De. Caminhos Do Conto BrasileiroDocumento14 páginasMELLO, Ana Maria Lisboa De. Caminhos Do Conto BrasileiroFelipe SouzaAinda não há avaliações
- Nmartinelli,+05. Artigo de Alana SteinDocumento19 páginasNmartinelli,+05. Artigo de Alana SteinVictória MarquesAinda não há avaliações
- Romance Brasileiro À Escolha Do Leitor: O Guarani e Simá: Propostas para oDocumento11 páginasRomance Brasileiro À Escolha Do Leitor: O Guarani e Simá: Propostas para oIngrid CordeiroAinda não há avaliações
- Leticia EmerimDocumento43 páginasLeticia Emerimhebertalves6950Ainda não há avaliações
- Realismo Machadiano (Editado)Documento3 páginasRealismo Machadiano (Editado)david lopes da silvaAinda não há avaliações
- Guimarães Rosa, "A Hora e A Vez de Augusto Matraga", Do Livro Sagarana.Documento8 páginasGuimarães Rosa, "A Hora e A Vez de Augusto Matraga", Do Livro Sagarana.Sabrina Jodely100% (1)
- Eduardodias,+artigo Ueno Água 2018 1 Revisado 24 08Documento16 páginasEduardodias,+artigo Ueno Água 2018 1 Revisado 24 08OttatiAinda não há avaliações
- Desenredos 31 - Artigo-ClodoaldoFreitas-SocorroRiosDocumento11 páginasDesenredos 31 - Artigo-ClodoaldoFreitas-SocorroRiosRYC SEIXASAinda não há avaliações
- 2 - Machado de Assis e o Fantástico EspelhoDocumento10 páginas2 - Machado de Assis e o Fantástico EspelhoFrancisco Américo Martins Moraes - EEEFM Prof Eduardo Lima e Silva - Porto VelhoAinda não há avaliações
- História e Ficção RomanescaDocumento11 páginasHistória e Ficção RomanescaPaulo FranchettiAinda não há avaliações
- Fichamento Cândido Aparecimento Da FicçãoDocumento5 páginasFichamento Cândido Aparecimento Da FicçãoNayana Mota100% (2)
- Narrativa PolicialDocumento27 páginasNarrativa PolicialJonatan CardosoAinda não há avaliações
- O Personagem No RomanceDocumento17 páginasO Personagem No RomanceJeniffer YaraAinda não há avaliações
- 2 - Conto Historia e TeoriaDocumento11 páginas2 - Conto Historia e TeoriaLuíza de JesusAinda não há avaliações
- Aula 2Documento20 páginasAula 2thiagosilvaaugusto28Ainda não há avaliações
- Autor, Narrador e Discurso No Século XIX - Machado de AssisDocumento7 páginasAutor, Narrador e Discurso No Século XIX - Machado de AssisBrunaAinda não há avaliações
- Teoria Do Conto IntroducaoDocumento11 páginasTeoria Do Conto IntroducaoFranklin Sales de AraujoAinda não há avaliações
- Fundamentos Literários Da Autorrepresentação Da Nobreza em Suas Formas Idealizadas e Da Representação Feérica de Tempo e Espaço No Romance CortêsDocumento4 páginasFundamentos Literários Da Autorrepresentação Da Nobreza em Suas Formas Idealizadas e Da Representação Feérica de Tempo e Espaço No Romance CortêsLeonardo FreitasAinda não há avaliações
- Análise Do Livro Brás Bexiga e Barra FundaDocumento5 páginasAnálise Do Livro Brás Bexiga e Barra FundaPaulo Henrique SiqueiraAinda não há avaliações
- A Moreninha. Macedo e o Romance RomanticoDocumento12 páginasA Moreninha. Macedo e o Romance RomanticoMarcelo C FilhoAinda não há avaliações
- O Epílogo de O Guarani e Os Caminhos Do Romance de AlencarDocumento18 páginasO Epílogo de O Guarani e Os Caminhos Do Romance de AlencarPaulo de Toledo100% (1)
- Texto de Wilberth Salgueiro - Literatura e Testemunho II - UFES e UFPRDocumento12 páginasTexto de Wilberth Salgueiro - Literatura e Testemunho II - UFES e UFPRWilberthSalgueiroAinda não há avaliações
- (José William Craveiro Torres) Capitu - Exemplo Maior de Personagem Do Romance Moderno No BrasilDocumento12 páginas(José William Craveiro Torres) Capitu - Exemplo Maior de Personagem Do Romance Moderno No BrasilJosé William Craveiro TorresAinda não há avaliações
- Amor de PerdiçãoDocumento10 páginasAmor de PerdiçãoRafael PereiraAinda não há avaliações
- Analise de A Causa Secreta Machado e Edgar Alan PoeDocumento6 páginasAnalise de A Causa Secreta Machado e Edgar Alan PoeEliana AntonopoulosAinda não há avaliações
- Estudo TCCDocumento4 páginasEstudo TCCLorrana KellyAinda não há avaliações
- A Verve Fantástica de Um Naturalista - Guará - 2019Documento11 páginasA Verve Fantástica de Um Naturalista - Guará - 2019Karla NielsAinda não há avaliações
- Caminhos Do Romance No Brasil-Séculos XVIII e XIXDocumento22 páginasCaminhos Do Romance No Brasil-Séculos XVIII e XIXBento Matias100% (1)
- Machado de Assis Autor Do Século XXIDocumento10 páginasMachado de Assis Autor Do Século XXIandremdm2008Ainda não há avaliações
- Deus - Minha PrioridadeDocumento16 páginasDeus - Minha PrioridadeRicardo Rodolfo0% (1)
- Método de Ovulação BillingsDocumento13 páginasMétodo de Ovulação BillingsMaria Luisa GontijoAinda não há avaliações
- Módulo 7 - Modos de UsosDocumento14 páginasMódulo 7 - Modos de UsosKelly de MirandaAinda não há avaliações
- Teste Gestáltico de BenderDocumento8 páginasTeste Gestáltico de BenderDiana Simões100% (1)
- Joseph Murphy - O Amor É A LiberdadeDocumento38 páginasJoseph Murphy - O Amor É A LiberdadeSuavesegredo100% (2)
- Ordem Dos AssassinosDocumento15 páginasOrdem Dos AssassinosEuni SantosAinda não há avaliações
- Guia de Manejo LohmanDocumento48 páginasGuia de Manejo LohmanÁlvaro RodrigoAinda não há avaliações
- Fundamentos de ProbabilidadeDocumento27 páginasFundamentos de ProbabilidadeDavy PedroAinda não há avaliações
- Eihc 2020Documento548 páginasEihc 2020Felipe MeloAinda não há avaliações
- Lista 1Documento8 páginasLista 1Faustino DjataAinda não há avaliações
- Culto Do Natalicio de Meishu Sama A Verdadeira Oracao Do Senhor Masaaki SamaDocumento10 páginasCulto Do Natalicio de Meishu Sama A Verdadeira Oracao Do Senhor Masaaki SamacintiathAinda não há avaliações
- Fa11 Aval Ondas Eletrom Teste Aval 2Documento6 páginasFa11 Aval Ondas Eletrom Teste Aval 2Matilde Nunes100% (1)
- Listagem Sábio Peças.Documento6 páginasListagem Sábio Peças.Igor LacerdaAinda não há avaliações
- Aula Toxicologia Ocupacional 2020 (Aula 1)Documento37 páginasAula Toxicologia Ocupacional 2020 (Aula 1)Fabiano SousaAinda não há avaliações
- Fisioterapia Traumato-OrtopedicaDocumento41 páginasFisioterapia Traumato-Ortopedicaalinecarolsm100% (10)
- Projeto IC Isabella Schneider Versao Encaminhada Ao CEPDocumento27 páginasProjeto IC Isabella Schneider Versao Encaminhada Ao CEPmariaAinda não há avaliações
- Alternadores e Defeitos em GeralDocumento155 páginasAlternadores e Defeitos em GeralMarcio Soraia Zopi100% (4)
- S-330-T Manual AssembleiaDocumento54 páginasS-330-T Manual Assembleiamalaquias.josedafonsecaAinda não há avaliações
- Funarte - Assistente Tecnico - Prova - Tipo 01Documento12 páginasFunarte - Assistente Tecnico - Prova - Tipo 01Marcelo Oliveira SoaresAinda não há avaliações
- Apostila Transito Aula1Documento8 páginasApostila Transito Aula1SOLANGE LIMAAinda não há avaliações
- Minha Amiga Alice Social PDFDocumento33 páginasMinha Amiga Alice Social PDFDenisOliveiraAinda não há avaliações
- Como Precificar Serviços de TopografiaDocumento208 páginasComo Precificar Serviços de TopografiaRANGEL XIMENESAinda não há avaliações
- Costumes e Tradições de SinesDocumento7 páginasCostumes e Tradições de SinesRaquel CarrilhoAinda não há avaliações
- Whey Protein Concentrado - Pote 900GDocumento1 páginaWhey Protein Concentrado - Pote 900GHugo FranciscoAinda não há avaliações
- Sistemas SubmarinosDocumento14 páginasSistemas SubmarinosRodrigo LacerdaAinda não há avaliações
- Livro LiteraturaDocumento63 páginasLivro Literaturanikogta4Ainda não há avaliações
- Frases de Biologia CelularDocumento5 páginasFrases de Biologia CelularrrbiomAinda não há avaliações
- Tríptico de Saúde MentalDocumento3 páginasTríptico de Saúde MentalScribdTranslationsAinda não há avaliações