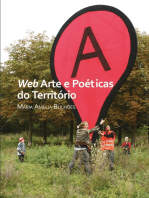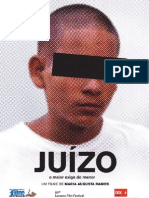Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
28231-Texto Do Artigo-61323-1-10-20160320 PDF
28231-Texto Do Artigo-61323-1-10-20160320 PDF
Enviado por
Alexandre MunizTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
28231-Texto Do Artigo-61323-1-10-20160320 PDF
28231-Texto Do Artigo-61323-1-10-20160320 PDF
Enviado por
Alexandre MunizDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resenha
Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX
(CRARY, Jonathan. 2012, 166p.)
Diogo Albuquerque de LUNA1
A partir da constatação de uma modificação em curso na natureza da visualidade
e na relação entre o observador e os modos de representação, no atual contexto da
globalização, Técnicas do observador: Visão e modernidade no século XIX, busca
reconstituir os antecedentes históricos desta transformação. Trata-se de um estudo sobre
a visão e sua construção histórica. Diante da radicalidade dos novos regimes de
visualidade e da implantação onipresente de espaços virtuais fabricados, percebe-se que
tais reconfigurações "estão deslocando a visão para um plano dissociado do observador
humano." (p.11). Partindo desta problemática atual, que desdobra-se na superação das
principais funções historicamente importantes do olho humano, o livro parte para uma
análise das principais modificações por qual a construção histórica da visão se delineou,
ao mesmo tempo que reflete sobre o que permanece e o que é deixado para trás neste
processo.
O livro é dividido em cinco capítulos: 1. A modernidade e o problema do
observador; 2. A câmara escura e seu sujeito; 3. Visão subjetiva e separação dos
sentidos; 4. Técnicas do observador; 5. Abstração visionária. No primeiro capítulo,
introduz o problema do observador no contexto da modernidade do século XIX; no
segundo capítulo, refaz o percurso que tornou possível o estabelecimento da câmara
escura como modelo de visualidade a partir do século XVI; no terceiro, examina os
conceitos que impossibilitam a continuidade do regime de visualidade baseado na
câmara escura no século XVII; no capítulo que leva o nome do livro, aborda os
diferentes dispositivos ópticos que inundaram a Europa e Estados Unidos no início do
século XIX; no quinto e último capítulo, demonstra como o modelo de observador
1
Aluno Regular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação - PPGC/UFPB.
E-mail: dlunatheia@gmail.com
Ano XII, n. 03. Março/2016. NAMID/UFPB - http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica
251
pautado na relação com a câmara escura não se sustenta no contexto da modernização
do século XIX.
Professor de história da arte da universidade de Colúmbia, Nova York, e
interessado nas problemáticas dos regimes de percepção, das novas tecnologias da
comunicação e, sobretudo, das relações das instâncias do poder com o corpo, Técnicas
do observador serve ao estudante igualmente interessado em cinema, fotografia,
história, história das artes e filosofia.
O autor pergunta, em primeiro lugar, "qual a relação entre as imagens
desmaterializadas, ou digitais, do presente e a assim chamada era da reprodutibilidade
técnica?", para em seguida lançar a questão que norteará sub-repticiamente todo o livro,
e que deve acompanhar o leitor interessado após a leitura: "De que maneiras a
subjetividade está se convertendo em uma precária interface entre sistemas
racionalizados de troca e redes de informação?" (p. 12)
São os processos históricos que constituíram os modos modernos de se conceber
a visão que permitem responder a esses questionamentos, e que Crary tratará de
reconstruir, de forma introdutória, no primeiro capítulo de seu estudo. Seu foco está no
exame das reorganizações da visão nas primeiras décadas do século XIX, que não
apenas modelaram um novo observador para um novo século, como também significou
o colapso de um outro modelo de observador que se mantinha desde o século XV, que o
autor associa ao funcionamento da câmara escura. Esta remodelação de modelos
epistemológicos de visualidades importa porque ela engendra as precondições para a
emergência da abstração da visão, em curso na contemporaneidade. Para o autor,
existem diferenças radicais entre o modo como o sujeito se posicionava, enquanto
observador, no modelo figurativo do renascimento e as novas figuras da subjetividade
que começam a ser esboçadas no começo do século XIX, e que alcançam a plenitude em
nosso próprio tempo. Essa transição, do modelo da perspectiva renascentista ao modelo
da abstração visionária, será o percurso que o autor atingirá de forma muito ilustrativa
ao longo de seu estudo.
Na segunda parte do exame histórico, o autor descreve como a câmara escura se
tornou o modelo epistemológico para o conhecimento no período que vai do século XV
ao século XVIII. Demonstra como este dispositivo óptico, tão presentes nas histórias do
Ano XII, n. 03. Março/2016. NAMID/UFPB - http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica
252
cinema e da pintura figurativa, subsistiu enquanto modelo como base objetiva da
veracidade visual até finais do século XVIII.
Durante os séculos XVII e XVIII a câmara escura foi, sem dúvida, o
modelo mais amplamente usado para explicar a visão humana e
representar tanto a relação do sujeito perceptivo quanto a posição de
um sujeito cognoscível em relação ao mundo exterior. Esse objeto
problemático foi muito mais do que um aparelho óptico. Por mais de
duzentos anos, subsistiu como metáfora filosófica, como modelo na
ciência da óptica física e também como aparato técnico usado em uma
variedade de atividades culturais. (p.35)
No capítulo dedicado a Visão subjetiva e separação dos sentidos, onde o autor
cita extensamente Goethe, Schopenhauer, Kant, Fresnel, Müller, Ruskin, entre outros,
Crary parte das experiências de Goethe descritas em seu “A doutrina das cores”, 1810,
onde observa ser o corpo humano o “produtor ativo da experiência óptica” (p.72), para
demonstrar como o conceito de visão subjetiva, em que a qualidade das nossas
sensações dependem menos da natureza do estímulo e mais da constituição e do
funcionamento do nosso aparelho sensorial, gerou a possibilidade do surgimento
histórico do conceito de visão autônoma, permitindo assim a separação da experiência
perceptiva de sua relação necessária com determinações exteriores.
Em Técnicas do observador, quarto capítulo, o leitor compreenderá como esses
conceitos de visão subjetiva e de visão autônoma impulsionaram um conhecimento que
tornou a visão (o observador) aberta a procedimentos de normalização, quantificação e
disciplina. Para tanto, uma extensa revisão dos inúmeros dispositivos ópticos que se
espalharam por praticamente toda a Europa entre fins do século XVIII e meados do
século XIX. Para aqueles que se debruçaram sobre a aventura do advento da projeção
das imagens em movimento, o livro apresenta uma visão inteiramente nova do período,
vinculando toda a tecnologia que possibilitou a emergência do cinema à análise dos
processos e das instituições sociais. O autor lança mão das principais concepções
elaboradas por Michel Foucault, sobretudo em "Vigiar e Punir", onde analisa processos
e instituições que racionalizaram e modernizaram o sujeito nesse contexto de
transformações sociais e econômicas.
A produção do observador no século XIX coincidiu com novos
procedimentos de disciplina e regulação. [...] Os imperativos de uma
Ano XII, n. 03. Março/2016. NAMID/UFPB - http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica
253
organização racional do tempo e do movimento na produção
permearam simultaneamente diversas esferas da atividade social.
Muitas delas foram dominadas pela necessidade de conhecer as
capacidades do olho, sua organização e seu controle. (p.112)
No ultimo capitulo, o autor descreve e analisa como o conjunto de praticas e
discursos que atravessam questões filosóficas, científicas e, acima de tudo, técnicas, no
início do século XIX, tende a superar este modelo conceitual baseado na câmera escura.
A tese do autor é que a reorganização do observador que ocorre no século XIX se dá
antes mesmo do surgimento da fotografia, comumente associada a revolução dos modos
de visualidade. Para ele, o que acontece entre as décadas de 1800 e 1840 é um
deslocamento da visão em relação às relações estáveis e fixas cristalizadas na câmara
escura.
Na exposição do autor, chama atenção à intimidade que mantém com as pinturas
que analisa. Para a ilustração de seu percurso nas análises de floração e crise dos
modelos conceituais, Crary analisa as obras O astrônomo (1668) e O geógrafo (1668-
1669), de Johannes Vermeer (XVII), que sublinha as potências do modelo do
observador renascentista; Cesto com morangos silvestres (1761) e Bolhas de sabão
(1739), de Jean-Baptiste-Siméon Chardin (XVIII), que evidencia o ocaso do modelo; e
Luz e cor (A teoria de Goethe) - A manhã após o dilúvio (1843) e O anjo no sol (1846),
de William Turner (XIX), que é a própria representação do fracasso e impossibilidade
desta condição.
As pinturas de Vermeer representariam uma espécie de "demonstração
consumada da função conciliadora da câmara escura" (p.50), onde seu interior seria a
interface entre as distintas categorias de pensar e de existir de Descartes (entre
observador e mundo). O caso de Chardin seria a última grande apresentação do objeto
clássico em toda a sua plenitude. A iluminação que caracteriza a obra de J. B. Chardin,
que o autor chama "brilho em fogo baixo", é tomada como uma "luminosidade
inseparável dos valores de uso, é uma luz prestes a ser eclipsada no século XIX". (p.66)
A luz nas naturezas-mortas de Chardin, este lento apagar de uma luz de vela, significa,
para o autor, o ocaso do modelo de observador da câmara escura, que não sobreviveu às
demandas políticas e culturais da modernidade que se acelerava. "Só no início do século
XIX o modelo de câmera perde sua autoridade suprema. A visão deixa de estar
subordinada à uma imagem exterior do verdadeiro ou do certo." (p.135)
Ano XII, n. 03. Março/2016. NAMID/UFPB - http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica
254
É com a obra de Turner que o estudo sinaliza para um novo modelo perceptivo.
Até 1840, nas obras de Goethe, Schopenhauer, Ruskin e muitos outros que o autor faz
referência, o processo da percepção tornara-se um objeto primordial da visão. O
funcionamento da câmara escura manteve invisível exatamente esse processo. Para
Crary, em nenhum outro lugar a ruptura do modelo perceptivo da câmara escura é mais
decisivo e evidente do que na obra tardia de William Turner, que colocou no centro de
sua obra os próprios processos retiníanos, a encarnação da visão que a câmara escura
negava ou reprimia. As respostas formais à sua relação com o sol inviabilizam qualquer
assimilação com o modelo de observador da câmara escura:
Aparentemente de maneira inesperada, sua pintura do final das
décadas de 1830 e 1840 sinaliza a perda irreversível de uma fonte fica
de luz, a dissolução de um cone de raios de luz e a quebra da distância
que separa um observador e o lugar da experiência óptica. (p.135)
Jonathan Crary analisa vasta bibliografia em seu estudo, que não convém
detalhar neste reduzido espaço. Há também vastas descrições (e algumas imagens) de
toda sorte de dispositivos ópticos que tiveram importância fundamental em todo o
trajeto percorrido pelo autor. Em sua rota, escolhemos ressaltar as obras dos pintores
acima mencionados com o único intento de chamar a atenção para as interfaces entre a
história da arte e a comunicação, talvez pouco exploradas.
Resta ressaltar como o livro aborda a problemática a partir de um lugar que
subverte certos modelos de entendimento da própria modernidade. A despeito de ser
historiador das artes, portanto familiarizado com as abordagens estabelecidas dos
processos de modernização da percepção, o autor esquiva-se dos relatos convencionais,
que procuravam situar as transformações modernistas no plano da representação visual
para compreender as mutações do observador. A posição de Crary é assumidamente a
de propor uma revisão do período da modernidade, ou modernista, e escapar das
limitações das histórias hegemônicas da visualidade nesse período. Para ele, na grande
maioria dos estudos sobre o período,
[...] permanece inalterado um relato central, baseado em
características “essenciais” do período. Algo como: com Manet, o
impressionismo e/ou o pós-impressionismo, surge um novo modelo de
representação e percepção visual que constitui uma ruptura com outro
modelo de visão, de séculos anteriores, vagamente definível como
Ano XII, n. 03. Março/2016. NAMID/UFPB - http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica
255
renascentista, de perspectiva ou normativo. A maioria das teorias da
cultura visual moderna permanece sujeita a uma ou outra versão dessa
“ruptura”. (p.13)
A este intento, Crary parte de que mesmo as modificações da representação
pictórica impressionista, ou, antes disso, a invenção da fotografia, por exemplo, são
parte de reorganizações maiores e mais complexas: são efeitos de uma ampla
reformulação dos saberes e dos poderes, que alteraram não apenas o universo das artes e
entretenimento, mas as capacidades produtivas, cognitivas e desejantes do sujeito
moderno.
Da mesma forma, e por último, apresenta ao leitor uma abordagem que se
distancia de certa concepção da história do cinema, a de um determinismo tecnológico
que parece apenas situar todos os aparelhos que precederam o cinematógrafo na direção
do automovimento da imagem, como etapas decisivas para o nascimento do cinema.
Nesses estudos sobre o nascimento do cinema, como bem disse Jonathan Crary, “a
característica fundamental desses instrumentos é que eles ainda não são cinema”
(p.110) - como pode ser lido, por exemplo, na obra "Pré-Cinemas & pós-cinemas", de
Arlindo Machado.
Ano XII, n. 03. Março/2016. NAMID/UFPB - http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/tematica
256
Você também pode gostar
- O Instante Decisivo Forjado - Jacques RancièreDocumento4 páginasO Instante Decisivo Forjado - Jacques RancièreIakima Delamare100% (1)
- Fichamento Da Classificação Dos Seres À Classificação Dos SaberesDocumento5 páginasFichamento Da Classificação Dos Seres À Classificação Dos SaberesJunio LopesAinda não há avaliações
- Tratados Sobre o TempoDocumento12 páginasTratados Sobre o TempoErinaldo SalesAinda não há avaliações
- Ciências Sociais, Violência Epistêmica e o Problema Da "Invenção Do Outro"Documento12 páginasCiências Sociais, Violência Epistêmica e o Problema Da "Invenção Do Outro"carlacsantosAinda não há avaliações
- Anotações de Técnicas Do ObservadorDocumento2 páginasAnotações de Técnicas Do ObservadorHumberto Do AmaralAinda não há avaliações
- O Observador Na ContemporaneidadeDocumento13 páginasO Observador Na ContemporaneidadeDiogo AlbanezAinda não há avaliações
- Resenha de Tecnicas de Um Observador PDFDocumento7 páginasResenha de Tecnicas de Um Observador PDFCarolina MelloAinda não há avaliações
- Modernismos em modernidades incipientes: Mário de Andrade e Almada NegreirosNo EverandModernismos em modernidades incipientes: Mário de Andrade e Almada NegreirosAinda não há avaliações
- O filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaNo EverandO filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaAinda não há avaliações
- 02 Vanguardas Tardias e NeovanguardasDocumento3 páginas02 Vanguardas Tardias e NeovanguardasvaldrianaAinda não há avaliações
- Conceitos de Campo e Fora de Campo Na Imagem Fotográfica e No CinemaDocumento1 páginaConceitos de Campo e Fora de Campo Na Imagem Fotográfica e No CinemaDébora VieiraAinda não há avaliações
- FEHÉR, F. O Romance Está MorrendoDocumento12 páginasFEHÉR, F. O Romance Está MorrendoNicole Dias0% (1)
- Dissertação. Karoline Ferreira Martins. Versão Final Enviada para Unb PDFDocumento159 páginasDissertação. Karoline Ferreira Martins. Versão Final Enviada para Unb PDFRaquel CerqueiraAinda não há avaliações
- NASCI FURADO Michaux ERBER PDFDocumento11 páginasNASCI FURADO Michaux ERBER PDFJucely RegisAinda não há avaliações
- Nietzsche A Filosofia Gilles DeleuzeDocumento60 páginasNietzsche A Filosofia Gilles DeleuzeMarco Aurélio Castro Pereira100% (1)
- Agamben. O AbertoDocumento14 páginasAgamben. O AbertoCaio Souto100% (1)
- Artigo - A Servidão Involuntária - Trabalho, Educação e Enraizamento em Simone Weil - Luciano Costa SantosDocumento18 páginasArtigo - A Servidão Involuntária - Trabalho, Educação e Enraizamento em Simone Weil - Luciano Costa SantosCarolAinda não há avaliações
- Cadernos Nietzsche 26 (13-34) PDFDocumento22 páginasCadernos Nietzsche 26 (13-34) PDFLuria VallasAinda não há avaliações
- Marilena Chuaí. Merleau-Ponty - A Obra FecundaDocumento11 páginasMarilena Chuaí. Merleau-Ponty - A Obra FecundaMario SantiagoAinda não há avaliações
- Flusser Imagem TécnicaDocumento13 páginasFlusser Imagem TécnicaEliete PereiraAinda não há avaliações
- Cidade, Espaço e Tempo: Reflexões Sobre A Memória e o Patrimônio UrbanoDocumento10 páginasCidade, Espaço e Tempo: Reflexões Sobre A Memória e o Patrimônio UrbanoSabrina CarterAinda não há avaliações
- Theodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFDocumento3 páginasTheodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFAde EvaristoAinda não há avaliações
- Criação Cientifica e Artística - Vilém FlusserDocumento3 páginasCriação Cientifica e Artística - Vilém FlusserdundunAinda não há avaliações
- Transcriação Teoria e PráticaDocumento4 páginasTranscriação Teoria e PráticaARayniacAinda não há avaliações
- Adorno - Teoria EstéticaDocumento2 páginasAdorno - Teoria EstéticaJanara SoaresAinda não há avaliações
- Deleuze Quatro Formulas KantDocumento3 páginasDeleuze Quatro Formulas KantchurianaAinda não há avaliações
- WISNIK, Guilherme - Dentro Do Nevoeiro - o Futuro em SuspensãoDocumento22 páginasWISNIK, Guilherme - Dentro Do Nevoeiro - o Futuro em SuspensãoMario Victor MargottoAinda não há avaliações
- Convite A Filosofia by Marilena ChauiDocumento7 páginasConvite A Filosofia by Marilena ChauiDaisy PoltronieriAinda não há avaliações
- Mario de Andrade Estetica InacabadoDocumento9 páginasMario de Andrade Estetica InacabadoLuanna LuchesiAinda não há avaliações
- Veredas de Brasília PDFDocumento197 páginasVeredas de Brasília PDFBastetAinda não há avaliações
- Benjamin Buchloh GerardRichterpdf PDFDocumento16 páginasBenjamin Buchloh GerardRichterpdf PDFRaíza CavalcantiAinda não há avaliações
- Yves Klein - o Azul e o Vazio VeiculosDocumento19 páginasYves Klein - o Azul e o Vazio VeiculosvaldrianaAinda não há avaliações
- A Permanencia Do Pensamento de FoucaultDocumento25 páginasA Permanencia Do Pensamento de FoucaultJoao Janio LiraAinda não há avaliações
- 32bsp Material Educativo Caderno 03 EcologiaDocumento36 páginas32bsp Material Educativo Caderno 03 EcologiaCélia BarrosAinda não há avaliações
- A Foto de FinisterraDocumento17 páginasA Foto de Finisterraantónio_gomes_47Ainda não há avaliações
- A Infância Do Mundo - DeleuzeDocumento289 páginasA Infância Do Mundo - DeleuzemigliorinAinda não há avaliações
- Dossier Heidegger - Arte e Espaço PDFDocumento75 páginasDossier Heidegger - Arte e Espaço PDFEdney CavalcanteAinda não há avaliações
- 2 - Heidegger e DostoiévskiDocumento20 páginas2 - Heidegger e DostoiévskiFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- A Apologia Da Paisagem e A Crítica Do Retrato - BaudelaireDocumento10 páginasA Apologia Da Paisagem e A Crítica Do Retrato - BaudelaireLilith_11Ainda não há avaliações
- Breve Histórico Das Concepções Da Montagem No Cinema", de Ruy GardnierDocumento3 páginasBreve Histórico Das Concepções Da Montagem No Cinema", de Ruy GardnierRaquel de SouzaAinda não há avaliações
- OLLI Desvio DiretoDocumento10 páginasOLLI Desvio DiretoTati PatriotaAinda não há avaliações
- GREEMBERG, Clement. A Revolução Da ColagemDocumento5 páginasGREEMBERG, Clement. A Revolução Da ColagemIngrid Marie de Moraes100% (1)
- Carvalhaes Teatro em Processo, Processo Autobiográfico Conversas Com Meu PaDocumento7 páginasCarvalhaes Teatro em Processo, Processo Autobiográfico Conversas Com Meu PaAndrea RabeloAinda não há avaliações
- Resenha Joel Martins - Ed PoiesisDocumento2 páginasResenha Joel Martins - Ed PoiesisconradoAinda não há avaliações
- Visões Do Excesso - o Informe Como Afirmação Do Desconhecido No Filme o Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter PDFDocumento23 páginasVisões Do Excesso - o Informe Como Afirmação Do Desconhecido No Filme o Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter PDFAlexCosta1972Ainda não há avaliações
- Leituras Do Sublime - Lyotard e DerridaDocumento24 páginasLeituras Do Sublime - Lyotard e DerridaJorgeLuciodeCampos100% (1)
- Jacques Ranciere - Conferência Política Da Arte PDFDocumento14 páginasJacques Ranciere - Conferência Política Da Arte PDFcamaralrs9299100% (1)
- Brasília, Contradições de Uma Cidade Nova (1967)Documento8 páginasBrasília, Contradições de Uma Cidade Nova (1967)Luis Fernando AmancioAinda não há avaliações
- Estado de Invenção - Helio Oiticica PDFDocumento35 páginasEstado de Invenção - Helio Oiticica PDFThiago TrindadeAinda não há avaliações
- Poetas À Beira de Uma Crise de VersosDocumento10 páginasPoetas À Beira de Uma Crise de VersosCintia FollmannAinda não há avaliações
- Evaldo Coutinho - Imagem AutonomaDocumento13 páginasEvaldo Coutinho - Imagem AutonomaZecaVianaAinda não há avaliações
- O Criacionismo em Leonardo CoimbraDocumento20 páginasO Criacionismo em Leonardo CoimbraTozeSebastiaoAinda não há avaliações
- Entrevista Sophia Escrevemos para Não Nos Afogarmos No KaosDocumento12 páginasEntrevista Sophia Escrevemos para Não Nos Afogarmos No Kaosles_parolesAinda não há avaliações
- Transcrição de Palestra, José Gil PDFDocumento11 páginasTranscrição de Palestra, José Gil PDFLili MariaAinda não há avaliações
- "Art History and Images That Are Not Art" (In Portuguese)Documento36 páginas"Art History and Images That Are Not Art" (In Portuguese)James ElkinsAinda não há avaliações
- (SOBRE) Bergson e Espinosa - Eternidade Ou DuraçãoDocumento202 páginas(SOBRE) Bergson e Espinosa - Eternidade Ou Duraçãocalango elétricoAinda não há avaliações
- MERLEAU - PONTY. Conversas, 1948Documento50 páginasMERLEAU - PONTY. Conversas, 1948renan_pazinatto100% (1)
- Malevich e A Liberdade FormalDocumento12 páginasMalevich e A Liberdade FormalDanilo Soares Vinhote Costa100% (1)
- Denis Sébastien - o Cinema de Animação - 01 CapDocumento25 páginasDenis Sébastien - o Cinema de Animação - 01 CapRégis RasiaAinda não há avaliações
- As Construções e Apagamentos Do Olhar em O Nascimento de Uma NaçãoDocumento2 páginasAs Construções e Apagamentos Do Olhar em O Nascimento de Uma NaçãoRégis RasiaAinda não há avaliações
- AMARO Roberta - Jan Svankmajer Politica e SurrealismoDocumento24 páginasAMARO Roberta - Jan Svankmajer Politica e SurrealismoRégis RasiaAinda não há avaliações
- O Conceito de Estadania e Sua Importancia para o BrasilDocumento2 páginasO Conceito de Estadania e Sua Importancia para o BrasilRégis RasiaAinda não há avaliações
- Morre Stefan Kudelski, o Inventor Do Gravador de Som Nagra ABCineDocumento12 páginasMorre Stefan Kudelski, o Inventor Do Gravador de Som Nagra ABCineRégis RasiaAinda não há avaliações
- Processos Criativos em MultimeiosDocumento340 páginasProcessos Criativos em MultimeiosRégis RasiaAinda não há avaliações
- SALA 206 II - Revista de Artigos Sobre AudiovisualDocumento93 páginasSALA 206 II - Revista de Artigos Sobre AudiovisualDaniela ZanettiAinda não há avaliações
- Cronica de Uma Oficina de Video - CarelliDocumento12 páginasCronica de Uma Oficina de Video - CarelliRégis RasiaAinda não há avaliações
- JuizoDocumento36 páginasJuizoRégis Rasia100% (1)
- Ruína e Dissidência em O Cemitério Dos Vivos - Lima Barreto e A Experiência Literária Da Loucura - InterdisciplinarDocumento18 páginasRuína e Dissidência em O Cemitério Dos Vivos - Lima Barreto e A Experiência Literária Da Loucura - InterdisciplinarGislene BarralAinda não há avaliações
- Literatura e Autobiografia - A Questão Do Sujeito Da NarrativaDocumento16 páginasLiteratura e Autobiografia - A Questão Do Sujeito Da NarrativaHerman MarjanAinda não há avaliações
- Tese - Jorgeanny de Fátima Rodrigues Moreira - 2016 Festa PDFDocumento317 páginasTese - Jorgeanny de Fátima Rodrigues Moreira - 2016 Festa PDFCharles P. SilvaAinda não há avaliações
- FoucaultDocumento29 páginasFoucaultEli MrmAinda não há avaliações
- Ler Christian Dunker - Arqueologia Da PsicanaliseDocumento13 páginasLer Christian Dunker - Arqueologia Da PsicanaliseMarcelo BancaleroAinda não há avaliações
- Artigo A Atribuição Da Loucura A MulherDocumento12 páginasArtigo A Atribuição Da Loucura A Mulherjaciara françaAinda não há avaliações
- Cap FOUCAULT-E Inutil Revoltar-SeDocumento3 páginasCap FOUCAULT-E Inutil Revoltar-SepammodaAinda não há avaliações
- Seminário Teoriado Estado Jacques SemelinDocumento18 páginasSeminário Teoriado Estado Jacques Semelinbfonseca_542431100% (1)
- Educação Na ContemporaneidadeDocumento31 páginasEducação Na ContemporaneidadeDamiãoAmitiFagundesAinda não há avaliações
- O Triunfo Do Falo: Erótica, Dominação, Ética e Política Nas Atenas ClássicaDocumento137 páginasO Triunfo Do Falo: Erótica, Dominação, Ética e Política Nas Atenas ClássicaDaniel Barbo LulaAinda não há avaliações
- Trabalho de Filosofia Michel FoucautDocumento12 páginasTrabalho de Filosofia Michel FoucautsunpowdercontactAinda não há avaliações
- Resumo Da Biografia Michel FoucautDocumento3 páginasResumo Da Biografia Michel FoucautDomingos Victor MoreiraAinda não há avaliações
- Resenha CríticaDocumento4 páginasResenha CríticaJeck BatistaAinda não há avaliações
- Filosofia Do Direito e Sociologia Jurídica: Dpe/SpDocumento41 páginasFilosofia Do Direito e Sociologia Jurídica: Dpe/SpferreiraccarolinaAinda não há avaliações
- A Criança e o Poeta: José Paulo Paes e Os Seres em RotaçãoDocumento135 páginasA Criança e o Poeta: José Paulo Paes e Os Seres em RotaçãoLi LiviaAinda não há avaliações
- Claúdia Fonseca - Família, Fofoca e Honra (PDF) (Rev)Documento125 páginasClaúdia Fonseca - Família, Fofoca e Honra (PDF) (Rev)Fernanda PagioroAinda não há avaliações
- BiocapitalismoDocumento44 páginasBiocapitalismomariaemiliamiaAinda não há avaliações
- Davis Moreira Alvim PDFDocumento159 páginasDavis Moreira Alvim PDFMN Dos SantosAinda não há avaliações
- Slides Mini Curso Belle ÉpoqueDocumento40 páginasSlides Mini Curso Belle ÉpoqueAlex SousaAinda não há avaliações
- Imagem Do Pensamento em DeleuzeDocumento14 páginasImagem Do Pensamento em DeleuzeLucas VeigaAinda não há avaliações
- Fábio L. Stern - A Naturologia No Brasil - Histórico, Contexto, Perfil e definições-EntreLugares (2017)Documento447 páginasFábio L. Stern - A Naturologia No Brasil - Histórico, Contexto, Perfil e definições-EntreLugares (2017)sdiniz85100% (1)
- A NORMATIZAÇÃO DOS SEPULTAMENTOS EM NOSSA SENHORA DO DesetrroDocumento103 páginasA NORMATIZAÇÃO DOS SEPULTAMENTOS EM NOSSA SENHORA DO DesetrroAndré Felipe CarpesAinda não há avaliações
- Conflitos de Interesse Na Pesquisa, Producao e Divulgacao de MedicamentosDocumento14 páginasConflitos de Interesse Na Pesquisa, Producao e Divulgacao de MedicamentosDamares RosaAinda não há avaliações
- 1362062417LugarComum37 38 PDFDocumento306 páginas1362062417LugarComum37 38 PDFDaniel Taar CostaAinda não há avaliações
- Fonseca, Lei e Norma FoucaultDocumento4 páginasFonseca, Lei e Norma FoucaultDanielle MoraesAinda não há avaliações
- Teoria e Crítica Pós-Colonialistas - Bonnici - FichamentoDocumento9 páginasTeoria e Crítica Pós-Colonialistas - Bonnici - Fichamentocostalarissa11Ainda não há avaliações
- MANCEBO, D. Modernidade e Produção de SubjetividadesDocumento9 páginasMANCEBO, D. Modernidade e Produção de SubjetividadesKim PiresAinda não há avaliações
- Entre o Disciplinamento e A Humanização Do Policial Militar - Conflitos Avanços e DesafiosDocumento20 páginasEntre o Disciplinamento e A Humanização Do Policial Militar - Conflitos Avanços e DesafiosAndré Luiz PereiraAinda não há avaliações