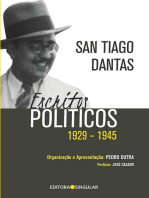Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Configurações Históricas Da Ditadura
Configurações Históricas Da Ditadura
Enviado por
Emmanuel SilvaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Configurações Históricas Da Ditadura
Configurações Históricas Da Ditadura
Enviado por
Emmanuel SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Configurações
históricas da
ditadura
JOÃO QUARTIM DE MORAES*
O poder soberano
Durante a última década prosperou nos meios intelectuais brasileiros uma nova
designação para o regime de exceção instaurado pelo golpe de 1964. Em vez de
“ditadura militar”, expressão consagrada ao longo das lutas de resistência que se
estenderam até 1985, alguns autores passaram a falar em ditadura civil-militar. Eles
imaginaram com essa inovação pôr em evidência a forte participação “civil” no golpe
e no regime, mas apenas confundiram a questão. A expressão “ditadura militar” não
pretende explicitar o conteúdo social, mas sim o modo de exercício do poder polí-
tico daquele regime. Entre 1964 e 1985, a cúpula do aparelho militar monopolizou
o controle do Executivo federal e recorreu ao terrorismo de Estado, notadamente
à tortura sistemática dos presos políticos, para aniquilar a resistência clandestina.
Os “civis”, entendamos, os delegados da grande indústria, da alta finança e do
latifúndio, participaram dos governos ditatoriais, mas nas situações graves a decisão
em última instância pertencia aos generais de quatro estrelas e de garras afiadas.
A explicação do êxito da nova terminologia deve ser buscada em seus efeitos
ideológicos. Ela agradou principalmente aos meios da esquerda intelectual que,
não compreendendo a diferença entre poder de Estado e dominação de classe,
consideraram um avanço crítico a inclusão dos “civis” em geral na fórmula
definidora do regime de exceção. Avanço ilusório. O termo “militar” designa a
corporação estatal detentora dos meios de violência armada, ao passo que “civil”
* Professor titular aposentado colaborador do Departamento de Filosofia da Unicamp. E-mail: jqmo-
raes@gmail.com
Configurações históricas da ditadura • 87
Miolo_Rev_Critica_Marxista-50_(GRAFICA).indd 87 26/03/2020 17:58:03
abrange todos os não militares, sejam eles plutocratas ou favelados, pertençam à
classe dominante (que era a mesma antes e depois de 1964) ou às classes domi-
nadas. Dá no mesmo dizer ditadura civil-militar e ditadura não militar-militar. O
conhecimento político nada tem a ganhar com essas tautologias.
A extrema direita, hoje reagrupada no governo de Bolsonaro, entrou no debate
terminológico negando que o regime instaurado pelo golpe de 1964 tenha sido uma
ditadura. Alega que não havia aqui um ditador e que as instituições legislativas
e judiciárias foram preservadas. Falta seriedade a essas alegações. Sem dúvida,
diferentemente do Chile sob Augusto Pinochet e em boa medida da Argentina sob
Juan Carlos Ongania e mais tarde sob Jorge Videla, a ditadura militar no Brasil
não se identificou individualmente com nenhum general, mantendo caráter cor-
porativo. Sem dúvida também, o Legislativo e o Judiciário, embora expurgados (e
fechados em momentos críticos), não foram suprimidos. Mas a questão essencial
do poder político é a da decisão em última instância. Ela foi formulada com lúcida
crueza pelo grande constitucionalista antiliberal alemão Carl Schmitt: “soberano
é quem decide sobre a exceção” (apud McCormick, 1997, p.121).1 Entendamos:
em situações críticas, que exigem medidas urgentes, afetando gravemente a vida
coletiva, a questão sobre quem é o soberano se coloca e se resolve na prática por
quem se erige em última e suprema instância de decisão.
No Brasil, a certidão de nascimento da ditadura militar está registrada no Ato
Institucional de 9 de abril de 1964,2 em cujo preâmbulo os chefes do golpe declaram
que “a revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte”, o qual,
esclarecem, “se manifesta pela eleição popular ou pela revolução”, sendo essa “a
forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revolução
vitoriosa, como o poder constituinte, se legitima por si mesma”. Por isso, “fica [...]
bem claro que a revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é
que recebe deste ato institucional, resultante do exercício do poder constituinte,
inerente a todas as revoluções, a sua legitimação”.
A cúpula de generais golpistas que assumiu o poder soberano em nome da
pretensa “revolução” não tardou a voltar a “decidir sobre a exceção”. Perante a
derrota da UDN e demais partidos de direita nas eleições para governador em
Estados importantes, foi decretado o segundo Ato Institucional em 27 de outubro
de 1965, o terceiro em 5 de fevereiro de 1966 e o quarto em 7 de dezembro de
1966. Foram assim sucessivamente suprimidas as eleições diretas para presidente,
para governador e finalmente a própria Constituição de 1946, que os golpistas
tinham alegado proteger dos comunistas. Um Congresso expurgado e intimidado
foi incumbido de aprovar outra Constituição, redigida pelos fâmulos do regime,
1 “Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheid.” A frase se encontra na abertura de
Teologia Política (Politische Theologie), obra publicada em 1922. Para simplificar e uniformizar as
referências, citamos Carl Schmitt apud McCormick (1997).
2 O Ato Institucional de abril 1964 inicialmente não tinha número: só o recebeu um ano e meio
depois, quando foi decretado o segundo.
88 • Crítica Marxista, n.50, p.87-93, 2020.
Miolo_Rev_Critica_Marxista-50_(GRAFICA).indd 88 26/03/2020 17:58:04
que ampliou o conteúdo autocrático do Executivo militarizado, consagrando uma
ditadura com frágil verniz liberal.
O amplo movimento democrático que eclodiu em março de 1968 e empolgou
o país, estimulou dignidade ao Congresso, que negou autorização para os tribunais
do regime processarem um deputado que tinha criticado os militares. Em 13 de
dezembro de 1968, a cúpula soberana das Forças Armadas respondeu à contestação
popular promulgando o Ato Institucional n.5, que fechou o Congresso, suspendeu
as já precárias garantias constitucionais e retomou o ciclo de cassações de direitos
políticos iniciado pelo Ato n.1. Ficou implícito seu efeito mais tenebroso: carta branca
para os órgãos especiais de repressão política, incumbidos de prender, sequestrar, tor-
turar e assassinar quem quer que, a critério deles, ameaçasse a “segurança nacional”.
Ditadura e fascismo
O Ato n.5 instaurou o terrorismo de Estado porque já havia uma ditadura:
exercendo o poder de declarar a exceção desde 1964, a cúpula militar decidia
quando manter e quando remover o verniz liberal das instituições e, consequen-
temente, qual o grau de violência a ser empregado em cada situação de crise.
Carl Schmitt, cujo célebre Die Diktatur (1921) permanece referência fundamental
sobre a questão, retrocedeu à origem dessa instituição na República romana, ex-
plicando que, em casos de gravíssimo perigo, o Senado conferia plenos poderes
a um ditador (que podia ser um dos cônsules), autorizando-o a agir acima da lei
e dos costumes, mas com duas decisivas restrições: os poderes de exceção eram
(1) estritamente relativos ao perigo que os tornava necessários e (2) limitados no
tempo. O ditador romano era um comissário, um mandatário, devendo prestar
conta de seus atos ao Senado, instância soberana que o tinha investido de plenos
poderes. Não havia, pois, transferência de soberania ao ditador.
Schmitt critica a inépcia da “literatura política burguesa”, que ou “ignora intei-
ramente o conceito” (de ditadura), ou trata-o como “uma espécie de slogan para ser
lançado contra os adversários”. Preocupa-o que só os comunistas, com a doutrina
da “ditadura do proletariado”, tenham levado a sério a ideia de ditadura (Schmitt
apud McCormick, 1997, p.124). Tanto mais que eles nela introduziram “uma
transformação fundamental”: para os romanos, era uma técnica política destinada
a restaurar a situação preexistente à ameaça contra a qual ela tinha sido instaurada,
ao passo que os comunistas dela se serviam para “criar uma nova situação”. Daí a
diferença entre a “ditadura comissionada”, técnica institucional restrita a situações
excepcionais e limitada no tempo, cujo objetivo é conservador ou restaurador, e a
“ditadura soberana”, que não conhece limites predeterminados exatamente porque
se propõe estabelecer uma ordem inteiramente nova (ibid., p.125). Não obstante,
ele considera que os comunistas “compreenderam parcialmente a essência da
ditadura”, na medida em que a conceberam como instrumental e transitória, ao
passo que os liberais “não a compreendem de modo algum” (ibid., p.125-126).
A incompreensão da “essência da ditadura” por parte dos pensadores da burgue-
sia liberal parece-nos menos um problema cognitivo do que uma técnica de combate
Configurações históricas da ditadura • 89
Miolo_Rev_Critica_Marxista-50_(GRAFICA).indd 89 26/03/2020 17:58:04
ideológico, que consiste no ocultamento das relações de dominação de classe em
que se baseia o modo de produção capitalista, que afetam duramente as liberdades
e os direitos da massa do povo mesmo no Estado burguês o mais democrático.
Por maiores que sejam as dificuldades e discrepâncias a respeito da definição
do fascismo e do nazismo, a realidade histórica a que eles remetem fixa parâme-
tros de objetividade à discussão de suas características essenciais. O dado histó-
rico fundamental é que, embora fossem golpistas em seus métodos, não
prescindindo de nenhuma modalidade de banditismo político,3 Benito Mussolini
e Adolf Hitler chegaram à cúpula do poder de Estado cooptados respectivamente
pelo rei Victor Emmanuel III em 1922 e pelo presidente Paul von Hindenburg em
1933, com o forte apoio dos círculos dirigentes do grande capital e dos grandes
proprietários rurais. Uma vez instalados na chefia do governo, continuaram a
contar com esse apoio no sanguinário caminho que trilharam rumo ao despotismo.
É o que deixam claro, no que concerne à Itália, os escritos de Gramsci do período
1923-1926, seus últimos anos de liberdade (foi preso em 22 de outubro de 1926).
Em agosto de 1923, dez meses após Mussolini assumir o governo, Clara Zetkin
salientou no relatório Fascism a dimensão internacional do novo movimento, “ex-
pressão concentrada da ofensiva geral desencadeada pela burguesia mundial contra
o proletariado”, bem como sua peculiaridade relativamente a outros movimentos
contra revolucionários, notadamente o “terror branco” desencadeado em agosto de
1919 pelo regime do almirante Miklós Horthy na Hungria, após o esmagamento
da efêmera República de Conselhos Operários dirigida por Béla Kun. Os métodos
dos dois regimes eram semelhantes, mas “em essência eles eram diferentes”. Na
Hungria, as ações terroristas de acerto de contas com quem tinha apoiado a revo-
lução operária foram obra de “um pequeno bando de ex-oficiais”; na Itália, “os
chefes fascistas não eram uma casta pequena e exclusiva; eles influenciavam em
profundidade amplos elementos da população”.
Uma década depois, o XIII Plenum do Comintern, reunido em novembro e
dezembro de 1933, aprovou a célebre definição proposta por Josef Stálin e Georgi
Dimitrov: o fascismo é a ditadura terrorista da ala mais reacionária do capital finan-
ceiro. O terrorismo de Estado nazista desencadeara-se em 27 de fevereiro de 1933,
menos de um mês após Hitler ser nomeado chanceler do Reich, com o incêndio do
Reichstag, que lhe deu o pretexto para a prisão em massa dos comunistas e para
assumir plenos poderes. Pouco mais de um ano depois, em 30 de junho de 1934, a
“noite dos longos punhais” permitiu a Hitler eliminar seus principais rivais no inte-
rior do Partido Nazista (NSDAP). Foram sumariamente assassinados Gregor Strasser
e Ernst Röhm, principais dirigentes da ala do nazismo que levava a sério a retórica
3 As corriqueiras e covardemente cruéis agressões aos adversários eram um método eficiente de
intimidação fascista. Mas o assassinato do deputado socialista Giacomo Matteotti, em 10 de junho
de 1924, por um comando de sicários ligados à polícia secreta de Mussolini, suscitou uma onda
de indignação em toda a Itália. O governo do Duce balançou, mas a falta de firmeza de liberais e
social-democratas deu-lhe tempo para se reequilibrar, com o auxílio do rei Victor Emmanuel, que
fez questão de anistiar alguns dos facínoras que haviam matado Matteotti.
90 • Crítica Marxista, n.50, p.87-93, 2020.
Miolo_Rev_Critica_Marxista-50_(GRAFICA).indd 90 26/03/2020 17:58:04
anticapitalista, bem como seus mais próximos seguidores.4 Chefe da Sturmabteilung
(divisão de assalto, conhecida pela sigla SA, que contava com cerca de 3 milhões
de membros), Röhm preconizava uma “segunda revolução”, que redistribuísse a
renda nacional. Sua supressão tranquilizou a cúpula do Exército (Reichswer), que
temia ser enquadrada pela SA e os grandes capitalistas e outros plutocratas, que o
detestavam, reforçando ainda mais a ditadura hitleriana e seus métodos terroristas.
Totalitarismo e outras falácias semânticas
França, Inglaterra e Estados Unidos tardaram muito em tomar partido contra
Mussolini e Hitler. Em compensação, quando no imediato pós-Segunda Guerra
se abriu o confronto entre os dois blocos vencedores, o comunista e o capitalista,
importantes pensadores identificados com o ponto de vista estadunidense empe-
nharam-se em demonstrar que o regime soviético era tão pernicioso e ameaçador
quanto o Eixo nazifascista. O cavalo de batalha dessa operação ideológica foi o
projeto totalitário elaborado por Giovanni Gentile, principal teórico do fascismo, e
assumido pelo Duce como grande meta da organização social que seu regime impôs
à Itália. A manipulação liberal, em que se destacaram principalmente Friedrich
von Hayek e Hannah Arendt,5 consistiu em transformar o totalitarismo de Gentile
e Mussolini em categoria genérica na qual o comunismo foi enquadrado junto ao
fascismo e ao nazismo. Essa assimilação propiciou à propaganda anticomunista
ao longo da Guerra Fria um de seus mais eficientes argumentos.
A doutrina política oficial estadunidense é liberal. Mas a preservação das
posições hegemônicas do imperialismo em escala planetária implica complexas
relações de dominação/vassalagem, que obedecem a considerações estratégicas
perante as quais os valores oficialmente apregoados empalidecem. Desnecessário
gastar tinta arrolando a vasta lista de ditaduras terroristas patrocinadas pela Casa
Branca, quando não pela intervenção direta do Pentágono. Maurice Duverger,
um dos mais respeitados analistas políticos franceses de sua geração, resumiu a
hipocrisia da política externa do Império estadunidense classificando-a de “fas-
cismo exterior”, isto é, “um sistema que desenvolve a liberdade em seu próprio
país (chez soi) e a opressão nos outros” (Duverger, 1977).
Nos anos 1980, quando o presidente Ronald Reagan desencadeou nova corrida
armamentista contra a União Soviética (a “guerra nas estrelas”), sua assessora
Jeane Kirkpatrick, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, encarregou-se da
4 Entre os que foram mortos naquela noite e na madrugada seguinte (cerca de 85), havia também
membros da direita não nazista.
5 Em Crítica à categoria de totalitarismo, Domenico Losurdo (2003) reconstituiu com irrefutável
precisão analítica a lenta transmutação que Hannah Arendt imprimiu à noção de totalitarismo para
adaptá-la à propaganda anticomunista dos governos estadunidenses empenhados na Guerra Fria.
Quanto a Hayek, seu culto ao mercado e ao dinheiro levou-o a declarações infames, como a que
fez após uma visita ao Chile durante a ditadura terrorista de Pinochet. Em carta endereçada a The
Times, datada de 26 de julho de 1978, declarou: “Eu não fui capaz de encontrar uma única pessoa,
mesmo no tão caluniado Chile, que não concordasse que a liberdade pessoal estava muito maior
sob Pinochet do que sob Allende”.
Configurações históricas da ditadura • 91
Miolo_Rev_Critica_Marxista-50_(GRAFICA).indd 91 26/03/2020 17:58:04
blindagem ideológica do “fascismo exterior”. Crítica feroz da política de direitos
humanos defendida pelo presidente Jimmy Carter, empenhou-se em defender as
ditaduras alinhadas com a Casa Branca, inclusive as mais terroristas, como a de
Pinochet, classificando-as de “autoritárias”, e de satanizar os regimes comunis-
tas, classificados de “totalitários” porque seriam inamovíveis, graças ao controle
monolítico que exerciam sobre a sociedade (Kirkpatrick, 1979, 1982) e reforçado
por uma sistemática “lavagem de cérebro”.
A dissolução do bloco comunista do Leste Europeu e a da própria União So-
viética, com baixo índice de violência (em geral, praticada pelo revanchismo dos
anticomunistas), desmoralizou a falaciosa tipologia da colaboradora de Reagan.
O termo totalitarismo perdeu sua principal funcionalidade (o anticomunismo),
embora ainda seja utilizado pejorativamente por liberais de direita, que não o
aplicam contra Estados teocráticos opressivos como a Arábia Saudita, e sim contra
os que desafiam os Estados Unidos, como Cuba e Venezuela.
Adaptando seu vocabulário à caracterização das novas prioridades da estraté-
gia estadunidense, os politólogos neoliberais passaram a classificar de terroristas
governos e movimentos engajados na linha de frente do combate anti-imperia-
lista, como o Hezbollah. O termo populismo foi reativado, frequentemente com
as especificações “de direita” e “de esquerda”, com conotações que recobrem
parcialmente as de autoritarismo. Útil para a retórica liberal-imperialista, até por
ser mais assistemática e flexível (sem a camisa de força da doutrina Kirkpatrick),
a maior falácia da nova nomenclatura está em banalizar o conceito de ditadura
(empregando-o apenas, conforme notara ironicamente Schmitt há um século,
como um “slogan” dirigido aos adversários) e deixar na sombra o de fascismo.
Segundo Schmitt, a ditadura que “não tem o propósito de se tornar supérflua”
(isto é, de suprimir-se após suprimir o perigo que lhe deu origem) “é puro des-
potismo” (apud McCormick, 1997, p.124). Caberia então inferir que as ditaduras
fascistas são puramente despóticas? Ele poderia argumentar, uma década mais
tarde (no dia 1o de maio de 1933), quando aderiu ao Partido Nazista, junto com
Martin Heidegger, que assim como na velha Roma, em situações de emergência
que punham em risco a República, poderes excepcionais eram atribuídos a um
ditador, o efeito combinado da hostilidade das grandes potências vitoriosas em
1918 e da perspectiva de uma revolução comunista trazia gravíssima ameaça
à própria sobrevivência da nação alemã e que, por conseguinte, a ditadura de
Hitler tinha em comum com a velha instituição romana objetivos conservadores
ou restauradores.6 Mas como havia salientado o próprio Schmitt, longe de deixar
em aberto a questão “quem decide?”, o Senado romano mantinha o controle da
6 Cabe notar, a bem da objetividade histórica, que naquele momento ainda não era evidente que
em nome dos valores nacionais Hitler estava disposto a incendiar a Europa, construir uma rede de
campos de concentração e de extermínio e um tenebroso e implacável terrorismo de Estado. Mas
Schmitt permaneceu nazista até a derrota final. Pode-se ler em McCormick (1997, p.266-268) uma
avaliação equânime do significado moral e político de sua adesão ao nazismo.
92 • Crítica Marxista, n.50, p.87-93, 2020.
Miolo_Rev_Critica_Marxista-50_(GRAFICA).indd 92 26/03/2020 17:58:04
exceção. Perdeu-o quando os imperadores assumiram permanentemente poderes
pessoais discricionários, sem controle institucional efetivo.
Se tirarmos as consequências lógicas de Die Diktatur para julgar o regime do
Duce, do Führer e consortes no tribunal da história, eles foram ditadores no sentido
despótico. O despotismo remonta às origens do Estado, manifestando-se nos mais
diversos solos históricos; a peculiaridade do fascismo é ter conquistado o poder
por meio de um partido reacionário de massas, com organização paramilitar e
métodos terroristas, mobilizando amplas camadas da população. Ao se reativar em
nosso tempo, como resposta perversa às novas modalidades de miséria impostas
em escala internacional pelo neoliberalismo, ele tem se mantido, ao menos por
enquanto, como força extremista nos limites da legalidade, mas disposto a instaurar
um Estado de exceção sempre que circunstâncias de crise grave o permitirem.
Referências bibliográficas
DUVERGER, M. La fin du ‘fascisme extérieur’?. Le Monde, Paris, 25 jan. 1977.
HAYEK, F. Carta ao Editor. The Times, Londres, 26 jul. 1978.
KIRKPATRICK, J. Dictatorships and double standards. Commentary Magazine, 68:5,
nov. 1979, p.34-45.
______. Dictatorships and Double Standards: Rationalism and Reason in Politics. Nova
York: Simon and Schuster, 1982.
LOSURDO, D. Para uma crítica da categoria de totalitarismo. Crítica Marxista, Rio de
Janeiro: Revan, n.17, 2003, p. 51-79.
MCCORMICK, J. Carl Schmitt’s critique of liberalism. Against politics as technology.
Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
ZETKIN, C. Fascism. Labour Monthly, Londres, August 1923, p.69-78. Reproduzido em:
<https://www.marxists.org/archive/zetkin/1923/08/fascism.htm>.
Resumo
Assinalamos inicialmente o equívoco dos que consideram um avanço analítico
caracterizar a ditadura instaurada em 1964 como civil-militar. Argumentamos
em seguida que é ditatorial o poder que monopoliza a decisão sobre medidas de
exceção. Mostramos como a instrumentalização do par tipológico totalitarismo/
autoritarismo encobriu a análise da ditadura e de sua conexão com o fascismo.
Palavras-chave: Exceção; fascismo; soberano; despotismo.
Abstract
We initially pointed out the misunderstanding of those who consider an
analytical advancement to characterize the dictatorship established in 1964 as
civilian-military. We argue after that it is dictatorial the power that monopolize
the decision on measures of exception. We show how the instrumentalization of
the typological pair totalitarianism/authoritarianism has concealed the question
of dictatorship and its connection with fascism.
Keywords: Exception; fascism; sovereign; despotism.
Configurações históricas da ditadura • 93
Miolo_Rev_Critica_Marxista-50_(GRAFICA).indd 93 26/03/2020 17:58:04
Você também pode gostar
- Resumo Os Donos Do PoderDocumento6 páginasResumo Os Donos Do PoderLorena de PaulaAinda não há avaliações
- Resenha A Ditadura Entre A Memória e A HistóriaDocumento11 páginasResenha A Ditadura Entre A Memória e A HistóriaGiovany Pereira Valle100% (1)
- A Reestruturação Do Ensino Superior No Regime Militar de 1964 A 1968Documento29 páginasA Reestruturação Do Ensino Superior No Regime Militar de 1964 A 1968Pati CaldeiraAinda não há avaliações
- A Imprensa Itabunense No Contexto Da Ditadura Militar 1964-1978Documento11 páginasA Imprensa Itabunense No Contexto Da Ditadura Militar 1964-1978Rafaela BorgesAinda não há avaliações
- O Que É Uma DitaduraDocumento8 páginasO Que É Uma Ditadurafabio siqueira batistaAinda não há avaliações
- Dardot Neoliberalismo e AutoritarismoDocumento8 páginasDardot Neoliberalismo e Autoritarismojosé macedoAinda não há avaliações
- A Militarizacao Da Democracia No BrasilDocumento27 páginasA Militarizacao Da Democracia No BrasilDissertação 2022Ainda não há avaliações
- Dita DuraDocumento15 páginasDita DuraANA LUISA MARQUES PINHEIROAinda não há avaliações
- Carl Schmitt Resumo, Biografia e Síntese Das Principais ObrasDocumento5 páginasCarl Schmitt Resumo, Biografia e Síntese Das Principais Obrasjulia farah scholzAinda não há avaliações
- Sanfelice, J. L. (2008) - O Movimento Civil-Militar de 1964 e Os IntelectuaisDocumento22 páginasSanfelice, J. L. (2008) - O Movimento Civil-Militar de 1964 e Os IntelectuaisRodolfo RodriguesAinda não há avaliações
- Um Estudo Da Ditadura Militar Brasileira Através de PeriódicosDocumento10 páginasUm Estudo Da Ditadura Militar Brasileira Através de PeriódicosVitor de AndradeAinda não há avaliações
- O Totalitarismo SafadyDocumento8 páginasO Totalitarismo Safadyeibol comicsAinda não há avaliações
- Ditadura Militar, Violência Política e Anistia: Anpuh - Xxiii Simpósio Nacional de História - Londrina, 2005Documento8 páginasDitadura Militar, Violência Política e Anistia: Anpuh - Xxiii Simpósio Nacional de História - Londrina, 2005andreluiscarneiroAinda não há avaliações
- Regimes TotalitáriosDocumento5 páginasRegimes TotalitáriosBianca LopesAinda não há avaliações
- Teoria-Historia, 5. Dossiê - Heitor Pagliaro - JURIDICIZAÇÃO DA HISTÓRIA E TOTALITARISMO - 111-125Documento15 páginasTeoria-Historia, 5. Dossiê - Heitor Pagliaro - JURIDICIZAÇÃO DA HISTÓRIA E TOTALITARISMO - 111-125RONALDO BONESSOAinda não há avaliações
- 253-Texto Do Artigo-913-1-10-20120502Documento15 páginas253-Texto Do Artigo-913-1-10-20120502Victória BrazAinda não há avaliações
- CALDEIRA, João. A Tortura e Os Mortos Na Ditadura MilitarDocumento22 páginasCALDEIRA, João. A Tortura e Os Mortos Na Ditadura MilitarDaniel Cruz de SouzaAinda não há avaliações
- Tempos Saudosos e de ProsperidadeDocumento2 páginasTempos Saudosos e de ProsperidaderanieregbaAinda não há avaliações
- Aula 04Documento26 páginasAula 04Admara TitonelliAinda não há avaliações
- Versões e Controvérsias Sobre 1964 e A DitaduraDocumento10 páginasVersões e Controvérsias Sobre 1964 e A DitaduraFábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- Autoritarismo Liberal Artigo ANPOCS 2020 Felipe FrellerDocumento20 páginasAutoritarismo Liberal Artigo ANPOCS 2020 Felipe FrellerMatheus RebouçasAinda não há avaliações
- DITADURA MILITAR 1964 A 1985Documento7 páginasDITADURA MILITAR 1964 A 1985José Carlos Buesso JrAinda não há avaliações
- Constituição Polaca - Do Facismo À Adesão Aos AliadosDocumento8 páginasConstituição Polaca - Do Facismo À Adesão Aos AliadosVictor OliveiraAinda não há avaliações
- (Atividade) Adrian - Brasil 4Documento3 páginas(Atividade) Adrian - Brasil 4Adrian MarceloAinda não há avaliações
- O Golpe de 1964 e As Falácias Do Revisionismo - Caio Navarro de ToledoDocumento23 páginasO Golpe de 1964 e As Falácias Do Revisionismo - Caio Navarro de ToledoFabio de Ornelas PestanaAinda não há avaliações
- 19 - Conceito de AutoritarismoDocumento3 páginas19 - Conceito de AutoritarismoMARCIO APARECIDO PINHEIROAinda não há avaliações
- A Ditadura Na Roma Antiga e Nos Dias AtuaisDocumento3 páginasA Ditadura Na Roma Antiga e Nos Dias Atuaispedra%megaAinda não há avaliações
- História Do Brasil - Ditadura MilitarDocumento5 páginasHistória Do Brasil - Ditadura MilitarWaleska RibeiroAinda não há avaliações
- Da Ditadura Militar BrasileiraDocumento36 páginasDa Ditadura Militar BrasileiraVictor StolzeAinda não há avaliações
- DARDOT, Pierre - Neoliberalismo e AutoritarismoDocumento7 páginasDARDOT, Pierre - Neoliberalismo e AutoritarismoVictor SantosAinda não há avaliações
- 13 - Ditaduras Na América LatinaDocumento8 páginas13 - Ditaduras Na América LatinaJosé Carlos S Machado0% (1)
- Neoliberalismo e Autoritarismo - A TERRA É REDONDADocumento10 páginasNeoliberalismo e Autoritarismo - A TERRA É REDONDARodrigo Portella Guimaraes100% (1)
- Constituição de 1937Documento8 páginasConstituição de 1937Karina MozenaAinda não há avaliações
- Aula 12Documento28 páginasAula 12Admara TitonelliAinda não há avaliações
- Cap 4 A ERA DOS EXTREMOS - Resumo Por Samara VieiraDocumento6 páginasCap 4 A ERA DOS EXTREMOS - Resumo Por Samara VieiraSamara Jhowsyllen Vieira LopesAinda não há avaliações
- Análise Historiográfica Do TemaDocumento2 páginasAnálise Historiográfica Do TemaCarla OdaraAinda não há avaliações
- Documento Sem TítuloDocumento4 páginasDocumento Sem Títulojuliana marquesAinda não há avaliações
- O Movimento de Libertação Acional No Uruguai e o Sequestro Do Consul Aloysio GomideDocumento15 páginasO Movimento de Libertação Acional No Uruguai e o Sequestro Do Consul Aloysio GomideJunior RodriguesAinda não há avaliações
- O Golpe CivilDocumento2 páginasO Golpe CivilDiego BeckerAinda não há avaliações
- 36282-Texto Do Artigo-169138-1-10-20221219Documento25 páginas36282-Texto Do Artigo-169138-1-10-20221219Thiago FariaAinda não há avaliações
- Grelha Correccao Historia Ideias Politicas Turma A e BDocumento3 páginasGrelha Correccao Historia Ideias Politicas Turma A e BSofia Gaspar SilvaAinda não há avaliações
- Conhecimento Basico de PoliticaDocumento57 páginasConhecimento Basico de PoliticaJunior LelisAinda não há avaliações
- Uma História Política Da Transição Brasileira - Da Ditadura Militar À DemocraciaDocumento24 páginasUma História Política Da Transição Brasileira - Da Ditadura Militar À DemocraciaFelipe SantosAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento4 páginasResenharafaelguedes90Ainda não há avaliações
- Alteridade,+864 4784 1 PB PDFDocumento11 páginasAlteridade,+864 4784 1 PB PDFGilmar AraújoAinda não há avaliações
- Ditador - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento3 páginasDitador - Wikipédia, A Enciclopédia LivreEnoch ApazaAinda não há avaliações
- A Ditadura Que Mudou o Brasil - AnáliseDocumento7 páginasA Ditadura Que Mudou o Brasil - AnáliseIsabellaPuenteAinda não há avaliações
- Resumo Constitucional e Metodologia Juri Üdica - 26Documento217 páginasResumo Constitucional e Metodologia Juri Üdica - 26ItaporangaAinda não há avaliações
- Pesquisa Constituição de 1937Documento28 páginasPesquisa Constituição de 1937Silva SilvaAinda não há avaliações
- 7 - Censura e Repressão No Regime MilitarDocumento10 páginas7 - Censura e Repressão No Regime MilitarDario PousoAinda não há avaliações
- Codato Adriano Historia Política Transição Democrática 7074-19429-1-PBDocumento24 páginasCodato Adriano Historia Política Transição Democrática 7074-19429-1-PBMayaraAinda não há avaliações
- Analíse Do Livro Por Que Resistir A PrisãoDocumento7 páginasAnalíse Do Livro Por Que Resistir A PrisãoCristiano Batista Alvarenga JuniorAinda não há avaliações
- 05 +Anita+PrestesDocumento10 páginas05 +Anita+PrestesMarina de LionAinda não há avaliações
- Ditadura e Revisionismo No BrasilDocumento12 páginasDitadura e Revisionismo No BrasilAntônio RochaAinda não há avaliações
- Bercovici, Gilberto - Entre Institucionalismo e DecisionismoDocumento3 páginasBercovici, Gilberto - Entre Institucionalismo e Decisionismoandré_costa_3Ainda não há avaliações
- A Ditadura Militar e A Censura No Jornal Impresso (O Estado de São Paulo)Documento13 páginasA Ditadura Militar e A Censura No Jornal Impresso (O Estado de São Paulo)nadjadiasAinda não há avaliações
- Democracia, populismo e constitucionalismo: a democracia brasileira de junho de 2013 a janeiro de 2023No EverandDemocracia, populismo e constitucionalismo: a democracia brasileira de junho de 2013 a janeiro de 2023Ainda não há avaliações
- Ota Rua 2018Documento13 páginasOta Rua 2018Vitor BemvindoAinda não há avaliações
- A Invencao Do Trabalhismo Angela de Castro GomesDocumento16 páginasA Invencao Do Trabalhismo Angela de Castro GomesVitor BemvindoAinda não há avaliações
- 04 - TORRE, Bruna Della. Com Quantos Paus Se Faz Uma Canoa Notas Sobre A PersonalidadDocumento7 páginas04 - TORRE, Bruna Della. Com Quantos Paus Se Faz Uma Canoa Notas Sobre A PersonalidadVitor BemvindoAinda não há avaliações
- Dicionario de Educacao Do CampoDocumento788 páginasDicionario de Educacao Do CampoFlavio SantiagoAinda não há avaliações
- Marxismo e Educação - SavianiDocumento14 páginasMarxismo e Educação - SavianiVitor BemvindoAinda não há avaliações
- HORTA, José S. B. A Educação Na Itália Fascista - A Reforma Gentile (1922-1923)Documento10 páginasHORTA, José S. B. A Educação Na Itália Fascista - A Reforma Gentile (1922-1923)Vitor BemvindoAinda não há avaliações
- A Mundializacao Do Capital e Seus Impactos Sobre oDocumento18 páginasA Mundializacao Do Capital e Seus Impactos Sobre oVitor BemvindoAinda não há avaliações
- 1 - Português Instrumental (DIAGRAMADO) - 29-51Documento23 páginas1 - Português Instrumental (DIAGRAMADO) - 29-51Adriana Manrique ToméAinda não há avaliações
- Guerra Civil Síria MJCMDocumento46 páginasGuerra Civil Síria MJCMMarcos MoreiraAinda não há avaliações
- Estatuto Do Idoso 2Documento20 páginasEstatuto Do Idoso 2Leudenia ReisAinda não há avaliações
- Do10598 06 08 2021Documento165 páginasDo10598 06 08 2021José PauloAinda não há avaliações
- Apresentação MontesquieuDocumento13 páginasApresentação Montesquieuleandrodemoraes7737Ainda não há avaliações
- Até Petição de Provas PDFDocumento6 páginasAté Petição de Provas PDFafonsovenutoloAinda não há avaliações
- Resumo Da Nova Lei de LicitaçõesDocumento18 páginasResumo Da Nova Lei de LicitaçõesDavid ZambotiAinda não há avaliações
- O Código Internacional de Conduta para Prestadores de Serviços de Segurança PrivadaDocumento12 páginasO Código Internacional de Conduta para Prestadores de Serviços de Segurança PrivadaLeandro H N Silva100% (1)
- Aula 01 - Direito ConstitucionalDocumento8 páginasAula 01 - Direito ConstitucionalTamara GanassinAinda não há avaliações
- Programa de Direito Romano 2022.23Documento7 páginasPrograma de Direito Romano 2022.23Érica SantosAinda não há avaliações
- O Estado LiberalDocumento12 páginasO Estado LiberalTatiana BrazAinda não há avaliações
- SALGADO, Direito, Liberdade e Coerção PDFDocumento5 páginasSALGADO, Direito, Liberdade e Coerção PDFHilário CorrêaAinda não há avaliações
- MutualismoDocumento23 páginasMutualismoJoão Paulo RodriguesAinda não há avaliações
- CARTILHA Ponto EletrônicoDocumento26 páginasCARTILHA Ponto EletrônicoHerman MarjanAinda não há avaliações
- O Programa de Aceleração Do Crescimento (PAC) - Uma Análise Preliminar Sobre As Implicações Do PAC-1 Nos Investimentos em Infraestruturas Sociais e UrbanasDocumento16 páginasO Programa de Aceleração Do Crescimento (PAC) - Uma Análise Preliminar Sobre As Implicações Do PAC-1 Nos Investimentos em Infraestruturas Sociais e UrbanasMarcélia AmorimAinda não há avaliações
- Prova CG 2016Documento10 páginasProva CG 2016Fernanda LemosAinda não há avaliações
- HISTDocumento5 páginasHISTLeonor RamalhoAinda não há avaliações
- Partidos Políticos No Brasil: Aula 3Documento12 páginasPartidos Políticos No Brasil: Aula 3Ricardo FerreiraAinda não há avaliações
- Africa Colonização 2Documento20 páginasAfrica Colonização 2flaviocabreiraAinda não há avaliações
- 31 Promotoria de Justiça Do Patrimônio Público e Social: Comarca de Campo GrandeDocumento928 páginas31 Promotoria de Justiça Do Patrimônio Público e Social: Comarca de Campo GrandeCinthia SouzaAinda não há avaliações
- CursoPratica Pareceres Fabríciobolzan Matmon Paulo03032012 PDFDocumento9 páginasCursoPratica Pareceres Fabríciobolzan Matmon Paulo03032012 PDFFelipe Bezerra PermínioAinda não há avaliações
- A Ideia de Justica de Amartya Sen PDFDocumento85 páginasA Ideia de Justica de Amartya Sen PDFMiguel LuísAinda não há avaliações
- TRE-ES - Questões de Provas - Prof . Juliana GodoyDocumento4 páginasTRE-ES - Questões de Provas - Prof . Juliana GodoyBruno ValeAinda não há avaliações
- RESOLUÇÃO SEE #2843-2016 - Funcionamento Do EJADocumento3 páginasRESOLUÇÃO SEE #2843-2016 - Funcionamento Do EJAJulianaAinda não há avaliações
- 2871f Simulado Organizacao Do Sistema de Saude No BrasilDocumento3 páginas2871f Simulado Organizacao Do Sistema de Saude No BrasilerikaAinda não há avaliações
- Dissertacao Isadora RemundiniDocumento184 páginasDissertacao Isadora RemundiniEdevard Pinto França JuniorAinda não há avaliações
- Fiscal de TributosDocumento12 páginasFiscal de TributosFrancisco carpegeano Felix da silvaAinda não há avaliações
- Trabalho Final HermeneuticaDocumento4 páginasTrabalho Final HermeneuticaFernanda Busanello FerreiraAinda não há avaliações
- Boletim 457Documento24 páginasBoletim 457Diogo CarvalhoAinda não há avaliações