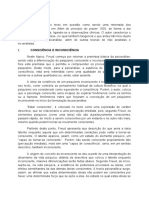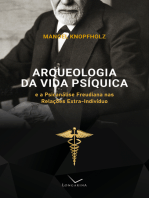Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fichamento 3 Pato T
Fichamento 3 Pato T
Enviado por
Nara Lares0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações4 páginasTítulo original
Fichamento 3 Pato T (1)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações4 páginasFichamento 3 Pato T
Fichamento 3 Pato T
Enviado por
Nara LaresDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
Nome: Nara Lares Kludasch
Matrícula: 2020052045
Data: 22/11/2021
Disciplina: Psicopatologia Geral I - Teórica
Professor: Antonio Marcio Ribeiro Teixeira
Fichamento Semiologia da consciência e das funções do eu
Buscando introduzir o tema do capítulo, os autores elegem o debate sobre a etimologia
da palavra “consciência” para, assim, poder conceituá-la sob diferentes perspectivas e
explicitar a ideia de Freud sobre o assunto. Dessa forma, constata-se a ambiguidade do termo
ao denotar a ideia de um saber compartilhado e, por outro lado, um conhecimento da própria
culpa, que carrega em si uma conotação moral. Entretanto, foi a partir do final do século
XVIII que a consciência foi dissociada de tal moralidade, com o uso do termo Bwusstsein
“estar ciente”. É apoiado na concepção de Husserl para o método fenomenológico, que a
consciência ganha uma noção dinâmica e uma ligação do pensamento sobre o objeto.
Toda consciência é necessariamente “consciência de”, a qual ora pode ser tomada como
consciência de si mesma, na forma da consciência reflexiva ou da consciência dos estados do
eu, ora como consciência de um objeto, em seu caráter projetivo ligado à sensopercepção e às
representações externas. (Machado, Caldas & Teixeira, 2017, p. 66)
Já sob a visão da neurofisiologia, a palavra recebe o sentido do estado de vigilância,
nesse ponto é comparado com um palco iluminado por um facho de luz, sua intensidade
determinaria o nível da consciência e a extensão da parte clara seria a amplitude do campo da
consciência. Contudo, do ponto de vista clínico, a imagem do palco iluminado é reservada à
consciência e ao espaço sem luz à inconsciência. Portanto, percebe-se os diferentes
entendimentos sobre o termo, que ainda é abordado pela psicanálise com uma nova roupagem,
que rompe com o pensamento tradicional uma vez que questiona a inconsciência como local
de irracionalidade/doença mental.
Ao analisar a psicopatologia de Jaspers, atenta-se a uma realidade inteiramente
revestida pela consciência, ao possuir a possibilidade de autorreflexão/autoconsciência e,
ainda, não exclui o inconsciente e define-o como extraconsciente. Os autores apontam para a
diversidade de sentidos na conceituação do inconsciente assim como para a consciência,
porém destacam a inovação de Freud nesse campo ao não tornar o inconsciente como falta de
consciência. “conceber positivamente outra cena psíquica determinada por leis distintas
daquelas que regem os fenômenos da consciência.” (Machado, Caldas & Teixeira, 2017, p. 69)
A partir de A interpretação dos Sonhos (1899) que Freud propõe o fim da soberania
da consciência, de modo a possibilitar uma nova formulação seguindo uma lógica própria
para o inconsciente. Ainda que surgida da medicina, a psicanálise se separou dela ao apontar,
com as pesquisas, perspectivas que não caminhavam de acordo com o conhecimento médico.
Ou seja, Freud vai desnaturalizar o corpo e propor pensar sobre o confronto das exigências de
uma satisfação pulsional com as regras de uma vida social. Sendo assim, a relação profunda
entre o corpo e a linguagem faz-se presente em toda sua obra, apontando para a
indispensabilidade da fala para reconhecer a pulsão do Eu.
Para explicar os estados patológicos marcados pela dissociação, Freud irá inovar por
negar a visão de Janet que afirmava tratar-se de um fracasso da função da consciência. E,
ainda, estabelecer que a produção do estado dissociativo pertence a um conflito desprazeroso
ao Eu. Com a primeira tópica freudiana que o inconsciente toma uma nova instância
constituinte fundamental do funcionamento mental, sendo o Eu subordinado ao inconsciente.
“o núcleo do inconsciente seria constituído por representantes das pulsões a que anteriormente
nos referimos, governados pelo princípio do prazer, ou seja, orientados pela descarga da
tensão gerada pelo estímulo pulsional.” (Machado, Caldas & Teixeira, 2017, p. 72). Regido por
um processo primário, o inconsciente tem suas representações ligadas por meio de uma
transferência de investimento pulsional, isto posto, é na passagem para a consciência que a
censura ocorre, separando a pulsão de sua representação psíquica.
Contextualizando o debate sobre a consciência do Eu, os autores abordam novamente
a visão de Jaspers que caracteriza sob 4 termos: unidade (o Eu se apresenta integrado
espontaneamente), identidade (mantém numa sucessão temporal), atividade (consciência de
ser o produtor de suas atividades), oposição ao mundo externo.
As alterações da consciência do eu se encontrariam assim referidas à perda de sua vivência
espontânea de unidade, nas quais o sujeito se sente habitado por individualidades distintas,
como ocorre nas vivências do duplo corpóreo (heautoscopia, ou delírio do sósia), nas psicoses
exotóxicas, nos rituais de possessão místico-religiosa e na esquizofrenia; à perda de sua
identidade, em estados processuais de ruptura abrupta da personalidade; à perda da
consciência de sua atividade, como se vê na síndrome de automatismo mental e nos delírios de
influência; e finalmente à perda da consciência de oposição ao mundo externo, como se dá nos
fenômenos infantis de transitivismo, nos estados confusionais e nos quadros de delírio onírico.
(Machado, Caldas & Teixeira, 2017, p. 74)
Já no ponto de vista freudiano, o Eu concilia a realidade externa com as exigências
pulsionais do Isso e do Supereu. Entretanto, Lacan vai apontar que essa linha de pensamento
determina uma primazia da consciência, à vista disso, entende-se que o Eu não exerce uma
mediação neutra, deforma a percepção sede da consciência. Para embasar tal ideia, utiliza-se
da tese do Estádio do Espelho em que o Eu se constitui por uma unidade corporal que antes se
mostrava incapaz de estabelecer por imaturidade do sistema nervoso. “não é por ser imagem
que a imagem deixa de ter consequências reais.” (Machado, Caldas & Teixeira, 2017, p. 75).
Então, o Eu forma-se antes mesmo de ter uma consciência dele mesmo e é através da
linguagem que confirma-se que aquela imagem é sua, visto que a imagem, inicialmente,
apresenta-se como outro para o sujeito.
Além disso, caberá ao recalque o que não for compatível com a imagem que o sujeito
constrói de si mesmo e à consciência reconhecer como próprio o que lhe for concebível em
sua autorrepresentação, assim se estabelece um crivo moral sobre o pensamento. Logo, a
compreensão da realidade externa será orientada pelo Eu, pensando os fenômenos do mundo a
partir das projeções particulares.
Nessa lógica, os autores apresentam a prática psicanalítica como a busca pela cura
ligada à investigação e descoberta da causa do sofrimento psíquico. Apontando o mecanismo
de desconhecimento ativo, não como uma deficiência cognitiva, mas como uma separação da
representação traumática, fazendo-se indistinguível a causa do sofrimento (recalque). Na
compreensão freudiana que observa-se o desinteresse do Eu para com o Isso, a verdade do
sofrimento se torna um sintoma por ser a informação que o Eu ignora. Será em cima dessa
realidade e desse saber que a prática psicanalítica se debruça, exigindo a introdução do Outro
na experiência analítica, “um convite ao estranho”, para que o saber possibilite a entrada que
o Eu exclui. É esse outro que te convoca a dizer o que não é plausível em uma associação
livre.
Em sequência, a fenomenologia compreensiva é abordada ao demonstrar sua operação
apoiada no discurso da ciência em que o psiquiatra deveria se colocar no lugar do paciente.
Porém, Freud negou essa perspectiva ao afirmar que a prática clínica do psicanalista não é a
consciência e nem o Eu, mas opera com a categoria do sujeito. “Não existe, para o
psicanalista, nenhuma dimensão psíquica anterior ao que pode ser captado a partir da fala do
paciente ou daquilo que sobre ele pode ser dito.” (Machado, Caldas & Teixeira, 2017, p. 80). Ou
seja, é no discurso que a psicanálise se estabelece, sendo o psiquismo seu efeito. Para Lacan, a
ciência trata-se do discurso que estrutura a operação psicanalítica “Necessitamos, portanto, da
categoria do sujeito para podermos abordar a divisão oculta sob a instância especular do ‘eu’,
cuja unidade imaginária depende, como visto anteriormente, de um mecanismo de
desconhecimento ativo das moções psíquicas que não condizem com sua
representação.”(Machado, Caldas & Teixeira, 2017, p. 82).
Referência:
Machado, O., Caldas, H., & Teixeira, A. (2017). Semiologia da consciência e das funções do
eu. Em A. Teixeira, & H. Caldas, Psicopatologia Lacaniana (pp. 66-83). Belo Horizonte:
Autêntica.
Você também pode gostar
- Redação Módulo 1Documento3 páginasRedação Módulo 1Isa Minatel100% (1)
- Modulo 1 - Leitura OpcionalDocumento196 páginasModulo 1 - Leitura Opcionalanon_90827288Ainda não há avaliações
- Atividade - Variáveis Dependentes e IndependentesDocumento4 páginasAtividade - Variáveis Dependentes e IndependentesMaria Isabel ClaroAinda não há avaliações
- Balanço de CompetênciasDocumento116 páginasBalanço de CompetênciasManuel100% (1)
- Anotações de Roudinesco e Plon - Dicionário de Psicanálise - MetapsicologiaDocumento2 páginasAnotações de Roudinesco e Plon - Dicionário de Psicanálise - Metapsicologiadaniel_avila4251Ainda não há avaliações
- Subjetividade e Constituição Do Sujeito em VygotskyDocumento19 páginasSubjetividade e Constituição Do Sujeito em Vygotskyרפאל פאר'אסAinda não há avaliações
- TSP-1 .. 1º RESUMO (Luzes e Sombras)Documento3 páginasTSP-1 .. 1º RESUMO (Luzes e Sombras)Mary CamposAinda não há avaliações
- Matrizes Do Pensamento PsicologicoDocumento70 páginasMatrizes Do Pensamento PsicologicoNise Tov Tov100% (1)
- Psicotecnico Aprovação Certa PM SPDocumento11 páginasPsicotecnico Aprovação Certa PM SPMateus SouzaAinda não há avaliações
- Isepol - Consciente e Inconsciente - FREUD E LACANDocumento3 páginasIsepol - Consciente e Inconsciente - FREUD E LACANprisci_05Ainda não há avaliações
- A Experiência Da Depressão Uma Perspectiva Fenomenológica Sobre o Paradigma Nosológico Do DSM VDocumento6 páginasA Experiência Da Depressão Uma Perspectiva Fenomenológica Sobre o Paradigma Nosológico Do DSM VVença a sua MenteAinda não há avaliações
- Projeto 2 PDFDocumento12 páginasProjeto 2 PDFPedro LaureanoAinda não há avaliações
- Fichamento 2 Mauricio Vieira Gomes Da SilvaDocumento4 páginasFichamento 2 Mauricio Vieira Gomes Da SilvamauriciovgsilvaAinda não há avaliações
- Trabalho O Sujeito PsicanaliticoDocumento6 páginasTrabalho O Sujeito PsicanaliticoKevin CalheirosAinda não há avaliações
- Trabalho EpistemologiaDocumento16 páginasTrabalho EpistemologiaMatheus RodriguesAinda não há avaliações
- Literatura Infantil Com Fins Catárticos e TerapêuticosDocumento10 páginasLiteratura Infantil Com Fins Catárticos e TerapêuticosBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Fichamentos - Pós Graduação Maio 2017Documento7 páginasFichamentos - Pós Graduação Maio 2017Psic Paulo César SouzaAinda não há avaliações
- A Psicose em Freud - Andréa M.C. GuerraDocumento15 páginasA Psicose em Freud - Andréa M.C. GuerraedgartnAinda não há avaliações
- Modulo 2 FREUD SONHOS INTERPRETACAO COM LIVROS Alterando Paginas para Inserir Livros - CORRECAO PDFDocumento45 páginasModulo 2 FREUD SONHOS INTERPRETACAO COM LIVROS Alterando Paginas para Inserir Livros - CORRECAO PDFAlessandro Barreto100% (1)
- Seminários Avançados em PsicologiaDocumento4 páginasSeminários Avançados em PsicologiaTaynaraAinda não há avaliações
- Atividade 3 - Christopher2Documento3 páginasAtividade 3 - Christopher2Gabriella MejiaAinda não há avaliações
- Resumo AcadêmicoDocumento5 páginasResumo AcadêmicoGabriel Dias MoraesAinda não há avaliações
- Estado Subliminar Da ConscienciaDocumento11 páginasEstado Subliminar Da ConscienciaHarlen XavierAinda não há avaliações
- Aula 1Documento12 páginasAula 1lucashangAinda não há avaliações
- Cegueira Inatencional e Percepção Pré-Consciente (Portugués)Documento9 páginasCegueira Inatencional e Percepção Pré-Consciente (Portugués)Alejandro VaronaAinda não há avaliações
- Aula 4 - o InconscienteDocumento21 páginasAula 4 - o InconscienteAnny HellyAinda não há avaliações
- RevisãoDocumento25 páginasRevisãoAntônioAinda não há avaliações
- Psicanalise IDocumento58 páginasPsicanalise IPatricia AntunesAinda não há avaliações
- Artigo OdtDocumento19 páginasArtigo OdtPedro LaureanoAinda não há avaliações
- O InconscienteDocumento19 páginasO InconscienteRoberto M. SilvaAinda não há avaliações
- Artigo 2.odtDocumento19 páginasArtigo 2.odtPedro LaureanoAinda não há avaliações
- Marcelo Moraes Caetano Psicanálise: Gênese e Alguns Conceitos IntrodutóriosDocumento5 páginasMarcelo Moraes Caetano Psicanálise: Gênese e Alguns Conceitos IntrodutóriosMarcelo Moraes CaetanoAinda não há avaliações
- Fichamento 4 Mauricio Vieira Gomes Da SilvaDocumento7 páginasFichamento 4 Mauricio Vieira Gomes Da SilvamauriciovgsilvaAinda não há avaliações
- Fantasia Criatividade e Realidade No Pensamento de WinnicottDocumento26 páginasFantasia Criatividade e Realidade No Pensamento de WinnicottWagner Da CruzAinda não há avaliações
- Explique A Divisão Metodológica Da Concepção Wundtiana e As Suas Consequências para A PsicologiaDocumento4 páginasExplique A Divisão Metodológica Da Concepção Wundtiana e As Suas Consequências para A PsicologialilianemachadoAinda não há avaliações
- Marcelo Moraes Caetano - Introdução Às Tópicas de FreudDocumento5 páginasMarcelo Moraes Caetano - Introdução Às Tópicas de FreudMarcelo Moraes CaetanoAinda não há avaliações
- O Eu Entre Freud e Lacan Publicado20191209-80083-1vr8pmd-With-Cover-Page-V2Documento14 páginasO Eu Entre Freud e Lacan Publicado20191209-80083-1vr8pmd-With-Cover-Page-V2Juliana Freddi da SilvaAinda não há avaliações
- Veronica Santos-Clinica Psicanalitica em Ambulatorio PublicoDocumento26 páginasVeronica Santos-Clinica Psicanalitica em Ambulatorio PublicoPriscilla IllaneAinda não há avaliações
- A Concepção Freudiana Do AfetoDocumento33 páginasA Concepção Freudiana Do AfetoBruno C. SilvaAinda não há avaliações
- Corpo ErogenoDocumento9 páginasCorpo ErogenoIgor Lacerda100% (1)
- Psicose - Apresentação SlideDocumento190 páginasPsicose - Apresentação SlideMYRELLA PEREIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- Modelo Psicodinâmico Do Apoio PsíquicoDocumento8 páginasModelo Psicodinâmico Do Apoio PsíquicobarbosadlAinda não há avaliações
- Conceito Fundamental Da Psicanalise o InconscienteDocumento6 páginasConceito Fundamental Da Psicanalise o InconscienteMarta Taina Silva de SouzaAinda não há avaliações
- RESUMO DE PSICANÁLISE - Part 2Documento12 páginasRESUMO DE PSICANÁLISE - Part 2Giovana QuadrosAinda não há avaliações
- A Questão Do Sujeito - o Desafio Da Semiologia - Paulo RicoeurDocumento31 páginasA Questão Do Sujeito - o Desafio Da Semiologia - Paulo RicoeuragendamentomauricioAinda não há avaliações
- PSICAN - RESUMO - A CLÍNICA DA FANTASIA (Coutinho)Documento121 páginasPSICAN - RESUMO - A CLÍNICA DA FANTASIA (Coutinho)Lobo TigreAinda não há avaliações
- O Conceito de Alucinação emDocumento15 páginasO Conceito de Alucinação emGabi MaiaAinda não há avaliações
- Resenha Cap 3 Ivete DE PSICANÁLISEDocumento10 páginasResenha Cap 3 Ivete DE PSICANÁLISEGina HendersonAinda não há avaliações
- Da Realidade Psíquica Ao Laço Social - A Função de Mediação Do Conceito de FantasiaDocumento14 páginasDa Realidade Psíquica Ao Laço Social - A Função de Mediação Do Conceito de FantasiaPaulo MoraesAinda não há avaliações
- Representacao e Consciencia Na Metapsicologia Freudiana - Fatima CaropresoDocumento23 páginasRepresentacao e Consciencia Na Metapsicologia Freudiana - Fatima CaropresoAlexanderAinda não há avaliações
- Freud e A Inibição Do PensamentoDocumento19 páginasFreud e A Inibição Do PensamentoLuana MouraAinda não há avaliações
- TrabalhoEntregue 11727956Documento4 páginasTrabalhoEntregue 11727956Joice Monteiro RiterAinda não há avaliações
- @ Genealogia Da Intersubjetividade - THamy Ayouch PDFDocumento22 páginas@ Genealogia Da Intersubjetividade - THamy Ayouch PDFCarolina SakiyamaAinda não há avaliações
- Curso Freud e Lacan CompletoDocumento27 páginasCurso Freud e Lacan CompletoTony Design100% (2)
- Diferenças Entre Freud e JungDocumento3 páginasDiferenças Entre Freud e JungCarlos Antonio Guimarães100% (5)
- Guia de Estudos de Psicossomática Av2Documento14 páginasGuia de Estudos de Psicossomática Av2Stephanie MoreiraAinda não há avaliações
- A Dissecção Da Personalidade PsíquicaDocumento6 páginasA Dissecção Da Personalidade PsíquicaSheila APsiAinda não há avaliações
- Dialética Do InconscienteDocumento20 páginasDialética Do InconscienteguizenhoAinda não há avaliações
- Freud Além Da AlmaDocumento4 páginasFreud Além Da Almaana217811Ainda não há avaliações
- A Psicose TerezaDocumento148 páginasA Psicose TerezaLily MouraAinda não há avaliações
- UntitledDocumento5 páginasUntitledElizeteAinda não há avaliações
- Aula 7 - Texto 01Documento8 páginasAula 7 - Texto 01Jheniffer FreitasAinda não há avaliações
- Arqueologia da vida psíquica e a psicanálise freudiana nas relações extra-indivíduoNo EverandArqueologia da vida psíquica e a psicanálise freudiana nas relações extra-indivíduoAinda não há avaliações
- Freud e o Metodo CatarticoDocumento14 páginasFreud e o Metodo CatarticoElaine BarbosaAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho - PiagetDocumento5 páginasFicha de Trabalho - PiagetPedro DinisAinda não há avaliações
- A Arte Da Conexão Como Quebrar o Gelo e Construir Relações de Valor Na Sua VidaDocumento15 páginasA Arte Da Conexão Como Quebrar o Gelo e Construir Relações de Valor Na Sua VidaElen PaisAinda não há avaliações
- Desenvolvimento PsicológicoDocumento61 páginasDesenvolvimento PsicológicoSandra M.Ainda não há avaliações
- Analise Do Comportamento e Contrução Social Do Conhecimento PDFDocumento21 páginasAnalise Do Comportamento e Contrução Social Do Conhecimento PDFMarcelo MarinhoAinda não há avaliações
- A Criança em Idade EscolarDocumento4 páginasA Criança em Idade EscolarAbraão Soares Dos SantosAinda não há avaliações
- Atividade FixacaoDocumento5 páginasAtividade FixacaoeuccleytonAinda não há avaliações
- História Da OpDocumento23 páginasHistória Da OpProfissionalAinda não há avaliações
- Tarefa 1Documento2 páginasTarefa 1Luís Filipe “Prof. Luís Filipe” Dias BezerraAinda não há avaliações
- Teste - UFCD 3540 - Animação Conceitos Tecnicas e Principios - RESOLUÇAODocumento2 páginasTeste - UFCD 3540 - Animação Conceitos Tecnicas e Principios - RESOLUÇAOTânia LopesAinda não há avaliações
- PsicopatologiaDocumento91 páginasPsicopatologiaDenise Duarte LopesAinda não há avaliações
- Funçoes PsiquicasDocumento41 páginasFunçoes PsiquicasCarlos Alberto Silva SantosAinda não há avaliações
- Estratégias de Enfrentamento Do EstresseDocumento12 páginasEstratégias de Enfrentamento Do EstressemaressaAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre O Ensino de Inglês Na Educação InfantilDocumento46 páginasReflexões Sobre O Ensino de Inglês Na Educação InfantilAna Paula ValentimAinda não há avaliações
- Antenados CiumeDocumento7 páginasAntenados CiumeCAROLAINE DE SOUZA RODRIGUESAinda não há avaliações
- Material - Curso Inteligência Emocional - ConquerDocumento112 páginasMaterial - Curso Inteligência Emocional - ConquersimonishomeAinda não há avaliações
- LaudoDocumento4 páginasLaudoKatialoanaMendonça RamosAinda não há avaliações
- Reforço e PuniçãoDocumento1 páginaReforço e PuniçãogracileneAinda não há avaliações
- E - Saúde Mental Do Estudante Universitário - ResenhaDocumento5 páginasE - Saúde Mental Do Estudante Universitário - ResenhaBirajara RamosAinda não há avaliações
- Os Aspectos Psicologicos Na Aprendizagem EscolarDocumento49 páginasOs Aspectos Psicologicos Na Aprendizagem EscolarHandson LaimoneAinda não há avaliações
- Escansão-Corte LacanianoDocumento17 páginasEscansão-Corte LacanianotarsilamarottaAinda não há avaliações
- Apostila - Disciplina 3Documento8 páginasApostila - Disciplina 3Fábio SousaAinda não há avaliações
- VigótskiDocumento11 páginasVigótskiIvan SantosAinda não há avaliações
- Processos Psicológicos Básicos No EsporteDocumento42 páginasProcessos Psicológicos Básicos No EsporteMiltinho CescaAinda não há avaliações
- Jean PiagetDocumento20 páginasJean PiagetRaquel OliveiraAinda não há avaliações
- Sistemas de MemoriaDocumento12 páginasSistemas de Memoriaadriellyamorim94Ainda não há avaliações