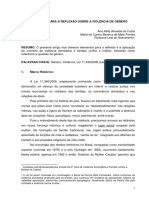Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artigo - Feminicídio - Relação de Poder Entre Os Gêneros - Maria Fernanda e Outras
Artigo - Feminicídio - Relação de Poder Entre Os Gêneros - Maria Fernanda e Outras
Enviado por
MarcoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigo - Feminicídio - Relação de Poder Entre Os Gêneros - Maria Fernanda e Outras
Artigo - Feminicídio - Relação de Poder Entre Os Gêneros - Maria Fernanda e Outras
Enviado por
MarcoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O FEMINICÍDIO COMO UMA MANIFESTAÇÃO DAS
RELAÇÔES DE PODER ENTRE OS GÊNEROS
Maria Fernanda Soares Fonseca*
Maria da Luz Alves Ferreira**
Rizza Maria de Figueiredo***
Ágatha Silva Pinheiro****
RESUMO
O presente artigo propõe realizar uma análise sociojurídica da
introdução da perspectiva da violência de gênero no ordenamento
jurídico brasileiro. Através da apresentação das leis 13.104/2015 e
11.340/2006, com ênfase na primeira que versa sobre o feminicídio,
demonstra-se uma especialização da legislação penal que aprimora a
punição de homens que matam em razão do gênero. Também foram
apresentados a relação da desigualdade de gênero com a ocorrência
da violência contra a mulher e sua persistência no decorrer da
história da humanidade. Diante dos dados apresentados e da pesquisa
realizada, foi possível concluir que a violência de gênero permanece
presente na realidade brasileira, vitimando muitas mulheres,
fazendo-se necessária a especialização da legislação no sentido de
punir, prevenir e erradicar esta forma de violência, que é resultado
de uma sociedade eminentemente patriarcalista e machista. Para
desenvolvimento deste artigo foi utilizada como metodologia a
pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio. Violência contra a mulher. Desigualdade de
gênero.
*
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social (PPGDS)
da Universidade Estadual de Montes Claros. É professora Orientadora de TCC
(Trabalho de Conclusão de Curso) na Funorte.
**
Possui doutorado em Ciências Humanas (Sociologia e Política) (2007), pela
UFMG. Atualmente é professora do Curso de Ciências Sociais e do Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de Montes
Claros.
***
Bacharel em Serviço Social.
****
Bacharel em Serviço Social.
JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018. 49
ABSTRACT
This article proposes to carry out a social and legal analysis of the
introduction of the perspective of gender violence in the Brazilian
legal system. Law 13.104/2015 and 11.340/2006, with emphasis on
the first one dealing with feminicide, show a specialization of
criminal legislation that improves the punishment of men who kill
on the basis of gender. The relationship between gender inequality
and the occurrence of violence against women and their persistence
in the course of human history was also presented. Given the data
presented and the research carried out, it was possible to conclude
that gender violence remains present in the Brazilian reality,
victimizing many women, making it necessary to specialize
legislation in order to punish, prevent and eradicate this form of
violence, which is the result of an eminently patriarchal and sexist
society. For the development of this article was used as methodology
the bibliographic research.
KEYWORDS: Feminicide. Violence against women. Gender inequality
INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher não é um fato recente, desde os
primórdios da humanidade as mulheres vêm sendo vítimas de
agressões, muitas vezes chegando a óbito. Por outro lado, o que é
novo, é a responsabilidade de vencer tal violência, como condição
para a construção da humanidade, visto que o Feminícidio define-se
como a expressão máxima da violência contra a mulher.
Contemporaneamente, tem-se aumentado a preocupação com
o fenômeno da morte de mulheres vítimas da violência de gênero,
aperfeiçoando a sua especialização por via da legislação, que
consiste na criminalização da violência contra as mulheres, não só
pelas normas ou leis, mas, também, através da consolidação de
aparelhos mobilizadores que protejam as vítimas e punam seus
agressores.
A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha,
representa um marco na proteção aos direitos das mulheres, pois tem
como premissa coibir e prevenir todas as formas de violência
doméstica e familiar. Do mesmo modo, em março de 2015, no
Brasil, o Feminícidio foi tipificado como conduta criminosa, através
da Lei n. 13.104/2015.
50 JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018.
O presente artigo será divido em duas seções, na primeira
seção serão apresentados os conceitos de gênero e violência de
gênero relacionando a ocorrência desta última como consequência do
sistema patriarcalista vigente, e, na segunda seção serão apresentados
aspectos sociojurídicos do crime de feminicídio.
METODOLOGIA
Para se alcançar os objetivos propostos neste artigo, utiliza-se
como metodologia a revisão bibliográfica, a fim de trazer os
principais conceitos e posicionamentos acerca da temática em
questão. Na pesquisa bibliográfica serão utilizados livros, periódicos
e artigos científicos, utilizando os seguintes descritores de forma
isolada e associada: Violência de gênero e Feminicídio.
O método de análise utilizado será o qualitativo, o qual
proporcionará a formulação das discussões sobre os principais
resultados e conclusões do estudo.
GÊNERO E VIOLÊNCIA: O SISTEMA PATRIARCALISTA E
A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A violência vem sendo motivo de extrema preocupação diante
do cenário contemporâneo brasileiro. Deste modo, faz-se necessário
apresentar o conceito de violência utilizado neste artigo,
Violência, em seu significado mais frequente, quer dizer uso da força
física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a fazer
algo que não está com vontade; é constranger, é tolher a liberdade, é
incomodar, é impedir a outra pessoa de manifestar seu desejo e sua
vontade, sob pena de viver gravemente ameaçada ou até mesmo ser
espancada, lesionada ou morta. É um meio de coagir, de submeter
outrem ao seu domínio, é uma violação dos direitos essenciais do ser
humano. Assim, a violência pode ser compreendia como uma forma
de restringir a liberdade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas,
reprimindo e ofendendo física ou moralmente (TELES, 2003, p. 15).
Observa-se então, que a violência ganha lugar de destaque,
uma vez que, encontra-se expressa nas relações cotidianas,
JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018. 51
Diante deste fenômeno, presente no espaço social, encontra-se a
violência contra a mulher. O primeiro documento internacional de
direitos humanos que aborda esta violência foi aprovado em 1993, na
Assembléia Geral das Nações Unidas. Esse documento define
violência contra a mulher como qualquer ato de violência baseado no
gênero que resulta, ou tenha probabilidade de resultar, dano ou
sofrimento físico, sexual e psicológico, incluindo ameaça, coação ou
privação arbitrária de liberdade, na vida pública ou privada (SANTI,
2010, p. 418).
Deste modo, importante apresentar o conceito de gênero,
Gênero é um recurso utilizado para se referir à construção social
desigual baseada na existência de hierarquia entre os sexos e as
conseqüências que daí se originam. Essa diferença não é só conceitual,
tem efeitos políticos, sociais e culturais (FARAH, 2004, p. 48).
A seu turno, o oposto da igualdade é desigualdade ou
inequivalência. No desenvolvimento de seu raciocínio, apresenta-se,
Não é identidade entre homens e mulheres que queremos reclamar,
mas uma diversidade historicamente variável mais complexa do que
aquela que é permitida pela oposição macho/fêmea, uma diversidade
que é também diferentemente expressada para diferentes propósitos
em diferentes contextos. Na verdade, a dualidade criada por essa
oposição traça uma linha de diferença, investe-a com explanações
biológicas, e então trata cada lado da oposição como fenômeno
unitário (...). Em contraste, nossa meta é ver não somente diferenças
entre os sexos, mas também o modo como essas trabalham para
represar as diferenças dentro dos grupos de gênero. A identidade
construída em cada lado da oposição binária esconde o múltiplo jogo
de diferenças e mantém sua irrelevância e invisibilidade (SCOTT,
p. 46, 1986, apud LOURO, p. 116, 1995).
Com relação à violência de gênero, ressalta-se que esta se
desenvolve em um contexto em que as relações são produzidas
socialmente,
A violência de gênero só se sustenta em um quadro de desigualdades
de gênero. Estas integram o conjunto das desigualdades sociais
estruturais, que se expressam no marco do processo de produção e
reprodução das relações fundamentais – as de classe, étnico-raciais e
52 JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018.
de gênero. A estas relações podem-se agregar as geracionais, visto
que não correspondem tão-somente à localização de indivíduos em
determinados grupos etários, mas também à localização do sujeito na
história, na ambiência cultural de um dado período, na partilha ou na
recusa dos seus valores dominantes, nas suas práticas de
sociabilidade (ALMEIDA, 2007, p. 28).
A violência contra a mulher, em seu contexto geral, surge de
uma diferença biológica entre os sexos, construindo socialmente um
sistema de dominação masculina, principalmente no que se refere à
divisão social do trabalho, que atribui um papel ideal para cada um
dos dois sexos (BOURDIEU, 2010).
Tal violência ocorre em várias esferas da vida e se manifesta
sob formas e circunstâncias distintas. Neste contexto, dentre as
inúmeras situações de violência que vitimam as mulheres, destacam-
se, às ocorridas no espaço definido socialmente para as mulheres: o
espaço privado, a família e o domicílio (SANTI, 2010).
Conforme Dias (2010), a mulher ficou restrita ao espaço do
lar, com a obrigação de cuidar do marido e dos filhos, enquanto ao
homem coube o espaço público, o que colaborou para a formação de
dois mundos, uma separação que culminou ao homem o espaço da
dominação, externo, produtor, já ao outro, coube o espaço da
submissão, interno e reprodutor. O provedor da família e a protetora
do lar, cada um desempenhando sua função.
Aquino (2015) defende que ao aceitar a esfera privada, as
mulheres legitimam a sua sujeição ao sexo oposto, propiciando a
dominação masculina, bem como o exercício do poder patriarcal.
Afirmando o mencionado, Bourdieu (1999, p. 116) destaca que as
mulheres, uma vez excluídas da esfera pública, ou seja do “universo
das coisas sérias”, elas “ficaram durante muito tempo confinadas ao
universo doméstico e às atividades associadas à reprodução biológica
e social da descendência”, adiciona-se a isso o fato de que o trabalho
doméstico das mulheres, ainda nos dias atuais, não faz jus a
remuneração alguma, contribui para desvalorizá-la e perpetuar a
dominação patriarcal.
Os diferentes padrões de comportamento estabelecidos para
homens e mulheres geram a construção de um código de conduta. Ao
macho é atribuído um papel paternalista, colocando a fêmea em uma
JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018. 53
situação de submissão. Partindo disso, há uma diferença na educação
das mulheres, moldadas para serem controladas e terem seus desejos
reprimidos. Por isso, a restrição ao exercício da sexualidade e a
consagração da maternidade. Ambos os universos, distantes, mas
dependentes entre si, buscam manter suas contradições estabelecidas,
mantendo o modelo de submissão alicerçado no autoritarismo
(DIAS, 2010).
Enfatizando, que a violência de gênero se passa num quadro de
disputa pelo poder, o que significa que não é dirigida a seres, em
princípio, submissos, mas revela que o uso da força é necessário para
manter a dominação, porquanto a ideologia patriarcal – tensionada
por conquistas históricas, sobretudo feministas – não se revela
suficientemente disciplinadora (ALMEIDA, 2007, p. 28).
É importante salientar, que a dominação é masculina, e a
consequente violência contra a mulher tem sua origem no
patriarcado, uma vez que este sistema permite a superioridade
masculina nas relações de gênero. Por sua vez, conforme acima
apresentado a violência de gênero produz e se reproduz nas relações
de poder em que se enlaçam homens e mulheres (ARAÚJO, 2004).
Assim, no que se refere à função patriarcal, cabe aos homens
designar e estabelecer normas e punições ao que lhes apresentar
como desvio, ainda que, não haja por parte das vítimas a tentativa de
trilhar caminhos distintos aos regidos pelas normas sociais
(SAFFIOTI, 2001).
Deste modo, faz-se necessário apresentar o conceito de
Patriarcalismo,
O patriarcalismo é uma das estruturas sobre as quais se assentam
todas as sociedades contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade,
imposta institucionalmente, do homem sobre a mulher e filhos no
âmbito familiar. Para que essa autoridade possa ser exercida, é
necessário que o patriarcalismo permeie toda a organização da
sociedade, da produção e do consumo à política, à legislação e à
cultura. Os relacionamentos interpessoais e, consequentemente, a
personalidade, também são marcados pela dominação e violência
que têm sua origem na cultura e instituições do patriarcalismo
(CASTELLS, 2010, p. 169).
54 JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018.
De tal modo, Campos (2012) descreve alguns fatores que
contribuem para a prática da violência contra a mulher, sendo estes: a
falta de punição dos agressores, o silêncio das mulheres agredidas, a
inferioridade das mulheres e a transformação das vítimas em
culpadas. Portanto, a violência contra a mulher representa um
verdadeiro desrespeito aos direitos e garantias fundamentais da
mulher, colocando-se como um obstáculo para a efetivação de uma
série de princípios constitucionais, tais como a dignidade da pessoa
humana, da igualdade, da liberdade, dentre outros.
Assim sendo, a Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/06 –
representa um marco na proteção aos direitos das mulheres, pois, de
maneira geral teve como premissa essencial coibir e prevenir todas as
formas de violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 226
da Constituição Federal de 1988, da Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres e da
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência Contra a Mulher, ratificado pelo Brasil.
No período anterior à Lei, de 1980 até 2006, o crescimento do
número de homicídios de mulheres foi de 7,6% ao ano. Já no período
de 2006 até 2013, após a vigência da Lei, decresce o número desses
homicídios para 2,6% ao ano e das taxas para 1,7% ao ano
(WAISELFISZ, 2015).
Ainda considerando Waiselfisz (2015), no período assimilado
entre 2003 e 2013, o número de mulheres vitimadas pela violência no
Brasil passou de 3.937 para 4.762, impulsionando um aumento de
21,0% na década. Essas 4.762 mortes em 2013 representam cerca de
13 homicídios femininos diários. Partindo do pressuposto de que o
crescimento da população feminina nesse período passou de 89,8
para 99,8 milhões (crescimento de 11,1%), observa-se que a taxa
nacional de homicídio, que em 2003 era de 4,4 por 100 mil mulheres,
passa para 4,8 em 2013, crescimento de 8,8% na década.
Limitando a análise ao período regido pela Lei Maria da
Penha, com início de vigência em 2006, a maior parte desse aumento
decenal das mortes aconteceu sob o período de respaldo da nova lei:
18,4% nos números e 12,5% nas taxas, entre 2006 e 2013. Dado um
primeiro momento, em 2007, registrou-se uma queda expressiva nas
taxas, de 4,2 para 3,9 por 100 mil mulheres, mas rapidamente
alavancaram-se os índices de homicídios, ultrapassando a taxa de
JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018. 55
2006. Não obstante ao contexto apresentado, observa-se uma queda
nesse quadro a partir de 2010 (WAISELFISZ, 2015).
As mortes de mulheres por questões de gênero, chamadas de
feminicídio, encontram-se presentes em todos os níveis da sociedade
e, conforme anteriormente apresentado, são decorrentes de uma
cultura de dominação e desigualdade nas relações de poder existente
entre homens e mulheres, produzindo a inferiorização da condição
feminina, resultando na forma mais extrema da violência contra as
mulheres, que é o óbito (OLIVEIRA, 2015).
Confirmando esse ponto de vista, Romero (2014) vem
endossar que o feminicídio é todo e qualquer ato de violência
proveniente da dominação de gênero e que é praticado contra a
mulher, ocasionando sua morte. Partindo dessa concepção, o
assassinato de mulheres pode ser realizado por pessoas próximas das
vítimas, como namorados, maridos e/ou companheiros, outros
membros da família ou por desconhecidos.
São crimes cujo impacto é silenciado, praticados sem distinção de
lugar, de cultura, de raça ou de classe, além de ser a expressão
perversa de um tipo de dominação masculina ainda fortemente
cravada na cultura brasileira. Cometidos por homens contra as
mulheres, suas motivações são o ódio, o desprezo ou o sentimento de
perda da propriedade sobre elas (AQUINO, 2015, p. 11).
Diante deste contexto real de violência e discriminação é que
ressalta-se a importância de leis como a Lei 13.104/2015 que será
apresentada de forma mais detalhada em seus aspectos sociojurídicos
na próxima seção.
ASPECTOS SOCIOJURÍDICOS DO FEMINICÍDIO
O reconhecimento do feminicídio como crime hediondo
enquanto alternativa para coibir a violência de gênero objetiva
assegurar às mulheres os seus direitos e garantias fundamentais, uma
vez que sua tipificação, por intermédio da Lei nº 13.104/2015,
expressa o início de uma mudança jurídica e social na consciência
coletiva e um instrumento protetivo da violência contra as mulheres.
Inicialmente insta salientar que um dos marcos mais importantes
56 JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018.
e relevantes no que concerne à luta pela proteção das mulheres em face
da violência doméstica foi a Lei Maria da Penha, que é o resultado da
atuação dos movimentos feministas e da tramitação do caso Maria da
Penha versus Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
no ano de 2001. A partir de então, o Estado brasileiro iniciou o processo
de revisão das estratégias e políticas públicas de defesa dos direitos
humanos das mulheres, e, dentre algumas das providências, ressalta-se a
criação da referida lei como um dos mais significativos e relevantes
avanços legislativos relacionados ao combate à violência contra a
mulher, por denunciar o cotidiano de violência doméstica e tornar
visível uma violação de direitos protegida pela esfera da vida privada
(MACHADO et al., 2015).
As providências do Estado brasileiro para a promoção e
proteção das mulheres são contemporâneas das de outros países na
América Latina, onde, atualmente, 14 países possuem legislação que
reconhecem o feminicídio como crime, além do Brasil (MACHADO
et al., 2015).
Apesar de representar um marco na luta pelos direitos das
mulheres, de todas as inovações e conquistas, uma década depois da
publicação da Lei Maria da Penha, alguns questionamentos são
apontados, no que se refere a sua efetividade com relação ao
enfrentamento à violência contra a mulher.
Neste sentido, Campos (2012) pontua que, no que concerne ao
reconhecimento de direitos, não restam dúvidas que a supracitada lei
foi efetiva,
Em análise à Lei 11.340/06, observamos que a mesma detém
consideráveis repercussões no âmbito jurídico, criando trâmite
inovador de garantia, decorrentes dos acréscimos efetivados no
campo do Direito Penal, do Processo Penal, da Execução Penal, do
Direito Civil, do Processo Civil, do Direito Administrativo, do
Direito Trabalhista e do Previdenciário, tudo isso para maximizar a
ordem jurídica no que se refere à integração sistêmica de benefícios
assistenciais e de proteção, buscando, sempre a devida concreção dos
direitos e garantias fundamentais, na máxima constitucional do
princípio da inafastabilidade (CAMPOS, 2012, p. 145).
No entanto, verifica-se que a mesma não está sendo de fato
efetiva para coibir a prática mais extrema de violência, que é o
JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018. 57
assassinato de mulheres em decorrência do gênero, fazendo-se
necessário o reconhecimento do feminicídio como novo tipo penal
previsto no Código Penal brasileiro.
Em virtude dessa realidade, em março de 2015, no Brasil, o
feminicídio foi tipificado como conduta criminosa através da Lei nº
13.104/2015, na qual o Estado reconhece quão grave e danoso é, para
a sociedade, o homicídio de mulheres, no sentido de promover a
justiça de gênero com o propósito de diminuir as práticas
discriminatórias ainda presentes no Direito e no Poder Judiciário.
Entretanto, o debate referente ao feminicídio ainda suscita
controvérsias e tensões, pela compreensão de que a simples
judicialização, ou seja, a tipificação da conduta violenta como crime
não seria o caminho mais eficaz para a mitigação ou o banimento
deste fenômeno da realidade social (GOMES, 2015).
A Lei de Feminicídio foi criada a partir de uma recomendação
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra
a Mulher (CPMI-VCM) que investigou a violência contra as
mulheres nos Estados brasileiros, de março de 2012 a julho de 2013,
a Comissão teve “a finalidade de investigar a situação da violência
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do
poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos
em lei para proteger as mulheres em situação de violência”
(BRASIL, 2013).
Contudo, há de se considerar que a iniciativa do poder
legislativo é o resultado do empoderamento político das mulheres,
que passam a se reconhecer como sujeitos sociais detentores de
direitos e, consequentemente, começam a cobrar tal reconhecimento
da própria sociedade que, por sua vez, não poderia ficar estagnada
em virtude dessa realidade.
A lei 13.104/15, que introduziu o feminicídio como uma das
qualificadoras do crime de homicídio, alterou o Código Penal
brasileiro, punindo de forma mais rigorosa os agressores que
cometerem o homicídio em função da condição do sexo, alterando
também o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal),
para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime
de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072/1990, para incluir o
feminicídio no rol dos crimes hediondos. Desta forma, há mais uma
modalidade de homicídio qualificado: o feminicídio, quando crime
58 JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018.
for praticado contra a mulher por razões da condição de sexo
feminino.
A novel lei dispõe que:
Homicídio qualificado § 2o [...]
Feminicídio
VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
§ 2o – A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino
quando o crime envolve:
I – violência doméstica e familiar;
II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Aumento de pena
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a
metade se o crime for praticado:
I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta)
anos ou com deficiência;
III – na presença de descendente ou de ascendente da vítima.
A referida lei não se limita apenas a uma modificação da
esfera legislativa no Brasil, cujo caráter esteja restrito ao seio
simbólico das normas jurídicas, mas ensejando avanços inclusive no
comportamento e na relação com o gênero feminino, de modo a não
só garantir direitos e sim, essencialmente, assegurar sua efetiva
proteção (SIMIONATO, 2015).
A supracitada lei que tipifica o feminicídio como homicídio
qualificado, o considera crime hediondo, onde a pena prevista para o
homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. Os crimes
hediondos, por sua vez, são considerados de extrema gravidade e,
por isso, recebem um tratamento mais severo por parte do legislador.
Isto quer dizer que os casos de violência doméstica e familiar ou
menosprezo e discriminação contra a condição feminina, passam a
ser vistos como qualificadores (condição que agrava a conduta
delituosa e, consequentemente, a pena imputada a quem o pratica) do
crime, se, por ventura, essa violência resultar em homicídio
(OLIVEIRA, 2015).
Com relação ao conceito de feminicídio, Pasinato (2011) aduz
que, para se caracterizá-lo, o ato (matar) não pode ser isolado, deve
existir histórico de violência e de intencionalidade.
JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018. 59
[...] outra característica que define femicídio é não ser um fato
isolado na vida das mulheres vitimizadas, mas apresentar-se como o
ponto final em um continuum de terror, que inclui abusos verbais e
físicos e uma extensa gama de manifestações de violência e
privações a que as mulheres são submetidas ao longo de suas vidas.
Sempre que esses abusos resultam na morte da mulher, eles devem
ser reconhecidos como femicídio (PASINATO, 2011, p. 224).
Por outro lado, para que o crime seja qualificado como
Feminicídio, conforme previsto na lei de 2015 é essencial que o
mesmo apresente duas características: a violência doméstica e
familiar (art. 121, § 2º-A, I), e o menosprezo ou discriminação da
condição de mulher (art. 121, § 2º-A, II). Outra perspectiva para a
caracterização dessa conduta delituosa é o menosprezo da condição
feminina (art. 121, § 2º-A, II do Código Penal Brasileiro), em virtude
da relação de poder e submissão do agente sobre a vítima, que acaba
sendo oprimida e humilhada em decorrência de seu gênero
(OLIVEIRA, 2015).
A presença dos filhos no cenário violento e o fato destes
presenciarem, muitas vezes, os maus-tratos destinados a mãe, impôs
ao legislador a determinação de aumentar o tempo da sanção ao
agressor, se o homicídio for executado na presença de descendente
ou de ascendente da vítima (art. 121, § 7º, III do Código Penal), ou
se for concretizado durante a gestação ou até três meses após o parto
(art. 121, § 7º, I), pois o legislador entendeu que a gestação é um
período de intensa fragilidade feminina, e que além da obrigação do
Estado de preservar a vida e a saúde da gestante, possui igual dever
de preservar a vida e a saúde do nascituro que está em
desenvolvimento (OLIVEIRA, 2015).
Ainda de acordo com supracitado autor, em face das condições
de agravamento da pena para o feminicídio, a lei impõe que este
acréscimo sobrevenha em casos nos quais o homicídio se dê em
desfavor de crianças menores de quatorze anos, em idosas com mais
de sessenta anos e em portadoras de deficiência conforme pontua o
(art. 121, § 7º, I).
Ressalta-se que a importância da tipificação do delito, também
ofereceu maior riqueza de possibilidades regulatórias, tendo em vista
que, em geral, não só adotaram normas de comportamento
60 JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018.
acompanhadas de sanções para reprimir o feminicídio, mas também
normas jurídicas de conteúdo não punitivo que promoveram
mudanças processuais, criação de instituições e de políticas públicas
voltadas à proteção da mulher (PIRES, 2016).
Neste cenário, a tipificação penal do feminicídio foi apontada
por especialistas como uma importante e necessária ferramenta para
denunciar a violência sistêmica contra mulheres em relações
conjugais, que muitas vezes resulta em homicídios encarados como
crimes passionais pela sociedade, pela mídia e até mesmo pelo
sistema de judiciário (PRADO, 2017).
Tendo em vista que o feminicídio é o assassinato de uma
mulher pela condição de ser mulher, nota-se que são crimes que
ocorrem geralmente na intimidade dos relacionamentos e com
frequência caracterizam-se por formas extremas de violência e
barbárie. São crimes cujo impacto é silenciado, praticados sem
distinção de cultura, de raça, de lugar ou classe social, além de ser a
expressão perversa de um tipo de dominação masculina ainda
fortemente cravada na cultura brasileira. Cometidos por homens
contra as mulheres, onde suas motivações são o ódio, o desprezo ou
o sentimento de perda da propriedade sobre elas (AQUINO, 2015).
Como bem definiu o Relatório Final da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito sobre a Violência contra a Mulher (CPMI) do
Congresso Nacional:
O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo
homem: o controle da vida e da morte. Ele se expressa como
afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto,
quando cometido por parceiro ou ex-parceiro; como subjugação da
intimidade e da sexualidade da mulher, por meio da violência sexual
associada ao assassinato; como destruição da identidade da mulher,
pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como aviltamento da
dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel
ou degradante (BRASIL, 2013, p. 1003).
Conforme Machado (2011), o feminicídio é uma categoria
ainda em construção no Brasil, tanto no campo sociológico quanto
no campo jurídico, uma vez que a violência está enraizada nas
estruturas sociais, assim como é parte da ‘aprendizagem’ no sistema
de socialização, independentemente dos padrões socioeconômicos de
JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018. 61
pertencimento. Diante desse contexto, a tipificação do crime de
feminicídio visa contribuir para a construção de políticas de
enfrentamento a essa forma extrema de violência.
Para além do agravo da pena, o aspecto mais relevante da
tipificação, segundo especialistas, é chamar atenção para o fenômeno
e promover uma compreensão mais acurada sobre sua dimensão e
características nas diferentes realidades vividas pelas mulheres no
Brasil, permitindo assim o aprimoramento das políticas públicas para
coibi-lo (PRADO, 2017).
Para Castells (2010), a atuação efetiva e eficaz do Estado para
prevenir os assassinatos praticados contra as mulheres inclui a devida
atenção aos casos de agressões consideradas menos graves, o
cumprimento da punição dos agressores e a garantia aos direitos
humanos das mulheres.
Conforme exposto, muitas foram às mudanças nos discursos
legislativos e jurídicos com relação aos direitos das mulheres.
Criminalizar o feminicídio foi uma providência necessária e justa,
diante da dívida que a sociedade possui para com as mulheres,
todavia, a judicialização do feminicídio é apenas uma das muitas
modificações que o Estado deve empreender a fim de transformar
definitivamente essa realidade (OLIVEIRA, 2015).
CONCLUSÃO
Tal como apresentado neste artigo, a violência imposta às
mulheres é observada no decorrer da história da humanidade e tem
sua gênese em um modelo construído socialmente que promove a
dominação, determinando os papéis de cada gênero em sociedade, a
partir de representações e comportamentos que devem ser
obedecidos, alicerçado em um sistema que legitima a sujeição do
outro. Por conseguinte, este modelo social implica na violação de
direitos, submetendo as mulheres à uma condição de inferioridade
em relação aos homens, exemplificada através de vários tipos de
violência, chegando até a consumação da morte, o feminicídio.
Desse modo, na tentativa de minimizar a violência contra as
mulheres, a Lei do Feminicídio entrou em vigência em março de
2015, como uma qualificadora penal e que reconhece o homicídio de
mulheres como crime hediondo, este resultando de violência
62 JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018.
doméstica e familiar ou em razão de menosprezo ou discriminação
da condição de mulher.
Em face da luta por justiça de gênero, a criminalização do
feminicídio, para além de um caráter simbólico das normas jurídicas,
é importante como um dos meios para garantir a efetivação da
igualdade entre as pessoas e da dignidade humana. Assim, a
especialização da legislação implica na luta pela erradicação da
violência e na inserção do feminicídio como uma política de Estado,
pois a morte de mulheres, decorrente da discriminação e violência de
gênero, ultraja a consolidação dos direitos humanos.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Suely Souza de. (org.) Violência de gênero e políticas
públicas. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2007.
AQUINO, Quelen Brondani de; KONTZE, Karine Brondani. O feminicidio
como tentantiva de coibir a violência de gênero. Anais da semana
acadêmica: Fadisma Entrementes. ed. 12. 2015.
ARAÚJO, Maria de Fátima; MATTIOLI, Olga Ceciliato. Gênero e
violência. Arte & Ciência, 2004.
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Bertrand Brasil, 2010.
BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Tradução de Maria Helena
Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
BRASIL, Senado Federal. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Relatório Final. Brasília, julho de 2013. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-
aviolencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-
sobre-a-violencia-contra-as-mulheres>. Acesso: 09 de Abr. 2017.
_____. Presidência da República. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 12 de abr. 2017.
_____. Presidência da República. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/Lei/L13104.htm>. Acesso em: 12 de abr. 2017.
CAMPOS, Amini Haddad; CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Direitos
Humanos das Mulheres. Curitiba: Juruá, 2012.
JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018. 63
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra,
2010.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 7ª ed. São Paulo:
Ed. RT, 2010.
FARAH, Marta Ferreira Santos. Gênero e Políticas Públicas. Estudos
Feministas, Florianópolis, 12 (1): 47-71, janeiro-abril/2004.
GOMES, Izabel Solyszko. Feminicídios e possíveis respostas penais:
dialogando com o feminismo e o direito penal. Revista Gênero & Direito,
v. 4, n. 1, 2015.
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, história e educação: construção e
desconstrução. Educação & realidade, v. 20, n. 2, 1995.
MACHADO, Lia Zanatta. Feminismo brasileiro: revolução de ideias e
políticas públicas. In: SOUSA JUNIOR, José Geraldo; APOSTOLOVA,
Bistra Stefanova; FONSECA, Lívia Gimenes Dias da. (orgs.) O Direito
Achado na Rua, vol. 5. Introdução crítica aos direito das mulheres. Brasília:
CEAD, FUB, 2011.
MACHADO, Marta Rodrigues de Assis. (org.). A violência doméstica
fatal: o problema do feminicídio íntimo no Brasil. Diálogos sobre Justiça.
Brasília, DF: Ministério da Justiça, 2015. Disponível em:
<http://www.pnud.org.br/arquivos/publicacao_feminicidio.pdf>. Acesso: 09
abr. 2017.
OLIVEIRA, Ana Carolina Gondim; COSTA, Mônica Josy Sousa; SOUSA,
Eduardo Sérgio Soares. Feminicídio e violência de gênero: aspectos
sociojurídicos. Revista Tema, v. 16, n. 24/25, janeiro a dezembro de 2015.
PASINATO, Wânia.Femicídiose as mortes de mulheres no
Brasil. Cadernos Pagu, n. 37, p. 224, 2011. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n37/a08n37.pdf>. Acesso: 09 abr. 2017.
PIRES, Julie Ferreira. O direito das mulheres no cenário sociojurídico
brasileiro e o feminicídio: Quando a violência doméstica se torna fatal.
2016.
PRADO, Débora; SANEMATSU, Marisa (orgs.).Feminicídio
invisibilidade mata. Fundação Rosa Luxemburg. São Paulo: Instituto
Patrícia Galvão, 2017.
ROMERO, Tereza Incháustegui. Sociologia e política de feminicídio:
algumas chaves interpretativas a partir do caso mexicano. Revista
Sociedade e Estado, Brasília, v. 29, n. 2, p. 373-400, maio/ago.2014.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/se/v29n2/04.pdf>. Acesso: 20
abr. 2017.
64 JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018.
SAFFIOTI, Heleieth IB. Contribuições feministas para o estudo da
violência de gênero. Cadernos pagu, n. 16, p. 115-136, 2001.
SANTI, Liliane Nascimento de; NAKANO, Ana Maria Spanó; LETTIERE,
Angelina. Percepção de mulheres em situação de violência sobre o
suporte e apoio recebido em seu contexto social. Texto & Contexto
Enfermagem, v. 19, n. 3, p. 417-424, 2010.
SCOTT, Joan. Gender and the Politics of History. Nova Iorque: Columbia
University Press, 1986.
SIMIONATO, Girlene Nascimento; MICHILES, Ronaldo. Feminicídio:
Uma realidade brasileira. Revista de Produção Acadêmico-Científica,
Manaus, v. 2, n.º 1, 2015.
TELES, Maria Amélia de Almeida; MELO, Mônica de. O que é violência
contra a mulher. São Paulo: Brasiliense, 2003.
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2015. Atualização:
homicídios de mulheres no Brasil, 2015.
JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018. 65
66 JURIS, Rio Grande, v. 28, n. 1, p. 49-65, 2018.
Você também pode gostar
- Guia Do Professormat9 PI PDFDocumento231 páginasGuia Do Professormat9 PI PDFTânia Rodrigues100% (1)
- Plano de Ensino - Estagio Supervisionado IVDocumento4 páginasPlano de Ensino - Estagio Supervisionado IVAna Elis CorreaAinda não há avaliações
- GÁS - Laudo RestauranteDocumento3 páginasGÁS - Laudo RestauranteDanilo FerreiraAinda não há avaliações
- Viloencia Psicologia As Invisiveis Sequelas, No Enfoque Da Gestalt TerapiaDocumento6 páginasViloencia Psicologia As Invisiveis Sequelas, No Enfoque Da Gestalt TerapiacrisnanciAinda não há avaliações
- Instituto Unifil 2019 Prefeitura de Mandaguacu PR Professor de Educacao Infantil ProvaDocumento9 páginasInstituto Unifil 2019 Prefeitura de Mandaguacu PR Professor de Educacao Infantil ProvaJeane MartinsAinda não há avaliações
- Meu Script HipnoseDocumento3 páginasMeu Script HipnosedanielrdsAinda não há avaliações
- Da Violência Doméstica Ao Feminicídio 1Documento12 páginasDa Violência Doméstica Ao Feminicídio 1LidiaSouzaAinda não há avaliações
- 1476 5949 1 PBDocumento21 páginas1476 5949 1 PBMequesambocoAinda não há avaliações
- Parte 1 - VIO. DOMESTICA - Feminicã Dio - Fernandinha - Construã Ã oDocumento6 páginasParte 1 - VIO. DOMESTICA - Feminicã Dio - Fernandinha - Construã Ã oMalu SampaioAinda não há avaliações
- Feminicídio - Quando A Violência Contra Mulher Se Torna FatalDocumento13 páginasFeminicídio - Quando A Violência Contra Mulher Se Torna FatalLala EncantoAinda não há avaliações
- PT V14n6a18Documento8 páginasPT V14n6a18Barb CostAinda não há avaliações
- HGHFDocumento23 páginasHGHFGabriela LopesAinda não há avaliações
- Gênero e Raça A Representação Da Violência Contra Mulher Negra em "Duzu-Querença", de Conceição EvaristoDocumento15 páginasGênero e Raça A Representação Da Violência Contra Mulher Negra em "Duzu-Querença", de Conceição EvaristoRay OliveiraAinda não há avaliações
- 51739-Texto Do Artigo-217236-1-10-20230623Documento29 páginas51739-Texto Do Artigo-217236-1-10-20230623Rhoana LerschAinda não há avaliações
- A Cultura Do Machismo e Sua Influência Na Manutenção DosDocumento26 páginasA Cultura Do Machismo e Sua Influência Na Manutenção DosNathalia PonteAinda não há avaliações
- Violência e Abuso Sexual Na Família PDFDocumento9 páginasViolência e Abuso Sexual Na Família PDFjuleilaAinda não há avaliações
- A Violência Contra A Mulher Numa Perspectiva Histórica e CulturalDocumento9 páginasA Violência Contra A Mulher Numa Perspectiva Histórica e CulturalEduardo Lima de Melo Jr.Ainda não há avaliações
- Admin,+gerente+da+revista,+artigo+2 CompressedDocumento28 páginasAdmin,+gerente+da+revista,+artigo+2 CompressedCaio Murilo de SouzaAinda não há avaliações
- Ekeys, 00961 Homems Que Cometem Violência Contra Mulher - Possívies Impactos FamiliaresDocumento16 páginasEkeys, 00961 Homems Que Cometem Violência Contra Mulher - Possívies Impactos FamiliareslimaAinda não há avaliações
- Dialnet ViolenciaDomesticaContraOHomem 6202600Documento20 páginasDialnet ViolenciaDomesticaContraOHomem 6202600Dampier CambráiaAinda não há avaliações
- Elementos para Reflexão Sobre Violência Do GêneroDocumento10 páginasElementos para Reflexão Sobre Violência Do GênerorildonobregaAinda não há avaliações
- ARQUIVO JacquelineMarySoaresdeOliveiraDocumento11 páginasARQUIVO JacquelineMarySoaresdeOliveiraNathalia CostaAinda não há avaliações
- 3101-Texto Do Artigo-25044-1-10-20160215Documento27 páginas3101-Texto Do Artigo-25044-1-10-20160215cledinaAinda não há avaliações
- A Lei Maria Da Penha e o Enfrentamento À Violência Contra A MulherDocumento18 páginasA Lei Maria Da Penha e o Enfrentamento À Violência Contra A MulhereduardoAinda não há avaliações
- Diversidade de Gênero, Violência E A Importância de Uma Compreensão Ampliada Do Tema Guilherme Silva de AlmeidaDocumento19 páginasDiversidade de Gênero, Violência E A Importância de Uma Compreensão Ampliada Do Tema Guilherme Silva de AlmeidaCarolina XavierAinda não há avaliações
- Gênero e Violência Contra A MulherDocumento5 páginasGênero e Violência Contra A MulherKatriely DasilvaingracioAinda não há avaliações
- RTDoc 12-08-2021 20 - 11 (PM)Documento27 páginasRTDoc 12-08-2021 20 - 11 (PM)Beatriz SartoriAinda não há avaliações
- VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: Notas Sobre o Feminicídio em Salvador/BA.Documento13 páginasVIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: Notas Sobre o Feminicídio em Salvador/BA.Verbena Córdula AlmeidaAinda não há avaliações
- Art Jean Magno Disc Public Viol Domestica R13-0292-1Documento15 páginasArt Jean Magno Disc Public Viol Domestica R13-0292-1MagnoAinda não há avaliações
- FEMINICIDIODocumento12 páginasFEMINICIDIONanci MarcondesAinda não há avaliações
- A violência de gênero, o Ministério Público e a aplicação da Lei Maria da Penha: uma análise na cidade de São Luís/MANo EverandA violência de gênero, o Ministério Público e a aplicação da Lei Maria da Penha: uma análise na cidade de São Luís/MANota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Violencia Intrafamiliar 1Documento17 páginasViolencia Intrafamiliar 1Isabelle BulhõesAinda não há avaliações
- Expedição 1 - Violência de GêneroDocumento4 páginasExpedição 1 - Violência de GêneroDouglas WeegeAinda não há avaliações
- ArtigoDocumento8 páginasArtigoMaria Alice CamposAinda não há avaliações
- Violencia Contra A Mulher BrasilDocumento14 páginasViolencia Contra A Mulher BrasilYagoPáduaAinda não há avaliações
- Caracterizacao - Do - Feminicidio - Na - Cidade de Belém (PA)Documento16 páginasCaracterizacao - Do - Feminicidio - Na - Cidade de Belém (PA)Tereza Cristina Lima CostaAinda não há avaliações
- Violência de Gênero e Assistência Social PDFDocumento24 páginasViolência de Gênero e Assistência Social PDFRenata VasconcelosAinda não há avaliações
- FEMINICIDIODocumento20 páginasFEMINICIDIOBruna Reis L CostaAinda não há avaliações
- A Violência Contra Mulheres e Antecedentes HistóricosDocumento19 páginasA Violência Contra Mulheres e Antecedentes HistóricosJacqueline ReiterAinda não há avaliações
- Violência Doméstica Sobre A Mulher e A CriançaDocumento5 páginasViolência Doméstica Sobre A Mulher e A CriançaCatarina Decome PokerAinda não há avaliações
- Artigo Bárbara Cunha Classificado em 7º Lugar PDFDocumento22 páginasArtigo Bárbara Cunha Classificado em 7º Lugar PDFConceição FeitosaAinda não há avaliações
- CONPEDI LAW - Micromachismo o MicrotecnologiasDocumento19 páginasCONPEDI LAW - Micromachismo o MicrotecnologiasDaniel CarrizoAinda não há avaliações
- Violência Contra A MulherDocumento19 páginasViolência Contra A MulherLARISSA CARDOSOAinda não há avaliações
- Violência Doméstica Contra A Mulher e Saúde PúblicaDocumento17 páginasViolência Doméstica Contra A Mulher e Saúde PúblicaLeonelleaAinda não há avaliações
- 17512-Texto Do Artigo-73836-1-10-20181013 PDFDocumento19 páginas17512-Texto Do Artigo-73836-1-10-20181013 PDFPollyana Ribeiro FerrazAinda não há avaliações
- 574-Article Text-1093-1-10-20191212Documento10 páginas574-Article Text-1093-1-10-20191212LucasAinda não há avaliações
- Wandenf, Art 13. 7874-68950-4-SM-1 RINT PT OkDocumento10 páginasWandenf, Art 13. 7874-68950-4-SM-1 RINT PT OkAna Carolina Silva AraujoAinda não há avaliações
- Cyberbullying e Revange Porn A Violência MoralDocumento19 páginasCyberbullying e Revange Porn A Violência MoralEdiana di Frannco Matos da Silva SantosAinda não há avaliações
- Dialnet ViolenciaPoliticaDeGeneroEFakeNews 9075854Documento22 páginasDialnet ViolenciaPoliticaDeGeneroEFakeNews 9075854san2011Ainda não há avaliações
- LEVI, Márcia Cristina Henriques NEVES, André Luiz Machado Das. Violência Doméstica Contra A Mulher Um Estudo Hemerográfico.Documento31 páginasLEVI, Márcia Cristina Henriques NEVES, André Luiz Machado Das. Violência Doméstica Contra A Mulher Um Estudo Hemerográfico.José MoraisAinda não há avaliações
- 2° Ano - ViolênciaDocumento10 páginas2° Ano - ViolênciaJonas BatistaAinda não há avaliações
- Quando Eu Acordei Tinha 33 Caras em Cima de Mim - Parte 1 - 03.06Documento5 páginasQuando Eu Acordei Tinha 33 Caras em Cima de Mim - Parte 1 - 03.06Marilene OliveiraAinda não há avaliações
- Violência Doméstica Contra As Mulheres: Uma Análise A Partir Do Conceito de Masoquismo Feminino e Sua Associação Com A RepetiçãoDocumento13 páginasViolência Doméstica Contra As Mulheres: Uma Análise A Partir Do Conceito de Masoquismo Feminino e Sua Associação Com A RepetiçãoMaria Eduarda Almeida PereiraAinda não há avaliações
- Feminicídio No Brasil - Gênero de Quem Mata e de QuemDocumento12 páginasFeminicídio No Brasil - Gênero de Quem Mata e de QuemKristhineAinda não há avaliações
- Ensinomedio Tpa TerceirasseriesDocumento13 páginasEnsinomedio Tpa Terceirasserieselisandra-martinsAinda não há avaliações
- Feminicídio, A Violência Contra As MulheresDocumento7 páginasFeminicídio, A Violência Contra As MulheresNivaldoAinda não há avaliações
- Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher: Um Cenário de Subjugação Do Gênero FemininoDocumento16 páginasViolência Doméstica E Familiar Contra A Mulher: Um Cenário de Subjugação Do Gênero FemininoSalvador HCAinda não há avaliações
- A+Nossa+Violência+de+Cada+ Ribeiro+e+FerreiraDocumento16 páginasA+Nossa+Violência+de+Cada+ Ribeiro+e+FerreiraVem que TemAinda não há avaliações
- TCC - Parte 1Documento14 páginasTCC - Parte 1Daniel IostAinda não há avaliações
- Políticas Públicas de Enfrentamento Ao FeminicidioDocumento19 páginasPolíticas Públicas de Enfrentamento Ao FeminicidioA angelAinda não há avaliações
- Alienação, Gênero e Raça Um Debate Necessário para A Formação em PsicologiaDocumento4 páginasAlienação, Gênero e Raça Um Debate Necessário para A Formação em Psicologiavitoria.aparecidaAinda não há avaliações
- Tipificar Ou Não Tipificar o Feminicídio?Documento17 páginasTipificar Ou Não Tipificar o Feminicídio?Gabriel Carvalho100% (1)
- Femi Nic IdioDocumento28 páginasFemi Nic IdioClara SantosAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Fabiane MeloDocumento3 páginasResenha Crítica Fabiane MelopsicofabianeAinda não há avaliações
- O discurso jurídico nos processos da Vara Maria da Penha: uma abordagem estilístico-discursivaNo EverandO discurso jurídico nos processos da Vara Maria da Penha: uma abordagem estilístico-discursivaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Questionário Unidade Iii - Sociologia Rural e UrbanaDocumento9 páginasQuestionário Unidade Iii - Sociologia Rural e UrbanaO DIÁRIO DE BÁRBARAAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa 1 - Semana 3Documento3 páginasAtividade Avaliativa 1 - Semana 3Dalcles FigueiredoAinda não há avaliações
- DODF 075 23-04-2021 INTEGRA-páginas-79-89Documento11 páginasDODF 075 23-04-2021 INTEGRA-páginas-79-89Marc ArnoldiAinda não há avaliações
- Descritores de PortuguêsDocumento4 páginasDescritores de PortuguêsAlbeni CostaAinda não há avaliações
- GOINFRA - NÃO ANALISADO PARA NÃO CONFLITAR COM LEI, QUE É MAIS ATUALIZADA - Diariooficial2021-07-29suplementocompletoDocumento5 páginasGOINFRA - NÃO ANALISADO PARA NÃO CONFLITAR COM LEI, QUE É MAIS ATUALIZADA - Diariooficial2021-07-29suplementocompletoyunnesAinda não há avaliações
- Manejo de Feridas Ruminantes 2023-1Documento46 páginasManejo de Feridas Ruminantes 2023-1Murilo EhlersAinda não há avaliações
- Modelo de Redação Tema Seguridade SocialDocumento2 páginasModelo de Redação Tema Seguridade Socialanebrazil6Ainda não há avaliações
- Sindrome IctericaDocumento28 páginasSindrome IctericaBeatriz Ribeiro FACSAinda não há avaliações
- (Contribuicao Escola Biblica Dominical) - 19.07.2015Documento3 páginas(Contribuicao Escola Biblica Dominical) - 19.07.2015kayokauamAinda não há avaliações
- 1681306645956ebook Enem Diagramado Fadesc 2023Documento17 páginas1681306645956ebook Enem Diagramado Fadesc 2023Luis FabianoAinda não há avaliações
- Gibi Do Mini-Handebol - Edição 1 - 2022 - CBHBDocumento24 páginasGibi Do Mini-Handebol - Edição 1 - 2022 - CBHBsamir lazzarottoAinda não há avaliações
- Descobrimento e Período Pré-ColonialDocumento9 páginasDescobrimento e Período Pré-ColonialNathan SilvaAinda não há avaliações
- Parâmetros Indicadores de Qualidade Da ÁguaDocumento74 páginasParâmetros Indicadores de Qualidade Da ÁguaDaniel MendonçaAinda não há avaliações
- Atividades 6ºano 1 ParteDocumento4 páginasAtividades 6ºano 1 ParteJuliana Marcos Ropelli ArantesAinda não há avaliações
- Hannah Arendt e A Banalidade Do MalDocumento149 páginasHannah Arendt e A Banalidade Do MalFIctício nome100% (2)
- MPR - CEO.001 Contexto Estratégico Da OrganizaçãoDocumento19 páginasMPR - CEO.001 Contexto Estratégico Da OrganizaçãoconsmetalsgiAinda não há avaliações
- POP IntradermoterapiaDocumento3 páginasPOP IntradermoterapiaFernando100% (1)
- E Jesus Nos Constituiu REINO E SACERDOTESDocumento2 páginasE Jesus Nos Constituiu REINO E SACERDOTESAdão Alves de FreitasAinda não há avaliações
- Lista de Assinatura - Integrado 2020Documento18 páginasLista de Assinatura - Integrado 2020Hildon CaradinhoAinda não há avaliações
- Guião de Trabalho - BabelDocumento6 páginasGuião de Trabalho - BabelsergioAinda não há avaliações
- Dai-Me Senhor Um Coração - C SilvaDocumento1 páginaDai-Me Senhor Um Coração - C SilvaJose guitarAinda não há avaliações
- Proposta de Atividades TemáticasDocumento11 páginasProposta de Atividades TemáticasProfessor Lamon NunesAinda não há avaliações
- Procon - Esclarecimentos - Picpay - Guilherme Tadeu Nunes SpirlandelliDocumento6 páginasProcon - Esclarecimentos - Picpay - Guilherme Tadeu Nunes SpirlandelliGuilherme SpirlandelliAinda não há avaliações
- Um Apólogo - Conto de Machado de Assis PDFDocumento1 páginaUm Apólogo - Conto de Machado de Assis PDFBrian I. KateAinda não há avaliações
- Avaliação - Unidade II_ Revisão da tentativaDocumento6 páginasAvaliação - Unidade II_ Revisão da tentativaMonica TeixeiraAinda não há avaliações