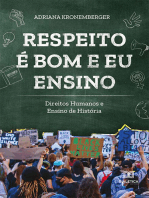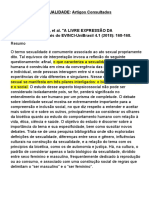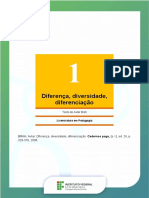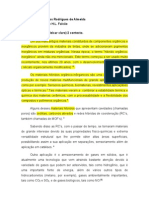Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Educação e Docência: Diversidade, Gênero e Sexualidade: Texto De: Guacira Lopes Louro Licenciatura em Pedagogia
Enviado por
Sonia Maria DiasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Educação e Docência: Diversidade, Gênero e Sexualidade: Texto De: Guacira Lopes Louro Licenciatura em Pedagogia
Enviado por
Sonia Maria DiasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Educação e docência:
diversidade, gênero e
sexualidade
Texto de: Guacira Lopes Louro
Licenciatura em Pedagogia
LOURO, Guacira Lopes et al. Educação e docência: diversidade, gênero e
sexualidade. Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação Docente, Belo
Horizonte, v. 3, ed. 04, p. 62-70, 2011.
ARTIGOS
Educação e docência: diversidade,
gênero e sexualidade
Guacira Lopes Louro1
RESUMO
Minha proposta é compartilhar e discutir com vocês algumas reflexões. Entendo que esse trabalho não
é apenas teórico, mas é também político. As questões em torno dos gêneros e das sexualidades não
envolvem apenas conhecimento ou informação, mas envolvem valores e um posicionamento político
diante da multiplicidade de formas de viver e de ser. Como a escola tem lidado com tudo isso? Como
nós, professoras e professores, nos vemos diante dessas questões? Quais são nossos pontos de apoio
e onde se encontram nossas fragilidades e receios?
PALAVRAS-CHAVE: docência, diversidade, gênero, sexualidade
Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1
62 Form. Doc., Belo Horizonte,v. 03, n. 04, p. 62-70, jan./jul. 2011.
Disponível em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br
INTRODUÇÃO
O tema “gênero e sexualidade” geralmente nos fascina, nos provoca curiosidade e está por toda parte. Falar
sobre prazer, desejo e amor pode ser ótimo e discutir como se experimentam todas essas coisas quando
se é uma mulher ou um homem, quer dizer, discutir se há distinções e aproximações nas experiências
ou nas vidas dos sujeitos masculinos e femininos também costuma provocar discussões acaloradas e
instigantes; mas, quando temos de encarar esses temas em nossa posição de educadoras e educadores,
as coisas parecem se complicar.
Há muito tempo venho estudando e trabalhando com essas questões. Por certo, não faço esse trabalho
sozinha, mas juntamente com muitos parceiros e parceiras: com meus colegas do GEERGE (Grupo de
Estudos de Educação e Relações de Gênero), com estudantes do Programa de Pós-graduação em Educação
da UFRGS, com muitos outros colegas e estudantes dos vários grupos e núcleos de estudo que se espalham
pelo Brasil e pelo exterior, e com tantas professoras e professores como vocês com quem tenho tido
oportunidade de dialogar. Tenho consciência, portanto, de que essas questões são muito importantes
para quem trabalha no campo da Educação, muito especialmente para quem lida, cotidianamente, com
crianças e adolescentes, para quem se vê desafiado a acolher e dar algum encaminhamento às dúvidas,
às perguntas e às situações que essas crianças e jovens constantemente nos colocam.
São muitas as possibilidades de encaminhar uma discussão dessas questões. Apresento a seguir quatro
pontos ou aspectos que poderão, mais adiante, ser desenvolvidos ou ampliados.
Em primeiro lugar, parece importante esclarecer como estou compreendendo os dois conceitos centrais
desta fala: gênero e sexualidade. Repetidos por todo mundo, nas mais diferentes situações, nas práticas
cotidianas, na mídia, na escola, etc., muitas vezes esses termos aparecem juntos, numa indicação de
que são dimensões da vida extremamente articuladas. Concordo com isso, mas acho que se pode dizer
que entre gênero e sexualidade, mais do que articulações há, muitas vezes, embaralhamentos, misturas,
confusões. Não me refiro apenas a indistinções conceituais, como aquelas que alimentam os debates
acadêmicos, mas me refiro, talvez de modo mais candente, às indistinções do senso comum – como
a noção de que é um “sujeito gay não passa, ao fim e ao cabo, de uma mulherzinha” ou a noção de
que é “impossível ser feminina e lésbica” –, noções que acabam por se naturalizar de tal modo que se
tornam quase imperceptíveis. Essas noções estão muito arraigadas em nossa cultura e lidamos com elas
constantemente em nossas escolas, na nossa família ou, até mesmo, dentro de nós. As consequências
políticas de noções desse tipo são demasiadamente importantes para que possam ser desprezadas. Por
isso, antes de mais nada, parece-me que vale a pena deixar clara a perspectiva que informa minha fala.
Há muito que estudiosas feministas procuram demonstrar a especificidade e, consequentemente, a
distinção entre gênero e sexualidade e, ao mesmo tempo, sua estreita articulação. Entre essas estudiosas,
o conceito de gênero surgiu pela necessidade de acentuar o caráter eminentemente social das diferenças
percebidas entre os sexos. Apontava para a impossibilidade de se ancorar no sexo (tomado de modo estreito
como características físicas ou biológicas dos corpos) as diferenças e desigualdades que as mulheres
experimentavam em relação aos homens. O conceito levava a afirmar que tornar-se feminina supõe uma
construção, uma fabricação ou um aprendizado que acontece no âmbito da cultura, com especificidades de
Form. Doc., Belo Horizonte,v. 03, n. 04, p. 62-70, jan./jul. 2011. 63
Disponível em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br
cada cultura. Portanto, as marcas da feminilidade são sempre diferentes de uma cultura para outra; essas
marcas se transformam, são provisórias. Inscrevê-las num corpo supõe, também, lidar com as marcas
distintivas do seu outro, a masculinidade. Percebe-se, então, que ao falar de gênero estamos nos referindo a
feminilidades e a masculinidades (sempre no plural). A potencialidade do conceito talvez resida exatamente
nesta noção, a de que se trata de uma construção cultural contínua, sempre inconclusa e relacional.
Apesar de algumas resistências, essas ideias já vêm sendo admitidas por muitos. Mas as coisas costumam
se complicar um pouco mais quando se trata da sexualidade. Inúmeras pesquisadoras e pesquisadores
comentam o quanto parece ser difícil admitir que a sexualidade também é construída culturalmente.
A dificuldade parece residir no fato de que, usualmente, se associa (às vezes até se reduz) a sexualidade à
natureza ou à biologia. E, quando se assume este modo de pensar, frequentemente, se supõe que a natureza
e a biologia constituem uma espécie de domínio à parte, alguma coisa que ficaria fora da cultura. Contrariando
essa posição, é interessante lembrar Jeffrey Weeks (1999), um destacado estudioso, que afirma que “as
possibilidades eróticas do animal humano, sua capacidade de ternura, intimidade e prazer nunca podem
ser expressadas ‘espontaneamente’, sem transformações muito complexas”. E as transformações a que
Weeks se refere podem ser entendidas como a linguagem, os jeitos, os códigos, enfim, todos os recursos
que usamos para expressar nossos desejos. É inegável que a forma como vivemos nossos prazeres e
desejos, os arranjos, jogos e parcerias que inventamos para pôr em prática esses desejos envolvem corpos,
linguagens, gestos, rituais que, efetivamente, são produzidos, marcados e feitos na cultura.
Aproximamos, portanto, gênero e sexualidade à medida que assumimos que ambos são construídos
culturalmente e, assim sendo, carregam a historicidade e o caráter provisório das culturas. Aprendemos
a ser um sujeito do gênero feminino ou masculino, aprendemos a ser heterossexuais, homossexuais
ou bissexuais, a expressar nossos desejos através de determinados comportamentos, gestos, etc., em
muitas instâncias – na família, na escola, através do cinema, da televisão, das revistas, da internet, através
das pregações religiosas ou da pregação da mídia ou ainda da medicina. Enfim, um porção de espaços e
instâncias exercitam pedagogias culturais ou, para o que nos interessa neste momento, exercitam pedagogias
de gênero e sexualidade (LOURO, 1999).
Diferentes sociedades e épocas atribuem significados distintos às posições de gênero, à masculinidade,
à feminilidade e também às várias expressões da sexualidade. Vale notar, imediatamente (e, a seguir,
pretendo retomar esse ponto) que as várias formas de viver a sexualidade e o gênero não gozam do
mesmo reconhecimento ou da mesma posição no contexto das sociedades – de qualquer sociedade.
Para dizer de um modo muito rude, mas também muito concreto, alguns sujeitos parecem “valer mais”
do que outro, parece que alguns “podem” mais do que outros. Os significados atribuídos aos gêneros
e às sexualidades são atravessados ou marcados por relações de poder e usualmente implicam em
hierarquias, subordinações, distinções. Implicada nessas classificações está uma noção muito utilizada
na contemporaneidade – a noção de diferença.
Esse é, precisamente, o segundo ponto que desejo enfocar: a questão da diferença. Quem é diferente?
Como ou a partir de que referências marcamos ou estabelecemos que alguém é diferente? O que
representa ser considerado diferente?
64 Form. Doc., Belo Horizonte,v. 03, n. 04, p. 62-70, jan./jul. 2011.
Disponível em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br
Para começo de conversa vale lembrar que a atribuição desse qualificativo – diferente – supõe, sempre,
alguma espécie de comparação. Mesmo que não se mencione explicitamente, quando dizemos que
alguém ou algo é diferente temos uma referência, estamos fazendo uma atribuição, uma nomeação que
supõe um lugar que não é diferente, uma posição ou um lugar que seria o não-marcado, o “normal”.
Na perspectiva teórica que trabalho, entendemos a diferença não como um “dado” que preexiste nos
corpos dos sujeitos para ser, simplesmente, reconhecido; mas, em vez disso, assumimos que a diferença
é sempre atribuída e nomeada no interior de uma determinada cultura. E, é claro, ela é atribuída a partir de
uma posição que se toma como referência. No contexto da sociedade brasileira, ao longo de sua história,
foi sendo produzida uma norma a partir do homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão.
Essa é nossa identidade referência, a identidade que não precisa ser mencionada porque é suposta, está
subentendida. Por isso os “outros”, os sujeitos “diferentes”, os “alternativos” ou os “problemáticos” serão,
em princípio, as mulheres, as pessoas não brancas, as não heterossexuais ou não-cristãs. Para perturbar
um pouco esta ordem, apenas como um exercício, proponho que experimentemos inverter essas posições
e que imaginemos o que aconteceria se quem é representado desse modo subordinado tivesse o direito
de falar de si mesmo e por si mesmo. Esses sujeitos deixariam, então, de ser “os outros”. Ninguém é,
afinal, essencialmente diferente, ninguém é essencialmente o outro; a diferença é sempre constituída a
partir de um dado lugar que se toma como centro e como referência.
Para indicar os sujeitos diferentes, são mobilizados marcadores simbólicos, materiais e sociais. Há lugares,
falas, gestos, profissões, atividades, sentimentos sobre os quais se costuma dizer que são de mulher e não
de homens. Há linguagens, espaços, moda, direitos, ofícios sobre os quais se costuma dizer que são para
gays e não para héteros. O processo segue além: direitos e políticas podem ser restritos a alguns e não
ser partilhados por outros; o acesso a serviços de saúde ou a uma série de outros recursos e privilégios
sociais podem ser reservados a determinados sujeitos, etc. O processo de diferenciação se faz, pois, através
de muitos marcadores, não apenas simbólicos, mas materiais e sociais. Marcadores que, muitas vezes,
acabam por disfarçar ou silenciar a construção do processo de diferenciação. A diferença nos aparece, então,
como natural, como dada. Ela fica, por assim dizer, grudada aos corpos. E aparentemente não há o que ser
feito senão reconhecê-la. Muitas vezes não chegamos a nos ver implicados com ela; acreditamos que não
temos nada a ver com isso, que nada fizemos ou nada fazemos para que ela exista. E, inconsequentemente,
repetimos ou ecoamos as marcações. Assumimos, irrefletidamente, a naturalização das diferenças. E esse
é um modo eficiente de ocultar ou de silenciar as relações de poder que as constituem.
Como educadoras e educadores precisaríamos, pois, voltar nosso olhar para os processos históricos,
políticos, econômicos, culturais que possibilitaram que uma determinada identidade fosse compreendida
como a identidade legítima e não-problemática e as demais como diferentes ou desviantes. Há que se
analisar também as formas como a escola tem lidado com essas questões.
Esse se constitui no terceiro ponto de minha fala e talvez aquele que parece nos tocar mais diretamente:
como a escola tem lidado com tudo isto? O que se tem dito ou feito em relação à tão falada diversidade
cultural (étnica/racial, de gênero, sexual)? Será que se pode dizer que hoje, a discriminação, o silêncio e
o segredo – especialmente em relação à diversidade sexual – estejam em processo de extinção ou, pelo
menos, estejam recuando?
Form. Doc., Belo Horizonte,v. 03, n. 04, p. 62-70, jan./jul. 2011. 65
Disponível em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br
Um dos termos que, frequentemente, é trazido à discussão quando se trata de diversidade cultural tem
sido o de multiculturalismo. Tenho algumas ressalvas a ele – mas não no sentido de negá-lo – e sim porque
me parece que é um termo ambíguo que merece ser discutido. A noção de multiculturalismo tanto pode
servir para abrandar divergências e acomodar histórias de subordinação quanto pode servir como alavanca
para a luta política e para a compreensão da formação histórica das diferenças.
Para alguns, talvez seja suficiente afirmar que distintos sujeitos e grupos convivem no contexto das atuais
sociedades e que seus saberes, seus comportamentos, sua ética fazem parte desse contexto e devem ser
respeitadas. Esse modo de encarar a questão parece que diz muito pouco sobre os choques e as disputas
que acompanham e que integram tal multiplicidade cultural. Parece supor ou sugerir, implicitamente, que
há uma coexistência, ou melhor, que existe uma convivência, um arranjo mais ou menos harmonioso da
diversidade. A palavra convivência lembra isso e indica, de algum modo, que a tolerância (da diferença)
seria o caminho possível para a harmonia.
Tudo isso é um tanto quanto escorregadio. A tolerância é associada ao diálogo e ao respeito e, portanto,
parece insuspeita. Mas pensemos atentamente: quem tolera? E quem é tolerado? A noção de tolerância
costuma ser ligada à condescendência, à permissão, à indulgência — atitudes que são exercidas, quase
sempre, por aquele ou por aquela que se vê como superior. Há uma assimetria nessa noção aparentemente
tão insuspeita. Essa perspectiva não coloca em xeque, efetivamente, a hierarquia, a classificação e os
conflitos que existem entre os vários grupos. Não se sacodem as relações de poder em funcionamento.
Uma sociedade multicultural poderia ser aquela na qual o convívio harmonioso tem chance de acontecer,
desde que cada um encontre o seu “devido” lugar e a ele se ajuste!
Certamente não advogo o monólogo ou a intolerância, mas sim a atenção crítica que desconfia da inocência
das palavras. Precisamos dirigir nosso olhar para além de uma simples mudança localizada ou particular
de atitudes. Ainda que essa mudança seja muito importante, precisamos empreender, também, uma
análise mais ampla da cultura, com uma preocupação política e coletiva.
Uma estudiosa canadense, Deborah Britzman, nos provocava, há alguns anos, perguntando: será que
encontramos, em nossas livrarias tão cheias de receitas, algum manual ensinando “Como criar seu filho gay”?
Ela afirmava que não, mas que o que estava disponível era “precisamente o oposto, ou seja, uma proliferação
de conselhos aos pais e aos educadores sobre como ‘curar’ a situação de gay” (BRITZMAN, 1996).
Mesmo agora, quando livrarias e programas de TV vendem autoajuda de todos os tipos, é mais provável
que encontremos várias sugestões para empreender pedagogias de ‘recuperação’ (qualquer dúvida, basta
acompanhar os depoimentos sensacionalistas dos canais religiosos).
Por que isso acontece? Por que essa preocupação especialmente no terreno da Educação? Acredito que
isso ocorre porque ela se constituiu, historicamente, como um campo normalizador e disciplinador. O campo
da Educação opera, muito expressivamente, na perspectiva da heteronormatividade – ou seja, dentro da
norma heterossexual, quer dizer, no entendimento de que todo mundo é, ou deveria ser, heterossexual.
66 Form. Doc., Belo Horizonte,v. 03, n. 04, p. 62-70, jan./jul. 2011.
Disponível em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br
Assumimos que esta seria a forma “natural” de sexualidade, esquecendo que todas as formas de viver a
sexualidade são construídas ao longo da vida, são aprendidas e controladas. Se a heterossexualidade fosse
natural, por que se gastaria tanto esforço para vigiar e garantir que meninas e meninos – muito especialmente
os meninos – se tornem heterossexuais? Afinal, se ela é mesmo algo natural, deveríamos supor que não
se precisasse cuidar tanto de sua “aquisição”. Mas sabemos que essa é uma questão que preocupa pais,
mães, educadoras e educadores. Um ponto de tensão e, algumas vezes, de atrito entre a escola e a família.
Ainda em relação à heteronormatividade, ou seja, a reiteração da heterossexualidade obrigatória, talvez se
possa dizer que esse processo, em nossa cultura, é exercido de modo mais intenso ou mais visível em relação
ao gênero masculino. Desde os primeiros anos de infância, os meninos são alvo de uma especialíssima
atenção na construção de uma sexualidade heterossexual. As práticas afetivas entre meninas e mulheres
parecem ter, entre nós, um leque de expressões mais amplo do que aquele admitido para garotos e homens.
A intimidade cultivada nas relações de amizade entre mulheres e a expressão da afetividade por proximidade
e toque físico podem borrar possíveis divisórias entre essas relações de amizade e relações amorosas e
sexuais. Daí que a homossexualidade feminina pode se constituir de forma mais invisível. Não que ela seja
fácil ou que não experimente discriminações. Abraços, beijos, mãos dadas, a atitude de “abrir o coração”
para a amiga/parceira são práticas comuns do gênero feminino em nossa cultura. Essas mesmas práticas
não são, contudo, estimuladas entre os meninos ou entre os homens. A “camaradagem” masculina tem
outras formas de manifestação: poucas vezes é marcada pela troca de confidências (muito comum entre
as mulheres); e o contato físico, ainda que plenamente praticado em algumas situações (nos esportes,
como no futebol, por exemplo), se dá cercado de maiores restrições entre eles do que entre elas (não só
em termos das áreas do corpo que podem ser tocadas como do tipo de toque que visto como adequado).
O processo de heteronormatividade não apenas se torna mais visível em sua ação sobre os sujeitos masculinos,
mas aparece aí, mais frequentemente, associado à homofobia. Pela lógica dicotômica que vivemos, os
discursos e as práticas que constituem o processo de masculinização implicam a negação de práticas ou
características referidas ao gênero feminino e essa negação se expressa, muitas vezes, por uma intensa
rejeição ou repulsa dessas práticas e marcas femininas (o que caracterizaria, no limite, a misoginia). Uma vida
sexual ativa – leia-se uma vida heterossexual ativa – parece ser um elemento recorrente na representação da
masculinidade (não acontecendo o mesmo em relação à feminilidade). Vale lembrar, por exemplo, o quanto
a impotência sexual é representada, em nossa cultura, como uma grave ameaça à identidade masculina.
Podemos dizer que os discursos e as práticas envolvidas no processo de masculinização se veem inundados
pela preocupação em afastar ou negar qualquer vestígio de desejo que não corresponda à norma sancionada.
O medo e a aversão pela homossexualidade são cultivados em associação à heterossexualidade.
Como bem sabemos, a homofobia circula pelos corredores e salas de aula, se insinua nos livros didáticos
e aparece escancarada nos recreios e nos banheiros. Temos de aguçar nosso olhar e tentar ficar atentos
para os processos que tecem as subordinações e hierarquias entre sujeitos e práticas sexuais, que
admitem e excluem individuos e grupos sociais.
Deborah Britzman lembra alguns dos medos que assombram educadores e educadoras profissionais,
pais e mães ao lidar com questões da sexualidade. Um deles é supor que falar sobre homossexualidade
Form. Doc., Belo Horizonte,v. 03, n. 04, p. 62-70, jan./jul. 2011. 67
Disponível em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br
pode levar garotos e garotas a se tornarem homossexuais; outro receio é de que aquele ou aquela que
fala sobre essa prática em termos simpáticos ou não preconceituosos possa vir a ser reconhecido como
gay ou lésbica. Para escapar desse perigo, muitos adultos preferem dizer que não sabem nada sobre a
homossexualidade, que não entendem disso, ainda que essa afirmação possa significar uma demonstração
de ignorância da sexualidade. Esse tipo de atitude – “não tenho nada a ver com isso” – nega o fato de
que as identidades sexuais são, todas, interdependentes, quer dizer, nega que as identidades sexuais
(como qualquer identidade) se fazem em relação umas com as outras. Para que alguém possa dizer eu
sou heterossexual, ele ou ela precisará, necessariamente, lidar com a identidade homossexual – ainda
que seja para negá-la, para dizer o que ele ou ela não é. A diferença é sempre construída numa relação.
Outra forma de lidar com a essa questão consiste na prática incentivada pelas instituições oficiais
de Educação de dedicar um dia ou um momento especial nas escolas para reconhecimento ou para
“inclusão” daqueles que, usualmente, estão fora dos currículos, dos livros didáticos. Essa estratégia
– promovida oficialmente através de datas comemorativas como, por exemplo, o dia da mulher, o dia
do índio, a semana da consciência negra ou da diversidade sexual – mantém a lógica a qual me referi
antes e que eu chamaria de uma lógica “separatista”, isto é, a lógica que supõe que as identidades e
práticas se fazem de forma autônoma, negando que essas sejam interdependentes. Criam-se, assim,
“eventos” que, circunstancialmente, destacam o diferente. Já escrevi sobre esta questão (LOURO, 2003):
momentaneamente, a Cultura (com C maiúsculo) cede um espaço em que manifestações especiais e
particulares são apresentadas e celebradas como exemplares de uma outra cultura ou da cultura do outro.
São estratégias que podem até tranquilizar a consciência dos planejadores, mas que, na prática, acabam
por manter o lugar especial e problemático das identidades “marcadas”. Aparentemente se promove
uma inversão, trazendo o “marginalizado” para o foco das atenções, mas o caráter excepcional desse
momento pedagógico reforça, mais uma vez, sua representação como diferente e estranho. Ao ocupar,
excepcionalmente, o lugar central, a identidade “marcada” continua representada como diferente, continua
sendo apresentada e referida pela ótica de quem é dominante.
Se dificuldades com relação à homossexualidade aparecem com frequência, as coisas parecem se complicar
ainda mais quando lembramos que, contemporaneamente, se tornaram visíveis muitas outras formas de
viver a sexualidade e os gêneros. Para educadoras e educadores parece muito complicado assumir que
as identidades de gênero e sexuais se “multiplicaram”; que há sujeitos que atravessam as fronteiras
desses territórios; sujeitos que inscrevem e misturam em seus corpos, deliberadamente, as marcas
da feminilidade e da masculinidade; sujeitos que aspiram a ambiguidade e a ambivalência. O campo da
Educação proclama, frequentemente, ideais de integração, inclusão, ajustamento. Mas como costumam
ser defendidos estes ideais? E, ainda para complicar um pouco mais: de que valem tais propósitos face
àqueles que não estão ansiosos por serem ‘integrados’ e que querem, menos ainda, ser tolerados? O
que fazer com quem quer viver como diferente?
O grande desafio talvez seja admitir que todas as posições sociais são circunstanciais, que nenhuma é
natural ou estável e que mesmo as fronteiras entre elas estão se desvanecendo. Essas meninas e rapazes
que nos parecem tão “estranhos” talvez possam nos ajudar a pensar que as formas como apresentamos
a nós próprios e aos outros são, sempre, formas inventadas e marcadas pelas circunstâncias culturais
68 Form. Doc., Belo Horizonte,v. 03, n. 04, p. 62-70, jan./jul. 2011.
Disponível em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br
em que vivemos. Todas as representações de gênero ou sexuais se fazem através de sinais e códigos
culturais. Afinal nós – que usualmente nos consideramos tão “normais” – também usamos uma série
de códigos, gestos, recursos para dizer quem somos, para nos apresentarmos e representarmos como
mulheres e homens diante da sociedade em que vivemos.
O quarto e último ponto que pensei enfocar trata dos campos inter ou multidisciplinares que se constituíram
articulados aos movimentos sociais e políticos de gênero e sexualidade e que vêm analisando essas
questões e produzindo conhecimento e teorias. Refiro-me aos Estudos Feministas, aos Estudos Gays,
Estudos Lésbicos e Estudos Queer. Quero comentá-los brevemente e também acenar para as possibilidades
de sua contribuição ao nosso trabalho como educadoras e educadores.
Esses campos teóricos já nos demonstraram que todas as formas de viver a sexualidade e os gêneros são
culturais, históricas e contingentes. As certezas que temos, as certezas com as quais nos acostumamos
por tanto tempo precisam ser colocadas em questão, ou melhor, precisam ser compreendidas no âmbito da
cultura e da transitoriedade. Há que se pensar que muitas das verdades científicas ou de outra ordem que
hoje regem nossa vida foram consideradas, há alguns anos, fantasias ou suposições ou loucuras. Parece,
pois, imprescindível que assumamos uma posição menos pretensiosa, menos carregada de autoridade
para definir sujeitos e práticas, para classificá-los como normais ou patológicos, muito especialmente
num campo tão complexo, tão interdisciplinar e tão carregado de emoções, afetos, crenças como é o
campo dos gêneros e da sexualidade.
Os Estudos Feministas, os Estudos Gays e Lésbicos e os Estudos Queer, bem como os movimentos
e grupos sociais ligados a esses campos vêm provocando importantes transformações nas formas de
conhecer, no que pode ser conhecido, no que vale a pena conhecer. Desafiando o monopólio masculino,
heterossexual e branco da Ciência, das Artes, ou da Lei, as chamadas “minorias” se afirmam e se autorizam
a falar sobre sexualidade, gênero, educação e cultura. Novas questões são colocadas a partir de suas
experiências e de suas histórias; noções consagradas de ética e de estética são perturbadas. Áreas e
temáticas consideradas, até então, pouco “dignas” de ocupar o espaço e o tempo dos sérios acadêmicos
passam a ser objeto de centros universitários e núcleos de pesquisa. O mundo do privado e do doméstico;
as muitas formas de viver o feminino e o masculino, a família, as relações amorosas, a maternidade e a
paternidade; o erotismo e o prazer fazem-se teses, escrevem-se livros, realizam-se seminários e cursos.
No campo da Educação, por exemplo, passamos a analisar as pedagogias da sexualidade exercidas pelo
cinema e pelas revistas masculinas ou as revistas de boa forma, pelos quadrinhos e desenhos animados,
pelos blogs e pelos livros de autoajuda, pela publicidade ou pelos bailes da terceira idade. Examinamos
currículos e programas escolares, brinquedos, jogos, salas de bate-papo virtuais como espaços onde se
constroem identidades de gênero e sexuais. Ampliou-se e complexificou-se, profundamente, o âmbito
da pesquisa educacional. Os campos teóricos que se constituíram a partir de ou em conjunto com os
movimentos sociais tiveram e continuando tendo efeitos imensos. Minha aposta é que as transformações
trazidas por esses campos ultrapassam o terreno dos gêneros e da sexualidade e podem nos levar a
pensar, de um modo renovado, não só a educação, mas a cultura, as instituições, o poder, as formas de
aprender e de estar no mundo.
Form. Doc., Belo Horizonte,v. 03, n. 04, p. 62-70, jan./jul. 2011. 69
Disponível em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br
REFERÊNCIAS
BRITZMAN, Deborah. O que é essa coisa chamada amor. Identidade homossexual, educação e currículo.
Revista Educação e Realidade. Porto Alegre: UFRGS, Faculdade de Educação, vol. 21, n. 1, jan./jun. 1996.
LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, Guacira (Org.). O corpo educado – pedagogias
da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
LOURO, Guacira Lopes. Currículo, gênero e sexualidade – o “normal”, o “diferente” e o “excêntrico”. In:
LOURO, Guacira Lopes; GOELLNER, Silvana Vilodre.; NECKEL, Jane Felipe (Orgs.). Corpo, gênero e sexualidade.
Um debate contemporâneo na Educação. Petrópolis: Vozes, 2003.
WEEKS, Jeffrey. O corpo e a sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado – pedagogias da
sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
70 Form. Doc., Belo Horizonte,v. 03, n. 04, p. 62-70, jan./jul. 2011.
Disponível em http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br
Você também pode gostar
- Educação, diversidade e identidade de gêneroDocumento9 páginasEducação, diversidade e identidade de gêneroepimastigotaAinda não há avaliações
- A diversidade sexual na educação e os direitos de cidadania LGBT na EscolaNo EverandA diversidade sexual na educação e os direitos de cidadania LGBT na EscolaAinda não há avaliações
- Cartilha - Diversidade Sexual Na EscolaDocumento33 páginasCartilha - Diversidade Sexual Na EscolaCássio Rebouças de Moraes100% (1)
- Gênero e diversidade: formação de educadoras/esNo EverandGênero e diversidade: formação de educadoras/esNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Diversidade de Gênero na EscolaDocumento3 páginasDiversidade de Gênero na EscolaVitória KarolineAinda não há avaliações
- 9 A Educação Dos CorposDocumento13 páginas9 A Educação Dos CorposLeo VerzolaAinda não há avaliações
- Pós e ContrasDocumento5 páginasPós e ContrasJhonata LopesAinda não há avaliações
- O Discurso Sobre Corpo, Gênero e Sexualidade - Uma Abordagem Na EducaçãoDocumento14 páginasO Discurso Sobre Corpo, Gênero e Sexualidade - Uma Abordagem Na EducaçãoAdriano AngeloAinda não há avaliações
- Tema para ArtigoDocumento1 páginaTema para ArtigolidianeAinda não há avaliações
- Sexlualidade e GeneroDocumento6 páginasSexlualidade e GeneroGêCuarauaraVianaAinda não há avaliações
- Desnaturalizando gênero: uma introdução às discussões conceituaisDocumento51 páginasDesnaturalizando gênero: uma introdução às discussões conceituaisVanessa SalgadoAinda não há avaliações
- É Possível Essa Abordagem Na Escola?: Irene Ferreira Da SilvaDocumento83 páginasÉ Possível Essa Abordagem Na Escola?: Irene Ferreira Da SilvaJeferson FerreiraAinda não há avaliações
- Sexualidade na Escola: Um Guia PráticoDocumento96 páginasSexualidade na Escola: Um Guia PráticoJeruza WilezilekAinda não há avaliações
- Etnicidades, Gênero e Educação: Olhares PluraisDocumento4 páginasEtnicidades, Gênero e Educação: Olhares PluraisKali RochaAinda não há avaliações
- Nome sui generis: o nome (social) como dispositivo de identificação de gêneroNo EverandNome sui generis: o nome (social) como dispositivo de identificação de gêneroAinda não há avaliações
- Diversidade sexual e Ensino de Ciências: buscando sentidos na percepção de professores e alunosDocumento160 páginasDiversidade sexual e Ensino de Ciências: buscando sentidos na percepção de professores e alunosthunder zoioAinda não há avaliações
- Deni TCCDocumento16 páginasDeni TCCFelipe SodoqueAinda não há avaliações
- 6.dialogos Interculturais EbookDocumento11 páginas6.dialogos Interculturais EbookbrunoAinda não há avaliações
- Trabalho SexualidadeDocumento7 páginasTrabalho SexualidadeAna VitóriaAinda não há avaliações
- Respeito é bom e eu ensino: Direitos Humanos e Ensino de HistóriaNo EverandRespeito é bom e eu ensino: Direitos Humanos e Ensino de HistóriaAinda não há avaliações
- Práticas Pedagógicas e Estudos de Gênero: valorização da diversidade e promoção de uma Cultura de PazNo EverandPráticas Pedagógicas e Estudos de Gênero: valorização da diversidade e promoção de uma Cultura de PazAinda não há avaliações
- Com que roupa você vai para aquela festa?: o consumo e seus desdobramentos sociais entre os jovens homossexuais no RecifeNo EverandCom que roupa você vai para aquela festa?: o consumo e seus desdobramentos sociais entre os jovens homossexuais no RecifeAinda não há avaliações
- Derivas da masculinidade: Representação, identidade e diferença no âmbito da masculinidade bissexualNo EverandDerivas da masculinidade: Representação, identidade e diferença no âmbito da masculinidade bissexualAinda não há avaliações
- Gênero e SexualidadeDocumento4 páginasGênero e SexualidadeIanael MoreiraAinda não há avaliações
- A INTERSECCIONALIDADE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA. Leni Rodrigues RamosDocumento22 páginasA INTERSECCIONALIDADE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA. Leni Rodrigues RamosQuezia MartinsAinda não há avaliações
- Gênero na sala de aula: cadernos escolares revelam conceitosDocumento12 páginasGênero na sala de aula: cadernos escolares revelam conceitosMARINA ZAPAROLI BERTELLOTTIAinda não há avaliações
- Roteiro DiáriodeCampoDocumento8 páginasRoteiro DiáriodeCampoDébora Janair Carlos de MelloAinda não há avaliações
- Síntese 1Documento3 páginasSíntese 1sphsv6ythzAinda não há avaliações
- Diversidade Sexual na Escola: Como Abordar o TemaDocumento20 páginasDiversidade Sexual na Escola: Como Abordar o TemaRebeca Resende de FreitasAinda não há avaliações
- Coletivo Leque promovendo diversidade na UFPRDocumento35 páginasColetivo Leque promovendo diversidade na UFPRGomes DomingosAinda não há avaliações
- O espaço e o ambiente escolar como elementos de mediação para o desenvolvimento das pessoas com deficiênciaNo EverandO espaço e o ambiente escolar como elementos de mediação para o desenvolvimento das pessoas com deficiênciaAinda não há avaliações
- Parteiras, Medicina e Ciência: políticas do parto e diálogos necessários na atenção à saúde da mulherNo EverandParteiras, Medicina e Ciência: políticas do parto e diálogos necessários na atenção à saúde da mulherAinda não há avaliações
- Currículos Como Narrativas e EstudosDocumento21 páginasCurrículos Como Narrativas e EstudosAnaAinda não há avaliações
- Gênero e Sexualidade na Cultura Universitária: Descortinando as LicenciaturasNo EverandGênero e Sexualidade na Cultura Universitária: Descortinando as LicenciaturasAinda não há avaliações
- GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO - Das Afinidades Políticas Às Tensões Teórico-MetodológicasDocumento13 páginasGÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO - Das Afinidades Políticas Às Tensões Teórico-MetodológicasVitor CarvalhoAinda não há avaliações
- Formação de professores de Educação Física: Diálogos e saberesNo EverandFormação de professores de Educação Física: Diálogos e saberesAinda não há avaliações
- Trabalho Ev117 MD1 Sa7 Id8476 22082018120945Documento12 páginasTrabalho Ev117 MD1 Sa7 Id8476 22082018120945Anderson DelfinoAinda não há avaliações
- Conhecimento e imaginação: Sociologia para o Ensino MédioNo EverandConhecimento e imaginação: Sociologia para o Ensino MédioNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Nesta Escola não há Lugar para Bichinhas: Diversidade Sexual e HomofobiaNo EverandNesta Escola não há Lugar para Bichinhas: Diversidade Sexual e HomofobiaAinda não há avaliações
- Desenhos-estórias e narrativas de adolescentes: representações sociais de estudantes moradores de periferia, qualidade de vida e suas leituras de mundoNo EverandDesenhos-estórias e narrativas de adolescentes: representações sociais de estudantes moradores de periferia, qualidade de vida e suas leituras de mundoAinda não há avaliações
- Aula 5_27_-5_2022_Corpo e genero na escolaDocumento47 páginasAula 5_27_-5_2022_Corpo e genero na escolaRose OliveiraAinda não há avaliações
- "A Gente só é, e Pronto!" Uma Análise Linguístico-Discursiva sobre os Impactos da Lgbtifobia na EscolaNo Everand"A Gente só é, e Pronto!" Uma Análise Linguístico-Discursiva sobre os Impactos da Lgbtifobia na EscolaAinda não há avaliações
- Formação Continuada de Professoras no Espaço-Tempo da Escola Infantil: Relações de Poderes e SaberesNo EverandFormação Continuada de Professoras no Espaço-Tempo da Escola Infantil: Relações de Poderes e SaberesAinda não há avaliações
- O Professor diante das relações de gênero na educação física escolarNo EverandO Professor diante das relações de gênero na educação física escolarAinda não há avaliações
- Educação sexual: retomando uma proposta, um desafioNo EverandEducação sexual: retomando uma proposta, um desafioNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- A Culpa é do Tabu: Conversando com Pais e Educadores de Crianças e Adolescentes sobre Sexualidade HumanaNo EverandA Culpa é do Tabu: Conversando com Pais e Educadores de Crianças e Adolescentes sobre Sexualidade HumanaAinda não há avaliações
- Educação Física, Identidade e DiferençaDocumento13 páginasEducação Física, Identidade e DiferençaMarguima0% (1)
- Diversidade No Ambiente EscolarDocumento29 páginasDiversidade No Ambiente EscolarGuilherme Augusto Gallassi PozzettiAinda não há avaliações
- Conceitos de Gênero, Etnia e Raça - Reflexões Sobre A Diversidade Cultural Na Educação EscolarDocumento7 páginasConceitos de Gênero, Etnia e Raça - Reflexões Sobre A Diversidade Cultural Na Educação EscolarCamila OliveiraAinda não há avaliações
- Gêneros Não-Binários Identidades Expressões e Educação PDFDocumento19 páginasGêneros Não-Binários Identidades Expressões e Educação PDFJuan Manuel TellateguiAinda não há avaliações
- Laura Marosin e Williames PaixãoDocumento15 páginasLaura Marosin e Williames PaixãoWilliamesAinda não há avaliações
- Psicologia, educação e aprendizagem escolarNo EverandPsicologia, educação e aprendizagem escolarAinda não há avaliações
- Texto 1: para Além Da Diversidade, A Diferença Referência: CARVALHO, Rosita Edler. Escola Inclusiva: A Organização Do TrabalhoDocumento58 páginasTexto 1: para Além Da Diversidade, A Diferença Referência: CARVALHO, Rosita Edler. Escola Inclusiva: A Organização Do TrabalhoLayrton ReinaldoAinda não há avaliações
- Relações de GêneroDocumento6 páginasRelações de GêneroLeticia SalisAinda não há avaliações
- @diversidade Na Educação Identidade Sexual e de Gênero Na EscolaDocumento13 páginas@diversidade Na Educação Identidade Sexual e de Gênero Na EscolaDina avilaAinda não há avaliações
- Sexualidade e identidade de gênero na escolaDocumento27 páginasSexualidade e identidade de gênero na escolaAlan David RobertsAinda não há avaliações
- Módulo 3 - Diversidade e EducaçãoDocumento24 páginasMódulo 3 - Diversidade e EducaçãoSonia Maria DiasAinda não há avaliações
- Módulo 6 - Diversidade e EducaçãoDocumento27 páginasMódulo 6 - Diversidade e EducaçãoSonia Maria DiasAinda não há avaliações
- O pensamento decolonial: análise, desafios e perspectivasDocumento12 páginasO pensamento decolonial: análise, desafios e perspectivasSonia Maria DiasAinda não há avaliações
- Diferença, diversidade e diferenciação na teoria feministaDocumento49 páginasDiferença, diversidade e diferenciação na teoria feministaSonia Maria DiasAinda não há avaliações
- Educação em Direitos Humanos segundo Paulo FreireDocumento14 páginasEducação em Direitos Humanos segundo Paulo FreireSonia Maria DiasAinda não há avaliações
- Manutenção de Sensores e Dispositivos de AutomaçãoDocumento86 páginasManutenção de Sensores e Dispositivos de AutomaçãoMax TjAinda não há avaliações
- Texto Commedia DellarteDocumento4 páginasTexto Commedia DellarteMalu CardimAinda não há avaliações
- Um Homem de Sorte - Michael J Fox+Documento144 páginasUm Homem de Sorte - Michael J Fox+Sandra Regina Jeronymo GaniniAinda não há avaliações
- Metodologia Da Pesquisa Científica: Professora: Cleide Henrique AvelinoDocumento32 páginasMetodologia Da Pesquisa Científica: Professora: Cleide Henrique AvelinoJoão Paulo BrambilaAinda não há avaliações
- Modelo de Planilha de Ensaio de Indice de Suporte CalifórniaDocumento1 páginaModelo de Planilha de Ensaio de Indice de Suporte CalifórniaWagner TeixeiraAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura 2Documento6 páginasFicha de Leitura 2WheldonAinda não há avaliações
- Prova Regular - Ciencia e Pesquisa - Modulo Abr.2022Documento4 páginasProva Regular - Ciencia e Pesquisa - Modulo Abr.2022Souza LarahAinda não há avaliações
- Lubrificação automática x manualDocumento18 páginasLubrificação automática x manualLincoln MartinsAinda não há avaliações
- Josephine PatersonDocumento11 páginasJosephine Patersonirislane-rodriguesAinda não há avaliações
- Arqueologia Amazônica: Sequências de ocupação e subsistência na Pré-História da AmazôniaDocumento2 páginasArqueologia Amazônica: Sequências de ocupação e subsistência na Pré-História da AmazôniaRodrigo Pereira Fernandes100% (1)
- ELPIS (Ensaio Sobre A Morte)Documento15 páginasELPIS (Ensaio Sobre A Morte)Marcelo LafontanaAinda não há avaliações
- A Teoria Da RelatividadeDocumento3 páginasA Teoria Da Relatividadewillian selhorstAinda não há avaliações
- Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais: Direitos e DeveresDocumento13 páginasAcidentes de Trabalho e Doenças Profissionais: Direitos e DeveresFarai BentoAinda não há avaliações
- Sumadur SP 530 VermelhoDocumento13 páginasSumadur SP 530 VermelhoJean Bmw100% (1)
- 2019 PaulaKarinaRodriguezBallesterosDocumento249 páginas2019 PaulaKarinaRodriguezBallesterosÉrica BabiniAinda não há avaliações
- Importância da adaptação ao meio líquido nas aulas de nataçãoDocumento15 páginasImportância da adaptação ao meio líquido nas aulas de nataçãoViniMonteiroAinda não há avaliações
- Cálculo: Derivadas parciaisDocumento17 páginasCálculo: Derivadas parciaisDiego Andrade Da SilvaAinda não há avaliações
- OYÁ e OXUM - irmãs inseparáveisDocumento29 páginasOYÁ e OXUM - irmãs inseparáveisSilvio AssisAinda não há avaliações
- Calculo de Vo2 em Repouso - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaCalculo de Vo2 em Repouso - Pesquisa GoogleMichelle DantasAinda não há avaliações
- A Minase A Midas 2017Documento37 páginasA Minase A Midas 2017Pedro MirandaAinda não há avaliações
- A Ilusão Do Conhecimento Humano Na Natureza Segundo NietzscheDocumento6 páginasA Ilusão Do Conhecimento Humano Na Natureza Segundo NietzscheKauan OliveiraAinda não há avaliações
- Artigo Comparação de Modelos Circuitais (ATP) e de Elementos Finitos (Comsol)Documento6 páginasArtigo Comparação de Modelos Circuitais (ATP) e de Elementos Finitos (Comsol)Kamello AssisAinda não há avaliações
- Periodo-Devoniano 1Documento7 páginasPeriodo-Devoniano 1kayceduardonunesdasilvaAinda não há avaliações
- GUIA DE APRENDIZAGEM SOBRE TEATRO DE ANIMAÇÃODocumento3 páginasGUIA DE APRENDIZAGEM SOBRE TEATRO DE ANIMAÇÃOMARCELO OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Manual Ambiental MilitarDocumento138 páginasManual Ambiental MilitarManuel AlexandreAinda não há avaliações
- Prof W História S7Documento2 páginasProf W História S7Juliano SilvaAinda não há avaliações
- Hermenêutica - Caderno Segunda Unidade PDFDocumento23 páginasHermenêutica - Caderno Segunda Unidade PDFGeovane PedreiraAinda não há avaliações
- MOFs para armazenamento de gasesDocumento2 páginasMOFs para armazenamento de gasesMarilia Gabriela FerreiraAinda não há avaliações
- Correção Das Atividades - 04 A 08 de Maio - 1º ColégioDocumento3 páginasCorreção Das Atividades - 04 A 08 de Maio - 1º ColégioEveraldo FermoselliAinda não há avaliações
- ManualDocumento2 páginasManualIgamezisAinda não há avaliações