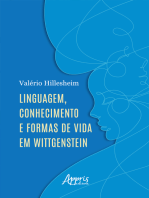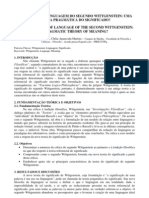Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Chacon, Daniel Ribeiro de Almeida. A Crítica Do Segundo Wittgenstein À Concepção Essencialista Da Linguagem Humana
Chacon, Daniel Ribeiro de Almeida. A Crítica Do Segundo Wittgenstein À Concepção Essencialista Da Linguagem Humana
Enviado por
Daniel RACTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Chacon, Daniel Ribeiro de Almeida. A Crítica Do Segundo Wittgenstein À Concepção Essencialista Da Linguagem Humana
Chacon, Daniel Ribeiro de Almeida. A Crítica Do Segundo Wittgenstein À Concepção Essencialista Da Linguagem Humana
Enviado por
Daniel RACDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Philo Artigo
Pensar-Revista Eletrônica da FAJE
v.5 n.2 (2014): 237-243
A CRÍTICA DO “SEGUNDO
WITTGENSTEIN” À CONCEPÇÃO
ESSENCIALISTA DA LINGUAGEM
HUMANA*
The "Second Wittgenstein’s" Critique to the Essentialist
Conception of Human Language
Daniel Ribeiro de Almeida Chacon**
Resumo
A problematização do presente artigo remete a uma hodierna intriga
filosófica, a saber: o problema da fundamentação metafísica da
linguagem humana. O objetivo aqui proposto é dissertar acerca dos
aspectos fundamentais da crítica realizada nas Investigações
Filosóficas de Wittgenstein à tese essencialista da linguagem. Nesse
sentido, o esforço aqui despendido para traçar, em linhas gerais, o
drama entre metafísica e linguagem em momento algum deve ser
interpretado como uma tentativa de construir uma exaustiva análise
dessa relação, nem mesmo se pretende realizar uma síntese das
Investigações Filosóficas. Ainda, o método utilizado neste labor
acadêmico é o da revisão bibliográfica.
Palavras-Chave: Linguagem; Investigações Filosóficas; Essência.
*
Artigo enviado em 04/08/2014 e aprovado para publicação em 04/11/2014.
**
Mestrando em Filosofia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (bolsista pela CAPES); Especialista
em Ciências da Religião e em Educação (Inspeção Escolar e Supervisão Escolar) e Licenciado em
Pedagogia, ambos pela Faculdade de Educação e Tecnologia - Fetremis; Licenciado em Filosofia pela
Universidade Católica de Brasília; Bacharelando em Filosofia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia
e Bacharel em Teologia pelo Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix (FATE-BH). Tem atuado
como professor no Seminário Batista de Minas Gerais no curso de Bacharel em Teologia.
Pensar-Revista Eletrônica da FAJE v.5 n.2 (2014)
237237237
Abstract
The questioning of this article refers to a present-day philosophical
intrigue, namely: the problem of the metaphysical foundation of
human language. The proposed objective here is to write about the
fundamental aspects of the critique held in the Philosophical
Investigations of Wittgenstein to the essentialist thesis of language.
In this sense, the effort expended here to draw, in general lines, the
drama between Metaphysics and Language should not, at any time,
be interpreted as an attempt to build a comprehensive analysis of this
relationship, nor is there an intention to create a synthesis of
Philosophical Investigations. Still, the method used in this work is a
review of academic literature.
Keywords: Language; Philosophical Investigations; Essence.
Introdução
De maneira proficiente, o “segundo” Wittgenstein,
especialmente nas Investigações Filosóficas, questiona a tese
essencialista da linguagem, isto é, a tese que propõe uma
fundamentação ontológica como condição de possibilidade da
linguagem humana. Para ele, a significação das palavras ocorre no
contexto “sócio-prático” em que são utilizadas. Por conseguinte,
qualquer esforço de sustentar uma essência que transcenda os
signos linguísticos é, segundo Wittgenstein, problemático.
Com efeito, o presente artigo em momento algum deve ser
interpretado como uma tentativa de construir uma exaustiva análise
crítica das relações entre metafísica e linguagem, nem mesmo
pretende-se, aqui, realizar uma síntese das Investigações Filosóficas.
A pretensão dessa investigação se reduz a uma abordagem
introdutória da crítica de Wittgenstein ao problema da relação direta
entre linguagem e ontologia. Ainda, o método utilizado neste labor
acadêmico é o da revisão bibliográfica.
A crítica à concepção essencialista da linguagem
Nas Investigações Filosóficas, Wittgenstein questiona os
pressupostos epistemológicos da concepção essencialista da
linguagem, em especial, a ideia de um mundo em si, de uma essência
que prescinda da linguagem e que, apenas posteriormente, seria por
ela captado.
Pensar-Revista Eletrônica da FAJE v.5 n.2 (2014)
238238238
Segundo esta concepção essencialista, a inteligibilidade
presente na comunicação humana pressupõe um fundamento
objetivo. Esse fundamento é o que proporcionaria a possibilidade
para a unidade de sentido das palavras. Ora, o fundamento objetivo
da linguagem que garantiria esta unidade de sentido seria, conforme
esta concepção, a essência1.
Com efeito, a análise da estrutura da linguagem estaria
associada a uma investigação ontológica como condição de
possibilidade para a comunicação humana. Nesse sentido, as relações
estabelecidas no plano discursivo seriam semelhantes às relações que
ocorrem na esfera ontológica.
Para o segundo Wittgenstein, a linguagem não é um mero
instrumento da comunicação de conteúdos previamente adquiridos,
antes a linguagem se constitui como a condição de possibilidade do
próprio conhecimento humano. Ainda, nas Investigações Filosóficas,
Wittgenstein questiona o modelo ideal de exatidão da linguagem, ou
seja, a correspondência objetiva entre linguagem e mundo. Tal
interpretação é, segundo essa obra, inverossímil, pois um ideal de
exatidão, desvinculado das situações concretas do uso da linguagem,
não possui sentido.
Contrariando a compreensão de que a linguagem é
caracterizada por uma identidade estrutural entre o mundo dos fatos
e o mundo do pensamento 2, Wittgenstein, agora, postula que as
regras da linguagem não possuem uma relação pari passu entre a
estrutura do pensamento e a estrutura do mundo.
“Assim, pois, você diz que o acordo entre os homens
decide o que é correto e o que é falso?” Correto e falso
é o que os homens dizem, e na linguagem os homens
estão de acordo. Não é um acordo sobre as opiniões,
mas sobre o modo de vida3.
Nessa segunda fase do pensamento de Wittgenstein não
existem fronteiras definitivas no uso das palavras, ou seja, a
significação das palavras não possui um sentido único 4. Para
Wittgenstein a significação das palavras ocorre no contexto “sócio-
prático” em que são utilizadas.
1
Cf. OLIVEIRA, 1996, p.119-122.
2
TLP §4.01
3
IF §241
4
Mesmo o significado de conceitos característicos das Investigações Filosóficas, tais como “jogo de
linguagem” e “gramática”, por via, são imprecisos e vagos. Somente o contexto em que são utilizados é
capaz de esclarecê-los. Cf. SPANIOL, 1989, p. 83.
Pensar-Revista Eletrônica da FAJE v.5 n.2 (2014)
239239239
Pode-se, para uma grande classe de casos de utilização
da palavra significação – se não para todos os casos de
sua utilização – explica-la assim: A significação de uma
palavra é seu uso na linguagem5.
A significação das palavras ocorre na situação concreta da vida
em que os homens se comunicam, em outros termos, a linguagem é
uma forma de expressão da ação comunicativa interpessoal. No
“segundo” Wittgenstein, portanto, a linguagem é “forma de vida” do
homem.
A estreita relação entre uso e significação marca o aspecto
fundamental da reviravolta linguístico-pragmática nas Investigações
Filosóficas6. Apenas em meio ao contexto sócio-prático é que se
estabelece a significação de uma palavra. Com efeito, a análise das
significações das palavras não prescinde do contexto global da vida,
dos múltiplos contextos do uso das palavras.
Situações diversas, isto é, formas de vida diversas podem gerar
significações das mais variadas a uma mesma palavra. Assim, o
contexto vital é o “sistema de referência” para o uso e significação
das palavras. Por conseguinte, Wittgenstein condiciona as
significações linguísticas ao fenômeno social, rompendo, assim, com
a clássica concepção de uma significação essencialista das palavras.
Dessa forma, o autor questiona a concepção essencialista que
atribui ao conceito de significação uma fundamentação ontológica, ou
seja, segundo as Investigações Filosóficas qualquer esforço de
sustentar uma essência que transcenda os signos linguísticos é
inautêntico7.
“Quando os filósofos usam uma palavra “saber”, “ser,
“objeto”, “eu”, “proposição”, “nome” – e procuram
apreender a essência da coisa, deve-se sempre
perguntar: essa palavra é usada de fato desse modo na
linguagem que ela existe? Nós reconduzimos as
palavras do seu emprego metafísico para seu emprego
cotidiano.8
A linguagem não possui uma essência que possa ser
desenvolvida em termos de uma teoria unitária9. Ao contrário,
Wittgenstein compreende a linguagem enquanto uma complexa
atividade de vida. Nesse sentido, ele utiliza a expressão “jogo de
5
IF §43
6
Cf. CONDÉ, 1998, p. 88-89
7
Cf. CONDÉ, 1998, p. 43
8
IF §116.
9
Cf. GRAYLING, 2002, p. 96.
Pensar-Revista Eletrônica da FAJE v.5 n.2 (2014)
240240240
linguagem” 10 para acentuar que nas diferentes situações concretas
da vida, apresentam-se diferentes regras. Com efeito, a partir da
situação concreta da vida é que se estabelece os sentidos das
construções linguísticas11:“O termo ‘jogo de linguagem’ deve aqui
salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou
de uma forma de vida”12.
A compreensão da linguagem enquanto jogo não visa velar as
diferenças entre ambos, antes destaca as numerosas e consideráveis
semelhanças latentes entre jogos e linguagem:
Observe p. ex., os processos a que chamamos “jogos”.
Tenho em mente os jogos de tabuleiro, os jogos de
cartas, o jogo de bola, os jogos de combate, etc. O que
é comum a todos estes jogos? – Não: “tem que haver
algo que lhes seja comum, do contrário não se
chamariam ‘jogos’”– mas olhe se há algo que seja
comum a todos. – Porque, quando olhá-los, você não
verá algo que seria comum a todo, mas verá
semelhanças, parentescos, aliás, uma boa quantidade
deles... E o resultado dessa observação é: vemos uma
complicada rede de semelhanças que se sobrepõe umas
às outras e se entrecruzam... Não posso caracterizar
melhor essas semelhanças do que por meio das
palavras ‘semelhanças de família’; pois assim se
sobrepõe e se entrecruzam as várias semelhanças que
existem entre os membros de uma família: estaturas,
traços fisionômicos, cor dos olhos, andar,
temperamento etc. – E eu direi: os ‘jogos’ formam uma
família.13
As relações entre linguagem e jogo buscam evidenciar a
autonomia própria da linguagem. Semelhante à arte que traduz a si
mesma, a expressão “jogo de linguagem” ilustra a ideia de que tudo
se decide no próprio âmbito da linguagem.
Destarte, nas Investigações Filosóficas, a linguagem irrompe
como um complexo e ambíguo fenômeno histórico e social fruto da
liberdade criativa do ser humano. À vista disso, a linguagem não se
reduz a um mero correlato sensível de um ato projetivo da mente,
nem sequer tem seu escopo na comunicação do pensamento para
outras mentes, nem poderia ser considerada como um mero produto
10
O conceito de linguagem enquanto jogo, que ganhou notoriedade nas Investigações Filosóficas, não é
uma propriedade exclusiva dessa obra, antes já se encontrara presente na obra The Blue and Brown
Books (1933-1995). Cf. SIMÕES, 2008, p. 116-117.
11
“Chamarei também de “jogos de linguagem” o conjunto da linguagem e das atividades com as quais
está ligada”. IF §7.
12
IF §23.
13
IF §66-67.
Pensar-Revista Eletrônica da FAJE v.5 n.2 (2014)
241241241
de um determinado raciocínio, antes, ela é interpretada como parte
da própria história natural e social do ser humano.
Considerações finais
O conhecimento verdadeiro foi, por vezes, associado à captação
da estrutura ontológica da realidade que, posteriormente, era
comunicada na linguagem. A análise da linguagem, em última
instância, dependeria, singularmente, da estrutura ontológica da
própria realidade, de sorte que, a relação pari passu entre linguagem
e ontologia se fixaria como a condição de possibilidade da linguagem
humana.
O “segundo” Wittgenstein, especialmente nas Investigações
Filosóficas, questionou a tese essencialista da linguagem. Nessa
obra, a significação de uma palavra está diretamente vinculada à sua
utilização nas diversas situações e contextos da vida. Por
conseguinte, a linguagem é um complexo e ambíguo fenômeno
histórico e social.
Destarte, para o “segundo” Wittgenstein, qualquer esforço de
sustentar uma essência que transcenda os signos linguísticos e o
contexto em que estão situados seria produto de uma mera ilusão
metafísica.
Referências Bibliográficas
CONDÉ, Mauro Lúcio. Wittgenstein linguagens e mundo. São Paulo:
Annablume, 1996.
. As teias da Razão: Wittgenstein e a crise da racionalidade
moderna. Belo Horizonte: Argumentum: 2004.
GRAYLING, A. C. Wittgenstein. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
OLIVEIRA, Manfredo A, de. Reviravolta linguístico-pragmática na
filosofia contemporânea. 3ed. São Paulo: Edições Loyola, 1996.
SIMÕES, Eduardo. Wittgenstein e o problema da linguagem. Belo
Horizonte: Argumentum: 2008.
SPANIOL, Werner. Filosofia e método no segundo Wittgenstein. São
Paulo: Edições Loyola, 1989.
Pensar-Revista Eletrônica da FAJE v.5 n.2 (2014)
242242242
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas, Coleção “Os
Pensadores”, São Paulo: Abril Cultural, 1979.
. Tractatus Logico-Philosophicus. 3ed. São Paulo: EDUSP,
2001.
Pensar-Revista Eletrônica da FAJE v.5 n.2 (2014)
243243243
Você também pode gostar
- Historiasincriveisedicaodigitalreduzida SEMIMAGENS PDFDocumento65 páginasHistoriasincriveisedicaodigitalreduzida SEMIMAGENS PDFDownFlat IconAinda não há avaliações
- Livro Como Enxergar A Luz Versão DigitalDocumento204 páginasLivro Como Enxergar A Luz Versão DigitalRita SampaioAinda não há avaliações
- WITTGEINSTEIN. Contra o Enfeitiçamento Da LinguagemDocumento9 páginasWITTGEINSTEIN. Contra o Enfeitiçamento Da LinguagemFernanda CarolinaAinda não há avaliações
- Semântica e Linguistica TextualDocumento47 páginasSemântica e Linguistica TextualDEBORA HRADEC100% (5)
- A Propósito Da Análise Automática Do Discurso Atualização e PerspectivasDocumento7 páginasA Propósito Da Análise Automática Do Discurso Atualização e PerspectivasEdimar SartoroAinda não há avaliações
- Escola e CurriculoDocumento80 páginasEscola e Curriculotrick2Ainda não há avaliações
- Projeto Político Pedagógico Da Escola - Prof - Dr.paulo Gomes LimaDocumento14 páginasProjeto Político Pedagógico Da Escola - Prof - Dr.paulo Gomes LimaPaulo Gomes LimaAinda não há avaliações
- Terapia Faz BemDocumento56 páginasTerapia Faz BemRivânia CarvalhoAinda não há avaliações
- Adm, RIC 330 para PublicacaoDocumento11 páginasAdm, RIC 330 para PublicacaoRenato AlexandreAinda não há avaliações
- A Teoria Da Linguagem Ordinária - Paulo AlcoforadoDocumento22 páginasA Teoria Da Linguagem Ordinária - Paulo AlcoforadoLucasAinda não há avaliações
- Artigo FiloteológicaDocumento14 páginasArtigo FiloteológicaMauricio Silva AlvesAinda não há avaliações
- Jogos de LinguagemDocumento10 páginasJogos de LinguagemArtur Alves100% (2)
- 1678 5177 Pusp 28 02 00224Documento6 páginas1678 5177 Pusp 28 02 00224Nattana BritoAinda não há avaliações
- Texto Dissertativo (Final)Documento3 páginasTexto Dissertativo (Final)Karla MendesAinda não há avaliações
- O Desenvolvimento Do Conceito de Intertextualidade - Antonio Carlos Rodrigues de FreitasDocumento16 páginasO Desenvolvimento Do Conceito de Intertextualidade - Antonio Carlos Rodrigues de FreitasDiego100% (1)
- O Giro LinguísticoDocumento22 páginasO Giro Linguísticoleo_corsiniAinda não há avaliações
- Filosofia Da Linguagem: Um Paralelo Entre Wittgenstein e NietzscheDocumento8 páginasFilosofia Da Linguagem: Um Paralelo Entre Wittgenstein e NietzscheMarcelo ManoelAinda não há avaliações
- Int. GeralDocumento7 páginasInt. GeraljukuetassoAinda não há avaliações
- ORLANDI - Discurso, Imaginário Social e Conhecimento (1994)Documento14 páginasORLANDI - Discurso, Imaginário Social e Conhecimento (1994)milton_mauadcAinda não há avaliações
- Artigo Orlandi DiscursoDocumento7 páginasArtigo Orlandi Discursocibele dal corsoAinda não há avaliações
- ORLANDI Eni, A Análise de Discurso em Suas Diferentes Tradições Intelectuais - o BrasilDocumento18 páginasORLANDI Eni, A Análise de Discurso em Suas Diferentes Tradições Intelectuais - o BrasilEDisPALAinda não há avaliações
- AULA 3 - Gêneros Textuais Breve HistóricoDocumento15 páginasAULA 3 - Gêneros Textuais Breve HistóricoJorge GreyAinda não há avaliações
- 2 Avl FilosDocumento8 páginas2 Avl FilosLanna SouzaAinda não há avaliações
- Linguagem, Conhecimento e Formas de Vida em WittgensteinNo EverandLinguagem, Conhecimento e Formas de Vida em WittgensteinAinda não há avaliações
- A Linguagem No Tractatus de WittgensteinDocumento5 páginasA Linguagem No Tractatus de Wittgensteinhelio_bacAinda não há avaliações
- Analise Do DiscursoDocumento7 páginasAnalise Do DiscursoAlice MartinsAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso PARA BAKHTINDocumento9 páginasAnálise Do Discurso PARA BAKHTINAlice LuzAinda não há avaliações
- Revista Educação Pública - Wittgenstein e Os Jogos de LinguagemDocumento3 páginasRevista Educação Pública - Wittgenstein e Os Jogos de LinguagemGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Um DialogoDocumento13 páginasUm DialogoRPS83Ainda não há avaliações
- 1 Análise Crítica Da Filosofia de WittgensteinDocumento2 páginas1 Análise Crítica Da Filosofia de WittgensteinRoberto BragaAinda não há avaliações
- BenvenisteDocumento16 páginasBenvenisteClaudiene DinizAinda não há avaliações
- Texto e Interação VerbalDocumento2 páginasTexto e Interação VerbalAna Claudia Zwirtes WitthölterAinda não há avaliações
- PINHEIRO DA SILVA - A Linguística Do Séc. XX - Balanço CríticoDocumento6 páginasPINHEIRO DA SILVA - A Linguística Do Séc. XX - Balanço CríticoRenata Kabke PinheiroAinda não há avaliações
- TAFURI, L. - Análise de DiscursoDocumento31 páginasTAFURI, L. - Análise de DiscursoFamília Lins AnunciaçãoAinda não há avaliações
- A Linguagem e Seus Limites - Pensamento ExtemporâneoDocumento2 páginasA Linguagem e Seus Limites - Pensamento ExtemporâneoFranciscoAinda não há avaliações
- Atos de FalaDocumento12 páginasAtos de FalaThiago GomezAinda não há avaliações
- Filosofia Da Linguagem - Introdução e Principais AutoresDocumento14 páginasFilosofia Da Linguagem - Introdução e Principais AutoresFernando JuniorAinda não há avaliações
- Texto para BakhtinDocumento4 páginasTexto para BakhtinPaulo VictorAinda não há avaliações
- Semântica e PragmáticaDocumento3 páginasSemântica e PragmáticaEvelinAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso - MussalinDocumento4 páginasAnálise Do Discurso - MussalinAllan DieguhAinda não há avaliações
- A Tradução Como Atividade de Desenvolvimento Da Criticidade em Sala de AulaDocumento13 páginasA Tradução Como Atividade de Desenvolvimento Da Criticidade em Sala de AulabealettresAinda não há avaliações
- Língua, Discurso, Ideologia, Sujeito, SentidoDocumento5 páginasLíngua, Discurso, Ideologia, Sujeito, SentidoRafael Rangel WinchAinda não há avaliações
- Ha Separacao Entre Lingua e DiscursoDocumento17 páginasHa Separacao Entre Lingua e DiscursoCustodio CossaAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso - O Discurso Na Visão de Bakhtin - PERSPECTIVA FOCAL - TMDocumento6 páginasAnálise Do Discurso - O Discurso Na Visão de Bakhtin - PERSPECTIVA FOCAL - TMingridAinda não há avaliações
- Artigo BakhtinDocumento4 páginasArtigo BakhtinAlefemartinsAinda não há avaliações
- Concepções de Linguagem e Exercícios de Livros Didáticos: Uma Visão Crítica Sob o Ponto de Vista BakhtinianoDocumento9 páginasConcepções de Linguagem e Exercícios de Livros Didáticos: Uma Visão Crítica Sob o Ponto de Vista BakhtinianoFernando Soares Ferreira de SantanaAinda não há avaliações
- Semantica e Linguistica TextualDocumento47 páginasSemantica e Linguistica TextualVanessa FariaAinda não há avaliações
- Anais Do 6º Encontro Celsul - Círculo de Estudos Lingüísticos Do SulDocumento11 páginasAnais Do 6º Encontro Celsul - Círculo de Estudos Lingüísticos Do SulLiteracia SapiensAinda não há avaliações
- Resenha - Os Gêneros Do Discurso de BakhtinDocumento4 páginasResenha - Os Gêneros Do Discurso de BakhtinLudmilla Alves100% (1)
- Wittgenstein e Os Jogos de LinguagemDocumento3 páginasWittgenstein e Os Jogos de LinguagemGlauber PinheiroAinda não há avaliações
- Estudos Semióticos: em Busca Do Sentido Perdido: ResumoDocumento14 páginasEstudos Semióticos: em Busca Do Sentido Perdido: ResumoSilviaAinda não há avaliações
- O Pensamento e o DiscursoDocumento3 páginasO Pensamento e o Discursojorgmarta2952100% (1)
- A Filosofia Da Linguagem Do Segundo Witt Gen SteinDocumento2 páginasA Filosofia Da Linguagem Do Segundo Witt Gen SteinVitor Duarte FerreiraAinda não há avaliações
- Apostila - SemânticaDocumento12 páginasApostila - SemânticaMad HatterAinda não há avaliações
- Perguntas e Respostas - Emily Da CostaDocumento5 páginasPerguntas e Respostas - Emily Da Costa- emilyAinda não há avaliações
- Resumo CríticoDocumento2 páginasResumo Crítico2bpastoriniAinda não há avaliações
- Relação Entre Linguagem e PensamentoDocumento8 páginasRelação Entre Linguagem e PensamentoEva Cristina FranciscoAinda não há avaliações
- Wittgenstein e A Poesia Como Terapia GraDocumento11 páginasWittgenstein e A Poesia Como Terapia GraDavi JoséAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso e Linguística TextualDocumento6 páginasAnálise Do Discurso e Linguística TextualfriendbrasilshuAinda não há avaliações
- Vozes e Silêncio No Texto de Pesquisa PDFDocumento13 páginasVozes e Silêncio No Texto de Pesquisa PDFLimariamaAinda não há avaliações
- Maingueneau, D.Documento10 páginasMaingueneau, D.Ehidee Gomez La Rotta100% (1)
- Joselita Rodrigues Rodovalho ResilenciaDocumento15 páginasJoselita Rodrigues Rodovalho ResilenciaSilvinaCabrejasAinda não há avaliações
- A Criogenia Encarnacional Terrestre (Falsa QuestãoDocumento12 páginasA Criogenia Encarnacional Terrestre (Falsa Questãolatino100% (1)
- Prova FilosofiaDocumento7 páginasProva FilosofiaMaria LuisaAinda não há avaliações
- Literatura Infantil Mocambicana - ArtigoDocumento5 páginasLiteratura Infantil Mocambicana - ArtigoBianca Bratkowski100% (1)
- O Professor e Sua PraticaDocumento10 páginasO Professor e Sua PraticaCarla Bruck CapoutoAinda não há avaliações
- Néspoli EDocumento93 páginasNéspoli EWeber CooperAinda não há avaliações
- O Pensar Complexo e o Olhar Fenomenologico Da FormDocumento15 páginasO Pensar Complexo e o Olhar Fenomenologico Da FormMacilene AraujoAinda não há avaliações
- A Importancia Do Orientaçao Vocacional e Profissional MarinhaDocumento5 páginasA Importancia Do Orientaçao Vocacional e Profissional MarinhaMarcelle Verginio LimaAinda não há avaliações
- Elsa e Fred - Resenha CríticaDocumento4 páginasElsa e Fred - Resenha CríticaClaudiony AzevêdoAinda não há avaliações
- Literatura Afro-Brasileira Possibilidades de Uma Consciência Negra PDFDocumento14 páginasLiteratura Afro-Brasileira Possibilidades de Uma Consciência Negra PDFKamila CunhaAinda não há avaliações
- Prova de Fundamentos Antropologicos e SociologicosDocumento2 páginasProva de Fundamentos Antropologicos e SociologicosHeric Gomes100% (1)
- DARSANAS E SAMPRADAYAS-2022-oficialDocumento30 páginasDARSANAS E SAMPRADAYAS-2022-oficialLucio Valera100% (2)
- Kornis - Mônica Almeida - História e Cinema Um Debate MetodológicoDocumento14 páginasKornis - Mônica Almeida - História e Cinema Um Debate Metodológicopolinha_182Ainda não há avaliações
- DESCARTES. Objeções e RespostasDocumento64 páginasDESCARTES. Objeções e RespostasSannabria100% (3)
- Sobre A DialeticaDocumento2 páginasSobre A DialeticaCharles HopeAinda não há avaliações
- 03 - O Fabuloso Livro Verde - Andrew LangDocumento453 páginas03 - O Fabuloso Livro Verde - Andrew LangHelton Adelino da Silva Santos0% (1)
- Emancipação, Estou AQUIDocumento6 páginasEmancipação, Estou AQUIJULIO OCIREU SOUZAAinda não há avaliações
- Viagens e Viajantes Na Literatura: A Travessia de Guimarães RosaDocumento13 páginasViagens e Viajantes Na Literatura: A Travessia de Guimarães RosaAryanna OliveiraAinda não há avaliações
- CondicionantesLegaisparaEducaodasRelaestnico Raciais 28 04 20152 PDFDocumento73 páginasCondicionantesLegaisparaEducaodasRelaestnico Raciais 28 04 20152 PDFPriscila CerqueiraAinda não há avaliações
- Objetos - Indigenas - Vivos - em - Museus - Temas 2 PDFDocumento23 páginasObjetos - Indigenas - Vivos - em - Museus - Temas 2 PDFRenato AthiasAinda não há avaliações
- A Mente e o Medo - Jiddu Krishnamurti PDFDocumento99 páginasA Mente e o Medo - Jiddu Krishnamurti PDFKalil Morais Martins100% (2)
- Geopolítica Da CafetinagemDocumento9 páginasGeopolítica Da CafetinagemRenato Müller PintoAinda não há avaliações
- TCC Versao Final GustavoRachidDutra V3 BibliotecaDocumento56 páginasTCC Versao Final GustavoRachidDutra V3 BibliotecaNICOLAS BENEDICTO ALMEIDAAinda não há avaliações
- Marcos GiustiDocumento5 páginasMarcos GiustiHélder ArezesAinda não há avaliações
- O Uso de Filmes No Ensino de HistoriaDocumento32 páginasO Uso de Filmes No Ensino de HistoriajaneteabraoAinda não há avaliações