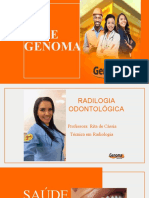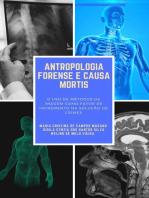Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
História Do Raio-X
História Do Raio-X
Enviado por
alex klidzioTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
História Do Raio-X
História Do Raio-X
Enviado por
alex klidzioDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PORTO, Marco Antonio Teixeira. O Elogio da Sombra - um Século de Radiologia.
Revista do Centro de Ciências
Médicas, Niterói/RJ, 2 (2): 65, 1998.
O Elogio da Sombra – um século de Radiologia
The Praise of the Shadow – one century of Radiology
Resumo
Após o "nascimento da clínica", os sintomas passaram a ser estreitamente
relacionados às lesões orgânicas encontradas na abertura dos cadáveres. Assim, só
era possível "ver" a doença quando já não havia qualquer possibilidade de cura. A
descoberta dos raios X, por Wilhelm Röentgen, há pouco mais de 100 anos,
possibilitou, pela primeira vez na história da medicina, que a doença fosse visível ainda
com o paciente vivo. Através de uma breve revisão da história inicial da Radiologia,
este texto pretende discutir a forma como os raios X se incorporaram e transformaram
a prática médica moderna, aonde o conceito de "ver" ganhou um status privilegiado.
"Demócrito de Abdera arrancou-se os olhos
para pensar:
O tempo foi meu Demócrito.
Esta penunbra é lenta e não dói;
Flui por um manso declive
E se parece à eternidade
...
Agora posso esquecê-las.
Chego ao meu centro,
À minha álgebra e minha chave,
ao meu espelho.
Breve saberei quem sou."
"Elogio da Sombra" - Jorge Luis Borges
"Quando envelheceu, Cézanne começou a questionar se a novidade existente em sua pintura não
poderia ter surgido por causa da existência de um problema com seus olhos; se toda sua vida não teria
sido baseada em um acidente do corpo."
"Senso e Contra-senso" – Maurice Marleau-Ponty
A medicina contemporânea é, em grande medida, um projeto visual de apreensão do
mundo; um projeto cognitiva e praticamente organizado pela feitura e interpretação de
imagens. Há cerca de 100 anos, as imagens radiológicas desempenharam um
importante pioneirismo, tanto em relação à produção de conhecimento, quanto à
organização da prática médica. A partir de sua descoberta, houve notáveis
aperfeiçoamentos , como a utilização de agentes de contraste contendo sulfato de
bário e iodo; a técnica de tomografia, particularmente a computadorizada; a técnica de
exploração com cateter percutâneo (descrita em 1953, por Seldinger e universalmente
utilizada na angiografia).
Em nossos dias, o avanço nas telecomunicações permite a transmissão de vídeo em
tempo real, criando a possibilidade de diversas aplicações: cirurgia remota
endoscópica, transmissão ao vivo de imagem funcional em terceira dimensão, consulta
multimídia interativa e quase tudo mais que a imaginação deseje ousar. A telemedicina
é o assunto de mais de uma centena de artigos listados na Medline e temas de
inúmeras conferências, realizadas na Europa e nos EUA. Seu reconhecimento
acadêmico se deu sob a forma de novos departamentos universitários e com o
lançamento do Journal of Telemedicine and Telecare.
Está claro, entretanto, que a princípio as representações visuais não significaram uma
realidade, por si mesmas. A história inicial da radiologia demonstra que o conhecimento
e a prática mudaram junto com o mundo representado e fizeram das imagens
radiológicas a melhor representação dessas mudanças. Assim como as fábricas
tornaram o trabalho manual obsoleto e criaram grandes cidades industriais; assim
como durante a Revolução (Médico) Industrial os médicos abandonaram sua prática
individual e se mudaram para hospitais ou para grupos cada vez maiores, que provêem
a base tecnológica para uma prática mais ágil e legitimada; assim como a fotografia
mostrou-se muito mais "realista" do que a pintura; a tecnologia de imagens seria
igualmente mais fidedigna ou, no nosso caso, científica do que a palpação, a ausculta,
a percussão etc. "Meu reino por uma câmera!". As palavras de Spiro (1974) sriam o
ansioso e inevitável brado dos médicos do futuro, postos diante de um dilema
semelhante ao do artesão do passado.
Retrato em branco e preto
Em 8 de novembro de 1895, o físico Wilhelm Röentgen observou o que se tornaria um
procedimento diagnóstico revolucionário em medicina: cada vez que uma alta voltagem
elétrica passava através de um tubo com vácuo, em uma sala escura, uma tela de
platinocianidro, ao lado, emitia uma misteriosa luz ou fluorescência. Röentgen
entendeu que estes raios invisíveis jamais haviam sido descritos e os denominou raios
X. Sua descoberta, entretanto, não foi imediatamente anunciada. Nas sete semanas
seguintes, Röentgen esteve em seu laboratório, realizando experimentos e registrando
observações. Por fim, a imagem radiográfica da mão de sua esposa convenceu-o do
potencial da descoberta: os raios penetravam as partes moles do corpo, mas eram
absorvidos pelos tecidos mais densos, de forma que uma imagem da estrutura interna
podia ser capturada numa chapa fotográfica ou numa tela fluorescente colocadas no
lado oposto do corpo.
Assim, em dezembro do mesmo ano, ele apresentou um manuscrito intitulado Eine
neue art von strahlen ("Sobre um novo tipo de raios") à secretaria da Wurzburg
Physical Medical Society. Durante as semanas seguintes, a descoberta de Röentgen
foi amplamente divulgada nas imprensas médica, científica e popular. Em janeiro de
1896, as primeiras imagens de raios X com propósitos clínicos foram realizadas por um
engenheiro britânico e o potencial diagnóstico dos raios se tornou evidente. Em breve,
já seriam usados para localizar corpos estranhos radiopacos e para avaliar alterações
de ossos e articulações. Pasveer (1989) relata que, em maio de 1896, cinco meses
após a descoberta de Röentgen tornar-se conhecida do mundo, foi publicado um dos
primeiros manuais de Radiologia – Practical Radiography, da autoria de H. S. Ward. "O
frontispício do livro era adornado com um raio X de tórax ... de cabeça para baixo"
(Pasveer, 1989: 361). Os artigos iniciais sobre o uso desta tecnologia, seja em
publicações específicas, como Archives of the Röentgen Ray, ou em outras mais
gerais, como British Medical Journal ou The Lancet, refletiam o caráter exploratório do
trabalho e não eram prescritivos. Ao cabo de um ano, os raios X já estavam sendo
usados no tratamento de doenças de pele e do câncer. Máquinas de Raios X se
tornaram rapidamente disponíveis e fáceis de usar.
Nos primeiros anos, os pacientes eram irradiados com o propósito principal de
pesquisar os raios, o equipamento ou o material fotográfico, ajudando a compreender a
nova tecnologia e o mundo de sombras que ela produzia. Howell (1986) afirma que
esta experimentação ocorreu largamente em laboratórios privados e em uns poucos
hospitais que instalaram um Departamento de Radiologia. "As pessoas,
freqüentemente técnicos e jovens estudantes de medicina, tinham a pesquisa não
como um meio, mas como um fim, e eles adquiriam conhecimento sobre os vários
aspectos desta tecnologia e sobre todos os tipos de "sombras" produzidas pelas
diferentes partes do corpo humano. Contudo, o que estava em jogo não era ainda o
diagnóstico, mas o ato de visualizar." (Howell, 1986: 2321).
Tornou-se um jogo popular de salão produzir imagens da estrutura interna do corpo
humano que, entretanto, perdeu rapidamente seu fascínio quando, após cerca de dois
anos de uso, tornou-se claro que o raio X podia ser letal. Tal informação, contudo, não
refreou o interesse médico. Estes pioneiros estavam perfeitamente advertidos sobre o
risco de sua prática mas, tal como outros "homens da ciência", continuaram a usar as
máquinas e tendo, assim, a oportunidade de estudar o curso natural de sua dolorosa
doença fatal. Jamais se cogitou, como meio de evitar tais mortes, da descontinuação
do uso do raio X.
Nos primeiros anos, a questão de quem poderia ser considerado habilitado a ser um
"röentgenologista" não estava em discussão; nem tampouco havia um limite claro entre
o que hoje chamamos de radiologista e técnico em radiologia. Qualquer pessoa
interessada, que tivesse acesso à aparelhagem, poderia trabalhar com raio X.
Tampouco havia regras explícitas para a confecção e interpretação de imagens. As
máquinas eram desenvolvidas por físicos e engenheiros que, nos primeiros anos,
comumente interpretavam suas radiografias para o médico. Daly e Willis (1989: 1153)
afirmam que "a participação de leigos no processo diagnóstico – central para a prática
da medicina científica – fornecia-lhes uma posição única, na qual podiam observar os
erros diagnósticos ( e os fracassos terapêuticos) capazes de desacreditá-la". A
categoria médica rapidamente agiu para excluir estes "cientistas associados" da
utilização dos raios X nos hospitais e assumir seu controle.
As sociedades radiológicas, fundadas em torno da virada do século em muitos países
europeus e na América, agiram para mudar o caráter desorganizado e heterogêneo do
trabalho radiológico. Alpers (1983) conta que as Sociedades funcionaram como
instâncias de discussão sobre os raios X e como base para profissionalização da
Radiologia, também atuando como órgãos fiscalizadores: regulavam práticas e
membros, regulavam, portanto, competência. De fato, uma importante preocupação,
dentro e fora das Sociedades, era a questão da competência na produção e
interpretação das imagens, levando alguns operadores de raio X começaram a formular
seus métodos de trabalho em termos mais normativos.
Enquanto, nos anos iniciais, eles descreviam experimentos e casos individuais, agora
começavam a descrever em tom diferente. Normas, rotinas e critérios de competência
começaram a se desenvolver e, lentamente, tornaram-se prescritivos para que o
significado das imagens se tornasse mais claro. Regras, criadas em princípio com a
finalidade de propiciar que um mesmo profissional operasse seu aparelho sempre da
mesma maneira, a seguir, tornaram-se parte de um conhecimento tácito e das práticas
dos "röentgenologistas" competentes.
Aos poucos, o trabalho com aparelhos e pacientes também se tornou sujeito a regras
gerais e explícitas que passaram a constituir um contexto para a comparação das
imagens entre si,e para uso como fontes autônomas de conhecimento. Regras foram
formuladas para serem aplicadas por qualquer um que desejasse resultados seguros e
confiáveis. Recomendou-se que todos trabalhassem de acordo com os mesmos
métodos, usassem a aparelhagem de forma reprodutível, postassem o paciente em
posições claras e facilmente comunicáveis. Alpers (1983) refere que, em 1910, a
Sociedade Holandesa já havia publicado um documento alertando para o perigo e a
ineficiência da utilização dos raios X por pessoal não-médico e sugerindo ao governo
uma regulamentação, para que esses abusos tivessem fim.
A I Guerra Mundial interrompeu o processo de profissionalização da Radiologia. Neste
período, qualquer um que estivesse de posse de um aparelho poderia realizar
trabalhos radiológicos com propósitos de guerra, demonstrando o importante status
que as imagens já haviam, então, adquirido. Em 1917, na Inglaterra, um grupo de
radiologistas pioneiros formou a British Association of Radiology and Physiology, com o
propósito de proteger a corporação. Esta iniciativa obteve sucesso, tanto que, a partir
de 1920, quando foi estabelecido o "Diploma de Cambridge" – a pedra fundamental da
profissionalização da Radiologia – este rapidamente passou a ser exigido de qualquer
um que se propusesse a operar equipamento radiológico em um hospital.
O processo de criação de uma especialidade "foi parte indispensável do procedimento
formal usado pela categoria médica para licenciar a si própria como tecnicamente apta
ao uso diagnóstico do raio X" (Daly e Willis, 1989: 1153). Assim, os médicos tornaram-
se os únicos profissionais habilitados, não apenas a supervisionar a execução dos
aspectos técnicos do procedimento por parte de pessoal não-médico, mas também – e
sobretudo – a interpretar os resultados e integrá-los no procedimento clínico.
Muito parecido ... mas, com o quê?
Inicialmente, não havia clareza sobre o que representava o novo tipo de "fotografia".
Com o que poderiam se parecer os pulmões, o coração ou o trato gastrointestinal,
quando transformados em sombras bidimensionais, em imagens em branco e preto?
Como poderiam estas sombras ser clinicamente relevantes? Desde o primeiro
momento, estava claro que a formação das sombras se baseava na relativa absorção
dos raios por diferentes estruturas do corpo. Entretanto, o normal e o patológico
estavam "embutidos" em seus contornos e precisavam ser inferidos a partir deles.
Como afirma Pasveer (1989: 368), "foi preciso aprender a imaginar/entender problemas
médicos em uma perspectiva visual e radiológica. Os problemas a serem resolvidos
pelos raios X não existiam anteriormente para os clínicos: eles surgiram com a
Radiologia". A radioscopia não é meramente um método de controle, correção ou
complementação do exame físico: ela descobre, revela, autoriza novas indicações. Em
suma, ela realizou a evolução da doença, agora "visível" ao olho humano.
Nos primeiros cinco anos, os aparelhos de raios X eram mais um brinquedo
interessante do que um equipamento de valor para a medicina. Exceto talvez na
cirurgia, campo onde se reconheceu desde o princípio seu potencial significativo.
Rowland (citado por Pasveer, 1989: 361) identificou ao menos uma utilidade inicial
nada desprezível: "o paciente pode ver agora, com seus próprios olhos, a real condição
de sua anormalidade, antes que parte de seu corpo seja removida". Na medicina
interna, o caminho a ser percorrido pelas imagens foi bem maior e, em importantes
aspectos, mais complexo. As imagens radiológicas eram confiáveis por sua capacidade
de representar a realidade. Porém, na era anterior a Röentgen, a realidade parecia
muito diferente das sombras que, a partir de agora, eram consideradas espelhos das
partes internas dos pacientes.
Portanto, a fim de possuir valor diagnóstico – de se tornar "verdade" – de representar
saúde e doença de forma reconhecível e aplicável, as imagens precisavam de um
contexto e um conteúdo inteligível. Elas requeriam uma forma de ver, uma linguagem
para comunicar-se, uma tecnologia apropriada. Enfim, as imagens necessitavam de um
mundo para representar. Assim, "aprender" consistiu em muitas coisas:
desenvolvimento tecnológico da imagem; mudanças culturais na medicina (em que
representações visuais puderam tomar parte no conhecimento e na prática); e a
formação de uma grupo de pessoas aptas a falar pela nova tecnologia, a propagar,
experimentar e publicar sobre as imagens radiológicas. Pasveer (1989) afirma terem
sido a institucionalização e a profissionalização da Radiologia importantes aspectos do
poder de convencimento das imagens.
Deus meu! Eu vejo!
Sem dúvida, o sucesso alcançado pelas tecnologias de imagem tem, como condição
de possibilidade, a transformação do "invisível" em "visível" operada pelo "nascimento
da clínica". Mas, de modo geral, também está articulado com o elevado status que o
ato de ver adquiriu em nossa civilização. Os animais que ouvem as altas freqüências
melhor do que nós (morcegos e golfinhos, por exemplo) parecem "ver" melhor com os
ouvidos, escutando geograficamente. Para nós, entretanto, o mundo só se torna mais
densamente informativo quando o percebemos com os olhos. De fato, setenta por
cento dos receptores sensoriais do corpo humano estão localizados nos olhos, e é
principalmente por meio da visão do mundo que o julgamos e entendemos.
"Como os nossos olhos estão sempre tentando entender a vida, se encontram uma
cena distorcida, corrigem o quadro para o que conhecem. Se descobrem um padrão
familiar, prendem-se a ele, mesmo que possa ser completamente inadequado ao
cenário ou contra o fundo em que o vêem." (Ackerman, 1994: 275).
O processo de visão terá começado de forma muito singela. Nos mares antigos, as
formas de vida desenvolveram tecidos sensíveis à luz. Foram, então, capazes de
distinguir não só o claro e o escuro mas, também, a origem da fonte luminosa. A essa
habilidade inicial, seguiram-se os olhos, que podiam julgar o movimento, de pis a forma
e, finalmente, as inumeráveis possibilidades de detalhes e cores. Fiéis à sua origem
oceânica, ainda hoje, os olhos precisam ser constantemente banhados em água
salgada, sob pena de adoecerem.
Nossos olhos possuem mecanismos que captam a luz, colhem uma imagem,
focalizam-na com exatidão, localizam-na no espaço e seguem-na. Tal como a maioria
dos predadores, temos os olhos localizados na parte da frente da cabeça, para usar a
visão binocular na melhor localização da presa. Estas, por sua vez, têm os olhos nas
laterais da cabeça , porque precisam de visão periférica, a fim de perceber quem se
esgueira por trás delas. Como afirma Ackerman (1994: 274), "mesmo que a maioria de
nós não cace mais, nossos olhos continuam sendo os grandes monopolizadores dos
nossos sentidos." Nossa linguagem é, principalmente, baseada nas imagens, e sempre
que comparamos uma coisa com outra, confiamos "cegamente" em nossa visão. Ver é
prova, como freqüentemente afirmamos: "vi com meus próprios olhos" ou "veja por si
mesmo".
Ao final do século XIX, havia poucos equipamentos diagnósticos e, certamente,
nenhum tão espetacular como o raio X. A crença popular nas promessas da Radiologia
foi tamanha que, em torno dos anos trinta do século XX, era comum os pacientes
demandarem um "raio X de corpo inteiro" sem muita relação com sua sintomatologia.
Thomas Mann, em "A Montanha Mágica" (1924), relata a vida de diferentes
personagens em sanatório para tratamento da tuberculose, localizado na aldeia suíça
de Davos-Platz. Hans Castorp, o protagonista, chega para breve visita ao seu primo
mas, quase por acaso, também se descobre doente. À evolução da tuberculose
corresponde o desenvolvimento humano do personagem.
Do ponto de vista de nosso interesse imediato, cabe registrar o impacto que as
imagens radiológicas provocaram no jovem paciente. Eis, por exemplo, o relato de sua
primeira experiência no gabinete de Radiologia do sanatório, aos cuidados do Dr.
Behrens:
"Hans Castorp, porém, achava-se numa expectativa um tanto febril, já que, até esse
momento, nunca haviam lançado olhares na vida interior de seu organismo" ...
"Depois, encaminhou-se para trás da máquina fotográfica para focalizar, encurvado e
de pernas separadas como um fotógrafo qualquer, a vista a tirar ... Durante dois
segundos operaram energias terríveis, cujo esforço era necessário para atravessar a
matéria, correntes de milhares de volts ... Apenas dominadas em prol de seu objetivo,
as forças procuraram escapar-se por um desvio. Descargas estouravam como
disparos. Chispas azuis dançavam no aparelho de medição. Relâmpagos compridos
passavam, crepitando, pela parede. Em qualquer parte, uma luz vermelha, semelhante
a um olho, mirava o recinto, impassível e ameaçadora ... Depois, tudo sossegou.
Desapareceram os fenômenos luminosos ... Estava tudo terminado ...
Ergueu-se perturbado e aturdido pelo que acabava de lhe acontecer, ainda que a
penetração, nem de leve, se lhe tivesse tornado sensível."
- Ótimo! – elogiou o conselheiro áulico – Agora, vamos ver com os nossos próprios
olhos ...
- Antes de tudo, os olhos têm de se adaptar – ouviu-se a voz do conselheiro áulico
através da escuridão. – É preciso que as nossas pupilas se alarguem imensamente,
como as dos gatos, para que possamos enxergar o que queremos descobrir. Os
senhores compreendem que não poderíamos ver bem nitidamente com os nossos
olhos ordinários, habituados à luz. Antes de começarmos, devemos esquecer o dia
claro com suas imagens alegres ... E agora, abra bem os olhos! – Acrescentou. – Já vai
começar a evocação ...
Um motor sobressaltou-se, pôs-se a cantar furiosos agudos ... o chão vibrava
ritmicamente. A luzinha vermelha, oblonga e vertical, encarava-os, como uma ameaça
muda. Em qualquer parte crepitou um relâmpago. E lentamente, com um brilho leitoso,
qual uma janela que se iluminasse, ressaltou das trevas o pálido retângulo do anteparo
luminoso, diante do qual Behrens ... apertando o nariz achatado conta a vidraça que
lhe permitia a visão anterior de um organismo humano." ...
"Sentia-se cheio de devoção e de terror. – Sim, sim, eu vejo – disse diversas vezes. –
Deus meu! Eu vejo!" (Mann, 1980: 237 - 246).
Assim é, se lhe parece
Ao longo dos tempos, fomos levados a crer que nossos olhos são sábios videntes. No
entanto, muito mais modestamente, tudo que podem fazer é captar a luz. A visão,
como a imaginamos, não acontece nos olhos, mas no cérebro. Com nossos "olhos
mentais", local abstrato onde vive a imaginação, conseguimos ver e sentir.
Focalizamos o mundo com os globos de nossos olhos, mundo dentro de mundos.
Numa cultura fundada na imagem, o pintor belga René Magritte (1898 – 1967) nos
propõe algumas reflexões fundamentais, apenas surpreendentes por sua extrema
singeleza.
Tal como os cientistas seus contemporâneos se ocupavam em desarrumar as noções
de tempo e espaço, Magritte tratou de subverter as noções convencionais das palavras
e das imagens como meio de conhecimento. Por exemplo, qual é a relação entre um
objeto, sua imagem e seu nome? Para Magritte, o conceito de "semelhança" tem
significados particulares. Ele os explicitou em, pelo menos, três ocasiões (Meuris, 1993:
83): em 1959, numa conferência proferida na Libre Académie de Belgique; e em 1960 e
1961, em introduções para catálogos. Declarou, por exemplo, que "assemelhar é
apenas um ato do pensamento"; "comparar semelhanças é, de fato, um ato intelectual";
"as imagens são ‘retratos’ das idéias, e não de objetos ou de indivíduos"; "o
pensamento tende a tornar-se aquilo que o mundo lhe oferece e a restituir aquilo que
lhe é oferecido"; "o que se vê num objeto é um outro objeto escondido"; e, por fim,
"uma coisa que está presente pode ser invisível, escondida por aquilo que mostra."
(Meuris, 1993: 83).
Desta forma, ele estabeleceu uma seqüência lógica, ligando a realidade do que existe
à idéia que o pensamento faz dessa realidade e ao conhecimento que dela emana.
Assim Magritte pintou ou, mais exatamente, construiu imagens e, dentre elas, aquela
que se tornou um ícone do século XX, Ceci n’est pas une pipe. A primeira versão do
quadro: um cachimbo desenhado com cuidado e, escrito à mão, esta menção: "Isto não
é um cachimbo". A outra versão: o mesmo cachimbo, o mesmo enunciado, a mesma
caligrafia mas, em vez de se encontrarem justapostos, o texto e a figura estão
colocados no interior de uma moldura. Esta, em um cavalete pousado no assoalho. Por
cima, um cachimbo exatamente igual ao que se encontra desenhado no quadro, porém
muito maior.
Michel Foucault (1989) dedicou-lhe um livro onde se propôs à ingrata tarefa de
verbalizar as idéias registradas na tela. Muito sumariamente, eis algumas das
conclusões de Foucault: "O desenho de Magritte (só falo, por hora, da primeira versão)
é tão simples quanto uma página tomada de um manual de botânica: uma figura e o
texto que a nomeia. Nada mais fácil de reconhecer do que um cachimbo desenhado
como aquele" (Foucault, 1989: 19). "Mas quem me dirá seriamente que este conjunto
de traços entrecruzados sobre o texto é um cachimbo? Será preciso dizer: Meu Deus,
como tudo isto é bobo e simples; este enunciado é perfeitamente verdadeiro, pois é
bem evidente que o desenho representando um cachimbo não é, ele próprio, um
cachimbo? E, entretanto, existe um hábito de linguagem: o que é este desenho? ...
Velho hábito que não é desprovido de fundamento pois toda função de um desenho tão
esquemático, tão escolar, quanto este é a de se fazer reconhecer, de deixar aparecer
sem equívoco nem excitação aquilo que ele representa." (Foucault, 1989: 20).
Comparado à tradicional função da legenda, o texto de Magritte é duplamente
paradoxal: "empreende nomear o que, evidentemente, não tem necessidade de sê-lo
(a forma é por demais conhecida; a palavra, por demais familiar). E eis que, no
momento em que deveria dar o nome, o faz negando que seja ele. De onde vem este
estranho jogo? (Foucault, 1989: 26). "Kandinski ... despediu a velha equivalência entre
semelhança e afirmação ... Magritte, por sua vez, procede por dissociação: romper
seus liames, estabelecer sua desigualdade, jogar uma sem a outra, manter a que
depende da pintura e excluir aquela que está mais próxima do discurso, levar tão longe
quanto possível a continuação indefinida do semelhante, mas alijá-lo de toda afirmação
que diria com o que ele se parece (Foucault, 1989: 59).
Pela primeira vez no século XX, um pintor não procura evitar o real, mas tenta obrigá-lo
a desvelar seu mistério. Para Meuris (1993: 100), "o que ele nos ensina, de qualquer
modo, é o que devemos incansavelmente repetir: ‘o que se vê num objeto é um outro
objeto escondido’." De fato, a preocupação de Magritte, como ele freqüentemente
registrou, não era tanto em usar traços e cores para expressar emoção, mas para
explorar as possibilidades da pintura em questionar o que nós achamos que sabemos,
nossa concepção do que é real. "O pensamento tende a tornar-se aquilo que o mundo
lhe oferece e a restituir aquilo que lhe é oferecido; as imagens são "retratos" das idéias
e não de objetos ou de indivíduos; a coerência não está visível no ambiente, mas no
pensamento."
Se relacionarmos esta talvez extensa reflexão ao nosso tema principal, constataremos
que a fidelidade das imagens radiológicas à concepção de saúde e doença que
emergia no século XIX, conferiu-lhes grande reputação e transformou as máquinas de
produzir sombras em grandiosa fonte de conhecimento e poder. Isto deveu-se,
sobretudo, à sua capacidade de se desenvolver guardando absoluta coerência com o
corpo epistemológico da medicina moderna. Assim, o sofrimento humano, que havia se
transformado em uma linguagem, um discurso sobre os órgãos, adquiriu a seguir o
caráter de representação. Progressivamente, as reconstituições digitais (ultra-
sonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear) instauraram
na prática médica uma espécie de cultura do virtual, onde a imagem "retrata a
realidade", pois o contorno biológico e individual do doente se restringe à condição de
funcionamento de seus órgãos.
O Dr. já vai vê-lo, mas não pessoalmente
Desde que, em 1994, do seu consultório na Itália, um cirurgião operou um animal na
Califórnia (EUA), a realidade virtual ultrapassou as especulações do mundo cibernético
e avançou sobre a área da saúde. Só nos estados Unidos , existem mais de vinte mil
aplicativos para as dezenas de especialidades médicas, desde os que imitam o
raciocínio clínico, com a pretensão de obter um diagnóstico mais preciso, até os
programas especializados, que orientam a optar pela melhor terapêutica. A
telemedicina é a medicina desenvolvida à distância: através de um bip conectado ao
telefone e encostado no peito do paciente, em sua casa, pode-se transmitir um
eletrocardiograma. Sinais, imagens e sons podem ser transmitidos e interpretados por
programas computadorizados, de tal forma que paciente e médico não precisam mais
estar presentes, um diante do outro, no mesmo lugar e na mesma hora.
Desta forma, a tecnologia de imagens radicaliza uma de suas mais típicas vantagens:
os médicos podem discutir uma representação visual acurada da anatomofisiologia de
um paciente mesmo na sua ausência. Os rápidos desenvolvimento e refinamento dos
equipamentos radiológicos apenas foi possível porque Röentgen não patenteou seu
invento. Entretanto, com relação aos recentes avanços, é lícito supor que as áreas que
mais se beneficiariam de sua utilização (zonas rurais, áreas de difícil acesso etc.)
dificilmente poderão arcar com as despesas da infra-estrutura de comunicação.
Na base da história da Radiologia, encontramos, então, dois aspectos relevantes: 1º) o
aparecimento de um grupo, crescentemente organizado, de porta-vozes das imagens e
testemunhas do significado dos produtos desta nova tecnologia na medicina; 2º) uma
nova retórica, em que o conceito de "ver" ganhou um status privilegiado. Comparar
imagens com outras imagens foi o modo mais radical de criar um contexto de
evidências. Tudo tinha que contribuir para o esforço de prover uma base para essa
comparação. As imagens, por si mesmas, foram usadas para construir sua própria
evidência, para criar seu próprio significado comparativo. Para ser capaz de comparar
imagens com outras, as atividades humanas e tecnológicas precisaram ser controladas
e reguladas. Como afirma Pasveer (1989: 377), "as imagens se transformaram em
representações da realidade em seu processo complexo, provendo conhecimento e
organizando a prática. Sua forma e conteúdo foram delineados de forma a relacioná-los
a padrões pré-existentes de conhecimento e atuação, e a embuti-los em um ambiente
de mudança que os capacitasse a ultrapassar seus limites iniciais."
Nas décadas recentes, a rápida proliferação de tecnologias reflete, entre outros
aspectos, sua posição central na manutenção ideológica do status técnico da profissão
médica. Assim, por sua capacidade de articulação ideológica e harmonizar-se com
seus conceitos fundamentais, a história da Radiologia demonstra a absoluta fidelidade
das imagens ao projeto médico-científico. O poder que emerge das sombras
radiológicas comprova que a inovação tecnológica trata de garantir meios de controle
eficientes aos que a manipulam, transformando-os em fiéis guardiães de sua ordem.
Assim, a tecnologia diagnóstica arrisca-se a produzir, não a "imagem" de um ser
humano, mas a imagem do que fomos habituados a conceber como um corpo humano,
segundo o espaço epistemológico em que está inscrita a concepção hegemônica de
saúde e doença. Isto é, não se trata apenas de uma técnica visual, mas de uma
operação do pensamento. Desta forma, muito do que deveríamos "ver" ao estudar o
caso de um doente, fica omitido, pela eficiência das imagens em mostrar, com grande
detalhe, por exemplo, estruturas anatômicas. O sujeito do sofrimento – transformado
em objeto de investigação – vê-se, assim, reduzido a uma imagem ou representação.
Ou, como escreveu Magritte a Foucault: "Só ao pensamento é dado ser semelhante.
Ele se assemelha sendo o que vê, ouve ou conhece, ele se torna o que o mundo lhe
oferece." (Foucault, 1989: 82).
Referências Bibliográficas
ACKERMAN, D. Uma História Natural dos Sentidos. Rio de Janeiro/São Paulo:
Bertrand Brasil, 1992.
ALPERS, S. The Art of Describing: the dutch art in the seventeenth century.
Chicado/London: University of Chicago Press, 1983.
DALY, J e WILLIS, E. Technological innovation and the labor process in health care.
Soc Sci Med 198: 1149, 1989.
FOUCAULT, M. Isto não é um cachimbo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
HOWELL, J.D. Early use of x-rays machines and electrocardiographs at the
Pennsylvania Hospital. J A M A 255 (17): 2320, 1980.
MANN, T. A Montanha Mágica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira (1º ed. 1924), 1980.
MEURIS, J. Magritte. Genebra: Benedikt Taschen, 1993.
PASVEER, B. Knowledge of Shadows: the introduction of x-rays images in medicine.
Sociology of Health & Illness 2 (4): 360, 1989.
SPIRO, H.M. My Kingdom for a Camera – some comments on medical technology. New
Engl J Med 291 (19): 1070, 1974.
Você também pode gostar
- Acupuntura No Tratamento Da Criança PDFDocumento301 páginasAcupuntura No Tratamento Da Criança PDFmcarolfontes100% (1)
- Atividade1 - UC 11 TST SENAC EADDocumento10 páginasAtividade1 - UC 11 TST SENAC EADUelvis Potencia100% (1)
- Apostila Introduçao em RadiologiaDocumento26 páginasApostila Introduçao em RadiologiaMatheus Evelyn MartinsAinda não há avaliações
- CARDÁPIO PARA DIABÉTICOS e HipertensoDocumento2 páginasCARDÁPIO PARA DIABÉTICOS e HipertensoLevi Luz100% (6)
- Trab. PIM - Poster - Banner - 1º Noturno Ellien Jessica Welinton1Documento1 páginaTrab. PIM - Poster - Banner - 1º Noturno Ellien Jessica Welinton1Ianne Caroline100% (2)
- AULA 3 - Biossegurança e Ergonomia PDFDocumento126 páginasAULA 3 - Biossegurança e Ergonomia PDFCarolinePiske100% (1)
- Apostila - História Da RadiologiaDocumento5 páginasApostila - História Da Radiologiawm raiosx0% (1)
- O Livro O Segredo de LuísaDocumento9 páginasO Livro O Segredo de LuísacilleneAinda não há avaliações
- Pontos Jurema 2Documento11 páginasPontos Jurema 2cillene100% (2)
- Adilson de Oxalá - Mensagens Dos 16 OduDocumento38 páginasAdilson de Oxalá - Mensagens Dos 16 OduIfayemi Flávio Ty Osala100% (1)
- Cultura Bantu Ngola 1Documento90 páginasCultura Bantu Ngola 1cillene100% (2)
- Lúpus Eritematoso SistêmicoDocumento25 páginasLúpus Eritematoso SistêmicoJHOWALADEENAinda não há avaliações
- A Descoberta e A Evolução Do RX PDFDocumento6 páginasA Descoberta e A Evolução Do RX PDFmadoan4392Ainda não há avaliações
- 01 - Introdução À Radiologia - MEDRESUMODocumento15 páginas01 - Introdução À Radiologia - MEDRESUMOM NunesAinda não há avaliações
- Radiologia - Completo (2016) PDFDocumento107 páginasRadiologia - Completo (2016) PDFLidgya Barbosa100% (4)
- Apostila Introd.a Radiologia-2018Documento35 páginasApostila Introd.a Radiologia-2018Ana CarolinaAinda não há avaliações
- Radiologia e Análise de ImagensDocumento114 páginasRadiologia e Análise de ImagensLetícia SilvaAinda não há avaliações
- Radiologia Completo - MedresumosDocumento107 páginasRadiologia Completo - MedresumosFelipe AvilaAinda não há avaliações
- RADIOLOGIA 01 - Introdução - MED RESUMOS (JAN-2012)Documento0 páginaRADIOLOGIA 01 - Introdução - MED RESUMOS (JAN-2012)Priscila FerroAinda não há avaliações
- Radiologia Forense IiDocumento23 páginasRadiologia Forense IiRenato LimaAinda não há avaliações
- Apostila Do Curso Radiologia e Analise de ImagensDocumento100 páginasApostila Do Curso Radiologia e Analise de ImagensRafaela CatarinoAinda não há avaliações
- História Da Radiologia e Ética ProfissionalDocumento39 páginasHistória Da Radiologia e Ética ProfissionalJeilton De Jesus Piedade100% (1)
- Apostila Auxiliar de Radiologia 1Documento26 páginasApostila Auxiliar de Radiologia 1renato joseAinda não há avaliações
- Historia Radiologia CompletoDocumento126 páginasHistoria Radiologia Completopaulo henrique penha dos santos jardimAinda não há avaliações
- Introdução A Radiologia VanderleiDocumento4 páginasIntrodução A Radiologia VanderleiAdriano RamosAinda não há avaliações
- História Do RXDocumento3 páginasHistória Do RXRodrigo RezendeAinda não há avaliações
- Bella TrabalhoDocumento14 páginasBella TrabalhoJunola AbellanAinda não há avaliações
- HDRG - Aula 1Documento6 páginasHDRG - Aula 1Jefferson SantisAinda não há avaliações
- 001 História Da Radiologia A Descoberta de Roentgen e A Primeira Radiografia No BrasilDocumento9 páginas001 História Da Radiologia A Descoberta de Roentgen e A Primeira Radiografia No BrasilPaulo Roberto PrevedelloAinda não há avaliações
- Como Funciona o Raio-X Descubra Sua História e Suas CaracterísticasDocumento3 páginasComo Funciona o Raio-X Descubra Sua História e Suas CaracterísticasAdenildo BartenderAinda não há avaliações
- Evolução Historica RXDocumento8 páginasEvolução Historica RXMariangela FaustoAinda não há avaliações
- Linha Do TempoDocumento2 páginasLinha Do Tempocarvalholluana67Ainda não há avaliações
- Raios XDocumento12 páginasRaios XGerciel LuzAinda não há avaliações
- 1 Imaginologia - Introdução À RadiologiaDocumento21 páginas1 Imaginologia - Introdução À RadiologiaFresnelAinda não há avaliações
- Apostila RadiologiaDocumento41 páginasApostila RadiologiaAlex Ribeiro de CarvalhoAinda não há avaliações
- 0 - Aula 1 Rad - Odon.Documento33 páginas0 - Aula 1 Rad - Odon.Luiz Fernando Da Costa DuarteAinda não há avaliações
- Apostila Do Curso Radiologia e Analise de ImagensDocumento99 páginasApostila Do Curso Radiologia e Analise de Imagensvaneila.andradevkAinda não há avaliações
- Resumo de Introdução A RadiologiaDocumento1 páginaResumo de Introdução A RadiologiaElizama NeriAinda não há avaliações
- La RadiologiaDocumento4 páginasLa RadiologiaMarco AntonioAinda não há avaliações
- Apostila História Da RadiologiaDocumento10 páginasApostila História Da RadiologiaanapaulapachecodamonAinda não há avaliações
- Ultrassonografia: Fig. 1: Ultrassom Pré-Natal 3D Mostrando A Cabeça, Bracos e Mãos Do BebêDocumento4 páginasUltrassonografia: Fig. 1: Ultrassom Pré-Natal 3D Mostrando A Cabeça, Bracos e Mãos Do BebêPriscila SantosAinda não há avaliações
- A Evolucao Da RadiologiaDocumento1 páginaA Evolucao Da RadiologiaMarcelo BastosAinda não há avaliações
- Relatorio Radiologia ArtificialDocumento4 páginasRelatorio Radiologia ArtificialEdilma SilvaAinda não há avaliações
- Memphis Diagrama de Análise SWOT Apresentação de BrainstormDocumento11 páginasMemphis Diagrama de Análise SWOT Apresentação de BrainstormMaria Luiza MedeirosAinda não há avaliações
- Descoberta Do Raio XDocumento2 páginasDescoberta Do Raio XRodolfo LamarcaAinda não há avaliações
- Radiologia e Utrassonografia Na Medicina Veterinária Revisão deDocumento5 páginasRadiologia e Utrassonografia Na Medicina Veterinária Revisão deFernando HenriqueAinda não há avaliações
- Trabalho BiofísicaDocumento11 páginasTrabalho BiofísicaDinosaniAinda não há avaliações
- RADIOATIVIDADEDocumento36 páginasRADIOATIVIDADEGuto FariaAinda não há avaliações
- O Que São Os Raios XDocumento3 páginasO Que São Os Raios XElton CruzAinda não há avaliações
- BREVE HISTÓRIA DOS RAIOS X E SUAS APLICAÇÕES (PDF - Io)Documento5 páginasBREVE HISTÓRIA DOS RAIOS X E SUAS APLICAÇÕES (PDF - Io)Silvana ReisAinda não há avaliações
- Prop. Clín. II U.E2 Seção1Documento125 páginasProp. Clín. II U.E2 Seção1gabinetecoroaciAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Da Radiologia IntervencionistaDocumento3 páginasDesenvolvimento Da Radiologia IntervencionistaProf-Alexsandro FerreiraAinda não há avaliações
- Regulamento - Concurso Turismo MilitarDocumento3 páginasRegulamento - Concurso Turismo MilitarJanay SilvaAinda não há avaliações
- Sobre o Raio X Como Ideia de Atravessamento ... Aqui Exemplo de Análise Clinica Do Raio XDocumento216 páginasSobre o Raio X Como Ideia de Atravessamento ... Aqui Exemplo de Análise Clinica Do Raio XnunotavoraAinda não há avaliações
- TCC - A Física Na Ressonância MagnéticaDocumento4 páginasTCC - A Física Na Ressonância MagnéticaAmelina Armando NhamuaveAinda não há avaliações
- Um Pouco de História - RadiestesiaDocumento9 páginasUm Pouco de História - RadiestesiadeniltonsAinda não há avaliações
- Radiologia ConvencionalDocumento5 páginasRadiologia ConvencionalMacla PimentelAinda não há avaliações
- Tomografia ComputadorizadaDocumento13 páginasTomografia ComputadorizadaRinaldo100% (1)
- Radiologia Intervencionista - Parte1Documento16 páginasRadiologia Intervencionista - Parte1Otavio GomesAinda não há avaliações
- 1 Introdução A RAD INTERDocumento45 páginas1 Introdução A RAD INTERIsrael RodriguesAinda não há avaliações
- RadiologiaDocumento59 páginasRadiologiazepilintra1000Ainda não há avaliações
- Aula 1 - História Da RadiologiaDocumento11 páginasAula 1 - História Da RadiologiaRodrigo NascimentoAinda não há avaliações
- Slids OdontoDocumento45 páginasSlids OdontoSamara SilvaAinda não há avaliações
- Rad e Análise. de Imagens Livro DigitalDocumento124 páginasRad e Análise. de Imagens Livro DigitalJorge MarquesAinda não há avaliações
- Resumo Introdução A Radiologia Ted de Radiologia Dia 07.03.2023Documento3 páginasResumo Introdução A Radiologia Ted de Radiologia Dia 07.03.2023patricia hermesAinda não há avaliações
- Anatomia Seccional e Por ImagemDocumento36 páginasAnatomia Seccional e Por ImagemSecretaria sadcapelinhaAinda não há avaliações
- Antropologia Forense E Causa MortisNo EverandAntropologia Forense E Causa MortisAinda não há avaliações
- Lei de SalvaDocumento13 páginasLei de SalvacilleneAinda não há avaliações
- Abrindo Os Chakras MãosDocumento6 páginasAbrindo Os Chakras MãoscilleneAinda não há avaliações
- Os ChakrasDocumento11 páginasOs ChakrascilleneAinda não há avaliações
- Como As Emoções Afetam Os ChakrasDocumento1 páginaComo As Emoções Afetam Os ChakrascilleneAinda não há avaliações
- Zé PilintraDocumento11 páginasZé Pilintracillene100% (2)
- Ogum 2Documento9 páginasOgum 2cilleneAinda não há avaliações
- SEREIASDocumento2 páginasSEREIAScilleneAinda não há avaliações
- Oração 7 EncDocumento1 páginaOração 7 EnccilleneAinda não há avaliações
- Pontos de ExuDocumento16 páginasPontos de Exucillene100% (1)
- DOM3930Documento22 páginasDOM3930brunopsirhAinda não há avaliações
- I Farmacologia SlideDocumento45 páginasI Farmacologia SlidevanessaAinda não há avaliações
- Okferidas e CurativosDocumento25 páginasOkferidas e CurativosDAIANE PEREIRA100% (1)
- Consenso DAEMDocumento89 páginasConsenso DAEMBegnailson RibeiroAinda não há avaliações
- Síndrome de Tourette PDFDocumento14 páginasSíndrome de Tourette PDFNunes de LucenaAinda não há avaliações
- Encceja - 180 Questões de Matemática Com ResoluçãoDocumento69 páginasEncceja - 180 Questões de Matemática Com Resoluçãodione.exatasAinda não há avaliações
- PrescriptionDocumento2 páginasPrescriptionThalita ZarrellaAinda não há avaliações
- Entrevista Com Stanley Keleman - Autor de ANATOMIA EMOCIONALDocumento8 páginasEntrevista Com Stanley Keleman - Autor de ANATOMIA EMOCIONALJorge IvanAinda não há avaliações
- Gravidez e Pré-EclâmpsiaDocumento22 páginasGravidez e Pré-EclâmpsiaCDuque100% (13)
- Projecto de RefrigeracaoDocumento65 páginasProjecto de RefrigeracaoIldo Alberto PunguaneAinda não há avaliações
- Terapia Cognitivo Comportamental para Casais Edison Vizzoni IBH Outubro 2014Documento29 páginasTerapia Cognitivo Comportamental para Casais Edison Vizzoni IBH Outubro 2014Laura Mesquita100% (1)
- Autorizacoes BRB 2010Documento65 páginasAutorizacoes BRB 2010Igor HeringerAinda não há avaliações
- Estudo de Caso EMCR - Parte I e IIDocumento105 páginasEstudo de Caso EMCR - Parte I e IINuno Lopes MartinsAinda não há avaliações
- Câncer de Mama Câncer de MamaDocumento2 páginasCâncer de Mama Câncer de MamaMurillo Pyaia Alves PaixãoAinda não há avaliações
- FISPQ - FormaldeidoDocumento4 páginasFISPQ - FormaldeidoLaboratório LVAinda não há avaliações
- N° 272-2002 Sae...Documento3 páginasN° 272-2002 Sae...Helio SoaresAinda não há avaliações
- Trauma Cranioencefálico (Capítulo de Livro)Documento20 páginasTrauma Cranioencefálico (Capítulo de Livro)marciopanatofAinda não há avaliações
- Ficha de .Documento5 páginasFicha de .Filipe PiresAinda não há avaliações
- 44 Puncao Arterial para Verificacao de PAMDocumento4 páginas44 Puncao Arterial para Verificacao de PAMDenise SilvaAinda não há avaliações
- FT - Hemostático de Celulose - CURACELDocumento2 páginasFT - Hemostático de Celulose - CURACELfabricio.spenglerAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introducao A Saude e Seguranca Do Trabalho - Abcdpdf - PDF - para - PPTDocumento46 páginasAula 1 - Introducao A Saude e Seguranca Do Trabalho - Abcdpdf - PDF - para - PPTLuaid BorgesAinda não há avaliações
- 10 Maneiras Faceis de Fechar A BocaDocumento2 páginas10 Maneiras Faceis de Fechar A BocaRoseli gea verissimoAinda não há avaliações
- Gasometria Pratica!Documento18 páginasGasometria Pratica!Juan LucasAinda não há avaliações
- FST-7 2Documento15 páginasFST-7 2Darwes FreitasAinda não há avaliações
- Primeiros SocorrosDocumento234 páginasPrimeiros Socorrossandrasilvestre702522Ainda não há avaliações
- Vampires Mate 2 - Soren - Grae BryanDocumento315 páginasVampires Mate 2 - Soren - Grae BryanNininha SilvaAinda não há avaliações