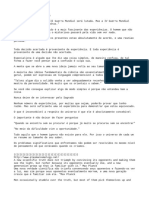Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Ciência e A Fragilidade-Texto
A Ciência e A Fragilidade-Texto
Enviado por
Rocio Rojo Valle0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações2 páginasO documento discute como a ciência contemporânea reforça o sentimento da fragilidade do mundo através da introdução de conceitos como incerteza, contingência e complexidade. A física quântica mostra que objetos não têm propriedades definidas ao nível subatômico. A biologia ensina que a evolução depende de mutações aleatórias. A meteorologia demonstrou que pequenas variações iniciais podem levar a grandes mudanças, como no efeito borboleta. Isto contradiz a visão determinista da ciência cl
Descrição original:
Título original
A ciência e a fragilidade-texto
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO documento discute como a ciência contemporânea reforça o sentimento da fragilidade do mundo através da introdução de conceitos como incerteza, contingência e complexidade. A física quântica mostra que objetos não têm propriedades definidas ao nível subatômico. A biologia ensina que a evolução depende de mutações aleatórias. A meteorologia demonstrou que pequenas variações iniciais podem levar a grandes mudanças, como no efeito borboleta. Isto contradiz a visão determinista da ciência cl
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações2 páginasA Ciência e A Fragilidade-Texto
A Ciência e A Fragilidade-Texto
Enviado por
Rocio Rojo ValleO documento discute como a ciência contemporânea reforça o sentimento da fragilidade do mundo através da introdução de conceitos como incerteza, contingência e complexidade. A física quântica mostra que objetos não têm propriedades definidas ao nível subatômico. A biologia ensina que a evolução depende de mutações aleatórias. A meteorologia demonstrou que pequenas variações iniciais podem levar a grandes mudanças, como no efeito borboleta. Isto contradiz a visão determinista da ciência cl
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 2
A ciência e a fragilidade
O sentimento da fragilidade do mundo é reforçado pela ciência contemporânea. Na ciência
clássica, que nasceu com Descartes e Galileu e se manteve até Einstein, o real parecia ser
estruturado por um determinismo estrito. Não podia ser diferente daquilo que era e a
necessidade da sua existência conferia-lhe uma certa solidez. Contudo, a ciência
contemporânea pôs de parte o modelo do determinismo absoluto. As noções de acaso,
acontecimento, incerteza, ruído, caos, desordem, catástrofe, infiltraram-se na representação
do mundo. Daqui em diante, o indeterminismo e a contingência estão presentes em todo o
lado. O acidental, considerado outrora uma heresia ou rejeitado por não ser digno de
interesse, é reabilitado. Assim sendo, a impressão de robustez dada pelo real dissipa-se.
Em física quântica, o investigador lida cada vez menos com elementos estáveis,
localizáveis, comparáveis com tijolos destinados a serem utilizados numa construção. Para
dizer a verdade, o objecto do seu estudo já não são as coisas. Ao nível subatómico, as coisas
volatilizam-se, os objectos deixam de ter coordenadas espaciais precisas e dão a sensação
de não existirem: restam apenas campos de energia, fenómenos instáveis, acontecimentos.
Tudo decorre como se, à medida que progredia o conhecimento subatómico, a imagem da
matéria se «desmaterializasse».
Em biologia, reina igualmente a contingência. A genética ensina-nos que a cadeia da
reprodução é constantemente parasitada por mutações, de tal forma que a existência dos
seres vivos, a estabilidade do seu genótipo e as suas hipóteses de sobrevivência são
constantemente postas em causa. A cosmologia é também ela afligida pela contingência: as
galáxias têm vidas atormentadas e o Universo, longe de ser imutável, é o resultado de um
acontecimento, o big bang, que talvez pudesse não ter sucedido.
A ciência actual é uma obra em constantes convulsões, trabalhada por novos conceitos que
contrastam de um modo surpreendente com a ordem e a simplicidade, características da
ciência clássica. Estes singulares utensílios conceptuais são testemunhos de que a incerteza
não corresponde, como se pensava antigamente, a um estádio primitivo do conhecimento, a
um défice do saber, sendo pois constitutiva da própria essência do real, um real com
estruturas cada vez mais evanescentes e instáveis.
A noção de complexidade contribui para este quadro da fragilidade generalizada. A ciência
clássica privilegiava a simplicidade, como é aliás realçado na segunda regra do método
cartesiano, «dividir a dificuldade no número de partes possíveis». Tinha tendência para
reprimir a complexidade; no entanto, adquiriu doravante o estatuto de conceito operatório, o
qual tem uma importância crescente na sociologia, na física quântica, na economia, nas
ciências da Terra, na climatologia, na biologia… Não existe praticamente nenhum domínio
onde o investigador não seja confrontado com estudos caracterizados ao mesmo tempo por
numerosos elementos e pela multiplicidade das interdependências que os ligam. Ora, nestes
sistemas, quanto mais crescer a complexidade mais cresce a fragilidade (basta pensar na
fragilidade dos ecossistemas). Nos veículos da ideia de complexidade, a ideia de
vulnerabilidade é portanto introduzida no seio da visão científica do mundo.
O teorema sobre a sensibilidade às condições iniciais vai no mesmo sentido. Em 1961, um
investigador em meteorologia, Edward Lorenz, fez uma descoberta única. Estava a simular
sistemas meteorológicos em computador quando cometeu um pequeno erro numérico na
atribuição do valor de um parâmetro. Ao fim de um certo tempo, este erro, por não ter sido
neutralizado como se poderia pensar, levou à desestabilização total do sistema (ver J.
Gleick, Caos – A construção de uma nova ciência). Uma ligeira variação nas condições
iniciais poderia então provocar uma gigantesca convulsão. Lorenz tornou pública esta
descoberta fortuita e para isso recorreu a uma metáfora que se tornou célebre: o bater de
asas de uma borboleta, produzido num determinado lugar do globo, poderia desencadear um
tornado a algumas dezenas de milhar de quilómetros de distância.
Sob o nome poético de «efeito borboleta», o fenómeno caótico assim desvendado nada
tinha de tranquilizante. O determinismo clássico assentava no princípio de uma
proporcionalidade entre o efeito e a causa, o que atribuía um carácter tranquilizador à
imagem do mundo. Mas a revelação evidenciada pela teoria do caos era fortemente
perturbadora: contra qualquer expectativa, certas causas insignificantes eram susceptíveis
de provocar consequências desmedidas. Longe de ser amortecida pelo grande turbilhão do
real, a mais pequena variação podia aumentar de forma descontrolada. Então, perante o real,
que tranquilidade poderemos ter? Como permanecer sereno tendo em conta a ameaça desta
desproporção irracional? Se determinarmos todas as consequências do efeito borboleta,
teremos de aceitar a instabilidade dos sistemas que nos rodeiam. O que é que à nossa volta
poderá ser considerado sólido, dado que a acção de um génio maligno pode a qualquer
momento desencadear as forças do caos?
Você também pode gostar
- Universo quântico e sincronicidade. A visão antrópica. As coincidências significativas. O inconsciente coletivo. O papel das pandemias no caminho evolutivo humano.No EverandUniverso quântico e sincronicidade. A visão antrópica. As coincidências significativas. O inconsciente coletivo. O papel das pandemias no caminho evolutivo humano.Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- O problema do aumento da energia humana (Traduzido): Com referências especiais ao aproveitamento da energia do solNo EverandO problema do aumento da energia humana (Traduzido): Com referências especiais ao aproveitamento da energia do solNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Astrologia - História e Julgamento - John Anthony WestDocumento147 páginasA Astrologia - História e Julgamento - John Anthony WestsilqueiraAinda não há avaliações
- Unidade DosadoraDocumento5 páginasUnidade Dosadoramessas93100% (1)
- 28-Manual Do Novo Fiesta Mecanica 2000Documento123 páginas28-Manual Do Novo Fiesta Mecanica 2000Idarlan Pereira da Silva100% (8)
- A Física Das PossibilidadesDocumento10 páginasA Física Das PossibilidadesGiba ThiemAinda não há avaliações
- ESCALÍMETRODocumento3 páginasESCALÍMETROVictor MadeiraAinda não há avaliações
- 8 Mistérios Ainda Inexplicáveis para A CiênciaDocumento18 páginas8 Mistérios Ainda Inexplicáveis para A CiênciaSamael LainAinda não há avaliações
- Guia Engenheiros Do Vácuo (Revisado)Documento29 páginasGuia Engenheiros Do Vácuo (Revisado)Renan MattosAinda não há avaliações
- Vácuo QuanticoDocumento6 páginasVácuo QuanticoMatheus Ferreira de BarrosAinda não há avaliações
- Exercicios Zener e ReguladorDocumento10 páginasExercicios Zener e ReguladorPlinioSantosAinda não há avaliações
- Realidade Quc3a2ntica Nick Herbert PDFDocumento742 páginasRealidade Quc3a2ntica Nick Herbert PDFJanaina AbílioAinda não há avaliações
- A Interpretação Dos Muitos Mundos Da Física Quântica Tem Quase 60 AnosDocumento5 páginasA Interpretação Dos Muitos Mundos Da Física Quântica Tem Quase 60 AnosFausto NéfiAinda não há avaliações
- Y Ben-Dov-Convite À Física (1995)Documento79 páginasY Ben-Dov-Convite À Física (1995)jerry cristiano100% (1)
- O Caos e A Harmonia - A Fabricação Do Real by Trinh Xuan Thuan PDFDocumento404 páginasO Caos e A Harmonia - A Fabricação Do Real by Trinh Xuan Thuan PDFPedro RatisAinda não há avaliações
- Química - Pré-Vestibular Impacto - Tabela Periódica - Propriedades PeriódicasDocumento2 páginasQuímica - Pré-Vestibular Impacto - Tabela Periódica - Propriedades PeriódicasQuímica Qui100% (5)
- Física Quântica e EspiritualidadeDocumento9 páginasFísica Quântica e EspiritualidadeanjsosolarAinda não há avaliações
- DeusesDocumento16 páginasDeusesJorge PortesAinda não há avaliações
- Exercícios Cromatografia Gasosa e HPLCDocumento5 páginasExercícios Cromatografia Gasosa e HPLCDaiana Daniele Boeff100% (1)
- LaudoTecnico 0039 22Documento2 páginasLaudoTecnico 0039 22Josias SerafimAinda não há avaliações
- Atividade 1 - JackelineMDocumento4 páginasAtividade 1 - JackelineMJackeline MeirelesAinda não há avaliações
- A Escuridão Do UniversoDocumento5 páginasA Escuridão Do UniversoValdecy Feliciano Do NascimentoAinda não há avaliações
- Verdades Relativas - Marcelo Gleiser - Ciência - Física - AstrofísicaDocumento3 páginasVerdades Relativas - Marcelo Gleiser - Ciência - Física - AstrofísicazikAinda não há avaliações
- Filo SofiaDocumento79 páginasFilo SofiaSandra Gabriela L. OliveiraAinda não há avaliações
- Ciência e Mito RESUMODocumento5 páginasCiência e Mito RESUMOAndre MRAinda não há avaliações
- AshtarDocumento19 páginasAshtarMagnus CastroAinda não há avaliações
- Introdução - Como o Atomismo Foi RetomadoDocumento22 páginasIntrodução - Como o Atomismo Foi RetomadoAndré Augusto PassariAinda não há avaliações
- 8532-Texto Do Artigo-36295-1-10-20171218Documento5 páginas8532-Texto Do Artigo-36295-1-10-20171218Mauricio FerrazAinda não há avaliações
- A Evolução Da CiênciaDocumento10 páginasA Evolução Da Ciênciadiana pocinhoAinda não há avaliações
- S2 - L4 - BARBOUR - As Implicações Da Física Quântica PDFDocumento16 páginasS2 - L4 - BARBOUR - As Implicações Da Física Quântica PDFDiego Bezerra de MelloAinda não há avaliações
- O Fluido Cósmico Universal e As Teorias CosmológicasDocumento4 páginasO Fluido Cósmico Universal e As Teorias CosmológicasAndré Luís Mattedi Dias100% (1)
- A Nova AliançaDocumento24 páginasA Nova AliançaClaude BrechtAinda não há avaliações
- Estadistica Empresarial ProbabilidadesDocumento32 páginasEstadistica Empresarial Probabilidadesmemito100% (1)
- O Cataclismo Mundial em 2012 Patrick GerylDocumento299 páginasO Cataclismo Mundial em 2012 Patrick GerylCristina JohannAinda não há avaliações
- Texto Aula KuhnDocumento3 páginasTexto Aula KuhnJoão CalçasAinda não há avaliações
- Dimensões: Um Livro de Casos Sobre Contato AlienígenaDocumento196 páginasDimensões: Um Livro de Casos Sobre Contato AlienígenaJúlio ResendeAinda não há avaliações
- Sagan - A Suposição Da MediocridadeDocumento5 páginasSagan - A Suposição Da Mediocridadepenny bk01Ainda não há avaliações
- Paradigma Versus Estilo de Pensamento Na História Da CiênciaDocumento4 páginasParadigma Versus Estilo de Pensamento Na História Da CiênciaElerson Decroux M'abembeAinda não há avaliações
- Jrtoniato,+almeida 33499 FinalDocumento13 páginasJrtoniato,+almeida 33499 FinalwilsonAinda não há avaliações
- Rodrigo Romo - A Multidimensionalidade Do Universo Morontial - Portal ShtareerDocumento2 páginasRodrigo Romo - A Multidimensionalidade Do Universo Morontial - Portal ShtareerRodrigo VenturaAinda não há avaliações
- 6 - Ciencia MorinDocumento7 páginas6 - Ciencia MorinJaneth EnriquezAinda não há avaliações
- Evolução Da CiênciaDocumento6 páginasEvolução Da CiênciaMaria DuarteAinda não há avaliações
- Mecânica Dos Fluidos Sob A Luz Das Fractais e Do CaosDocumento21 páginasMecânica Dos Fluidos Sob A Luz Das Fractais e Do CaosPaulo Fernando100% (4)
- Ciencia ExtraordináriaDocumento4 páginasCiencia ExtraordináriaDaniel FerreiraAinda não há avaliações
- DUHEM, Pierre - Salvar Os Fenômenos - ConclusãoDocumento3 páginasDUHEM, Pierre - Salvar Os Fenômenos - ConclusãoLuê S. PradoAinda não há avaliações
- Aula 5Documento12 páginasAula 5Adriano Silva SouzaAinda não há avaliações
- A Nova Aliança: A Metamorfose Da Ciência (Llya Prigogine)Documento8 páginasA Nova Aliança: A Metamorfose Da Ciência (Llya Prigogine)Zara HoffmannAinda não há avaliações
- Apologia de Émile Boutroux - SAPIENTIAM AUTEM NON VINCIT MALITIADocumento19 páginasApologia de Émile Boutroux - SAPIENTIAM AUTEM NON VINCIT MALITIARodolfo BaggioAinda não há avaliações
- Charlatanismo QuanticoDocumento8 páginasCharlatanismo QuanticojlartificeAinda não há avaliações
- Quem Foi Albert EinsteinDocumento2 páginasQuem Foi Albert EinsteinSergio SubtilAinda não há avaliações
- Ensaio - Vácuo AbsolutoDocumento3 páginasEnsaio - Vácuo AbsolutoValdiélio MenezesAinda não há avaliações
- Artigo - Teoria Quântica Do Direito - Túlio Lima VianaDocumento22 páginasArtigo - Teoria Quântica Do Direito - Túlio Lima VianaEllen Adeliane FernandesAinda não há avaliações
- A Revolução Cientifica - Brandão 2010Documento7 páginasA Revolução Cientifica - Brandão 2010Bruno StorckmannAinda não há avaliações
- A Ciencia No Seculo XXDocumento16 páginasA Ciencia No Seculo XXJoelcy BarrosAinda não há avaliações
- O Simples e o Complexo Na Educação Científica - GiseleshawDocumento9 páginasO Simples e o Complexo Na Educação Científica - GiseleshawgiseleshawAinda não há avaliações
- Cheikh Anta Diop-FILOSOFIA, CIÊNCIA E RELIGIÃODocumento22 páginasCheikh Anta Diop-FILOSOFIA, CIÊNCIA E RELIGIÃOTainan ConradoAinda não há avaliações
- TCD HEC 2020.2 Eduardo - Dias PDFDocumento9 páginasTCD HEC 2020.2 Eduardo - Dias PDFEduardo DiasAinda não há avaliações
- Resumo de "Um Discurso Sobre As Ciências"Documento7 páginasResumo de "Um Discurso Sobre As Ciências"GabrielAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Relação: Sociedade-NaturezaDocumento30 páginasFundamentos Da Relação: Sociedade-NaturezaAgata ValtingojerAinda não há avaliações
- Epistemologia Trabalho FinalDocumento10 páginasEpistemologia Trabalho Finalmelissa costaAinda não há avaliações
- Frases de Genios Da CienciaDocumento9 páginasFrases de Genios Da CienciaLauda PilloAinda não há avaliações
- Buracos Negros PDFDocumento7 páginasBuracos Negros PDFAshutosh NagAinda não há avaliações
- Introdução Ao ConhecimentoDocumento25 páginasIntrodução Ao ConhecimentoIsabelle GarciaAinda não há avaliações
- Testes de Comparação Múltipla de MédiasDocumento4 páginasTestes de Comparação Múltipla de MédiasCarlos ReisAinda não há avaliações
- Edital de Tomada de Precos N 008 2018 Projeto BasicoDocumento87 páginasEdital de Tomada de Precos N 008 2018 Projeto BasicoSamora Tooling EngineerAinda não há avaliações
- Distribuicao Probabilidade Binomial Hipergeometrica PoissonDocumento5 páginasDistribuicao Probabilidade Binomial Hipergeometrica PoissonPhillip Solone Vitor Soares100% (1)
- AGRALE - Tratores 4000, 4100, 41004Documento2 páginasAGRALE - Tratores 4000, 4100, 41004Joao Vitor Isaac100% (1)
- Apostila Tre Ba Raciociniologico EdgarDocumento62 páginasApostila Tre Ba Raciociniologico EdgarElisangela Lima100% (1)
- TrigonometriaDocumento12 páginasTrigonometriaJociele NascimentoAinda não há avaliações
- Catálogo AÇOS VITAL - Flanges, Conexões, Válvulas e TubosDocumento70 páginasCatálogo AÇOS VITAL - Flanges, Conexões, Válvulas e TubosDudu VitalAinda não há avaliações
- Trabalho A2 - Quimica TecnologicaDocumento5 páginasTrabalho A2 - Quimica TecnologicaStéphanie CalazansAinda não há avaliações
- Fisica I EscalasDocumento3 páginasFisica I Escalasfernando meloAinda não há avaliações
- Elementos e Fatores Do Clima - ResumoDocumento37 páginasElementos e Fatores Do Clima - ResumoBeatriz AlvesAinda não há avaliações
- 1 - Constituição Do Átomo PDFDocumento2 páginas1 - Constituição Do Átomo PDFCinda MoraisAinda não há avaliações
- MS Bematech MP20Documento55 páginasMS Bematech MP203kinformaticaAinda não há avaliações
- Gerenciamento de Memoria-Segmentação e PaginaçãoDocumento48 páginasGerenciamento de Memoria-Segmentação e PaginaçãoEnéas LyraAinda não há avaliações
- Andamentos Musicais - Tese PDFDocumento141 páginasAndamentos Musicais - Tese PDFdanielle_sardin8113Ainda não há avaliações
- Análises Bromatológicas - AVADocumento79 páginasAnálises Bromatológicas - AVAJéssica TussiAinda não há avaliações
- Cinética Química - Unimontes PDFDocumento3 páginasCinética Química - Unimontes PDFRoberta TerenceAinda não há avaliações
- Psi2307 - 2004 Teoria 5 AmpPSDocumento19 páginasPsi2307 - 2004 Teoria 5 AmpPSFernando MoraisAinda não há avaliações
- Sfi-Pro 6 PDFDocumento176 páginasSfi-Pro 6 PDFFatima Rodrigues PereiraAinda não há avaliações
- Trabalho de Recuperação BimestralDocumento2 páginasTrabalho de Recuperação BimestralRuth DuarteAinda não há avaliações
- A Relação Entre Sensação e PercepçãoDocumento62 páginasA Relação Entre Sensação e PercepçãoMario RighettiAinda não há avaliações
- Cooper Pretronica Iluminacao de SegurancaDocumento92 páginasCooper Pretronica Iluminacao de Segurancacac18315Ainda não há avaliações
- Prova II 6anoDocumento5 páginasProva II 6anoLaiz LeiteAinda não há avaliações