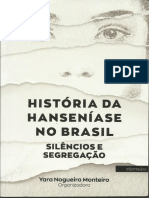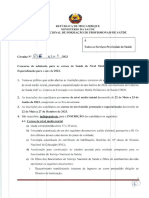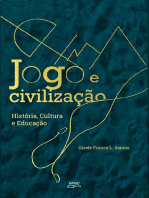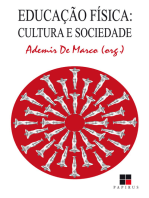Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Kuschinir
Enviado por
Daniele BorgesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Kuschinir
Enviado por
Daniele BorgesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cadernos de Arte e Antropologia
Vol. 5, No 2 | 2016
Antropologia e desenho
Anthropology and drawing
Edição electrónica
URL: http://journals.openedition.org/cadernosaa/1089
DOI: 10.4000/cadernosaa.1089
ISSN: 2238-0361
Editora
Núcleo de Antropologia Visual da Bahia
Refêrencia eletrónica
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016, « Antropologia e desenho » [Online], posto online no
dia 01 outubro 2016, consultado o 25 fevereiro 2020. URL : http://journals.openedition.org/
cadernosaa/1089 ; DOI:10.4000/cadernosaa.1089
Este documento foi criado de forma automática no dia 25 fevereiro 2020.
© Cadernos de Arte e Antropologia
1
TABLE OF CONTENTS
Dossiê "Antropologia e desenho"
Editorial
A antropologia pelo desenho: experiências visuais e etnográficas
Karina Kuschnir
Artigos
Desenho e antropologia: recuperação histórica e momento atual
Aina Azevedo
Crús e descosidos. Reflexões em torno do ensino do desenho da antropologia
Philip Cabau
De l’objet intrinsèque à la pensée technique : le rôle médiateur du dessin en ethnographie
maritime
Christine Escallier
“Deixei o desenho enterrado” ou como ressuscitar o grafismo enquanto metodologia
antropológica: um caso prático
Inês Belo Gomes
Etno-artes
Relatos e imagens da cracolândia: modos de vida e resistência na rua
Thiago Godoi Calil
Desenhando nas margens. Diário de campo visual de uma experiência etnográfica
Fernando Monteiro Camargo
Artigos
Na cozinha da pesquisa: relato de experiência na disciplina “Métodos e Técnicas em
Antropologia Social”
Fabiene Gama and Soraya Fleischer
Filiaciones: una lectura crítica de la ‘historia secreta’ de Greil Marcus
Marina Hervás Muñoz
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
2
Dossiê "Antropologia e desenho"
Special Issue "Anthropology and drawing"
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
3
Dossiê "Antropologia e desenho"
Editorial
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
4
A antropologia pelo desenho:
experiências visuais e etnográficas
Karina Kuschnir
“First, drawing was nothing, then it became freedom.”
1 É com muita alegria que escrevo esta introdução ao dossiê Antropologia e Desenho da
revista Cadernos de Arte e Antropologia em 2016. Constatar o crescimento da área é
revigorante. Passaram-se apenas cinco anos desde que o tema se tornou parte da minha
vida como pesquisadora e, coincidentemente, ganhou maior visibilidade na literatura
antropológica internacional. Parece pouco, mas o que vimos nesse intervalo de 2011 até o
presente foi muito: a bibliografia diminuta e tangencial multiplicou-se e adensou-se,
como tão bem ilustram os autores deste volume e suas referências. Já abordei
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
5
recentemente algumas dessas obras e suas consequências práticas para uma renovação do
trabalho etnográfico (Kuschnir 2016a). Nesta introdução, faço um comentário panorâmico
da área, acreditando que minha própria aproximação do assunto ilustra algumas de suas
características atuais. Busco estabelecer a relação do tema com o universo de valores
antimodernizantes, assim como sintetizar algumas das discussões abordadas por seus
autores-chave.
2 Eu estaria mentindo se dissesse que foi na própria antropologia que encontrei inspiração
para escrever meu primeiro plano de pesquisa sobre desenho e etnografia. Na época, tudo
que eu conhecia de antropologia visual girava em torno das câmeras de fotografar e de
filmar, enquanto na antropologia da arte e do grafismo, o foco era na produção indígena.
Durante a escrita do projeto, não existiam ainda dois livros que se tornaram referências
na área, I swear I saw this (de Michael Taussig) e Being Alive (de Tim Ingold), ambos
publicados em algum momento desse mesmo ano de 2011. E, por incompetência e falta de
tempo para um bom levantamento bibliográfico, escaparam-me as Histórias Etíopes, de
Manuel João Ramos (2010 [2000]), e os artigos fundamentais de Afonso e Ramos (2004),
Ramos (2004), Hendrickson (2008, 2010), Leal (2008), entre tantos outros dispersos.
3 A ideia de que o pesquisador também pudesse desenhar (e, portanto, conhecer o mundo
por meio desse processo) me veio de outro lugar. Eu ia escrever “da arte”, mas essa não é
bem a palavra correta. Nos anos 2000, surgem nas livrarias e na internet, em diferentes
lugares do mundo, autores dedicados à produção de desenhos de observação que não se
identificam como artistas. São sketchers – ou, como diz a boa tradução portuguesa,
“desenhadores” – pessoas que desenham para registrar sua vida, suas viagens, suas
memórias. Não almejam as galerias de arte nem a venda de seus trabalhos, tampouco a
redação de teses acadêmicas: desenham (e escrevem) em cadernos. Desse período, surge
uma renovação da paisagem gráfica através de plataformas online de compartilhamento
de imagens e textos tais como Yahoo Groups (grupo Every Day Matters, fundado por Danny
Gregory, em 2004, inspirado em seu livro com o mesmo nome, de 2003), Blogger ( O
Desenhador do Quotidiano, de Eduardo Salavisa, criado em 2006, pouco antes da publicação
do livro Diário de Viagem, de 2008, organizado pelo autor) e Flickr (onde surgiu o grupo
Urban Sketchers, em 2007, de Gabi Campanhario). Em pouco tempo, milhares de pessoas
estavam participando desses espaços, lendo os livros que os inspiraram e desenhando em
cadernos – eu inclusive.
4 Em 2011, aconteceu o segundo encontro internacional dos Urban Sketchers (USK), em
Lisboa, Portugal. Ao participar desse evento (como aluna), conheci mais de perto vários
autores cujos projetos esfumaçavam as fronteiras entre desenho e produção de
conhecimento. Fiquei fascinada em mergulhar nessa conversa que me pareceu
sinceramente interessada no diálogo interdisciplinar. Ali, por exemplo, ouvi a palestra de
Ruth Rosengarten (2012), primeira autora da antropologia que conheci diretamente
fazendo uma apresentação sobre o tema “antropologia e desenho”, onde chegara por via
dos historiadores do cotidiano e dos desenhadores urbanos.
5 Uma semana depois desse evento, de volta ao Brasil, me vi diante de uma oportunidade:
faltava um mês para enviar o pedido de renovação do meu projeto como bolsista-
pesquisadora junto ao CNPq (principal órgão de fomento à ciência e tecnologia do Brasil).
Após vinte anos publicando na área da antropologia da política, onde fiz minha carreira,
resolvi apostar na aventura de propor uma investigação sobre desenho e antropologia
urbana. E não escrevo aventura como recurso retórico. Eu estava certa de que perderia a
bolsa e de que não convenceria meus pares avaliadores de que aquele tema fazia sentido.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
6
Minha sensação era de tatear no escuro. Onde estavam as referências e a teoria
antropológica? Eu mal suspeitava. Felizmente, me deram crédito (Kuschnir 2011).
6 O resto é história. O diálogo entre antropologia e desenho está cada vez mais produtivo.
Em 2016, foram organizados pelos menos dois dossiês em revistas acadêmicas sobre o
tema – além deste, da Cadernos de Arte e Antropologia, o assunto foi central na edição de
agosto da Visual Ethnography (Kuschnir 2016a) . Passamos também a encontrar artigos
sobre desenho em periódicos de referência como Journal of the Royal Anthropological
Institute (Grimshaw & Ravetz 2015) e Visual Anthropology Review (Geismar 2014). Na pós-
graduação, estamos começando a colher os resultados no campo das dissertações de
mestrado e teses de doutorado (como mostram vários artigos deste volume).
7 Mas do que falam os autores quando abordam antropologicamente o desenho, ou melhor,
quando abordam “desenhativamente” a antropologia? Perdoem o neologismo, mas foi
justamente por essa última perspectiva que, do meu ponto de vista, se fortaleceu a ideia
de que registros gráficos e antropologia têm grande potencial de contribuição mútua. Foi
por gostar de desenhos e da experiência de desenhar que antropólogos e antropólogas
trouxeram essa prática para dentro de suas reflexões profissionais, e não ao contrário.
8 Como sabemos, ao longo do século XX, o desenho perdeu seu protagonismo para os
equipamentos de produção de imagens como a câmera fotográfica e filmadora. O
aprendizado da técnica vai desaparecendo dos currículos escolares (ao menos na tradição
ocidental) e seus profissionais deixam de figurar como membros indispensáveis de
equipes de pesquisa, passando a ocupar áreas e nichos específicos, seja em núcleos de
ilustração científica, seja em artes, arquitetura e design. Mesmo nesses campos, o meio
digital ocupou grande parte da produção do conhecimento visual gráfico.
9 Nas ciências sociais, a presença do desenho ficou praticamente restrita às pesquisas onde
o universo de interesse é, ele próprio, o produtor das imagens, como na pintura corporal,
na confecção de padronagens, marcas e “quimeras” visuais nos mais diversos suportes
(Severi e Lagrou 2013). Mais do que um esquecimento, Leal (2008) aponta para a
necessidade da antropologia de se afastar de uma prática (de desenhar) tão fortemente
associada ao empreendimento colecionista, folclórico, pouco preparada para enfrentar
questões abstratas (cosmológicas, estruturais, subjetivas) que ganham tanta centralidade
na disciplina ao longo do século, especialmente no pós-guerra. Não me refiro aqui às
dimensões do desenho na forma de diagramas, redes, árvores de parentesco e mapas que,
justamente dando conta de abstrações e sínteses, estão presentes nas obras
antropológicas como se fossem entidades objetivas. A tal ponto isso ocorre que se tornam
invisíveis como marcas gráficas feitas por sujeitos específicos. Surgem como “dados”,
cujas formas e autorias não são problematizadas ou sequer identificadas nos créditos da
imagem. Não seriam também desenhos? (Gell 1999)
10 Essas são apenas algumas das pistas que nos levam a considerar a relação da antropologia
com o desenho não como um campo isolado, mas como parte do panorama filosófico mais
amplo da disciplina, que se movimenta na complexa tripartição de oposições e
complementações entre iluminismo, romantismo e nominalismo/empiricismo, tal como
delineados por Duarte (2012). A redescoberta da prática de desenho etnográfico – agora
como parte de um projeto subjetivo do investigador, uma das chaves do momento atual –
a meu ver caminha junto com a proposta de se reinventar a produção antropológica pelos
autores do horizonte pós-moderno.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
7
11 Ao se contrapor a uma suposta configuração moderna dos saberes sociais (fria,
materialista, racional), a antropologia teria como missão “voltar à vida” (para citar o
projeto de Ingold 2011), resgatando valores como “sensibilidade, subjetividade,
criatividade, espontaneidade, espírito, fluxo, experiência, pulsão, vida, totalidade,
singularidade – com complexas articulações internas e ênfases conjunturais variadas”
(Duarte 2012: 425). Para Duarte, ao contrário do que defendem muitos dos autores do
cenário, esse movimento não constituiria uma inovação ungida pela “epistemologia
xamânica” (o outro etnológico por excelência), mas uma reinvenção de muitas ideias que
navegam nas correntes românticas (ou neorromânticas) e nominalistas da própria
história do pensamento ocidental (idem, p. 432).
12 Um aspecto fundamental da análise de Duarte é mostrar que, ao contrário do que ocorreu
no campo das ciências sociais, a partir do século XVIII, os ideais do empirismo romântico
do ocidente continuaram férteis no mundo da arte, “toda ela dedicada (...) a esse estado
alternativo, criativo e sensível” (idem, p. 422). Para o autor, a antropologia-pós vai em
busca de “novas fórmulas vitais”, mais “sensíveis”, mais “fluidas”, e cada vez mais
próximas dos domínios da arte, exatamente a região onde, segundo Lévi-Strauss, os
ocidentais ainda protegem e deixam “florescer” o seu “pensamento selvagem” (idem, p.
428; e Lévi-Strauss, apud Duarte, 2012: 440).
13 Faz diferença, portanto, perceber que é pelo viés da experiência artística que o desenho se
reaproxima do fazer antropológico nesse início do século XXI, e não ao contrário. A
abordagem é pela via de uma arte fortemente inspirada nos valores românticos, descolada
de molduras mercadológicas ou profissionalizantes. O caderno como suporte para o
registro gráfico – em suas várias acepções de diário de viagem, caderno de campo,
sketchbook, bloco de notas e de esboços visuais – é o objeto que, a meu ver, simboliza a
ponte entre o mundo do desenho e o da etnografia. O caderno está intimamente
relacionado com seu portador, ambos (autor e objeto) imersos numa viagem em busca da
observação e da vivência em um cotidiano estrangeiro. Diários gráficos como os de
Debret, Delacroix, Picasso, Klee, Le Corbusier, são frequentemente citados como
inspiração para o desenho de observação que valoriza o “testemunho” de um autor
mergulhado não apenas numa paisagem (natural ou urbana) mas numa “experiência”
local, em modos de vida (Salavisa, 2008; Kuschnir, 2011, 2012). Como afirma, Rosengarten
(2012), inspirada em Certeau, pode-se perder a visão do todo, mas busca-se uma
exploração “corporal” e “sensitiva” dos espaços.
14 A crítica de Duarte (2012) ao que ele denomina de “horizonte pós” não é pela sua maior ou
menor adesão ao universo de valores românticos, mas pela atitude de seus autores em se
apresentar como inventores de uma “nova” antropologia, num movimento que beira a
automistificação. Com exceção de Ingold (2011, 2013) – claramente imbuído do papel de
profeta da linha que trará a “vida” de volta à antropologia –, entendo que grande parte
dos antropólogos que está, atualmente, explorando as possibilidades do desenho
etnográfico não se enquadra nesse tipo de crítica. Ao contrário, afinadas em diferentes
graus com a busca por uma investigação mais sensível, subjetiva, criativa e vivida, as
publicações da área também parecem reconhecer sua dívida com a tradição
malinowskiana de trabalho de campo, especialmente em suas fortes influências
românticas, e não somente as empiricistas e positivistas, conforme lembra Duarte (2012),
seguindo a argumentação de Strenski (1982). Para este último, o tom neorromântico de
Argonautas do pacífico ocidental é crucial para entendermos a obra, como podemos
constatar em um dos trechos finais do livro, onde Malinowski descreve, num único
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
8
parágrafo, seu objetivo de buscar a cosmologia (Weltanschauung) nativa para compreender
seu “sopro de vida”, aquilo pelo qual se “vive e respira”, seu “zest of life”; sendo a
etnografia uma busca por vários “tipos de vida”, a “vida e o mundo de vários ângulos”
(Malinowski 1922:517, apud Strenski 1982:766).
15 Os ideais de um fazer antropológico que valoriza o trabalho de campo intenso e imersivo
(a la Malinowski) e conectado às dimensões da subjetividade, da criatividade, do fluxo e
da experiência se alinham fortemente com as noções de John Berger, autor-chave do
campo da arte, que fertiliza muitos dos trabalhos antropológicos na área (e deste volume).
Em uma formulação famosa, Berger reafirma a centralidade do sujeito e da sua
singularidade na produção do desenho de observação: uma árvore desenhada não é uma
árvore, mas uma “árvore desenhada por alguém” (2005:71). É do reconhecimento desse
self, e não somente daquilo que está fora dele, que o investigador vivencia (e registra) o
mundo à sua volta. Ou seja, o sentido de um desenho é indissociável da biografia, do olhar
e da imaginação de seu autor, bem como das condições em que foi produzido, tema
central na discussão contemporânea sobre a autoria etnográfica (idem, p.3). Para Berger,
o que está em jogo não é tanto o resultado – a linha desenhada –, mas o processo vivido:
aquilo que o desenhador passa a enxergar e conhecer a partir da experiência de traçar o
papel. O tempo é alongado pela imersão do observador numa relação com quem (ou o
quê) observa (idem, p.70). O argumento é que esse diálogo produz uma temporalidade
estendida que se contraporia ao tempo “congelado” pela fotografia ou ao ritmo mecânico
do filme, contraste que será muitas vezes reforçado pelos adeptos da contribuição do
desenho para a antropologia, embora contestado de forma contundente por Grimshaw &
Ravetz (2015), em resposta a Ingold (2013).
16 Como nos aspectos destacados acima, o diálogo de antropólogos com a perspectiva de
Berger (2005) sobre o desenho se afina com o discurso antimodernizante, mas não se trata
de um campo homogêneo. Embora se inspirem na obra do autor, Ingold (2011, 2013) e
Taussig (2011), por exemplo, levam suas lições para caminhos bem diferentes. Para o
primeiro, o conceito de desenho opera quase sempre como uma ação de valor universal,
desprovida de sujeito, tempo e espaço. Suas propriedades intrínsecas são as de “sempre
abrir uma passagem”, de ser “anti-totalizante”, afeita ao “holismo” e ao “processo”, e não
à “estrutura” (Ingold, 2011:179). Em Taussig, as potencialidades do desenho apontadas
por Berger precisam ser enfrentadas na lógica etnográfica. Não por acaso, o primeiro
capítulo de seu livro sobre o tema começa com uma frase que apresenta a relação
indissociável de uma imagem desenhada com seu autor, seu foco de observação (nesse
caso, duas pessoas), seu suporte, local e data: “This is a drawing in my notebook of some
people I saw lying down at the entrance to a freeway tunnel in Medellin in July 2006.”
(Taussig 2011:i).
17 Não cabe aqui realizar uma revisão da bibliografia recente sobre antropologia e desenho.
A tarefa já foi muito bem-sucedida no excelente artigo de Aina Azevedo, neste volume,
onde a autora faz um ótimo levantamento da literatura sobre o tema, em especial da
história do desenho etnográfico e suas implicações contemporâneas. Sua discussão densa
de autores atuais como Geismar (2014), Ballard (2013), Taussig (2011) e Ramos (2004, 2010
e outros) nos mostra o potencial do desenho não só para representar algo graficamente,
mas para revelar modos de ver, de se comunicar e de registrar utilizados por
antropólogos em campo. Destaque-se também a boa recuperação da argumentação gráfica
em Gell (1975), das experiências etnográficas com desenhos como as de Colloredo-
Mansfeld (2011) e Causey (2012), do debate com a antropologia visual contemporânea
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
9
mais ampla, a partir de Grimsham & Ravetz (2015) e a da já mencionada distinção téorica
vs. etnográfica na abordagem do tema por Ingold (2011 e outros) e Taussig (2011). É muito
bem colocado pela autora a mistura de “empolgação e dúvida” que acompanha o
ressurgimento do desenho na prática antropológica, destacando com humor seu lugar de
“novidade velha”. Azevedo, sem dúvida, preenche a lacuna de contar essa história,
apontando com otimismo para a riqueza da cena atual da antropologia desenhada.
18 Também é muito bem-vinda a reflexão de Philip Cabau sobre a especificidade do desenho
etnográfico, explorada com criatividade e cuidado, por um autor que olha
simultaneamente de perto e de longe para a área, nos oferecendo importantes insights e
uma agenda de formação. Por comparação às demais ferramentas visuais, para Cabau –
inspirado em Berger (2005), Valéry (2002) e outros –, o ato de desenhar teria o papel de
prolongar a atenção no campo, testemunhando não só aquilo que se observa mas a
experiência do observador, tornando-se, ele próprio, um ato-performance de integração
do etnógrafo ao meio estudado. Sua melhor prática seria, paradoxalmente, aquela onde os
resultados se saem “mal”, escapando das armadilhas da plasticidade, do realismo e das
figurações previamente codificadas (como enfatizado por Taussig 2011). Do ponto de vista
do autor, o ensino do desenho seria benéfico na formação da “caixa de ferramentas” da
antropologia desde que focado na ideia de uma “percepção negociada”, um “processo de
olhar” voltado para a captura de ideias internas mais do que externas. O que realmente
importa não é a aparência que surge dos traçados, mas os problemas e questões
suscitados pelo processo dessa experiência visual e etnográfica.
19 Já o fascinante artigo de Christine Escallier integra este volume trazendo o que a
antropologia sabe fazer melhor: pesquisa de campo densa em diálogo com fontes e
reflexões teóricas. Recuperando a tradição da história das técnicas, que marca o estudo
das práticas marítimas, a autora discute em profundidade o potencial dos variados tipos
de imagens etnográficas. Suas experiências no campo mostram que fotografias e desenhos
não têm propriedades intrínsecas, mas sim significados construídos segundo as diversas
circunstâncias de produção e recepção de seus conteúdos. É especialmente rica sua
discussão sobre autoria e memória: filmes, iconografia histórica, fotografias de variadas
origens e desenhos da própria etnógrafa e de seus interlocutores participam de um debate
sobre foco e potencial narrativo por meio de imagens. A partir de problemas específicos
do seu campo, Escallier apresenta várias comparações contundentes, como nos desenhos
de mapas, na descrição de práticas pesqueiras e no uso de materiais como objetos sociais.
Num exemplo sobre pesca com redes, vemos croquis e fotografias, lado-a-lado,
demonstrando que a cooperação desenho-foto é essencial para entendermos
sociologicamente tanto a composição técnica dos materiais quanto os movimentos
corporais gerados nos processos de sua utilização. Difícil não concordar com o argumento
da autora de que as visualidades – em seus múltiplos formatos – devem ser objetos de
análise em si mesmas, indo além do papel de testemunhar, registrar, observar (Mauss,
1967). O trabalho criativo de Escallier demonstra que os diferentes tipos de imagens se
complementam, enriquecendo nossa compreensão das relações sociais e tornando visíveis
os silêncios e invisibilidades do universo etnografado.
20 Num bonito e instigante relato analítico e visual, Inês Belo Gomes nos conta sua passagem
do mundo da arte para o da antropologia, e sua posterior redescoberta do desenho à luz
da experiência de campo. Refletindo sobre esse, por vezes, doloroso processo, a autora
formula uma questão nada óbvia: “O que é que faz com que o desenho seja etnográfico?”
A pergunta atravessa o texto, trazendo à tona temas já apontados aqui como os da
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
10
reciprocidade do “gesto etnográfico” (Pina Cabral 2007) e da busca por narrativas
antropológicas menos objetificantes, na contramão da pulsão “voyeurista” de produção
de imagens, como alerta Campos (2011:256), citado pela autora. O desenho, afirma Gomes,
não é etnográfico; o desenho “torna-se” etnográfico a partir dos paradigmas de seu
autor/autora, comprometido com modos de ver, interpretar e entender o mundo pelo
recorte da antropologia. Saímos dessa leitura reconciliados com nossas falhas e acertos,
acrescidos pelas imagens sugestivas e pela narrativa generosa de Gomes conosco e
consigo mesma.
21 Generosidade e empatia também são palavras pertinentes para apresentar o artigo de
Thiago Calil, uma narrativa visual sobre momentos vividos pelo pesquisador na
cracolândia em São Paulo. Os desenhos, de variadas autorias, são impactantes e poéticos,
afinados com a fragilidade das circunstâncias e a necessidade de anonimato dos
envolvidos. Na opção pela expressividade emotiva (das imagens), os artistas exploraram
uma dimensão do desenho que amplia sua distância frente ao registro gráfico (ou
fotográfico) documental. Mesmo nas imagens iniciais, onde existe algo de
representacional, os traços trazem vazios ao redor do grupo estigmatizado, tornando-o
ora frágil, frente às edificações ao redor, ora forte e autônomo, a exemplo da inteireza do
homem que não quer “depender de ninguém”. Os casos dramáticos se sucedem, como na
situação de quase morte presenciada ou na história do rapaz que arrasta sua perna ferida
como se ela – a ferida – “fizesse parte dele” para sempre. A opção do autor por juntar esse
gênero de desenhos com longos trechos do diário de campo potencializa a transmissão
dos dramas e reflexões vividos na investigação e contribui para complexificar o conceito
de narrativa etnográfica.
22 Este volume fica lindamente completo com o ensaio visual de Fernando Camargo, onde
temos a oportunidade de folhear um diário de campo inteiro, da capa à contracapa,
desenvolvido pelo autor em sua pesquisa de mestrado sobre a Rua do Porto, em
Piracicaba, cidade do interior paulistano. A delicada mistura de panoramas fotográficos,
desenhos e colagens guia o nosso olhar para uma cartografia da vida local, animada por
pessoas, espaços, objetos e animais. O destaque para o universo dos peixes, dos pescadores
e de seus instrumentos de trabalho dialoga com o artigo de Escallier e nos dá a ver o
processo de aprendizado do próprio pesquisador a respeito dos modos de sobrevivência e
lazer em torno das águas do rio Piracicaba.
23 Creio que seja útil terminar apontando alguns dos temas transversais aos vários autores
que têm escrito e desenhado nesse campo. De forma muito sintética, eu diria que, ao
trazer o desenho para dentro da antropologia, problematizam-se duas dimensões centrais
da área: a experiência etnográfica e a produção de narrativas a partir dela. Da primeira, se
desdobram questões como as do diálogo entre as subjetividades de investigadores e
interlocutores, da busca de horizontalidade entre esses universos, da evocação de
memórias, da produção de trocas e colaboração, mas sobretudo do projeto de viver uma
experiência de campo num tempo alongado, de modo sensível, focada em captar o
momento e consciente das próprias limitações desse empreendimento. Da segunda, fruto
dessa consciência, se enfrentam os problemas da representação e fabricação de uma
alteridade sistematizada, objetificada, pela linearidade da voz antropológica e seus “jogos
hermenêuticos” (Ramos 2010: 25). Contra essas armadilhas, os textos e as imagens
artesanais evocariam fragmentos das múltiplas dimensões do processo vivido, dando a
ver as possibilidades e impossibilidades da produção (e divulgação) do conhecimento
etnográfico e antropológico.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
11
24 Todavia, até que ponto podemos afirmar que a produção de desenhos (sejam de
observação, imaginação, memória; sejam dos investigadores ou interlocutores) impacta
tanto na antropologia? Nos perguntarmos sobre isso é importante para não cairmos num
processo de reificação e encantamento da ideia de “desenhar”, como se estivéssemos
diante do novo graal da antropologia. Em nome do desenho, jogaríamos a câmera e a
filmadora, junto com toda a reflexão da antropologia visual (ou não) na vala das ideias
“frias” e ultrapassadas? Não, não contem comigo para acender essa fogueira.
25 Como desenhadora e apaixonada por desenhos, acho mais do que saudável a valorização
dessa prática que é, por si mesma, um espaço de prazer, liberdade, registro e reflexão,
com muitas especificidades. Por isso, escolhi como epígrafe para esta introdução a frase
de um interlocutor do artista Nelson Paciência a respeito da sua experiência de aprender
a desenhar numa prisão de segurança máxima (Kuschnir, 2016b). Para a imagem que abre
o artigo, optei por um desenho num caderno meu antigo, tendo como objeto o próprio
caderno segurado por mim. Estou ali, diante da primeira página em branco, a sugerir um
processo em aberto, como um convite. Vamos desenhar para somar, multiplicar. Como
demonstram os vários autores desse volume, etnografia com fotos, filmes, desenhos,
cadernos, sujeitos, lugares, línguas, valores, lutas, diálogos, experiências: todas essas
dimensões importam.
BIBLIOGRAPHY
Afonso, Ana Isabel, Manuel João Ramos. 2004. “New Graphics for Old Stories: Representation of
local memories through drawings”. Pp. 66-83 in Working Images: Visual Research and Representation
in Ethnography, edited by A. I. Afonso, L. Kurti e S. Pink. London: Routledge.
Ballard, Chris. 2013. “The Return of the Past: On Drawing and Dialogical History”. The Asia Pacific
Journal of Anthropology, 14:2, 136-148.
Berger, John. 2005. Berger on Drawing. Jim Savage (ed.) Aghabullogue: Occasional Press.
Campos, Ricardo. 2011. “Imagens e Tecnologias Visuais em Pesquisa Visual: tendências e
desafios”. Análise Social, XLVI (199): 237- 259.
Causey, Andrew. 2012. “Drawing flies: artwork in the field.” Critical Arts, 26 (2), pp. 162–174.
Colloredo-Mansfeld, Rudi. 2011, “Space, line and story in the invention of an Andean aesthetic”.
Journal of Material Culture, 16 (1): 3-23.
Duarte, Luiz Fernando D. 2012. “O paradoxo de Bergson: diferença e holismo na antropologia do
Ocidente.” Mana, 18(3): 417-448. Disponível em <https://dx.doi.org/10.1590/
S0104-93132012000300001>.
Geismar, Haidy. 2014. “Drawing it Out”. Visual Anthropological Review, 30 (2): 96-113. Disponível em
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/var.12041/full>.
Gell, Alfred. 1975. Metamorphosis of the Cassowaries. Used Society, Language and Ritual. London: The
Athlone Press.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
12
_____. 1999. The art of anthropology – Essays and Diagrams. Edited by E. Hirsch. Londres: The
Athlone Press.
Gregory, Danny. 2003. Everyday Matters: A Memoir. New York: Hyperion.
Grimshaw, Ann, Amanda Ravetz. 2015. “Drawing with a camera? Ethnographic film and
transformative anthropology.” Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 21, issue 2: 255-275.
Disponível em <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9655.12161/abstract>.
Hendrikson, Carol. 2008. “Visual Field Notes: Drawing Insights in the Yucatan”. Visual
Anthropology Review, 24 (2): 117-132. Disponível em <http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/
j.1548-7458.2008.00009.x/abstract>.
_____. 2010. “Ethno Graphics: Keeping Visual Field Notes in Vietnam”. Expedition, Vol 52, n 1:
31-39. Disponível em <http://www.penn.museum/documents/ publications/expedition/
PDFs/52-1/Ethno-Graphics.pdf>.
Ingold, Tim. 2011. Being Alive – Essays on movement, knowledge and description. London and New
York: Routledge.
_____. 2013. Making. Anthropology, archeology, art and architecture. London and New York:
Routledge.
Kuschnir, Karina. 2011. “Drawing the city – a proposal for an ethnographic study in Rio de
Janeiro.” Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology, 8(2): 609-642. Disponível em <http://
goo.gl/66GqES>.
_____. 2012. “Desenhando Cidades”. Sociologia & Antropologia. Vol. 02.04: 295-314. Disponível em <
http://revistappgsa.ifcs.ufrj.br/wp-content/uploads/2015/05/14-ano2-v2n4_registro_karina-
kuschnir.pdf>.
_____. 2014. “Ensinando antropólogos a desenhar: uma experiência didática e de pesquisa”.
Cadernos de Arte e Antropologia 3(2): 23-46. Disponível em <https://cadernosaa.revues.org/506?
lang=en>.
_____. 2016a. “Ethnographic Drawing: Eleven benefits of using a sketchbook for fieldwork.” Visual
Ethnography. v.5:105-138. Disponível em <http://www.vejournal.org/index.php/vejournal/
article/view/92>.
_____. 2016b. “A liberdade de desenhar.” Karina Kuschnir: desenhos, textos e coisas. Disponível em <
https://karinakuschnir.wordpress.com/2016/08/18/nelsonpaciencia/>.
Mauss, Marcel. 1967. Manuel d’ethnographie. Paris: Payot.
Pina Cabral, João. 2007. “Aromas de Urze e de Lama: reflexões sobre o Gesto Etnográfico”.
Etnográfica, 11 (1): 191-212.
Leal, João. 2008. “Retratos do povo: etnografia portuguesa e imagem.” Pp. 117-145 in O visual e o
quotidiano, editado por J. Machado Pais, C. Carvalho e N. M. Gusmão. Lisboa: Imprensa de Ciências
Sociais.
Ramos, Manuel João. 2004. “Drawing the lines – The limitation of intercultural ekphrasis.” Pp.
147-156 in Working Images: Visual Research and Representation in Ethnography, edited by A. I. Afonso,
L. Kurti e S. Pink. London: Routledge.
_____. 2009. Traços de Viagem. Lisboa: Bertrand Editora.
_____. 2010. Histórias Etíopes, Diário de viagem. Lisboa: Tinta da China.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
13
Rosengarten, Ruth. 2012. “Passing by, stopping, walking on: urban sketching in context.” Pp.
24-51 in Urban Sketchers em Lisboa. Lisboa: Quimera. (Edição Bilíngüe)
Salavisa, Eduardo. 2008. Diários de Viagem – desenhos do quotidiano, edited by E. Salavisa. Lisboa:
Quimera Editores.
Severi, Carlo e Lagrou, Els. (orgs.) 2013. Quimeras em diálogo: grafismo e figuração nas artes indígenas.
Rio de Janeiro: 7 Letras.
Strenski, Ivan. 1982. "Malinowski: second positivism, second romanticism". Man, 17(4):266-271.
Taussig, Michael. 2011. I swear I saw this. Drawings in fieldwork notebooks, namely my own. Chicago
and London: The University of Chicago Press.
Valéry, Paul. 2002. Degas Danse Dessin. Paris: Gallimard. [Em português: 2012. Degas Dança
Desenho. São Paulo: Cosac Naify.]
AUTHOR
KARINA KUSCHNIR
UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil
Karina Kuschnir é professora do Departamento de Antropologia Cultural do Instituto de Filosofia
e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
karinakuschnir@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
14
Dossiê "Antropologia e desenho"
Artigos
Articles
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
15
Desenho e antropologia: recuperação
histórica e momento atual
Drawing and anthropology: historical and current recovery
Aina Azevedo
EDITOR'S NOTE
Recebido em: 2016-02-07
Aceitado em: 2016-07-05
Desenho e Antropologia: recuperação histórica e
momento atual1
A mão é ação, ela cria e,
por vezes, seria o caso
de dizer que pensa.
Henri Focillon, Elogio da Mão
1 Os desenhos feitos por antropólogos têm uma história passada e atual pouco conhecida na
antropologia, tanto é que, na maior parte das vezes, a menção ao assunto é prontamente
mal interpretada como uma variação de interesses relacionados a tudo (cultura visual,
grafismo indígena, pintura corporal, pintura rupestre, grafite, antropologia visual, etc.),
menos aos desenhos feitos por antropólogos. A ideia de antropólogos desenharem parece
causar algum incômodo, como é o caso expresso no questionamento sobre o valor de tais
desenhos – algo que não ocorreria, acaso tratássemos de fotografias feitas por
antropólogos, por exemplo. Entretanto, quando se faz uma reflexão mínima, percebe-se
que não há nada tão diferente assim em desenhar. Conhecidos de todos nós são os
desenhos relacionados à cultura material e à anatomia feitos por antropólogos no
passado. O que parece estranho, afinal, é sabermos tão pouco sobre esses desenhos. Em
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
16
consequência, temos uma história desconhecida a sustentar um presente que nos parece
duvidoso.
2 Um belo exemplo de monografia amplamente conhecida e desenhada é o “Os Nuer” de
Evans-Pritchard (2002). Decerto, os desenhos de vacas, cabaças, lanças, etc., jamais
causaram incômodo algum: são desenhos sóbrios que, a exemplo dos “sonhos sóbrios”
distinguidos por Freud, não precisam ser interpretados por terem uma relação auto-
evidente com o que representam (Freud 2015: 130). Entretanto, mesmo em casos como
esses, uma investigação mais séria pode ser reveladora, como será demonstrado
posteriormente no trabalho de Geismar (2014) sobre os desenhos de Bernard Deacon.
3 Talvez fosse o caso de nos perguntarmos, então, por que os antropólogos desenhavam e
por que pararam de fazê-lo? Com questões como essas em mente, o presente artigo busca
percorrer e recuperar de forma fragmentária partes de uma possível história do desenho
na antropologia, bem como os regimes de visualidade que a atravessam, com o objetivo de
apresentar o estado da arte da relação entre desenho e antropologia em torno do século
XXI. Como observa Ballard (2013: 139), persiste uma ausência de histórias sobre o desenho
na antropologia, a despeito de sua importância na produção do conhecimento.
Entretanto, o momento atual lhe parece bastante confortável para antropólogos que
desenham, quando ocorre um “graphic turn” ou “virada gráfica” que, em suas palavras,
indica “o renascimento do interesse pelo desenho como uma atividade e foco analítico
entre antropólogos e em outras disciplinas” (Ballard 2013: 140) [Tradução minha] 2. Ao
perceber que diversos antropólogos voltam a desenhar, renovamos também nossas
perguntas iniciais: por que alguns antropólogos desenham atualmente e quais os efeitos
dessa prática em suas metodologias/resultados de pesquisa? Ao levantar tais questões,
este artigo pretende iluminar os caminhos passados, atuais e, quiçá, futuros do desenho
na antropologia3.
Localizando o desenho na história da antropologia
4 Como não há futuro sem passado, começo com breves notas históricas sobre o lugar do
desenho na antropologia, ciente, por um lado, do coro que silencia diante dessa
localização e, por outro, da insuficiência das notas que apresento. Fruto da aproximação
ao tema do desenho feito por antropólogos na atualidade, o presente artigo
inevitavelmente recuperou reflexões importantes sobre o desenho na história da
antropologia. Apresentadas aqui como breves notas históricas – um tanto fragmentárias
–, tais informações não pretendem outra coisa que não seja levantar pistas e reflexões
sobre os caminhos de aparição e exclusão do desenho na antropologia. A falta de rigor que
por ventura seja identificada nesse percurso se deve, portanto, a um investimento menor
e ainda inicial a um tema vasto e pouco debatido.
5 Prontamente, é possível identificar um protagonista na relação histórica entre desenho e
antropologia: o desenho conhecido como etnográfico que representa a vertente
genuinamente antropológica do desenho, cuja história, mais uma vez, ainda está por ser
feita. Aqui, seria o caso de fazer uma pausa a respeito do termo “desenho etnográfico”
que parece dizer tanto e, ao mesmo tempo, tão pouco sobre si mesmo. Tanto, se levarmos
em conta a distinção que celebra: um tipo especial de desenho, porque feito por
etnógrafos em trabalho de campo; tão pouco, por essa distinção remeter mais a uma
época remota da antropologia e a um estilo vago que leva a reboque uma série de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
17
denominações, tais como: desenhos de cultura material, desenhos anatômicos, esboços
nos diários de campo e retratos – para nomear suas maiores expressões e especialismos,
sem que isso signifique dizer muita coisa.
6 Seja como for, o “desenho etnográfico” existe, porém de forma subsidiária, enfeitando
livros, muitas vezes, sem dispormos sequer do nome de seus autores. Aparentemente
pouco interessante, o “desenho etnográfico” expressa um particularismo antropológico,
cuja particularidade, entretanto, nos é desconhecida. Outras formas de notação, presentes
também em abundância na antropologia, como diagramas e gráficos de parentesco,
surgem e desaparecem com igual desinteresse. Não é casual, portanto, a falta de um
verbete sobre o desenho – mesmo o etnográfico – em enciclopédias da magnitude de “The
Routledge Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology” (Barnard e Spencer 2010).
7 Finda a pausa, retornemos para os trabalhos em que encontramos reflexões sobre o
desenho. Em termos de uma recuperação histórica do desenho feito por antropólogos, há
alguns esforços importantes que merecem destaque, como o trabalho de Geismar (2014)
sobre os desenhos nos diários de Bernard Deacon – antropólogo britânico que fez trabalho
de campo em Vanuatu, na Melanéseia, entre 1926 e 1927. Geismar interessou-se em
analisar os desenhos nos diários de Deacon partindo do princípio de que as páginas em
branco não haviam sido preenchidas ao acaso, ou seja, sem uma intencionalidade. Para a
autora, o que vemos nos desenhos de Deacon é aquilo que ele mesmo estava buscando:
“Os esboços de Deacon nos ensinam não apenas sobre aquilo que ele estava vendo, e
talvez pensando, mas também sobre como ele foi treinado a ver e pensar, tanto pelos seus
professores em Cambridge quanto pelos seus interlocutores Malakulan.” (Geismar 2014:
98). Assim, Geismar revela que seu interesse pelos desenhos buscava tanto a subjetividade
de Deacon, quanto as formas particulares de se treinar o olhar, ou, nas suas palavras, de
se treinar o “como ver” (2014: 97).
8 Do mesmo modo, Ballard (2013) dedicou-se aos desenhos do antropólogo russo do século
XIX, Nikolai Miklouho-Maclay, que também fez pesquisa em Vanuatu, na Melanésia –
assim como o próprio Ballard. Neste caso, Ballard interessou-se pelos desenhos de
Miklouho-Maclay como uma forma de comunicação importante empregada pelo
antropólogo na Oceania, na falta, inclusive, de uma língua comum. Entretanto, Ballard vai
além de uma pesquisa histórica e reflete sobre um debate paralelo à temática do desenho
que é a repatriação dos retratos. Além disso, o autor destaca o uso ostensivo de desenhos
anteriormente não só por Miklouho-Maclay, como demonstrado nas publicações das
notas de campo e etnografias de “Bernand Deacon (1934), F.E. Williams (1936), John
Layard (1942) e Jack Taylor (2008)” (Ballard 2013: 139).
9 Uma outra exceção que se debruça sobre os desenhos, é a introdução ao livro “Histórias
Etíopes, Diário de viagem”, contribuição de Ramos (2010) à literatura que combina a
investigação antropológica ao desenho. Aqui, o autor identifica algumas expedições e
outras experiências em que houve uma “feliz e sistematizada simbiose” entre desenho e
antropologia:
[…] os materiais da expedição Jesup à costa nordeste do Pacífico, coordenados por
Franz Boas e ilustrados por Waldemar Bogoras e Rudolf Weber; os desenhos de
Nikolai Miklouho feitos durante a sua estadia de vinte e um anos na Nova Guiné; as
ilustrações dogon redesenhadas por Jean-Charles e Roger Sillans no Renard Pâle, de
Marcel Griaule e Germaine Dieterlen; ou os desenhos de Robert Powell feitos
durante um período de vinte e cinco anos no Nepal e no Ladhak. (Ramos 2010:
21-22)
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
18
10 Parte dessas experiências e expedições são bastante conhecidas e, mais ou menos,
acessíveis. No entanto, me surpreendi ao constatar que o acervo de desenhos mais
amplamente acessível – porque on line – e além disso, catalogado por autor/lugar/
período/etnia/expedição, é a coleção de desenhos etnográficos russos disponibilizada
pelo museu Kuntskamera4 de São Petersburgo. Apesar da coleção não ter sido ainda objeto
de estudo mais aprofundado, o desenho ocupa lugar de destaque ali. Aliás, um dado
evidenciado não somente no museu, como veremos adiante.
11 Embora se saiba que anteriormente o desenho compunha o métier dos antropólogos, esse
passado pouco conhecido (quando, por que e como desenhavam?) nos leva a formulações
fáceis como a simples substituição do desenho pela fotografia. Certamente, essa ideia não
é de todo falsa. Porém, com isso, perdemos a chance de pensar acerca dos regimes de
visualidade – pretéritos e atuais – quando enfatizamos apenas a “evolução” de nossas
técnicas de pesquisa. Isso para não mencionarmos a dimensão da habilidade dos
antropólogos – um tema tão pouco discutido que chega a ser obscuro.
12 Como observa Geismar (2014) ainda sobre os desenhos de Deacon, desde a emergência do
paradigma do trabalho de campo no final do século XIX, um conjunto de métodos era
utilizado pelos antropólogos – entre eles, o desenho. Entretanto, ao contrário do que
ocorreu com a fotografia, a coleta de objetos, as entrevistas e as genealogias, o desenho
não foi totalmente desenvolvido como um método específico da etnologia. Desse modo, as
habilidades de Deacon – assim como a dos antropólogos na atualidade, como bem observa
Geismar – ficavam a cargo de um conhecimento pré-existente e oriundo de outras
tradições, tais como a botânica, a arqueologia ou a ilustração de viagem (2014: 97).
13 Em contraponto, a antropologia desenvolvida no início do século XX no que viria a ser a
União Soviética destacava em seus cursos de formação a aprendizagem de algumas
técnicas de trabalho de campo, como andar a cavalo e desenhar (Makar’ev 1928) 5.
Evidentemente, isso não explica o cuidado atual com o desenho na coleção do museu
Kunstkamera mencionada anteriormente, mas indica a pioneira institucionalização do
desenho como método de pesquisa e modo de exposição do conhecimento, justificando,
em parte, o uso ostensivo do desenho na antropologia russa daquela época e ainda
anteriormente. Eventualmente, uma pesquisa mais densa poderia encontrar referências
ao ensino do desenho como parte das habilidades dos antropólogos na história da
disciplina em outros países. Mas, por enquanto, parece ser a antropologia russa a que lhe
deu maior destaque institucional6.
14 Ao tentar localizar o desenho na história da antropologia, muitas vezes, as informações
são encontradas por meio de outros assuntos e histórias, já que uma preocupação
explícita com o tema é uma novidade. Esse é o caso da antropologia visual que, apesar de
apresentar uma trajetória distinta do desenho, é uma fonte valiosa de informação. Nessa
história, o desenho atua como um discreto coadjuvante. Geralmente acionado para
salientar que as imagens constituíram, desde o princípio, uma fonte inestimável de
pesquisa antropológica, o desenho ressaltaria a naturalidade com que os estudos da/com
a imagem deveriam ser incorporados à antropologia, dando corpo à institucionalização da
antropologia visual7.
15 Na virada do século XIX para o XX, a difusão da imagem fotográfica e cinematográfica era
destacada, por exemplo, pela conhecida expedição ao Estreito de Torres de 1898 – apenas
2 anos após a primeira exibição pública de cinema – quando foram produzidos pequenos
filmes de populações autóctones fazendo fogo e dançando (Caiuby Novaes 2004; Barbosa e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
19
Teodoro da Cunha 2006).8 A partir daí, uma série de outros investimentos amplamente
conhecidos irão corroborar a íntima relação entre antropologia e imagem, como é o caso
das simetrias encontradas nas leituras das fotografias “totalizantes” de Malinowski, do
retrato atemporal – com longos plano sequência – do filme Nanook of the North de Flaerthy,
das sequências fotográficas do gestual balinês de Batson e Mead, da “verdade do filme
etnográfico” de Jean Rouch, etc. (Barbosa e Teodoro da Cunha 2006).
16 Se, por um lado, não há uma continuidade mais profunda na recapitulação histórica que
relacionaria o desenho aos subsequentes desenvolvimentos da antropologia visual, por
outro, é verdade que a própria evolução histórica da antropologia visual não foi tão
simples, nem linear. Ao entrarmos em contato com essa história, colhemos pistas sobre os
regimes de visualidade da antropologia, cuja problematização feita pela antropologia
visual, embora não possa ser transposta diretamente para a confecção de uma história do
desenho, nos serve como guia.
17 Grimshaw e Ravetz procuram mostrar como o uso frequente de recursos visuais na
antropologia vitoriana foi rechaçado na antropologia moderna. Conforme as autoras, os
regimes de visualidade daquela antropologia eram marcados pela ostensiva utilização da
imagem enquanto método e objeto de estudo para a classificação de pessoas nativas,
dando forma ao esquema evolucionista então vigente. Posteriormente, a antropologia
moderna buscaria se firmar enquanto uma disciplina científica e textual. Para tanto, seria
imprescindível não confundi-la com o que Grimshaw e Ravetz chamam de “atividades
rivais”, como o jornalismo e o turismo, frequentemente associadas ao porte de uma
câmera (2005: 5).
18 A exclusão de um tipo particular de imagem como modo de distinção da antropologia
também é observada por Gell (1999: 31) com relação ao distanciamento dos gráficos – que,
por sua vez, persistiam em ciências que ele denominou de “inimigas”, como a engenharia.
Para este autor, a antropologia de sua época era por definição não-diagramática e
profundamente verbal, a exemplo de expoentes intelectuais como Geertz, Derrida,
Ricouer e Heidegger (Gell 1999: 31). Gell também atribui este rechaço às imagens ao
excesso de diagramas do estruturalismo, evidenciado em mentes que expressavam
graficamente os significados da antropologia – como Leach, Lévi-Strauss e Fortes (Gell
1999: 31).
19 Seguindo com diagramas, uma rara menção feita aos mesmos em “The Routledge
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology” ocorre no item “Tempo e espaço,
prática e estrutura” que compõe o verbete “Tempo e Espaço” (Barnard e Spencer 2010:
689-693). Aqui, diagramas e que tais são descritos como um formalismo das análises
estruturais para evidenciar uma análise virtual sincrônica (Barnard e Spencer 2010: 692).
Entretanto, vejamos o que o próprio Gell tem a dizer sobre o assunto, valendo salientar
que o autor usou diagramas não apenas para elucidar suas próprias reflexões (Gell 1975),
como também para lançar luz à compreensão de outros trabalhos, a exemplo de
“Strathernograms” (Gell 2006: 29-75). Desenhos e diagramas, apresentados ao longo de
suas publicações, fazem todos parte de um mesmo esforço do autor de tornar a
antropologia mais compreensiva visualmente ou, como escreve Gell, fazem parte da sua
própria familiaridade com essa linguagem, evidenciada na sua maneira de pensar
primeiro em diagramas, depois em textos escritos (Gell 2006: 8-9).
20 Em “Metamorphosis of the Cassowaries”, na seção dedicada à transformação dos tipos de
máscaras usadas pelos Umedas, Gell (1975) apresenta um exemplo interessante do uso de
diagramas. Nas palavras do autor, “O argumento desta seção é expresso em termos
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
20
visuais: para seguí-lo, é necessário referir-se às figuras que mostram os vários tipos de
penteados e máscaras.” (Gell 1975: 279). Entre os Umedas, o ciclo de vida masculino era
marcado por mudanças de penteado e cada estilo expressava os estágios desse progresso:
cabelo curto (controlado ou não) e cabelo longo (controlado ou não). Dessa elaboração da
cabeça humana iriam partir os diferentes estilos e tipos de máscaras. Para resumir o seu
argumento, Gell dispõe de um “‘fluxograma’ justapondo os vários tipos de máscaras de
acordo com a sua sequência temporal implícita e ‘processual’” (Gell 1975: 297-308). Aqui,
nota-se tanto o desafio de inscrever uma transformação temporal em um diagrama que
ganha o caráter de fluxograma, quanto a observação explícita feita pelo autor de que a
seção em questão é concebida em termos visuais. Ou seja, o desenho-diagrama não era
exterior à formulação do autor que buscava trazer uma dinâmica própria ao diagrama por
meio do fluxograma.
21 Retomando o argumento de Grimshaw e Ravetz sobre a presença/ausência das imagens
na antropologia (2005: 3), essas autoras ainda descrevem as contradições internas da
antropologia moderna em aceitar ou não recursos visuais como fonte de pesquisa e
exposição do conhecimento. Destacam que foi somente a partir da década de 70 que a
antropologia visual se firmou como uma sub-disciplina, tendo como marco a publicação
de “Principles of Visual Anthropology” de Paul Hocking in 1975. No Brasil atual, os
reflexos mais evidentes do espaço conquistado pela antropologia visual são os prêmios
Pierre Vergé de Filme Etnográfico (em sua XI edição) e de Ensaio Fotográfico (em sua VIII
edição), concedidos durante a bienal Reunião Brasileira de Antropologia, em que não há
nenhuma menção ao desenho.
22 Aqui, não é o caso de definir a posição do desenho em relação à antropologia visual, mas
de observar a existência de práticas que conversam entre si mantendo-se separadas. E
ainda, de perceber as oscilações entre presença e ausência que as imagens, em suas
diversas formas, sofreram ao longo do tempo na antropologia. De todo modo, vale
salientar que, se o desenho participa de alguma forma da gênese da antropologia visual, é
certo que não acompanha os seus desdobramentos. E ao que tudo indica, embora haja
uma série de pontos convergentes entre registros que são distintos do texto – como é o
caso do desenho, da fotografia e do filme – as diferenças entre essas práticas persistem.
23 Inclusive, autores como Taussig enfatizam as qualidades do desenho contrastando-o com
a fotografia. Parafraseando Berger, Taussig destaca a passagem do tempo que se evidencia
ao longo do desenhar; ao contrário do que ocorre com a fotografia que congelaria os
eventos (2011: 21)9. Ainda: Taussig considera que o poder do desenho está em revelar
exatamente aquilo que escapa à fotografia – como a possibilidade de desenhar
acontecimentos anteriores ou a possibilidade de desenhar a própria imaginação (2011:
31). No mesmo sentido, Ballard observa que na ocasião em que Haidy Geismar e Anita
Herle repatriaram imagens de John Layard aos Malakula, 200 fotografias foram
reproduzidas e apenas 3 desenhos, quais sejam: “um mapa, um desenho de areia e uma
vista panorâmica da área de dança na Ilha Vao, todos exemplos de imagens que a
fotografia falha em capturar adequadamente, e para os quais os antropólogos comumente
recorreram ao desenho.” (Ballard, 2013: 139-140).
24 Ou seja, embora digno, o lugar ocupado pelo desenho na antropologia é justamente aquele
em que a fotografia falha? Em outras palavras: é esse o desenho permitido pela
antropologia? Uma outra pergunta seria: será que a evolução técnica é suficiente para
descrever uma espécie de substituição do desenho pelo fotografia – quando sabemos o
quão difícil era transportar equipamentos pesados para o trabalho de campo?
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
21
25 Se o desenho será localizado junto à antropologia visual no futuro é uma questão que não
cabe responder aqui. Entretanto, enquanto a antropologia visual conquistou o seu lugar
ao sol – não tão brilhante como critica Martins (2012) – , o mesmo não ocorreu com o
desenho que ainda precisa se firmar e se legitimar em espaços institucionais – como é o
caso dos prêmios, dos artigos científicos, dos grupos de discussão, dos cursos
universitários e do desenvolvimento das habilidades dos antropólogos.
Desenho e antropologia ao redor do século XXI
26 Na atualidade, há um número crescente de produções em que o desenho tem se destacado
como método de pesquisa/forma de exposição do conhecimento, como atestam os
trabalhos de Newman (1998), Colloredo-Mansfeld (1999, 2011), Ramos (2004, 2009, 2010,
2015), Hendrikson (2008 e 2010), Taussig (2009, 2011), Ingold (2011a, 2011b, 2013), Causey
(2012), Olivar (2007, s/ data, 2010), Kuschnir (2012 e 2014), Azevedo (2013, 2014 e no
prelo), Geismar (2014), Borseman (2014), Ballard (2013), Azevedo e Schroer (no prelo) e
Azevedo e Ramos (2016). Além disso, outros trabalhos dão corpo à literatura sobre o tema
de forma mais ou menos indireta, tais como Afonso e Ramos (2004), Lagrou (2007), Wright
(2008), Gunn (2009) e Grimshaw e Ravetz (2015).
27 Como foi esclarecido desde o princípio, privilegiamos aqui reflexões e desenhos feitos por
antropólogos, ainda que eventualmente tais desenhos surjam em diálogo com os desenhos
das pessoas com quem trabalhamos, sendo esse o caso discutido por Colloredo-Mansfeld
(2011) sobre a pintura Tinguan. Entretanto, mesmo circunscrevendo o desenho àqueles
produzidos principalmente por antropólogos em torno do século XXI, a tarefa de
catalogar a diversidade de investimentos segue problemática.
28 Para alguns, o desenho é um verbo, um fazer, um processo, uma metodologia de pesquisa;
para outros, o desenho é um resultado de pesquisa e uma forma, inclusive, de apresentá-
la; para muitos, o desenho é ambas as coisas. Há também variações naquilo que
provisoriamente poderíamos chamar de estilo: alguns desenham em cadernos,
considerando seriamente a diferença existente no desenho feito num suporte privado e
móvel, quando destaca-se também o “princípio de narratividade” (Ramos 2008: 153)
presente na sequência de folhas desenhadas; outros inspiram-se na arte sequencial para
construir uma narrativa desenhada, ou seja, um tipo de desenho distinto dos esboços e
dos desenhos feitos em diários, pois geralmente produzidos como uma narrativa gráfica
nada ou pouco casual; há também quem se dedique somente ao esboço, sem qualquer
pretensão estilística ou narrativa; outros demonstram conhecimento técnico do desenho
– um conhecimento resultante, invariavelmente, da prática diletante –, em contraposição
àqueles que não demonstram muita destreza ao desenhar, não sendo muito simples, nem
útil, enquadrar os estilos daí derivados.
29 Por fim, há toda uma infinidade de possibilidades relacionadas ao próprio desenho que
pode ser feito com o apoio de diversos materiais (canetas comuns ou especiais, aquarelas,
lápis, etc.), ser produzido em diferentes suportes (folhas soltas, cadernos, tablets, etc.) e,
além disso, prescindir da palavra, nascer da palavra ou dar origem à palavra. Para darmos
um exemplo exterior à antropologia, temos Dostoiévski, que desenhava como parte de seu
processo criativo literário em seus manuscritos, rompendo as barreiras entre escrita e
desenho ao transformá-los num continuum, colocando-os em interação em verdadeiras
composições gráfico-verbais (Barsht, 2008).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
22
30 Apontada essa variedade, o material apresentado a seguir se caracteriza pela liberdade:
cada autor demonstra um estilo próprio e tira conclusões particulares de suas
experiências que são diversas por natureza. Ou melhor, talvez sejam diversas pelo fato do
desenho ter seguido certas tendências e estilos no passado – como o desenho anatômico e
de cultura material, por exemplo –, mas se encontrar numa fase em que não é
normatizado em termos de estilo e também não é formalizado em termos metodológicos
ou expositivos, o que pode ser entendido como o lado bom de sua marginalização atual.
Ao recuperarmos tais trabalhos, o objetivo é apontar as diversas possibilidades do
desenho que podem servir de inspiração para outros antropólogos. O ideal aqui seria
apresentar os desenhos de cada autor, uma tarefa, entretanto, impossível.
31 Antes de percorrer os trabalhos de antropólogos que desenham, apresento um breve
debate em torno das ideias que orbitam o desenho e o desenhar como uma prática na
antropologia na atualidade. Para tanto, começo com a abordagem de Ingold sobre a
“graphic anthropology” ou “antropologia gráfica” destacada em seus últimos trabalhos
(2011a, 2011b, 2013). Ingold localiza o desenho como um “modo de pensar” atrelado ao
“fazer”, em que advoga-se um “conhecer por meio do fazer” e um “conhecer desde
dentro”. Conforme o autor (Ingold 2013: 126-129), como processo de pensar-fazendo, o
desenho seria considerado anti-totalizante – não se comprometendo com a cobertura
total da superfície, nem com qualquer ideia de acabamento. Além disso, expressaria
tempo e movimento: como a dança e a música, o desenho não reteria o tempo, fluiria com
ele em sua execução.
32 Para Ingold, o desenho se distinguiria como técnica de observação inigualável e seria
considerado transformador, na medida em que prescreve uma relação do pesquisador
com aquilo que desenha, pois o desenho não corresponde à projeção de uma ideia no
papel, nem a uma narrativa feita a posteriori, e sim, surge, junto com aquilo que se observa
(Ingold 2013: 126-129). O desenho também seria percebido como uma forma de conectar
as experiências de observação e de descrição que, em geral, encontram-se separadas –
temporal e espacialmente – na produção final de nossos trabalhos (Ingold 2011b: 9).
33 Em “I swear I saw this. Drawings in fieldwork notebooks, namely my own”, contribuição
de Taussig (2011) à relação entre desenho e antropologia, há igualmente um apanhado de
reflexões em defesa do desenho como “modo de pensar” e de “fazer” antropologia.
Entretanto, Taussig baseia suas reflexões nos desenhos que fez em trabalho de campo na
Colômbia – o que traz um sabor distinto a suas considerações, pois não se trata de uma
teoria sobre o desenho, mas do desenho como uma prática da qual seguem certas
percepções.
34 Por que desenhar no trabalho de campo? Uma resposta curta de Taussig poderia ser “É
bom andar com duas pernas ao invés de uma” (Taussig 2011: 30). Taussig relaciona o
desenhar ao escrever ao longo de suas duras críticas ao processo paralisante da escrita e
se refere a um dos últimos ensaios de Roland Barthes – “One always fails in speaking of
what one loves” – para se perguntar se o desenho poderia ser uma forma de contornar a
afasia à qual somos levados quando sentimos (Taussig 2011: 17). Taussig quer dizer que a
escrita no caderno de campo pode empurrar a realidade para um lugar cada vez mais
inalcançável, como se transformasse coisas belas em feias ao distanciar o sentido daquilo
que queremos dizer (Taussig 2011: 19). Em sua perspectiva, é exatamente o oposto o que
ocorre com o desenho, já que ele considera a possibilidade de olharmos para a imagem
como um quebra cabeça em que há segredos e insights por serem decifrados, algo que não
irá depender da qualidade do desenho (Taussig 2011: 20).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
23
35 Como exemplo da sua relação com o desenho em trabalho de campo, Taussig descreve a
experiência de desenhar a embarcação fantasma de Julio Reyes subindo o rio à noite na
Colômbia. Ele ouvira falar sobre essa história – que, aliás, jamais poderia ser fotografada –
e resolveu se deter nos reflexos do rio noturno. A tentativa de representar o barco, o
brilho das lâmpadas de gasolina e as cabanas invertidas no rio deixaram-no com uma
impressão péssima de seu próprio desenho. Porém, ele relata que olhou para aquelas
cores, para a noite e o rio como se nunca os tivesse visto antes. Ao final, Taussig se
pergunta se existiria uma outra atividade – como desenhar – que tão bem recompensaria
as falhas? Para ele, ao contrário do que ocorre com a escrita, “esses são sapos que se
tornam flores” (Taussig 2011: 31).
36 Apesar da facilidade com que Taussig relata a sua falta de habilidade em desenhar, a
maioria dos antropólogos não só se sente desconfortável em mostrar os seus desenhos
como, em geral, não vê motivos para desenhar. Aparentemente, no entanto, todas as
pessoas têm a capacidade de desenhar, embora a maioria considere que não. Uma das
razões que Ingold encontra para a rejeição ao desenhar relaciona-se a uma certa noção do
“fazer” como projeto, ou seja, quando uma ideia preconcebida é projetada para ser posta
no papel (Ingold 2011a: 177). Seguindo uma perspectiva que se opõe a essa, Ingold traz a
experiência de Marion Milner descrita no livro “On not being able to paint”, quando ela se
sentia péssima diante de sua inabilidade para desenhar, até que experimentou uma outra
abordagem. Ao invés de tentar transpor, sem êxito, o que via para o papel, deixou a sua
mão seguir para onde quer que fosse, sem qualquer ideia preconcebida de como isso iria
terminar (Milner apud Ingold 2011b: 17-18). Assim, ela conseguiu desenhar. A ênfase aqui
está em um certo tipo de desenho: aquele menos comprometido com a forma final e mais
com o processo de desenhar.
37 Concordar com a ideia de Ingold de que todos podem desenhar ou de Taussig de que as
falhas do desenho são recompensadoras, não significa que não deva haver um
investimento, uma dedicação à prática do desenho. Como é mostrado por Kuschnir (2014),
para algumas pessoas não é tão simples começar a desenhar e no “Laboratório de Desenho
e Antropologia” que a autora fez durante um semestre com estudantes de antropologia na
Universidade Federal do Rio de Janeiro, diferentes técnicas foram apresentadas e
praticadas. A ideia era de que os alunos desenvolvessem certas noções de desenho para
que finalmente se sentissem confortáveis para desenhar como um recurso de pesquisa e
forma de descrição na antropologia.
38 Assim, o desenho pode ser entendido como um processo, uma maneira de pensar,
observar, conhecer, descrever e revelar menos comprometido com o resultado final –
como mostram Ingold e Taussig. Ou, como uma técnica mais densamente trabalhada em
cursos que enfatizam igualmente o desenho enquanto processo e, além disso, produto
final, bem como o desenvolvimento das habilidades dos antropólogos – como mostra
Kuschnir.
39 Posto isso, me volto, finalmente, para as experiências de antropólogos que desenham. Na
atualidade, o trabalho que parece ser pioneiro na articulação entre narrativa desenhada e
antropologia é “Prophecies, Police Reports, Cartoons and Other Ethnographic Rumors in
Addis Ababa” de Newman (1998). Aqui, a autora compôs um artigo desenhado em que
narrou a morte de um eremita na Etiópia. Influenciada pela narrativa pictórica etíope,
pelos quadrinhos e a novela gráfica, este é um esforço exemplar na conjugação do
desenho e da antropologia no formato de arte sequencial. Além disso, o uso de elementos
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
24
da narrativa pictórica etíope na composição de Newman evidencia a busca de uma certa
mimese entre o desenho da antropóloga e o mundo a que se refere.
40 Numa linha que segue a mistura entre quadrinhos, desenhos em sketchbooks e
antropologia, temos os trabalhos de Ramos (2009, 2010 e 2015), ex-quadrinista e
antropólogo. O livro “Histórias Etíopes, Diário de viagem” (Ramos 2010) corresponde ao
início da pesquisa de Ramos na Etiópia e expressa suas primeiras impressões sobre o país.
A preciosa introdução ao livro (já mencionada neste artigo), revela a própria relação do
autor com o desenho e ainda indica a relação pretérita entre desenho e antropologia.
Aqui, Ramos conjugou desenho e escrita feitos em diários, um estilo que o autor
continuará a desenvolver em outros trabalhos, como é o caso de “Traços de Viagem”
(2009), livro que reuniu desenhos e notas de campo em que viagem, turismo, pesquisa
acadêmica, observação e imaginação se mesclaram. Em “Drawing the lines” (Ramos,
2004), existe uma reflexão mais profunda de Ramos a respeito da sua relação com o
desenho e a antropologia que lhe permitiu pensar na ideia de diálogo intercultural
(Ramos 2004: 149). Por fim, em seu artigo mais recente “‘Stop the Academic World, I
Wanna Get Off in the Quai de Branly’. Of sketchbooks, museums and anthropology”
(Ramos, 2015), Ramos produziu uma reportagem desenhada do museu francês, quando
desenho e texto se misturaram no seu sketchbook. Neste último caso, não houve uma
edição posterior de seu sketchbook. Para compor uma análise crítica da arquitetura e do
acervo do Quai Branly, assim como de seus frequentadores durante um verão parisiense,
Ramos apresentou um artigo que seguiu sua caligrafia e seus desenhos tal como surgiram
em seu sketchbook.
41 Já o uso do desenho como uma metodologia de pesquisa foi apresentado por Colloredo-
Mansfeld em uma reflexão sobre os desenhos que atravessaram o seu livro, “The native
leisure class” (1999). Na passagem intitulada “Sketching as an Ethnographic Encounter”
(Colloredo-Mansfeld 1999: 49-56), o autor justificou a sua opção por produzir desenhos
realistas no trabalho de campo como uma forma de interlocução, embora nos tenha
trazido motivos para acreditar que outras formas de representação sejam tão eficazes
quanto essas, a depender de quem as interpreta. Esse é o caso das diferentes formas com
que representou um tear. Em um exemplo, o desenho mostrou-se mais facilmente
interpretado pelas pessoas mais velhas com quem trabalhou; em outro, pelas mais novas.
Entretanto, é num terceiro exemplo menos explorado pelo autor, em que figura e fundo
se contrapõe, que eu mesma percebi algo como uma trama ao fundo que me trouxe a
sensação ou a tessitura das linhas emaranhadas produzidas pelo tear.
42 Em outra oportunidade, “Space, line and story in the invention of an Andean aesthetic”,
Colloredo-Mansfeld (2011) seguiu desenhando e refletindo sobre o desenho como uma
forma de interlocução. Entretanto, aqui o autor descreveu mais diretamente como o ato
de desenhar pode ser uma ferramenta etnográfica de exploração. Neste caso, sua
investigação se voltou para a pintura Tinguan nos Andes. Colloredo-Mansfeld usou
explicitamente o desenho em oficinas com pintores Tinguan para pensar a perspectiva –
uma noção que parecia ser desconhecida ali, já que a pintura Tinguan era sempre feita em
um único plano, quando elementos escalonados na paisagem encontravam-se todos
reunidos no desenho. Após as oficinas em que ele e os pintores Tinguan re-desenharam
certos motivos, Colloredo-Mansfeld percebeu que a ausência de perspectiva era, na
verdade, uma opção estética que tornava possível a reunião de elementos importantes
para os Tinguan no mesmo plano, ao invés de escamoteá-los por meio da profundidade
trazida pela perspectiva.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
25
43 Um exemplo mais casual, porém não menos importante de percepções que surgem no
trabalho de campo por meio do desenho, foi trazido por Causey (2012) no artigo “Drawing
flies: artwork in the field” (2012). Causey descreveu como algo aparentemente banal,
como desenhar insetos, particularmente um besouro, o levou à discussão de temas até
então evitados por seu interlocutores em Sumatra, na Indonésia. Ali, Causey pesquisava o
impacto do turismo entre os Toba Bataks e uma das questões que o intrigava era o
consumo ilegal de cogumelos alucinógenos fornecidos pelos Bataks aos turistas.
Imaginados por Causey como uma fonte de poder xamânico no passado, os usos do
cogumelo poderiam ter se transformado com as leis e o turismo ocidentais. Foi pelo
interesse despertado em seus interlocutores ao verem, casualmente, os desenhos de
insetos produzidos pelo autor que o tema da pureza/impureza veio finalmente à tona,
assim como o poder daquilo que nasce e se alimenta dos excrementos, como os besouros e
os cogumelos. Para Causey, a qualidade de seus desenhos foi o menos importante, sendo a
experiência de desenhar e o objeto desenhado aquilo que considerou fundamental para
despertar uma conversa desejada, porém inesperada.
44 O trabalho com prostitutas em Porto Alegre desenvolvido por Olivar é, por sua vez, um
exemplo bastante interessante de um esforço do autor em pensar formas metodológicas
que estejam em sintonia com as pessoas com quem trabalhamos (Olivar s/data: 1). Em
“Dibujando putas”, Olivar (2007) abre seu artigo questionando nossa preparação para o
trabalho de campo como algo focado especialmente na escuta, deixando de lado outras
formas de nos relacionarmos com a realidade. Assim, o autor escreve que: “(…) quando a
porta do elevador se abriu, eu não estava preparado para outra coisa que não fosse
escutar. Não estava preparado para ver, porém o mundo quase nunca necessita de nossa
preparação.” (Olivar 2007: 1). Com essa constatação inaugural, Olivar reflete sobre os
desenhos que fez durante o trabalho de campo, trabalho este que resultou numa tese de
doutoramento recheada de desenhos (Olivar 2010).
45 Entre as questões levantadas por Olivar está o que ele considerou uma das complexidades
de seu trabalho de campo com prostitutas, qual seja, a cumplicidade e clandestinidade
femininas, apresentadas como um desafio a ser representado. Ao se deparar com
fotografias de prostitutas cuja finalidade seria a de familiarizar o leitor, o que Olivar
encontrou foram imagens de pobreza e marginalidade. Não que ele negasse tais
características, entretanto, as mulheres com quem trabalhou “se arrumavam
cuidadosamente para apagar as marcas de exclusão e pobreza” e sua experiência como
observador “estava muito mais próxima de Bachelard, do filme ‘Pillow Book’ e da arte
barroca de Caravaggio, que dos registros de medicina forense” (Olivar 2007: 9). Assim, o
autor se coloca a questão de como produzir imagens que não sejam desleais ao universo
representado.
46 Em outro trabalho que tematiza o mesmo assunto, “Ethnographic drawings: some insights
on ‘prostitution, bodies and sexual rights’”, Olivar (s/data) parte da crítica à câmera
fotográfica como uma arma usualmente apontada para as prostitutas por policiais,
repórteres, profissionais da saúde ou pervertidos. Com isso, o autor clama por um novo
repertório de imagens que não negue a multiplicidade e complexidade da experiência de
prostituição (Olivar s/data: 1). Para Olivar, os desenhos que produziu têm um
investimento estético que fazem deles tanto uma expressão artística quanto uma
ferramenta para análise nas ciências sociais (Olivar s/data: 1). São também uma
reconstrução fenomenológica de sua experiência de campo e, o que é mais importante
para o autor, fazem parte de um esforço maior de promover os direitos e a saúde sexuais
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
26
(Olivar s/data: 1-2). Considerando a arte como uma ferramenta reconhecida quando o
assunto é sexualidade, tanto em termos subjetivos quanto sociais, Olivar concluiu que por
meio dela criam-se espaços em que é possível circular de formas novas e radicais (Olivar
s/data: 2).
47 Na etnologia, dois trabalhos se destacam em termos de desenho: “A fluidez da forma” de
Lagrou (2007) e “Ser en el sueño” de Wright (2008). O primeiro deles, embora não
apresente maiores reflexões sobre o desenho como método de pesquisa ou forma de
exposição do conhecimento, conta com diversos desenhos produzidos pela autora, além
daqueles feitos pelos Kaxinawá com quem trabalhou. De forma bastante despretensiosa,
Lagrou revela, por meio de um desenho e de uma anedota sobre a sua confecção que, em
sua primeira viagem de barco ao grupo indígena com quem trabalhou, ela pôde antever a
classificação das imagens, além da expressão e percepção visual Kaxinawa (2007: 117) –
assuntos trabalhados ao longo de todo o livro. Já em “Dibujos”, uma espécie de apêndice
de “Ser en el sueño” (2008), Wright apresenta uma série desenhos feitos principalmente
por seu interlocutor indígena Ángel, mas também por dois colegas de pesquisa, além dele
mesmo. Tais desenhos foram conectados à cosmologia Toba no capítulo intitulado
“Cosmografias”, em que o autor apresenta o desenho como um técnica de pesquisa que
superou os limites temáticos de suas perguntas, o levando a aprofundar as suas
investigações especialmente sobre o mundo sobrenatural Toba e a compreender melhor
os seres e as relações que não conseguia visualizar.
48 Já a interface entre desenho e mundo virtual foi abordada no artigo de Boserman (2014),
“Entre grafos y bits”, que reúne desenho, práticas digitais e investigação social como uma
metodologia de análise de políticas de representação social. Partindo de uma tecnologia
rudimentar como os cadernos e os desenhos, a autora passa por scanners, para chegar a
sistemas de arquivo e armazenamento on line (Boserman 2014: 14). Nomeando seu
trabalho de #relatograma e #coreograma, o primeiro seria um objeto digital formado por
desenhos e palavras capazes de fixarem experiências e ideias em narrações gráficas não
lineares (Boserman 2014: 10-12); enquanto o segundo seria o conjunto dos #relatogramas
em circulação, em compartilhamento na rede (Boserman 2014: 20).
49 O desenho foi trazido por Boserman como processo de documentação, inscrição e registro
(Boserman 2014: 9) do qual parte o #relatograma. Boserman apresenta uma morfologia
dos #relatogramas que devem conter, entre outras coisas: desenho dos participantes,
perguntas ou reflexões em torno do assunto, informação do evento e referências que
podem ampliar a discussão realizada ali (Boserman 2014: 15-16). Seu objetivo com os
#relatogramas é “oferecer uma vista parcial dos acontecimentos, das ideias, autores,
visões expostas, de quem relata, escuta, dos imaginários depreendidos.” (Boserman 2014:
18), ou seja, quer dar conta da produção do conhecimento como um processo. Entretanto,
quando os #relatogramas estão em circulação – transformando-se em #coreogramas – é
que a autora percebeu o potencial de seu método, como a produção de um tipo de
memória digital e de imaginários gerados pela agregação (Boserman 2014: 21).
50 Por fim, como uma referência na relação entre desenho e antropologia no Brasil, temos
Kuschnir, já mencionada anteriormente. Além de “Ensinando antropólogos a desenhar”
(Kuschnir 2014), há um outro trabalho da autora que revela o seu interesse pelo processo
de desenhar cidades do grupo Urban Sketchers (do qual ela mesma faz parte). Neste artigo,
Kuschnir (2014) incluiu os seus próprios desenhos, além daqueles produzidos por
membros do grupo estudado, transformando o desenho em objeto de investigação,
método de pesquisa e apresentação dos resultados.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
27
51 Não caberia discutir aqui as minhas próprias contribuições à relação entre desenho e
antropologia, tendo em vista que o presente artigo é uma manifestação disto. Assim,
apenas indico tais investimentos a seguir. Em “Um convite à antropologia desenhada”,
escrevi sobre a possibilidade do desenho ser incorporado aos métodos e técnicas de
pesquisa da antropologia com a ideia de que se não soubermos que podemos desenhar,
talvez não o façamos (Azevedo 2016). Já em “Diário de campo e diário gráfico:
contribuições do desenho à antropologia” (Azevedo no prelo) trouxe as contribuições do
“diário gráfico” (Salavisa 2008 e 2014) para pensarmos que, além da escrita não precisar
ser a única forma de notação em nossos diários de campo, podemos aprender bastante
com os diários daqueles que desenham – suas técnicas e perspectivas. Em um trabalho
feito a quatro mãos, “Drawing Close – on visual engagement in fieldwork, drawings and
the anthropological imagination” (Azevedo e Ramos 2016), escrevemos sobre uma oficina
de desenho que realizamos na University of Aberdeen junto com Ingold e a comunidade
acadêmica local. Aqui debatemos o lugar que o desenho tem e pode vir a ter em nossas
pesquisas atuais e apresentamos os desenhos produzidos ao longo daquele encontro. Em
outro trabalho colaborativo, “Weathering – a graphic essay” (Azevedo e Schroer no prelo
), apresentamos uma narrativa gráfica-antropológica em forma de arte sequencial sobre a
relação entre falcoeiros e falcões. Além desses trabalhos mais recentes, a minha própria
tese “Conquistas cosmológicas: pessoa, casa e casamento entre os Kubheka de KwaZulu-
Natal e Gauteng” (Azevedo 2013) conta com um Caderno de Imagens que apresenta a
maior parte dos desenhos que fiz em campo na África do Sul. Por sua vez, “Desenhos na
África do Sul: Desenhar para ver, para dizer e para sentir” (Azevedo 2014) é um pequeno
ensaio visual que também apresenta alguns dos desenhos produzidos durante o trabalho
de campo que originou a minha tese de doutoramento.
Comentários finais
52 A fim de conduzir a investigação sobre desenho e antropologia, nos guiamos por
perguntas bastante genéricas, tais como “por que os antropólogos desenhavam no
passado?” e “por que pararam de fazê-lo?”. Vimos que o desenho foi uma técnica de
pesquisa bastante utilizada na virada do século XX – a exemplo de Miklouho-Maclay e
Deacon – que, entretanto, parece não ter sido formalmente difundida como uma das
habilidades dos antropólogos para o trabalho de campo (Geismar 2013), com exceção da
menção ao ensino do desenho na antropologia russa (Makar’ev 1928).
53 A oscilação entre apropriação e recusa das imagens ao longo da história da antropologia
foi descrita por autores como Gell (1999) e Grimshaw e Ravetz (2005). Neste percurso, o
desenho pareceu compartilhar os mesmos dilemas enfrentados pelo filme e a fotografia
na gênese da antropologia visual, sem participar, entretanto, do processo de
institucionalização desse campo da antropologia. Na atualidade, percebemos que a
convergência entre desenho e antropologia visual tem operado mais pela diferença que
pela semelhança, quando o pensamento que orienta e legitima o desenho como forma de
fazer antropologia tem, muitas vezes, a fotografia como contraste (Taussig 2011; Ballard
2013)10.
54 “Por que alguns antropólogos desenham atualmente e quais os efeitos dessa prática em
suas metodologias/resultados de pesquisa?” foram as perguntas que nos serviram como
guias para pensarmos o momento atual. Em síntese, percebemos uma profusão de motivos
e justificativas para desenhar inversamente proporcional à diversificação de estilos e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
28
metodologias que podem servir como inspiração para outros antropólogos. Tendo em
vista a marginalização do desenho na antropologia, não é estranho constatar o misto de
empolgação e dúvida que acompanha a espécie de novidade trazida pela inserção do
desenho na prática antropológica.
55 Entretanto, a mesma marginalização – cujo efeito é libertador, gerando múltiplos
investimentos de difícil catalogação e em ampla profusão – apresenta também outras
faces. Por um lado, há pouco conhecimento de uma prática mais comum do que se
imagina na história da antropologia – o que faz do desenho uma novidade velha. Por
outro lado, a marginalização também pode ter um efeito paralisante, quando não sabemos
ou não nos sentimos seguros quanto ao fato de que, sim, podemos desenhar como parte
integrante de nossas pesquisas. Desse modo, este artigo buscou suprir, de forma ainda
parcial, uma lacuna no que concerne ao desenho feito por antropólogos, recuperando essa
relação histórica e os trabalhos que tratam desse assunto ao redor do século XXI com
vistas a um futuro que parece promissor.
BIBLIOGRAPHY
Afonso, Ana Isabel, Manuel João Ramos. 2004. “New Graphics for Old Stories: Representation of
local memories through drawings”. Pp. 66-83 in Working Images: Visual Research and Representation
in Ethnography, edited by A. I. Afonso, L. Kurti e S. Pink. London: Routledge.
Azevedo, Aina. 2013. “Conquistas cosmológicas: Pessoa, casa e casamento entre os Kubheka de
KwaZulu-Natal e Gauteng.” Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social. Brasília. 346 f.
_____. 2014. “Desenhos na África do Sul: Desenhar para ver, para dizer e para sentir.” Pós – Revista
Brasiliense de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 5 (13): 221-226. (http://periodicos.unb.br/
index.php/revistapos/article/view/12594)
_____. 2016. “Um convite à antropologia desenhada.” METAgraphias: metalinguagem e outras figuras
, v. 1 n.1 (1): 194-208. (http://periodicos.unb.br/index.php/metagraphias/article/view/15821)
_____. no prelo. “Diário de campo e diário gráfico: contribuições do desenho à antropologia”.
Altera Revista de Antropologia.
Azevedo, Aina e Sara Asu Schroer. no prelo. “Weathering – a graphic essay.”
Azevedo, Aina e Manuel João Ramos. 2016. “Drawing Close – on visual engagement in fieldwork,
drawings and the anthropological imagination”. Visual Ethnography.
Ballard, Chris. 2013. “The Return of the Past: On Drawing and Dialogical History”. The Asia Pacific
Journal of Anthropology, 14:2, 136-148. (http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/14442213.2013.769119#.V2byzFe2Dwc)
Barbosa, Andréa, Edgar Teodoro da Cunha. 2006. Antropologia e Imagem. Rio de Janeiro: Zahar.
Barnard, Alan, Jonathan Spencer. 2010. “Time and Space.” Pp. 689-693 in The Routledge
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, edited by A. Barnard, J. Spencer. London and New
York: Routledge.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
29
Barsht, Konstantin. 2008. “Dostoevsky: drawing as writing," Item [Online]. (www.item.ens.fr/
index.php?id=223406)
Boserman, Carla. 2014. “Entre grafos y bits”. Obra digital – Revista de Comunicación, Narrativas y
diseño digital, número 6, fevereiro. (http://revistesdigitals.uvic.cat/index.php/obradigital/
article/view/33)
Caiuby Novaes, Sylvia. 2004. “O uso da Imagem na Antropologia.” Pp. 113-119 in O fotográfico,
edited by E. Samain. São Paulo: Hucitec e SENAC.
Causey, Andrew. 2012. “Drawing flies: artwork in the field.” Critical Arts, 26 (2), pp. 162–174.
(http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02560046.2012.684437)
Colloredo-Mansfeld, Rudi. 1999. “Sketching as an Ethnographic encounter.” Pp. 49-56 in Native
Leisure Class: consumption and cultural creativity in the Andes. The University of Chicago Press:
Chicago.
_____. 2011, “Space, line and story in the invention of an Andean aesthetic”. Journal of Material
Culture, 16 (1): 3-23. (http://mcu.sagepub.com/content/16/1/3.abstract)
Evans-Pritchard, Edward. 2002. Os Nuer. Uma descrição do modo de subsistência e das instituições
políticas de um povo nilota. São Paulo: Editora Perspectiva.
Freud, Sigmund. 2015. Obras completas, volume 13: conferências introdutórias à psicanálise (1916-1917).
São Paulo: Companhia das Letras.
Focillon, Herni. 2012. Elogio da mão. Instituto Moreira Sales, Rio de Janeiro. Disponível em:
https://issuu.com/ims_instituto_moreira_salles/docs/elogiodamao_07.
Geismar, Haidy. 2014. “Drawing it Out”. Visual Anthropological Review, 30 (2): 96-113. (http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/var.12041/full)
Gell, Alfred. 1975. Metamorphosis of the Cassowaries. Used Society, Language and Ritual. London: The
Athlone Press.
_____. 1999. The art of anthropology – Essays and Diagrams. Edited by E. Hirsch. Londres: The
Athlone Press.
Grimshaw, Ann, Amanda Ravetz. 2005. “Introduction: Visualizing Anthropology.” Pp. 1-17 in
Visualizing Anthropology, edited by A. Grimshaw and A. Ravetz. Bristol: Intelect.
_____. 2015. “Drawing with a camera? Ethnographic film and transformative anthropology.”
Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 21, issue 2: 255-275. (http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9655.12161/abstract)
Gunn, Wendy. 2009. Fieldnotes and Sketchbooks: Challenging the boundaries between descriptions and
processes of describing. Edited by W. Gunn. Frankfurt: Peter Lang.
Hendrikson, Carol. 2008. “Visual Field Notes: Drawing Insights in the Yucatan”. Visual
Anthropology Review, 24 (2): 117-132. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1548-7458.2008.00009.x/abstract)
_____. 2010. “Ethno Graphics: Keeping Visual Field Notes in Vietnam”. Expedition, Vol 52, n 1:
31-39. (http://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/52-1/Ethno-
Graphics.pdf)
Ingold, Tim. 2011a. Being Alive – Essays on movement, knowledge and description. London and New
York: Routledge.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
30
_____. 2011b. “Prologue.” Pp. 1-20 in Redrawing Anthropology. Materials, Movements, Lines, edited by
T. Ingold. England: Ashgate.
_____. 2013. Making. Anthropology, archeology, art and architecture. London and New York:
Routledge.
Kuschnir, Karina. 2012. “Desenhando Cidades”. Sociologia & Antropologia. Vol. 02.04: 295-314.
(http://revistappgsa.ifcs.ufrj.br/wp-content/uploads/2015/05/14-ano2-v2n4_registro_karina-
kuschnir.pdf)
_____. 2014. “Ensinando antropólogos a desenhar: uma experiência didática e de pesquisa”.
Cadernos de Arte e Antropologia 3(2): 23-46. (https://cadernosaa.revues.org/506?lang=en)
Lagrou, Els. 2007. A fluidez da forma: arte, alteridade e agência em uma sociedade amazônica (Kaxinawa,
Acre). Rio de Janeiro: Topbooks.
Makar’ev, Sergei A. 1928. Polevaia etnografiia. Kratkoe rukovodstvo i programma dlia sbora
etnograficheskikh materialov v SSSR. Moscow.
Martins, Humberto. 2012. “Sobre o lugar e o uso das imagens na antropologia: notas críticas em
tempos de audiovisualisação do mundo.” Etnográfica, vol. 17(2): 395-419. (http://
www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-65612013000200008)
Merleau-Ponty, Maurice. 2004. O olho e o espírito. São Paulo: Cosac&Naify.
Newman, Deena. 1998. “Prophecies, Police Reports, Cartoons and Other Ethnographic Rumors in
Addis Ababa”. Etnofoor, vol. 11 (2): 83-110. (https://www.jstor.org/stable/25757941?
seq=1#page_scan_tab_contents)
Olivar, José Miguel. s/ data. Ethnographic drawings: some insights on “prostitution, bodies and
sexual rights” (http://www.sxpolitics.org/wp-content/uploads/2009/06/artigo-
dibujos_ze_final.pdf)
_____. 2007. “Dibujando Putas: reflexiones de una experiencia etnográfica con apariciones
fenomenológicas.” Pp. 54-84 Revista Chilena de Antropologia Visual (10), Santiago de Chile. (http://
www.rchav.cl/imagenes10/imprimir/nieto.pdf)
_____. 2010. “Guerras, trânsitos e apropriações: políticas da prostituição feminina a partir das
experiências de quatro mulheres militantes em Porto Alegre”. Tese defendida no Programa de
Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 385 f.
Ramos, Manuel João. 2004. “Drawing the lines – The limitation of intercultural ekphrasis.” Pp.
147-156 in Working Images: Visual Research and Representation in Ethnography, edited by A. I. Afonso,
L. Kurti e S. Pink. London: Routledge.
_____. 2008. “Portugal. 1960.” Pp. 152-157 in Diários de Viagem: desenhos do quotidiano, edited by E.
Salavisa. Lisboa: Quimera Editores.
_____. 2009. Traços de Viagem. Lisboa: Bertrand Editora.
_____. 2010. Histórias Etíopes, Diário de viagem. Lisboa: Tinta da China.
_____. 2015. “Stop the Academic World, I Wanna Get Off in the Quai de Branly. Of sketchbooks,
museums and anthropology”, Cadernos de Arte e Antropologia, 4 (2): 141-178. (https://
cadernosaa.revues.org/989)
Salavisa, Eduardo. 2008. Diários de Viagem – desenhos do quotidiano, edited by E. Salavisa. Lisboa:
Quimera Editores.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
31
_____. 2014. Diários de Viagem 2 – desenhadores-viajantes, edited by E. Salavisa. Lisboa: Quimera
Editores.
Taussig, Michael. 2009. “What Do Drawings Want?” Culture, Theory and Critique, vol. 50, issue 2-3:
263-274. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735780903240299?
journalCode=rctc20#.V2cPV1e2DaY)
_____. 2011. I swear I saw this. Drawings in fieldwork notebooks, namely my own. Chicago and London:
The University of Chicago Press.
Wright, Pablo. 2008. Ser en el sueño: Crónicas de historia y vida toba. Buenos Aires: Editorial Biblos.
NOTES
1. A pesquisa bibliográfica que deu origem a este artigo foi desenvolvida durante o estágio de
pós-doutorado na University of Aberdeen. Agradeço à CAPES pela bolsa que viabilizou tal projeto
de pesquisa e, consequentemente, o presente artigo.
2. Ao longo do artigo há diversas traduções feitas por mim – o que pode ser notado quando a
referência é em língua inglesa ou espanhola e a citação em língua portuguesa.
3. Seria muito oportuno trazer uma série de desenhos no transcorrer do texto, entretanto, a
reprodução dos mesmos se fez impossível pela questão dos direitos autorais.
4. Os desenhos etnográficos da coleção do museu Kunstkamera se encontram no site: http://
www.kunstkamera.ru/kunst-catalogue/index.seam?page=1&c=ARTS
5. O livro em questão é um guia para etnógrafos em campo escrito antes da Segunda Guerra
Mundial. O autor, Makar’er, tomou notas das aulas de Vladimir Bogoraz que lecionava o curso
“Introdução à etnografia” na Leningrad State University, atual Saint Pertersburg State
University. Agradeço ao amigo e colega Dmitry Vladimirovich Arzyutov por compartilhar comigo
seu interesse pelo desenho russo, me apresentar o site do museu Kunstkamera, livros sobre o
tema do desenho e ainda traduzir passagens do russo para o inglês, como foi o caso da presente
referência.
6. Na atualidade, um exemplo bastante interessante que reúne o desenvolvimento de técnicas de
desenho como parte da formação de estudantes de antropologia é apresentada por Kuschnir
(2014). Trataremos desse assunto na próxima seção.
7. Aqui não nos aprofundaremos na antropologia visual e seus desdobramentos, bastando
salientar que existe uma diferença entre antropologia visual e antropologia do visual. Conforme
Martins (2012: 406), embora “exista uma antropologia do visual (Ruby 2005; Ribeiro 2004) que
analisa sistemas e culturas visuais e as imagens ou produções visuais enquanto geradoras de
significados (Ribeiro 2004), a antropologia visual que tem predominado assenta numa base
metodológica na qual o filme etnográfico ou o documentário têm lugar central (Ruby 2005)”.
8. Um filme da expedição ao Estreito de Torres disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=XuVDciKvJ0Q.
9. Merleau-Ponty recupera uma ideia semelhante de Rodin ao expressar uma crítica à fotografia.
Para Rodin, a pintura que representa cavalos cavalgando no espaço – o Derby de Epson de
Géricault – é mais verdadeira que o instante congelado da fotografia que, por sua vez, revela a
posição correta das patas, mostrando, porém, um cavalo que parece saltar no mesmo lugar. A
frase de Rodin é a seguinte: “É o artista que é verídico, e a foto que é misteriosa, pois, na
realidade, o tempo não pára.” (Rodin apud Merleau-Ponty 2004: 41).
10. Para uma crítica aos limites da abordagem de Ingold e Taussig com relação ao desenho como
um verbo, ou seja, como um processo de pesquisa que considera a forma final subsidiária, ver
Grimshaw e Ravetz (2015). Em “Drawing with a câmera? Ethnographic film and transformative
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
32
anthropology”, as autoras lançam mão de uma reflexão que equipara o processo de filmar ao
processo de desenhar, sem evitar o fato de que o filme compromete-se inevitavelmente com o
enquadramento, enquanto o desenho permanece aberto. É somente ao considerar os rendimentos
de ambas as práticas que as autoras pensam na possibilidade de uma visão mais radical da
antropologia, na qual esta poderá ser considerada como uma “prática de fazer imagens”
(Grimshaw e Ravetz 2015: 271).
ABSTRACTS
Por que os antropólogos desenhavam e por que pararam de fazê-lo? Com questões como essas em
mente, o presente artigo busca percorrer e recuperar de forma fragmentária partes de uma
possível história do desenho na antropologia, bem como os regimes de visualidade que a
atravessam, com o objetivo de apresentar o estado da arte da relação entre desenho e
antropologia em torno do século XXI. Como observa Ballard (2013), assistimos a uma “virada
gráfica” no presente, quando diversos antropólogos voltam a desenhar, renovando nossas
perguntas iniciais: por que alguns antropólogos desenham atualmente e quais são os efeitos dessa
prática em suas metodologias/resultados de pesquisa? Ao levantar tais questões, este artigo
pretende iluminar os caminhos passados, atuais e, quiçá, futuros do desenho na antropologia.
Why did anthropologists make use of drawings and why did they stop doing so? This article seeks
to recount the history of drawing and its regimes of visibility in the course of anthropology’s own
history, and discusses the relation between drawing and anthropology at the turn of the 21st
Century. As Ballard noted, we are witnessing a “graphic turn” in anthropology. The fact that a
number of anthropologists are showing a renewed interest in drawing leads back to the author’s
preliminary question: why do anthropologists (still) use drawing in their fieldwork practice, and
to what effect in terms of methodology and research findings? By discussing these questions, the
author seeks to shed some light on the past, present and, eventually, future direction of the
practice of drawing within that of anthropological.
INDEX
Keywords: drawing, graphic anthropology, methodology, visibility
Palavras-chave: desenho, antropologia gráfica, métodos, visualidade
AUTHOR
AINA AZEVEDO
UFRN, Natal–RN, Brasil
Aina Azevedo é doutora em antropologia pela Universidade de Brasília, fez pós-doutorado na
University of Aberdeen, Escócia, e trabalha atualmente como professora substituta na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil.
ainaazevedo@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
33
Crús e descosidos. Reflexões em torno do
ensino do desenho da antropologia
Raw and scattered drawings. Some thoughts on teaching drawing in
anthropology
Philip Cabau
EDITOR'S NOTE
Recebido em: 2016-02-16
Aceitado em: 2016-05-09
Mudanças
1 Nos anos mais recentes o desenho tem vindo a ser recuperado como ferramenta analítica
do antropólogo.1 Este tímido retorno não é independente da história da geração que por
ele se começa a interessar. Ao contrário daquela que a precedeu e para quem a novidade
da imagem digital assumiu um inquestionável protagonismo – tanto pela facilidade do
registo como pela sua plasticidade – esta nova geração já cresceu num contexto onde
esses meios estão naturalizados, ao ponto de o acesso ao real se ter tornado
essencialmente visual. Mas sendo esta uma geração que pensa por imagens, porque não
integra ela o desenho na sua agenda? Talvez porque ele lhes pareça anacrónico; ou
porque o desenho não é exatamente uma imagem como as outras. Contudo, enquanto
ferramenta para pensar o trabalho do antropólogo, e comparativamente com o seu papel
no trabalho antropológico de há cem anos atrás, o desenho ocupa hoje um lugar mais útil
– e portanto atual – do que aquele que tinha nessa época. É verdade que muitas das
funções que o desenho pode hoje desempenhar no trabalho etnográfico se alteraram.
Enquanto utensílio dirigido à descrição e aos registo dos dados do objeto de estudo, a sua
importância foi sendo drasticamente reduzida. Nos primórdios do trabalho etnográfico o
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
34
desenho conheceu muitas vezes uma espécie de lugar natural na sua articulação com a
escrita e também com o registo fotográfico (que à época era muto diferente da fotografia
atual). Era um modo próximo do uso que dele fazemos na infância quando, aí pelos 8 ou 9
anos, já sabemos escrever, mas ainda lhe reservamos um espaço especial... até ao dia em
que outros meios e urgências se lhe sobrepõem, comprometendo-o. O facto é que uma vez
perdida essa prática só através de um trabalho árduo, coordenado e consciente, o
conseguimos resgatar, e à perceção que ele nos proporcionava.
Prancha de uma aula de desenho, no volume do mesmo nome. Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert (1751-1765). Ver http://planches.eu/.
2 Os dispositivos digitais de captação e tratamento de imagem precipitaram-se sobre o
espaço do desenho e da sua prática mudando definitivamente o significado e as funções
que este tinha no trabalho etnográfico. A questão não é apenas a facilidade do acesso que
temos hoje a estes equipamentos, que não só obtêm as imagens, como as editam e
transmitem globalmente, em tempo real, é também a sua presença dominante no nosso
quotidiano, que transformou assim o modo como nos relacionamos com os outros – e com
os próprios dispositivos. Com a sua propagação massiva veio a uniformização dos gestos:
os smartphones estão por todo o lado e com eles as novas posturas, as poses, os “selfies” e,
nos que diz respeito ao antropólogo, a diluição das fronteiras entre as esferas do
conhecimento académico na área das ciências sociais e a mera circulação de comentários.
Sendo excecionalmente ágeis e portáteis (e eternamente reeditáveis os seus registos),
neles a distância entre a captação do real e a sua edição quase coincidem, ficando tão
próximos da própria visão que se diria estarem integrados no próprio corpo do
observador. Estas próteses da perceção podem ser, contudo, do ponto de vista da atenção,
enganadoras, pois a dimensão analítica precisa de distância, tanto quanto precisa de
empatia.
3 O espírito do tempo e as tendências da moda não podem contudo distrair do que importa.
Pensar o desenho no trabalho etnográfico implica considerar as relações entre descrição e
observação (Ingold 2011a) que têm, no seu centro, noções como contacto e duração. E é
precisamente por serem estes os atributos centrais do desenho que este deve ser
equacionado como parte integrante de um painel de ferramentas mais alargado das
práticas do antropólogo, uma parte integrante da “toolbox” do etnógrafo capaz de
contribuir para um diagnóstico lúcido e atento sobre aquilo que constitui realmente o seu
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
35
trabalho e, ao mesmo tempo, capaz de o auxiliar a estabelecer as ligações que, ao longo do
tempo, configuraram a história da disciplina.
Um desenho para a antropologia?
4 Será que podemos falar, genericamente, de um desenho da antropologia, como falamos do
desenho da arquitetura ou do desenho arqueológico? Para o antropólogo, a figuração do
objeto só lhe interessa na medida em que ela testemunha, visualmente, as forças que
estiveram presentes na génese do assuntos (antropológicos, etnográficos) que estão a ser
estudados. O desenho antropológico não é nem objeto em representação nem produto, é
uma experiência singular de observação. Ele não pretende fixar ou decifrar os atributos
factuais da coisa que representa, como acontece com a ilustração científica ou
arqueológica; nem construir uma figuração a partir dos pressupostos de uma linguagem
projetiva, como acontece com a arquitetura ou o design; nem sequer tratar das
problemáticas da imagem (desenhada), como acontece com o desenho das artes plásticas.
O desenho que é útil ao antropólogo ocupa um espaço que está, de certa forma, nos
interstícios dos demais e que é obrigado a manter-se híbrido e plural de modo a poder
centrar-se sobre os indícios que no objeto manifestam o seu assunto – o da sua
investigação – e que são também vestígios desse espaço onde objeto e acontecimento se
cruzaram. Ele é, sobretudo, uma prática que permite explorar a atenção que releva do
contacto com a coisa, através de um processo que não é exatamente uma descrição mas a
duração de um contacto (Ingold: 2011a); mas que tenta, ao mesmo tempo, capturar o
fantasma que o acontecimento produziu no objeto – e no próprio observador (Taussig
2009).
5 Numa época em que os dispositivos digitais de mediação da perceção tendem a integrar
software cada vez mais sofisticado e menos suscetível de ser intervencionado pelas opções
do utilizador externas ao programa (como os “apps”, cuja conceção encerra tanto as
questões como as suas respostas), é bem compreensível que o desenho, um meio
económico, ágil e capaz de convocar integralmente o corpo do desenhador, desperte hoje
uma atenção próxima do fascínio exótico. Não havendo formação em desenho nos cursos
de antropologia – ou sequer nos cursos de antropologia visual – os antropólogos
desenhadores só podem aceder à sua prática por outras vias, exteriores à antropologia e,
frequentemente, autodidatas. Muitas vezes as razões que levam um antropólogo a
desenhar são de ordem pessoal: desenham porque gostam ou porque “têm jeito”. O seu
desenho é, em grande medida, emprestado de outras áreas de incidência da sua prática.
Os seus desenhos tendem, por essa razão, a adotar sistemas de convenções e a recorrer a
modelos prefixados que são, enquanto dispositivos de análise gráfica, pouco adequados ao
olhar da antropologia – e frequentemente limitativos e empobrecedores do que o desenho
efetivamente permite fazer neste contexto. A recorrência aos “comics” e à ilustração,
científica ou outra, são os modos de representação mais usados. A comunidade
internacional dos “urban sketchers” é um dos espaços que tende a mobilizar muitos
antropólogos pois a sua prática assenta em ações coletivas no espaço urbano,
avizinhando-se de algumas das caraterísticas do trabalho etnográfico. À falta de
conteúdos mais consistentes – ou, pelo menos, mais adequados ao tratamento das
questões sobre o uso do desenho no contexto da antropologia – verificam-se muitas vezes
desvios do objeto ele mesmo, tornando-se a figuração o assunto central. É como se estes
desenhos possuíssem uma consciência lúdica excessiva, deslumbrada com as acrobacias
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
36
gráficas que vão surgindo no papel, distraindo-se dos conteúdos que supostamente
deveriam veicular. O problema principal é que, por um lado, fazer incidir a prática do
desenho estruturalmente sobre a dimensão lúdica e ilustrativa do mesmo (a armadilha do
antropólogo como autor/desenhador) é incorrer no risco de perder aquilo que o desenho
pode efetivamente trazer ao trabalho etnográfico e que o distingue dos demais meios de
produção de registos visuais2. Há, todavia, outros antropólogos que por instinto, mais do
que por inépcia (pois esta é fácil de tratar e qualquer prática bem dirigida a resolve),
resistem a essas convenções e modos de desenhar. As suas anotações gráficas,
desajeitadas e idiossincráticas – geralmente registadas, à mistura com as notas escritas,
nos cadernos que acompanham o trabalho no terreno – permanecem incólumes às
armadilhas das figurações codificadas. Até porque, conforme o testemunham muitos
registos do trabalho etnográfico, o tempo do antropólogo durante o seu trabalho no
terreno é frequentemente descontínuo, sujeito a interrupções, pausas, esperas. Muitos
dos desenhos da antropologia, tecnicamente mais elaborados, surgiram no contexto do
preenchimento desse espaço quotidiano – um pouco como acontecia com os gestos semi-
distraídos do artesão no fim do seu dia de trabalho, como o polimento de um pormenor ou
a inscrição de um motivo ornamental. A pós-produção não ocupa, na prática do desenho,
um lugar central. Há certamente desenhos que são retrabalhados no momento da
publicação do trabalho, mas muita da representação meticulosa dos desenhos
etnográficos talvez tenha resultado mais desse ritmo meio desatento do que de um
primor descritivo intencional. Posicionados entre o “doodle”, as preocupações da
representação e o primor da apresentação, este é talvez o sítio onde os desenhos do
antropólogo mais se tendem a aproximar da ilustração.
6 Expurgar a dimensão lúdica da relação com o desenho, afastando-o da influência dos
modelos através de um método supostamente asséptico, seria evidentemente uma falsa
resolução do problema. O que importa é evitar a cristalização dos desenhos em “método”,
que o conduziria inevitavelmente à mera figuração e, consequentemente, a um declínio
da atenção – bem como à adoção de maneirismos e convenções figurativas. O problema da
adoção de um método de desenho é que este, por se estruturar integralmente sobre
convenções gráficas, assume a sua inscrição no interior de uma comunidade que é, ela
mesma, sustentada por esse sistema de códigos (tornando-se essa mesma comunidade o
destino de eleição desses desenhos). Esta tendência configura uma armadilha à própria
liberdade do antropólogo, pois esses desenhos – que assentam sobre a linguagem da
ilustração – tenderão a tornar-se, eles mesmos, o objeto da sua atenção, distraindo-o dos
assuntos que verdadeiramente o devem ocupar e restringindo a capacidade experimental
que o desenho, por natureza, possui – a razão mesma pela qual ele deve ser integrado nas
ferramentas de análise etnográfica do antropólogo. Neste sentido, o método ideal será um
“não-método”, uma prática intensiva sem outra fixação que não aquela que cada assunto
exige. Basta pensar nos desenhos que Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan 2002) produziu; as
soluções gráficas que adotou são particularmente ajustadas ao objeto do seu estudo,
problematizando as imagens daqueles objetos por uma via que mais nenhum utensílio de
registo o permitiria (mas tratando-se de outros objetos, aquela teria sido, muito
provavelmente, a forma errada de desenhar).
7 De um modo geral é preciso usar de muita prudência face ao modo como o desenho se
tende a configurar como linguagem, com uma sintaxe que desloca o assunto do “desenho-
em-processo” para o “desenho-como-produto”. O interesse do desenho no trabalho
etnográfico não consiste em ele tornar-se um veículo para fixação sintagmática de signos,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
37
mas numa prática de abertura de inscrições para a potenciação da atenção – através das
linhas que ligam a coisa percecionada aos gestos do desenhador e ao pensamento em ato
do próprio etnógrafo, numa articulação complexa de escolhas – que elege umas coisas em
detrimento de outras. Contrastando com outras formas de produção de imagens, o
desenho é transitório. Ou seja, mais do que fixar a imagem de um objeto ou de um
acontecimento, ele veicula a experiência desse contacto, permitindo aceder à sua
compreensão enquanto processo do olhar, isto é, sem precisar de cristalizá-lo como
produto. É sobretudo esta sua transitoriedade que o distingue dos outros meios e que
deveria, por complementaridade e articulação com as demais formas de análise e
pensamento da prática antropológica, ser protegida e desenvolvida.
8 Quando nos deparamos com os mais interessantes desenhos feitos por antropólogos – ou
seja, aqueles que colocam efetivamente problemas – perguntamo-nos se na verdade o uso
do desenho que integra o trabalho etnográfico não andará mais perto das anotações de
um artista plástico contemporâneo do que, por exemplo, dos desenhos de um ilustrador.
Neles, o seu assunto não é tanto a fixação descritiva das formas, mas a tentativa de
captura de uma singularidade cuja natureza é ajustada ao registo gráfico: o esforço de
reconstituição da ideia interna da forma – da mecânica que a configurou – através de um
processo que só o desenho consegue capturar.
9 Aceitar esta perspetiva sobre o papel do desenho no trabalho etnográfico e antropológico
implica, evidentemente, viver um paradoxo: praticar intensamente o desenho resistindo
sempre à tendência que essa prática possui (como qualquer outra) para se tornar
proficiente. A dificuldade está no seguinte facto: desconfiar dos hábitos, resistir à
configuração de uma prática em método é algo que só pode acontecer se esta é
experimentada como resistência. Ou seja, se a prioridade do desenho for a de fazer jus aos
critérios da própria investigação etnográfica. Uma atenção que passa por promover, no
trabalho etnográfico, um uso contínuo e intensivo do registo gráfico. Nunca como prática
integralmente autónoma e independente, mas sempre ocupando um espaço, por frágil
que seja, no interior de um contexto topológico mais complexo – acompanhado por
outras formas de contacto e de registo do real.
O desenho … e o resto
10 Não poderia, contudo, um outro meio de análise e registo do mundo visual proporcionar
uma experiência análoga, cumprir um propósito semelhante ao que propomos aqui para o
desenho? Sim, talvez, mas só se sujeito a condições muito excecionais. Mas antes de
alimentar a rivalidade entre os meios de análise visual da etnografia ou de lamentar
nostalgicamente a exclusão do desenho da caixa de ferramentas da antropologia, vale a
pena lembrar os contextos nos quais o desenho ocorreu até à profusão da era digital.
Quando o etnógrafo se confrontava com objetos (coisas, imagens) que lhe eram
absolutamente alheios, o desenho permitia duas operações a) compreender, através dos
registos gráficos do desenho, esses objetos e o contexto de onde eles surgiam, e b)
demorar-se neles e aceitá-los (construir aquela “boa distância” que o convívio com a
estranheza exige). Se a primeira destas operações é hoje anacrónica e mesmo inverosímil,
já a segunda confirma-se absolutamente ajustada ao presente. As suas caraterísticas – a
capacidade de síntese que o desenho proporciona, o tipo de atenção que permite no
acesso ao objeto (pois no desenho a atenção acompanha o objeto, capturando-o através de
um movimento de contacto, de um processo que é simultaneamente háptico e empático),
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
38
o modo como a ação de desenhar inscreve essa experiência no antropólogo/desenhador –
são algumas das complexas qualidades percetivas contidas num meio aparentemente
rudimentar.
11 Na época em que era ainda frequente o uso do desenho no trabalho de campo, as
restantes formas de registo de imagem implicavam uma complexidade técnica
considerável. A fotografia, apesar de admitir uma certa portabilidade, com a instalação,
no local, de um laboratório de revelação e impressão, encontrava-se muitas vezes sujeita a
condições climáticas adversas que tornavam o processo instável e moroso. As suas
imagens eram, por sua vez, de fraca qualidade, cumprindo uma função que era mais a de
um testemunho do que a de uma descrição. Também os filmes, (como era o caso do
Super8, formato muito divulgado) eram frágeis e a sua revelação difícil. Nesse contexto o
desenho era um meio que ocupando um lugar relativamente singelo era fiável, económico
e estava protegido pela técnica rudimentar que o distinguia dos demais. Quando tudo
falhava havia o desenho. Este argumento da sustentabilidade do meio é, aliás, o único e o
mais comum argumento que o desenho possui em sua defesa – sendo, todavia, em
absoluto, o menos relevante. Como então, também hoje é preciso tornar a pensar o
desenho no interior de um quadro topológico que hoje naturalizou a internet global e as
microscópicas câmaras de filmar. Tentaremos adiante fazer um breve varrimento
comparativo dos diversos meios de registo e descrição utilizados no trabalho etnográfico
de modo a identificar as particularidades que o desenho apresenta face à escrita, à
fotografia e ao filme.
12 a) As esplêndidas descrições de muitos dos textos clássicos da etnografia, de Malinowski a
Lévi-Strauss, revelam bem o elevado grau de elaboração a que pode chegar a palavra
escrita na captura dos acontecimentos visuais. Articulando descrições minuciosas com
considerações teóricas, esses textos permitiam atravessar, de forma sugestiva, as
fronteiras de um pensamento dirigido à compreensão das forças que determinam o social.
O problema do processo da escrita é que este tende, como nota Tim Ingold, a “capturar o
mundo para o devolver ao leitor” através das “formas estáticas do texto impresso”
(Ingold: 2011a). E ao nos referirmos à palavra escrita – que decorria, à data, de gestos
manuscritos que a mantinha na vizinhança do desenho – não estamos a falar apenas da
produção de textos de umas poucas gerações cuja formação foi, estruturalmente, formada
nas disciplinas humanísticas, pela palavra e pela literatura (que contrasta hoje, com um
paradigma cultural que é, como referimos, dominado pela imagem, e que produz as
agilidades radicalmente distintas), mas à capacidade mesma que a palavra tem para tocar
o real. É certo que a palavra escrita, quando usada por um escritor ágil e virtuoso poderá
obter resultados de uma extrema complexidade. Mas, como observa Richard Sennett
(2008: 179-193), é preciso um talento invulgar e proficiência técnica de exceção para
descrever por palavras a sequência dos gestos que atam os cordões de um sapato.
13 b) O poder que a imagem fotográfica pode conter conhece-o bem a antropologia – e
soube-o muito antes das abordagens de Roland Barthes (1998) ou Susan Sontag (1979).
Uma imagem fotográfica possui a capacidade de convocar um espaço de problematização
muito singular – que é não apenas estético, mas ético e político – como analisa Georges
Didi-Huberman no seu texto “Imagens Apesar de Tudo” (Didi-Huberman 2012). Mas hoje,
numa cultura global partilhada que produz e consome milhões de fotografias por minuto,
o significado da imagem fotográfica vem sendo sujeito a uma cada vez maior polarização.
O espaço, outrora fértil, da fotografia, é hoje o lugar de convergência de uma banalidade
sem conteúdos ou, alternativamente, um contentor hermético que resiste às atribuições
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
39
de significado. O primeiro coincide com as imagens com que enchem as “redes sociais”, o
segundo encontra-se em terrenos de especialidade, menos acessíveis, como as artes
plásticas. E se o primeiro vive acompanhada por comentários incessantes, sempre
exteriores a ela, já o segundo é propriedade exclusiva dos comentadores autorizados.
Ambos dependem, contudo, da palavra – que ocupou o lugar que elas, fotografias, foram
capazes de significar sozinhas.
14 A fotografia desempenhou, no trabalho etnográfico, uma função performativa que hoje já
não possui. Para além da técnica permitir convocar uma dramaturgia mágica, ela
promovia uma ação performativa, um espaço de curiosidade e partilha que permitia
alcançar um patamar de cumplicidade ou, mais exatamente, a criação de uma
comunidade operativa e propícia ao trabalho etnográfico. Dir-se-ia que o desenho, um
meio de registo anterior à própria palavra escrita, tende agora a ocupar esse espaço
performativo. Não é, naturalmente, qualquer desenho que pode reproduzir essa função,
pois a habilidade (as relações entre o objeto e a figuração) torna-se um elemento central
desse processo. Muitos são, contudo, os antropólogos desenhadores que reconhecem, no
seu trabalho etnográfico, esta função dramatúrgica do desenho.
15 c) O filme, por sua vez, é o meio de maior sucesso na captação do grande público, como a
profusão de festivais de cinema documental e etnográfico o comprova. Mas é também
aquele que tende a gerar mais equívocos, pois a imagem movimento, rivalizando
visualmente com a própria realidade, cria a ilusão de convocar o próprio objeto,
produzindo uma naturalização das narrativas. Já o desenho, está, pela sua própria
natureza abstrata, isento desse risco – e esta é uma das suas maiores diferenças. Nele
encontra-se resolvida a disjunção entre a perceção do objeto e o seu registo. E, nessa
unidade, protege-se da tendência que os registos visuais do trabalho etnográfico têm em
tornarem-se produtos acabados neles mesmos. No modo como ele convoca o olhar,
obrigando a uma atenção que mobiliza o corpo inteiro, articulando durações e fragmentos
percetivos (sensações) de modo sempre transitivo, o desenho é distinto dos demais
dispositivos da perceção. A sua perceção é, para mais, estruturalmente topológica, aberta
e, portanto, sempre suscetível de ser alterada.
16 Se a fotografia nos obriga, simultaneamente, à reinvenção do espaço que se encontra fora
do enquadramento e à invenção das imagens que antecederam ou sucederam aquela que
testemunhamos, já o filme, pela naturalização que caracteriza grande parte das
montagens, corre o risco de se substituir à experiência original da ação registada, de
produzir a ilusão da convocação do objeto. Nisto ele admite uma passividade sem
mediação, deixando o observador saciado. Numa época em que as diversas fases do
processo (captação das imagens, sua edição, produção e distribuição) se misturam e
sobrepõem é natural que a tendência seja mais aquela de produzir objetos do que a de
colocar perguntas 3. O desenho, na sua economia operativa, não incorre no perigo que
frequentemente se verifica no documento cinematográfico: a perda da consciência que a
sua função é transitória. Pela sua própria natureza (informalidade, rapidez), o desenho
tem a capacidade de manifestar na prática, quando usado bem, a potência da sua
transitoriedade, mantendo-se focado naquilo a que permite aceder e não naquilo que ele é
enquanto forma e objeto.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
40
A atenção do desenho
17 O que distingue o desenho das restantes formas de registo e testemunho do trabalho
etnográfico e lhe permite cumprir uma função distinta dos demais meios é sobretudo o
facto dele ser um meio visual composto por abstrações: a própria linha é uma entidade
gráfica cuja existência depende diretamente da decisão que determina a própria
inscrição. Como referiu Paul Valéry, com o desenho “apercebemo-nos do que ignoramos,
do que não tínhamos verdadeiramente visto. Até então o olho não tinha senão servido de
intermediário” (Valéry 2002: 77-82).
18 De entre as diversas esferas do trabalho do antropólogo que o desenho pode auxiliar, duas
delas parecem-me prioritárias: a própria análise do objeto e a inscrição do testemunho
dessa observação na experiência do próprio desenhador. Ambas gravitam à volta de um
mesmo assunto: o trabalho da atenção. Estas são, a nosso ver, as duas funções que o
desenho pode proporcionar (particularmente numa época de produção intensiva e de
consumo extensivo de imagens) e aquilo que o diferencia dos demais meios. Em suma: o
papel fundamental do desenho será, para o antropólogo, o de “auxiliar a minha atenção”.
O centro dessa atenção não pode, no ato do desenho, residir integralmente nem no objeto
desenhado, nem na sua representação. Os modos do desenho, que não são exatamente
técnicas nem linguagem, deverão ser capazes de se furtar às suas próprias armadilhas (à
habilidade, ao desejo de um estilo autoral). Esta “minha” atenção encerra três dimensões
que, apesar de distintas, estão relacionadas entre si, podendo caraterizá-las nos seguintes
termos:
19 a) Descritiva: estabelecendo e ampliando as ligações entre o observador e a coisa
observada;
20 b) Testemunhal: aprofundando as inscrições da experiência da observação no próprio
observador;
21 c) Performativa: problematizando a integração do observador etnográfico na
comunidade.
22 Sobre a primeira dimensão da atenção, a mais evidente, vale a pena recordar de novo
Valéry (2002: 77-82), numa das definições mais célebres sobre o que pode o desenho: “Há
uma grande diferença entre ver uma coisa sem um lápis na mão e vê-la desenhando-a”.
Menos conhecido, todavia, é o desenvolvimento que o autor dá a esse fragmento. Um
pouco adiante o autor fala da questão da vontade contida no ato de desenhar, referindo
que “É preciso aqui querer para ver, e esse olhar reclamado possui o desenho
simultaneamente como fim e como meio”. Nesta coincidência entre meio e fim reside uma
das mais relevantes funções do desenho: ele permite estabelecer, no próprio ato do
desenhar, uma simultaneidade entre ver, inscrever e compreender. E é a memória dessa
experiência, que aqui chamamos testemunhal, da coisa vista e registada naqueles traços
sobre o papel, a memória dessa coincidência, que permanecerá inscrita no autor do
desenho muito depois do acontecimento. Uma coincidência que os outros meios, mesmo a
palavra escrita, não possuem. No fundo é uma ideia simples, esta que sustenta o desenho;
mas é absolutamente extraordinária – pelo simples facto de, em última instância, ela não
ser partilhada. A intuição de Paul Valéry é tanto mais notável quanto sabemos que o seu
texto data de 1938, muito antes do desenvolvimento das ciências cognitivas e da
neurologia – como hoje as conhecemos. No desenho a experiência coexiste com o seu
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
41
registo. Por outras palavras, o desenho dobra a perceção sobre a atenção. Uma das suas
particularidades é, portanto, a sua potência de contacto com o objeto, o modo como
proporciona as ligações entre o desenhador e a coisa desenhada, obrigando ao mesmo
tempo a aproximações múltiplas e à escolha de posições e pontos de vista privilegiados; a
procurar enfim uma disposição adequada (suspensa entre a agitação que caracteriza a
curiosidade infantil e a tensa imobilidade do predador). E, sobretudo, ele envolve uma
demora, implica aceitar uma duração que é a do desenho em ato – sempre determinada
por ele, mesmo quando se trata de um mero esboço. O desenho, no seu significado mais
elementar, quase desapareceu, deixando de ser evidente o que ele proporcionava ao
desenhador-observador: uma prática que contém, em potência, uma perceção negociada.
Tanto aquela do desenhador com o objeto e consigo mesmo, como também as outras,
recuperadas no ato do desenho: as comunidades que tanto o objeto como o autor do
desenho (etnográfico) vêm convocar. Sendo a antropologia, como lembra Tim Ingold
(2011b: 238), não uma prática sobre o mundo, mas sobretudo com ele, não se compreende
como pode o desenho ser excluído das ferramentas da compreensão e perceção do real.
23 Sobre a segunda dimensão da atenção, a mais enigmática, importa lembrar que apenas
uma parte dos desenhos feitos por antropólogos – provavelmente menor do que se supõe
– resulta de um registo direto de observação do objeto. Os desenhos servem muitas vezes
para recordar ou fixar uma impressão, uma forma, um acontecimento; outras para refletir
sobre o já visto – a partir de memórias ou de notas sucintas. “Não posso esquecer-me
disto”, é a inscrição secreta no verso de todo o desenho feito por um antropólogo. Cada
uma destas palavras tem a mesma importância e cumpre a mesma convergência em
direção à razão pela qual aquele desenho aconteceu. É disto que fala Michael Taussig em I
Swear I Saw This (Taussig 2011) quando combina a ideia de “empatia mágica” de James
Frazer, na sua obra icónica The Golden Bough com a “necessidade de testemunhar” de que
fala George Bataille quando este se refere aos desenhos pré-históricos das grutas de
Lascaux. O desenho – “este” desenho – é sempre um testemunho daquilo que vejo e que
deve permanecer inscrito, com estes traços, em mim (para não se perder por entre a
multitude da perceções, sensações e objetos que nos atravessam constantemente).
Enumerar as funções do desenho implica, contudo, resolver uma dificuldade acrescida: o
seu lugar na formação do antropólogo. Isto porque a existir uma chave para a
estruturação desse ensino do desenho, ela será complexa, senão mesmo paradoxal,
podendo resumir-se na seguinte pergunta: como orientar a prática pedagógica de modo a
que o estudante alcance um certo domínio do desenho, sem que esta se torne mera
habilidade (que mais não faria senão produzir velaturas sobre o trabalho da atenção que
ele, desenho, deve servir)?
24 Sobre a terceira dimensão da atenção – talvez a menos frequente das três – importa
lembrar que os dispositivos de registo digital da imagem se tornaram hoje quase
invisíveis. A sua presença deixou de se fazer notada, não apenas por estes se tornarem
banais, mas porque a tecnologia lhes permite serem cada vez mais pequenos e mais
próximos do corpo, como próteses naturalizadas. Mas esta realidade possui duas faces; é
que se eles perderam a sua presença disruptiva, perderam também a sua aptidão
performativa para produzir os efeitos dramatúrgicos, tantas vezes úteis, na relação do
antropólogo com o meio do trabalho etnográfico. O que é hoje estranho é ver um
antropólogo tirar um lápis e um bloco de notas... e desenhar. Por outras palavras, a
frequência com que um procedimento – ou um dispositivo – é usado num determinado
contexto constitui um fator cuja importância não pode ser ignorada. O efeito de raridade
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
42
produz atenção, cria uma diferença que o antropólogo, melhor que ninguém, sabe
reconhecer – uma vez que a condição que carateriza o seu trabalho implica, para o bem e
para o mal, controlar essa mesma distância. O acontecimento excecional que foi outrora a
fotografia, obtida no contexto de uma comunidade (em estudo) e revelada num
laboratório improvisado no local, há muito que se perdeu. Do mesmo modo, partilhar um
filme acabado de registar no ecrã de um telefone portátil tornou-se um gesto banal. Por
efeito de diversos fatores o desenho pode hoje, curiosamente, recuperar esse lugar de
renegociação das distâncias entre o antropólogo e a comunidade que este estuda. De entre
os testemunhos que mencionam este facto, o texto de Ana Isabel Afonso (2004) – com
colaboração de Manuel João Ramos – demonstra, de forma exemplar, o papel que o
desenho pode desempenhar num trabalho etnográfico4. São várias as razões que
proporcionam ao desenho esta aproximação performativa, negocial e empática, entre o
antropólogo e a comunidade em estudo:
25 a) Todas as comunidades, ou quase, conhecem hoje – ao contrário do que acontecia
anteriormente à globalização – os códigos e convenções das figurações gráficas de origem
“ocidental”.
26 b) O desenho mantém-se – e tudo indica, infelizmente, que assim permanecerá por
bastante tempo – uma prática arredada das formações básica e liceal. O deslumbramento
ou, pelo menos, a surpresa face à aptidão do desenhador no espaço público tenderá a
permanecer.
27 c) Desenhar no exterior, no espaço público, é hoje uma prática pouco frequente. A
possibilidade de acompanhar esse processo, é algo de ainda mais raro.
28 d) O desenho envolve, na sua execução, recursos rudimentares: o corpo e o dispositivo de
inscrição (riscador e suporte). Este despojamento técnico proporciona ao desenhador uma
plataforma de interação mais nivelada face à comunidade onde se insere – ao contrário de
outros dispositivos que são, muitas vezes, a evidência de uma assimetria no acesso à
cultura material.
Ensinar um desenho transitivo
29 Relacionar o domínio técnico de um utensílio (no contexto de uma prática profissional)
com a formação que o proporcionou é uma associação natural. A pergunta “Onde
aprendeu a desenhar?” – pelas razões atrás referidas – está intrinsecamente associada ao
desenho e à sua prática. A partir daí as questões tendem a complexificar-se: “Qual a
formação mais adequada ou ajustada a uma prática antropológica e/ou etnográfica
contemporâneas?” ou “Quais as suas prioridades, critérios, utensílios de eleição,
métodos?”. E ainda “Como deverá ser ali identificado e apresentado o problema do
desenho?”, ou “Que funções pode o desenho desempenhar no pensamento de uma
realidade antropológica?” As respostas a estas interrogações, contudo, deverão manter-se
em aberto, pois de outro modo o desenho pode adquirir indesejáveis contornos
prescritivos (que limitariam a sua força experimental) ou ortopédicos (na articulação com
as demais ferramentas analíticas), tornando-se um meio mais desfavorável do que útil ao
trabalho do antropólogo. Não que estas tendências – a prescrição e a ortopedia – não
espreitem por detrás de todos os modos de perceção, mas, tal como acontece com as
substâncias nocivas de uma medicação, importa manter uma extrema atenção à dosagem
ingerida, para que não se corra o risco dela nos debilitar em vez de fortalecer. Assim, uma
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
43
formação que pretenda abordar o assunto do desenho para a antropologia deverá, a meu
ver, cobrir simultaneamente diversas frentes. A sua implementação pedagógica passará,
naturalmente, pela definição de estratégias específicas traduzidas em exercícios
concebidos para o efeito. Conscientes do risco que é, numa formulação deste género,
separar artificialmente os conteúdos das suas estratégias, enumeramos abaixo seis áreas
de ação que deverão sustentar um ensino do desenho na área da antropologia:
30 1ª. Desenvolver táticas de aquisição das agilidades de base do desenho – mantendo a
focagem na questão da atenção, mais do que na habilidade da representação.
31 2ª. Insistir na multiplicidade das formas de atenção (referidas atrás) colocando o
desenhador perante distintos cenários – cuja natureza e diversidade lhe permitam
explorar diversos tipos de duração (dessa mesma atenção). O desenho providencia, nesse
contacto que agrega olhar, objeto e inscrição, uma temporalidade e uma concentração
absolutamente singulares. E, com a sua prática, também proporcionará o acesso a uma
maior finura da perceção, que é fundamental ao trabalho etnográfico.
32 3ª. Sensibilizar para a questão da necessidade do controle do espaço da perceção e da
delimitação do assunto em análise (por via do desenho), de modo a poder tratá-lo como
um tipo distinto de imagem: não apenas o enquadramento e a distância face ao objeto,
mas as durações que caracterizam as relações entre este e as estratégias gráficas para o
seu tratamento.
33 4ª. Aprender a usar o desenho numa articulação ativa com os demais meios de registo e
análise da imagem (descrições escritas, fotografias, filmes, etc.), de modo a conseguir
extrair do desenho aquilo que só ele pode trazer ao trabalho etnográfico. Apesar da
questão se encontrar geralmente ausente das preocupações de uma formação em
desenho, a articulação com os outros meios e dispositivos analíticos da “caixa de
ferramentas” do desenhador é fundamental para os estudantes de antropologia acederam
ao que “pode” o desenho.
34 5ª. Implementar, através do uso do desenho, a consciencialização da natureza
fragmentária da própria perceção – por forma a resistir à tendência para criar imagens
“acabadas”, constituindo-se assim o desenho, à partida, como um produto e não um
processo experimental – problema frequente no uso da fotografia e do filme em contexto
pedagógico.
35 6ª. Introduzir, no interior de um contexto específico e laboratorial adequado ao trabalho
etnográfico, a dimensão performativa (e mesmo dramatúrgica) do ato de desenhar, de
modo a permitir o acesso a narrativas dialogantes sobre os desenhos produzidos no
terreno. Esta esfera pode envolver não apenas o etnógrafo no seu desenhar, mas também
a comunidade em estudo, através da recorrência ao uso participativo do desenho – como
o testemunham alguns desenhos recolhidos por Margaret Mead e, mais recentemente,
por Michael Taussig.
36 A partir deste elenco de problemáticas cremos ser possível definir uma estratégia
pedagógica para um ensino do desenho adequado à antropologia. Este deverá,
evidentemente, considerar o contexto formativo, o perfil dos estudantes (isto é, a sua
posição curricular numa formação em antropologia), a duração da ação pedagógica e o
meio onde este curso/workshop irá ocorrer (isto é, o espaço público e a comunidade alvo
– e suas problemáticas latentes suscetíveis de serem tratadas por esta via).
37 Os desenhos propriamente ditos deverão ser acompanhados de um trabalho
propedêutico, capaz de tratar algumas das questões implicadas na prática etnográfica em
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
44
geral e na antropologia visual em particular – o médium onde o desenho encontrará o seu
próprio espaço. Separar, à maneira das velhas academias do desenho, o domínio técnico
dos seus utensílios e o papel destes no trabalho analítico (e autoral) propriamente dito
constitui geralmente, para o formando, uma armadilha sem retorno. Porque as duas
dimensões são, se formuladas de maneira pertinente, só uma. Deverá ser também
contemplado, na ação pedagógica, um tempo para análise dos resultados do trabalho de
desenho ali efetuado. Os formadores e os estudantes deverão aí deter-se criticamente
sobre os desenhos produzidos identificando o papel que eles desempenharam na perceção
do desenhador ao longo daquele simulacro etnográfico. Falar sobre os desenhos
realizados olhando-os atentamente e discutindo-os em grupo afigura-se como um
procedimento particularmente didático para explorar as fronteiras, distinções e
contiguidades existentes entre as dimensões antropológica e etnográfica do trabalho dos
formandos.5
38 Uma formação em desenho dirigida a antropólogos terá que centrar-se não numa
proficiência da figuração (cujo domínio dos códigos de representação assegurará
certamente a aprovação de comunidades exteriores à antropologia), mas na construção
gráfica que testemunhou essa experiência de contacto com o “assunto” – que configura o
objeto de estudo. É neste sentido que um desenho menos proficiente pode ser mais
interessante – e mais útil para o próprio investigador – do que uma ilustração plausível e
consensual do mesmo objeto. Em suma, a questão não reside na habilidade (tê-la ou não é,
no fundo, irrelevante e depende do uso que o seu autor faz dela), pois o assunto consiste
em saber como pode o desenho auxiliar o trabalho da atenção – tanto na experiência da
perceção como na inscrição que essa perceção possui nas memórias individuais do
antropólogo.
39 As escolas não inventam as práticas. Nos melhores casos elas organizam as que já estão no
mundo. Servem sobretudo para as (re)pensar – como referem Yves Michaud (1999) e
James Elkins (2002) nos textos em que ambos tratam a questão do ensino da prática
artística. A desconsideração do desenho nos currículos pedagógicos das formações em
antropologia visual é desconcertante. Mas, mais que isso, é surpreendente o facto de uma
área profissional na qual o processo de conhecimento ocorre, em grande parte, através da
implementação de procedimentos de separação e associação, montagem e desmontagem
de unidades de perceção, muitas das vezes inventadas e resolvidas por análise
comparativa, prescinda do desenho enquanto ferramenta analítica. É neste sentido que se
podem revelar importantes as manifestações, cada vez mais frequentes, do uso do
desenho pelos antropólogos no seu trabalho. Eles trazem o desenho para o mundo... e um
dia as escolas deverão mesmo atribuir-lhe importância.
40 Estarei, com esta aproximação ao desenho, a propor um espaço implausível? Não o creio,
pois a meu ver a saída é relativamente simples: trata-se de inserir o desenho nos
currículos das formações de base enquanto ferramenta etnográfica da componente visual
da antropologia, promovendo a sua experimentação num contexto comparado. Apenas
sob estes pressupostos, e por forma a evitar as armadilhas mais frequentes do desenho no
contexto do trabalho etnográfico, pode uma formação em desenho ser bem sucedida. A
problemática do desenho na formação do antropólogo não é uma equação simples. Incluir
o desenho logo no início do curso, no espaço formativo onde o estudante inicia (ou refaz)
a sua perceção, seria o lugar natural para trabalhar o assunto do desenho – em articulação
com os demais processos de análise do real. O problema é que a progressiva contração das
licenciaturas e a preponderância das grelhas burocráticas, sujeitas a permanentes
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
45
revisões, vêm sufocando progressivamente o espaço de problematização pedagógica,
relegando as práticas do olhar para uma posição cada vez mais periférica. E mesmo
quando estas problemáticas são consideradas, elas rivalizam com os novíssimos
conteúdos curriculares que surgem no horizonte. E, nesse contexto comparativo, o
desenho tende a ser considerado um conteúdo ingénuo e vagamente anacrónico. Pode,
claro, alegar-se que o desenho encontrará o seu lugar mais adiante, nas especializações e
ciclo de estudo mais avançados. Mas uma análise dos planos curriculares existentes
confirma que aí a fotografia e, muito especialmente, o filme ocupam um lugar
hegemónico. Em muitos currículos de Antropologia Visual que incidem sobre conteúdos
documentais de fotografia, filme/vídeo e multimédia – e nos quais o desenho está ausente
– podemos, por exemplo, observar a inclusão de conteúdos sobre as técnicas de
montagem e sobre a importância do fotograma. Afinal, já em 1965 Jean-Luc Godard
notava que “Se a realização é um olhar, a montagem é um bater do coração” (Godard
1965). As operações que o desenho permite efetuar sobre essa “imagem-em-perceção”
são, contudo, de outra ordem, uma vez que enquanto o filme tende a funcionar como um
processo de relação de imagens, onde as variações de significado resultam da combinação
entre estas, o desenho obriga a um procedimento distinto – no sentido em que ele refaz a
própria imagem à medida que esta é inscrita. É disto que fala Michael Taussig quando
evoca a distinção que John Berger faz entre o “image taking” da fotografia e o “image
making” do desenho (Berger 2005). É também sobre este assunto que Tim Ingold (2011a)
incide quando distingue a imagem fotográfica do desenho: “É um erro pensar que a
câmara fotográfica faz o mesmo que o lápis, mas apenas mais depressa, ou que a imagem
fotográfica obtém o mesmo que o desenho, só que com maior acuidade.” Porque, como
lembra Tim Ingold “o lápis não é uma imagem assente em tecnologia. Nem é ele
exatamente uma imagem. É o registo de um gesto observacional que acompanha o que se
está a decorrer. A câmara interrompe este fluxo - de atividade visual manual – cortando a
relação entre gesto e descrição que se encontra no centro mesmo do ato de desenhar.” E
resume o autor: “O desenho é aquele modo de descrição que ainda não se apartou da
observação. Ao mesmo tempo que uma mão gesticulante inscreve os seus traços sobre
uma superfície, o olho observante é capturado pelos emaranhados do mundo vivo”. 6
41 O facto de, recentemente, alguns nomes incontornáveis do pensamento da antropologia
contemporânea elegerem este assunto do desenho no trabalho do antropólogo e fazerem-
no, para mais, identificando a sua importância e urgência, deverá ser lido como um
sintoma. Importa não esquecer que paralelamente ao seu trabalho de investigação no
terreno os dois antropólogos citados lecionam, como acontece com muitos outros, em
instituições de ensino onde lidam diretamente com as novas gerações, constituindo os
seus testemunhos, de certa forma, um diagnóstico sobre o futuro da prática
antropológica. Ambos os autores incidem sobre o desenho na antropologia enquanto
veículo de um “pensamento-em-prática”, que comporta as dimensões analítica e
testemunhal. No contexto pedagógico estas ganharão em permanecer, até certo ponto,
separadas, pois é este hiato entre o registo da descrição no papel e a inscrição desse
testemunho háptico na memória das práticas do antropólogo que caracteriza o lugar e a
pertinência do ato do desenho na experiência etnográfica do investigador. Ao contrário
das práticas projetuais, onde o desenho ocupa um lugar bem definido na cadeia de
procedimentos – como acontece, por exemplo, na arquitetura – e onde os conteúdos
disciplinares estão, a priori, definidos e onde as próprias formas de descrição se
relacionam, direta ou obliquamente com a imagem do objeto porvir, a prática etnográfica
procede de forma ensaística, por progressivas aproximações à definição dos contornos da
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
46
problemática em estudo. Não se pode realmente falar aqui de imagens que caraterizem
uma “esfera de conteúdos”, uma vez que o que realmente importa no desenho não é tanto
a aparência dos objetos de estudo, mas algo que esses desenhos veiculam. Isto é, nem os
desenhos precedem a problemática, nem o contrário. O desenho existe para tentar dar
consistência às relações que possam existir entre a experiência visual e a problematização
etnográfica propriamente dita. Compreende-se pois que o desenho deva desempenhar
sobretudo uma função “testemunhal”, tornar-se um utensílio de afinamento da perceção,
onde o domínio dos meios técnicos constitui um fator pouco relevante. Esta é, a nosso ver,
uma questão central, pois uma uniformização dos modos de desenhar pode, pelas razões
que mencionámos atrás, perturbar o acesso que o desenho tem a este trabalho da atenção.
Pode dizer-se que, paradoxalmente, é preferível uma declarada inépcia no uso do
desenho, um “cuidado para desenhar mal” (como acontece, por exemplo, com Michael
Taussig), à adoção de sistemas de representação convencionais que tenderão a instalar-se
entre o pensamento analítico e o registo gráfico, dando primazia a este último. Claro que
o antropólogo terá que entender que a utilidade dos seus desenhos é sobretudo a destes
funcionarem enquanto meio de rememoração da experiência original da perceção (a sua
dimensão “xamânica”, como refere aquele autor). O intuito do desenho não é portanto
ilustrar o objeto, apresentando a sua imagem a uma comunidade externa à antropologia,
mas articular as duas dimensões complementares dessa experiência: testemunhar o
acontecimento e inscrever esse testemunho. Ambas envolvem um elaborado processo de
diálogo consigo mesmo que muitas vezes ignorando ou simplesmente não conseguindo
aceder à dimensão descritiva que o desenho possui, se centra na potência de evocação que
ela, a experiência do desenho, consegue por vezes encerrar.
42 Não se trata tanto, talvez, de perseguir um desenho da antropologia, quanto configurar
uma constelação desarticulada que se posiciona nos antípodas deste: desenhos singulares,
atípicos, muitas vezes desajeitados e frequentemente idiossincráticos. Em última
instância deverá existir não tanto um desenho “do” antropólogo, mas o desenho “no”
antropólogo – atípico hospedeiro de um organismo invulgarmente transitivo. Os
desenhos dos antropólogos, pela sua condição mesma, mas também por se inscreverem
numa prática analítica e reflexiva, plural e multiforme, tenderão a manifestar-se de um
modo tentativo e fragmentário: desenhos crus e descosidos. Para o antropólogo que os
desenha eles tenderão a ocupar um espaço insubstituível, desempenhando uma função
que é, afinal, evidente.7
BIBLIOGRAPHY
Afonso, Ana Isabel e Ramos, Manuel João (ilustrações). 2004. “New graphics for old stories,
Representation of local memories through drawings”. Disponível em http://iscte.academia.edu/
ManuelJoaoRamos/Papers/733733/
New_Graphics_for_old_Stories_illustrations_for_Ana_Isabel_Afonsos_chapter_in_Working_Images
.
Barthes, Roland. 1998. Oevres Complètes II, La Chambre Claire. Paris: Seuil.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
47
Berger, John. 2005. Berger on Drawing. London: Co.Cork Occasional Press.
Bresson, Robert. 1995. Notes sur le cinematographe. Paris: Gallimard.
Cabau, Philip. 2012. Design pelo Desenho: Exercícios, jogos, problemas e simulações. Lisboa: FCA Design,
Grupo Lidel.
Cabau, Philip. 2011. O Dispositivo Desenho: A implementação do desenho no ensino artístico
contemporâneo. Caldas da Rainha: Edições ESAD.cr, Escola Superior de Artes e Design das Caldas da
Rainha do Instituto Politécnico de Leiria.
Dias, Jorge, Margot Dias e Fernando Galhano. 1964. Os Macondes de Moçambique. Lisboa: Junta de
Investigação do Ultamar – Centro de Antropologia Cultural.
Didi-Huberman, Georges. 2012. Imagens Apesar de Tudo. Lisboa: KKYM Imago.
Elkins, James. 2002. Why Art Cannot Be Taught. Illinois: University of Illinois Press.
Godard, Jean-Luc. 1965. Montage, Mon Beau Souci. Paris: Cahiers Du Cinéma 65.
Ingold, Tim. 2011a. Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. Primeira versão do
texto “Creativity – Abduction or Improvisation? Conferência no Keble College, Oxford, RU”.
London: Routledge
Ingold, Tim. 2011b. Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. Primeira versão do
texto “Radcliff-Brown Lecture in Social Anthropology”. London: Routledge
Le Corbusier. 2002. Le Corbusier: Voyage d'Orient : Carnets. Milano: Electa Architecture.
Leroi-Gourhan, André. 2002. O Gesto e a Palavra: Memoria e Ritmos. Lisboa: Edições 70.
Lévi-Strauss, Claude. 1976. Tristes Tropiques. Paris: Plon.
Michaud, Yves. 1999. Enseigner l'art?. Analyses et réflexions sur les écoles d'art. Nimes: Jacqueline
Chambon.
Pauly, Danielle. 2006. Le Corbusier : Le dessin comme outil. Lyon: Fage Editions.
Pedretti, C. 1983. Leonardo Da Vinci: Nature Studies from the Royal Library at Windsor Castle.
University of Washington Press.
Ramos, Manuel João. 2015. “Stop the Academic World, I Wanna Get Off in the Quai de Branly. Of
sketchbooks, museums and anthropology.” Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 4, No 2 | 2015 p.
141-178.
Sennett, Richard. 2008. The Craftsman. New Haven-London: Yale University Press.
Sontag, Susan. 1979. On photography. London-New York: Penguin Books.
Taussig, Michael. 2009. “What Do Drawings Want?” Culture, Theory and Critique, 50:2-3, 263-274,
DOI: 10.1080/14735780903240299.
Taussig, Michael. 2011. I Swear I Saw This: Drawings In Fieldwork Notebooks, Namely My Own. Chicago:
University of Chicago Press.
Valéry, Paul. 2002. Degas Danse Dessin. Paris: Gallimard.
NOTES
1. Não sendo antropólogo, a minha relação com desenhos cujo intuito primeiro consiste na
observação do mundo precedeu a descoberta de autores/antropólogos, como Tim Ingold e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
48
Michael Taussig, que nos seus textos abordam esta vertente do desenho. Isto decorreu do facto de
me encontrar familiarizado com o desenho e seu ensino em duas áreas distintas – as artes
plásticas e a arquitetura. Aí, o desenho de observação possui já uma tradição de vários séculos,
constituindo um património incontornável, como o testemunham muitos dos desenhos de
Leonardo, Turner, Delacroix ou Le Corbusier. Tenho, todavia, a consciência que a minha incursão
no território da antropologia só pode ser feita sob reserva e com a cautela que resulta do facto
desta não ser a minha área de especialidade.
2. Será talvez útil referir aqui o interesse que os desenhos de análise e de observação realizados
por alguns autores que trabalharam no espaço das artes plásticas (Belas Artes) e da arquitetura
podem ter para a própria antropologia. Nas primeiras ocupam posição fundadora os desenhos de
Leonardo da Vinci através das inúmeras áreas de interesse que caracterizaram a sua vida. Da
botânica ao corpo humano, da mecânica à arquitetura, todos os territórios do saber são
suscetíveis de serem compreendidos pelo desenho – pois só ele é capaz de aceder às razões
internas da forma e da matéria. Já no século XIX, há dois exímios desenhadores com trabalho
nesta área específica do desenho que devem ser referidos. O primeiro foi Eugène Delacroix, cujos
cadernos da sua viagem a Marrocos testemunham um excecional uso do desenho de observação.
O segundo, William Turner, comprova na sua obra pictórica, o papel didático que o desenho
assume no conhecimento das formas e das forças que as constituem – ele, que no começo da sua
vida profissional, desenhou centenas de desenhos de representação rigorosa de paisagens
inglesas. Já na arquitetura, os desenhos de registo de Le Corbusier continuam a ser hoje uma
referências notáveis, tanto pelo seu esforço de inteligibilidade como pela economia de meios com
que são tratados os mais diversos assuntos: territórios, arquiteturas, pessoas e utensílios. Os seus
cadernos da “Viagem ao Oriente” registam centenas de desenhos daquele que foi, provavelmente,
o trabalho mais “etnográfico” da arquitetura. Num contexto bem mais próximo de nós, tanto no
espaço como no tempo, a obra do arquiteto Álvaro Siza Vieira constitui um notável testemunho
sobre o papel do desenho na compreensão do mundo e das suas formas.
3. Referimo-nos aqui especificamente uma tendência que se manifesta frequentemente no filme
documental e, particularmente, ao produzido em contexto pedagógico. Os bons filmes
etnográficos sabem, evidentemente, escapar-se desta falácia – como o cinema de Jean Rouch o
comprova.
4. John Berger (2005) fala desta dimensão contida no desenho – uma forma latente de diálogo
performativo – no seu texto “Drawing on Paper”, que faz parte da recolha dos seus textos sobre
desenho “Berger on Drawing”.
5. No sentido da distinção entre antropologia e etnografia que refere Tim Ingold no referido
texto (Ingold 2011b)
6. Esta tradução recorre, por transcrição, à versão do texto apresentado da referida conferência
(Ingold 2011b).
7. Nota final: O presente texto é desenvolvido a partir de um ponto de vista muito específico: o
papel que o desenho pode desempenhar no trabalho etnográfico – e, sobretudo, o seu lugar na
perceção do real do antropólogo. Ou, mais precisamente, o modo como pode ser pensada a sua
aprendizagem no quadro formativo de um currículo de antropologia. Por outras palavras, não se
pretende incidir sobre os tipos de desenho nem sobre as qualidades que os caracterizam. Uma vez
que, no entanto, no texto se faz referência a desenhos e cadernos de notas, registos do trabalho
de campo, etc., adiante indicamos os “hyperlinks” que na internet correspondem a exemplos que
podem ilustrar algumas das questões abordadas, ajudando assim a contextualizar os conteúdos
trabalhados no texto.
Eugène Delacroix, Páginas do caderno da Viagem a Marrocos (c.1832): www.imarabe.org/sites/
default/files/delacroix.pdf
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
49
Le Corbusier, Desenhos diversos dos cadernos da Viagem ao Oriente (1911): https://
www.google.pt/search?q=le+corbusier+voyage+d'orient
+1911&biw=1439&bih=764&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjoqYmgxIfNAhWJAsAKHdkUBQgQsAQIIw
Claude Lévi-Strauss, Desenho diagramático de pinturas corporais dos índios caduveos (in Tristes
Trópicos, 1938): https://www.youtube.com/watch?v=cdaJcRF1XYw; Páginas dos cadernos do
trabalho de campo (Les Dessins de Lévi-Strauss, Institut National du Patrimoine): http://
www.taipeibiennial.org/2012/img/23a_web_levi_struass_tristestropiques.jpg
Evans-Pritchard, Esquema de análise cartográfica de território dos Nuer, África (c.1940): http://
dariodezfuli.com/imagenes/nuer/text_nuer_01.png
Leroi-Gourhan, Sequência evolutiva da forma, do sílex à faca, c.1964 (in Sciences Critiques,
deuxième thèse: le temps de l’évolution technique est totalement fallacieux): http://sciences-
critiques.fr/quest-ce-que-le-progres-technique/
Fernando Galhano, Desenhos realizados a partir da colaboração com Jorge Dias e Margot Dias:
https://desenhosetnograficos.files.wordpress.com/2014/08/galhano-p87-bmp.jpg
Manuel João Ramos, Estudos de observação de terreno na Etiópia (2010): https://
desenhosetnograficos.files.wordpress.com/2014/08/ramos-he-p-14-e-15.jpg; Esquema de
reconstituição histórica de dispositivo de travessia de contrabandistas sobre fronteira fluvial,
construído a partir de diálogo com o próprio contrabandista (2004, em colaboração com Ana
Isabel Afonso): https://www.academia.edu/5367968/
New_graphics_for_old_stories_Representation_of_local_memories_through_drawings
Michael Taussig, Figurações elaboradas a partir de descrições no terreno, América do Sul (c.2010):
https://www.google.pt/search?q=michael+taussig+i+swear+i+saw
+this&sa=X&biw=1439&bih=764&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjW1o7TxIfNAhVJCcAKHYB3AbcQsAQINA
ABSTRACTS
Fala-se cada vez mais da recuperação do desenho no trabalho etnográfico. Mas o que está
exatamente a ser resgatado? Que particularidades pode o desenho trazer ao trabalho do
antropólogo que nenhuma outra prática da perceção possua também? E, uma vez identificadas
essas particularidades, como se consegue integrá-las na formação do antropólogo? Partindo do
desenho como prática-em-pensamento, a sua natureza, os seus utensílios na perceção da
realidade visual e o seu lugar por entre os demais utensílios do antropólogo, o presente texto
pretende identificar e caracterizar do trabalho da atenção e a sua importância no trabalho
etnográfico.
The practice of drawing is becoming ever more present in ethnographic work. But what is it
exactly that is being brought back to the anthropological field with the drawing pencil? Which
are the particularities that situate the act of drawing within the work of the anthropologist? How
can we include drawing in anthropology’s teaching curricula? Starting out from drawing as a
means of reasoning and a tool to foster visual awareness, the article explores the nature of
drawings, drawing as a tool for perception and the possible place of drawing within the
anthropologist’s fieldwork toolkit.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
50
INDEX
Keywords: drawing, pedagogy, anthropologic research, ethnographic notebooks
Palavras-chave: desenho, ensino, investigação antropológica, cadernos etnográficos
AUTHOR
PHILIP CABAU
Instituto Politécnico de Leiria, Portugal. Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha
cabau@esad.ipleiria.pt
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
51
De l’objet intrinsèque à la pensée
technique : le rôle médiateur du dessin
en ethnographie maritime
From the intrinsic object to technical thinking: the mediating role of drawing in
maritime ethnography
Christine Escallier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Recebido em: 2016-01-07
Aceitado em: 2016-05-16
Introduction
1 Le dessin a certainement accompagné le développement de l’écriture : “Je crois que l’art
dit art premier ou art rupestre, naturellement sacré, destiné à mémoriser mythes ou
événements, est bel et bien en soi une première écriture.” (Coppens cité par Anati 2000).
L’Homme semble-t-il a toujours dessiné : sur sa peau ou celle d’animaux, sur les parois
d’une grotte ou les murs de New York, sur tous les supports et en toutes occasions pour
lutter contre ses peurs, marquer son territoire, communiquer et transmettre ses
connaissances.1 Car dessiner les objets et les êtres, c’est témoigner et appréhender le
monde environnant tout en clarifiant une pensée. Ces représentations visuelles ont
notamment eu une place essentielle au temps des grands voyages d’exploration, quand les
navigateurs2 embarquaient avec eux des explorateurs, des missionnaires et des
naturalistes qui ont produit des descriptions de terres (cartographie, topographie), de
faunes et de flores (classification), de peuples primitifs (culture). Ces documents
constitueront les premières grandes sources ethnographiques de l’histoire des Hommes
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
52
et des civilisations disparues dans lesquelles des générations de scientifiques et
d’amateurs éclairés puiseront la matière de leurs réflexions et de leurs ouvrages :
Nous pénétrâmes dans le pays. Nous le trouvâmes fort peuplé. Les gens étaient
vêtus de plumes d'oiseaux de couleurs variées. Ils venaient à nous gaiement, en
poussant de grands cris d'admiration et en nous montrant l'endroit le plus sûr pour
aborder. Nous remontâmes la rivière (le chenal) jusqu'à une demi-lieue à l'intérieur
des terres. Là nous vîmes qu'elle formait un très beau lac d'environ trois lieues de
tour. […] où une trentaine de petites barques montées par une foule de gens passant
des deux rives pour nous voir (Verrazano 1524).3
2 Bien souvent ils sont accompagnés d’un simple dessin ou d’une aquarelle faisant surgir un
foisonnement de détails, arrêtant le temps sur un fait ou une rencontre aboutie. Pour
beaucoup, l’image graphique ou plastique est aussi un moyen d’alléger un texte abscond
en le découpant et en y insérant des illustrations – pas toujours très explicites –
distrayant le regard du lecteur. Mais la visée scientifique du dessin lui confère
progressivement une autonomie vis-à-vis du texte. L’ethno-archéologue André Leroi-
Gourhan viendra à considérer l’image parfois plus importante que le texte. Autrement dit,
le texte compléterait l’image et non le contraire. Le peintre et graveur ethnographe
Théodore Valerio (1819-1879) le démontre en réalisant de nombreuses études sur les
costumes et coutumes des peuples visités et publie des Essais Ethnographiques (1858). Il
s’agit de brosser ce que Christine Peltre appelle une “géographie de l’art” (2005) quand
celle-ci décrit les traits anatomiques des populations observées. La légende qui
accompagne la gravure du ferronnier de Valerio (Fig. 1) précise l’intention de son auteur,
entre le dessin parlant et l’écriture imagée :
Les traits les plus caractéristiques de la race hongroise sont le front élevé, le visage
ovale, maigre, nerveux, le nez aquilin, même légèrement busqué, les yeux bleus ;
leur taille est svelte; sans être très grands, les Hongrois sont admirablement
proportionnés. (1858: 215)
3 Quant aux vêtements portés par le sujet, il ne s’agit pas d’une simple peinture d’un drapé
et de pièces ajustées que l’artiste reproduit mais de la démonstration de son entendement
de l’agencement des plis et de sa connaissance d’une géométrie descriptive des pièces
cousues qui forment l’habit. Ces dessins s'inscrivent dans la même perspective que ceux
de Marcel Griaule – célèbre pour ses travaux sur les Dogons et pour ses pratiques
graphiques – et dont les écrits et les dessins ethnographiques, selon Éric Jolly :
[…] ne sont pas seulement le produit de conventions disciplinaires ou de stratégies
scientifiques, variables selon le texte ou le contexte ; ils sont aussi le fruit
d’expériences, d’habitudes et d’inclinations personnelles susceptibles, à terme,
d’influencer les raisonnements de ce chercheur, l’organisation de ses données et la
construction de ses objets d’étude. (2011: 27)
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
53
Fig. 1 – Ferronnier Rom des monts Mátra au XIXe siècle (Théodore Valerio, 1891). Domaine public
(PD-Art).
4 Avant de se construire et de se penser en tant que méthode et discipline, l'ethnographie a
ainsi longtemps vécu grâce aux gens de parole et à ceux qui les écoutaient et
consignaient, sous forme de journal ou de carnet de bord, leurs observations écrites et
dessinées. Cette méthode est entrée dans la tradition ethno-anthropologique, et
l’ethnographie – dont l’objet est l’étude descriptive et analytique des cultures – a fait du
dessin un invariant de l’enquête. Ainsi :
[…] la naissance d’une tradition iconographique implique au sein de ces sociétés la
formation d’un univers de discours propre à la représentation visuelle. Dans ces
cultures, il existe toujours un domaine du représentable auquel l’iconographie
s’applique de manière presque exclusive. L’acte créateur, nullement absent dans ces
cultures, concerne donc toujours l’invention d’une relation entre le savoir
traditionnel et l’image. (Careri, Severi et Vidal 2010: 415)
5 Cette relation entre savoir traditionnel et image s’est particulièrement révélée en
anthropologie des techniques et notamment en anthropologie des techniques maritimes,
quand il s’est agi de décrire les qualités propres des objets techniques, dans un premier
temps, puis leur mise en situation à travers l’analyse des procès de travail (chaînes
opératoires techniques) permettant ainsi de mettre en évidence une pensée technique. Je
montrerai ici que ces sous-champs disciplinaires ont joué et jouent encore un rôle dans la
permanence d’une production iconographique en anthropologie sociale.
Le statut iconographique illustratif de l’objet technique
6 Étudier le rôle pratique et symbolique ainsi que l’usage des objets techniques est une
démarche qui s’est peu à peu éloignée de cette ethnographie du XIXe siècle qui consistait
à inventorier l’objet dans toute sa diversité matérielle sans y introduire une pensée de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
54
l’objet technique, y associer son milieu et son organisation sociale, contexte qui seul
autorise la technique à se développer et qu’elle transforme en retour. Cette dissociation,
Leroi-Gourhan l’a contestée, considérant la technique comme un domaine à part entière
du savoir et de la culture. Il consacre d’ailleurs une grande part de ses recherches à
l’anthropologie des techniques à partir desquelles divers concepts sont dégagés,
notamment ceux de fait et de milieu technique4, ainsi qu’un cadre méthodologique à
partir du degré du fait et de la chaîne opératoire. Il s’agit là d’un principe de “découpage”
de l’action technique et d’analyse de ses séquences qui fige le geste dans son milieu,
comme le fait un dessin. Il permet de déterminer l’ordre linéaire des faits, d’observer les
innovations techniques et les variations opératoires. Ces apports fondamentaux à
l'épistémologie de ce champ disciplinaire sont réunis dans des ouvrages présentant des
milliers de dessins.5 Notons également que cette discipline6 a pris son essor du fait surtout
de l’archéologie où le dessin a longtemps prévalu sur l’infographie qui traite
numériquement les images d'origine – dessinées ou photographiées.
7 Une culture se construit dans l’action sur des cultures matérielles spécifiques qui jouent
un rôle fondamental dans l'organisation des groupes, la division sexuelle de leurs tâches,
leur hiérarchie (Julien & Rosselin 2005). Ces cultures matérielles posent ainsi des
questions tout aussi spécifiques auxquelles l’anthropologie – dans une démarche
d’interrogation totalisante – tente de répondre.
8 L’importance de l’objet ethnographique dans l’univers matériel des hommes et le rôle
médiateur qu’il joue entre l’homme et la matière impliquent que l’ethnologue ne se
contente pas de faire parler les gens. Car faire l’ethnographie des techniques ce n’est pas
seulement décrire l’objet, dans sa réalité intrinsèque (objet simple), c’est révéler son rôle
en tant que pensée technique (objet social). L’objet alors prend tout son sens quand celui-
ci est interrogé comme témoin. “Tout est logos ou parole vivante. L’ethnologue sur le
terrain ne doit pas se contenter de faire parler les gens ; il faut qu’il apprenne aussi à faire
parler les choses et à les écouter.” (Bastide 1968: 1075). Marcel Mauss considère l’objet en
tant que fait social, prônant la nécessité de les collectionner et de les cataloguer,
“meilleur moyen pour dresser un catalogue de rites” (1967: 7). Il conseille aux
muséographes la règle fondamentale qui est de toujours l’accompagner de dessin :
Chaque objet recevra un numéro porté à l'encre, renvoyant à un inventaire et à une
fiche descriptive, donnant les renseignements sur l'usage et la fabrication de
l'objet. […] Un dessin sera joint chaque fois qu'il faudra montrer le maniement de
l'objet, un mouvement de la main ou du pied (exemple : pour l'arc et les flèches, il
est important de fixer la méthode de lancement par la position des bras, des doigts
aux divers moments; le métier à tisser est incompréhensible sans documents
montrant son fonctionnement). (op.cit.: 12)
9 Ainsi, en décrivant sa morphologie, sa fonction et son fonctionnement, et en le replaçant
dans la main de son utilisateur, on voit que celui-ci s’insère dans un ensemble d’objets,
d’actions et de savoir-faire empiriques et didactiques, formant une chaîne opératoire.
Cette chaîne, articulation d’une série d’opérations, d’actions structurées, associe le geste,
l’outil et l’homme, et les connaissances nécessaires pour la réalisation de cette action.
Plus qu'un récit, la description est une explication, une mise en mémoire des procédés
techniques incluant des aspects sociaux organisationnels. Elle constitue la matière
première de l’ethnologie des techniques (Leroi-Gourhan 1964, Cresswell 1972,
Geistdoerfer 1973, Balfet 1975-1991, Lemonnier 1976).
10 André-Georges Haudricourt joue également un rôle essentiel dans le développement de
l'anthropologie française des techniques, discipline qu’il contribue à promouvoir en étant
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
55
l’un des premiers à affirmer que la technologie est une science – une science humaine
(1987). Il propose deux orientations primordiales. La première concerne l’angle
d’observation de l’objet qui peut révéler différentes perspectives :
Voici une table. Elle peut être étudiée du point de vue mathématique, elle a une
surface, un volume ; du point de vue physique, on peut étudier son poids, sa
densité, sa résistance à la pression ; du point de vue chimique, ses possibilités de
combustion par le feu ou de dissolution par les acides ; du point de vue biologique,
l'âge et l'espèce d'arbre qui a fourni le bois ; enfin du point de vue des sciences
humaines, l'origine et la fonction de la table pour les hommes. Il est clair que pour
un objet fabriqué, c'est le point de vue humain de sa fabrication et de son utilisation
par les hommes qui est essentiel, et que si la technologie doit être une science, c'est
en tant que science des activités humaines (Haudricourt 1987: 37-38).
11 La seconde, la question de la contextualisation de l’objet technique, “[…] mettre autour de
lui l’ensemble des gestes humains qui le produisent et le font fonctionner” (op. cit.: 119).
Dans le domaine particulier de la construction navale, Bertrand Gille rejoint Haudricourt
sur ce dernier point, constatant, dans Histoire des Techniques (1978), qu’une technique
isolée n’existe pas et qu’elle doit faire appel à des “techniques affluentes dont la
combinaison concourt à un acte technique bien défini” (Gille 1978: 15). Ces travaux
s’inscrivent dans l’âge d’or de l’ethnologie des techniques et ont contribué à redéfinir le
statut du document graphique comme support de la représentation identitaire et
manifestation de la pensée conceptuelle.
12 L’anthropologie maritime s’est construite en France dans le cadre de cette anthropologie
des techniques. La mer a longtemps été considérée comme un espace exclusif des sciences
naturelles avec l’étude de ses organismes et leur milieu – binôme fondamental de
l'écologie. Aussi, les activités de l'homme en rapport avec les milieux aquatiques sont
restées peu connues, notamment en raison de leur spécificité. La mer, son rivage et ses
ressources présentent, en effet, des particularités telles – variabilité, irrégularités,
invisibilité, non contrôle de la reproduction, bornage impossible – que, pour devenir
marins ou pêcheurs, des hommes, des femmes, des communautés ont dû inventer des
systèmes techniques, sociaux, économiques différents de ceux que les terriens ont mis en
place pour occuper et exploiter un milieu stable et en partie contrôlable (Geistdoerfer
2007).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
56
Fig. 2 – Épuisette rodafole (6 – Esposende, Fão – rodafole). Oliveira, Galhano & Pereira, 1975, p. 56.
Dessin de Fernando Galhano. © Direção-Geral do Património Cultural/Arquivo de Documentação
Fotográfica (DGPC/ADF). Centro de Estudos de Etnologia, Museu Nacional de Etnologia, Lisbonne-
Portugal.
13 Les recherches expérimentales associées à l’écologie marine, initialement très
organismiques sont devenues de plus en plus systémiques et par conséquent
pluridisciplinaires, ouvrant son champ à l’écologie humaine. Selon Yvan Breton (1981), la
constitution d'une anthropologie maritime, en tant que domaine de recherche
particulier, est donc récente. Celle-ci prend naissance dans un contexte qui lui est
favorable : celui de la remise en question des orientations de l'anthropologie sociale et de
l’évolution de ses champs d’investigation. L’anthropologue canadien, l’un des premiers à
avoir effectué une étude critique sur l’histoire et les bases épistémologiques de ce sous-
champ disciplinaire, souligne alors l’importance des grandes monographies du XIX e siècle
et du début du XXe, avec les amérindianistes nord-américains comme Boas et son étude
sur les indiens pêcheurs-chasseurs Kwakiutl du Nord-Ouest (1909).7 Avec les
fonctionnalistes anglais ils ont, dans un premier temps, essentiellement développé une
ethnographie minutieuse des instruments et des techniques de pêche – comme
Malinowski aux îles Trobriand (1922) – pour avancer vers une étude plus analytique des
relations entre l’objet technique et les lieux de rapports de production (Breton op. cit.:9).
Les études des sociétés dites archaïques vont alors progressivement se diversifier en
s'intéressant davantage aux modes de vie liés à l'activité économique dominante, aux
sources de subsistance et au lieu de résidence des individus (Breton ibid.). Sous l’influence
de Malinowski, Raymond Firth s’oriente vers l’ethnologie économique des sociétés
traditionnelles du Pacifique et publie, en 1946, Malay Fishermen: Their Peasant Economy,
amorçant ainsi un tournant qui va s’étendre sur deux décennies (1950-60) durant
lesquelles les sociétés de pêcheurs sont l’objet de travaux aux orientations
principalement fonctionnalistes et bien d’autres études suivront comme celles de Barnes
(1954) en Norvège ou encore de Davenport en Jamaïque. Cependant, et pendant
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
57
longtemps, l’étude des populations qui vivent directement ou indirectement des mers et
des océans est due, en grande partie, aux sciences sociales qui associent alors les sociétés
de pêcheurs au monde rural :
O litoral, a costa, o mar e o oceano eram simplesmente extensões do continente e as
populações que viviam desses ecossistemas eram considerados "camponeses" e
assalariados marítimos (no caso da navegação costeira ou oceânica) para os quais as
cidades litorâneas e as zonas costeiras representam espaço de moradia. 8 (Diegues
1995: 8)
14 Les anthropologues brésiliens choisiront, d’ailleurs, de parler d’“anthropologie des
sociétés de pêcheurs” plutôt que d’anthropologie maritime (Collet 1993), renforçant ainsi
l’identité d’une science humaine plus spécifiquement tournée vers l’halieutique. Or,
qualifier l'anthropologie de maritime ne signifie pas qu'il y a une anthropologie “propre
aux sociétés maritimes” et que celle-ci peut se développer indépendamment de
l'anthropologie des sociétés rurales, mais de préciser qu'il y a, au sein de ce sous-champ,
des techniques d'observation, des formes d'analyses particulières à ces sociétés dont
l'activité principale leur est spécifique. De ces techniques d’observation et de leurs
rendus, le croquis ou le dessin technique, la photographie, sont indissociables de
l’enquête de terrain. L’objet technique acquiert alors un statut iconographique illustratif
entrant dans un corpus.
15 Le groupe “pêcheur” peu à peu se distingue des autres groupes, devenant une entité à
part entière. Cette nouvelle typologie va donc permettre de mettre en évidence plus
rapidement le profil d’engagement atypique des gens de mer. Leur activité de pêche
devient un métier, c’est-à-dire une activité qui répond à un type de savoirs et un mode
spécifique d’acquisition de ces savoirs manuels, techniques ou mécaniques,
empiriquement acquis et reposant sur un ensemble de savoirs incorporés (Geistdoerfer
op. cit.: 24). Étudier des sociétés de pêcheurs impose tout à la fois, assurément, une
approche technologique et une étude des savoirs aussi bien que des représentations. Les
années 1970 marquent plus qu’une transition. Le champ disciplinaire est reconnu. Une
profusion d’études monographiques sont publiées. Elles donnent une place
prépondérante à la représentation visuelle, notamment à travers le dessin, cet autre
langage qui permet une compréhension universelle de la définition et de la réalisation de
l’objet technique. On peut citer quelques monographies : Actividades agro-marítimas em
Portugal de Oliveira, Galhano et Pereira (1975), Pêcheurs acadiens/Pêcheurs madelinots.
Ethnologie d’une communauté de pêcheurs, de Geistdoerfer (1987) et L’Empreinte de la mer.
Identité des pêcheurs de Nazaré-Portugal, thèse soutenue par de l’auteur en 1995.
16 – La première mobilise cette technique à des fins d’inventaire des engins utilisés pour la
récolte des algues marines (219 illustrations), au nord du Portugal, leur donnant un
caractère essentiellement muséographique (objet simple) plus proche de la fiche
technique, la photographie étant parallèlement utilisée pour sa mise en situation (Fig. 2
et 3).
17 – La deuxième, avec ses 77 dessins et 103 photographies, décrit autant l’objet (un bâton)
que l’action entre l’homme et la matière (l’animal, la peau), dans son milieu associé, en
somme elle explique la technique et le milieu (Fig. 4).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
58
Fig. 3 – Phase du procès de travail (70 – Esposende, a norte da Apúlia). Oliveira, Galhano & Pereira,
1975, p. 56. Photographie de Henrique de Oliveira. © Direção-Geral do Património Cultural/Arquivo de
Documentação Fotográfica (DGPC/ADF). Centro de Estudos de Etnologia, Museu Nacional de
Etnologia, Lisbonne-Portugal.
18 – La troisième réalise à la fois un inventaire historique des engins de capture nazaréens,
décrit leur fonctionnent avec l’analyse décomposée des actions humaines, leur mise en
situation (l’objet social). Avec ses 259 dessins, schémas et chaînes opératoires, elle utilise
aussi ce mode majeur de description à des fins d’étude des interactions entre l'homme et
son environnement physique et social, utilisant l’objet comme médiateur. Les dessins des
informateurs trouvent ici leur place en alternance avec ceux de l’auteur.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
59
Fig. 4 – Techniques pour assommer et transporter les phoques (Geistdoerfer 1987: 213 et 216)
Dessiner les objets de la mer : une coopération
chercheur/informateur
19 Les sociétés de pêcheurs se caractérisent par l’exercice d’activités halieutiques composées
de pratiques originales, pour la plupart empiriques, leur conférant une identité venue de
la mer. Leur grande mobilité explique à la fois l’importance des techniques de navigation
acquises mais également l’adaptation continue des techniques de capture aux pêcheries
nouvelles que les hommes s’approprient. Ces techniques remplissent des fonctions
déterminantes dans leur organisation sociale, économique et symbolique. C’est donc à
partir d’une étude descriptive des techniques de pêches et des procès de travail, qu’il faut
chercher à identifier les marqueurs locaux distinguant un groupe de pêcheurs des autres
travailleurs de la mer. Cette ethnographie des techniques est une méthodologie
d’investigation à laquelle les ethnologues ne peuvent se soustraire sur le terrain quand ils
étudient les sociétés maritimes. Sur ce terrain l’ethnologue possède, par tradition, un
carnet sur lequel il dessine : des visages, des marques corporelles (tatouages, peintures),
des postures quotidiennes ou rituelles, des scènes de vie, des objets, des formes, et des
mots. Il y transcrit des témoignages visuels qu’il peut ensuite comparer avec d’autres
relevés pris en d’autres temps et d’autres lieux. À l’écriture d’observation, d’interrogation
et de spéculation, le dessin apporte une compensation aux limites de la compréhension
des faits observés. Les différentes écritures sont en permanente interaction. Ce carnet est
à la fois un outil, une technique d’enquête, un journal qui témoigne du vécu du chercheur,
au plus près de l’objet de son étude.
20 Le dessin est le contraire d’une image plaquée, sans relief. À chaque coup de crayon,
l’ethnologue apprivoise l’objet, ses lignes, ses courbes, ses volumes. Il le façonne, le
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
60
compose. Le trait – gras ou fin – le dissèque (Fig. 5), en extrait les informations utiles pour
son assemblage et son fonctionnement.
Fig. 5 – Lignes et courbes de la barque portugaise candil (Dessin de l’auteur).
21 C’est la dynamique de l’objet qui surgit sous sa mine. Il faut “l’ethnographier”, en faire
une étude descriptive et analytique, sur son terrain et dans un contexte qui lui est propre.
Savoir dessiner un objet n’exige pas d’avoir “fait les beaux-arts” mais d’avoir déjà acquis
une connaissance de sa mise en situation, du contexte dans lequel il agit : il faut avoir vu
l’objet en mouvement pour le dessiner à l’arrêt.
22 Le dessin dévoile la vision particulière par laquelle l’observateur perçoit la matière. Il
s’attache à révéler la nature de l’objet, dans une approche sensible des matériaux
naturels. Cette perception, que l’anthropologue Handelman (1990) – suivi du sculpteur
Guiseppe Penone (2011) –, nomment regard tactile, se situant entre le voir et le toucher,
mémorise l’expérience sensorielle au point de se souvenir des qualités matérielles de
l’objet renvoyées par le trait du dessin. Et bien que “l'image d'une calebasse n'a(ait) pas le
goût de la bière de mil.” (Colleyn 1999), en examinant mes archives iconographiques, je
me souviens de l’épaisseur du drap qui confectionne les pantalons des pêcheurs portugais
de Nazaré ou de la légèreté des corsages de ses mareyeuses ; de la masse d’une senne
débordante de sardines au relevage, jusqu’au fumet puissant qui remonte à la surface au
fur et à mesure que la nappe se gorge d’eau, attestant des usages répétés de l’engin…
Cette odeur écœurante s’inscrit dans la mémoire qui dépend des fonctions sensorielles. Le
cerveau enregistre toutes les saveurs (Le Breton 2006). Le toucher est omniprésent dans le
règne vivant. La mémoire dépend de ces apports sensitifs indispensables pour percevoir
l’environnement et elle joue un rôle fondamental lors de la reproduction, par le dessin, et
avec un souci de justesse, ce qui n’est plus. Cet enjeu est particulièrement vif quand il
s’agit de demander à des informateurs de dessiner des objets disparus ou inaccessibles au
regard. Nos sens, en effet, construisent et reconstruisent les souvenirs en les transposant,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
61
voire les travestissant, sans cesse. On fait alors appel au sensible pour décrire un au-delà
du perceptible, une autre réalité, autrement dit une intuition sensible de l’espace.
Fig. 6 – Galion Machaquene-Rapozo N 338 G. TJB 16,600 et Senneur galeão (Dessin de l’auteur).
23 Lorsque le chercheur fait participer l’informateur à la réalisation d’un corpus en ayant
recours à l’image, cela exige la mise en place d’un certain nombre de paramètres
méthodologiques et de questionnements :
24 Dans quelle condition réalisera-t-il son dessin : seul, en présence du chercheur, ou
d’autres individus qui pourront l’aider ou au contraire l’influencer dans sa reproduction
mémorielle de vécus antérieurs ? Le chercheur doit-il imposer un support (papier à
dessin, feuille de cahier), des dimensions ; une technique (crayon, peinture) ?
25 Dans quelle mesure l’informateur est-il capable de reproduire, par l’entremise du dessin,
une pensée, un souvenir, une vision mémorisée, une perception ?
26 L’interprétation de la réalité du pêcheur est-elle une preuve d’authenticité et comment
en vérifier le degré ? Question à laquelle le dessin du chercheur lui-même peut être
soumis...
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
62
Fig. 7 – La flottille artisanale de Nazaré et Peintures des œuvres mortes des senneurs galeões
(Dessins de João D.E.).
27 Réaliser un inventaire des techniques, tant de navigation que de pêche, pratiquées au
cours de l’histoire maritime de la communauté nazaréenne a été l’un des objectifs de mon
étude au Portugal. Dans l’enceinte de Nazaré, de nombreuses embarcations ont jeté
l’ancre. Certaines ont survécu, d’autres se sont adaptées aux nouvelles conditions
géographiques ou à la restructuration des activités. À partir des premiers rôles9, datant de
1890, j’ai pu effectuer ce premier inventaire des barques en activité. Auprès des plus
anciens, j’ai demandé qu’elles me soient décrites – formes des proues et des poupes,
couleurs des œuvres vives et des œuvres mortes10 – ainsi que leurs différents modes
d'identification – code d’immatriculation, dénominatif, ornementations (peintures et
objets à caractère talismanique). A côté de petites barques sans grand caractère servant
pour le transport du matériel et des hommes, quelques autres ont marqué
irrémédiablement l’identité nazaréenne et bien que pour la plupart disparues
aujourd'hui, elles sont présentes dans toutes les mémoires. Il s’agit des galions (galeões)
(Fig. 6), la plus grosse barque jamais existée sur ce rivage, pesant près de dix-sept
tonneaux alors que la moyenne de la flottille tourne autour de un à trois tonneaux de
jauge brute.
28 Elle nécessitait à son bord une vingtaine d’hommes pour actionner treize rames, tandis
que sur les actuelles barques, trois pêcheurs suffisent pour la palangre11 et cinq pour la
mise à l’eau de l’antique senne de plage12. C’est donc à partir des témoignages que j’ai
réalisé le croquis 9 mais ce sont les dessins du doyen des pêcheurs de Nazaré (João, âgé de
90 ans) qui m’ont permis de compléter mes données en établissant une liste des types
d’embarcations constituant la flottille, confirmée par les dessins du même informateur, et
d’identifier les propriétaires des galions grâce aux codes couleurs des œuvres vivres et
mortes de chaque coque, dont il avait gardé le souvenir (Fig. 7).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
63
29 Par la suite ces représentations ont été confirmées par d’autres témoignages. Car, bien
qu’ayant cessé leurs activités vers 1902-1905, ces galions avaient été vus et touchés. En
effet, même si ceux qui y ont embarqué ont depuis disparu, leurs enfants et petits-
enfants, jouant sur la plage à l’époque où les embarcations étaient encore échouées sur le
sable, y montaient sans hésitation pour imiter les gestes de leurs aînés, répétition jouée
de leur futur métier (Fig. 8). Mémoire d’enfants, de fils de pêcheurs et de pêcheurs eux-
mêmes, leurs souvenirs se sont renforcés longtemps après qu’ils ont été produits.
Fig. 8 – Espace d’apprentissage sur la plage de Nazaré : enfants jouant sur un galion (Auteur inconnu
Crédit DR).
30 Du souvenir construit à partir d’une image réelle d’un objet concret, à l’image produite
par l’esprit d’un objet invisible, une question se pose sur leur authenticité mais à des
degrés différents. Cette preuve d’authenticité est-elle d’ailleurs une nécessité absolue
quand il s’agit de décrire l’immatériel ? Pour tenter de répondre à cette interrogation, j’ai
mené deux autres expériences à partir d’objets moins palpables, voire inobservables et
demandé de rendre “visible l’invisible” par la transcription iconographique des
connaissances acquises empiriquement au cours des ans et des campagnes de pêche. Ces
dessins, qu’il s’agisse des coques de galions ou des plans de madragues 13 et des cartes des
fonds qui suivent, ont été réalisés sans aucune directive ni instruction émise
préalablement. La technique employée, le support et ses dimensions ont été laissés au
choix des dessinateurs et les projets exécutés hors de ma présence. Il s’agit donc de
productions libres.
Expérience 1 : Se souvenir des madragues d’antan
31 Largement déployées tout au long de la côte nazaréenne, les madragues ont disparu dans
les années 1950, marquant la fin de l’Âge d’Or14 de la sardine au Portugal. Les pêcheurs qui
ont travaillé sur ces engins les ont dessinés à ma demande. J’en ai retenu deux dans le
cadre de cette démonstration. Si l’on compare la première (Fig. 9 gauche) crayonnée par
un pêcheur âgé et retraité (João), et la seconde (Fig. 9 droite) par un actif d’une
soixantaine d’année (Carlos), on note immédiatement de grandes différences. Celles-ci
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
64
sont dues à la fois à la spécialisation de chacun (patron et simple pêcheur), au temps
passé à exercer ce type d’activité ainsi qu’au niveau d’étude des informateurs. João
possède une instruction rare pour un pêcheur né au début du XXe siècle. Il sait lire, écrire
et calligraphie avec aisance. Il est issu d'une famille d’armateurs. Il a exercé de
nombreuses activités tant locales qu’hauturières. Le second déchiffre et écrit
laborieusement. Sa maladresse à tenir un crayon l'amènera à faire dessiner une carte des
fonds marins par un camarade qui l'exécutera sous sa direction.
Fig. 9 – Madrague à sardine valenciana. Auteur João D.E. (gauche) et Carlos A.D. (droite).
32 Du fait de sa disparition, voici une soixantaine d'années, les pêcheurs susceptibles de
parler de ce piège sont rares et leur nombre décroît chaque année. João a dessiné une
structure de la valenciana bien différente de celles présentées dans les ouvrages de
référence, car bien moins complexe. Quant aux souvenirs de la génération des 60 à 70 ans,
s’étant pour la plupart nourris des récits paternels, ceux-ci resurgissent déformés. Les
madragues racontées atteignent des dimensions amplifiées, fantasmées. Ces pêcheurs
n'ayant jamais eu de contact direct avec les engins, ou sans point de comparaison, les
décrivent aussi grandes que celles utilisées dans le sud du Portugal. Le gigantisme est
d'ailleurs un élément qui revient sans cesse dans leur discours. Jadis tout était plus grand
ou tout semblait l’être : des grands senneurs galeão aux grandes sennes de plage, en
passant par les grands bancs aujourd'hui disparus, les grandes émotions que le danger
procurait suivi des grands deuils de la mer à l’époque où le port n’existait pas encore. 15 Il
en résulte que pour décrire les madragues nazaréennes, j’ai volontairement privilégié la
mémoire locale même si celle-ci ne s'accorde pas à la "réalité" des auteurs de référence,
notamment Baldaque da Silva (1891), présentant un engin originaire du sud du pays et
dont la diffusion, vers le nord, s'est accompagnée d'une réduction systématique de sa
taille et décrite comme étant “des miniatures de madragues à thon”. Cette
miniaturisation de l’engin, migrant vers le nord, ne sera pourtant pas prise en compte par
les observateurs au XXe siècle qui continueront à décrire et dessiner la madrague
nazaréenne comme s’il s’agissait d’une madrague du sud.
Expérience 2 : Dessiner un monde invisible…
33 L’exercice consistait à dessiner les fonds sur lesquels les pêcheurs mouillaient par le passé
les engins disparus ainsi que ceux utilisés au présent. Je l’ai demandé à ceux pratiquant
des pêches locales (dans l’enceinte de Nazaré), côtières (à quelques encablures du rivage)
et hauturières (à trois heures de navigation). Il s’inspire du principe de la carte cognitive
ou mentale développé par le psychologue Tolman16 afin de comprendre les mécanismes
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
65
d’apprentissage. En écologie, il sert à étudier les écosystèmes (Çelik et all 2005). Il est “la
manifestation de la pensée irradiante” selon Buzan (1993). S’agissant d’une
représentation mentale qu’un individu se fait de l’organisation de l’espace dans lequel il
se trouve, son utilité ici est de mémoriser des savoirs ainsi que de révéler la création d’un
monde imaginaire. La connaissance et la représentation cognitive de la structure, des
entités et des relations à l'espace – reflet interne et reconstruction de l'espace dans
l'esprit – s’appliquent parfaitement au monde halieutique, et à ses reproductions que je
nomme ici cadastre marin. L'étude descriptive et analytique de ce patrimoine immatériel a
pour objet de capter les puissances de l’invisible, rendre lisible la pensée visuelle. Outil de
créativité, hautement structuré, il permet d’organiser intuitivement les données et de les
partager.
34 En théorie, la configuration générale des fonds est l'objet d'une représentation collective,
ayant valeur de fait établi. Or, quand les pêcheurs la retranscrivent sous forme de cartes,
on s’aperçoit que leurs interprétations comportent de nombreuses variantes.
L'illustration de leurs territoires respectifs révèle le ou les métiers qu'ils pratiquent. En
rapport avec la technique exercée, les pêcheurs affinent alors leur compréhension des
espaces spécifiques appropriés.
35 En tant que représentation mentale, cette image n’est donc pas fixée une fois pour toutes.
Il ne s’agit pas d’une photographie mais d’un ensemble d’informations compilées par le
pêcheur. Le contexte changeant, le cadastre (terrestre) est altéré en fonction de nouvelles
données. Ceci est particulièrement évident quand on fait l’inventaire des objets ayant la
fonction d’amer, des repères qui relient les hommes à la terre dans la navigation à vue. Le
pêcheur qui transmet à sa descendance son seul véritable patrimoine, ses connaissances
des fonds marins, ses pêcheries découvertes, exploitées et gardées jalousement, va
transmettre non pas une image, une carte, mais des renseignements, des propositions
verbales. L’ensemble de ces acquis transmis va être l’objet d’une nouvelle interprétation
qui donnera naissance à un nouveau cadastre marin, l’imaginaire de l’un ne pouvant être
hérité par l’autre. Bien qu’il puisse paraître utopique de chercher à représenter un
cadastre maritime mental, il apparaît cependant que c’est dans cet espace marginal et
complexe, qui se construit seulement par les pratiques, que repose l’un des fondements
identitaires des pêcheurs artisans. L’espace marin, aux structures occultes, immatérielles
et intériorisées, devient un élément de patrimoine, entre nature et histoire du groupe, lui
procurant un sentiment d'identité et de continuité.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
66
Fig. 10 – Le canyon de Nazaré vu par le pêcheur hauturier João à partir de l’enceinte et de la côte
nazaréenne : 1,50 m × 0,83 m (gauche) et détails (droite).
36 Quant à la question paradoxale de l’authenticité et de l’interprétation de ces cartes,
chacune est le reflet d’une réalité, celle de son auteur. Pour évaluer le degré de
connaissance des pêcheries, il a fallu procéder par étapes. La première était de demander
aux auteurs de commenter leurs cartes respectives, la seconde de présenter celles-ci à
d'autres pêcheurs, de tous âges et de tous métiers, afin de les faire parler, réagir, critiquer
ce qu'ils estimaient être conforme ou pas à la réalité – leur réalité – tentant de résoudre
ainsi la délicate question des rapports entre description et interprétation. Un travail
d'enquêtes individuelles et parallèles de vérification des situations des différentes
pêcheries répertoriées a été conduit, soit directement en mer avec l'aide d'un patron de
pêche et du relevé de ses instrumentes (sonde, radar), soit par enquêtes à partir de cartes
vierges que des pêcheurs complétaient à ma demande. Cet exercice a été proposé à des
individus seuls ou à des groupes de pêcheurs à des fins d'émulation des mémoires et
stimulation de l'esprit critique. J'ai pu ainsi montrer que certaines cartes mentales, qu'il
s'agisse des échelles de distance, des situations des pêcheries et de l'inventaire de celles-
ci, étaient les plus fidèles à la réalité et donc les plus crédibles. Tandis que d’autres, si
elles étaient représentatives pour les pêcheurs de pêche locale, étaient fortement
contestées par les autres. Enfin, certaines, bien que plus sommaires, avaient le mérite de
présenter une vision très personnelle de leurs auteurs des trois zones de pêche
nazaréennes. Cette comparaison faite entre les cartes et les discours tenus par les
pêcheurs sur leurs aires de pêche respectives a permis de saisir le degré de connaissance
que ces derniers ont acquis à force de pratique, également de confirmer des
positionnements d’engins – notamment ceux des madragues – qu’il n’avait pas été
possible de garantir à la suite des seuls échanges verbaux.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
67
Fig. 11 – Le canyon de Nazaré vu par le pêcheur hauturier João-Paulo (0,69 m × 0,56 m).
37 D’autres informations, liées à la biologie marine, figurent sur les cartes. À un espace, un
fond, est associée invariablement une espèce et la toponymie vernaculaire en fixe le
biotope : Cana da Donzela (julienne), Patão da Faneca (tacaud), Cana da Borda do Besugo
(pageot acarné) – les espèces pêchées. En conséquence, quand on demande aux pêcheurs
de faire l'inventaire de la faune locale, on saisit pourquoi ils le font selon une
classification reposant sur les biotopes – fond rocheux, propre, sableux – définissant
également le type d'engin utilisé pour la capture – ligne, filet, piège. Ainsi la carte de la
Fig. 10 replace le poisson dans son milieu, informe de la qualité des fonds et de la
profondeur des eaux, situe les amers qui permettent de localiser chaque pêcherie (cf. les
phrases soulignées). En somme, le dessin dit tout cela à l’instant de sa réalisation,
conservant une réalité cependant mouvante.
38 Cette méthodologie, basée sur “l’autoreprésentation” montre qu’une carte est avant tout
un support qui utilise comme canal de communication le visuel. Or, quand il s’agit de
cartes imaginées, la construction comme la lecture du message cartographique échappent
au champ disciplinaire traditionnel de la géographie, qui a défini une véritable sémiologie
du signe visuel c’est-à-dire une technique d’interprétation, ou de traduction, pour
comprendre les différents systèmes qui permettent aux individus de communiquer ; “La
science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale” selon Saussure (1916), ou
encore une sémiologie graphique pour la pertinence des représentations cartographiques
de l’espace, comme l’étude des groupes sociaux qui le peuplent (représentations
paysagères, processus de construction de l’identité).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
68
Fig. 12 – Canyon de Nazaré vu du phare (en bas à gauche) par le pêcheur à la petite palangre locale
Francisco V.
39 On voit donc ici que le principe de “faire parler” les informateurs s’applique parfaitement
à celui de les faire dessiner. L’exercice a pourtant été difficile à réaliser car les pêcheurs
artisans de Nazaré n’utilisent ni carte de navigation à bord de leur barque non-pontée, ni
aucun système d’orientation ou de détection des bancs. C'est par la seule pratique qu’ils
ont acquis tout leur savoir et cette capacité d’affiner analyse et compréhension.
L'apparence est l’élément décisif pour appréhender la mer et la répétition du geste pour
dominer la technique : “La vigie peut sentir, à l'approche du banc, le fumet qu'il exhale à
la surface de l'eau lorsqu'il est d'importance. Seul le sens olfactif de cet homme
expérimenté est éveillé et les autres membres de l'équipage attendent son signal pour la
mise à l'eau du filet.” (Pêcheur, 63 ans). Par conséquent, l'observation qui commande le
geste le plus simple procède d'un lent apprentissage dont la fonction, le contenu et les
modalités ont pour finalité le succès de l’entreprise. L’expérience nourrit cet imaginaire
que les pêcheurs dessinent et cette coopération étroite et volontaire des acteurs du
terrain, le chercheur comme l'informateur, se prolonge également dans la production
d’images plastiques fixes ou en mouvement dans les pratiques de mémorisation des
objets.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
69
Fig. 13 – Enceinte de Nazaré vue par le pêcheur à la senne de plage Carlos (0,61 m × 0,56 m).
La photographie : preuve ou matériau de recherche
40 La naissance de la photographie a révolutionné tant les arts que les sciences. Celle-ci est
d’ailleurs contemporaine de l’apparition de l’anthropologie et ses premières utilisations
en sciences humaines ont eu pour objet d’analyser les physionomies permettant aux
ethnologues, comme aux psychologues, d’étudier les mimiques et autres expressions
faciales, les émotions humaines, les postures, et de comprendre le vocabulaire de la
communication non-verbale qu’est le langage du corps. Iconographie devenue
anthropométrique, elle fait évoluer les connaissances anatomiques en médecine et
permet à la paléontologie de définir des typologies et de fixer, pour un temps, les
identités biologiques supposées. Cette utilisation de la photographie fait des émules et
pousse à l’extrapolation psychanalytique. C’est le cas bien connu des travaux du
criminologue italien, Cesare Lombroso, qui prétend, avec ses portraits tirés dans les
prisons et les asiles, déceler les caractères irréversibles du criminel-né, de la prostituée
ou de la mère infanticide prédestinée, en somme, deviner les comportements antisociaux
futurs. Le "type criminel" est né, mettant l’accent sur l’anormalité biologique de
l’individu – son image.
41 L’ensemble de ces travaux accompagne la naissance des sciences de l’Homme au XIX e
siècle. C’est le temps de la psychiatrie et de toutes les disciplines qui prétendent prédire
l’intelligence de l’individu (raciologie, craniologie, craniométrie). Toutes débouchent sur
la classification et hiérarchisation des “races”. L’eugénisme est institué et la théorie
adoptée par les partis nationalistes et les milieux colonialistes du XXe siècle. C’est
l’innéisme poussé à l’extrême que la photographie prétend fixer à jamais comme “preuve
scientifique” ultime. Au cours du temps, les images vont relayer le mensonge scientifique
en reproduisant les mêmes stéréotypes. Comment les chercheurs en sciences sociales
peuvent-ils alors utiliser ce support-témoin pour traduire un fait, une réalité, pour
attester du vrai et du faux ?
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
70
42 Dans un premier temps, la photographie a été considérée par les naturalistes et les
archéologues comme un moyen d’archiver des éléments visuels, d’attester de la réalité de
faits observés et de faciliter la prise de note sur le terrain. Pour les anthropologues elle
est rapidement devenue un outil nécessaire, voire indispensable. Malinowski est l’un des
premier à l’utiliser dans son étude chez les Trobriandais comme témoin et Mauss, comme
méthode d’observation, la conseillera fortement dans son Manuel d’Ethnographie : “Tous
les objets doivent être photographiés, de préférence sans pose. La téléphotographie
permettra d'obtenir des ensembles considérables. On ne fera jamais trop de photos, à
condition qu'elles soient toutes commentées et exactement situées : heure, place,
distance.”(1967:14). Après un séjour à Bali, Margaret Mead et Gregory Bateson publient
Balinese Character: A photographic analysis (1942) où figurent plus de 700 photographies :
“Ces auteurs tournèrent durant les années 1936-1938 à Bali et en Nouvelle-Guinée près de
6000 m de film en format 16 mm et prirent 25000 photos” (Stork 1986: 57).
Fig. 14 - Les cinq grandes étapes du mouillage de la senne tournante (La barque décrit un cercle
autour de l’annexe porte-feu ; les bras du filet sont réunis ; positionnement des acteurs pour le halage
des cordes ; fermeture de la senne ; les poissons sont halés à bord). Dessins de l’auteur.
43 Cette démarche est innovatrice car elle prône l’utilisation de la photographie non pas
comme simple preuve mais comme un authentique matériau de recherche. C’est ce que
Edward T. Hall (1986) fait en questionnant la photographie comme un objet-témoin. Elle
n’est pas un artefact artistique mais un document à analyser ; de ce fait elle doit être prise
selon une méthode qui implique que le cliché ne soit pas orienté – chercher à lui “faire
dire” – alors que le but est, en quelque sorte, de l’écouter se raconter. Comme tout objet
technique, la photographie est une narration ethnographique.
44 Pour l’ethnographe des techniques, le passage du dessin à la photographie ou de la
photographie au dessin n’est qu’une étape d’un même processus. L’image
photographique, qui serait perçue comme une amélioration du dessin, est en fait une
autre technique périphérique tendant à nourrir ou à étendre l’activité du dessin. Par
exemple, dans l'étude d’une succession de mouvements, de gestes, il faut prêter une
attention particulière aux points morts (Mauss 1967: 56). Chaque mouvement a un point
de commencement et un point d’arrêt. Il convient de décrire ces phases intermédiaires
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
71
ainsi que les mouvements corporels associés. Là réside, notamment, toute la difficulté du
dessin dans sa représentation et interprétation de la réalité. Le dessin 14, qui illustre les
cinq principales phases de la mise à l’eau d’une senne tournante, à partir d’une barque et
avec l’appui d’une annexe, est de l’ordre de l’instantané racontant un moment précis
qu’une photographie aérienne capterait sous un angle identique.
45 Il n’en est pas de même pour la figure 15 qui décrit la technique de navigation de la
barque xávega, au départ du port et puis du rivage à des fins comparatives, suivie de la
mise à l’eau d’une senne de plage et de son relevage. Or seul le dessin permet de suggérer
la présence du filet, de la position de sa poche (a) et de ses cordes (b) tous immergés,
invisibles à l’œil nu, et donc sur un cliché photographique.
Fig. 15 – a) Mise à l’eau de la senne de plage xávega au départ du port (1re phase) et de la plage (2e
phase) et b) Halage de la senne de plage et déplacement des hommes. (Dessins de l’auteur).
46 Si l’on prend également pour exemple le lancement d’un filet épervier, il est important de
fixer la méthode de positionnement des bras, la torsion du buste, l’emplacement des pieds
aux divers moments. Ces postures sont essentielles pour la réussite de l’action technique
et bien plus contraignantes que celles adoptées pour relever une palangre à partir d’un
treuil manuel ou électrique. Dans ce cas précis, la coopération dessin-photographie est
essentielle. Le dessin du filet (Fig. 16-a) offre les détails sur sa construction, invisibles
dans le mouvement que les photographies développent (b et c). Ainsi, différents plans
peuvent être représentés – de côté, séquences par séquences –, pour toute la chaîne
opératoire technique.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
72
Fig. 16 – Épervier (a). Rotation du tronc, appui sur la jambe droite (b). Libération de la corde de jet (c).
(Dessin et photos de l’auteur.)
47 La photographie permet aussi de représenter l’effort physique, la puissance des muscles,
que seul un professionnel du dessin pourrait reproduire. La figure 17 saisit l’effort, le
mouvement par la poussée exprimée par les corps sous le poids de l’embarcation qu’il
faut extraire des eaux.
Fig. 17 - La force et le mouvement (Photo de l’auteur).
48 Les illustrations sont les traits marquants des travaux et monographies ethnologiques.
Même si le dessin a pu précéder la photographie dans l’histoire des sciences, il faut
souligner que nombre d’entre eux sont souvent réalisés d’après des photographies. Ce fait
renforce l’idée qu’il n’existe pas qu’une seule technique de reproduction mais plusieurs,
chacune offrant une possibilité d’analyse et de représentation complémentaire du réel.
49 Il semble logique que les pionniers de la photographie ethnographique l’aient été
également dans l’utilisation du cinéma car le film ethnographique permet “de
photographier la vie” (Mauss op. cit.: 149) comme l’ont fait les frères Lumière, dès 1895, en
filmant La sortie de l'usine Lumière à Lyon.
50 C’est également en France que l’ethnologue cinéaste Jean Rouch offre sa plus importante
contribution à l’essor du cinéma ethnographique. Prônant la proximité physique entre les
personnes filmées et le cinéaste, il encourage l’apprentissage par les anthropologues-
cinéastes d’une technique du corps adaptée au tournage caméra à la main et Le Breton,
sociologue de la gestuelle du corps, fera dans ce contexte le lien entre le dessin et la
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
73
photographie : “La méthodologie est riche, elle implique simultanément l’observation
directe des acteurs, le recours à de nombreux croquis saisis sur le vif, une analyse
détaillée de nombre de gestes, de leur fréquence, etc.” (2006: 53). Il confirme ainsi que les
illustrations, graphiques ou plastiques, fixes ou en mouvement, sont des méthodes
complémentaires, incontournables en sciences humaines, car elles servent l’étude et
l’analyse des faits, aident à l’inventorisation et à la conservation de biens culturels
meubles.
Réflexion finale
51 L’originalité d’une anthropologie dite visuelle est d’aller à l’encontre du paradigme
anthropologique traditionnel : “La place de l’image mouvante dans une discipline de
mots”, selon l’expression de Mead (cité par Colleyn 1999: 4) se doit d’être justifiée en
avançant que le langage verbal d’une culture est mal adapté pour décrire une autre
culture. La méthode visuelle élargit un vocabulaire verbal considéré comme
insuffisamment précis pour décrire les émotions, les gestes, les postures, les interactions,
comme par exemple une danse. Les images peuvent montrer toute la poésie des
mouvements des corps, l’harmonie des couleurs, l’originalité des vêtements ; en allant
plus loin, le film apportera des informations sur les changements de rythmes et la
musique qui les accompagne. L’image est un autre regard qui traduit, hors des mots,
l’importance que l’ethnologue porte à l’objet animé ou inanimé qu’il représente ou saisit.
Le contexte le lie au sujet et le résultat dépend étroitement du regard et de la technique
du chercheur (compréhension du rituel et choix des mises en perspective, des cadrages,
des objectifs). L’imagerie pallie donc les obstacles rencontrés dans la forme descriptive,
textuelle.
52 L’ethnologue, dessinateur-photographe-cinéaste, est un capteur d’instants et d’histoires
dont le regard est confronté à la complexité de la représentation de l’Autre.
Représentation picturale, mentale, sociale ou de l’intime, et qui a pour objet de proposer
une lecture et contre-lecture du regard posé sur l’objet mis en lumière. L’image n’est pas
une preuve. Elle est une hypothèse. C’est une forme de description, de donnée
d’observation qui suggère et provoque d’autres images, d’autres hypothèses, d’autres
interprétations et bien d’autres représentations encore. Walter Benjamin l’a définie
comme une “dialectique à l'arrêt”. Elle est un lieu où “[…] l'Autrefois rencontre le
Maintenant […]” (1993: 478). Elle suspend le temps et permet une relance discursive, une
lecture renouvelée. Le dessin est donc loin d'avoir dit son dernier mot en anthropologie.
BIBLIOGRAPHIE
Anati, Emmanuel. 2000. L’Art rupestre dans le monde. L’imaginaire de la Préhistoire. Paris: Larousse.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
74
Baldaque da Silva, António Artur. (1891). Estado actual das pescas em Portugal compreendendo a pesca
marítima, fluvial e lacustre em todo o continente do Reino, referido ao ano 1886. Lisboa, Impressa
nacional.
Balfet, Hélène. 1975. “ Technologie ” Pp.44-79 in R. Cresswell (ed.), Éléments d’ethnologie (2). Paris:
Armand Colin.
_____.1991. Observer l’action technique. Des chaînes opératoires, pour quoi faire ? Paris: CNRS.
Bateson, Gregory, Mead, Margaret. 1942. Balinese Character: A Photographie Analysis. New York:
Academy of Sciences.
Bastide, Roger. 1968. "La Mythologie" in Ethnologie générale. Paris: La Pléiade.
Benjamin, Walter. 1993. Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages. Paris: Cerf.
Breton, Yvan 1981. “L’anthropologie sociale et les sociétés de pêcheurs. Réflexions sur la
naissance d’un sous-champ disciplinaire”, Anthropologie et Sociétés, 5(1): 7-27. Québec : Université
Laval.
Careri, Giovanni, Severi, Carlo and Denis Vidal. 2010. “Traditions iconographiques et mémoire
sociale”, Annuaire de l’EHESS: 415-416.
Çelik, Filiz Dadaser, Ozesmi, Uygar & Akdogan, Asuman. 2005. Participatory ecosystem management
planning at tuzla lake (turkey) using fuzzy cognitive mapping. http://arxiv.org/pdf/q-bio/0510015.pdf
Collet, Serge. 1993. Uomini e Pesce: la Caccia al Pesce Spada tra Scilla e Cariddi. Milano: Giuseppe
Maimone.
Colleyn, Jean Paul. 1999. “L'anthropologie visuelle comme pratique discursive”, Réseaux, 17(94) :
19-47. Hhttp://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RES_P1999_17N94_0047.
Cresswell, Robert. 1972. “Les trois sources d’une technologie nouvelle”, in J. M. C. Thomas et
L. Bernot (eds), Langues et techniques, nature et société, t. 2:21-27. Paris: Klincksieck.
Diegues, Antônio Carlos. 1995. Povos e Mares: leitura em sócio-antropologia marítima. São Paulo:
NUPAUB-USP.
Escallier, Christine. 1995. L’Empreinte de la mer. Identité des pêcheurs de Nazaré-Portugal, thèse de
doctorat en ethnologie, Paris-Nanterre.
Geistdoerfer, Aliette. 1973. “Leroi-Gourhan : méthode d’analyse des techniques”, La Pensée 171:
60-74.
_____. 1987. Pêcheurs acadiens/Pêcheurs madelinots. Ethnologie d’une communauté de pêcheurs. Paris:
CNRS-PUL.
_____. 2007. “L’anthropologie maritime: un domaine en évolution: hors cadre traditionnel de
l’anthropologie sociale”, Zainak, 29: 23-38. http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/
zainak/29/29023038.pdf
Gille, Bertrand. 1978. Histoire des techniques : Technique et civilisations, technique et sciences (dir).
Paris: Gallimard.
Hall, Edward T. 1986. “Visual Anthropology: Photography as a Research Method” in John Collier.
Revised & enlarged Edition
Handelman, Don. 1990. Models and Mirrors. Towards an Anthropology of Public Events. New York-
Oxford: Berghan Books.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
75
Haudricourt, André-Georges. 1987. La technologie science humaine. Recherches d'histoire et
d'ethnologie des techniques. Paris: MSH.
Jolly, Éric. 2011. “Écriture imagée et dessins parlants. Les pratiques graphiques de Marcel
Griaule” in L’Homme, 4(200). Paris: EHESS.
Julien, Marie-Pierre, Rosselin, Céline. 2005. La culture matérielle. Coll. Repères. Paris ; La
Découverte.
Le Breton, Daniel. 2006. La saveur du monde. Une anthropologie des sens. Paris: Métailié.
Lemonnier, Pierre. 1976. “La description des chaînes opératoires : contribution à l’analyse des
systèmes techniques”, Techniques et culture (1):100-151.
Lopes, Ana Maria Simões da Silva. 1975. O vocabulário marítimo português e o problema dos
mediterrâneos, Sep. da Revista Portuguesa de Filologia, vol. 16-17. Coimbra: Universidade de
Coimbra / Instituto de Estudos Românicos.
Leroi-Gourhan, André. 1964. Le Geste et la parole. 1. Techniques et langage. Paris: Albin Michel.
Mauss, Marcel. 1967. Manuel d’ethnographie. Paris: Payot.
Oliveira, Ernesto Veiga, Galhano, Fernando & Pereira, Benjamim. 1975. Actividades agro-marítimas
em Portugal. Instituto de Alta Cultura. Lisboa: Centro de Estudos de Etnologia.
Peltre, Christine. 2005. “Les "géographies" de l'art : physionomies, races et mythes dans la
peinture "ethnographique"”. Romantisme 35(130): 67-79.
Penone, Giuseppe. 2011. Le regard tactile. Entretiens avec Françoise Jaunin. Lausanne: La Bibliothèque
des Arts.
Saussure, Ferdinand de. 1971[1916]. Cours de linguistique générale. Paris: Payot.
Stork, Hélène. 1986. “Psychologie culturelle et ses méthodes : l’apport de l’audiovisuelle” Pp.
53-62 in Socialisation et culture, Interculturels. PUM.
Valerio, Théodore. 1858. “Essais ethnographiques sur les populations hongroises”, L’Artiste, vol. 3,
Paris : [s.n.]: 214-220. Hhttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2208358/f225.item.r=.zoom.
NOTES
1. De l’origine de l’écriture, conférence présentée par Emmanuel Anati, Musée de l’Homme, Hors les
murs, le 15 janvier 2015.
2. Marco Polo décrit dans Livre des Merveilles (1295) les richesses de l'Orient, Christophe Colomb
dans Journal de bord (1492-93) les habitants, la géographie des lieux, leurs richesses naturelles
ainsi que des mythes (sirènes, démons, paradis terrestre) et Vasco de Gama la découverte des
Indes dans O Descobrimento da Índia (1497).
3. Le florentin Verrazzano, missionné par François I e pour explorer la côte est de l’Amérique,
relate le 17 avril 1524, la découverte du port qui deviendra New York, in Manuscrit Cèllere, Del
Viaggio del Verazzano... fatto nel 1524 all' America settentrionale.
4. Le fait technique est un fait social qui étudie la manière dont la technologie est utilisée par une
société. Il faut donc situer le fait dans son milieu, un « milieu technique » c’est-à-dire humanisé
qui se caractérise par la production d’objets et de machines.
5. L'Homme et la matière (1943) compte 577 dessins ; Milieu et techniques (1945) 622 et des centaines
dans Le Geste et la parole I-Technique et langage (1964) et II-La mémoire et les rythmes (1965).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
76
6. De cette influence est née une école française dont on peut citer les nombreux chercheurs qui
y ont poursuivi son œuvre, tels Robert Cresswell, Hélène Balfet, Christian Pelras, Pierre
Lemonnier, Christian Bromberger, Aliette Geistdoerfer, Bruno Martinelli, en autres. L'analyse
présentée ici s'inscrit dans la continuité de ces travaux.
7. The Kwakiutl of Vancouver, 1909.
8. Le littoral, la côte, la mer et l’océan étaient simplement des extensions du continent et les
populations qui vivaient dans ces écosystèmes étaient associées à des “paysans” et des salariées
maritimes (dans le cas de navigation côtière et hauturière) pour lesquels les villes littorales et les
zones côtières représentaient des espaces de logement. (Trad. de l’auteur)
9. Le rôle d’équipage est un registre sur lequel figure la liste des membres de l'équipage, la
fonction de chacun, ainsi que l’identité du bateau (immatriculation, nom, etc.).
10. Les œuvres vives sont les parties immergées de la coque; les œuvres mortes les parties
visibles.
11. Dispositif constitué d’une ligne le long de laquelle sont attachés des fils munis d’hameçons.
12. Large filet muni d’une poche permettant la capture de banc de poissons dont le relevage se
fait à bord d’une embarcation ou depuis une plage.
13. Piège constitué de filets verticaux, placé sur le chemin des bancs de poissons.
14. L’éloignement des bancs de sardines des zones côtières, la mécanisation à outrance et
l’utilisation du sonar vont rendre obsolètes les techniques traditionnelles, obligeant les pêcheurs
à abandonner leurs filets improductifs.
15. Un port artificiel a été construit à Nazaré en 1987, à l’entrée du Portugal dans la CEE.
16. En 1948, Tolman utilise le premier ce terme pour décrire comment le rat, et par analogie
l'humain, se comporte dans un environnement.
RÉSUMÉS
L’image – fixe, en mouvement ou virtuelle – est devenue un moyen de communication et de
représentation qui s’impose dans tous les domaines, aussi bien scientifiques qu’artistiques. Sa
permanente évolution technique pourrait paraître frapper d’obsolescence des formes
traditionnellement mobilisées par l’ethnographie, comme le dessin. L’image graphique reste
pourtant un outil fondamental pour les ethnologues-anthropologues. Cet article s’interroge sur
la place et la force du dessin ethnographique dans le rendu des données issues de l’enquête de
terrain et qui s’impose au cours de la recherche. Peut-il supplanter le discours, dépasser les mots,
ou collaborer avec d’autres formes représentatives dont le but initial est de rendre l'objet
présent ? Et qu’en est-il du dessin fait par l’informateur lui-même, à la demande de l’observateur,
et de son interprétation ? C’est dans le cadre d’une anthropologie des techniques et maritime que
l’auteur situe cette problématique particulière en s’appuyant sur une méthode utilisée sur son
terrain – la communauté de pêcheur de Nazaré, au Portugal – où l´étude graphique domine. Cette
expérience permet de mettre en évidence le rôle et les apports spécifiques de ces techniques de
description et d'analyse, démontrant ainsi que l’image plastique – autrement dit la photographie
et le film – ne peut être exclue des pratiques de mémorisation de l’objet dans l’histoire des
sciences humaines.
Images – still, moving or virtual – have become a means of communication and representation
that can be applied, at the same time, in science and arts. The development of techniques of
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
77
image production seem to make obsolete some traditional forms mobilized by ethnography, like
drawing. The graphic image remains, however, a fundamental tool for ethnologists-
anthropologists. This paper discusses the role and potential of ethnographic drawings as a tool
for the collection and analysis of field research data. May ethnographic drawings evoke
discourses, exceed the words, or collaborate with other types of representations which seek to
give visibility to the objects of research? And what about the drawing made by the informant
him/herself? The author discusses these question in view of an ethnographic study of fishing
techniques of a fishing community from Nazaré, Portugal. It is suggested that the images should
not be excluded from the object-memories within the history of the human sciences.
INDEX
Mots-clés : dessin ethnographique, objet technique, terrain, anthropologie maritime
Keywords : ethnographic drawing, material culture, fieldwork methods, maritime anthropology
AUTEUR
CHRISTINE ESCALLIER
UMa/CRIA, Funchal/Lisbonne, Portugal
Ethnologue, Universidade da Madeira; Chercheur, Centro em Rede de Investigação em
Antropologia.
chrisesc@uma.pt
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
78
“Deixei o desenho enterrado” ou como
ressuscitar o grafismo enquanto
metodologia antropológica: um caso
prático
“I left the drawing buried” or how to foster the use of drawings as an
anthropological methodology: a practical case
Inês Belo Gomes
EDITOR'S NOTE
Recebido em: 2016-01-31
Aceitado em: 2016-05-18
Introdução1
1 Desenganem-se aqueles que creem que a articulação do pulso perfaz o movimento do
desenho. Não é verdade, aprendi-o há cerca de dez anos. O desenho faz-se da dança, do
corpo que se move em busca da linha, do ombro que se faz à amplitude, do cotovelo que
movimenta o antebraço, o pulso, a mão, os dedos que se firmam com suavidade no lápis.
“Não segurem o lápis com força, os dedos não são garras, deixem-nos fluir com o
movimento” – lembro-me desse primeiro dia passado a desenhar à janela daquela sala
onde ao fundo se avistava o Tejo. Aquela era uma sala na penumbra – perfeita para a
sombra e o contraste de luzes esbatidas – exalando à decomposição dos legumes que nos
serviam de modelo, à tinta-da-china apodrecida que teimávamos em continuar a utilizar
em aparos de bambu ou metálicos, em pincéis chineses de caligrafia.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
79
2 “Não afiem, cortem a madeira com uma navalha, angulem o lápis” – golpeei os dedos uma
imensidão de vezes, mas só o corte anguloso me certifica as linhas e as manchas que
ambiciono. Curiosamente, ainda o faço, retalho a madeira como quando mo ensinaram,
incorporei, tornou-se uma espécie de performance privada que antevê a prática do
desenho. “Iniciem o desenho pelo geral, só depois procurem o particular” – estreitem,
afunilem, agucem, passem do macro para o micro, analisem, observem, se necessário
voltem atrás, pensem o desenho através de escalas – não é também assim em
Antropologia (Dewalt e Pelto 1985; Bernard 2006)?
This media file cannot be displayed. Please refer to the online document http://
3 cadernosaa.revues.org/1122
4 “Eu prefiro desenhar a falar. Desenhar é mais rápido e deixa menos espaço para
mentiras”, diz-se que afirmou um dia Le Corbusier. Não tendo a ousadia nem a sapiência
dos anos para me colocar a níveis altaneiros de mestria, parto apenas da minha (ainda
curta) experiência e humildemente direi que não concordo com a declaração do afamado
arquiteto francês. O desenho “composto” demora, necessita de esboço sobre esboço, de
estudo sobre estudo, encimado pela observação que desconstrói paisagens em perspetivas
e linhas e manchas. Também não sei se o desenho não mente de todo, ou se apenas omite
ou se é espelho fiel do real – tudo isso passa por quem sustém o lápis. Recordo-me da
técnica radiográfica que utilizaram com A Madonna dos Rochedos pertencente à coleção da
National Gallery em Londres2: vão ver que, por trás do que conseguimos percecionar a olho
nu, esta não passa de camada sobre camada de esboços e omissões constantes, de um
desenho inicial completamente diferente que se transfigura na Virgem enlaçando o
Menino, ladeada por uma figura angelical e São João Baptista ajoelhado.
5 O meu desenho omite. Ou melhor, o desenho tem sempre uma carga de abstracionismo
que pode ser confundido com a mentira ou o ato de omissão. Mais do que isso, talvez
possamos considerar que o desenho é sempre interpretativo: acho que é isso. Há quem
desenhe comprometido com o hiper-realismo, quem pinte e esculpa também nessa senda
pela fidelidade ao real; há quem faças juras ao surrealismo, ao realismo, cubismo, mais
estilos acabados em ismo, mas tudo passa inexoravelmente pela forma de interpretar. Não
há como fugir da interpretação na arte – posso aqui apropriar-me de Clifford Geertz (1977
[1973]), perpassar as suas “teias de significados” para o desenho? Será que o desenho, tal
como a antropologia geertziana, não se constituirá somente como uma formalização
interpretativa do objeto em busca de significado?
6 Digamos que para falar do que me trouxe aqui, talvez tenha de me reportar ao passado e à
minha relação com o desenho. Primeiro, admito imediatamente que deixei de desenhar
há cerca de três anos – o que coincide, mais ou menos, com a data em que comecei a
estudar antropologia. Não que uma coisa esteja sintomaticamente associada à outra, mas
já lá chegaremos. Antes de ter abandonado o desenho – ou qualquer prática artística,
sejamos desde já honestos – este sempre me tinha acompanhado. Guardados
religiosamente pelos meus pais, os meus desenhos infantis e totalmente livres de
constrangimentos preenchem agora um número elevado de pastas A43 plastificadas.
Depois, o meu desenho seria formatado na escola dentro de linhas e esquadrias, “não
passem o desenho para fora dos limites!”, em matizes de cores condizentes e bastante
cor-de-rosa que era menina e era assim que tinha de ser. Durante algum tempo foi assim,
pulso “preso” na mesa de desenho, mão direita agarrando o lápis e o marcador moLin com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
80
vigor contra a folha (que não excederia jamais o A3, mais que isso seria um perfeito
exagero).
7 Seria numa escola artística, durante o ensino secundário, que descobriria o prazer de
desenhar acima do A3, com gradações de grafites subindo a escala dos B’s 4, folhas de
gramagem a mais de 100g5. Ensinaram-me a levantar o cotovelo da folha e a rodá-lo em
busca do movimento, a desenhar sombras renegando o esfuminho, a nunca utilizar
borracha – “admitam os vossos erros”. Aqui encontrei o meu traço, apliquei o desenho em
cerâmica e ourivesaria (se bem que para esta última prática me faltasse a vontade). É um
cliché, mas não importa: foi aqui que me “encontrei” dentro do desenho, tendo sido
também aqui que fui definindo um estilo próprio o qual, acima de tudo, me comprazia.
Quis ser artista, “uma artista a sério”, e fui para Belas-Artes achando que o caminho
seguiria naturalmente por ali. Estudei escultura: o desenho é omnipresente na prática
escultórica, mas desiludi-me. A rigidez de um ensino de desenho académico, em
contraposto ao foco conceptual inerente às outras disciplinas artísticas, crivou-me de
uma ambiguidade que se traduziu na forma como passei a desenhar:
desinteressadamente, desapaixonadamente. Senti que me cortavam a liberdade,
fundamentalmente aquilo que mais havia prezado na prática artística e sobretudo no
desenho. Fui esmorecendo. Desisti.
8 Quando iniciei a minha formação em antropologia essa última experiência estava ainda
muito presente. Deitei praticamente tudo fora, reneguei que algum dia tivesse desenhado,
esculpido, pintado, porque me dava prazer, quis esquecer-me de que um dia ambicionara
vir a entrar nos círculos artísticos. Todavia, pendurei o meu último desenho na parede do
meu quarto: uma figura antropozoomórfica, lúgubre e a preto e branco, em género de
memória dolorosa do adeus. Tinha-se acabado. Porém, iria para antropologia avisada por
uma professora de escultura, “o processo artístico tem tudo a ver com o processo
etnográfico”, mas não acreditei que essa relação fosse simétrica. Na realidade a afirmação
pareceu-me, na altura, perfeitamente irreal. Em antropologia, supunha, a arte estava de
fora – metodologicamente, enquanto objeto, na minha conceção muito inicial do que se
trataria a antropologia não existia qualquer espaço para a vertente artística. Estava
“descansada”, nunca iria ter de me confrontar outra vez com algo que tinha
“ultrapassado”. Até que “tropecei” na arte dentro da antropologia.
9 Diga-se que, potencialmente, me terá calhado a “pior” etnografia para quem estava num
processo de afastamento da prática artística. Ironicamente, os Tristes Trópicos (2011)
vieram parar-me às mãos logo no primeiro ano em antropologia, todo ele fotografias
belíssimas e alguns desenhos autorais em junção com uma escrita profundamente
etnopoética. Depois Fernando Galhano (1985a; 1985b), os seus desenhos de espigueiros,
uma predileção minha por estes. Porém, comparativamente, fui-me apercebendo de que a
prática do audiovisual em antropologia – em especial o vídeo, o filme e a fotografia –
assumir-se-ia muito mais premente no trabalho etnográfico do que o desenho (Bateson e
Mead 1942; Costa 2012; Antunes 2014). Aliás, a captação de imagem nestes moldes tornou-
se tão popularizada no seio da etnografia que foi provocando um desapego exponencial,
mas gradual, da antropologia face ao segundo (Afonso 2004; Gama e Kuschnir 2014; Ramos
2015). Tal como questionado por Michael Oppitz:
será o desenho etnográfico uma metodologia fora de moda? Se sim, o que é que
constitui uma forma adequada na contemporaneidade para documentar? Esta
questão mordaz nunca (no meu conhecimento) foi colocada diretamente, mas tem
sido silenciosamente respondida uma e outra vez no decorrer do último século –
pela prática de publicação. (Oppitz 2011:118)6
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
81
10 Numa mesma continuidade:
a relação entre desenho e etnografia é [...] uma relação praticamente morta [...].
Com o desenvolvimento das tecnologias fotográficas e de impressão, e com os
etnógrafos tornados em fotógrafos amadores, o desenho foi progressivamente
deixado nas mãos dos “nativos”. (Ramos 2015:s.p.)
11 É verdade que a fotografia e a imagem gravada possuem um “natural encanto realista”
que não está tão determinantemente presente no desenho (Nieto Olivar 2007). Porém é
também verdade que “[...] [alguns] desenhos [...] fazem tudo aquilo que a fotografia não
faz. Eles são íntimos, eles são sketchy, eles são sugestivos, e eles são metafísicos” (Taussig
2011:15). E é por essa mesma razão que, nalguns contextos de investigação, o desenho se
mostra muito mais funcional exatamente por deter, em si mesmo, um certo grau de
“poética” na sua interpretação do real, a qual não se entretece necessariamente a um
género híper realista na senda de Chuck Close7. Tal é intensamente premente no caso
específico de José Nieto Olivar, em “Dibujando Putas” (2007): num contexto de
prostituição onde a imagem fotográfica ou em vídeo está correlacionada diretamente com
instâncias altaneiras e à “expropriação” da imagem individual, o desenho surge a partir
de uma negociação agencial da representação entre investigados e investigador. O
contexto que eu principiei a trabalhar graficamente seria completamente diferente
daquele supramencionado, mas não tão diferente que achasse que a máquina fotográfica
ou de filmar fosse bem-vinda no imediato. Para isso, na minha perceção, seria necessário
um grau de confiança interpessoal que não estava certa de conseguir alcançar tão
celeremente e no intervalo curricular que me havia sido proposto. Há relativamente
pouco tempo havia tido uma pequena experiência com o filme etnográfico, e apesar desta
ter sido bastante enriquecedora, tinha-me deixado algo receosa de utilizar novamente o
método num futuro demasiado próximo. Preferi buscar o “conforto” metodológico a algo
que conhecia intimamente, e assim “desenterrei” o desenho do local onde o havia
deixado. O desenho pareceu-me a via correta – e efetivamente assim o foi, mas só após
ter-me deparado e confrontado com alguns imprevistos iniciais.
12 Para Karina Kushnir, “[...]antropologia e desenho são modos de ver e também modos de
conhecer o mundo. Colocar esses dois universos em diálogo permite [...] um
enriquecimento mútuo [...].”(2014:28). De fato, basta folhear os Argonauts of the Western
Pacific (1983 [1922]) para nos depararmos com os desenhos esquemáticos de Bronislaw
Malinowski, entremeados pelas suas composições fotográficas, os seus informantes
enquanto personagens principais da sua escrita e da componente pictórica. Buscando
novamente o exemplo de Tristes Trópicos (2011), Lévi-Strauss num papel entre etnógrafo e
viajante, numa escrita que clama pela poética do pôr-do-sol e pela prosa descritiva dos
Bororo, os desenhos de tatuagens e da cultura material em junção com fotografias da
Amazónia, das aldeias e dos indivíduos. São exemplos paradigmáticos de como o desenho
apoia a escrita, e vice-versa, de como a imagem pode ser proveitosa no exacerbar visual
da etnografia.
13 Tal é também perentório no caso de Ana Isabel Afonso (2004), esta solicitando a Manuel
João Ramos que lhe desenhe a sua pesquisa etnográfica. Este é um evento mnemónico, de
“catalisação de memórias” (Kuschnir 2014: 42), onde o desenho resgata do passado; mais,
é também processual, a autora entrando num procedimento de vaivém constante com os
seus informantes, que lhe corroboram os desenhos ou que exprimem opiniões sobre
pormenores faltosos, erróneos, certeiros ou necessários ao grafismo. Grete Lillehammer
(2009), arqueóloga de formação tornada antropóloga, trabalha também nesta dimensão
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
82
com os seus informantes, através de um passado construído paisagisticamente e
etnograficamente na sua formalização gráfica. Em ambos os casos, tal não seria passível
de ser feito sem o contributo da arte – e, em particular, do desenho. Nas palavras de Giulia
Panfili:
[...] [a] antropologia e [a] arte [...] partilh[a]m a mesma sensibilidade para com o
mundo [...]. Movem-se cada uma na sua própria direcção, mas porque ambas
procuram descrever e compreender o mundo, aliás num acto de criação, podem-se
encontrar e complementar uma à outra. Os seus objectivos cruzam-se no contar,
dar a ver, transmitir experiências e sensações, delinear retratos. (Panfili 2012:1)
14 Ao mesmo tempo que “[...] os artistas visuais têm vindo a reforçar o diálogo com a
antropologia e com os seus métodos [...]” (Almeida 2013: 73), os próprios cientistas sociais
têm também abraçado pontualmente o contributo das artes nas suas pesquisas de
terreno, formalizando-se enquanto “researchers as artists”:
“o ‘researcher as artist’ está aberto a experiências e ensinamentos concernentes às
práticas artísticas que fornecem novas e críticas abordagens experimentais [...] ao
processo de recolha de dados. Assim, ao utilizarem-se técnicas e métodos de
pesquisa estabelecidos, o “researcher as artist” poderá também utilizar relatos
pessoais intensamente autoetnográficos, poesia, “storytelling”, e modos de
expressão artística não-verbais como a “collage”, dança e desenho.” (Given
2008:765)
15 Imbuída daquilo a que Sónia Vespeira de Almeida apelida de “sensibilidade
antropológica” – “[...]express[ão] que procura justamente expressar a sedução de um
conjunto de agentes – oriundos de áreas e contextos diferenciados – pela antropologia”
(2013:79) – tentei a abordagem ao contexto do mercado municipal da cidade onde nasci, o
1º de Maio, a partir da premissa do desenho etnográfico; pressupondo também a reflexão
em torno do grafismo enquanto metodologia de recolha de dados.
16 Tratando-se de um exercício exploratório e preliminar, em género de prototipagem para
potencial utilização futura e assente no uso de uma metodologia antropológica específica,
eu pretendia “afastar-me” de um uso meramente estético ou contemplativo do desenho
pelo desenho. Ao invés, focar-me-ia na importância da observação no terreno e da recolha
de imagens que me fossem auxiliares em termos de rememoração e passagem para a
escrita. Concordando e tomando minhas as palavras de Christopher Grubbs, também
apropriadas por Michael Taussig (2011, 22) “[...] ao registar cuidadosamente as coisas
defronte de mim eu relembro-me delas mais claramente. Eu torno-me mais
profundamente conetado com as coisas que desenho”. Comigo, os desenhos sempre
tiveram essa carga de memória específica do momento, do envolvente da sua feitura, e o
desenho etnográfico, aperceber-me-ia melhor depois, mostrar-se-ia muito útil num
processo de pós-imersão e pós-reflexão sobre o contexto do mercado com objetivo no
momento de redação: “[...] desenhar é como conversar com aquilo desenhado, envolvendo
[...] uma imersão total e prolongada. [...] Uma linha desenhada é importante [...] por
aquilo que leva a ver” (Taussig 2011, 12).
17 Retrospetivamente, estava também interessada num desenho mais aproximado aqueles
produzidos pelos urban sketchers8 ou pelo desenhador do quotidiano9. Apesar da questão
estética do grafismo continuar em ambos relevante, a tónica não se focaliza somente na
harmonia de formas e na beleza formal do produto final, vinculando-se grandemente no
ato da observação, pertinente em termos de exploração metodológica dentro do campo
antropológico. Como presente no manifesto dos urban sketchers10, o grande objetivo
formal do projeto é o de “mostrar o mundo um desenho de cada vez” e de “[...] capturar o
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
83
que se vê a partir da observação direta”: o que, concetualmente, me evidencia mais as
similaridades entre sketchers e antropólogos do que acentua propriamente as suas
diferenças. Se bem que os objetivos gerais entre uns e outros se assemelhem em larga
escala, a utilização e propósito do desenho acaba por divergir. O urban sketcher observa,
desenha e partilha imediatamente online o que vê com o resto do mundo; o antropólogo
observa, desenha, rabisca nos cadernos de campo, utiliza o grafismo como ponto de
rememoração, interpreta e escreve, humaniza-se face aos outros através das fragilidades
naturais que o desenho provoca, por vezes partilha – mas nem sempre. Dentro de um
universo de antropólogos e desenhadores, ou da junção dos dois, este é o meu percurso –
não sem erros e enganos pelo caminho, nem com a desonestidade do não reconhecimento
dos mesmos.
Mercado
18 Entrei pela primeira vez no 1º de Maio quando criança. Vinha da escola com a minha mãe,
entrámos naquele espaço por pórticos agigantados em formato de fechadura.
Assomaram-se-me imediatamente os odores pungentes dos peixes, olhos leitosos e
guelras avermelhadas, expostos nas bancadas de pedra, a água do seu degelo a pingar-me
os pés. Legumes e fruta, coelhos esfolados nas vitrinas envidraçadas, a ocasional tasca
recheada de garrafas de vidro. Lembro-me sempre dos sons e dos cheiros, das texturas, a
luz do fim de tarde a exacerbar as cores das mercadorias. Não havia, como ainda não há,
qualquer possibilidade de fugir dos estímulos e da omnipresente sinestesia a que somos
sujeitos constantemente neste tipo de espaços (Black 2012).
19 Há um par de anos, num impulso de reabilitação do centro histórico, o mercado seria
recuperado, diga-se “devolvido à cidade”11 – foi nessa altura que retornei ao local. Lá fora,
onde antes uma emblemática figura estatuária encimava uma fonte de repuxos, existe
hoje uma praça calcetada – a estátua ainda presente, marcando o compasso do tempo e os
encontros de amigos. No verão, as esplanadas são montadas paralelamente, em
concorrência direta umas com as outras, cadeiras metálicas ardentes ao sol, os cafés às
quais pertencem como artérias exteriores ao espaço interno do mercado. Os pórticos em
formato de fechadura permanecem também – para mim, o traço arquitetónico mais
marcante das fachadas.
20 É certo que, na altura, aquando da minha primeira visita pós-reabilitação, as minhas
preocupações estavam longe daquelas que permeiam a antropologia. Quedei-me a olhar
para os tetos agora forrados com toros de madeira escura, para o chão antiderrapante e
para as vitrinas aprovadas pelas altas instâncias regulamentadoras. Comprei das bancas,
num ato saudosista que não me pertence originalmente, habituada que estou ao consumo
de grande superfície – praticamente substituinte deste género de comércio (Craveiro
2006; Quartilho 2011). De uma banca para a outra mantêm-se conversas; há ainda uma
ambiência quase familiar entre comerciantes, esta estendendo-se até à relação com os
próprios consumidores (Gonçalves e Abdala 2014) – extravasa-se o espaço: “o mercado,
além do ato comercial que o sustenta, é a nítida expressão de uma cultura.” (Rossi
2001:74).
21 Em mim, o 1º de Maio encontra-se num limiar permanente entre o exotismo e a
familiaridade, talvez por isso tenha escolhido desenhá-lo, torná-lo o meu objeto de cisma.
Ele esteve sempre ali, uma figura como que encravada na cidade, quase à distância de um
olhar; por outro lado, excetuando esporádicas incursões ao seu interior, sempre se
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
84
constituiu como inexoravelmente distante da minha realidade pessoal. Desenhei-o, é
verdade, mas foram sempre surgindo questões ao longo do caminho – nomeadamente
acerca do meu posicionamento pessoal e da minha abordagem ao espaço e às próprias
pessoas. Assim sendo, voltarei um pouco atrás no tempo.
Preocupações
22 Sempre tive dificuldade em desenhar pessoas na rua ou em outros espaços públicos. Nas
aulas desenhei pessoas vestidas pelo estudo dos panejamentos nos corpos, nus em
posições de contorcionista, mulheres grávidas sem qualquer roupa a cobrir a barriga
protuberante, desenhei pessoas em diferentes idades, indivíduos de fisionomia diversa.
Porém, desenhar pessoas desconhecidas, em espaços públicos, sempre me provocou um
imenso mal-estar.
23 Pensem em alguém a desenhar as vossas feições numa viagem de metropolitano, uma
sensação de voyeurismo constante desde o Cais do Sodré a Telheiras 12; rabiscando num
diário gráfico, à vossa frente, um jovem aluno de uma qualquer escola artística. Fi-lo
várias vezes, sem autorização prévia desenhei quem se sentou defronte a mim: era um
exercício muito requerido em diário gráfico, cumpri-o tensa, sabendo que ao mesmo
tempo que observava fixamente o meu modelo incauto, este estaria provavelmente
constrangido pelo meu olhar e pelo lápis riscando o papel. Durante anos foi assim que
procedi. Todavia, quando tentei fazê-lo com o 1º de Maio, mostrei-me totalmente incapaz.
24 Não é que não o fosse fazer, colocar-me a um canto com a minha parafernália de blocos de
papel, lápis e canetas, desenhar simplesmente. Tinha toda a intenção, pareceu-me
“natural”, sempre o tinha feito assim, porquê mudar agora? Apesar de estar preparada
para desenhar o mercado, comerciantes e consumidores, o que estava inconscientemente
preparada para fazer consistia numa “expropriação” imagética dos mesmos, onde a
reciprocidade estaria aparentemente fora da ordem do dia. Mas não consegui.
25 Talvez a causa desta minha renitência esteja assente naquilo que me foi sendo inculcado
enquanto estudante de antropologia: na importância da ética e da confiança nas relações
humanas, na relevância do face-a-face, da mutualidade (Viegas e Mapril 2012) e da
reciprocidade – no próprio “gesto etnográfico” (Pina Cabral 2007). O ato de desenhar não
está isento; melhor, o meu ato de desenhar já não consegue isentar-se destas questões,
porque ao imiscuir-me na antropologia coloquei-me imediatamente numa posição de
questionamento sobre os meus próprios atos em relação ao “outro”.
26 Ao contrário do que cheguei a pensar, a antropologia não “me” subsumiu as artes
plásticas, mas amalgamaram-se uma na outra, metamorfosearam-se, mesclaram-se,
uniram-se: “[...] o “researcher as artist” baseia-se na reconciliação entre práticas
artísticas e pesquisa académica enquanto atividade crítica e criativa que utiliza modos de
expressão artística como ferramenta metodológica e como forma de representação (Given
2008:765). Arte e antropologia deram azo a novas e necessárias preocupações, às quais dei
obrigatoriamente voz quando com elas me confrontei no 1º de Maio.
Desenhar
27 Sentei-me do lado de fora, na praça calcetada. Era de manhã cedo e estava um nevoeiro
cerrado, os transeuntes caminhavam de sacos de compras equilibrados nas mãos. Fiquei
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
85
ali, a olhar em redor, a preparar-me. Comecei a desenhar a partir de fora; “rasguei” a
madeira do lápis, como sempre, mas a decisão final recaiu sobre a caneta. Estava
destreinada, a mão, a articulação do pulso, o cotovelo e o ombro, perros dos anos que
passei voluntariamente apartada de qualquer expressão artística. Talvez isto fosse uma
reconciliação comigo própria, uma tentativa de juntar o desenho que me havia
acompanhado apaixonadamente desde muito antes de saber escrever com a pesquisa
antropológica, esta uma afeição bastante mais recente.
28 De fora foi fácil. Fui mudando de perspetiva, procurando pormenores no traçado do
edifício, vendo as pessoas a passar, a olhar para as minhas folhas rabiscadas no chão. O
desenho tem disso, é chamativo de uma forma que a fotografia e o filme não o são numa
primeira instância, intermediados pela “frieza” do aparato tecnológico, das máquinas, dos
zooms, dos flashes, dos microfones que nos gravam as palavras. O desenho presta-se ao
olhar alheio, à espreitadela furtiva e à curiosidade. Comecei por fora, por uma escala
macro; encostei a mão às paredes amarelas e rugosas do exterior, depois nas colunas de
betão que sustentam o segundo andar do edifício. Um quiosque de tabaco no centro da
praça calcetada, lojas e boutiques inclusas no mercado, um posto de turismo e uma
pequena mercearia gourmet. Vou para dentro.
29 Caminho no interior do 1º de Maio. A maioria das bancas está vazia, as outras vendem
peixes variados de um odor enjoativo, flores, fruta, legumes, pelo menos uma outra
pertencente a um alfarrabista, talhos e cafés. Aqui surge o primeiro problema: onde me
coloco? Não me tinha encarado com isto lá fora, agora é bastante visível que não sei bem
qual é o meu posicionamento no espaço. Primeiro tento ignorar, “vou desenhar como
sempre o fiz”, depois torna-se incómodo. Não desenho uma linha, vejo perfeitamente um
dos vendedores de peixe a olhar para mim desconfiado. Os nossos olhos encontram-se
momentaneamente e percebo que, estando ali, a olhar parecendo atónita para ele, estou a
criar um ambiente constrangedor para ambos. Continuo sem desenhar nada. Mudo de
sítio, olhos seguindo-me – o observador torna-se o observado (Appadurai 1986; Tedlock
1991).
30 Acontece-me o mesmo. Desta vez é numa banca de fruta e legumes pertencente a uma
comerciante idosa. Ela olha para mim, eu tento pousar a caneta na folha ainda em branco
e não consigo. Não me sai nada, só estou a sentir-me extremamente desconfortável. Vou
falar-lhe, sempre é melhor que estar ali parada. Conversamos um pouco, sobre ela, sobre
mim, fico a saber que ali está há mais de quarenta anos, conto-lhe o propósito dos
desenhos e ela “acha piada” – aparentemente, o desenho é um fantástico “disparador de
conversas em campo” (Gama e Kuschnir 2014:3). Desenho-lhe a banca, a abóbora
alaranjada que me clama por um olhar quase lúbrico, a balança que utiliza para pesar os
produtos aos clientes. A clientela vai passando, olha de soslaio, a vendedora explica-lhes
que é para um trabalho académico enquanto vou rabiscando no papel. No fim, compro-lhe
maçãs, cenouras, azeitonas – é uma tentativa, talvez fraca admito, de reciprocidade. A
abóbora enorme e bojuda, com aquelas formas fantásticas, fica.
31 Mudo de banca. Desta vez é mais fácil, já me viram a desenhar ali perto. Explico na mesma
o meu propósito – “ok, podes continuar”. Desenho a carne nos escaparates, depois as
rosas da florista. No fim volto à zona do peixe: finalmente explico os meus intentos ao tal
vendedor que me havia olhado com suspeita – era o que devia ter feito em primeiro lugar,
não é o que faço sempre quando abordo alguém para uma entrevista? Ele sorri e deixa-me
prosseguir. Agradeço. São duas da tarde – o mercado encerra. Caminho para casa.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
86
Conclusão
Na ciência como na vida, só encontramos aquilo
que procuramos. Não teremos respostas se não
soubermos quais são as questões. (Evans-Pritchard
1991 [1937]: 240)13
32 Três meses após a minha última avaliação de escultura, a última antes de se “acabarem”
as artes e entrar no desconhecido – estava decidida, acabara-se. Era setembro e
iniciavam-se novamente as aulas. A sessão de apresentação aos novos alunos de
antropologia iria começar ao meio-dia. Cheguei cedo à faculdade, depois atrasei-me numa
correria pela procura da sala. Fiquei em pé, atrás dos meus novos colegas, a olhar para as
costas das pessoas que me iriam acompanhar nos próximos tempos. Senti um profundo
receio – “porque é que estou aqui?”. Na mochila, apenas um caderno e uma caneta bic de
tinta preta.
33 Era total novidade, os últimos anos tinham sido passados a transportar um macacão verde
fluorescente empoeirado e sujo de barro vermelho, uma máscara com filtro para o pó da
rebarbadora de pedra e para que as nuvens de gesso não se instalassem nos brônquios,
uma maceta de 3 kg, um ponteiro para o mármore. Por vezes, misturados com as
ferramentas, alguns manuais para as aulas de anatomia, Erwin Panofsky (2007) para
história; em estética, Susan Sontag (2012) e Walter Benjamin (2012), o “Sculpture in the
Expanded Field” de Rosalind Krauss (1979). No fundo da mochila, canetas japonesas da
marca sakura e grafites da alemã staedtler; um diário gráfico da inart, mas sempre
ambicionando os moleskines de folhas grossas finamente concebidos para o desenho e a
aguarela. Nesse setembro, deixei tudo em casa. Os materiais de desenho e os blocos de
folhas foram engavetados numa escrivaninha antiga de madeira escura, “longe da vista,
longe do coração”. Naquele momento estava a despedir-me do que conhecia e a “partir
para outra” – até um dia.
***
34 O que é que faz com que o desenho seja etnográfico? Talvez devesse ter sido essa a minha
pergunta de partida; porém, tornou-se uma questão de chegada. Na verdade, não parti
sequer com um questionamento, parti para desenhar como sempre tinha feito, o meu erro
residindo exatamente aí – no “como sempre”. O desenho não é inerentemente
etnográfico; nem é inerentemente analítico, arquitetónico, escultórico, etc. O desenho
faz-se, torna-se, constrói-se, a partir dos paradigmas, dos modos de ver o mundo do seu
autor. Se antes desenhara com as preocupações inerentes a um aluno de artes, hoje o meu
desenho embebe-se no meu comprometimento de ver, interpretar e entender o mundo a
partir da disciplina antropológica. Talvez seja este o caminho para que o desenho se torne
etnográfico. O problema foi aperceber-me disso, chegar até aqui.
35 Segundo Evans- Pritchard, “ninguém pode estudar algo sem uma teoria acerca da sua
natureza.” (1991: 242), pois só a partir da premissa teórica é que conseguiremos alcançar
eficazmente a empiria. A teoria é elemento fulcral para a entrada e permanência no
terreno, para que não caiamos nas malhas do nosso próprio senso-comum. Eu parti para o
terreno sem a teoria de como abordar o espaço e as pessoas a partir do desenho e da
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
87
antropologia; tudo o que sabia estava condicionado a um tempo prévio, e seguindo essa
experiência ulterior, tentei encaixá-la forçosamente no presente.
36 Eu tinha “crescido”, mas o desenho tinha-se cristalizado no momento em que nos
havíamos “despedido” – quando o recuperei continuou igual ao que sempre fora, eu
nunca lhe tinha dado qualquer oportunidade para se imiscuir no conhecimento
antropológico que fazia agora parte da minha vida. Posto isto, estive praticamente a ir
contra uma das maiores premissas da antropologia face às relações humanas, entre
investigadores e investigados, entre pessoas: a confiança, responsabilidade e
racionalidade que advém do encontro face a face pautado pela ética – “(…) por “ética”
quero dizer essa relação de co-responsabilidade baseada no reconhecimento de
identidade comum causada pela co-constituição das pessoas humanas” (Pina-Cabral
2007:208).
37 Talvez tenha achado que não seria necessário estabelecer algum tipo de relação formal
com o que, e, sobretudo, com quem pretendia desenhar. Mas o desenho, apesar de ser
metodologicamente e concetualmente díspar de uma entrevista ou de um inquérito, de
uma história de vida, apesar de ser desenvolvido pelo olhar e pela mão riscando papel na
procura pela forma, não está isento de reflexividade, da confiança, de tudo aquilo que
compõe as relações humanas – “o processo é de uma construção gradual de confiança.”
(O’Reilley 2009 cit. in Madden 2010: 16). O desenho é uma forma de inquirição, ao invés de
palavras, perguntas e respostas, utilizando o gesto, o movimento, a linha que tanto serve
para desenhar como para escrever (Ingold 2007) – em simultâneo perguntando e
respondendo a si próprio, na mesma medida em que vai despontando na folha.
38 Todavia, não medi a forma como o meu posicionamento inicial poderia transitar para o
meu trabalho, não medi o peso e consequências das minhas ações no terreno (Madden
2010). Ao não ter olhado para o desenho como uma metodologia etnográfica como “outra
qualquer”, ao tê-lo percecionado somente a partir de um posicionamento artístico –
“como sempre” – criei uma ambiência de suspeita que poderia ter minado pela raiz os
meus intentos para este exercício. Não foi premeditado, não foi pensado que viesse a ser
problemático – provavelmente não o pensei de todo, tendo tomado como certo que iria
somente retirar graficamente os dados necessários e que tudo findaria por ali. Será que
julguei alguma vez que as Histórias Etíopes (Ramos 2000), os Carnets de Papouise (Garnier
1999), ou que os desenhos etnográficos de Marion Wettstein (2008, 2014) tivessem sido
apropriados sem qualquer pudor ético? Desenhar é como conversar. É como estar num
diálogo constante com o espaço, com as formas, as perspetivas; mas é também estar e
conversar com as pessoas – um pouco na senda das “entrevistas como conversas”,
potencializadas por Robert Burgess (1997) e James Spradley (1979), mas numa amplitude
virada para o grafismo.
39 Apesar do “dead-end” em que alguns investigadores colocam o desenho etnográfico
(Ramos 2015), talvez seja altura de o resgatar e de o pensar novamente como um
mecanismo válido de “registo de dados etnográficos” e de “difusão do conhecimento
antropológico” (Almeida 2013: 81). Mais, teorizar o desenho etnográfico, tal como se tem
feito com a fotografia, o vídeo e o filme, poderá prevenir para que os investigadores não
sejam “[...]colhidos na voragem de uma pulsão escópica, em múltiplos sentidos voyeurista,
que o consumo e produção de imagens suscitam” (Campos 2011:256). Eu sei que o fui –
pelo menos até ao momento em que me apercebi de que não o poderia ser.
40 No final, reconciliei-me com o desenho pelo entremeio antropológico. É engraçado que
assim o tenha sido, que tenha “transformado” o desenho num “apoio” ao etnográfico
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
88
enquanto no passado este tinha existido apenas dentro de um pendor artístico. E é
também interessante que o próprio desenho se tenha tornado uma ponte entre mim e as
pessoas com quem criei empatia; ou entre os informantes e o antropólogo no geral, se
quisermos. Dentro das artes, quanto a mim, existe uma certa presença de alteridade entre
quem desenha e aquele que é desenhado – o artista vs o modelo – e esta experiência
surgiu-me muito mais assente numa relação de simetria entre pessoas. Antes nunca assim
tinha sentido o ato de desenhar.
41 Há que considerar, paralelamente, que o desenho etnográfico possa criar uma certa
“fragilidade" no desenhador face ao interlocutor, sendo este um ato de exposição e
escrutínio público muito direto, mas passível de humanizar “o pesquisador em campo”
(Ramos 2000) – a partir, suponho, dessas mesmas fragilidades. Não é fácil, pelo menos
para mim, desenhar com o olhar de outrem a seguir-me as linhas que se entortam e
tremem pela folha, sem poder corrigir os erros que se avolumam no papel como se faz
com um documento escrito no computador; ou como o apagar, por exemplo, de uma
fotografia numa máquina fotográfica. Mas essa também é a beleza de desenhar:
[...] lado a lado com a hegemonia do digital, hoje parece haver um retorno à alma do
lápis e do papel – celebrando-se o valor do ofício do desenho como se se tratando de
uma retaliação contra a máquina.» (Taussig 2011: 34).
42 Num desenho não há propriamente ensaios – o treino é o do olhar, do cérebro e da mão
num trabalho em tríade com resultado no imediato – e se “não sair bem” não há
possibilidade de o esconder prontamente de quem nos observa, é o aqui e o agora. Expõe-
nos de uma forma que a escrita etnográfica, pensada, moldada, corrigida, não o faz. Em
simultâneo, há também que ter em conta as potencialidades do grafismo enquanto
mecanismo de “recuperação” da agencialidade e humanização do antropólogo em relação
à escrita etnográfica – da qual este muitas vezes se distancia, num ato discursivo na
terceira pessoa. Também nestes moldes, o desenho aproxima-nos de quem observamos –
ou de quem nos lê.
43 Outra noção imperante é aquela em que para desenhar será necessário deter uma
qualquer aptidão específica, um género de “dom” que chega apenas para alguns, um
pendor genético. Mas não é assim, o desenho é altamente treinável – tal como a escrita – e
perfeitamente democrático, anuindo com qualquer tipo de expressividade. Parece-me
natural que numa disciplina com as características da antropologia possamos considerar
que o desenho, enquanto entremeio metodológico, tenha de estar mais próximo de uma
estilização realista ao género de Galhano – a qual é perfeitamente válida, se assim for
desejável nas concetualizações de quem desenha. De uma forma um tanto ou quanto
acirrada, Michael Taussig referiria que “existem desenhos e pinturas concernentes ao
trabalho de campo antropológico [...] que dolorosamente se esforçam para a
representação realista e traem o potencial sugestivo que o desenho possui tão
abundantemente” (2011:15). Corroborando, Pedro Gama adianta ainda que “o registro
técnico, preciso e objetivo do que é observado em campo não é a principal preocupação
do desenho utilizado por pesquisadores atualmente” (Gama e Kuschnir 2014:2). Na senda
daquilo preconizado por ambos, talvez seja então mais interessante assumir que existem
tantas técnicas de desenho como formas para escrever; e que o realismo tácito do
grafismo, na contemporaneidade, possa já não ser tão relevante num mundo onde nos
transfigurámos enquanto consumidores vorazes de imagens, e onde somos
constantemente estimulados visualmente em tantos e diversos ângulos do nosso
quotidiano.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
89
44 Quanto aos desenhos que realizei no mercado, esses surpreendentemente surgiram-me
muito diferentes do tipo de grafismo que eu utilizara anteriormente. Sabia que seriam
diferentes, mas não tanto que principiasse a privilegiar somente o traço e não a mancha, o
qual havia sido preferencial no passado. Ou que abandonasse a aguarela, a tinta-da-china,
o borrão que se forma estrategicamente em contato com a água desposta no papel. Ou que
tivesse deixado o grotesco, um pendor para a insânia gráfica que encontro facilmente nos
meus diários gráficos antigos e que pensei viria a utilizar em representações desenhadas
dos odores necrológicos da carne nos escaparates, no apodrecimento gradual da fruta.
Estes são desenhos contidos, onde se denotam facilmente hesitações no traçado; mostram
os meus medos, para mim é bastante nítido. Mas tal não invalida que os desenhos me
tenham sido pertinentes em termos metodológicos, como notas visuais de campo e
auxiliares para o processo de escrita; também como extratores pessoais e intimistas de
headnotes.
45 Após os primeiros percalços no terreno, os desenhos metamorfosearam-se num
mecanismo validador da minha presença. Ao desenhar estava a “fazer alguma coisa”, não
somente a observar “simplesmente”, mas a aplicar essa observação no treino do olhar
crítico e na efetivação do desenho – logo, de algo palpável no imediato. Também, ao
utilizar o caderno e o bloco de folhas para o grafismo, não somente para o “retirar” de
notas escritas, legitimei uma presença não forçada do diário em campo. No meu caso – e
depois da entrada abrupta – o desenho, “o lápis riscando papel”, tornou-se um facilitador
da estadia no terreno, retirando-me uma carga intrusiva que sei poder transparecer
através da utilização de outros mecanismos de recolha etnográfica. Obviamente, o
desenho etnográfico tem as suas devidas e naturais limitações – como qualquer outra
metodologia antropológica –, mas talvez seja importante voltar a pensá-lo, “ressuscitá-lo”
e explorá-lo na contemporaneidade enquanto legítimo produtor de conhecimento
científico.
BIBLIOGRAPHY
Afonso, Ana Isabel 2004. “New graphics for Old Stories. Representation of local memories
through drawings” (com desenhos de Manuel João Ramos) In Working Images, Visual Research and
Representation in Ethnography edited by Sarah Pink, Ana Isabel Afonso, Kurti László, London, New
York: Routledge, 72-89.
Almeida, Sónia Vespeira de. 2013. “Antropologia e práticas artísticas em Portugal”. Cadernos de
Arte e Antropologia, 2 (1): 73-83.
Antunes, Pedro. 2014. “Insomnolências” e notas de campo do filme “P’ra irem p’ró Céu”. Cadernos
de Arte e Antropologia, 3 (1): 31-48.
Appadurai, Arjun. 1986. “Theory in Anthropology: Center and Periphery. Comparative Studies in
Society and History, 28: 356 – 61.
Bateson, Gregory, Mead, Margaret. 1942. Balinese Character: a Photographic Analysis. New York: New
York Academy of Science.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
90
Benjamin, Walter.2012. Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio d’Água.
Bernard, H. Russel. 2006. Research Methods in Anthropology – Qualitative and Quantitative Approaches.
Lanham, New York, Toronto, Oxford: Altamira Press.
Black, Rachel E. 2012. Porta Palazzo. The Anthropology of an Italian Market (Foreword by Carlo Petrini).
Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Burgess, Robert. 1997. A Pesquisa de Terreno, Lisboa: Celta.
Campos, Ricardo. 2011. “Imagens e Tecnologias Visuais em Pesquisa Visual: tendências e
desafios”. Análise Social, XLVI (199): 237- 259.
Costa, Catarina Alves. 2012. “Camponeses do Cinema: a Representação da Cultura Popular no
Cinema Português entre 1960 e 1970.” Dissertação de Doutoramento em Antropologia Cultural e
Social. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa.
Portugal.
Craveiro, Maria Teresa. 2006. “Tentativas de Urbanismo Comercial nos Planos Municipais de
Ordenamento”. s.p. Consultado a 22 de Dezembro de 2015 (http://tercud.ulusofona.pt/
index.php/pt/documentos-on-line/category/8-2006?download=170:craveiro-2006).
Dewalt, Billie R., Pelto, Pertti J. 1985 Micro and Macro Levels of Analysis in Anthropology: issues in
Theory and Reasearch. Boulder, Colorado: Westview Press.
Evans-Pritchard, Edward Evan. 1991 [1937]. Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande. Oxford:
Clarendon Press.
Galhano, Fernando. 1985a. Desenho Etnográfico de Fernando Galhano – Vol. I, Portugal. Lisboa:
Instituto Nacional de Investigação Cientifica, Centro de Estudos de Etnologia e Instituto de
Investigação Tropical, Museu de Etnologia.
-------- 1985b. Desenho Etnográfico de Fernando Galhano – Vol. II, África. Lisboa: Instituto Nacional de
Investigação Cientifica, Centro de Estudos de Etnologia e Instituto de Investigação Tropical,
Museu de Etnologia.
Gama, Pedro Ferraz e Kuschnir, Karina. 2014. “Contribuições do desenho para a pesquisa
antropológica”, Revista do CFCH. Consultado a 24 de Dezembro de 2015 (http://revista.cfch.ufrj.br/
index.php/edicao-atual/138-contribuicoes-do-desenho-para-a-pesquisaantropologica).
Garnier, Nicolas. 1999. Carnets de Papouise. France: Editions Grasset.
Geertz, Clifford. 1977 [1973]. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
Given, Lisa M. (ed.). 2008. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods, Volumes 1 & 2. Los
Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage.
Gonçalves, Alexandre Oviedo, Abdala, Mônica Chaves. 2013. “Na banca do ‘Seu’ Pedro é tudo mais
gostoso – Pessoalidade e Sociabilidade na Feira-Livre”, Ponto Urbe, 12: 1-14.
Ingold, Tim. 2007. Lines: A Brief History. London: Routledge.
Krauss, Rosalind. 1979. “Sculpture in the Expanded Field”. October, 8: 30-44.
Kuschnir, Karina. 2014. “Ensinando Antropólogos a Desenhar: uma experiência didática e de
pesquisa”. Cadernos de Arte e Antropologia, 3 (2): 23 – 46.
Lévi-Strauss, Claude. 2011. Tristes Trópicos. Lisboa: Edições 70.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
91
Lillehammer, Grete. 2009. “Making them Draw: the use of drawings when researching public
attitudes towards the past». In Heritage Studies, Methods and Approaches edited by Marie Louise
Stig, Sorensen, John Carman. London: Routledge.
Madden, Raymond. 2010. Being Ethnographic – A Guide to Theory and Pratice of Ethnography. London:
Sage.
Malinowski, Bronislaw. 1983 [1922]. The Argonauts of the Western Pacific. London: Routledge.
Nieto Olivar, José Miguel. 2007. “Dibujando Putas: reflexiones de una experiencia etnográfica com
apariciones fenomenológicas”. Revista Chilena de Antropología Visual, 10, 54-84.
Oppitz, Michael (ed.). 2001. Robert Powell. Himalayan Drawings. Zürich: Völkerkundemuseum der
Universität Zürich.
Panfili, Giulia. 2012. O Vaivém do Tear – Etnografia urdida no Concelho de Abrantes. Dissertação de
Mestrado. Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE-IUL. Lisboa. Portugal.
Panofski, Erwin. 2007. O Significado nas Artes Visuais. Lisboa: Editorial Presença.
Parham, Susan. 2012. Market Place: Food Quarters, Design and Urban Renewal in London. Newcastle
upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
-------- 2015. Food and Urbanism: the Convivial City and a Sustainable Future. London, New Delhi, New
York, Sidney: Bloomsbury Academic.
Pina Cabral, João. 2007. “Aromas de Urze e de Lama”: reflexões sobre o Gesto Etnográfico”.
Etnográfica, 11 (1): 191-212.
Quartilho, Ana Teresa. 2011. Factos Urbanos – Os Mercados na Cidade do Porto. Dissertação de
Mestrado. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra – Departamento de
Arquitectura. Coimbra. Portugal.
Ramos, Manuel João. 2010. Histórias Etíopes. Lisboa: Tinta da China.
-------2015. «Stop the Academic World, I Wanna Get Off in the Quai de Branly. Of sketchbooks,
museums and anthropology », Cadernos de Arte e Antropologia [Online], 4 (2). Consultado a 23 de
Dezembro de 2015 (http://cadernosaa.revues.org/989).
Rossi, A. 2001. A Arquitectura da Cidade. Lisboa: Edições Cosmo.
Sontag, Susan. 2012. Ensaios sobre Fotografia. Lisboa: Quetzal.
Spradley, James. 1979. “Interviewing an Informant” in Ethnographic Interview. New York, Holt,
Rinehart & Winston: 461- 474.
Taussig, Michael. 2011. I Swear I Saw This: Drawings in the Fieldwork Notebooks, Namely my Own.
Chicago: University of Chicago Press.
Tedlock, Barbara. 1991. “Participant Observation to the Observation of Participation: the
Emergence of Narrative Ethnography”. Journal of Anthropological Research, 47 (1): 69 – 94.
Viegas, Susana de Matos, Mapril, José. 2012. “Mutualidade e Conhecimento Etnográfico”.
Etnográfica, 16 (3): 513 – 524.
Wettstein, Marion. 2008. “Defeated Warriors, Successful Weavers: Or how Men’s Dress Reveals
Shifts of Male Identity among the Ao Nagas” In Naga Identities: Changing Cultures in the Northeast of
India edited by Michael Oppitz, Thomas Kaiser, Alban von Stockhausen, Marion Wettstein. Gent:
Snoeck.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
92
-------- 2014. Naga Textiles: Design, Technique, Meaning and Effect of a Local Craft Tradition in Northeast
India. Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers.
NOTES
1. O presente artigo resulta de um trabalho académico sobre metodologias de investigação em
antropologia, encontrando-se subordinado tematicamente à minha investigação doutoral sobre
mercados «tradicionais», discursos patrimoniais e reabilitação urbana (Ref.ª PD/BD/113911/2015)
financiada por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia.
2. A Madonna dos Rochedos ou A Virgem das Rochas ou dos Rochedos, é a nomenclatura utilizada para
designar duas pinturas praticamente idênticas da autoria de Leonardo da Vinci (n.1452,
Anchiano, Itália – m.1519, Amboise, França). Uma das versões está atualmente exposta no Museu
do Louvre em Paris, tido sido pintada na década de 1480 (http://www.louvre.fr/en/oeuvre-
notices/virgin-rocks); a outra, como referido, é pertença da National Gallery, em Londres, tendo
sido pintada entre a última década do séc. XV e a primeira do XVI (http://
www.nationalgallery.org.uk/paintings/leonardo-da-vinci-the-virgin-of-the-rocks).
3. Existem dois sistemas de tamanhos de papel: o ISO 216 (na maioria dos países, adotado por
Portugal em 1954) e o sistema próprio dos Estados Unidos da América e do Canadá. No ISO 216 há
três séries (a A, a B e a C), sendo a mais comum a série A. O formato base é o A0, com 1m2 de área.
Os outros tamanhos vão-se obtendo pela dobra ou corte pela metade do tamanho acima daquele
pretendido (metade de uma folha A0=duas folhas A1, metade de uma folha A1= duas folhas A2, e
assim sucessivamente).
4. A escala das gradações de grafite foi criada por Lothar Faber (um dos fundadores da marca
alemã de materiais de desenho Faber-Castell) no século XVIII, sendo ainda hoje aceite como o
padrão internacional. Há três gradações padronizadas: a H (Hard), a F (Fine) e a B (Black) – 6H,
5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e 8B. O padrão H é o mais duro e claro,
especializado para desenho técnico e para o traço fino. O padrão B corresponde a uma grafite
mais macia e mais escura, proporciona um traço grosso e é utilizado em desenho artístico. O
padrão F, mais o misto entre os padrões H e B (o HB) são geralmente utilizados para a escrita,
podendo ser também utilizados em desenho (para sombreados, por exemplo).
5. A gramagem do papel foi padronizada internacionalmente pela norma ISO 536,
correspondendo à medida de massa pela área de papel e sendo expressa em g/m2. Quanto maior
a gramagem do papel, mais grosso e pesado este será e mais custos acarretará para o consumidor.
Em termos comparativos e meramente indicativos (dependerá necessariamente de marca para
marca), o papel utilizado em impressoras domésticas tem entre 75 a 90 g/m2, o papel de desenho
da marca canson ascenderá a gramagens 180 g/m2 ou mais, as folhas de aguarela da Studio
Fabriano podem chegar aos 200 ou 300g/m2.
6. De forma a facilitar o encadeamento da leitura, todas as citações presentes neste artigo foram
traduzidas por mim para o português.
7. Chuck Close (n.1940, Monroe, EUA) é um artista norte-americano reconhecido pelos seus
retratos em larga-escala da face humana, num estilo próximo da fotografia mas em formato de
pintura. O seu trabalho está bastante imbrincado na estética do hiper-realismo (http://
chuckclose.com/index.html). Além de Close, Ron Mueck (n.1958, Melbourne, Austrália) também
se distingue nesta área, mas através de uma prática escultórica englobante de jogos de escalas
(aumentos e diminuições) em torno do corpo humano (http://www.hauserwirth.com/artists/52/
ron-mueck/images-clips/).
8. Webiste dos Urban Sketchers – http://www.urbansketchers.org (consultado a 26 de Abril de
2016)
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
93
9. Blog do Desenhador do Quotidiano – http://diario-grafico.blogspot.pt/ (consultado a 26 de Abril
de 2016)
10. Manifesto dos Urban Sketchers – http://www.urbansketchers.org/p/our-manifesto.html
(consultado a 26 de Abril de 2016)
11. Para aprofundar a relação entre food quarters e reabilitação urbana ver Susan Parham (2012;
2015).
12. Extensão da Linha Verde do Metropolitano de Lisboa, Portugal.
13. A tradução desta citação devo-a à Professora Doutora Sónia Vespeira de Almeida, sendo uma
referência utilizada nas suas aulas de Método Etnográfico da Licenciatura em Antropologia na
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL).
ABSTRACTS
O desenho em processos de investigação tem permanecido, na contemporaneidade, numa
aparente posição de menor relevância em contraposto a outras metodologias visuais de recolha
de dados etnográficos. Este ensaio autorreflexivo – e de certo modo autobiográfico – procura
entrelaçar a experiência vivida em contexto artístico e académico com as potencialidades do
desenho na vertente da observação antropológica. A partir de um exercício de captação gráfica
de um mercado municipal, procurarei discutir em torno de questões metodológicas e éticas
prementes na prática antropológica, e do perigo potencial destas serem “mascaradas” através de
um ensejo voyeurístico de recolha incessante de imagens. Assumidamente um artigo que
sumariza um processo muito pessoal entre a antropologia e a arte – pleno de erros, incertezas,
desvios e correções ao longo do caminho – este texto é simultaneamente uma tentativa de
evidenciar as possibilidades múltiplas do desenho etnográfico enquanto metodologia de recolha
de dados e de observação do mundo.
Drawing in research nowadays appears to remain in a minor position, compared to other visual
ethnographic methodologies. This self-reflexive and, to a certain extent,
autobiographical article seeks to link the author’s artistic experiences with the potential of
drawing for anthropological fieldwork. Starting from a drawing exercise of a municipal market, I
will discuss methodological and ethical issues in anthropology, and the danger that those issues
may be obscured by processes of “voyeuristic” image gathering.
INDEX
Keywords: ethnographic drawing, ethics, anthropology, artistic practices, methodology
Palavras-chave: desenho etnográfico, ética, antropologia, práticas artísticas, metodologia
AUTHOR
INÊS BELO GOMES
CRIA/ISCTE-IUL, Lisboa
Doutoranda no Programa de Excelência FCT – Antropologia: Políticas e Imagens da Cultura e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
94
Museologia, promovido conjuntamente pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL) e pelo Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL),
Portugal.
ines.bl.gomes@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
95
Dossiê "Antropologia e desenho"
Etno-artes
Ethno-arts
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
96
Relatos e imagens da cracolândia:
modos de vida e resistência na rua
Narratives and images from “Cracolândia”: ways of being and resistance on the
streets
Thiago Godoi Calil
EDITOR'S NOTE
Recebido em: 2016-01-31
Aceitado em: 2016-07-19
Introdução1
1 O interesse pelo tema deste ensaio surgiu a partir de estudos na área das drogas e durante
o trabalho de campo realizado a partir de 2004 na região denominada “cracolândia”, no
bairro da Luz, centro de São Paulo.2 A partir da contribuição etnográfica apresento
trechos relevantes desta pesquisa descritivo-exploratória, em texto e imagens, que visam
investigar a relação entre saúde e ambiente. Apesar de atuar na região do bairro da Luz
desde 2004 como redutor de danos pelo Centro de Convivência ‘É de Lei’ 3, considerei
importante me aproximar do cotidiano deste território. Para isso frequentei a região por
oito dias e oito noites consecutivas, além de noites isoladas, num quarto de pensão,
durante o ano de 2014 e início de 2015.
2 A ideia de permanecer alguns dias no território provocava sentimentos dúbios. Apesar da
ambiguidade, encarei o desafio. E como num ato decisivo de ‘pular de paraquedas’, foi
assim que entrei em campo. De repente estava na rua, sozinho, e confortavelmente sendo
acolhido por pessoas que me reconheciam. A aproximação etnográfica possibilitou amplo
contato com a cultura local, proporcionando um “mergulho profundo e prolongado na
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
97
vida cotidiana desses outros que queremos apreender e compreender” (Uriarte 2012:04).
Além das observações decorrentes da imersão no campo, optei pelo uso de imagens.
3 Fotos sempre representaram um problema na cracolândia. Frequentemente o Centro de
Convivência ‘É de Lei’ recebe propostas de fotógrafos ou jornalistas, no sentido de facilitar
a obtenção de imagens da cracolândia por meio da ‘entrada’ que temos no campo. Porém,
com o passar dos anos é perceptível um certo receio coletivo que evidencia uma regra
local: fotos não são bem-vindas na cracolândia. Este incômodo em relação a fotografias
aparece por diversos motivos, seja pela preservação do anonimato, pela presença de
foragidos ao sistema penitenciário, por vergonha, por práticas ilegais, entre outros.
4 Assim, optei pelo uso de desenhos, que foram desenvolvidos a partir dos relatórios
etnográficos e da comunicação com os desenhistas convidados. A aproximação com os
desenhistas aconteceu de forma bastante variada. Marcelo Maffei, por ser amigo desde a
adolescência, foi o primeiro. A partir de uma experimentação inicial com somente um
desenhista, avaliei a potência e riqueza de diferentes olhares na produção das imagens.
Para isso, convidei outros desenhistas. Cada um, com seu traço e linguagem, colaborou na
criação de imagens e representações. Alguns foram convidados por eu já conhecer o
trabalho, outros chegaram por indicações de Maffei ou de encontros que,
surpreendentemente, surgiram no momento certo. Todos compreenderam a proposta do
trabalho e aceitaram prontamente encarar este desafio4.
5 Este contato com os desenhistas me instigou a desenhar. Os rabiscos no caderno e o
aprofundamento no estudo da utilização de imagens para além de meras ilustrações foi
dando forma à ideia de inserir também desenhos meus no corpo do texto. Sendo assim,
celebrando minha iniciação na produção de desenhos como elementos do campo, em uma
atitude autobiográfica (Kuschnir 2012), me coloco também nesta pesquisa por meio de
imagens ao desenhar os objetos da cracolândia.
6 A intenção é estimular o imaginário, e os desenhos são capazes de fazer emergir novas
camadas de informação, um material pleno de significados produzidos a partir da
interação entre pesquisador, desenhistas e contexto. (Kuschnir 2014). Vale ressaltar que
os desenhos aqui utilizados são dados secundários, afinal foram produzidos
posteriormente ao trabalho de campo. Sendo assim, com caráter interpretativo, os
desenhos visam ampliar as representações possíveis sobre a realidade local.
7 Assim, este ensaio visual compreende um conjunto de relatos e desenhos que ilustram
situações cotidianas observadas durante trabalho de campo. São episódios, fragmentos de
vozes dos interlocutores e de pensamentos variados, que explicitam a diversidade das
manifestações de vida neste espaço urbano.
Onde a vida é vivida
A obscuridade da gramática e da lei! Os dicionários
só são considerados fontes fáceis de completo
saber pelos que nunca os folhearam. Abri o
primeiro, abri o segundo, abri dez, vinte
encyclopedias, manuseei infolios especiais de
curiosidade. A rua era para eles apenas um
alinhado de fachadas, por onde se anda nas
povoações…
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
98
Ora, a rua é mais do que isso, a rua é um ator de
vida das cidades, a rua tem alma! Em Benarés ou
em Amsterdam, em Londres ou em Buenos Aires,
sob os céus mais diversos, nos mais variados
climas, a rua é a agasalhadora da miséria. Os
desgraçados não se sentem de todo sem o auxílio
dos deuses enquanto diante dos seus olhos uma
rua abre para outra rua. A rua é o aplauso dos
medíocres, dos infelizes, dos miseráveis da arte.
João do Rio, “A rua”, publicado em 1905 na Gazeta
do Rio de Janeiro. A alma encantadora das ruas
(1997:47).
8 O bairro da Luz é muito mais do que a ideia de ‘cracolândia’ que permeia o imaginário
público. Sim, o crack está ali, mas este espaço certamente não é composto exclusivamente
pelo uso desta substância. Trata-se de um lugar vivo, onde valores, emoções e negociações
de todo tipo transbordam pela vida cotidiana, que acontece invisível para grande parte
dos habitantes da cidade de São Paulo.
Figura 1. O fluxo na cracolândia no início de 2015, na esquina das ruas Cleveland e
Helvetia. Desenho por Marcelo Maffei.
Hoje lá estava eu, de volta na cracolândia. No mundo da cracolândia. Fiquei
pensando o que acontecia em outros pontos da cidade enquanto eu estava ali.
Foram algumas horas, andando e conversando em um curto espaço na rua. Tudo
parece acontecer na rua. As pessoas andam de um lado para outro. Cada um
resolvendo as suas questões, “fazendo o seu corre”. Quatro pessoas fazem um samba
na esquina oposta, Robertinha5 joga Capoeira com outro rapaz, e eu observo o
cozinheiro que não está para muito papo. Ele parece concentrado na cozinha,
caçando ingredientes, mantendo o fogo aceso e dando goles de barrigudinha
(cachaça). Joga na única panela o resto de vários pacotes de macarrão, 2 cebolas
pequenas inteiras e um resto de pimenta e tempero em pó. Tudo parece estar
acabando. O fogo é alto, queima-se tudo: madeira, panos, plástico, o que vier, e logo
aparece um cheiro leve de comida.
No passar dos olhos, na rua vejo música, fogueira, capoeira e comida. Ouço também
risadas. Bastante vida para uma noite fria do meio de abril na cracolândia. A
lâmpada queimada do poste de luz deixa o lugar escuro somente à luz o fogo. Do
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
99
outro lado da rua, como um detalhe, percebo que algumas pessoas estão sentadas e
encostadas no muro pelo acender dos isqueiros. (Diário de campo, 18 de abril de
2013.)
Sobrevivência criativa
Figura 2. Luiz e a carroça. Desenho por Marcelo Maffei.
9 À margem do mercado formal de trabalho, Luiz faz arranjos competentes para a
realização de uma prática marginal que exige certo grau de conhecimento e
especialização. Com uma ótima leitura da cidade que localiza contatos e desenha trajetos,
Luiz organizadamente vivencia práticas que garantem recursos para seu sustento na rua.
Durante a realização da prática de reciclagem, o uso de crack foi apenas um detalhe no
modo de expressar-se e relacionar-se com as pessoas e a cidade.
Hoje a reciclagem é minha vida. Não largo isso. Não dependo de ninguém e não
quero depender de alguém. É engraçado, as pessoas leigas acham que não fazemos
mais nada. Eu faço o meu corre. Pode ser de graça, mas eu que fui atrás e consegui.
(Diário de campo – Luiz, 8 de julho de 2014).
Objetos da cracolândia
10 A falta de um local fixo e a necessidade de circulação diária faz com que as pessoas não
possuam muitos bens materiais. Carrega-se o que é possível transportar junto ao corpo.
Considerando raras exceções, muitas pessoas que frequentam a cracolândia possuem
algum dos objetos presentes nesta ilustração. Cachimbo, isqueiro, cigarro, cachaça,
lâmina - para a partilha da pedra de crack - e a cinza de cigarro, que é armazenada em
embalagens variadas para auxiliar na queima do crack.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
100
Figura 3.Objetos comuns na cracolândia. Desenho por Thiago Calil.
Tudo pode acontecer e nada é indiscutível
Figura 4. As questões de Jony. Desenho por Séfora Rios.
Estávamos próximo ao fluxo na Rua Barão de Piracicaba, esquina com a Rua Glete. É
começo de ano e mais uma vez o grupo de pessoas que usam crack era
coercitivamente deslocado de um canto para outro. Achamos estranho o
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
101
comportamento do grupo em relação a um menino que tentava se aproximar do
fluxo, mas todos agressivamente pareciam o repelir. Jogavam sapatos, garrafas e
outras coisas em sua direção. Nos aproximamos dele para conversar um pouco e
entender o que acontecia.
É visível que ele estava bastante sujo, e apesar de um pouco resistente aceita nos
acompanhar até a tenda do Programa ‘braços abertos’ da prefeitura. Seu nome é
Jony, e acompanhando-o até a tenda percebo que ele está mancando com uma
perna, além disso, exala um cheiro forte. É realmente muito forte, beira o
insuportável, e enquanto converso com ele tento sutilmente me deslocar para o
lado oposto ao vento. Minha sutileza foi em vão. Ele percebe o movimento e me
pergunta: Meu cheiro está muito forte né?
Eu, desconcertado e sincero respondo: Sim, está muito forte. O que está havendo?
Ele responde: É uma ferida que eu tenho aqui na perna. Neste momento levanta a
calça e me mostra uma ferida grande, e surpreendentemente com bichos em sua
carne! O cheiro forte era sua perna apodrecendo... Reforço a necessidade de irmos
até a tenda para limparmos a ferida.
Na tenda, entregam para ele o ‘kit limpeza’ (sabão, toalha e escova de dente). Ele
pede uma troca de roupa. A agente de saúde diz que deve ter alguma e pede para
aguardarmos enquanto ela busca. Neste meio tempo, muitas pessoas se aproximam
e começam a ofender Jony de diversas formas. O que marcou para mim foi ‘pé de
lixo’. Outras pessoas sarcasticamente me desafiavam: “Se você conseguir fazer esse
aí tomar banho tiro meu chapéu. Você não vai conseguir”. Jony responde e xinga-os
de volta. Sinto-me em um fogo cruzado, informo os rapazes que estão me
atrapalhando e peço que me deixem conversar sozinho com ele, enquanto
ansiosamente esperava o retorno da agente de saúde. Ela demora. As ofensas
continuam e Jony perde a paciência. Joga tudo no chão, diz que não quer mais
banho e sai andando rapidamente. Vamos atrás dele, tentamos convencê-lo a
retornar. Tentamos em vão, ele irritado diz: “assim não dá, assim eu não aguento”!
Volto para casa refletindo... porque não depositar tempo e energia para cuidar de
um ferimento tão grave? O que faria chegar a este ponto, praticamente já em
decomposição? Fico pensando que quando Jony me mostrou a ferida ele disse com
um tom aparentemente conformado: “é uma ferida que eu tenho aqui”. Disse como
se ela fizesse parte dele, parecia já acostumado com ela. Não lhe parecia ser uma
questão a resolver. O que seria prioridade então para Jony neste momento? Quais
questões o preocupavam? O que de fato traria risco à sua existência que não sua
própria perna em putrefação? (Diário de campo, janeiro de 2014).
O sol que faz o fogo que queima a pedra que seca o
homem que arde na rua
Logo que chego pela Helvetia vejo Gilson dormindo. Ele está deitado em uma lona
na beira da calçada da Rua Helvetia, bem na borda do fluxo próximo a guia, quase
na rua. O sol está muito forte. Minutos depois Gilson está sentado. Ele ainda parece
sonolento. Está sentado meio cambaleando com os olhos fechados, encostado em
uma mulher enquanto ela parece fazer um tipo de massagem nele, encosta nele,
parece ajudá-lo a equilibrar-se sentado (ver figura 5).
Pouco tempo depois ouço gritos altos e desesperados. Olho ao lado e Gilson está
gritando alto pedindo socorro! Ele está todo molhado gritando, pulando, esfregando
os olhos: “Ai meus olhos! Ahhh tá ardendo, meus olhos! Minha pele! Socorro!”
Imediatamente vou até ali. A mulher que estava com ele se aproxima e diz, “eu
joguei tíner nele! Achei que era água, tinha uma garrafa cheia ao lado dele, uma
garrafa de 2 litros. Fui acordá-lo porque estava dormindo no sol. Joguei a garrafa
toda nele e era tíner!”
Gilson grita: “ela quis me matar! Ahhhhh meus olhos! Tá ardendo, minha pele!” O
horário é aproximadamente meio dia! Percebo-me atônito, sem saber o que fazer.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
102
`Cabelo`, outro usuário que muitas vezes está cozinhando chega com quatro galões
de 20 litros de água e despeja rapidamente em cima de Gilson. Outra mulher começa
a passar sabão também na pele de Gilson. Alguém trouxe a informação de que sabão
neutralizaria o solvente.
Um verdadeiro caos se instala no meio da rua. Seu Ulysses, um senhor de 58 anos
que conversava comigo fica atordoado. Ele grita: “temos que levá-lo ao hospital
imediatamente, este tipo de coisa é gravíssimo, ele pode ficar cego!” Seu Ulysses vai
em direção aos guardas da GCM6 que estão do outro lado da rua, exatamente na
frente disso tudo, e começa a solicitar o auxílio dos guardas, alegando que isso é
omissão de Socorro! O caos se intensifica, e os guardas iniciam um processo para
conter Ulysses.
Penso que ficar no sol seria pior, e enquanto os guardas nada fazem para ajudar e
seguem tentando conter seu Ulysses, sugiro carregarmos Gilson até a sombra de um
muro do outro lado da rua. Agentes de saúde da prefeitura enfim se aproximam e
trazem mais água. Gilson está mais calmo, sentado no chão, na sombra, menos
ofegante e ainda esfregando os olhos extremamente vermelhos. “Meus olhos ainda
ardem muito...”. Enfim, a gritaria diminui (ver figura 6).
Consigo me aproximar e sento ao lado de Gilson. Ouço-o um pouco e ele diz estar
bem e não quer ir ao médico. Quer ficar ali mesmo. Consigo informá-lo da
importância de ele ir ao médico passar por uma avaliação, tanto pelos olhos, pois
existe um risco de agredir a visão, ou pelo risco caso tenha engolido thinner. Ele diz
que realmente ingeriu um pouco e entende que a avaliação é importante. Decide me
acompanhar ao médico. Eu e uma agente de saúde do programa Recomeço 7 o
ajudamos a andar até o SAE Campos Elíseos (Serviço de assistência especializada
DST/HIV/Aids) na Al. Cleveland, a uma quadra dali. Ele está cambaleando, fraco,
abalado e com a visão prejudicada. Neste trajeto me conta que não é a primeira vez
que a moça tenta matá-lo. “Agora estou esperto, ela vai se ver comigo”. Sinto um
tom de vingança e digo que entendo sua raiva, e que neste momento precisa se
preocupar em se cuidar, atravessar este momento. Ele é acolhido no SAE e levado
para a Unidade básica de saúde para avaliação. Fico pensando na ideia de
vulnerabilidade e risco. Bastou se permitir descansar um pouco que no fechar dos
olhos acordou nesta situação, fritando no sol em um banho de thinner. Tudo parece
possível de acontecer no ‘fluxo’ da cracolândia.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
103
Figura 5. O desespero de Gilson dormindo. Desenho Por Rafael Trabasso ‘Dedos’.
Meses depois vejo Gilson com a perna quebrada. Foi atropelado por um carro
enquanto andava de mobilete. Onde? No mesmo lugar, no cruzamento entre as ruas
Cleveland e Helvetia.
Lembramos juntos do episódio do thinner: Gilson olha para mim e diz: “Caramba,
aquele dia eu fui salvo né?” (Diário de campo, 11 de setembro de 2014).
Figura 6. O desespero de Gilson acordado. Desenho Por Rafael Trabasso ‘Dedos’.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
104
Resistência: cuidado para não cortar o galho em que
se está sentado
Tem certos dias / Em que eu penso em minha
gente / E sinto assim / Todo o meu peito se apertar
Porque parece / Que acontece de repente / Como
um desejo de eu viver / Sem me notar
Igual a tudo / Quando eu passo no subúrbio / Eu
muito bem / Vindo de trem de algum lugar
E aí me dá / Como uma inveja dessa gente / Que vai
em frente / Sem nem ter com quem contar
(Música gente humilde - Chico Buarque)
A chuva aperta bastante e voltamos para o bar na esquina da Cleveland com
Helvetia. Muitas pessoas, inclusive pessoas do fluxo (que usam crack) entram no bar
para se proteger. Uma chuva muito forte com vento insano. Acaba a energia elétrica
e no escuro vejo que a chuva invade o interior do bar. Do lado de fora vejo um
pássaro que voa na chuva se esforçando para não ser levado pelo vento. Com
esforço ele pousa no galho de uma das poucas árvores do bulevar da Cleveland.
Figura 7. O encontro. Desenho por Vanessa Pens.
Ao meu lado, dentro do bar, um homem também se abriga da chuva. Negro, alto,
magro e com os cabelos enrolados. Sei que já o vi por ali algumas vezes entre as
pessoas que fazem uso, provavelmente também usa crack. Ele se aproxima de mim e
inicia a conversa com um argumento curioso.
Comenta sobre a dificuldade dos pássaros em um tempo como esse, pois ficam
molhados e sem ter para onde ir, sem ter um lugar para ficar. “Imagina! O mundo
caindo em volta dele e ele fica ali, firme!” Acrescenta que os pássaros têm uma
proteção nas penas que não deixam a água entrar até a pele, uma proteção natural.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
105
Mas com esse vento, ele diz: “devem estar todos molhados” (Diário de campo – 07
de junho de 2011).
Figura 8. O contato. Desenho por Vanessa Pens.
11 Terminamos com a cena do pássaro. Esta surge como uma metáfora interessante para
ilustrar o modo de vida na cracolândia. A resistência e a resiliência, assim como no caso
do pássaro, são histórias de vida que se misturam em situações de extrema
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
106
vulnerabilidade. A existência cotidiana, como uma atitude política limite, em que a
resistência se expressa por um saudável interesse em sobreviver.
Figura 9. Resistência humana e espacial. Desenho por Vanessa Pens.
BIBLIOGRAPHY
Kuschnir, Karina. 2012. “Desenhando cidades”. Sociologia & Antropologia, 2(4), Pp. 295-314.
Kuschnir, Karina. 2014. "Ensinando Antropólogos a desenhar: uma experiência didática e de
pesquisa". Cadernos de Antropologia e Arte, vol. 3, n. 2, pp. 23-46.
Uriarte, Urpi. M. 2012. “O que é fazer etnografia para os antropólogos”. Revista PontoUrbe. Edição
11. Ano 6.
NOTES
1. Este ensaio é produto da dissertação de mestrado apresentada na Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo em setembro de 2015 (“Condições do lugar: Relações entre saúde e
ambiente para pessoas que usam crack no bairro da Luz, especificamente na região denominada
cracolândia”), orientado por Rubens de Camargo Ferreira Adorno.
2. Não se tem clareza da origem do termo ‘cracolândia’. Apesar de as pessoas que usam drogas se
apropriarem do termo, e em alguns momentos fazerem referência à Disneylândia, uma matéria
de jornal de 1995 já utilizava o termo. http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19950807-37182-
nac-0015-cid-c3-not/busca/Cracol%C3%A2ndia.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
107
3. Instituição que atua na perspectiva da Redução de Danos pensando alternativas de cuidado
com pessoas que usam drogas desde 1998. Atuo como redutor de danos desde 2004 na
cracolândia. Centro de Convivência É de Lei – www.edelei.org
4. Como valorização da linguagem visual, fizemos um acordo padrão com os desenhistas para
remuneração dos desenhos.
5. Realizamos trabalho de campo juntos pelo Centro de Convivência E de Lei entre 2013 e 2015.
6. Guarda Civil Metropolitana.
7. Programa do Governo do Estado de SP para tratamento de pessoas que fazem uso de drogas.
ABSTRACTS
Registra-se neste ensaio, uma narrativa visual de fragmentos da vida na “cracolândia” em São
Paulo. Esta narrativa é composta por desenhos, executados por diferentes ilustradores, tendo por
fonte de inspiração o trabalho de campo realizado neste território.
This essay presents narratives and images of the life of crack users in “Cracolândia”, São Paulo. It
is composed of drawings by different illustrators, based on the author’s observations in the
course of his fieldwork.
INDEX
Keywords: environment, cracolândia, drug use, drawing
Palavras-chave: ambiente, uso de drogas, antropologia, desenho, cotidiano
AUTHOR
THIAGO GODOI CALIL
FSP-USP, São Paulo, Brasil
thiguitto@hotmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
108
Desenhando nas margens. Diário de
campo visual de uma experiência
etnográfica
Drawing at the river bank: a visual field diary of an ethnographic experience
Fernando Monteiro Camargo
EDITOR'S NOTE
Recebido em: 2016-01-29
Aceitado em: 2016-07-12
Introdução
1 A cidade de Piracicaba fica a 152 km da capital do estado de São Paulo e possui 364.571
habitantes (IBGE s.d.). Essa cidade é uma referência para os moradores das demais cidades
da região que buscam bens e serviços especializados, como comércio, serviços de saúde,
atividades artístico-culturais e de lazer. Diferentemente da cidade de São Paulo, que teve
o seu processo de urbanização iniciado no século XIX, Piracicaba é uma cidade de médio
porte e suas transformações espaciais são fruto de processos recentes, a partir da metade
do século XX. Isto se deu, entre outros fatores, pela política federal de incentivo à
interiorização da industrialização realizadas nos anos de 1973 e 1975 (Sposito 2004). Essas
transformações ocasionaram a proliferação de condomínios fechados, edifícios verticais,
shopping centers etc., que ofereceram à cidade formas de sociabilidade que incorporaram o
que Simmel (1973) chamou de “modos de vida da metrópole” e, ao mesmo tempo,
“preservaram modos de vida interioranos”,1 criando uma forma de sociabilidade
específica.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
109
2 A Rua do Porto está localizada na margem esquerda do rio Piracicaba e a três quarteirões
do centro comercial da cidade. Ela é palco de inúmeras formas de sociabilidade que se
transfiguram com a passagem do tempo e do espaço. Ora é ocupada por aposentados
jogando caxeta ou dominó, ora serve de palco para apresentações e exposições artísticas;
algumas vezes, vira trajeto de procissão, outras vezes é local de confraternização; também
é lugar de turismo gastronômico ou, então, local de passagem para chegar à pista de skate.
É ponto de encontro de jovens e local de admiração das águas do rio Piracicaba e de
edifícios antigos, reconhecidos como patrimônios históricos da cidade. Já abrigou um
engenho de cana de açúcar, olarias, uma indústria de tecidos e fabriquetas de pamonha.
Foi local de prostituição, venda de drogas e de crimes que marcaram a cidade. Também é
local de estudos históricos, arqueológicos, antropológicos, geográficos, arquitetônicos e
urbanísticos. Essa multiplicidade de vivências que a rua oferece motivou a pesquisa de
mestrado.
Do processo etnográfico ao caderno de campo visual
3 Com o intuito de mapear os usos e ocupações da Rua do Porto, construí, durante a minha
pesquisa, um caderno de imagens unindo fotografias e desenhos dessa rua2. Esse caderno
se aproxima daquilo que Taussig (2011) define como “diário de campo”, um álbum de
recortes que permite sua leitura e releitura de diferentes formas, podendo encontrar
significados e combinações inesperados, no jogo entre acaso e destino, ordem e desordem.
4 Num primeiro momento, procurei construir meus trajetos realizando uma espécie de
registro fotográfico por onde caminhava na Rua do Porto. Após esse trabalho, como que
num ritual, chegava à minha casa, descarregava as imagens em meu computador e ficava
algumas horas olhando para elas, tentando encontrar ligações, talvez obscuras, nos
registros imagéticos.
5 Foi a partir do momento em que decidi fotografar que passei a olhar para as margens do
rio e, por sua vez, para os pescadores. Ao fotografar a cidade criei uma narrativa da
memória que quebra com uma discursividade linear e que faz emergir outras imagens e
memórias. Depois desse dia, como um arqueólogo, comecei cada vez mais a procurar pelos
fragmentos e “vestígios” desse personagem, que parecia ter uma relação específica com a
rua.
6 Encontrei os pescadores não somente pescando, quase imperceptíveis nos barrancos
embaixo dos deques de madeira. Sua “identidade” também se reflete no peixe grafitado
na parede do Largo dos Pescadores, nos peixes vendidos nos restaurantes, nos bonecos de
sucata expostos na Casa do Povoador, nas botas que, nos períodos de cheia, boiam no rio e
nos períodos de seca são confundidas com pedras. Outras vezes são seus barcos que estão
lá compondo a paisagem ou suas varas de pescar e minhocas vendidas em pequenas casas
e mercadinhos. Algumas vezes está nos restos de iscas e materiais utilizados na pescaria
deixados pelo barranco; e há as ocasiões em que os pescadores estão liderando momentos
da Festa do Divino Espírito Santo, como a Derrubada dos Barcos,3 etc.
7 Comecei a olhar para as imagens que havia produzido em campo e para os pescadores que
emergiam da imagem, tentando elaborar montagens unindo desenhos e fotografias. A
escolha do desenho se deu uma vez que enxerguei nele a possibilidade de incluir
elementos que não havia captado com a câmera nas imagens fotográficas. Além disso,
considerei que a antropologia e o desenho são modos de ver e, também, modos de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
110
conhecer o mundo. Construí narrativas imagéticas que mostram meu percurso pela Rua
do Porto.
This media file cannot be displayed. Please refer to the online document http://
8 cadernosaa.revues.org/1139
9 Como não encontrei um caderno ideal como suporte para essas imagens decidi construir
um caderno costurando suas páginas. A capa foi feita com uma espécie de papelão
encapado com um tecido quadriculado, cinzento. Para as páginas internas utilizei papel
Canson (180 gramas) e, para costurar, utilizei uma linha de costura grossa, marrom, de
polipropileno.
10 As fotografias, todas de minha autoria, foram impressas em papel couché e em papel 100%
algodão. Imprimi uma dezena de imagens e recortei alguns elementos, por exemplo,
pescadores, casas, janelas, pedras, barcos etc. Depois, dispus os elementos sobre as
páginas, testando composições e conexões.
11 A escolha de construir um diálogo entre fotografia e desenho em meu caderno de campo
partiu do diálogo entre mim e Laura, minha esposa. Os desenhos, feitos por minha esposa,
foram esboçados com lápis grafite 6B e depois contornados com caneta nanquim. 4
Algumas vezes os desenhos surgiram primeiro, para depois as páginas serem completadas
com os pedaços das fotografias; outras vezes, os recortes vinham primeiro e os desenhos
preenchiam os espaços vazios. Algumas vezes pedia a Laura que desenhasse o que eu não
havia fotografado e gostaria que estivesse na imagem; outras vezes ela desenhava aquilo
que sentia faltar na imagem. Nas composições, muitas vezes foi necessário criar relações
entre as páginas. Dessa forma, criei alguns “vazados” de uma página para a outra.
Também precisei sobrepor imagens. Para isso utilizei papel de arroz, que depois de
receber os traços, foi colado sobre algumas páginas do caderno.
12 As sobreposições de papeis e desenhos sobrepõem também temporalidades e
espacialidades da Rua do Porto. As linhas desenhadas unem momentos distantes e
também distanciam aqueles de maior proximidade. As montagens fizeram com que eu
deslocasse meu caminhar direcionado, até então, “para as margens”, para um caminhar
“nas margens”. Eu que sempre andei pelo meio, olhando para as margens, encanto-me
com a ideia de andar pelas margens.
13 No exercício de “montagem, desmontagem e remontagem”, procurei explorar as fissuras
temporais, os movimentos dos frequentadores e os meus sentimentos, significados e
emoções diante da Rua do Porto. As montagens trazem as camadas temporais dessa rua
sem esquecer minhas camadas e limitações diante dela. As imagens oferecem
possibilidades de explorar, imaginar, sentir, ordenar e desordenar a Rua do Porto. Elas
evocam visões, olhares, fantasmas que, por sua vez, despertam lugares e tempos. Os
pescadores, que já haviam se destacado em minhas fotografias, ganharam ainda maior
destaque. É com eles que eu vou em minhas novas caminhadas.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
111
BIBLIOGRAPHY
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados gerais do município de Piracicaba. s.d.
Retrieved July, 20, 2015 (http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=353870).
Simmel, G. 1973. “A metrópole e a vida mental.” Pp. 11-25 in O fenômeno urbano, edited by O. G.
Velho. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
Sposito, M. B. E. 2004. “Novos conteúdos nas periferias urbanas das cidades médias do estado de
São Paulo, Brasil.” in Investigaciones Geográficas, 54: 114-34.
Taussig, Michael. 2011. I swear I saw this: drawings in fieldwork notebooks, namely may own.
Chicago e Londres: The University of Chicago Press.
NOTES
1. Por “modos de vida interioranos” compreendo as relações e vínculos de longa data
estabelecidos entre moradores da cidade. Vínculos estes que contribuem para o comércio que
vende “fiado”, para a troca de bens e serviços. Além disso, em Piracicaba a coluna social dos três
jornais locais tem grande valor simbólico para os habitantes da cidade e tantos outros traços
materiais e comportamentais.
2. O caderno surgiu a partir de um exercício proposto por minha orientadora, Profa. Dra. Andrea
Barbosa, no âmbito do Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas na Unifesp (Visurb). Dei
continuidade à construção desse caderno durante todo o percurso de pesquisa ocupando lugar
central em meu estudo sobre a Rua do Porto. A tarefa iniciou-se no segundo semestre de 2014.
3. A Derrubada de Barcos é um evento da Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba que ocorre
anualmente no primeiro domingo de julho, marcando o início da festa. Nesse evento, após uma
missa realizada no salão da Irmandade do Divino de Piracicaba, dois barcos seguem em procissão
e, após a bênção de um padre, são colocados nas águas do rio Piracicaba pelos barqueiros do
Divino.
4. Laura não é antropóloga nem desenhista profissional, apenas gosta de desenhar e das
pesquisas em antropologia.
ABSTRACTS
O objetivo dessa publicação é o de apresentar o Diário de Campo Visual desenvolvido durante
minha pesquisa de mestrado, que tem como tema o estudo das relações que diferentes atores
estabelecem na e com a cidade. O estudo foi desenvolvido na Rua do Porto, na cidade de
Piracicaba, SP, Brasil. No processo de pesquisa, utilizei o equipamento fotográfico e o desenho
como recursos para elaborar uma cartografia de minha experiência. Em minha experiência
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
112
imagética, descobri o pescador, personagem que reúne presente e passado e que sobrevive no
barranco do rio Piracicaba.
This article presents a visual field diary which was elaborated in the course of the author’s
research on the relationships of different actors with and within the city. The study took place in
Rua do Porto in the city of Piracicaba, São Paulo, Brazil. During the research, photography and
drawings were employed as resources to develop a mapping of the fieldworker’s research
experience. One of the characters discovered during the author’s “imagery experience” was a
fisherman, an informant who embodies both the city’s past and present, surviving on the banks
of Piracicaba river.
INDEX
Keywords: anthropology and drawing, Brazil, visual anthropology
Palavras-chave: antropologia e desenho, antropologia visual, Brasil
AUTHOR
FERNANDO MONTEIRO CAMARGO
UNIFESP, São Paulo, Brasil. Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas da Universidade Federal de São
Paulo (Visurb).
camargo.fmc@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
113
Artigos
Articles
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
114
Na cozinha da pesquisa: relato de
experiência na disciplina “Métodos e
Técnicas em Antropologia Social”
In the research kitchen: experiences with teaching “Methods and Techniques of
Social Anthropology”
Fabiene Gama and Soraya Fleischer
EDITOR'S NOTE
Recebido em: 2016-07-07
Aceitado em: 2016-09-13
Introdução
1 Em geral, artigos científicos antropológicos apresentam e discutem resultados de alguma
experimentação empírica. Contudo, poucos são aqueles que apresentam e discutem
resultados de uma experimentação de natureza didática (Sanabria 2005: 15). Grande parte
de nosso tempo enquanto acadêmicas é passado em sala de aula, mas pouco somos
estimuladas a refletir sobre o conhecimento que produzimos em companhia das
estudantes1. Por enquanto, há poucos espaços específicos nos periódicos da área para esse
tipo de relato, embora alguns textos tenham sido publicados (Grossi et al 2006; Tavares et
al 2010; Fleischer 2012; Fleischer et al 2014; Gama e Kuschnir 2014; Schweig 2015; Sanabria
2005) e, de modo mais expressivo, eventos tenham sido organizados nesse sentido
(Sanabria 2005: 12).
2 Sanabria lembra que um dos principais interesses “no ensino atualizaria a capacidade de
auto-reflexão atribuída com freqüência à antropologia” (2005: 13) e Schweig (2015: 18),
baseando-se em Ingold (2014), aponta para o fato de que a educação é uma dimensão do
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
115
conhecimento antropológico. E que a Antropologia é uma “correspondência educacional com
a vida real”, à medida em que pressupõe o desenvolvimento de “habilidades de percepção
e capacidades de julgamento” sobre o mundo. Desse modo, o presente artigo pretende
contribuir para a discussão sobre a prática docente na Antropologia ao refletir sobre a
elaboração e a condução de uma disciplina obrigatória oferecida no Departamento de
Antropologia da Universidade de Brasília (DAN). O curso, “Métodos e Técnicas em
Antropologia Social (MTAS)”, foi por nós assumido no primeiro semestre de 2015 e tinha
90h, distribuídas em 15 semanas, com três encontros de 2h por semana. Naquela ocasião,
contou com 36 estudantes.
3 Em nossa compreensão, MTAS pretende “apresentar dimensões das práticas de pesquisa
em antropologia social de modo a, entre outras coisas, capacitar para a preparação de
pesquisas etnográficas e também da monografia de conclusão de curso” (programa de
curso, 2015)2. Quer dizer, não apenas estimular as estudantes a considerar a monografia
como uma oportunidade factível e criativa (já que muitas estudantes optam por não a
realizar para se formarem apenas como “Bacharel em Ciências Sociais”), como também a
incentivá-las como pesquisadoras para os desafios que enfrentarão no mercado de
trabalho. Acreditamos que vale refletir sobre esta disciplina porque muitos cursos de
Ciências Sociais contam com algo bastante semelhante em seu currículo. E porque a
reflexão sobre o ensino dos nossos métodos, tão fundamentais para nossas atuações
profissionais, é primordial para a produção de conhecimentos antropológicos. Assim,
esperamos que aqui possam ser encontrados subsídios para consolidar a importância
dessa disciplina na formação na área e avançar na construção de um leque cada vez mais
criativo para sua realização.
4 Seguimos um consenso atual de que não há um manual para se fazer boa pesquisa
antropológica. Embora conte com algumas publicações nesse sentido, de clássicos (Mauss
1993[1947]) aos mais recentes (Gomes 2015, para um exemplo nacional), a pós-
modernidade na Antropologia tem questionado profundamente qualquer orientação
monolítica da pesquisa empírica, cabendo apenas reflexões e decisões customizadas
diante de cada empreendimento realizado. Como Wright-Mills (1980[1959]) sugeriu, não
temos qualquer fetichismo pelo método e a disciplina não pretendeu ditar regras rígidas
ou generalizáveis para as pesquisas imaginadas pelas estudantes matriculadas. Contudo,
fizemos uma opção por desenhar a disciplina para que fosse muito prática e concreta.
Tanto planejamos apresentar as etapas mais comuns de uma pesquisa (definição do tema,
pesquisa bibliográfica, pesquisa empírica, registro dos dados e construção de uma
narrativa textual/fotográfica/audiovisual), quanto as diversas técnicas para fazê-la
acontecer (mapeamento geográfico e territorial; aproximação, apresentação da pesquisa e
convite para participar; diálogos e monólogos; conversas e entrevistas; perguntas
espontâneas ou dirigidas; gravação de áudio/vídeo e registros escritos e fotográficos;
revisitação e continuação das conversas; autoria e representação; devolução de
resultados; despedidas etc.). O intuito não foi vulgarizar a empreitada etnográfica, mas
incentivar que a realidade experimentada respirasse com ares mais críticos e reflexivos.
5 Como mostraremos, fizemos uma aposta por intensificar o mergulho nas técnicas e,
sobretudo, por compartilhar os resultados desse mergulho. Assim, se é improdutivo
apresentar um manual de pesquisa, sugerimos ser possível apresentar um repertório de
experiências, dilemas e soluções. A expectativa era munir as estudantes de uma plêiade de
estratégias para que, em suas pesquisas futuras, estivessem com a imaginação aguçada o
suficiente para lidar com os problemas que se apresentassem e, mais importante, para
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
116
inventar saídas criativas e ajustadas diante de cada caso. Nosso objetivo foi formar
estudantes em técnicas de pesquisa que partissem dos usos dos clássicos gravadores e
cadernos de notas, mas que os ultrapassassem ao serem atualizados e contrastados com
outras formas de perceber, documentar e experimentar o mundo. A seguir, o artigo fará
uma apresentação geral da disciplina. Depois, descreverá as cinco idas a campo 3 e
discutirá os principais resultados dessas atividades. Por fim, apontará alguns benefícios
desse formato didático.
MTAS em linhas gerais
6 No DAN, estudantes geralmente cursam MTAS no meio da graduação. Precisam já ter
cursado outras disciplinas obrigatórias (“Introdução à Antropologia”, “Teoria
Antropológica I e II”). Quem simplesmente segue o fluxo de modo contínuo e sem
reprovações, chega à disciplina no quinto semestre. Mas muitas estudantes adiam
propositalmente MTAS. Circula entre elas a informação de que seria necessário já ter
estabelecido o tema da monografia antes de se matricular na disciplina. Algumas
professoras optam por desenhar MTAS como uma antessala da pesquisa monográfica
para, ao final, a estudante ter um rascunho do projeto a ser apresentado como “cartão de
visita” a uma possível orientadora. Assim, muitas estudantes ficavam à espera, semestre
após semestre, “de um tema para chamar de seu” (como uma estudante definiu), algo
suficientemente original a ponto de lhe render a chance de ser aceita pela futura
orientadora e também “se tornar um sobrenome famoso” (como outra estudante
confidenciou). Notamos que poucas sabiam da possibilidade de se engajar em pesquisas já
em curso, tornando-se membro de uma equipe. Ainda assim, essa alternativa era
entendida como menos nobre porque o tema não fora “inventado” pela estudante.
7 Nós entendemos que o projeto de pesquisa será melhor construído um pouco mais à
frente, junto à orientadora, e vemos MTAS como um exercício de primeiro contato com os
desafios práticos da pesquisa. A ideia foi transformar MTAS em um espaço mais
confortável, leve, criativo e produtivo. Assim, tentamos acolher todo mundo. Não havia
exigência de que o tema já tivesse sido recortado, que fosse “descoberto” ao longo do
semestre ou mesmo que a experiência se revertesse “no tema” de pesquisa monográfica.
As experiências ali desenvolvidas seriam combustível para reflexão durante a disciplina.
A ideia era ficar à vontade para aproveitar tudo o que pudesse surgir – positivo ou não – e
construir a confiança necessária para a sensibilidade antropológica se desenvolver.
8 Além disso, no momento de MTAS, a maioria das estudantes só teve contato com
disciplinas teóricas, em que leram sobre a história da Antropologia e a intensa
autorrevisão feita pela área. Chegam muito afiadas, com críticas disparadas facilmente
para todo lado, mas também chegam desconstruídas, desencantadas, perdidas, cheias de
cuidados para não deslizarem e serem acusadas de etnocêntricas, imperialistas e/ou
neocolonialistas. A maioria nunca fez pesquisa, nunca entrevistou uma pessoa, nunca
abordou alguém para uma conversa. Ou seja, vêm com alguma bagagem conceitual, mas
não sabem como produzir antropologia. Ao propormos algo mais prático, sentimos no
início certo desconforto por parte da turma. Como se aquilo que não fosse teórico não
pudesse ser legítimo; como se aquilo que não fosse produzido alhures (e, de preferência,
além-mar) não pudesse ser suficiente; como se aquilo que fosse produzido por uma colega
da carteira ao lado não pudesse ser conhecimento; como se aquilo que fosse produzido
pelo corpo (que anda, olha, é olhado, sente etc.) e não pela linguagem verbal e escrita
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
117
fosse menor. Fomos percebendo, à medida que a disciplina avançava, que partir para a
prática, discutindo de modo muito singelo técnicas de pesquisa, poderia ser uma
ferramenta potente para desconstruir certezas. Ao menos permitir que algumas balizas
pudessem ser testadas e construídas para uso futuro.
9 A disciplina contou com seis diferentes tipos de aulas: 1) leitura prévia e discussão em sala
de aula de textos de autoras externas; 2) leitura prévia e discussão em sala de aula de
monografias de egressas do DAN; 3) participação nos “Seminários do DAN”; 4) oficinas de
desenho, fotografia e vídeo; 5) saídas de campo; 6) discussões sobre as saídas. Cada tipo de
aula exigia certo tipo de tarefa. Diante dos textos, monografias e seminários, esperávamos
que participassem individualmente, atentas à discussão, tomando notas e colocando suas
impressões sobre o que fora lido e ouvido. Aproveitamos para convidar as autoras das
monografias para que contassem como haviam realizado a pesquisa e a escrita do texto.
Como se espera uma monografia ao final da graduação, era preciso que as estudantes
tivessem referências sobre como produzir esse artefato. No caso dos “Seminários do
DAN”, que aconteciam mensalmente no departamento, teriam contato com autoras
conhecidas, com ampla diversidade temática e que tinham partido da pesquisa empírica e
artesanal para chegar às suas conclusões mais ousadas.
10 Para as saídas de campo, que aconteciam a cada duas ou três semanas, elegemos uma área
comercial próxima ao campus Darcy Ribeiro, o “Setor Comercial Local Norte 408/409”. O
Plano Piloto de Brasília é organizado em espaços residenciais e comerciais. No primeiro
tipo de espaço, há pouca circulação de pessoas, sobretudo por conta da cultura
automobilística que predomina na cidade. No segundo tipo, há uma intensificação de
circulação e interação social, atmosfera propícia para a observação e interpelação
antropológicas. Uma “quadra comercial”, como dizemos, consiste em dez blocos de três
andares com dezenas de lojas (salões de beleza, farmácias, botequins, mercearias,
butiques, petshops, etc.) e pequenas quitinetes residenciais. Há espaços com bancos e
pequenos jardins, canteiros e murais, centro de saúde, bancas de jornal, supermercado,
ONGs, quiosques de chaveiros e sapateiros. Queríamos um espaço que fosse fora dos
limites do campus, para que deixássemos a familiaridade da vida universitária e
encontrássemos um mínimo de estranhamento e, ao mesmo tempo, que não fosse
distante demais e inviabilizasse a grade horária das estudantes, já que teriam aulas antes
e/ou depois de MTAS.
11 Essa quadra comercial era próxima o bastante para que, a partir do campus, se chegasse a
pé, de bicicleta ou de carro em poucos minutos. E distante o suficiente para que a turma
pudesse perceber que nem tudo que era familiar era conhecido (Velho 1981), como
lembraram alguns estudantes: “Eu fiquei atordoado com o fato de as saídas de campo
serem na 408. ‘Que tema vou escolher ali?’, pensei”, contou Fernando Launé. “Eu
frequentava há 15 anos essa quadra. Achava que a conhecia. Mas agora vejo que não”,
percebeu Matheus Sousa. Por fim, queríamos que as saídas acontecessem no período da
aula para que se tornassem uma rotina, para que pudéssemos ali mesmo partilhar a
experiência, vertendo os resultados para a consecução da aula, e para evitar onerar as
estudantes ao terem que acionar outro turno para realizar a minipesquisa. E como as
aulas aconteciam em diferentes espaços da universidade e de seus arredores, utilizamos o
Moodle (e também e-mail, WhattsApp etc.) para manter uma comunicação fina e evitar
desencontros.
12 A disciplina foi desenhada tendo a experimentação empírica como espinha dorsal. Isso
quer dizer que o conteúdo que embalaria as discussões das aulas partiria, sobretudo,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
118
daquilo que fosse observado, registrado, fotografado, sentido e compreendido pelas
estudantes a partir das saídas de campo. Como a aluna Daniela Torrentera resumiu, “As
estudantes faziam a aula”. Para as oficinas e saídas de campo, as estudantes se dividiram
em duplas (e em alguns poucos trios) com quem trabalhariam ao longo de todo o
semestre. As discussões sobre as saídas começavam em dupla, mas terminavam em uma
grande roda de conversa, em que todas poderiam ver seus rostos e expressões (e não os
pescoços e cabelos, como acontece na disposição das carteiras escolares em fileiras). Na
roda inicial, repassávamos os objetivos daquela saída, ouvíamos como haviam planejado
conduzir a pesquisa naquele dia e debatíamos as dúvidas e inseguranças que por ventura
surgissem. Na roda final, sob a sombra dos pilotis de algum bloco residencial, as
estudantes comunicavam de chofre os pontos altos e baixos enfrentados. Semelhanças
eram percebidas nos aprendizados, soluções e sugestões circulavam e poderiam ser
testadas na próxima saída. A mudança dos corpos dentro e fora da sala de aula ajudava a
mudar de perspectiva, passavam a ver o ambiente e as pessoas por outros ângulos (ver
Imagem 1).
Imagem 1: Roda de conversa ao final de uma saída de campo.
13 Usamos novas e velhas tecnologias para registro e apresentação dos dados: caneta, papel e
cadernos (para anotações, diários e desenhos), câmeras fotográficas e aparelhos de
telefone celular (para gravar áudios, fazer fotos e produzir vídeos) e a Internet (para
trocar textos, imagens, realizar pesquisas bibliográficas e eventualmente trabalho de
campo de modo remoto). Além das referências teóricas, as discussões durante a disciplina
também foram motivadas pelos depoimentos, diários de campo, entrevistas transcritas,
desenhos, fotografias, vídeos – todos produzidos pelas estudantes. Aqui, estava em curso o
que chamamos de “aprendizado horizontal”, já que o conhecimento lido e aprendido
tinha sido gerado pelas colegas da disciplina. Apostamos que muito já era aprendido de
modo tácito e informal entre elas, mas nosso intuito foi oficializar esse tipo de
conhecimento na disciplina. Esse aprendizado era também recíproco, já que aquela que
lesse o texto da colega hoje, teria seu texto lido por essa mesma colega amanhã. Notamos
que era muito mais fácil criticar o texto de alguém com quem dificilmente se
encontrariam do que o de uma colega. Portanto, estávamos a estimular formas de
questionar um texto na frente da autora, olhando em seus olhos e percebendo suas
reações. Não só empatia, gentileza, paciência e respeito eram estimulados, mas a real
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
119
possibilidade de que, pelos acertos e desacertos da outra, também se aprendesse novas
formas de fazer (ou não) Antropologia.
Imagem 2: Trecho do diário de campo de Ana Clara Damásio, comentado por vários colegas.
14 Essa estratégia se estendia também para os comentários escritos por nós e pelas colegas
nos textos produzidos (ver Imagem 2). Como um diário seria lido por duas ou três pessoas,
dentre elas a dupla, sugerimos que fizessem marcações com canetas de diferentes cores,
permitindo que cada leitora subsequente aprendesse com os insights da anterior. Ler e
reler diários de campo e entrevistas eram etapas de aproximação e compreensão dos
dados. Uma mesma entrevista, por exemplo, poderia gerar muitos comentários,
evidenciando, assim, a riqueza e densidade de um mesmo material. Recomendamos que
considerassem esses comentários como um diálogo, como mais um conjunto de ideias que
poderiam fazer avançar a reflexão sobre o tema de pesquisa.
15 No início dessa prática, notamos duas angústias. Por um lado, algumas estudantes
julgavam ter que responder a todas as perguntas escritas na margem de seus textos,
sendo que muitas dessas perguntas não tinham ainda respostas possíveis. Por outro lado,
algumas se intimidaram em comentar os exercícios, sabendo que depois seriam lidos
também pelas professoras. Estavam preocupadas de que esses comentários rebaixassem a
menção da colega. Foi preciso construir paulatinamente uma atmosfera coletiva de
confiança, reforçando que esperávamos que os comentários servissem para ampliar a
capacidade criativa das pesquisadoras em relação aos seus temas. Por exemplo, os
comentários visavam revelar lacunas de informações, sugerir perguntas a serem re/feitas
em campo, oferecer insights com chance de adensar a relação com a interlocutora.
16 Lemos também textos de outras autoras, mais ou menos canônicas, que haviam
consolidado conceitos-chave, sistematizado suas próprias experiências de pesquisa
empírica, oferecendo um panorama histórico sobre as discussões metodológicas na
Antropologia. Mas guardamos uma orientação importante: diminuir o número de textos
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
120
externos para abrir espaço para os textos das estudantes, as saídas de campo e, mais
importante, a discussão das intensas experiências das saídas. Cada encontro fora de sala
demandava uma ou duas seções subsequentes de debriefing dentro de sala de aula, seja a
partir dos relatos, seja pelos textos produzidos. Era comum, claro, que essas seções fossem
permeadas por ideias-chave anunciadas nos textos e monografias que íamos conhecendo.
As cinco saídas de campo
17 Nessa seção, descreveremos as cinco saídas de campo que realizamos e alguns dos
exercícios gerados. Certos exercícios foram feitos conjuntamente pela dupla, como a
realização e transcrição de uma entrevista; outros foram individuais, como comentários
sobre os “Seminários do DAN” ou os diários de campo. Lemos, comentamos e devolvemos
cada exercício que nos foi apresentado. Sugerimos que criassem um sistema de
arquivamento desse material, já indicando a importância da organização e cuidado com
nossos materiais de pesquisa (Wright-Mills 1980[1959]). Eles serviriam não apenas para
produzir o “trabalho final” da disciplina, mas poderiam ser reutilizados futuramente.
Saída 1
18 Antes de realizar a primeira saída de campo, lemos textos introdutórios e organizamos
uma oficina de desenho. Essa saída foi por nós chamada de “caminhada interessada”, ao
propormos que mapeassem a quadra comercial, sem a necessidade de interagir com seus
personagens. Deveriam caminhar e olhar o território de forma despretensiosa, entender a
organização do espaço, notar particularidades e estranhamentos. A ideia era chegar
devagar e conseguir formular uma ambientação do lugar (Brandão 2007). Como forma de
registro, sugerimos que desenhassem, ferramenta largamente utilizada (mas pouco
discutida) por expoentes clássicos e contemporâneos, de Malinowski (1984[1922]) a
Taussig (2011). Desejávamos que o desenho se transformasse em mais um aliado em
campo. Recebemos a visita da antropóloga do Instituto de Artes/UnB, Luísa Günther, que
nos lembrou como o desenho desafia frontalmente o que chamou de “grafocentrismo”,
meio de expressão tradicionalmente instalado na Antropologia (Günther 2013).
19 Günther tinha razão. Logo notamos que algumas estudantes resistiram a usar uma
ferramenta diferente da escrita. Alegaram que “não sabiam desenhar”. Tentamos
desconstruir a ideia de que há um “jeito certo” de fazer um desenho ou qualquer outro
produto antropológico. Lembramos da diferença entre um desenho realista e um registro
gráfico, sendo este último o nosso objetivo para produzir conhecimento (Gama e Kuschnir
2014). Sugerimos que se ativessem menos à retratação realista e mais ao que Geertz (1995)
sugere como tom, atmosfera do lugar, seus espaços, pessoas, arranjos. Várias estudantes
se sentiram confortáveis para considerar a garatuja, o esboço, o croqui, a planta baixa e o
mapa como ferramentas para apreender um campo de pesquisa (Gama e Kuschnir 2014).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
121
Imagem 3: Desenho de Jósimo Constant
20 Desenhar se revelou também como companhia em momentos de insegurança, solidão e
tédio no campo. Os desenhos comunicaram mais do que a concretude dos prédios e ruas,
as áreas verdes do local (ver Imagem 3). Foram utilizados diversos materiais, cores,
texturas etc. para retratar as realidades observadas (ver Imagem 4). No conjunto, vimos
vários pontos de vista sobre a quadra comercial: cima/frente, amplo/detalhe, fora/dentro
etc. Mais do que espaços, muitos desenhos mostraram cenas, fluxos, animais e objetos,
vãos e vazios e, muito interessantemente, as cores de pele das pessoas do local. O desenho
revelava, assim, não ditos por parte da própria pesquisadora e os não vistos pelas demais
colegas de turma.
21 Em sala de aula, compartilharam os desenhos. Depois, colocamos todos eles sobre a mesa
maior e vimos juntas a produção da turma. Perguntas foram feitas, convergências foram
notadas, estratégias inovadoras de pictorização foram elogiadas, relações entre os textos
e os desenhos foram elaboradas.
Imagem 4: Desenhos de Cesar Noyola Davalos
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
122
22 Como o próximo exercício, solicitamos a apresentação de um tema (“pergunta” ou
“problema”) em um parágrafo. Esse tema lhes acompanharia ao longo do semestre, mas
se manteria aberto, revisto e aprimorado sempre que provocado pelos dados que fossem
surgindo. Cada novo exercício deveria se alimentar do anterior. A ideia era mostrar como
os materiais de pesquisa vão se organizando em cadeia, não necessariamente progressiva
e sim intercambiada e orgânica.
23 A partir daí, foi preciso conhecer quem já tinha pesquisado sobre aquele tema
anteriormente. Visitaram portais como Scielo, Google Acadêmico, PubMed, BIREME, BVS,
DOAJ, bases e repositórios (CAPES, IBICT, Ebrary) e a Plataforma Lattes. Discutimos como
funcionam periódicos e indexadores acadêmicos e solicitamos que elaborassem uma
primeira listagem bibliográfica sobre o tema escolhido. Utilizaram a Internet ou
recorreram a bibliotecas. Lembramos que textos lidos em outras disciplinas também
poderiam ter boas indicações bibliográficas, tentando valorizar o que já tivessem feito e
acumulado até aquele momento na graduação. Aproveitamos para falar de COMUT, ABNT,
Vancouver, EndNote, Mendley. Com a ajuda de Umberto Eco (1983[1977]), pensaram em
como organizar essas referências. Viram que, já na etapa da pesquisa bibliográfica, era
possível aprender sobre e, ao mesmo tempo, avançar o tema de pesquisa.
Saída 2
24 A segunda saída de campo previa que as estudantes travassem seu primeiro contato com
pessoas. Conforme o tema, esse contato poderia ser em uma loja, um espaço de
sociabilidade, com transeuntes ou moradoras de rua etc. O objetivo era suave: identificar
e abordar alguém, apresentar a pesquisa e as pesquisadoras e convidar para uma conversa
despretensiosa, sem roteiro, sem planos prévios. Era uma primeira aproximação para
sentir o campo e o nível de abertura das pessoas. Aqui, a licença para ficar e o
consentimento para conversar foram assuntos centrais. Foram notando que as pessoas
consentiam sua presença por vezes clara e oralmente, outras vezes tácita e indiretamente.
Entenderam que as negociações para lograrmos autorizações para ficar eram
continuadas. Não eram necessariamente cumulativas e definitivas, mas deveriam
acontecer diante de cada nova ação como abordar, perguntar, olhar, anotar, fotografar,
gravar etc. Começaram a entender que o “não” poderia surgir de muitas formas e, embora
frustrante, também comunicava algo a ser interpretado.
Imagem 5: Trecho do diário de campo de Carlota Moura
25 Aos poucos, foram se questionando se deveriam concordar com tudo que lhes fosse dito
em campo, como condição para serem aceitas e permanecer. Também aventaram como
lidar com as controvérsias. Raquel Lustosa comentou sobre o seu “incômodo de
incomodar”. Muitas estudantes pensavam: “Eu já estou no espaço do outro. Já estou
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
123
atrapalhando a vida dele. Eu tenho que ceder”. Perguntamos à turma: Estamos mesmo
atrapalhando? Quanto devemos ceder? Esses dilemas ficaram mais graves quando
investidas sexuais foram relatadas por algumas pesquisadoras, quando quem atrapalhava
eram os interlocutores (ver Imagem 5). A turma começava a navegar, na prática, pelas
relações de poder que permeiam as relações de pesquisa. Era preciso cuidado com o outro,
mas também cuidado consigo mesma. “É preciso se respeitar em campo”, disse Raina
Cassemiro.
26 Pairava certa tensão em abordar as pessoas e, por isso, optamos por entrar em campo
paulatinamente, com poucas tarefas por vez. Tentávamos assoberbar menos as estudantes
para que lidassem a seu próprio tempo com a timidez e a inexperiência. Também por isso
o trabalho em dupla foi recomendado, para que esse primeiro trabalho de campo gerasse
menos desamparo. Reconhecemos, contudo, que propor momentos fixados de antemão
para realizar saídas de campo guarda bastante artificialidade. Essa foi apenas uma
estratégia para trazer as saídas de campo para dentro da disciplina. Lembramos à turma
como, em geral, a frequência e o horário das visitas são definidos em negociação com as
interlocutoras em questão. Esse timing mais natural poderia, inclusive, contemplar o
biorritmo da pesquisadora, sua agenda, nível de timidez e sensação de solidão.
27 O exercício foi tomar notas durante a saída (se fosse possível e desejado) e depois escrever
um diário de campo.4 Para muitas, seria o primeiro diário de campo produzido e havia
certo desconhecimento sobre esse tipo de texto. Por isso, visitamos a biblioteca central da
UnB e solicitamos que cada dupla encontrasse um diário de campo publicado, o folheasse
e escolhesse trechos a serem lidos durante a aula. Ao final, discutimos: Que tipo de escrita
é essa? Em que pessoa e tempo verbal acontece? É possível notar a presença da autora no
texto? Como situações, cenas e personagens são descritos? Os diálogos aparecem em voz
passiva, com travessão, aspas? Houve edição para que o texto fosse publicado?
28 Recomendamos que o diário fosse escrito tão logo o campo fosse deixado. De preferência
na mesma noite ou, no mais tardar, na manhã seguinte. Lembramos que a memória é um
ingrediente importante na recapitulação do que acontecera e que a tendência era que se
diluísse com o passar do tempo. Monique Batista, uma das egressas do DAN convidadas
para falar sobre sua monografia (Batista 2014), contou que aprendeu, ao escrever seus
diários, que tudo deveria ser registrado, mesmo quando se achasse que não era um
assunto relacionado ao seu tema de pesquisa.
29 Sugerimos que pensassem sobre a forma como o diário de campo seria escrito (no
computador ou à mão, com caneta ou lápis, em caderno ou em folhas separadas) e onde
conseguiriam se concentrar e se reconectar com a experiência vivenciada. Reforçamos
que é preciso terminar a escrita de um diário para, só então, voltar ao campo. O ideal era
não deixar os diários a serem escritos acumularem, pois arriscava-se esquecer detalhes
vistos e ouvidos e confundir os diferentes dias de pesquisa. Caso desejassem, também
poderiam registrar como se sentiam nas diversas situações, chamando a atenção para a
importância das emoções na experiência etnográfica (Beatty 2005; Favret-Saada 2005;
Grossi 2004).
30 A todo tempo, provocávamos cada aluna a inventar seu próprio jeito de escrever sobre a
pesquisa. Cuidar dos registros era um pleito por valorizarem as informações trocadas com
as interlocutoras e desafiarem uma aparente falta de peso que pode ser associada às
conversas que acontecem em tom mais informal, rápido ou fragmentado. Escrever o
diário de campo era uma forma de ritualizar a realização da pesquisa empírica, criando
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
124
um momento específico para a memória ser acionada e a experiência revivida, agora de
um ponto de vista um pouco distante e mais reflexivo e analítico. Além de registrar
formalmente as saídas de campo, lembramos, inspiradas por Wright-Mills (1980[1959]),
que o diário deve se manter sempre aberto, para inclusão de qualquer material relativo à
pesquisa: sonhos, pensamentos marginais, cacos de informação ouvidos na rua (idem).
Manter o diário alimentaria o hábito de autorreflexão, deixando nosso mundo interior
sempre desperto, consolidando o hábito de escrever, deixando a mão sempre
desembaraçada (ibidem). Seguimos a ideia de que ver, ouvir e escrever – a todo tempo, no
campo ou alhures – guardam o caráter constitutivo da Antropologia (Cardoso de Oliveira
1998).
31 Sugerimos duas formas de escrita do diário: uma primeira para si, a mais “completa”
possível, repleta de descrições concretas de cenário, figurino, contexto, discursos,
fisionomias, tons de voz etc., produzida de modo livre, desinibido e catártico. E uma
segunda forma revisada para ser compartilhada com a dupla e depois com as colegas e as
professoras. Chamamos esse formato de “diário editado”, já que o objetivo era circular as
formas de escrita e descrição e não constranger as estudantes em seus desabafos,
inseguranças ou eventuais “equívocos” de forma ou de antropologia. Em sala de aula,
trocaram diários, leram umas às outras e, ao se permitirem serem lidas, foram
descobrindo juntas a miríade de percalços do fazer antropológico, percebendo que não
estavam sozinhas nessas descobertas. Crescíamos juntas. O “erro” de uma era lição para
todas. Isso humanizava o processo, tornava a antropologia mais próxima, mais possível,
mais concreta. Os bastidores da “magia antropológica” (Silva 2000) iam sendo percorridos
e, ao mesmo tempo, (des)construídos. A experiência da disciplina deixava de ser algo
abstrato, que ninguém sabia como era produzido, para se tornar uma etnografia vivida
(Peirano 2008).
32 Foram encontradas saídas interessantes e novos desafios. Notamos que o celular pode
estar se tornando o novo caderno de campo, já que anotações (escritas ou gravadas) eram
feitas no aparelho com facilidade e praticidade. Algumas gravavam um áudio tão logo
deixassem o campo para não esquecer e, quando podiam, passavam para o registro
escrito. Outras escreviam o diário com tudo o que lembrassem espontaneamente e, só
depois, recorreram às anotações, provocando a memória. Maria Fernanda Borges contou
sobre a saída de campo à mãe, ao namorado e à sua dupla, construindo o que chamou de
“pré-diários”. Ao narrar, lembrou de mais detalhes, afinou sua percepção e teve mais
segurança para escrever o diário definitivo. Como nos exercícios anteriores, aqui também,
como diziam, se sentiram “crisadas” (em crise) e tiveram que “fritar” (se desdobrar ou se
esforçar) para encontrar soluções.
33 Entre escutar e escrever durante a saída de campo, por vezes voltaram para casa com
parcas anotações, dificultando a redação do diário. Para driblar isso, Juliana Kitayama
passou a rabiscar palavras-chave enquanto conversava com as pessoas. Outras disseram
que foi difícil estabelecer a forma de narrar os diálogos que aconteciam em campo. Que
tempo verbal ou voz empregar (passiva/ativa)? Como reconstruir as conversas
descontraídas? Sugerimos também que registrassem suas próprias perguntas, para que
diálogos e não monólogos (da interlocutora) fossem retratados e para que ficasse claro o
contexto de enunciação, a resposta da interlocutora e o diálogo em curso. Notaram que
tinham mais facilidade de escrever sobre encontros e pessoas com quem tinham mais
empatia. Ponderaram sobre a própria presença no diário, se deveriam inserir sua
reflexividade ou não, avançando na discussão sobre autoria, subjetividade e autoridade
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
125
em campo e no texto. Ao ler o diário da dupla, perceberam complementariedades, mas
também focos e interpretações diferentes.
Saídas 3 e 4
34 Nas terceira e quarta saídas de campo propusemos que conversassem novamente com a
mesma interlocutora, agora de modo mais aprofundado, com perguntas mais
estruturadas. Seria preciso estar preparada para não encontrar a mesma pessoa naquela
saída e/ou receber uma negativa em engajar-se de novo na pesquisa. Como iam
percebendo a cada saída, “jogos de cintura” eram importantes para contornar as “saias
justas” (Bonetti e Fleischer 2007). A dupla preparou e submeteu ao escrutínio da turma
um roteiro de perguntas e suas estratégias para fazer a nova abordagem. Novamente,
comentários foram feitos e o set de perguntas ganhou em coerência, prioridade e
flexibilidade. Atentaram para perguntas redundantes e fechadas (sim/não), para os riscos
da indução de conteúdo, dos pressupostos etnocêntricos e do valor de exemplos e
histórias para ilustrar pontos de vista muito abstratos ou filosóficos.
35 Para essas saídas, fizemos oficinas de fotografia e vídeo, investindo em formas menos
discursivas de construção e apresentação de dados etnográficos. Lemos textos da
antropologia visual, analisamos imagens, fizemos exercícios práticos. Algumas estudantes
utilizaram seus aparelhos de telefone celular, outras recorreram a câmeras simples ou
mesmo semiprofissionais. As duplas se filmaram e depois revisaram os resultados,
pensando em enquadramento, som, abordagem etc. Os exercícios de vídeo foram bem
simples: visavam apenas ensinar a como gravar entrevistas e realizar imagens dos
ambientes. Não pretendíamos realizar filmes, mas incitar as estudantes a atentar para
informações visuais e sonoras (barulhos e silêncios) durante as gravações, bem como para
as repercussões dos equipamentos sobre a interação.
36 Mas os exercícios de foto foram mais complexos. Após uma oficina de análise de imagens
(onde discutimos enquadramento, composição, foco, ângulo, planos, cores, etc.),
propusemos um exercício de construção de narrativa visual. As estudantes deveriam, no
pavilhão de aulas e depois na quadra comercial, tirar fotografias para elaborar um ensaio
fotográfico. Sugerimos que utilizassem do sequenciamento das imagens e da combinação
entre fotos e legendas para contar uma história. Imagens e textos deveriam ter
importância equivalente, ser independentes e dialogar de forma colaborativa (Mitchell
2002). Henrique Rocha, por exemplo, realizou o ensaio reproduzido nas imagens 6 a 8.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
126
Imagem 6: Após a aula as jovens decidem passar pela cafeteria do Pavilhão João Calmon para
vender alguns ingressos para a festa junina da medicina.
37 As estudantes também deveriam definir as atribuições das duplas/trios para as terceira e
quarta saídas de campo: quem se ocuparia do caderno, da câmera, do roteiro de
perguntas, etc. Sugerimos que os papéis estabelecidos na terceira saída se invertessem na
quarta, possibilitando que as estudantes experimentassem com quais equipamentos se
sentiam mais confortáveis. Pouco a pouco, compreendiam a importância de treinamento,
preparação e organização prévios.
Imagem 7: Após a aula das 16h muitos já encerram suas aulas na UnB e vão-se embora. O sol já se
encontra inclinado, próximo ao momento de se por.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
127
Imagem 8: O ambiente universitário é muito heterogêneo: trabalhadores, estudantes, etc. Na hora de
ir embora, muitos utilizam o transporte público para saírem da universidade.
38 Acompanhadas de câmeras e gravadores, experimentaram resultados como som
deficitário, luz estourada, travelling tremido, enquadramentos que alienavam os sujeitos.
Se incomodaram com a agência dos equipamentos que, muitas vezes, conseguiam
consentimentos mais facilmente do que as estudantes haviam logrado nas primeiras
saídas, quando estavam “desequipadas”. Ou com a falta de espontaneidade frente às
câmeras. Aventaram o que poderia ser feito quando não havia a autorização formal para
fotografar as pessoas e começaram a pensar em planos abertos, cenas externas, ângulos
das costas ou sombras das pessoas. Frustraram-se com a bateria que acabou, o aparelho
que não funcionou ou a incapacidade de acionar suas funções de modo estratégico.
Notaram, por outro lado, que poderiam filmar detalhes impossíveis de serem captados
com a fala ou a escrita.
39 As entrevistas gravadas em áudio, produzidas na terceira saída, foram transcritas. As
entrevistas gravadas em vídeo, produzidas na quarta saída, foram decupadas. Essas
tarefas foram divididas pela dupla, o resultado foi trazido, circulado e discutido
coletivamente em sala de aula.
Saída 5
40 Após as saídas de campo para realização de caminhadas, conversas, entrevistas, fotos e
vídeos, entramos em uma etapa que visava discutir formas de despedida, devolução e
restituição. Chegávamos ao final da disciplina. Lemos alguns textos e analisamos
diferentes estratégias de devolução (Rial 2014; Gama 2009; Fleischer 2015). Consideramos
importante nos despedir formalmente, explicando às interlocutoras o que fazíamos, para
onde iriam os materiais produzidos, quais seriam as próximas etapas daquela
minipesquisa, da disciplina de MTAS, do curso de graduação etc. Assim, na quinta e última
saída de campo, algumas estudantes entregaram às suas interlocutoras fotos, entrevista
transcrita, vídeo, poesia, marcador de livros. Algumas se voluntariaram para ajudá-los em
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
128
seus trabalhos. Um estudante resolveu fazer suas refeições na lanchonete que vinha
frequentando. Cada dupla encontrou sua maneira de retribuir a atenção recebida e
valorizar a relação estabelecida.
41 Além disso, era hora de elaborar o “trabalho final”. Acordamos que deveria ser uma
autorreflexão do próprio aprendizado e desempenho ao longo do semestre. Propusemos
que as estudantes refletissem individualmente sobre o que haviam vivido. Que avaliassem
o que haviam aprendido com as leituras, seminários, oficinas, saídas de campo, exercícios,
com a companhia da dupla, da turma, das interlocutoras e das professoras, com a
produção individual e coletiva, dentro e fora da sala de aula, com escrita ou com outros
meios de expressão e registro. Deveriam considerar essa gama de experiências para
construírem uma comunicação de sete minutos a ser apresentada diante da turma. Assim,
o objetivo não foi analisar os dados construídos (como é comum ao final das disciplinas
temáticas) ou elaborar um projeto de pesquisa, mas realizar uma autoanálise
retrospectiva do trabalho empreendido ao longo de MTAS. Que técnicas funcionaram
melhor para a estudante? Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas? Quais as
descobertas mais importantes? O que imaginam poder ser útil quando empreendessem
sua pesquisa monográfica?
42 Cada apresentação foi uma surpresa: utilizaram diferentes mídias, aproveitaram de modo
criativo os exercícios elaborados, criaram poesia e colagens, usaram autoironia e
autocrítica para promover deslocamentos e rever hierarquias e certezas. Foi um momento
importante para que sistematizassem o vivido e percebessem os aprendizados comuns,
gerados individual e coletivamente. Também serviu para percebermos como é possível
produzir Antropologia com humor, arte e diferentes formas expressivas. Ficou clara a
aposta no aprendizado horizontal, em que o “conteúdo” de uma disciplina e a
“antropologia” de modo geral puderam ser produzidos com qualidade já por graduandas
e dentro, perto e nas redondezas da sala de aula.
Considerações finais
43 A possibilidade de vivenciar e partilhar uma primeira experiência etnográfica de maneira
coletiva foi ressaltada como produtiva por todas as estudantes, mas em especial pelas
mais tímidas. Se movê-las de uma posição de conforto gerava constrangimentos no início
e algumas faziam caretas quando convidadas a participar, ao interagirem com uma
desconhecida ou mesmo sentarem em círculo, ao final notamos uma mudança em suas
interações e comportamentos. Marina Fonseca avaliou positivamente que essa primeira
experiência de pesquisa empírica tivesse acontecido em dupla e com o suporte constante
da turma como um todo. Explicou que, até então, as leituras feitas no curso sugeriam
pensar a Antropologia como prática realizada sempre individualmente. Chamou de
“Síndrome de Indiana Jones”, aquele que tudo faz e tudo resolve sozinho. Dali em diante,
ela via a possibilidade de atuar em equipes de pesquisa, de construir redes de leitoras para
seus textos, de poder compartilhar as angústias do campo. Além disso, como Juliana
Kitayama lembrou, trabalhar em dupla permitiu que ela se percebesse como pesquisadora
por contraste e também por espelhamento com sua parceira.
44 Os exercícios individuais e coletivos estimulavam diferentes formas de se expor e
negociar ações. Assim, propor que MTAS fosse um curso coletivo foi também uma
tentativa de ajudar a preparar as estudantes para os próximos passos da sua atuação
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
129
profissional, quando a polifonia e a policromia possivelmente estarão presentes em suas
trajetórias. Ao estimularmos o senso crítico das alunas, mas também a reflexão sobre a
melhor forma de apresentar tais críticas, investíamos em uma antropologia mais
empática e menos solitária. Este ponto é raríssimas vezes trabalhado em sala de aula.
45 Ao longo do curso as estudantes escreveram, pensaram e leram muito. Passaram a ler o
que as colegas escreviam e a ouvir o que relatavam. Muitas comentaram que nunca
haviam escrito tanto em uma disciplina, mas que não havia sido pesado. Ao contrário,
começavam a perceber como escrever e reescrever aquecia, soltava e aprumava a mão
(Fleischer e Damásio 2015). Tomar notas, prestar atenção e até dirigir perguntas enquanto
outra pessoa conta algo é uma tarefa muito comum nas atividades acadêmicas e foi um
dos maiores desafios reportados pelas estudantes ao longo da disciplina. Como Peirano
recomenda (2008), ler na íntegra monografias e debater com as autoras reviu a prática de
só lermos os cânones mortos, famosos e distantes5. Também se mostrou como uma
estratégia para tornar a prática da disciplina mais palpável e acessível às iniciantes: elas
viam que pessoas como elas realizavam, defendiam e ganhavam prêmios com seus
trabalhos.6 Muitas nunca tinham lido uma monografia completa. Achavam algo quase
impossível de ser feito ou vislumbrado. Todos esses textos, produzidos artesanal e
localmente, ajudaram Raina Cassemiro a dizer, ao final do curso, “Antes era tudo abstrato.
Agora, já está mais concreto, já consigo imaginar como acontece uma pesquisa”. Mais do
que isso, estávamos todas, como disse Carlota Moura, a “desierarquizar o conhecimento”.
46 Ana Clara Damásio comentou que “Muitas colegas tiveram problemas durante a
pesquisa”. Mas perceberam que as demais também eram inexperientes, erravam,
tentavam de novo e nem sempre chegavam onde desejavam. Perceberam que apesar disso
tudo, não ficariam estigmatizadas como “menos brilhantes” nem teriam a “carreira”
comprometida. A sala de aula (e suas adjacências) ia se transformando num laboratório
humanizado, onde todas estariam na berlinda vez por outra e todas as outras estariam a
postos quando tombos ou angústias acontecessem. Iam percebendo que não saber e não
conseguir eram parte fundante e constante da Antropologia. Se bem revertidos em
curiosidade, criatividade e empenho poderiam funcionar como máquina propulsora da
boa etnografia e da boa teoria.
47 Se não há métodos pré-definidos na Antropologia, se eles costumam ser desenhados
conforme o tema, o campo e as pessoas que conhecemos, é importante construirmos um
repertório de experiências. As histórias do campo de uma colega serviram também para
aperfeiçoar o campo das demais, para adensar nosso estofo ético e metodológico, para
refletir sobre os andaimes da pesquisa que tendem a sumir dos artigos, da memória e dos
espaços oficiais (Silva 2000). Cada vez que confidenciavam uma “anedota do campo”,
contribuíam para a Antropologia avançar, sobretudo para se recriar. Ao final de MTAS,
Matheus Caetano comentou: “Agora podemos contar as nossas próprias anedotas”.
Notavam que haviam passado por um ritual de iniciação importante e, um pouco mais
familiares com a experiência de campo, sentiam-se partícipes da comunidade
antropológica. Assim, percebiam que “trabalho de campo é vivência”, como ressaltou
Jósimo Constant, em diálogo com o que Brandão (2007) ensinou: precisa ser vivido com
frequência e continuidade, a partir de sua subjetividade, biografia e estilo.
48 A disciplina contou com muita dinamicidade, desde a mudança da disposição dos moveis
dentro da sala, o local de realização das aulas, à variedade de materiais disponíveis para
leitura e discussão, à diversidade de autoras a serem conhecidas. Esse quadro contribuiu,
notamos, para que cada aula apresentasse surpresas e fosse construída por todas as
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
130
pessoas presentes e não apenas pelas professoras. Embora tivéssemos objetivos a cumprir
em cada aula, não sabíamos ao certo por onde ela caminharia. Muitas vezes,
terminávamos a aula já pensando em mais materiais para subsidiar as discussões
seguintes. A falta de controle das professoras foi positivamente absorvida pela turma que,
mais e mais, passou a entender que também era responsável por fazer a aula acontecer.
Ficava difícil, portanto, as estudantes se dispersarem com seus celulares e computadores.
Precisavam estar atentas a cada nova rota que a aula tomava, muitas vezes implicando a
participação de sua experiência, opinião ou exercício produzido.
49 A forma como propusemos MTAS buscou ser leve, divertida e, sobretudo criativa. Foi um
convite a pesquisar, a olhar o mundo com curiosidade, a aprender em grupo, a
experimentar. Convidamo-nas a colocar a mão na massa, experimentar formas de escrita,
produzir desenhos, fotografias, vídeos, se relacionarem com pessoas e técnicas
desconhecidas etc. Em suma, incitamos a produção de um conhecimento de modo afetivo
(MacDougall 1994). Acreditamos que a sala de aula é um laboratório de criação (de
métodos, estratégias de pesquisa, conhecimentos, encontros e relações), de socialização
do ethos da Antropologia, de imbricamento entre pesquisa, extensão e ensino. Um local
propício para pensar sobre e fazer acontecer a “cozinha da pesquisa antropológica”, como
bem definiu a estudante Sarah Almeida.
BIBLIOGRAPHY
Batista, Jéssica Monique. 2014. Cabeça ruim, morrência do braço e perna esquecida: Convivendo e
cuidando do derrame na Guariroba, Ceilândia/DF. Dissertação [Graduação em Antropologia].
Orientadora: Soraya Fleischer. Brasília: UnB.
Beatty, Andrew. 2005. “Emotions in the field: What are we talking about?” The Journal of the Royal
Anthropological Institute, Vol. 11, No. 1 (Mar.): 17-37.
Bonetti, Alinne, Soraya Fleischer (Orgs). 2007. Entre saias justas e jogos de cintura. 2. ed. Santa Cruz
do Sul: EdUNISC.
Brandão, Carlos Rodrigues. 2007. “Reflexões sobre como fazer trabalho de campo”. Sociedade e
Cultura, 10(1): 11-27.
Cardoso de Oliveira, Roberto. 1998. “O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever” Pp.17-35
in O trabalho do antropólogo. Brasília/ São Paulo: Paralelo 15/Editora UNESP.
Eco, Umberto. 1983 [1977]. “A pesquisa do material”. Pp.35-81 in Como se faz uma tese. São Paulo:
Perspectiva.
Favret-Saad, Jeanne. 2005. “Ser afetado”. Cadernos de Campo, 13: 155-161.
Fleischer, Soraya. 2015. “Autoria, subjetividade e poder: Devolução de dados em um centro de
saúde na Guariroba (Ceilândia/DF)”. Ciência e Saúde Coletiva, 20(9): 2649-2658.
______. 2012. “Atenção básica de saúde, cronicidade e Ceilândia: O que tudo isso tem a ver com o
ensino da Antropologia?”. Percursos 13: 23-39.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
131
Fleischer, Soraya e Ana Clara Damasio. 2015. “Quais são os desafios de escrever durante o curso
de graduação em antropologia?”. Entrevista com Soraya Fleischer por Ana Clara Damásio. Textos
Graduados: 1-14.
Fleischer, Soraya, Rosana Castro, Laísa Cardoso, Amanda Duarte Machado, Gíllian Arêa Leão Silva,
Nathan Lima Virgílio, e Géssica de Oliveira Motta. 2014. “Ensaio à la Nacirema: Relato de uma
experiência docente em Antropologia”. Café com Sociologia, 3(1): 18-40.
Gama, Fabiene. 2009. “Etnografias, auto-representações, discursos e imagens: somando
representações”. Pp: 91-114 in Devires imagéticos: Representações/Apresentações de si e do outro,
organizado por Marco Antônio Gonçalves e Scott Head. Rio de Janeiro: 7letras.
Gama, Pedro Ferraz e Karina Kuschnir. 2014. “Contribuições do desenho para a pesquisa
antropológica”. Revista do CFCH: 1-5.
Geertz, Clifford. 1995. After the fact: two countries, four decades, one anthropologist. Boston:
Harvard University Press.
Gomes, Mércio Pereira. 2015. Antropologia. São Paulo: Contexto.
Grossi, Miriam. 2014. “A dor da tese”. Ilha, 6(1-2): 221-232.
Grossi, Miriam, Antonella Tassinari, e Carmen Rial. 2006. Ensino de Antropologia no Brasil: Formação,
práticas disciplinares e além-fronteiras. Blumenau: Nova Letra.
Günther, Luísa. 2013. Experiências (des)compartilhadas: arte contemporânea e seus registros. Tese
(Doutorado em Sociologia). Brasília: Universidade de Brasília.
MacDougall, David. 1994. “Mas, afinal, existe realmente uma antropologia visual?”. Pp. 71-75 in
Catálogo da Mostra Internacional do Filme Etnográfico. Rio de Janeiro.
Malinowski, Bronislaw. 1984 [1922]. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Editora Abril.
Mauss, Marcel. 1993[1947]. Manual de etnografia, tradução de J. Freitas e Silva. Lisboa: Dom
Quixote.
Mitchell, William John Thomas. 2002. “O ensaio fotográfico: quatro estudos de caso”. Cadernos de
Antropologia e Imagem, 15(2): 101-131.
Peirano, Mariza. 2008. “Etnografia ou a teoria vivida”. Revista Ponto Urbe, 2(2): 1-10.
Rial, Carmen Silvia de Moraes. 2014. “Roubar a alma: ou as dificuldades da restituição”. Tessituras,
2(2): 201-212.
Sanabria, Guillermo Vega. 1995. O ensino da antropologia no Brasil: um estudo das formas
institucionalizadas de transmissão da cultura. Dissertação [Mestrado em Antropologia social].
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
Schweig, Graziele Ramos. 2015. Aprendizagem e ciência no ensino de Sociologia na escola: um olhar
desde a Antropologia. Tese (Doutorado em Antropologia Social). Porto Alegre: Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.
Silva, Vagner Gonçalves da. 2000. O antropólogo e sua magia: trabalho de campo e texto etnográfico nas
pesquisas antropológicas sobre as religiões afro-brasileiras. São Paulo, Edusp.
Taussig, Michael. 2011. I swear I saw this: drawings in fieldwork notebooks, namely my own. Chicago:
University of Chicago Press.
Tavares, Fátima, Simoni Lahud Guedes, e Carlos Cardoso. 2010. Experiências de ensino e prática em
Antropologia no Brasil. Brasília, Ícone Gráfica e Editora.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
132
Velho, Gilberto. 1981. “Observando o Familiar”. Pp. 121-133 in Individualismo e cultura. Rio de
Janeiro: Zahar.
Wright-Mills, Charles. 1980[1959]. “Do artesanato intelectual”. Pp: 211-243 in A imaginação
sociológica. Rio de Janeiro: Zahar.
NOTES
1. Optamos pelo plural feminino tanto porque éramos duas professoras quanto porque a turma
contava com a maioria de estudantes do sexo feminino. Aproveitamos para agradecer a essa
turma pela disponibilidade em aceitar nossa proposta e permitir que utilizássemos aqui trechos
de seus depoimentos e materiais produzidos. Todas as fotos do artigo, com exceção das imagens
de Henrique Rocha, são de autoria de Fabiene Gama.
2. Para o programa da disciplina, ver http://dan.unb.br/images/pdf/graduacao/programas-
disciplinas/2015/1/Programa_MTAS_1_2015.pdf
3. Em um formato pouco usual, nesta disciplina fomos a campo como turma. “Sair”, assim, teve
múltiplos significados: deixar a sala de aula, entrar em outro ambiente e na pesquisa.
4. Nós, professoras, também adotamos essa prática, registrando nossas impressões e relatos
durante o semestre. Nossos “diários de aula” foram importantes para planejar atividades e
condutas e, ao serem revisitados, para elaborar este artigo.
5. Para uma discussão provocativa sobre a construção dos cânones conceituais nos cursos de
Antropologia no país, ver Sanabria (2005).
6. Inclusive, o DAN criou o prêmio anual “Martin Novion de Melhor Dissertação de Graduação”.
Para acesso ao último edital do prêmio, ver http://dan.unb.br
ABSTRACTS
Este artigo trata da experiência de realização de uma disciplina de graduação sobre métodos e
técnicas de pesquisa em antropologia social. A disciplina, comum a diversos cursos de Ciências
Sociais, foi desenvolvida de forma bastante prática, baseada em atividades de leitura e escrita,
oficinas (desenho, fotografia, vídeo) e também cinco saídas de campo realizadas conjuntamente,
que produziram materiais a serem discutidos em sala de aula. Nela, as etapas mais comuns de
uma pesquisa, assim como as diferentes técnicas para realizá-las, foram apresentadas e
desenvolvidas a partir de experiências muito concretas, com o objetivo de incentivar que a
realidade experimentada pelas estudantes respirasse com ares mais críticos e reflexivos. O artigo,
dessa forma, busca contribuir para a prática docente em antropologia.
This article presents the author’s experience of conducting an undergraduate course on research
methods and techniques in anthropology. The course, common to a number of degree course
schemes in social sciences, was carried out in a practice-oriented, based on reading and writing
activities, hands-on workshops in drawing, photography and filmmaking, and by means of five
collective field excursions which results were later discussed in the classroom. The usual stages
of fieldwork, as well as the different techniques to accomplish these stages, were equally
discussed. This all happened in a decidedly concrete manner, as to encourage the students to
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
133
experiment reality in a critical and reflexive way. In this sense, the article seeks to contribute to
the theory and practice of teaching anthropology.
AUTHORS
FABIENE GAMA
UnB, Brasília, Brasil
fabienegama@gmail.com
SORAYA FLEISCHER
UnB, Brasília, Brasil
fleischer.soraya@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
134
Filiaciones: una lectura crítica de la
‘historia secreta’ de Greil Marcus
Affiliations: a critical reading of Greil Marcus’ “secret history”
Marina Hervás Muñoz
NOTA DEL EDITOR
Data recibido: 2016-05-28
Data aceptado: 2016-09-24
NOTA DEL AUTOR
Este trabajo ha sido escrito gracias al apoyo de la ayuda predoctoral de Formación de
Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el
proyecto de investigación i+D FFI2015-64138-P del Ministerio de Economía y
Competitividad de España: “La generación de conocimiento en la investigación artística:
hacia una explicación alternativa. Un punto de encuentro entre filosofía, artey diseño”
(2016-2018).
1 El subtítulo del libro clásico de Greil Marcus (2007) habla sobre un secreto que recorre el
siglo XX. A través de sus claves, traza una historia única del punk. Pero, ¿quería el punk
guardar un secreto o perseguirlo, asumiendo que se incluían en una ”sociedad basada en la
ciega convicción de que había un secreto que encontrar” (Marcus, 2007:46)? ¿Quería, por
el contrario, desvelar el secreto, el que había ocultado hasta entonces la lógica del capital,
aquel que podría dar con las cifras de una sociedad diferente?
2 Marcus dibuja, en su libro, una línea que une a los lollardos, los partícipes de la
pseudosecta del Espíritu Libre, el dadá, la Internacional Letrista y la Situacionista (IS) y,
finalmente, el punk. Todos ellos tienen en común, sobre todo, el ánimo destructivo, la
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
135
asunción de la pérdida de la posibilidad de que el mundo pueda ser mejor y la conciencia
de que el cambio debe darse desde todos los ámbitos de la existencia, empezando por el
lenguaje. Si éste condiciona el pensamiento, condiciona a la vez al mundo. Así que otro
pensamiento (no necesariamente es un tipo de pensamiento, sino otro pensamiento en un
sentido constitutivo) podría surgir si se destruyeran los cimientos desde los que se
construye la experiencia mundana. Esta línea de unión que en algunos casos podría
resultar un tanto gratuita es, sin embargo, la forma de hablar de un siglo XX que
comienza a percatarse del desmoronamiento de los referentes que otrora sustentaban
esos «principios metafísicos» que, como ya vaticinase Kant, son imprescindibles para el
ser humano, aunque nunca puedan satisfacerse racionalmente. Una religión desidealizada
y una metafísica que «prescindiendo de la sociedad, fomenta su pervivencia en las formas
establecidas que por su parte bloquean el conocimiento de la verdad y su realización»
(Adorno 2008a: 337), ponen en entredicho aquello que la Ilustración prometía: el acceso a
la mayoría de edad de la sociedad. Como ya mostraron Adorno y Horkheimer en Dialéctica
de la Ilutsración, la conquista del potencial racional, muy lejos de conseguir el «progreso»
de lo humano, deviene en las sociedades modernas en su autodestrucción. Y es en esa
tensión donde surge, según Marcus, el punk. De hecho, tal relación con Adorno es
explícita en Marcus. Para él, por ejemplo, Minima Moralia, un libro que Adorno escribió
durante su exilio en Estados Unidos para hablar de la “vida dañada” tiende un hilo de
continuidad con Metal Box, de the PiL: por su carácter fragmentario y por la “destrucción
de la esperanza” (Marcus, 2007: 80-81).
3 El protagonismo de los Sex Pistols es, en este libro, orquestado desde dos perspectivas
contrapuestas, que Marcus plantea sin tomar partido por ninguna. Por un lado, se plantea
la “naturalidad” del surgimiento de una banda como los Sex Pistols. Es decir, se asume
que, dadas las condiciones sociales, que pasan por un malestar social de gran
envergadura, una depresión económica y la pérdida de credibilidad en el rock ‘n’ roll
como referente cultural y, sobre todo, vital; entre otras cosas, generasen un grupo como
los Sex Pistols. Y, por otro lado, se abre la posibilidad de que los Sex Pistols no sean más
que un aprovechamiento inteligente de McLaren de este momento de incertidumbre para
tener una gallina de los huevos de oro travestida de alternativa social y de expresión
musical y estética de la juventud, mediante la recuperación de lo mejor del situacionismo
y de otros movimientos, como precisamente la cultura del rock ‘n’ roll. El hecho de que
los Sex Pistols fueran, de entrada, un producto, independientemente de sus fines
firmaron la paz con los mismos medios que criticaban. El proyecto de McLaren estaba
profundamente marcado por la propaganda y el merchandising. Al mismo tiempo que los
Sex Pistols «cambiaban el mundo» y hablaban de que la industria cultural podía ser sólo
un mal sueño, la tienda de McLaren se convertía en una versión londinense de esas
tiendas de pueblo, en las que se podían encontrar compresas, pinzas de la ropa y latas de
tomate en la misma estantería. El problema, entonces, se encontraba en la potencia
propagandística que tenían, por ejemplo, los eslóganes del mayo del 68. Aquello
funcionaba, en el sentido de que permitía reengrasar la máquina. Eran perfectos para
camisetas, chapas. Precisamente ese resquicio que permitía que esas frases tan poética y
políticamente potentes pasaran de potencia a acto fue lo que no cabía en los eslóganes. Lo
que, por no caber, no cabe en ninguna parte. Es el nombre de lo inexpresable, lo que no
tiene lugar en el mundo, aquello que cifra la verdadera utopía.
4 La postura que defiendo en este ensayo es que esa línea de movimientos culturales que
Marcus relaciona poseen una base benjaminiana mucho más acusada de lo que aparece
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
136
explicitado. No tanto porque los Sex Pistols, por ejemplo, hayan leído a Benjamin –algo
muy difícil de determinar- sino porque, al igual que Goethe nos hizo notar el espíritu
kantiano subyacente al siglo XVIII,1 el siglo XX está profundamente impregnado de lo que
Benjamin supo expresar en su filosofía. No se trata de que en el siglo XX haya seguido los
derroteros que él anticipó, sino porque en esa forma tan suya de hacer filosofía (que él
llamaba filosofar desde los posos del té) dio espacio en el ámbito de lo teórico a
fenómenos del mundo que, hasta ese momento, nadie había reflejado, no se había creado
el distanciamiento de su cotidianidad como para que surgiera el extrañamiento y con él la
reflexión. Es decir, de lo que se trata es de poner en entredicho la espontaneidad de estos
movimientos y ampliar esa praxis en la que se centra Marcus con la teoría subyacente a
ella.
5 Asimismo, propongo resituar la lectura amable del punk que participa de su idealización,
pasando por encima o tomando como daño colateral el componente de capitalismo
esencial que contiene. Ya no sólo por las intenciones, cuanto menos, estrictamente
publicitarias y economicistas del mánager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren, sino
también porque las consecuencias del punk –como esa última parada europea en el
camino del cambio- hicieron un flaco favor al anticapitalismo. Las Doc Martens, las
tachuelas, los pantalones rotos y demás características del punk pronto encontraron su
sitio en los mejores escaparates. Igual que sucedió con las flores y las faldas (hace unas
temporadas leíamos en los grandes centros comerciales, esos centros ritualísticos del
capital: «ha vuelto el flower power, siéntete hippie» o algo similar), lo extramusical del
punk devino merchandising. La pregunta que surge en realidad a colación de este asunto es
si alguna vez estuvo fuera de la lógica del capital. Ahí, quizá, está el matiz más
importante, el cual cambia el secreto de Marcus, aquel que nos gustaría oír, el que habla
de la posibilidad de generar otro mundo posible, alternativo y crítico; por uno que
duramente se lleva silenciando un tiempo ya demasiado largo: la libertad fuera de la lógica
del capitalismo, es decir, la libertad en tanto emancipación y alternativa, no sólo es
inexistente sino también impensable. También ésta es integrada, es asumida y, sobre
todo, dirigida. Esto, sin embargo, no anula en absoluto los logros del punk, del
Situacionismo o de las líneas históricas que Marcus establece con estos movimientos y
otros anteriores. En cierto modo, se trata de un cambio de prisma, que relativiza ese
potencial que encuentra en ellos. Lo cual, por otra parte, serviría para explicar –o al
menos esbozar- porqué (casi) todo quedó en agua de borrajas. Sirvan las palabras de con
las que Walter Benjamin resumía el poema “El comunismo es el término medio” de
Bertolt Brecht para unificar lo dicho hasta ahora, pero cámbiese ‘comunismo’ por ‘punk’:
«El comunismo no es radical. Lo radical es el capitalismo». Detrás de los Sex Pistols, según
Marcus, estaban “Dios y el Estado, el pasado, el presente y el futuro, la juventud y el
trabajo” (Marcus, 2007: 22). Ésas serán nuestras líneas de análisis.
Don’t cry for me, tradition: Dios, el Estado y el tiempo
6 Dios había muerto, el Estado ya no coincidía con lo racional (como había prometido
Hegel) y Johnny Rotten se autoproclamaba como el anticristo. Los amigos del psicoanláisis
dirían que en el punk se encuentran el último resquicio del parricidio moderno, donde se
intenta, por última vez, empoderarse ‘matando al padre’. Pero el punk tiene una herida
que ya estaba abierta con el rock ‘n’ roll: era lo “ideológicamente autorizado… como
excepción que confirma la regla de la monótona conducta que impregna la vida social”
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
137
(Marcus, 2007: 65). Es decir, el rock ‘n’ roll era el lugar que la lógica capitalista aún dejaba
para crear la ilusión de libertad de expresión y de alteración de las buenas normas de
conducta. El Dios muerto se paganizó y se convirtió en ídolos que volvían a dar sentido a
la vacuidad de la vida de algunos jóvenes que, en los sesenta, con todo resuelto, se
lamentaban de la falta de alteraciones. De este modo, el rock ‘n’ roll se volvió contra sí
mismo y firmó la paz con aquello que presuntamente criticaba. En términos de Adorno, el
culto a los ídolos del rock ‘n’ roll era una reconversión de las formas de barbarie (Adorno,
2009, 597), en la medida en que se volvió una moda y redujo las posibilidades de lo
cualitativamente distinto, haciéndose así partícipe del endurecimiento del género. El rock
‘n’ roll «prudente, responsable y virtuosístico» que surgió alrededor de 1965 trasgredía el
trasfondo político que podía tener con respecto a las alternativas de ocio. Su cercanía a
esa ideología afirmativa del «entretenimiento necesario», que aliviara la locura cotidiana
de ir del trabajo a casa y viceversa, exigía una música poco molesta, cómoda o interesante
–pero sin entrar en excentricidades intelectualoides- para relajar (el espíritu). Ese era el
rock ‘n’ roll travestido que rechazaba el punk pues, finalmente, se estaba dando al
capitalismo vías de escape integradas.
7 Una de las rupturas que con más interés aborda Marcus es la temporal. El desgarramiento
del tiempo no sólo rompe con la ideología subyacente a la organización decimonónica del
horario de trabajo en las industrias y trenes, situado arbitrariamente en Greenwich, sino
que también lo hace con el concepto de tiempo en tanto organización social en términos
generales. De hecho, muchos procesos revolucionarios han tenido dentro de sus primeras
preocupaciones la destrucción del modelo temporal establecido hasta entonces. El mejor
ejemplo de ello, aunque terminara en agua de borrajas, fue el calendario republicano
francés, establecido entre 1792 y 1806, que trató de eliminar las referencias cristianas. En
el marco de los Sex Pistols, todas las categorías del tiempo quedaban suspendidas. En
“Anarchy in the UK”, se atacaba al presente. En “God sabe the Queen”, le tocaba al futuro
(evidentemente, con el “No Future”), pero también al pasado del que no se sentían parte
una generación, construido antes de y sin ellos.
8 Marcus señala en numerosas ocasiones que lo que ofrecían los Sex Pistols era “lo nuevo”:
“el sonido de los Sex Pistols era irracional; como sonido, parecía no tener el menor
sentido, no hacer otra cosa que destruir. Esta es la razón por la que era un sonido nuevo, y
por la que trazaba una línea divisoria entre él y todo lo que había aparecido antes”
(Marcus, 2007: 73). Hagamos el experimento de trasladar la crítica de Adorno del jazz al
punk. Su más importante rendimiento de la crítica contra el jazz es que rechazó su
novedad y, sobre todo, su autoinclusión como voz en la vanguardia. A nivel técnico, el
punk, al igual que el jazz en su fase embrionaria, utilizaba elementos musicales que ya
venían usándose de forma más o menos estable durante trescientos años (lo que ha
venido llamándose el “periodo de la práctica común”, según los términos del compositor
Walter Piston). La diferencia estaba en el cómo. Mientras la música, hasta mitad del siglo
XX, había sido un terreno para niños de buenas familias y se acotaba a reuniones donde se
mostraba la erudición y/o el dinero, con el auge y la extensión de la música pop se había
vuelto un terreno “democrático”. Pero mientras los rockers aún seguía estudiando escalas
y trabajando digitación, con el punk, como según Marcus dijo Paul Westerben, de The
Replacements, los Sex Pistols invitaban a replantarse lo que de autoritario seguía
teniendo la supuesta democratización de la música con el inicio del rock ‘n’ roll: “no
necesitas saber nada. Simplemente toca” (Marcus, 2007:74). Se trata de la inversión de
aquella odiada frase que ha marcado la recepción del arte contemporáneo, la de “esto lo
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
138
podría hacer incluso un niño”. Ahora, esa infantilización de las formas, el puro hacer, era la
impronta del punk (incluso, en ocasiones, de forma paródica, como en los ruidos que
Rotten hacía con el micrófono en “Submission”). Sin embargo, los Sex Pistols, en
concreto, y el punk en general, no hacían algo nuevo en un sentido enfático: a nivel
técnico su música estaba más cerca de la música de Mozart que de la música
experimental, aunque el punk tomaba elementos del fluxus pero sin la radicalidad de las
performances ni de algunos colectivos que diez años antes habían puesto las formas
preestablecidas patas arriba, como Zaj. Precisamente, la verdadera radicalidad de las
propuestas que surgían, según la lectura oficial, de John Cage (aunque cabría hacer una
filiación más larga, hacia Satie e incluso hacia la Marche funèbre pour les funérailles d’un
grand homme sourd de Alphonse Allais) se encontraba en la imposibilidad de ser masivo, en
la soledad, en su incomunicabilidad, en la incapacidad de decir “nosotros” (aunque
gritándolo a todas luces de forma mediada). El punk, en ese sentido, revivió viejas formas
-las tonales- con una puesta en escena disfrazada de radical y trató de hacerse masivo
pero, al mismo tiempo, de algún modo sectario. Sólo aquellos que renunciasen a lo
cómodo podrían entrar en la corte de los milagros. Pero hay algo que pesa más que las
intenciones. El punk, finalmente, a diferencia de lo que el propio Marcus señala, sí tenía
“sentido musical” (Marcus, 2007:79). Que tocasen mal, que tocasen con distorsiones, que
cantasen gritando, no les separaba en absoluto de las formas establecidas de música: el
acorde de quinta siempre resuelve en la fundamental, hay estribillo, incluso melodizan
con cierto gusto y, desde luego, afinan. Su “sentido musical”, ese silenciado acuerdo con
fórmulas tradicionales del componer les colocaba en una situación en la que quizá no se
sentirían del todo cómodos: la de que sólo la construcción de lo extramusical habla del
cambio social, mientras que lo musical claudica ante el establishment.
Pretty Vacant: Juventud, trabajo y ocio
9 El punk se inserta en un peligroso mecanismo del capital: la juventud (y su fetichización).
Las cremas, la equiparación del “verse joven” con el “verse bello” y otras técnicas
propagandísticas extienden las supuestas bondades de la posibilidad de paralizar el
tiempo: es el relato de la eterna juventud. Y es que la juventud es el lugar intermedio
entre la responsabilidad de los adultos y la infancia. Los jóvenes se mueven entre la
ingenuidad y lo que parece el conocimiento verdadero de lo que es la vida. Sus formas se
encuadran entre la rebeldía y los límites desdibujados de la permisión: “al fin y al cabo,
son buenos chicos, pero son jóvenes”. Aún se les permite el pecado, ya que el camino
hacia la diferenciación madura entre el bien y el mal es algo muy complejo, algo que en la
juventud todavía no se ha conseguido desarrollar del todo: dilucidar tal diferencia limita
la libertad y ahoga por la responsabilidad. En la eterna juventud cristaliza la idea
ilustrada de la ‘alegría de vivir’, que en el XIX se sustituiría –casi sólo
terminológicamente- por la aspiración al paraíso terrenal. Las arrugas, las marcas, las
canas no sólo son síntomas de pérdida del lugar privilegiado que daba la juventud, sino la
aprehensión de la cercanía de la propia muerte. Si la juventud eterna era también eterna
vida o, siendo menos optimistas, vida en estado puro, crecer expone a los seres humanos
en el duelo que contrapone el vivir como si fuésemos inmortales y la patente mortalidad
que llegará algún día. El hecho de morir e ir al cielo, y esperar al juicio final donde, quizá,
si hemos sido buenos, podremos vivir eternamente, es la promesa que nos dice: somos
mortales, por ahora. Por eso Walt Disney no podía morir: la patraña de su congelación
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
139
habla de que el dinero, algún día, también habrá pagado la inmortalidad. Benjamin
encuentra, de esta forma, filiaciones entre el concepto de tiempo y la herencia de las
religiones históricas: «a los judíos les estaba prohibido escrutar el futuro. […] en él cada
segundo constituía la pequeña puerta por la que el Mesías podía penetrar» (Benjamin
2003: 318). Y este es el primer modelo temporal del punk: el de la pura inmediatez, por si
la muerte llega demasiado pronto (como cuando le llegó el turno a Nancy Spungen o Sid
Vicious).
10 En el contexto cultural en el que surgió el punk, el terreno de los adultos es la
experiencia. Ellos son ya «seres experimentados». La experiencia les ayuda a no cometer
errores, a vivir según el camino recto: «La máscara de los adultos es la “experiencia” (
Erfahrung). Es una máscara inexpresiva, impenetrable, siempre igual a sí misma. Todo lo
han vivido ya estos adultos: juventud, ideales, esperanzas, mujeres» (Benjamin 1993: 56).
Y, por eso, ven a los jóvenes como una parodia de su propia vida, de lo ya pasado. Los
adultos eran el efecto del abstracto del «porvenir», la idea de un futuro que tiene que ser
de una manera determinada para ser bueno. Esto es algo que casa perfectamente con la
idea de experiencia que había otorgado el positivismo acuciante del periodo
decimonónico: elaborar una idea de experiencia que pueda ser repetida por cualquiera,
que sea un hecho objetivable. El modelo que se esperaba de los jóvenes del siglo XX –y
especialmente de la II Guerra Mundial- era que se abrieran a ese nuevo mundo que
parecía surgir después del derrumbamiento que supuso el Holocausto y explotaran el
gran logro teórico de la humanidad que supuso el «Estado del bienestar». Éste creaba
unos patrones, perfectamente acotados en el American dream. Este sueño tiene un
problema que ya supo ver Platón: que las copias sólo participan de la idea, pero nunca son
tal, nunca superan al original. Y las copias –y por eso, fundamentalmente, expulsó a los
artistas de la República- siempre terminan siendo meras perversiones o deformaciones de
la idea. La experiencia que se le era dada a los adultos, en realidad, una no-experiencia, en
la medida en que ofrecía algo ya preparado para ser vivido. La felicidad tenía que ser
aquello que no se pudo alcanzar durante las dos Guerras Mundiales. Si bien las
condiciones sociales ahorraron a la juventud occidental la carga de la trinchera, también
les estaban ahorrando el formular su propia vida o, al menos, intentarlo. Ahí, quizá, se
cifra una de las posturas más poderosas de la línea cultural de Marcus. Los Sex Pistols
serían el perfecto contrapunto a la visión del adulto. El no futuro – que aún guardaba la
posibilidad de un futuro siempre en generación- devino en no hay futuro –el cual parece
carecer de todo optimismo y habla sobre la clausura del porvenir. A partir de los años 60,
‘la felicidad’, como promesa del futuro, había quedado lo suficientemente desacreditada
como para no poner en ella la meta: las promesas que no llegan es mejor no haberlas
pronunciado nunca. Así, el “no futuro”, que abría aún la posibilidad de que la promesa
llegara a cumplirse, se convirtió en la constatación de que no había nada que recuperar
porque nunca había existido eso que se daba por perdido. “Se tiene la voluntad de
liberarse del pasado”, decía Adorno, “con razón, porque bajo su sombra no es posible
vivir, y porque cuando la culpa y la violencia sólo pueden ser pagadas con nueva culpa y
nueva violencia, el terror no tiene fin; sin razón, porque el pasado del que querría huir
aún está sumamente vivo” (Adorno, 1998: 15). Por eso, la
11 Por el contrario, el ideario capitalista propone el «cualquier tiempo pasado fue mejor».
Según indica Benjamin en uno de sus más brillantes textos póstumos, «El capitalismo
como religión»:
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
140
«El capitalismo es celebración de un culto sans rêve et sans merci (sin tregua ni
piedad). En él no hay señalado un día a la semana, ningún día que no sea día festivo
[…] que constituiría el esfuerzo más manifiesto de quien adora. […] Probablemente
el capitalismo es el primer caso de culto no expiante, sino culpabilizante. En esto
estriba lo históricamente inaudito del capitalismo, que la religión no es reforma del
ser, sino su destrucción» (Benjamin 1991: 100).
12 Los logros sociales son, para el capitalismo, lacras que destruyen aquello que podía haber
sido y no fue el mundo. Los seres humanos no han conseguido librarse aún de sus cargas.
El pasado se sitúa como ideal que puede recuperarse, ya que el futuro no parece la baza a
la que aferrarse. Si el capitalismo era promesa, lo era del pasado. Cuando señala al futuro,
habla de esa posible «destrucción del ser». El pasado tuvo que ser mejor, como garantía a
la que regresar cuando se desmonten finalmente todas las creencias. Tomando libremente
las letras de Cesar Vallejo (las de, en concreto, “Cuídate España”), el capitalismo tuvo en
el pasado, y no en el futuro, su propio juicio final. Dio a cada uno su papel de víctima, de
verdugo o de indiferente. E incluso todo a la vez. El capitalismo postula la libertad «en la
elección de la ideología [donde] se revela en todos los sectores como la libertad para lo
mismo de siempre» (Adorno y Horkherimer 2008: 191). Según Marcus, uno de los logros
más importantes del punk fue la ruptura con la sociedad del sacrifício, con la espera hacia
algo mejor que llegará si nos esforzamos: «[Los Sex Pistols] eran horribles. Y me
parecieron grandiosos. Yo quería ponerme de pie y ser horrible también»6. Había que ser
punk, y también mostrarlo. Si no se mostraba, no se era (algo que adelanta las fascinación
por mostrarlo todo, que es marca de nuestro tiempo). Los demás, siguiendo las
prescripciones punkis, eran una suerte de señoritingos pasados de moda. Si no llevabas
un imperdible en el labio o te vomitabas a ti mismo eras antipunk. Si realmente Adorno
tuvo alguna influencia sobre esto –como defiende entre líneas Marcus- lo más punk
habría sido, en realidad, no ser nada.
13 Ese ‘ser horrible’ quiere participar de la posibilidad de vivir la vida como una obra de arte;
y en el cuestionamiento de la validez de lo «políticamente correcto». Esto pone sobre la
mesa en el contexto que nos ocupa, aquello que los escritores negros de la ilustración –en
cuya cabeza se encuentra, probablemente, Sade- dijeron entre líneas: que uno de los
límites de la razón se encuentra en que es incapaz de desarrollar argumentos a favor del
bien y en contra del mal, lo que se traduce en la igual irracionalidad para ambos polos,
más allá de las estructuras de lo convencional. Aunque muchos de ellos pagaron con la
cárcel o con ser alimento de las llamas, se abrió una brecha que a duras penas la
Ilustración pudo sanear. Ese legado es también parte del recorrido histórico de Marcus.
En el siglo XX volvieron a supurar las heridas más graves del XVIII, las que hablaban de
una razón limitada que ponía fronteras también a las posibilidades del ser humano (el
cual tenía que prescindir de una vez para siempre de sus pretensiones de conocerlo todo,
incluso a sí mismo como totalidad de sentido) y las que descorrían los velos de la
arbitrariedad de los acuerdos sociales. De ahí que lo «políticamente correcto» fuera algo
que no sólo iba a estallar por diversión o por transgresión, sino también por complicidad
con la historia de las ideas. En el Ice Age, los héroes eran los que «conservaban un empleo,
seguían casados, permanecían fuera de un hospital mental o sencillamente no morían»
(Marcus 2007: 58). Es decir, los «políticamente correctos», aquellos que trataban de
integrarse en el sistema, los que seguían los valores morales, los que eran «normales» (en
tanto la enfermedad mental es motivo de incluirse dentro de los «anormales», esa
categoría a la que ninguno queremos pertenecer y de la que, sin embargo, participamos
modestamente de un modo u otro) o los que vivían, aunque aquello fuera un sin-vivir. A
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
141
veces el instinto de supervivencia tiene eso, que se sobrevive pese a todo. La vinculación
de lo políticamente correcto con la idea de sacrificio se encuentra, quizá, brillantemente
expresado en los textos eslogánicos de la Internacional situacionista que se preguntaban
por las consecuencias del trabajo. Parecería que su versión más radical se encontraría en
el texto de Paul Lafargue, El derecho a la pereza, en el que lleva las conclusiones del
marxismo a su extremo. Si el trabajo es esencialmente alienación y enajenación
individual, el derecho a la pereza sería la utopía -en la medida en que el perezoso trabaja
si quiere- y no la sublimación del trabajo -es decir, una versión del trabajo más amable,
donde no se liquide finalmente la individualidad-. Por una parte, la pereza rompe con ese
pecado del que parte la lógica capitalista –que no en vano es el mismo que el cristianismo-
que sitúa el pasado en un paraíso perdido, cuya pérdida sólo puede ser redimida a base
del trabajo (la redención en el capitalismo es no ser expulsado de lo social). Y por otra,
firma la paz con uno de los tabúes marcados por la tradición, a saber, el no hacer nada
productivo. La pereza se encuentra en el mismo lugar del mundo en que el arte pudo ser ‘
l’art pour l’art’ y en donde las humanidades no consiguen ni predecir ni explicar ni cumplir
con un rendimiento económico para el liberalismo y su correlato en la ciencia, el
positivismo. Asimismo, la pereza es lo más opuesto al trabajo, a lo que exige la obediencia
y supeditación a un horario, una lógica, un mecanismo. En otras palabras, a la
integración. Por eso, las primeras palabras del Derecho a la pereza, de Paul Lafargue, dicen
así:
«En el seno de la Comisión sobre Educación Primaria de 1849, el señor Thiers decía:
"Quiero recuperar con toda su fuerza la influencia del clero, porque cuento con él
para propagar esa buena filosofía que enseña al hombre que está aquí para sufrir, y
oponerla a esa otra filosofía que dice al hombre lo contrario: 'Disfruta'”. El Sr.
Thiers formuló con esto la moral de la clase burguesa, de la que él encarnaba el
egoísmo feroz y la estupidez. […] La moral capitalista, mezquina parodia de la moral
cristiana, castiga con un solemne anatema la carne del trabajador; su ideal consiste
en reducir al mínimo las necesidades del productor, en suprimir sus goces y sus
pasiones, y en condenarle al papel de máquina redentora del trabajo sin tregua ni
misericordia» (Lafargue 1977: 35).
14 El ocio entendido como contrapunto a la oficina y a la fábrica, útil para la optimización
del trabajo después de una desconexión, paulatinamente fue adquiriendo un espacio que,
en apariencia, parecía desligado de ese mero «ser útil para» y próximo a alcanzar su
propio lugar dentro de lo lógica de lo social. Sin embargo, parecería que nunca dejó de
ser, ideológicamente, lo mismo. Frente al modelo cristiano, que preconiza el sacrificio, el
esfuerzo, el trabajo como ideales vitales, se oponen los valores del ocio que, aparte de la
pereza, genera apatía –quizá también rebeldía- por el trabajo, hedonismo, emancipación y
cultura. Tener ocio ayuda a comparar, de ahí que el ocio sea, en apariencia, abierto y
libre. Sin embargo, la oferta no depende de la demanda, sino al revés. Es como un kiosko,
en el que cada ocioso encuentra aquello que, a priori, estaba dirigido a querer comprar.
Según expresa Marcus, «a la gente se le hace pasar por alto el hecho evidente de que esta
información, este entretenimiento […] no están hechos para ellos, sino contra ellos y sin
ellos» (Marcus 2005: 152). El ‘¿qué quiero hacer?’, que se postula libre, es incluso más
peligroso que el ‘¿qué hay?’. En la medida en que se asume una mayor libertad se vela la
única libertad posible en la industria cultural: la explicitación de las determinaciones. Por
tanto, el salto hacia el ‘¿qué quiero hacer hoy?’ no es cualitativo, sino una mera
transposición de nombres, pero no de concepto. Se quiere hacer lo que hay que hacer. Si
en Auschwitz la consigna era «el trabajo os hará libres», las formas de represión
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
142
contemporáneas, mediadas, silenciadas, han reinscrito la consigna más terrible del siglo
XX en «el ocio os hará libres».
15 El carácter moral del ocio no sólo pasa por su existencia como contrapunto de la vida del
trabajador. Éste surge desde un principio de desigualdad social que debe mantenerse. Las
desigualdades en materia de ocio son la base de la oferta y la demanda cultural. El
American dream contiene un engaño estructural: “si haces “x”, tendrás “y”. Lo que no
explicita es que “x” es irrealizable (realmente no puede llegarse a lo más alto desde lo más
bajo: como han mostrado muchos sociólogos en los últimos años, la repetición de las
limitaciones sociales es un hándicap difícilmente superable en las sociedades
contemporáneas, especialmente porque muchas prácticas se ligan íntimamente con la
identidad de los sujetos) e “y” es la metralla ideológica de la publicidad y el modelo de la
meca del capitalismo. A fin de trasgredir lo hasta ahora indicado, se planteó vivir la vida
como si [als ob] fuera una obra de arte o, lo que es lo mismo según la relectura de esta
propuesta nietzscheana de los situacionistas, realizar el arte y, en concreto la poesía, en la
propia vivencia.
I wanna be me: realizar la poesía
16 La unión entre vida y arte era posible mediante la realización de la poesía, como forma de
arte fundamental, algo que parecería se encuentra profundamente hermanada con la
sentencia stendhaliana que señala que el arte es una promesse de bonheur, según los
términos en que es releída por la teoría crítica: «la frase de Stendhal sobre la promesse de
bonheur dice que el arte dé las gracias a la existencia al acentuar lo que en ella alude a la
utopía. Pero esto es cada vez menos, y la existencia se parece cada vez más sólo a sí
misma. Por eso el arte se le puede parecer cada vez menos. Como toda la felicidad por lo
existente es sucedánea y falsa, el arte tiene que romper la promesa para serle fiel»
(Adorno, 2004: 412).
17 Así que el arte había dejado de prometer la felicidad y sólo tomaba como punto de partida
la vida -ya dañada-. Los situacionistas planteaban, para la realización de la poesía, el
desplazamiento de lo cotidiano para dejar salir lo extraordinario contenido en ello. Una
de sus primeras preocupaciones se concentró en la recomprensión del espacio urbano.
Según los situacionistas, todo el mundo tenía el derecho de vivir en una catedral, al
menos conceptualmente. El lugar de residencia, entonces, era una metáfora de la propia
existencia, un reflejo del propio individuo (algo que, y tan sólo dicho como apunte, nos
aproxima significativamente a algunas propuestas asiáticas, como el Feng Shui). Llevaron
a cabo un estudio en el que se trazaban las limitaciones del recorrido básico por las
ciudades por parte de sus habitantes, centrándose con especial interés en la ciudad de
París. En la mayoría de los casos, los recorridos se limitaban a una línea de ida y vuelta
que unía la casa y el punto de trabajo. Esta limitación de experimentación en el espacio
urbano, les permitió crear ‘estudios psicogeográficos’ que permitían analizar la rutina. Al
igual que lo hizo Benjamin con sus Pasajes, comenzaron a perder interés por el ‘burgués’ y
a dar forma a una suerte de flâneur que querrían llegar a ser. Para ello, desarrollaron una
forma de re-descubrir la ciudad: la derivé o ‘deriva’. Ésta consistía en explorar la ciudad
destruyendo el modelo de la rutina, vagar sin rumbo y sin expectativas. Nuevamente, se
trata de algo que ya había anticipado Benjamin cuando indicó que: «Importa poco no
saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad como quien se pierde
en un bosque, requiere aprendizaje» (1982: 15). Para los situacionistas, en este
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
143
aprendizaje iba la vida, ya que sólo aprendiendo a perderse podía un individuo
encontrarse.
18 Así, en el propio moverse por la ciudad se estaba regenerando la propia experiencia
individual del vivir-en, la conversión de hacer de una esquina cualquiera mi rincón. Esta
creación de nuevos escenarios de la ciudad permitía, a su vez, la creación de situaciones,
lo cual consistía no sólo en la recomprensión de momentos puntuales, sino una suerte de
reescritura de la trama. La vivencia se convertía así en un «puro presente». Sólo sin una
tradición y sin un futuro podía haber proyecto. Su tiempo devenía en la sucesión
cualitativa de ‘ahoras’ que, en cierto modo, tenían un carácter monadológico. Es decir, en
sí mismos son totalidades de sentido pero que son sólo un fragmento en el continuo
devenir de la existencia. Asimismo, su ruptura con el tiempo se encuentra en su carácter
azaroso, en la indeterminación, en la posibilidad de crear constantemente un mundo
distinto. Así, vemos, se cruzan dos reconfiguraciones: la del espacio y la del tiempo.
19 Otro de los lugares de deslocalización artística se dio en el lenguaje. Esto entronca con la
que es una de las preocupaciones fundamentales en la teoría social y filosófica durante el
siglo XX: la revisión del lenguaje y su capacidad expresiva y comunicativa. Es decir, la
asunción de la arbitrariedad del establecimiento del lenguaje y su deformación por el uso,
así como la experiencia de la incapacidad del lenguaje para captar apropiadamente las
cosas. Dos alternativas –en principio, imposibles de compaginar- quisieron tratar de
solventar el problema. Por un lado, desarrollando un lenguaje en el que no cupiera
ambigüedad y, por otro, asumiendo que el único lenguaje capaz de acudir a lo complejo de
la experiencia humana es el de la poesía. Es ése el lenguaje en el que se encontraban estos
movimientos secretos del siglo XX. Parecería que se tomaron muy en serio las palabas de
Benjamin que rezan: «La actividad literaria relevante sólo se puede dar cuando se puede
dar cuando se alterna del modo más estricto la acción y la escritura» (2010: 25). De hecho,
les movía el mismo impulso de la teoría crítica frankfurtiana: la expresión de la vida a
través de la negación. Sólo la contradicción podía atrapar la complejidad de las cosas. La
‘simple’ acción de ‘llamar a las cosas por su nombre’ -este es un ejercicio que pasa por
toda la tradición filosófica (véase Foucault 2014)- y ‘revestirlas de su ropaje histórico’,
suponía ya un verdadero acto revolucionario en sí mismo. El asunto de alcanzar el
‘verdadero nombre de las cosas’, que ha sido objeto de debate en numerosos ámbitos, se
contrapone con la idea típicamente situacionista de re-conocer el objeto a través de la
acción del sujeto. El sujeto que con su acción nombra al objeto coincide con el principio
ultrasubjetivista que llega hasta el punk. Pero vayamos por partes.
20 La realización de la poesía de forma individual, permanente y desde el ámbito de lo
cotidiano permitía, al menos, destruir cuatro elementos que habían caracterizado el arte
de los últimos siglos. Por un lado, la exaltación de la subjetividad de los cualquiera
permitía romper con la idea del genio, categoría que sólo le era concedida a unos
privilegiados por otros privilegiados que, desde la Academia –en términos generales-
decidían qué es arte y qué no lo es, como si fuera un concepto inmutable del que algunas
piezas participan y otras no. En este sentido, se proponía derrumbar la asunción del arte
como acción de sujetos cualitativamente superiores, en la medida en que la recuperación
de la propia vida pasaba por esta realización de la poesía. Por otro lado, y en
consecuencia, se planteaba eliminar el modelo de institución artística, dentro del mismo
espíritu que recorre todo el siglo XX. Sin embargo, la idea de los situacionistas consiste en
asumir que, en pocas palabras, el arte como elemento indivisible de la existencia es algo
que está en todos lados menos en la institución, ya que ésta anula el esencial movimiento y
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
144
cambio de su comprensión del arte. Esta muerte de la institución como elemento
regulador elimina, en tercer lugar, la marca del mandato externo que decide qué es arte y
qué no lo es. Y, por último, se anula la diferenciación entre sujeto y objeto que marca la
única acción que había acompañado al arte durante siglos: su contemplación. Ya no cabía
pensar en l’art pour l’art, como arte sin fin, arte puro. El único arte que cabe en esta
historia secreta es aquel que es objeto de transformación, ya que el mantenimiento del
concepto de ‘objeto artístico’ permitía mantener, a su vez, la lógica de la producción que,
como vimos, había pervertido al ocio y sus productos. El arte, como objeto, sólo debía ser
signo de aquello que silenciaba, de su negación. Descontextualizando a Marx, no sirve sólo
interpretarlo, sino transformar con él. El objeto no es una entidad concreta, sino que se
encuentra al servicio de la subjetividad, de la expresión de sus deseos. La inconcreción del
objeto se traduce en la paulatina eliminación del objeto artístico. Lo que antes se
expresaba en la obra de arte, ahora ese contenido tenía que llevarse a la propia práctica
cotidiana.
21 Nada puede posponerse, no hay ningún concepto que sirva para entender una acción no
realizada. Si no se hace no es. Pero los punks hacían sin saber hacer, hacían de su vida arte
viviendo. Este no-saber-hacer, que fue la praxis básica del punk (no tanto porque no
quisieran saber, sino porque había que no saber para hacer punk, para destruir el
academicismo, la norma, la lógica y lo predeterminado), era lo único que permitía
siempre oponerse al futuro. Por primera vez, aquellos que habían sido silenciosos
espectadores, ahora eran no sólo espectadores activos, sino creadores. La figura del
espectador y del “espectado” es una de las más complejas del punk, pues no hay -como
por cierto en la performance- punk sin todo lo extramusical sería algo distinto. Si, como
hemos explicado, la música no era en absoluto radical, lo que la hacía radical era la puesta
en escena, la apropiación de un lenguaje que antes era poseído por otros grupos sociales y
el intento de descuartizarlo con la complicidad de los asistentes. Si Rotten escupía, recibía
un escupitajo de vuelta. Si se pegaban al bailar, en los grupos de pogo, todos querían
recibir y tener marca de su noche. Ésas eran sus heridas de guerra, su propio cuerpo era el
nuevo lienzo de la obra de arte que era su vida.
22 La experiencia situacionista que también planteaba vivir siempre como si «fuese la
primera vez», terminó topándose con que la esas «primeras veces», se convierten en las
últimas. Es decir, en un absoluto presente. Pero tal “absoluto presente” es imposible en la
experiencia mundana de los seres humanos: siempre aparece el límite de lo histórico. El
hecho de que pudiera plantearse –como lo hicieron tantos teóricos a partir de las
postrimerías del XIX- que la historia no sólo no avanza, sino que en muchas ocasiones
retrocede, no permite justificar de ningún modo la eliminación del movimiento de lo
histórico ni era suficiente para la sublimación de lo siempre presente, que se une
peligrosamente a los modelos temporales de lo eterno, su supuesta antítesis. La creencia
de que los sujetos pueden librarse de la historia, de la tradición en la que se encuentran,
es idealista: se trata de un sujeto que mira a la historia desde arriba, desafectado. «Los
hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias
elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran
directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado» (Marx, 1982: 404). Aquello
que buscamos en todo nuestro tránsito es, precisamente, la propia vida: la juventud, en
estos términos, es como «promesa de la vida, como felicidad anticipada, a partir de lo cual
luego, conforme envejece, uno va reconociendo, por medio del recuerdo, que en verdad
los instantes de tal promesa eran la vida misma» (Adorno, 2008b: 295). Aparte del olvido
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
145
de la tradición, entonces, el modelo situacionista olvidó que lo verdaderamente
importante para la existencia son esos “instantes”, donde aparece la cifra de lo
inexperimentable, de lo innombrable: lo que desborda al sujeto. Ahí estaría, desde esta
perspectiva, la verdadera fuerza del no hay futuro: lo aún no escrito, lo aún inimaginable,
lo que espera a abrirse.
23 El hecho de que con el mundo se pudiera hacer lo que se quiere no sólo encuentra graves
problemas teórico-prácticos con el concepto y la experiencia de la libertad sino que,
además, el querer está condicionado. El lema que reza laissez faire sea, quizá el más
perverso de todos los que enarbola el capitalismo y que, no gratuitamente, subyace al
concepto de libertad de ese ‘yo’ ultracreador, que incluso puede modificar la cualidad de
lo histórico al suprimir el futuro. La idealización del «yo» terminó derivando en una
suerte de hipersubjetivación de la realidad, que seguiría ahondando en el concepto
ilustrado de ‘dignidad humana’ donde
«se revela la usurpación del sujeto que degrada a mero material a lo que no está
sometido a él. […] Los seres humanos no están dotados positivamente de dignidad
[…] Bajo el signo de la dignidad adherida a los seres humanos […]el arte se convirtió
en la palestra […] que en la reflexión estética apartó lo sólido al borde de lo que la
amplia y sucia corriente principal del espíritu arrastraba consigo» (Adorno 2004: 89).
24 El dejar hacer tendría, en su versión anticapitalista, el peligro de caer en el todo vale. Ese
‘todo vale’, que ha sido terriblemente usado por los críticos culturales sin cultura, se
refiere aquí a la trágica caída en la idealización del ‘yo’ en un ‘antiyo’, en un ‘yo’ que
plantea su propia destrucción, el odio, la violencia y el dolor como formas de vivir. «El
punk está pasado por el tamiz del odio a uno mismo, que es siempre algo reflexivo y que
en cualquier momento concluyes que la vida apesta y que la casi totalidad de la raza
humana no es más que un montón de mierda, con lo que tienes el terreno perfectamente
abonado para el fascismo» (Marcus 2007: 91). De hecho, en la conversión del punk en
moda -que es el peligro de todo lo que quiere ser subversivo-termina haciendo de ese
‘hiperyo’ que puede, si quiere, hacer de su vida en arte u odiarse a sí mismo (o todo a la
vez), en un cúmulo de sujetos que son todos iguales, que se disuelven en lo que se supone
que tienen que ser para alcanzar ese ‘hiperyo’. Es decir, en la radicalización de la
subjetividad se encuentra, en realidad, el núcleo de su supresión o, al menos, de su
debilitamiento. Los Sex Pistols daban ese momento de transgresión que, morbosamente,
todos los pequeñoburgueses esperaban experimentar en algún momento: escupir, mear,
cortarse el pelo a tiras y colorearlo y aceptar la condena social. Pero eso es también un
producto, no tiene nada de trasgresor, salvo en su superficie. Igual que en los mundiales
de fútbol se grita al árbitro lo que no se le grita al político, los Sex Pistols cooperaban en
esa suerte de desahogo comunal, que en ocasiones incluso rozaba lo ritualístico. Ya lo
trazó Durkheim cuando desarrolló el concepto de efervescencia colectiva (en Las formas
elementales de religiosidad), en la que la multitud es más que el individuo, permitiendo así a
éste, arropado por el grupo, hacer cosas que no habría hecho fuera de esas circunstancias
especiales. Por tanto, el ‘yo’ fuerte queda disuelto, emborronado, siguiendo en última
instancia la misma estrategia que utilizan la burocracia y los mercados: la reducción de la
individualidad, el control de los nadies.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
146
Apunte final
25 Aunque se han tratado de exponer algunas debilidades en los asuntos que quedan abiertos
en el libro cabe apuntar brevemente las virtudes de este ensayo. Su propia esencia
dadaísta (que en cierto modo es subyacente a cualquier texto con intención ensayística),
en la que se intercalan diferentes textos, citas y propios comentarios del autor –algunos
de absoluta brillantez- no solamente reivindican su lugar en la historia algunas voces que
se encuentran injustamente silenciadas, sino que recupera un secreto del que la teoría no
se puede olvidar nunca. Es el secreto de no dejar al lector indiferente, de no paralizar su
pensar, de no darle todas las claves. Quizá esas claves no existen, pero lo que es seguro es
que Marcus se cuida en no falsear el secreto mostrándolo como totalidad de sentido,
explicitando todas sus rendijas. Puede ser que muchos asuntos que nombra resulten
chocantes, exagerados, inexactos. Precisamente en el proceso de extremar lo extremo
puede salir, por contraste con lo normalizado, lo que el extremo tiene de verdad.
Asimismo, el enfrentarse a este fenómeno desde tan escasa distancia histórica es también
un logro: estamos tan cerca de lo que somos actualmente que es una verdadera afrenta
salir de la cotidianidad y someterla a estudio. Marcus, en lugar de hablar del reflejo en el
espejo, escribe desde la visión del propio espejo que mira a aquellos que pretenden
encontrarse a sí mismos en él.
26 Para Marcus, la potencia del punk se encuentra en que hizo estallar “las premisas de la
vieja crítica” sobre la cultura de masas, que se entendía como una pseudocultura o algo
por debajo de las formas culturales elevadas. El punk se regodeaba de ser anticultura.
Hoy, cuando se cumple el 30 aniversario del surgimiento de los Sex Pistols, parece que la
reflexión no se debería dirigir tanto a la cultura de masas que pretende o es incluso
antisistema de forma explícita, sino lo que de antisistema tienen las formas más
integradas del consumo del ocio. Que en la sociedad más feminista conocida hasta ahora
el reguetón sea la música más escuchada en muchos países abre preguntas que cuestionan
si, verdaderamente, la sociedad es tan feminista como presume o si existen
contradicciones profundas en la cultura de masas que quizá sólo puedan pensarse desde
la brecha de su contradictoriedad. Al igual que en el punk, que supo ser trinchera y
producto al mismo tiempo, que era retrógrado en lo musical y radical en lo extramusical,
que cambió la historia y la legitimó al mismo tiempo, los fenómenos de la cultura de
masas no son nunca inequívocos (aunque lo pretendan). Las formas antisistemáticas de lo
integrado a nivel masivo se oponen a las formas disruptivas de la cultura, que
supuestamente ofrecen espacios desde los que repensar la historia, al sujeto, al objeto, y
todas esas categorías que han enhebrado la filosofía. El problema, que hoy no sólo en
relaciones entre lo musical y lo extramusical, sino también en las redes sociales o en los
youtubers, es cómo articular un discurso no elitista y no peyorativo sobre aquello no
disruptivo, sobre aquello que repite explícitamente las prescripciones del capital. Porque
lo disruptivo es lo que aún no somos y se nos ofrece abierto, pero lo antisistemático de lo
integrado es, quizá, el secreto del presente.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
147
BIBLIOGRAFÍA
Adorno, Theodor W. 2004. Teoría estética. Madrid: Akal, 2004.
_____. 2008a. Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad, Madrid: Akal.
_____, 2008b. Monografías musicales. Madrid: Akal.
_____. 2009. Crítica de la cultura y sociedad II, Madrid: Akal.
_____, 1998. Educación para la emancipación. Madrid: Morata.
_____ y Horkheimer, Max. 2007. Dialéctica de la Ilustración, Madrid: Akal
Benjamin, Walter. 1982. Infancia en Berlín hacia 1900. Madrid: Alfaguara..
Benjamin, Walter. 1991. Gesammelte Schriften,vol. VI, Frankfurt a. M.: Surhkamp [trad. Carlos
Marzán y Marcos Hdez.]
_____. 1993. Metafísica de la juventud, Barcelona: Paidós.
Benjamin, Walter. 2003. Obras I, 2. Madrid: Abada, 2003.
_____. 2010. Calle de dirección única, en Obras Libro IV, vol. 1, Madrid: Abada.
Debord, Guy. 1995. La sociedad del espectáculo. Santiago de Chile: Naufragio.
Foucault, M.. 2014. El coraje de la verdad. Madrid, Akal.
Lafargue, Paul. 1977. Derecho a la pereza (Refutación del derecho al trabajo de 1848). Madrid:
Fundamentos.
Marx, Karl y Engels, Friedrich. 1981. Obras escogidas en tres tomos, Tomo I. Moscú: Progreso.
Marcus, Greil. 2005. Rastros de carmín. La historia secreta del siglo XX. Madrid: Anagrama.
NOTAS
1. «Kant es el filósofo cuya doctrina se ha acreditado de más fecunda y la más honda ha arraigado
en nuestra cultura alemana. Aunque no lo haya leído, ha influido en usted» (Eckermann, J. P.,
Conversaciones con Goethe en los últimos años de s1u vida, en Goethe, J. W., Obras completas, Tomo III,
Madrid, Aguilar, 1951, p. 129).
RESÚMENES
El subtítulo del libro (ya) clásico Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX de Greil
Marcus habla sobre un secreto que recorre el siglo XX. Es un secreto que trata sobre el punk y de
un discurso que no aparece en los libros de historia pero que espera poder destruirlos. En este
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
148
trabajo se pretende poner en entredicho la fuerza política del punk en los términos que él los
defiende y encontrar los conflictos teóricos que aparecen, en concreto, en su análisis del proyecto
de los Sex Pistols. Para ello, se articulará una filiación crítica entre el texto de Marcus y algunos
pensadores fundamentales de la cultura en el siglo XX, como Benjamin o Adorno.
The subtitle of the (already) classic book “Lipstick Traces: A Secret History of the 20th Century”
by Griel Marcus talks about a secret which traverses the past century. It is a secret related to
punk and the defeat of the left, to utopia and to a discourse which will never appear in history
books but seeks to destroy them. This article seeks to question the politic power of punk in
Marcus’ terms, and discuss the theoretical issues of his analysis of the Sex Pistols’ project. To that
end, For that, a critical link will be established between Marcus’ text and some of the outstanding
cultural critics of the XXst century, like Benjamin or Adorno.
ÍNDICE
Keywords: Sex Pistols, Greil Marcus, Punk, Benjamin, Adorno
AUTOR
MARINA HERVÁS MUÑOZ
Universitat Autónoma de Barcelona, España
Facultad de Filosofía
mhermu@hotmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 5, No 2 | 2016
Você também pode gostar
- A Antropologia Pelo DesenhoDocumento10 páginasA Antropologia Pelo DesenhoPatrice SchuchAinda não há avaliações
- Aina Azevedo - Diário de Campo e Diário Gráfico PDFDocumento21 páginasAina Azevedo - Diário de Campo e Diário Gráfico PDFCaetano SordiAinda não há avaliações
- Revista Continente Multicultural #270: O cérebro eletrônico faz tudo?No EverandRevista Continente Multicultural #270: O cérebro eletrônico faz tudo?Ainda não há avaliações
- Onze benefícios de usar desenhos em trabalho de campo antropológicoDocumento42 páginasOnze benefícios de usar desenhos em trabalho de campo antropológicoPedro FreitasAinda não há avaliações
- Histórico Cadernos de Antropologia e ImagemDocumento4 páginasHistórico Cadernos de Antropologia e ImagemPROFESSOR VISITANTE 2023Ainda não há avaliações
- HUCHET S. O Historiador e o Artista Na Mesa de (Des) OrientaçãoDocumento16 páginasHUCHET S. O Historiador e o Artista Na Mesa de (Des) OrientaçãofraguiarAinda não há avaliações
- Processos Criativos na AntropologiaDocumento11 páginasProcessos Criativos na AntropologiaGN 7FOTOS7Ainda não há avaliações
- Entrevista A Hubert Damisch Por Joana Cunha LealDocumento12 páginasEntrevista A Hubert Damisch Por Joana Cunha LealmlcrsoaresAinda não há avaliações
- Propagandas em RevistasDocumento7 páginasPropagandas em RevistasMelissa CAinda não há avaliações
- Curadorias antropológicas: reflexões sobre exposições de arteDocumento20 páginasCuradorias antropológicas: reflexões sobre exposições de arteAndré PitolAinda não há avaliações
- Diálogo entre arte e antropologiaDocumento13 páginasDiálogo entre arte e antropologiaCássio GuimarãesAinda não há avaliações
- Presença visual na Idade MédiaDocumento37 páginasPresença visual na Idade MédiaSabrina PereiraAinda não há avaliações
- Fundamentos em Modos de Conhecimento I: Etnografia do ConhecimentoDocumento4 páginasFundamentos em Modos de Conhecimento I: Etnografia do ConhecimentoAnaCarlaBarrosSobreiraAinda não há avaliações
- Foto Koosoy PDFDocumento11 páginasFoto Koosoy PDFthiaguinholayerAinda não há avaliações
- SARDELICH - Leitura de Imagens e Cultura VisualDocumento10 páginasSARDELICH - Leitura de Imagens e Cultura VisualLuciana RibeiroAinda não há avaliações
- Como Escrever o Futuro - REIS - Paulo - Roberto - de - Oliveira-1Documento13 páginasComo Escrever o Futuro - REIS - Paulo - Roberto - de - Oliveira-1Luana HauptmanAinda não há avaliações
- SAMAIN, Etienne. Antropologia Imagens e ArteDocumento9 páginasSAMAIN, Etienne. Antropologia Imagens e ArteElisandro RodriguesAinda não há avaliações
- Desenhar para conhecer: a rede de desenhadores urbanosDocumento13 páginasDesenhar para conhecer: a rede de desenhadores urbanosLélia VilelaAinda não há avaliações
- Vivian Wolf KraussDocumento14 páginasVivian Wolf KraussArmando Cypriano PiresAinda não há avaliações
- Cultura Visual: definições em debateDocumento20 páginasCultura Visual: definições em debatelidsantos1Ainda não há avaliações
- Antropologia, Imagens e ArteDocumento10 páginasAntropologia, Imagens e ArteAdrienne FirmoAinda não há avaliações
- Aa 6653Documento15 páginasAa 6653Nathanael AraujoAinda não há avaliações
- Brasil em ImagensDocumento34 páginasBrasil em ImagensSylvia Caiuby NovaesAinda não há avaliações
- O uso da imagem na Antropologia: desafios e possibilidadesDocumento8 páginasO uso da imagem na Antropologia: desafios e possibilidadesClaudia GordilloAinda não há avaliações
- 29535-Texto Do Artigo-132580-1-10-20201215Documento13 páginas29535-Texto Do Artigo-132580-1-10-20201215Carina FreitasAinda não há avaliações
- Da Representação Das Sobras À Reantropofagia PDFDocumento29 páginasDa Representação Das Sobras À Reantropofagia PDFMaclau GorgesAinda não há avaliações
- Um Livro de ArtistaDocumento63 páginasUm Livro de Artistaeduardo mendes ADSAinda não há avaliações
- Desenhar Com Uma CamêraDocumento32 páginasDesenhar Com Uma CamêrakatiannealmeidaAinda não há avaliações
- Programa ProvisórioDocumento4 páginasPrograma ProvisórioElen BachAinda não há avaliações
- Deixei o Desenho EnterradoDocumento17 páginasDeixei o Desenho EnterradoPatrice SchuchAinda não há avaliações
- Entre o Visível e o Não - Dito - Uma Entrevista Sobre Histórias e Curadoria Com Lilia Moritz SchwarczDocumento14 páginasEntre o Visível e o Não - Dito - Uma Entrevista Sobre Histórias e Curadoria Com Lilia Moritz Schwarczadriana_mcmAinda não há avaliações
- Antropologia Das Formas Expressivas - 2024.1doisDocumento5 páginasAntropologia Das Formas Expressivas - 2024.1doisbatista.elenprocopioAinda não há avaliações
- DesenhoDocumento332 páginasDesenhoMarcos Oliveira PazAinda não há avaliações
- Silvia Patuzzi Programa História e Imagens 2019.2Documento3 páginasSilvia Patuzzi Programa História e Imagens 2019.2Sisi L.GAinda não há avaliações
- Livros de artista: uma categoria multifacetada e abertaDocumento14 páginasLivros de artista: uma categoria multifacetada e abertaYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Entre DomíniosDocumento216 páginasEntre DomíniosRafael ConterAinda não há avaliações
- Ensaios sobre antropologia, identidade e questões sociaisDocumento4 páginasEnsaios sobre antropologia, identidade e questões sociaisCristiane TavaresAinda não há avaliações
- BIBLIOGRAFIADocumento2 páginasBIBLIOGRAFIAgrdnvs1Ainda não há avaliações
- Imagem Como Fonte HistóricaDocumento10 páginasImagem Como Fonte HistóricaNathy BelmaiaAinda não há avaliações
- Silvia Dolinko-Gráfica Expandida-Sobre Algunas Relaciones Entre Espacio Público-Imágenes y TextosDocumento30 páginasSilvia Dolinko-Gráfica Expandida-Sobre Algunas Relaciones Entre Espacio Público-Imágenes y TextosNancy RojasAinda não há avaliações
- FERNANDES-DIAS, José A. Arte e Antropologia No Século XX - Modos de Relação 1Documento29 páginasFERNANDES-DIAS, José A. Arte e Antropologia No Século XX - Modos de Relação 1Tales Gaspar FernandesAinda não há avaliações
- 412-Texto Do Artigo-1275-1-10-20220209Documento19 páginas412-Texto Do Artigo-1275-1-10-20220209Cristiano SteinmetzAinda não há avaliações
- RELATÓRIO FINAL ChromiecDocumento42 páginasRELATÓRIO FINAL ChromiecElaine StankiewichAinda não há avaliações
- Dominios Da Imagem 2Documento150 páginasDominios Da Imagem 2Maurício ZoueinAinda não há avaliações
- Antropologia e audiovisualDocumento7 páginasAntropologia e audiovisualIara EmanuelleAinda não há avaliações
- Entre contexto e linguagem: análise histórica da fotografiaDocumento10 páginasEntre contexto e linguagem: análise histórica da fotografiaMarcos César da SilvaAinda não há avaliações
- Gama e KuschnirDocumento5 páginasGama e KuschnirVivian FonsecaAinda não há avaliações
- Imagem como fonte históricaDocumento10 páginasImagem como fonte históricaAugusto NettoAinda não há avaliações
- A ARTE E ILUSAO Um Estudo Da PsicologiaDocumento35 páginasA ARTE E ILUSAO Um Estudo Da PsicologiaVirginio MantessoAinda não há avaliações
- A linguagem iconográfica da cerâmica MarajoaraDocumento232 páginasA linguagem iconográfica da cerâmica Marajoaraarv2401Ainda não há avaliações
- COLAB - SEMINÁRIO - BAXANDALL, Michael. O Retrato de KahnweilerDocumento10 páginasCOLAB - SEMINÁRIO - BAXANDALL, Michael. O Retrato de KahnweilerClara CañedoAinda não há avaliações
- TD de Arte - Av 2Documento6 páginasTD de Arte - Av 2Caio nicolas meloAinda não há avaliações
- Linguagens VisuaisDocumento394 páginasLinguagens VisuaisAspa Pa100% (2)
- 1 PBDocumento18 páginas1 PBIngrid Raíssa CarneiroAinda não há avaliações
- Arte experimental e política no Brasil dos anos 1960Documento213 páginasArte experimental e política no Brasil dos anos 1960gladcostaAinda não há avaliações
- Nelson Leirner e a vanguarda brasileira dos anos 1960Documento20 páginasNelson Leirner e a vanguarda brasileira dos anos 1960Vitor MarcelinoAinda não há avaliações
- Admin, Everton de Souza Teixeira - AL 10Documento17 páginasAdmin, Everton de Souza Teixeira - AL 10borbaAinda não há avaliações
- O Trabalho Das Imagens - AnaDocumento8 páginasO Trabalho Das Imagens - AnaArcanjoEdisonAinda não há avaliações
- Festas rave entre campo e cidadeDocumento143 páginasFestas rave entre campo e cidadeDaniele Borges100% (1)
- Diferenças sociais e identidadesDocumento48 páginasDiferenças sociais e identidadesHolli DavisAinda não há avaliações
- Bateson, Gregory - NavenDocumento384 páginasBateson, Gregory - NavencazembesAinda não há avaliações
- CHIESA, Gustavo Ruiz. Gregory Bateson e Tim Ingold PDFDocumento26 páginasCHIESA, Gustavo Ruiz. Gregory Bateson e Tim Ingold PDFPedro Freitas Neto100% (1)
- Antropologia A Alma Das CoisasDocumento307 páginasAntropologia A Alma Das CoisasAlvaro Pouey100% (1)
- Cap. Ebook Memória e Patrimônio - Tramas Do Contemporâneo PDFDocumento409 páginasCap. Ebook Memória e Patrimônio - Tramas Do Contemporâneo PDFDaniele BorgesAinda não há avaliações
- LAGROU, E. - Antropologia e Arte Uma Relação de Amor e ÓdioDocumento21 páginasLAGROU, E. - Antropologia e Arte Uma Relação de Amor e ÓdioDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Huberman-Didi, Georges Devolver A ImagemDocumento11 páginasHuberman-Didi, Georges Devolver A ImagemDaniele BorgesAinda não há avaliações
- História Da Hanseníase No BrasilDocumento25 páginasHistória Da Hanseníase No BrasilDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Original o Que Eh Perf SchechnerDocumento25 páginasOriginal o Que Eh Perf SchechnerCinthia MendonçaAinda não há avaliações
- Grafando Um Rosto FamiliarDocumento19 páginasGrafando Um Rosto FamiliarDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Miolo Poéticas Abertas PDFDocumento454 páginasMiolo Poéticas Abertas PDFNaldogbiAinda não há avaliações
- Devires Imageticos Etnografia o Outro e PDFDocumento306 páginasDevires Imageticos Etnografia o Outro e PDFNozaMemusAinda não há avaliações
- Festas rave entre campo e cidadeDocumento143 páginasFestas rave entre campo e cidadeDaniele Borges100% (1)
- Turner Antropologia Da PerformanceDocumento14 páginasTurner Antropologia Da PerformanceAnonymous kgl2IocAinda não há avaliações
- PRICE, Sally - Arte Primitiva em Centros CivilizadosDocumento13 páginasPRICE, Sally - Arte Primitiva em Centros CivilizadosDaniel Dalla ZenAinda não há avaliações
- Poeticas Da Criacao UFES 2013 PDFDocumento506 páginasPoeticas Da Criacao UFES 2013 PDFDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Dever de Memória': (Re) Significando As Ditaduras Militares No Brasil e Paraguai Por Meio Dos Espaços de MemóriaDocumento16 páginasDever de Memória': (Re) Significando As Ditaduras Militares No Brasil e Paraguai Por Meio Dos Espaços de MemóriaDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Definição da arte antropológicaDocumento18 páginasDefinição da arte antropológicaPaloma NevesAinda não há avaliações
- Huberman-Didi, Georges Devolver A ImagemDocumento11 páginasHuberman-Didi, Georges Devolver A ImagemDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Antropólogo Gregory Bateson e a cerimônia Naven entre os IatmulDocumento23 páginasAntropólogo Gregory Bateson e a cerimônia Naven entre os IatmulDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Por uma etnografia multissensorial: experimentações com fotografia e montagemDocumento28 páginasPor uma etnografia multissensorial: experimentações com fotografia e montagemDaniele BorgesAinda não há avaliações
- NovaesDocumento11 páginasNovaessegataufrnAinda não há avaliações
- Antropologia Cultural. BOASDocumento10 páginasAntropologia Cultural. BOASDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Combate à Lepra RSDocumento285 páginasCombate à Lepra RSDaniele BorgesAinda não há avaliações
- DAMATTA, Roberto. O Ofício de Etnólogo, Ou Como Ter "Anthropological Blues"Documento9 páginasDAMATTA, Roberto. O Ofício de Etnólogo, Ou Como Ter "Anthropological Blues"Ncolonialism100% (14)
- Memória e Novos Patrimônios PDFDocumento227 páginasMemória e Novos Patrimônios PDFJoana PassosAinda não há avaliações
- Expografia de gênero desafia discursos patriarcaisDocumento23 páginasExpografia de gênero desafia discursos patriarcaisDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Catálogo Visualidades CearáDocumento44 páginasCatálogo Visualidades CearáDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Resenha Fupea Dezembro 2017Documento4 páginasResenha Fupea Dezembro 2017MárcioCReisAinda não há avaliações
- O Canto Coral Como Prática Sócio Cultural e Educativo Musical - Rita Fucci AmatoDocumento22 páginasO Canto Coral Como Prática Sócio Cultural e Educativo Musical - Rita Fucci AmatoRomulo SilvaAinda não há avaliações
- Projeto EmpreendedorismoDocumento4 páginasProjeto EmpreendedorismolascarmoAinda não há avaliações
- Admissão na Pediatria: Procedimento de AtendimentoDocumento2 páginasAdmissão na Pediatria: Procedimento de AtendimentoThaysa SouzaAinda não há avaliações
- Escola Municipal “Dr. Jacinto Campos” Atividades Remotas de Matemática para 4o anoDocumento5 páginasEscola Municipal “Dr. Jacinto Campos” Atividades Remotas de Matemática para 4o anoLucilene RamosAinda não há avaliações
- Sala de Aula Invertida Uma Metodologia ADocumento5 páginasSala de Aula Invertida Uma Metodologia AAlisson da silva rochaAinda não há avaliações
- Edital Instituto de Ciencias de Saude 2024 PDFDocumento9 páginasEdital Instituto de Ciencias de Saude 2024 PDFMicheque FelixAinda não há avaliações
- Edital PPGPF 2023.1Documento18 páginasEdital PPGPF 2023.1Nascimento AlvesAinda não há avaliações
- Planejamento Caderno 1 - Pnaic Ufop 2015Documento7 páginasPlanejamento Caderno 1 - Pnaic Ufop 2015Luana ZacariasAinda não há avaliações
- Autista SagahDocumento23 páginasAutista SagahCamila Machado100% (1)
- Integração Sistemática Da Segurança e Da Saúde No Trabalho NDocumento2 páginasIntegração Sistemática Da Segurança e Da Saúde No Trabalho NRuiMãodeFerroAinda não há avaliações
- Matemática Enunciado PCT1 2019Documento2 páginasMatemática Enunciado PCT1 2019Joao RibeiroAinda não há avaliações
- Obras Obrigatórias UFPRDocumento2 páginasObras Obrigatórias UFPRgabrielbernardes001Ainda não há avaliações
- Educação histórico-socialDocumento32 páginasEducação histórico-socialBruna MendonçaAinda não há avaliações
- Reunião Geral TardeDocumento4 páginasReunião Geral Tardemarinescotrim05Ainda não há avaliações
- 2024-03-05-18-59-45-95206545-classificacao-dos-agentes-toxicos-e1709675985Documento61 páginas2024-03-05-18-59-45-95206545-classificacao-dos-agentes-toxicos-e1709675985Fefa GomesAinda não há avaliações
- Flexão Nórdica e Flexão Nórdica Reversa Efeitos Do TreinamentoDocumento13 páginasFlexão Nórdica e Flexão Nórdica Reversa Efeitos Do TreinamentoAnderson RodriguesAinda não há avaliações
- Técnica de cortes seriados de peças anatômicasDocumento1 páginaTécnica de cortes seriados de peças anatômicas16fernandoAinda não há avaliações
- Técnicas de Aprendizado e Habilidades MetacognitivasDocumento2 páginasTécnicas de Aprendizado e Habilidades MetacognitivasMirieli LídiaAinda não há avaliações
- Como o mindfulness perdeu o rumo éticoDocumento2 páginasComo o mindfulness perdeu o rumo éticoMarcus ForteAinda não há avaliações
- Quadro Comparativo Educação Formal e Nã FormalDocumento2 páginasQuadro Comparativo Educação Formal e Nã FormalSoyara Almeida100% (4)
- Edson Casagrande e Graziela Oliveira UPFDocumento21 páginasEdson Casagrande e Graziela Oliveira UPFapi-3720110Ainda não há avaliações
- Termo de AdesãoDocumento63 páginasTermo de AdesãoWalter Silvério Lopes JuniorAinda não há avaliações
- Filosofia Política ModernaDocumento9 páginasFilosofia Política ModernaSiabel MondlaneAinda não há avaliações
- Denzinger Peter Hünermann 12.04.18Documento2 páginasDenzinger Peter Hünermann 12.04.18Lindson GomesAinda não há avaliações
- Problemas de Aprendizagem: Diagnóstico e TratamentoDocumento5 páginasProblemas de Aprendizagem: Diagnóstico e TratamentorizzademoraisAinda não há avaliações
- Cumprimento de LiminarDocumento2 páginasCumprimento de Liminarmatheus.guilhermeAinda não há avaliações
- Cuidar Educar e BrincarDocumento5 páginasCuidar Educar e BrincarIsla Fernanda Mota Da Costa CamposAinda não há avaliações
- Currículo de pesquisador em literatura comparadaDocumento10 páginasCurrículo de pesquisador em literatura comparadabezerracassAinda não há avaliações
- Formação Leitura 1oDocumento9 páginasFormação Leitura 1oEdelson ParnovAinda não há avaliações
- Danças de matriz africana: Antropologia do movimentoNo EverandDanças de matriz africana: Antropologia do movimentoNota: 3 de 5 estrelas3/5 (3)
- Jogo e civilização: História, cultura e educaçãoNo EverandJogo e civilização: História, cultura e educaçãoAinda não há avaliações
- Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNo EverandAnálise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (13)
- Do átomo ao buraco negro: Para descomplicar a astronomiaNo EverandDo átomo ao buraco negro: Para descomplicar a astronomiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- Introdução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNo EverandIntrodução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- História das religiões: Perspectiva histórico-comparativaNo EverandHistória das religiões: Perspectiva histórico-comparativaAinda não há avaliações
- Conformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4No EverandConformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Metodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNo EverandMetodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Conexão mente corpo espírito: para o seu bem-estar - Uma cientista ousada avaliza a medicina alternativaNo EverandConexão mente corpo espírito: para o seu bem-estar - Uma cientista ousada avaliza a medicina alternativaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Fé cristã e pensamento evolucionista: Atualizações teológico-pastorais a um tema desafiadorNo EverandFé cristã e pensamento evolucionista: Atualizações teológico-pastorais a um tema desafiadorJoel Portella AmadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Atlas de anatomia: Imagens humanas e veterináriasNo EverandAtlas de anatomia: Imagens humanas e veterináriasNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (2)
- Patologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquicoNo EverandPatologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquicoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- A História da Astrologia Para Quem Tem Pressa: Das tábuas de argila há 4.000 anos aos apps em 200 páginas!No EverandA História da Astrologia Para Quem Tem Pressa: Das tábuas de argila há 4.000 anos aos apps em 200 páginas!Nota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3)
- A Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNo EverandA Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Saberes gastronômicos e formação de chefs: O itinerário acadêmico-profissional de gastrônomosNo EverandSaberes gastronômicos e formação de chefs: O itinerário acadêmico-profissional de gastrônomosAinda não há avaliações
- Como desenvolver a autodisciplina: Resista a tentações e alcance suas metas de longo prazoNo EverandComo desenvolver a autodisciplina: Resista a tentações e alcance suas metas de longo prazoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (39)
- Como Escrever Bem: Projeto de Pesquisa e Artigo CientíficoNo EverandComo Escrever Bem: Projeto de Pesquisa e Artigo CientíficoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (9)
- Formação de professores para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiaisNo EverandFormação de professores para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiaisNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Somos nosso cérebro?: Neurociências, subjetividade, culturaNo EverandSomos nosso cérebro?: Neurociências, subjetividade, culturaAinda não há avaliações