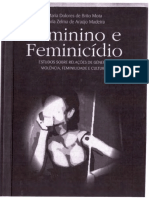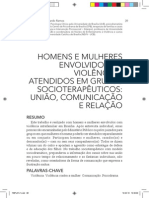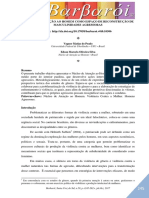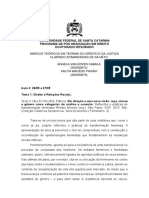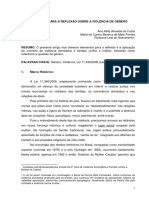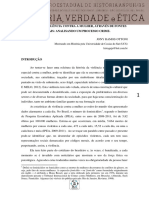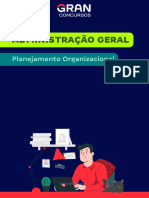Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Masculinidade e Violencia o Ethos Guerreiro
Masculinidade e Violencia o Ethos Guerreiro
Enviado por
Kelvim RochaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Masculinidade e Violencia o Ethos Guerreiro
Masculinidade e Violencia o Ethos Guerreiro
Enviado por
Kelvim RochaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MASCULINIDADE E VIOLÊNCIA: O ETHOS GUERREIRO POR UMA
PERSPECTIVA MITOLÓGICA
Leonardo Tesser Penha
RESUMO: Para entender determinados fenômenos sociais complexos, como a
violência contra a mulher praticada por homens, é necessário compreender a forma
como certas representações do masculino estão ligadas à violência, criminalidade e
mortalidade. Com tal objetivo, este artigo utiliza revisão bibliográfica sobre os
elementos constitutivos dessa masculinidade e suas consequências, valendo-se de
estudos sociológicos brasileiros e estrangeiros, além de dados da Saúde Pública
nacional. Posta tal caracterização de cunho sociológico, utiliza-se da Filosofia e da
Psicologia Junguiana para, por meio da figura mitológica e arquetípica do guerreiro,
analisar os elementos constitutivos da masculinidade beligerante. Como resultado,
tem-se que é possível identificar, desde a Antiguidade, a forma como a figura
masculina está ligada ao domínio pela força e violência.
Palavras-chave: Masculinidade. Gênero. Violência. Criminalidade. Psicologia.
Mitologia.
INTRODUÇÃO
Em 2013, no Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, 574.207 pessoas estavam presas no sistema penitenciário. Deste número,
539.180 dos presos eram homens, o equivalente a 93,9% do total de encarcerados.
Quanto ao número de mortos por agressão, também em 2013, de um total de 54.269
óbitos em todo o território nacional, 91,4% eram homens. Tal protagonismo
masculino se repete tanto no papel de vítima quanto no de agressor na maioria dos
crimes, principalmente quando há uso de violência.
Ainda que tamanha disparidade estatística entre homens e mulheres possa
causar espanto, ao mesmo tempo, não surpreende. A ideia de que a violência e a
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
criminalidade são inerentes à natureza masculina é altamente naturalizada, sendo
atribuída a ela, também, valores como virilidade, competitividade, força,
agressividade e poder.
Apesar de ter sido possível desconstruir certas naturalizações de gênero por
intermédio dos movimentos feministas, tais alterações se dão predominantemente
em âmbito teórico-acadêmico, e não na sociedade como um todo. A perpetuação
desse masculinidade guerreira acarreta um ciclo de violência que afeta tanto
mulheres quanto homens, na medida em que, por se tratar de um modelo normativo
de gênero, tem seus valores disseminados de geração para geração.
A análise dos elementos que compõem o que se entende por masculinidade
permite que novos enfoques sejam dados aos estudos de gênero, além de mobilizar
novas compreensões para a criação e aplicação de Leis e de Políticas Públicas. O
sistema carcerário, majoritariamente tomado por indivíduos do sexo masculino, se
torna meio reprodutor do mesmo comportamento que se deseja inibir; a violência, a
frieza, a competitividade e a demonstração de força se tornam meios necessários
para a própria sobrevivência.
Fenômenos sociais complexos, como o narcotráfico e a violência contra a
mulher, exigem estudos sobre as ideologias perpetuadoras e as motivações de tais
condutas. Utilizar a Mitologia como forma de acesso aos símbolos subconscientes,
ao inconsciente coletivo, permite compreender o quão antiga é a relação entre
masculinidade, violência e dominação.
1 A IDENTIFICAÇÃO DE UMA MASCULINIDADE ESPECÍFICA
O estudo das masculinidades tem conquistado espaço no Brasil. Alguns
autores, inclusive, já identificaram e descreveram uma masculinidade considerada
hegemônica. Alba Zaluar (1994) percebeu tais relações ao realizar entrevistas com
jovens que se envolveram com a criminalidade. Ela notou, nos discursos de seus
entrevistados, que o crime e a violência eram sempre entendidos como meio de
manifestação de virilidade, de poder e independência. A autora dirá, então, que essa
masculinidade é definida por um “ethos da masculinidade”.
[...] os entrevistados referiram-se sempre a uma fase crucial da vida,
que começa em torno dos 14 anos de idade, como um marco no
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
envolvimento com a criminalidade. Este tema era desenvolvido de
várias maneiras, todas elas relacionadas a um ethos da
masculinidade [...] (ZALUAR, 1994, p. 101, grifo do autor).
As demonstrações de força e autonomia, ainda que violentas, são
consideradas fundamentais, por constituírem a própria essência da masculinidade.
O porte de arma de fogo e a ostentação de bens materiais são percebidos como
motivos de encantamento pelo mundo do crime. As “roupas bonitas”, por exemplo,
são objeto de desejo dos rapazes, na medida em que chamam a atenção das
mulheres.
As referências explícitas à lógica da necessidade falam do gosto que
os jovens rapazes têm pelas roupas bonitas “para aparecer bonito às
mulheres” ou “para não trajar que nem um mendigo”, também só
podem ser entendidas na sua associação com o mesmo ethos da
masculinidade, que torna mais valorizado o homem que tem “muitas
mulheres” ou que se torna atraente a seus olhos porque é poderoso,
porque “pode defender a mulher por andar armado”. (Ibid, p. 103,
grifo do autor)
A violência e a criminalidade não constituem propriamente objetivos, mas
meios de obtenção de reconhecimento social. Nilan, Demartoto e Broom (2013), ao
estudarem a relação entre masculinidade, violência e status socioeconômico na
Indonésia, apontam que a falta desse reconhecimento causa, nos homens,
sentimentos de vergonha e a perda do respeito por si próprio. As ações agressivas
são entendidas como meio de compensação, que objetivam aquilo que os autores
chamam de “status masculino legítimo” (“legitimate masculine status”, tradução
nossa). Tais condutas são, inclusive, toleradas pela sociedade indonésia, já que são
consideradas como integrantes da masculinidade normativa.
Ainda que não tenha tratado propriamente das influências de gênero, Frederic
Milton Thrasher (1927), ao estudar as gangues da Chicago de 1920, teve
conclusões que dialogam com as de Zaluar e Nilan, Demartoto e Broom. Em sua
investigação, Thrasher identifica que os integrantes das referidas gangues são
exclusivamente rapazes, que percebem seu grupo como um microuniverso em que
são aceitos – ou seja, em que obtêm um “status masculino legítimo”. O autor
também conclui que os conceitos de território, lealdade e hierarquia são elementares
na constituição das gangues.
Trasher [sic] identificou nas gangues delinqüentes características
idênticas às encontradas em organizações formais, como, por
exemplo, atividade dirigida a objetivos, estratificação interna,
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
exclusividade, lealdade para com o grupo e estabilidade, o que
autoriza que este tipo de agrupamento possa ser reconhecido como
uma organização complexa. (FREITAS, 2002, p. 79)
Em um meio que não fornece a estruturação da individualidade, esses
rapazes constroem identidades próprias, conquistam seu espaço e formam sua
própria “tribo", ainda que utilizando-se de violência. Novamente, estabelece-se um
diálogo entre a obra de Thrasher e de Zaluar, na medida em que a autora aponta
que “a autonomia individual como valor [...] perpassa a subcultura viril e de rua, que
é também a do mundo do crime, apontando para uma sociabilidade refeudalizada,
em que a força e a disposição para matar tornam-se fundamentais na sobrevivência”
(ZALUAR, 1994, p. 103).
A narrativa de Fábio Mallart (2014), em que descreve o cotidiano dos jovens
internos do Estado de São Paulo, ajuda a ilustrar a perpetuação dessa
masculinidade guerreira. Certos valores, como lealdade, hierarquia e o uso da
violência como instrumento de demonstração de poder – já percebidos por Thrasher
em 1936 – assumem papel central na sobrevivência dentro do ambiente carcerário
e entre os integrantes dos membros das facções.
Durante as sessões fotográficas, os adolescentes, ao mesmo tempo
que vestem roupas de marca, aplicam gel no cabelo e penduram as
correntes de prata, quando tais objetos encontram-se disponíveis,
evitam os sorrisos que, do ponto de vista de meus interlocutores,
vale notar, demonstram sinal de fraqueza. (MALLART, 2014, p. 21)
A frieza também é percebida como essencial, considerando-se que os
sentimentos em geral são entendidos como debilidade – ideia resumida no ditado
popular “homem não chora”.
Já no âmbito da Saúde Pública, Edinilsa Ramos de Souza caracteriza a
masculinidade hegemônica da mesma forma que a apresentada anteriormente, ou
seja, “associada [...] à virilidade, à força e ao poder advindos da própria constituição
biológica e sexual.” (SOUZA, 2005). Dialoga com as percepções de Nilan,
Demartoto e Broom, ao também apontar que essa masculinidade é uma condição a
ser conquistada, e não dada naturalmente pelo sexo biológico.
[Os jovens] constituem um grupo que assume riscos, seja pela mera
aventura da busca de sentido e prazer na vida, características que
fazem parte de sua identidade masculina, seja porque essa é a única
forma possível de sobreviver e ter algum direito ao reconhecimento e
ao respeito no interior de seu grupo e ao consumo, mesmo que
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
conseguido de modo ilegal e violento, porque as condições adversas
do meio em que vivem não lhes garante tais direitos. (SOUZA, 2005)
A maior contribuição de Souza é relacionar esse “ethos guerreiro” – termo
utilizado pela autora – às estatísticas brasileiras de criminalidade e vitimização.
Aponta que, em todas as fases da vida, o número de óbitos de homens por causas
externas supera o de mulheres, chegando a atingir, nos crimes de homicídio, 12
homens mortos para cada morte feminina.
Gráfico 1
Taxas de mortalidade por causas externas segundo faixas etárias e sexo. Brasil, 2000.
Fonte: SOUZA, 2005. Taxa por 100.000 habitantes.
O gráfico 1 demonstra que é na faixa dos 10 aos 14 anos que se inicia uma
escalada vertiginosa na taxa de mortalidade masculina por causas externas, tendo o
homicídio como principal causa. Corrobora, dessa forma, o trabalho de Zaluar, que
aponta que é justamente nessa idade em que se intensifica o envolvimento com a
criminalidade, muitíssimo relacionada com a própria concepção, formação e
conquista da masculinidade. Já as tabelas 1 e 2 servem como demonstração da
hegemonia masculina que tanto assume a posição de vítima (tabela 1) quanto a de
agressor (tabela 2) no Brasil.
Tabela 1
Mortes por agressão, por sexo, em 2013, no Brasil
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
Números absolutos %
Homens 49.609 91,4
Mulheres 4.580 8,4
Ignorado 80 0,1
Total 54.269 100
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 2014.
Tabela 2
Presos no sistema penitenciário, por sexo, em 2013, no Brasil
Números absolutos %
Homens 505.133 93,9
Mulheres 32.657 6,1
Total 537.790 100
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 2014. Referências: jun./2013.
Em levantamento sobre as taxas de homicídio no mundo, realizado pelo
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, repete-se o cenário de
hegemonia masculina nos índices de mortalidade. A Tabela 3 ilustra tais taxas nos
continentes africano, americano e europeu.
Tabela 3
Porcentagem de homens e mulheres vítimas de homicídio intencional, por país/território (último ano
disponível)
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime; tabela adaptada e traduzida pelo autor. Nota: foi
selecionado, para compor a tabela, o primeiro país de cada região da tabela original, com exceção
dos que não continham ou apresentavam 100% em um dos dados.
2 A MITOLOGIA E O ETHOS GUERREIRO
O mito, para a Filosofia, é a representação de uma realidade objetiva de
forma pictórica. Como escrevem Aranha & Martins (2009), “Como processo de
compreensão da realidade, o mito não é lenda, pura fantasia, mas verdade [grifo do
autor]”. O mito jaz subconsciente e inconsciente humano, representando nossas
emoções, paixões e medos, desejos e repulsas. Carl G. Jung utilizara a mitologia
para analisar e decifrar a psique humana, pois considera que parcela da realidade
não pode ser facilmente traduzida em uma forma lógico-dissertativa.
Os mitos são revelações originárias da alma pré-consciente,
pronunciamentos involuntários acerca do acontecimento anímico
inconsciente e nada menos do que alegorias de processos físicos.
[...] A mitologia de uma tribo é sua religião viva, cuja perda é tal como
para o homem civilizado, sempre e em toda parte, uma catástrofe
moral. (JUNG, 2003, p. 156).
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
Alvino Augusto de Sá utiliza, em uma de suas obras, o mito bíblico do Éden
para demonstrar como a violência nasceu com o homem. Escreve ele: “Ora, a
‘verdade’ dos mitos, na medida que carregada de arquétipos, é mais profunda que a
‘verdade’ puramente objetiva dos fatos, embora mais dificilmente acessível à razão
pura.” (SÁ, 2014, p. 26). Para Jung, um arquétipo, também chamado de imagem
primal, é uma “ideia-imagem” encrustada no inconsciente, que se reflete na
percepção da realidade, constituindo também um conjunto de valores.
O arquétipo guerreiro ajuda a explicar a grande similaridade entre as gangues
de Chicago estudadas por Thrasher em 1936, as observações de Fábio Mallart
sobre os jovens internos de São Paulo entre 2004 e 2009, e as percepções de Nilan,
Demartoto e Broom quanto aos valores na sociedade indonésia nos períodos de
2009 e 2010. Mesmo com a diferença territorial e o lapso temporal considerável, os
homens adotavam o mesmo sistema de valores como estruturantes de suas
personalidades e de seu grupo social.
A tentativa de caracterizar uma masculinidade específica, de cunho viril, nos
faz questionar o seu nascimento. É possível retrocedermos até a Grécia Antiga, da
qual a sociedade ocidental se mostra tão vastamente herdeira, e identificarmos, já
em sua mitologia, a presença de um ethos do guerreiro.
2.1 A união entre a Beleza e a Guerra
Ares é o deus grego da guerra selvagem, sendo equivalente, na mitologia
romana, a Marte. Filho de Zeus e Hera, vivia pelo combate violento, apreciando
intensamente o derramamento brutal de sangue. Tinha, como companheiros de
batalha, Deimos – o Temor – e Phobos – o Medo, ambos seus filhos. Apesar de não
ter sido muito cultuado na Grécia Antiga, com a exceção de Esparta, diz-se que teve
muitos filhos e muitas consortes. Entre elas está Afrodite, mulher de Hefesto, deus
grego da forja, que, apesar de sua magnífica habilidade, era considerado grotesco
por ser feio e coxo, além de mal-humorado e pouco amoroso com sua esposa, por
sua dedicação ao ofício.
Em um certo dia, ao se dirigir para seu trabalho, Hefesto é abordado por
Apolo, divindade alegórica do Sol, que lhe revela o adultério de sua esposa,
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
cometido com Ares. Incrédulo, o ferreiro prepara uma rede inquebrantável e
praticamente invisível para flagrar os dois amantes. Conta-nos Homero, na Odisseia,
que, ao capturá-los:
Retumba horrendo: “Ó Padre, ó vós deidades,
Vinde rir e indignar-vos desta infâmia.
Por coxo a Dial Vênus me desonra,
Amando ao sevo Marte, que é perfeito:
Se esta iesão me afeia, é toda a culpa
De meus pais, que gerar-me não deviam.
(Livro VIII, 238-243.)
O mito nos dá algumas pistas sobre as conceituações de gênero daquela
época. Manifestam, nele, duas masculinidades: uma intelectualizada, afastada do
plano físico, símbolo da Ciência, representada por Hefesto, e outra, do plano
material, violenta e dominadora, retratada por Ares.
Vale notar, também, como os gregos distinguiam duas formas de belicosidade.
Ares representa a carnificina e a guerra animalizada. Já Atena, filha de Zeus e Métis,
também era deusa da guerra, mas do conflito estratégico. Deve-se atentar ao fato de
Ares ter tido diversas mulheres e diversos filhos, enquanto atribui-se a Atena
somente um filho, sem nenhum casamento ou amante. Tais diferenças são bastante
significativas: ainda que os dois deuses representem a batalha, o homem retrata a
brutalidade e a virilidade sexual, e a mulher, por sua vez, representa a racionalidade
e a assexualidade – oposta, por sua vez, à figura de Afrodite.
Alexandre Charles Guillemot pintou o exato momento em que Hefesto flagra os
amantes durante o adultério. A maioria dos deuses que assistem à cena são
homens, que comentam a beleza de Afrodite; as outras deusas, solidárias à
companheira, se recusaram a participar de tal humilhação.
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
1
Figura 1 – Marte e Vênus surpreendidos por Vulcano
Afrodite mostra-se imensamente envergonhada e esconde o próprio rosto,
enquanto Ares demonstra frieza e ausência de remorso. Mais significativa ainda é a
nudez da deusa, representação de sua vulnerabilidade, enquanto o deus da guerra,
mesmo em um momento tão íntimo, mantém sua armadura e seu elmo, tendo a
espada e escudo a seu lado - esse ethos do guerreiro não permite demonstrações
de vulnerabilidade.
3 A UTILIDADE DO CONCEITO
A identificação dessa masculinidade específica, formada por um conjunto de
características ligadas à violência e dominação, resumidas no chamado “ethos do
guerreiro”, permite sua utilização na criação de políticas públicas, além dos campos
da Criminologia, da Saúde e da Sociologia.
Como exemplo, a promulgação da Lei 13.104, de 9 de março de 2015
estabeleceu o feminicídio como condição qualificadora do crime de homicídio. A
tipificação se dá quando o homicídio for cometido “contra a mulher por razões da
1
GUILLEMOT, Alexandre Charles. Mars and Venus Surprised by Vulcan. 1827. 1 original de arte,
óleo sobre tela, 146.1 cm x 113.7 cm. Indianapolis Museum of Art. Disponível em:
<http://collection.imamuseum.org/artwork/56220>. Acesso em outubro 2015.
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
condição de sexo feminino” (Art. 121, § 2º, VI, Código Penal), entendendo-se que há
tais razões no crime que envolver, segundo o Art. 121, § 2º-A: I – violência
doméstica e familiar, e II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Por
ser tipificado como homicídio qualificado, a pena de reclusão será de doze a trinta
anos, ao invés de seis a vinte, no caso de homicídio simples.
A promulgação da citada Lei foi comemorada por alguns setores sociais,
principalmente os ligados aos movimentos feministas, e rechaçada por outros,
inclusive por muitos juristas. Segundo Luís Francisco Carvalho Filho, que presidiu a
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e antigo membro do
Conselho Diretor da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), a medida
“[...] é um desastre técnico. Conspira contra o equilíbrio, a equidade e a lógica do
Código Penal.” (CARVALHO, 2015)
No mesmo sentido, segundo Leonardo Isaac Yarochewsky, membro do
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, “a aprovação do referido projeto representa
um retrocesso na busca pela igualdade e no próprio combate à discriminação, quer
seja por sexo, cor ou religião” (YAROCHEWSKY, 2014). Mais do que discussões de
cunho jurídico, cabe indagar sobre o impacto de tal legislação na redução da
violência contra a mulher, praticada majoritariamente por homens.
Considerando-se que: a) a violência é integrante de uma masculinidade
considerada normativa; b) como dizem Nilan, Demartoto e Broom, o indivíduo que
não se enquadra nesta masculinidade não se sente reconhecido socialmente, e c) o
sistema carcerário é dominado por homens, sendo ambiente de reprodução de
estereótipos de masculinidade, seria uma medida de cunho penal capaz de alterar o
cenário de violência contra a mulher, ou, ao menos, causar impactos positivos?
A Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi recebida com
grande animação por inúmeros setores sociais, inclusive pelo mundo jurídico. Não
se trata somente de ato legislativo de cunho penalista, mas faz inúmeras previsões
quanto ao atendimento da mulher vítima de agressão doméstica e familiar. É
símbolo do avanço da luta pela igualdade entre homens e mulheres no Brasil, sendo
responsável por divulgar a situação de violência em que vivem as vítimas.
No entanto, ao estudar os impactos da Lei, o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) chegou à conclusão de que, apesar de ter havido uma diminuição
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
no número de mulheres mortas por agressão pouco antes e depois da promulgação,
as estatísticas voltaram a crescer depois de pouco mais de um ano (gráfico 2).
Gráfico 2
Mortalidade de mulheres por agressões antes e após a vigência da Lei Maria da Penha. 2001-2011.
Fonte: GARCIA et al. IPEA. 2013.
A conclusão da pesquisa é a de que “não houve impacto, ou seja, não houve
redução das taxas anuais de mortalidade, comparando-se os períodos antes e
depois da vigência da Lei”, e recomenda-se que se insira “o feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, como uma forma extrema de
violência de gênero contras as mulheres”, como viria a ser promulgada, dois anos
depois, a Lei do Feminicídio.
Tal recomendação, no entanto, soa absolutamente descabida. Ora, foi
constatado na pesquisa que mesmo uma legislação tão completa como a Lei Maria
da Penha não foi capaz de alterar o quadro de violência doméstica contra a mulher.
Não se pode esperar que uma medida de simples caráter punitivista mude um
cenário criado ao longo de milênios, em que masculinidade e violência estão, ainda,
ligados visceralmente.
CONCLUSÃO
Estudar as representações e símbolos de qualquer grupo social é estudar as
suas motivações latentes. Ao identificar que imagens representativas de poder,
dominação e violência são integrantes do universo masculino, aumenta-se a
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
compreensão das razões de determinadas condutas e, com isso, torna-se possível a
sua modificação e, até mesmo, sua extinção.
Essas percepções, no entanto, não se darão no mundo jurídico enquanto ele
não se abrir para outras áreas do conhecimento. Uma leitura puramente tecnicista
não é suficiente para combater ou incentivar comportamentos. A psique humana, o
consciente e o subconsciente, as emoções, motivações, medos e anseios não
podem ser transformados por decreto.
Basta uma rápida observação do sistema carcerário brasileiro para perceber
que a lógica punitivista não se aplica à espécie humana. Que se criem mais e mais
leis de puro caráter penal, que engaiolem mais e mais seres humanos em condições
deploráveis. Se esses indivíduos não se renderem à violência bruta, seu espírito
endurecerá e suas condutas permanecerão inalteradas. Beccaria já tecia tais
conclusões no século XVIII, e quase três séculos depois ainda se acredita na
eficiência da punição como medida dissuasiva.
O mundo jurídico deve se abrir para o diálogo com outras áreas do
conhecimento, como a Psicologia, a Sociologia e a Filosofia. Enquanto seus
estudiosos permanecerem como “operadores do Direito”, tudo o que se obterá são
leis aparentemente grandiosas nos Códigos, mas absolutamente ineficazes. Antes
de questionar se o povo é capaz de entender o Direito, deve-se questionar se o
Direito é capaz de entender o seu povo.
A violência contra a mulher, o crime organizado, as elevadas taxas de
mortalidade masculina, a superlotação do sistema carcerário, a ineficiência da
Segurança Pública, todos esses são fenômenos que só podem ser entendidos se,
antes, for entendido um constructo que integra a história da humanidade. Para isso,
não precisamos de dogmáticos criadores de leis. Precisamos ser capazes de
entender o espírito humano.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando:
Introdução à Filosofia. 4ª ed. rev., São Paulo: Moderna, 2009.
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
BRASIL. Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher.
______. Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
______. Lei Nº 13.104, de 9 de março de 2015. Prevê o feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio e inclui o feminicídio no rol dos
crimes hediondos.
CARVALHO, Luís Francisco, Filho. Igualdade Jurídica: Lei que cria feminicídio é
“desastre técnico” e foge da lógica penal. Consultor Jurídico. [S.I.]: 2015. Disponível
em: <http://www.conjur.com.br/2015-mar-14/luis-carvalho-filho-lei-cria-feminicidio-
desastre-tecnico>. Acesso em: 01 nov 2015.
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de
Segurança Pública. São Paulo, v. 8. 2014. Disponível em:
<http://www.forumseguranca.org.br/produtos/anuario-brasileiro-de-seguranca-
publica/8o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica>. Acesso em: 13 out 2015.
FREITAS, Wagner Cinelli de Paula. Espaço urbano e criminalidade: lições da
Escola de Chicago. São Paulo: IBCCRIM, 2002. 150 p. (Monografias, 22).
GARCIA, Leila Posenato Leila. FREITAS, Lúcia Rolim Santana de. SILVA, Gabriela
Drummond Marques da. HÖFELMANN, Doroteia Aparecida. Violência contra a
mulher: feminicídios no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.
2013. Disponível em:
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/130925_sum_estudo_feminicidio
_leilagarcia.pdf>. Acesso em: 28 out 2015.
HOMERO. Odisseia. Tradução por Manuel Odorico Mendes. São Paulo: Martin
Claret. 2009.
JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. 3ª ed., Petrópolis:
Vozes, 2003.
NILAN, Pam; DEMARTOTO, Argyo; BROOM, Alex. Masculinity, violence and
socioeconomic status in Indonesia. In: Culture, Society & Masculinities.
Tennessee. v. 5, n. 1, 2013.
SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. 4ª ed. rev. e
ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
SOUZA, Edinilsa Ramos de. Masculinidade e violência no Brasil: contribuições para
a reflexão no campo da saúde. In: Rev.Ciênc. saúde coletiva. Rio de Janeiro, v.
10, n. 1, 2005.
THRASHER, Frederic Milton. The Gang: a study 1.313 gangs in Chicago. 2ª ed. rev.,
Chicago: The University of Chicago Press, 2013.
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Percentage of male and
female intentional homicide victims, by country/territory (latest available year).
2012. Disponível em: <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/statistics/crime.html>. Acesso em: 10 nov 2015.
YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. Processo inconstitucional: Feminicídio é
retrocesso na busca pela igualdade e no combate à discriminação. In: Consultor
Jurídico. [S.I.]: 2014. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-dez-
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
26/leonardo-yarochewsky-feminicidio-retrocesso-busca-igualdade>. Acesso em: 01
nov 2015.
ZALUAR, Alba. Teleguiados e chefes: juventude e crime. In:______. Condomínio
do Diabo. Rio de Janeiro: Revan: Ed. UFRJ, 1994. p. 100-116.
Cadernos de Iniciação Científica, S. B. do Campo, n.13, 2016
Você também pode gostar
- Cultura de EstuproDocumento24 páginasCultura de EstuproLetícia MottaAinda não há avaliações
- 005 - Juventude Genero e ViolenciaDocumento4 páginas005 - Juventude Genero e ViolenciaRaphael Cardoso BritoAinda não há avaliações
- 2019 - TCC - Dhébora Geisa Da Cunha Gonçalves 2 ParteDocumento42 páginas2019 - TCC - Dhébora Geisa Da Cunha Gonçalves 2 ParteCarlos da CostaAinda não há avaliações
- Masculinidades e Violências - Gênero e Mal-Estar Na Sociedade Contemporânea (MACHADO, 2004)Documento8 páginasMasculinidades e Violências - Gênero e Mal-Estar Na Sociedade Contemporânea (MACHADO, 2004)Artur MouraAinda não há avaliações
- Ser Macho Nesse País É Coisa de MachoDocumento24 páginasSer Macho Nesse País É Coisa de MachoJaqueline Sant'anaAinda não há avaliações
- XX CBP AmbrozinaDocumento9 páginasXX CBP AmbrozinaThaís Maciel de OliveiraAinda não há avaliações
- MOTA, Maria Dolores. MADEIRA, Maria Zelma. Feminino e Feminiciědio - EditadoDocumento75 páginasMOTA, Maria Dolores. MADEIRA, Maria Zelma. Feminino e Feminiciědio - Editadofranmayy09Ainda não há avaliações
- Waldemir - Rosa - Observando Uma Masculinidade SubalternaDocumento7 páginasWaldemir - Rosa - Observando Uma Masculinidade SubalternaJuliéverson CarvalhoAinda não há avaliações
- Conceito Feminicidio e FemicidioDocumento5 páginasConceito Feminicidio e FemicidioCarolina PoleseAinda não há avaliações
- Genero Patriarcado ViolenciaDocumento8 páginasGenero Patriarcado Violenciare.morena.pintoAinda não há avaliações
- HGHFDocumento23 páginasHGHFGabriela LopesAinda não há avaliações
- Tornando-Se Homem: Uma Etnobiografia Das Consturas e Rasgos Nas Masculinidades Autobiografadas de Lázaro Ramos, Rick Martin e João W. NeryDocumento7 páginasTornando-Se Homem: Uma Etnobiografia Das Consturas e Rasgos Nas Masculinidades Autobiografadas de Lázaro Ramos, Rick Martin e João W. NeryNelson S. Coutinho NetoAinda não há avaliações
- Psicodrama e Violência DomésticaDocumento16 páginasPsicodrama e Violência DomésticaGenuina AvilinoAinda não há avaliações
- 4686 74599 1 PBDocumento12 páginas4686 74599 1 PBLua LeggAinda não há avaliações
- Arquivo LavemonegaofinalDocumento12 páginasArquivo Lavemonegaofinaltiagosilva6021Ainda não há avaliações
- O Ciclo Da Violência e A Memória de Dor Das Mulheres Usuárias Do CRM/Canoas-RSDocumento32 páginasO Ciclo Da Violência e A Memória de Dor Das Mulheres Usuárias Do CRM/Canoas-RSAline AngoneseAinda não há avaliações
- Alienação, Gênero e Raça Um Debate Necessário para A Formação em PsicologiaDocumento4 páginasAlienação, Gênero e Raça Um Debate Necessário para A Formação em Psicologiavitoria.aparecidaAinda não há avaliações
- 10506-Texto Do Artigo-50068-1-10-20180523Documento18 páginas10506-Texto Do Artigo-50068-1-10-20180523Eric KleptonAinda não há avaliações
- 51739-Texto Do Artigo-217236-1-10-20230623Documento29 páginas51739-Texto Do Artigo-217236-1-10-20230623Rhoana LerschAinda não há avaliações
- Antropologia 2Documento4 páginasAntropologia 2Vitória Louise Torres Jesus de OliveiraAinda não há avaliações
- Dialnet DitaduraCivilmilitarNoBrasilEAOrdemDeGenero 5870148Documento20 páginasDialnet DitaduraCivilmilitarNoBrasilEAOrdemDeGenero 5870148Michele PiresAinda não há avaliações
- PT V14n6a18Documento8 páginasPT V14n6a18Barb CostAinda não há avaliações
- Encarceramento Feminino - Maria Luiza Larceda CarvalhidoDocumento16 páginasEncarceramento Feminino - Maria Luiza Larceda CarvalhidoÉrica BarretoAinda não há avaliações
- O Feminicídio Como Uma Manifestação Das Relaçôes de Poder Entre Os GênerosDocumento18 páginasO Feminicídio Como Uma Manifestação Das Relaçôes de Poder Entre Os GênerosMarluce BarbosaAinda não há avaliações
- Masculinity and Violence in Brazil: Contributes To Reflection in Health FieldDocumento12 páginasMasculinity and Violence in Brazil: Contributes To Reflection in Health FieldLuana da Costa IzolanAinda não há avaliações
- COSTA 2003 Saude ColetivaDocumento14 páginasCOSTA 2003 Saude Coletivaapi-3737287Ainda não há avaliações
- A Construção Social Do Gênero PDFDocumento3 páginasA Construção Social Do Gênero PDFMaurício CarvalhoAinda não há avaliações
- Violência Como Fenômeno Intrínseco À CulturaDocumento17 páginasViolência Como Fenômeno Intrínseco À CulturaLydia VitóriaAinda não há avaliações
- Violência Doméstica Sobre A Mulher e A CriançaDocumento5 páginasViolência Doméstica Sobre A Mulher e A CriançaCatarina Decome PokerAinda não há avaliações
- O Papel Do Homem No Enfrentamento Da Violência Contra MulheresDocumento34 páginasO Papel Do Homem No Enfrentamento Da Violência Contra MulheresMarcilea MeloAinda não há avaliações
- TCC Pós OficialDocumento14 páginasTCC Pós OficialJessica TollerAinda não há avaliações
- Feminicídio Seguido de SuicídioDocumento15 páginasFeminicídio Seguido de SuicídioWalison HenriqueAinda não há avaliações
- Vida(s) Maria(s) : A História de Uma Mulher e Os (Re) Tratos Da Violência em Narrativas ContadasDocumento10 páginasVida(s) Maria(s) : A História de Uma Mulher e Os (Re) Tratos Da Violência em Narrativas ContadasCarol GarciaAinda não há avaliações
- Resenha - o Silencio Dos Homens - Kalina LimaDocumento2 páginasResenha - o Silencio Dos Homens - Kalina LimaKalina Lima SantosAinda não há avaliações
- Anpocs - Revisado 12092023Documento22 páginasAnpocs - Revisado 12092023DamiaoAinda não há avaliações
- USF PED U12 Ética e CidadaniaDocumento10 páginasUSF PED U12 Ética e CidadaniaJonathan AraujoAinda não há avaliações
- Artigo Bárbara Cunha Classificado em 7º Lugar PDFDocumento22 páginasArtigo Bárbara Cunha Classificado em 7º Lugar PDFConceição FeitosaAinda não há avaliações
- Em Legítima Defesa Da Honra, A Luta Contra A Naturalização Da Violência Contra As MulheresDocumento28 páginasEm Legítima Defesa Da Honra, A Luta Contra A Naturalização Da Violência Contra As Mulherescecilia.caetanoAinda não há avaliações
- Agindo Nas Margens: Repensando A Especificidade Do 'Racial Profiling' em Sociedades Do Atlântico SulDocumento15 páginasAgindo Nas Margens: Repensando A Especificidade Do 'Racial Profiling' em Sociedades Do Atlântico SulAna ClaraAinda não há avaliações
- Envelhercer No Feminino - AldaDocumento4 páginasEnvelhercer No Feminino - AldasheevabarbaraAinda não há avaliações
- Violencia Contra Mulher Pequena Hhistoria Da Subordinacao PDFDocumento17 páginasViolencia Contra Mulher Pequena Hhistoria Da Subordinacao PDFapi-26361226Ainda não há avaliações
- Discursos de Ódio de Gênero e Subjetivação: Articulações Entre Masculinismo e Extrema-DireitaDocumento16 páginasDiscursos de Ódio de Gênero e Subjetivação: Articulações Entre Masculinismo e Extrema-DireitaAugusto GuiradoAinda não há avaliações
- Artigo - Fantasias de Poder e Fantasias de Identidade - Gênero, Raça e Violência - Henrietta L. MooreDocumento32 páginasArtigo - Fantasias de Poder e Fantasias de Identidade - Gênero, Raça e Violência - Henrietta L. MooreDaniel AttianesiAinda não há avaliações
- MOORE, H. L. Fantasias de Poder e Fantasias de Identidade Gênero, Raça e Violência.Documento32 páginasMOORE, H. L. Fantasias de Poder e Fantasias de Identidade Gênero, Raça e Violência.Nealla MachadoAinda não há avaliações
- Diversidade de Gênero, Violência E A Importância de Uma Compreensão Ampliada Do Tema Guilherme Silva de AlmeidaDocumento19 páginasDiversidade de Gênero, Violência E A Importância de Uma Compreensão Ampliada Do Tema Guilherme Silva de AlmeidaCarolina XavierAinda não há avaliações
- O BL Tailandês Love by Chance e As Masculinidades - Uma ResistênciaDocumento20 páginasO BL Tailandês Love by Chance e As Masculinidades - Uma ResistênciaLaiany LobatoAinda não há avaliações
- Direitos Trans no Ensino Superior: as normativas sobre Nome Social das Universidades Públicas FederaisNo EverandDireitos Trans no Ensino Superior: as normativas sobre Nome Social das Universidades Públicas FederaisAinda não há avaliações
- Artigo - O ENCARCERAMENTO DE MULHERES SOB A PERSPECTIVA DA CRIMINOLOGIA FEMINISTADocumento3 páginasArtigo - O ENCARCERAMENTO DE MULHERES SOB A PERSPECTIVA DA CRIMINOLOGIA FEMINISTASara Alacoque GuerraAinda não há avaliações
- FEMINICIDIODocumento12 páginasFEMINICIDIONanci MarcondesAinda não há avaliações
- Resenha HomossexualidadesDocumento7 páginasResenha HomossexualidadesArimatea JuniorAinda não há avaliações
- 956Documento13 páginas956Daniel CisneirosAinda não há avaliações
- PAPER - Patrícia Hills CollinsDocumento6 páginasPAPER - Patrícia Hills CollinskalitaAinda não há avaliações
- Projet Mono Final RevisDocumento15 páginasProjet Mono Final RevisLuma Assis CaetanoAinda não há avaliações
- A Violência Contra Crianças e Adolescentes Ao Longo Dos Séculos e Os Atuais Trâmites Institucionais de Atendimento Aos Sujeitos VitimizadosDocumento9 páginasA Violência Contra Crianças e Adolescentes Ao Longo Dos Séculos e Os Atuais Trâmites Institucionais de Atendimento Aos Sujeitos VitimizadosEduardo Lima de Melo Jr.Ainda não há avaliações
- Artigo - Assédio Sexual PDFDocumento17 páginasArtigo - Assédio Sexual PDFLucas BorgesAinda não há avaliações
- Direitos fundamentais das profissionais do sexo: entre a invisibilidade e o reconhecimentoNo EverandDireitos fundamentais das profissionais do sexo: entre a invisibilidade e o reconhecimentoAinda não há avaliações
- História Raça e ClasseDocumento6 páginasHistória Raça e ClasseDaiana TavaresAinda não há avaliações
- O Y em Questao - Transmasculinidades Brasileiras - Simone Avila e Miriam GrossiDocumento12 páginasO Y em Questao - Transmasculinidades Brasileiras - Simone Avila e Miriam GrossiFer MartinelliAinda não há avaliações
- Elementos para Reflexão Sobre Violência Do GêneroDocumento10 páginasElementos para Reflexão Sobre Violência Do GênerorildonobregaAinda não há avaliações
- Retratos Da Violência Contra A Mulher, Através de Fontes JudiciaisDocumento15 páginasRetratos Da Violência Contra A Mulher, Através de Fontes JudiciaisGabriel PinheiroAinda não há avaliações
- Proposta de ParceriaDocumento1 páginaProposta de ParceriaCorporação GamesAinda não há avaliações
- Concurso Ufv - Assistente em AdministraçãoDocumento101 páginasConcurso Ufv - Assistente em AdministraçãoCorporação GamesAinda não há avaliações
- 6 Inovacao ApostilaDocumento30 páginas6 Inovacao ApostilaCorporação GamesAinda não há avaliações
- Políticas e Gestão EducacionalDocumento121 páginasPolíticas e Gestão EducacionalCorporação GamesAinda não há avaliações
- Politicas Publicas e DesenvolvDocumento147 páginasPoliticas Publicas e DesenvolvCorporação GamesAinda não há avaliações
- Infográfico Passo A Passo para Reter Alunos No EADDocumento1 páginaInfográfico Passo A Passo para Reter Alunos No EADCorporação GamesAinda não há avaliações
- Curso de Extensão - Como Escrever Artigos para Publicação - Orcid - Lattes - Idiomas - Mestrado e Doutorado - Livros-Danilo Cornélio PereiraDocumento2 páginasCurso de Extensão - Como Escrever Artigos para Publicação - Orcid - Lattes - Idiomas - Mestrado e Doutorado - Livros-Danilo Cornélio PereiraCorporação GamesAinda não há avaliações
- Resolução See #4.494 de 05 de Fevereiro de 2021Documento6 páginasResolução See #4.494 de 05 de Fevereiro de 2021Corporação GamesAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre A Cultura Do Medo Um Retrat o Do Desenvolvimento Da Violência Urbana Na AtualidadeDocumento12 páginasReflexões Sobre A Cultura Do Medo Um Retrat o Do Desenvolvimento Da Violência Urbana Na AtualidadeCorporação GamesAinda não há avaliações
- Medo Do Crime e Coesão Social - ABCPDocumento21 páginasMedo Do Crime e Coesão Social - ABCPCorporação GamesAinda não há avaliações
- Cultura Do MedoDocumento12 páginasCultura Do MedoCorporação GamesAinda não há avaliações
- Dissertacao ParcialDocumento30 páginasDissertacao ParcialCorporação GamesAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento27 páginas1 PBCorporação GamesAinda não há avaliações
- 13274-Texto Do Artigo-37315-1-10-20200323Documento15 páginas13274-Texto Do Artigo-37315-1-10-20200323Corporação GamesAinda não há avaliações
- PROVA UFV Assistente Social - 2014Documento13 páginasPROVA UFV Assistente Social - 2014Corporação GamesAinda não há avaliações
- Professores Indios e Transformacoes Socioculturais em Um Cenario Multietnico A Reserva Indigena de Dourados 1960 2005 Marta Coelho Castro TroquezDocumento234 páginasProfessores Indios e Transformacoes Socioculturais em Um Cenario Multietnico A Reserva Indigena de Dourados 1960 2005 Marta Coelho Castro TroquezFrancisco Martins de SouzaAinda não há avaliações
- Modelo Pre ProjetoDocumento7 páginasModelo Pre ProjetoAnandaAinda não há avaliações
- Dissert Nikolak Versão FinalDocumento47 páginasDissert Nikolak Versão FinalIngrid NikolakAinda não há avaliações
- 2-Criminal ProfilingDocumento10 páginas2-Criminal ProfilingTamara ArianneAinda não há avaliações
- (FM2S) Apostila - Auditor Interno ISO 9001-2015Documento42 páginas(FM2S) Apostila - Auditor Interno ISO 9001-2015larissaAinda não há avaliações
- Projeto Terapeutico Singular (5659)Documento10 páginasProjeto Terapeutico Singular (5659)FelipeAinda não há avaliações
- Neuroarquitetura, Psicologia Ambiental, Design Biofílico e Feng Shui: Uma Análise ComparativaDocumento70 páginasNeuroarquitetura, Psicologia Ambiental, Design Biofílico e Feng Shui: Uma Análise ComparativaLucas Daniel100% (1)
- Análise de Capacidade de Fundação e de Estabilidade de AterroDocumento10 páginasAnálise de Capacidade de Fundação e de Estabilidade de AterroAntonio StecanellaAinda não há avaliações
- Geopolítica Do Alimento: o Brasil Como Fonte Estratégica de Alimento para A HumanidadeDocumento322 páginasGeopolítica Do Alimento: o Brasil Como Fonte Estratégica de Alimento para A Humanidadenelson during50% (2)
- Relatório Quimica VidrosDocumento21 páginasRelatório Quimica Vidrosjuninho60Ainda não há avaliações
- O Cuidado Confortador Ao Doente HospitalizadoDocumento152 páginasO Cuidado Confortador Ao Doente HospitalizadoRita Gerlando MaciaAinda não há avaliações
- 72-Texto Do Artigo-193-1-10-20211216Documento26 páginas72-Texto Do Artigo-193-1-10-20211216Mirlene CarvalhoAinda não há avaliações
- 2023 06 19 08 48 31 65116800 Planejamento Organizacional E1687175311Documento93 páginas2023 06 19 08 48 31 65116800 Planejamento Organizacional E1687175311SiebraNetoAinda não há avaliações
- Certificação Do Óbito Avaliação Dos Procedimentos Legais Fmuc 2015 José Eduardo Ferreira Da SilvaDocumento26 páginasCertificação Do Óbito Avaliação Dos Procedimentos Legais Fmuc 2015 José Eduardo Ferreira Da Silvamagda marquesAinda não há avaliações
- Planejamento-Estrategico SLIDESDocumento38 páginasPlanejamento-Estrategico SLIDESanibalferreira_53Ainda não há avaliações
- Domingos - Macucule Nº26028Documento129 páginasDomingos - Macucule Nº26028LucioDercioAinda não há avaliações
- Angústias Psicológicas Vivenciadas Por Enfermeiros No Trabalho Com Pacientes em Processo de Morte 2018Documento11 páginasAngústias Psicológicas Vivenciadas Por Enfermeiros No Trabalho Com Pacientes em Processo de Morte 2018Talyta KlemanAinda não há avaliações
- Monografia Actualizada Clarice Com ObservacoesDocumento41 páginasMonografia Actualizada Clarice Com ObservacoesabondioAinda não há avaliações
- Psicodiagnóstico - Ferramenta de Intervenção PsicológicaDocumento6 páginasPsicodiagnóstico - Ferramenta de Intervenção PsicológicavanuzaAinda não há avaliações
- 291 1313 1 PBDocumento54 páginas291 1313 1 PBDiogo FeitosaAinda não há avaliações
- Matriz de Conhecimento - CREA'sDocumento4 páginasMatriz de Conhecimento - CREA'sevandro m inacioAinda não há avaliações
- EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM - MAT 1 A 4Documento418 páginasEXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM - MAT 1 A 4comformed27Ainda não há avaliações
- Estímulos e Fomento A Inovação No Brasil e Indicadores de InovaçãoDocumento27 páginasEstímulos e Fomento A Inovação No Brasil e Indicadores de InovaçãoEdison Reus SilveiraAinda não há avaliações
- Interpretação de Resultados de Ultrassonografia No Pré-Natal de Baixo RiscoDocumento1 páginaInterpretação de Resultados de Ultrassonografia No Pré-Natal de Baixo RiscoRaulAinda não há avaliações
- Cálculo de Medidas Do Circulo de ArquimedesDocumento98 páginasCálculo de Medidas Do Circulo de ArquimedesFelipe ViterboAinda não há avaliações
- Fabrica Da Nutrição NeoliberalDocumento21 páginasFabrica Da Nutrição NeoliberalCristiane MarquesAinda não há avaliações
- Aulas 3 e 4 - Seguimento FarmacoterapêuticoDocumento28 páginasAulas 3 e 4 - Seguimento FarmacoterapêuticoRegiane VieiraAinda não há avaliações
- 495HD - Manual de OperaçãoDocumento102 páginas495HD - Manual de OperaçãoFmota24Ainda não há avaliações
- Universidade de Santo Amaro Programa de Mestrado em Medicina e Bem-Estar AnimalDocumento74 páginasUniversidade de Santo Amaro Programa de Mestrado em Medicina e Bem-Estar Animalvetdody31Ainda não há avaliações
- Análise Estrutural de Um Edifício Modular em Estrutura Metálica de 8 Pavimentos Inserindo Núcleo Rígido em Concreto ArmadoDocumento95 páginasAnálise Estrutural de Um Edifício Modular em Estrutura Metálica de 8 Pavimentos Inserindo Núcleo Rígido em Concreto ArmadoMárcio Martins da SilvaAinda não há avaliações