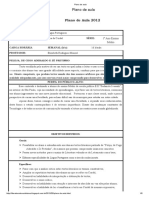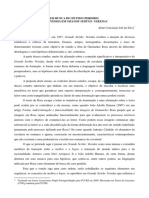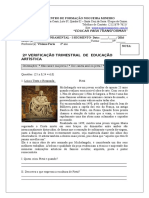Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Marcelaansaloni, 621-636 - Jarid Arraes e A Poética de Resistência (Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira)
Marcelaansaloni, 621-636 - Jarid Arraes e A Poética de Resistência (Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira)
Enviado por
mirelasacramentooTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Marcelaansaloni, 621-636 - Jarid Arraes e A Poética de Resistência (Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira)
Marcelaansaloni, 621-636 - Jarid Arraes e A Poética de Resistência (Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira)
Enviado por
mirelasacramentooDireitos autorais:
Formatos disponíveis
JARID ARRAES E A POÉTICA DE
RESISTÊNCIA
Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira
Pós-doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Professora Associada da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO-PR)
ninciaborgesteixeira@yahoo.com.br
RESUMO ABSTRACT
Quanto mais plural for a perspectiva lançada The paper analyzes the dialogue between
sobre os meios de aquisição de conhecimento, Literature and History from the writing of Jarid
maiores são as possibilidades de compreender Arraes. The poetry of Arraes recovers
as trocas simbólicas que constituem os historical facts and reelaborates them through
discursos. Dessa forma, pensamos o espaço da the literature that allows to cross the spaces
literatura como possibilidade de of shadow, engendered by a History that has
representações simbólicas que também silenced them. Therefore, in addition to
(re)produzem práticas culturais. História e theoretical assumptions on the subject, we
Literatura são formas distintas, porém discuss two texts of the poet in order to verify
próximas, de dizer a realidade e de lhe how literature becomes an important record
atribuir/desvelar sentidos. Este confronto on the ethnic-racial issue from the look of
pode partir da natureza epistemológica, ou who, for a long time, remained Relegated to
seja, o que se refere a uma reorientação dos oblivion, and, when portrayed by the
paradigmas explicativos da realidade, que dão hegemonic literary bias, sometimes was
entrada em cena, no terreno da História, ao stereotyped.
introduzir novos referenciais que a aproximam
Keywords: literature, history, Jarid Arraes.
da literatura. Referimo-nos, por exemplo, à
concepção de que a História, tal como a
Literatura, é uma narrativa que constrói um
enredo e desvenda uma trama. Este trabalho
analisa o diálogo entre Literatura e História a
partir da escrita da brasileira Jarid Arraes. A
obra de Arraes recupera fatos históricos e os
reelabora por meio da literatura, que
possibilita percorrer os espaços de sombra,
engendrados por uma História que os
silenciou. Utilizamos, além de pressupostos
teóricos que versam sobre o tema, dois textos
da poeta para verificar de que forma a
literatura torna-se um importante registro
sobre a questão étnico-racial a partir do olhar
de quem, por muito tempo, ficou relegado ao
esquecimento, e, quando retratado, pelo viés
literário, foi de forma estereotipada.
Palavras-chave: literatura, história, Jarid
Arraes.
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 621
1. Diálogos pertinentes: literatura e história
“O texto literário como documento da história ou a história como
contexto que atribui significado ao texto literário são caminhos que
podem colidir no congestionamento da mão única por onde enveredam.”
(MALLARD, 1995, p. 21)
Será que constituímos os discursos ou os discursos nos constituem? A dominação
simbólica é também dominação política? Começar com perguntas no lugar de afirmações
conduz o pensamento a navegar por novas possibilidades de representar o mundo, de
pensar suas práticas e relações sociais. Enquanto sujeitos simbólicos, que se constituem
pela e na língua, mas, também, nos silêncios fundadores e políticos dessa língua,
lançamos nossa pesquisa sobre as possibilidades representativas dos indivíduos que são o
outro do discurso hegemônico.
Dessa forma, quanto mais plural for a perspectiva lançada sobre os meios de
aquisição de conhecimento, maiores são as possibilidades de aprimorar a maneira de ver,
compreender, interagir com as trocas simbólicas que constituem os discursos na
atualidade; evitando a articulação de mais discursos que recaiam no reducionismo. Dessa
forma, pensamos o espaço da literatura como possibilidade de representações simbólicas
que também (re)produzem práticas culturais.
De acordo com Pesavento (2006), História e Literatura são formas distintas, porém
próximas, de dizer a realidade e de lhe atribuir/desvelar sentidos, e hoje se pode dizer
que estão mais próximas do que nunca. Este confronto pode partir de dois planos
distintos. O primeiro deles seria de natureza epistemológica, dizendo respeito a uma
reorientação dos paradigmas explicativos da realidade, que dão entrada em cena, no
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 622
DOI: 10.12957/palimpsesto.2018.35394
terreno da História, introduzindo novos referenciais que a aproximam da literatura.
Referimo-nos, por exemplo, à concepção de que a História, tal como a Literatura, é uma
narrativa que constrói um enredo e desvenda uma trama.
Pesavento (2006) afirma que
representar é, pois, fundamentalmente, estar no lugar de, é presentificação de um
ausente; é um apresentar de novo, que dá a ver uma ausência. A ideia central é, pois,
a da substituição, que recoloca ‘uma ausência e torna sensível uma presença’
(PESAVENTO, 2003, p. 40).
A narrativa historiográfica é uma construção intertextual acerca de um fato passado
e tem como finalidade a possibilidade de verificação dos vestígios, evidências extraídas
das fontes que relatam o fato histórico.
A História é uma urdidura discursiva de ações encadeadas que, por meio da
linguagem e de artifícios retóricos, constrói significados no tempo. No caso, este
entendimento da História como uma narrativa sobre o passado liga-se ao conceito da
representação, que encarna a ideia de uma substituição, ou ainda da presentificação de
uma ausência. Assim, no sistema de representações sociais construídas pelos homens
para atribuir significado ao mundo, ao que se dá o nome de imaginário, a Literatura e a
História teriam o seu lugar como formas ou modalidades discursivas que têm sempre
como referência o real, mesmo que seja para negá-lo, ultrapassá-lo ou transfigurá-Io.
Quando a História fica relegada ao espaço de cientificidade, lugar onde reina um
ideal de objetividade e verdade, é excluído qualquer direito à incerteza. Nesse caso, cria-
se à volta da História uma aura de objetividade que legitima as informações que ali estão
colocadas como referências irrefutáveis da realidade, o que, por sua vez, mascara o
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 623
Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira
caráter ambivalente da linguagem e do trabalho seletivo do historiador: “[...] o
historiador deve interrogar, investigar e auscultar o passado de várias maneiras,
desconfiando das “lições” que a história edificante tenta nos passar como verdades
absolutas” (LEONARDI, 1999, p. 115).
Nesse sentido, torna-se a literatura um espaço propício para a combinação entre
história documentada e livre invenção ficcional, numa (re)construção de representações
de mulheres. Além de observarmos que o caráter de verossimilhança da narrativa, bem
como, o “encontro oblíquo entre ficção e verdade”i colabora para o reforço dos aspectos
críticos das representações ficcionais.
Para Luiz Costa Lima (2006), História e Ficção são indiscutivelmente intercambiáveis
por utilizarem como base comum a linguagem, sendo, portanto, construções discursivas.
O que o trabalho de Luiz Costa Lima (2006) ressalta é que durante todo o percurso entre a
antiguidade greco-romana e a modernidade está marcada pelo conflito indissolúvel entre
a independência e interdependência entre os conceitos, observando como as fronteiras
são confusas e imprecisas. Talvez, por isso, seu texto se constrói no deslizamento entre
esses conceitos, no relevo da possível contaminação entre ambos. Em relação à diferença
da verdade na História e na ficção, Luiz Costa Lima ressalta
A verdade da história sempre mantém um lado escuro, não indagado. A ficção,
suspendendo a indagação da verdade, se isenta de mentir. Mas não suspende sua
indagação da verdade. Mas a verdade agora não se pode entender como
‘concordância’. A ficção procura a verdade de modo oblíquo, i.e., sem respeitar o
que, para o historiador, se distingue como claro ou escuro. Procurar captá-la por um
instrumental historiográfico pode ser um meio auxiliar de explicá-la. Mas tão só
(2006, p. 156).
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 624
DOI: 10.12957/palimpsesto.2018.35394
Luiz Costa Lima (2008) assevera sobre a predominância do emprego, na cultura
ocidental, do termo fictio no sentido de mentira, fraude. Faz-se importante lembrar que o
latim clássico, apesar de entender o termo, tanto em seu caráter de invenção/criação
como no sentido de mentira, empregava com recorrência o sentido de fraude. Para o
autor, isso se deve a dois fatores. Primeiro, a sobreposição da poética à retórica, que
acaba reduzindo a reflexão desenvolvida por Aristóteles (1992), na Poética, e passa a
encarar a linguagem em sua relação com o convencimento, à sedução.
O segundo momento refere-se à influência do cristianismo e sua visão monoteísta,
de um Deus que é símbolo da criação, da origem. Nesse sentido, a ficção não deveria se
igualar à criação, para, assim, não se igualar ao poder de Deus. Para o autor, a ficção é um
conceito tão amplo que se estende desde o campo artístico até o campo do direito, das
leis, da vida cotidiana. Ressaltando a possibilidade transgressora da ficção literária - de
inverter por meio de suas representações a ordem e poder estabelecido –, Lima (2006)
trabalha, de algum modo, com a verdade, posto que “O mundo da ficção é um mundo do
faz-de-conta, ainda que sério. Essa seriedade faz com que ela se cruze, em seu caminho,
com a verdade e/ou que se desnude a si mesma, que se declare ficção” (LIMA, 2006, p.
175).
Segundo Sandra Jatahy Pesavento (2006), o historiador está preso tanto à condição
do real acontecido como às fontes e documentos referentes a esse real. Ou seja, o
historiador não está livre para criar – em sentido absoluto -, mas, sim, para atribuir
significados, no intuito de aproximar-se ao máximo do acontecido, valendo-se, para isso,
do uso de métodos (testagem, comparação, cruzamentos) como comprovação.
No entanto, o que fica claro na visão pós-estruturalista da linguagem é que,
independentemente da existência e utilização de métodos norteadores, a História e a
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 625
Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira
Literatura necessitam do material concreto, que é a escrita, e nisso residem seus limites e
o questionamento do estatuto de cientificidade da História, impossibilitando a existência
da objetividade plena.
Assim, literatura e história são narrativas que tem o real como referente, para
confirmá-lo ou negá-lo, construindo sobre ele outra versão [...] Como narrativas, são
representações que se referem à vida e que a explicam (PESAVENTO, 2006, p. 3).
Notamos, portanto, que as fronteiras que delimitam o gênero histórico e o literário
tornaram-se mais permeáveis no momento em que a História passou a ser vista, por
muitos estudiosos, como um discurso de ficcionalização da realidade, assim como propôs
Hayden White em trabalhos como Meta-História: a imaginação histórica do século XIX
(2008) e Trópicos do Discurso: ensaios sobre a crítica da cultura (2001), que aplicam ao
estudo de narrativas históricas conceitos da teoria literária, aproximando as práticas do
escritor ficcionista à do historiador. Na perspectiva de Michel de Certeau, a escrita
historiográfica configura-se como um espaço onde estão presentes
[...] relações entre um lugar (um recrutamento, um meio, um ofício, etc.),
procedimentos de análise (uma disciplina) e a construção de um texto (literatura). É
admitir que ela faz parte da ‘realidade’ da qual trata, e que essa realidade pode ser
apropriada ‘enquanto atividade humana, ‘enquanto prática. Nessa perspectiva,
gostaria de mostrar que a operação histórica se refere à combinação de um lugar
social, de práticas ‘científicas’ e de uma escrita (CERTEAU, 2006, p. 66).
2. Jarid Arraes: poética de resistência e empoderamento
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 626
DOI: 10.12957/palimpsesto.2018.35394
“Escrevo para honrar minha ancestralidade”
JARID ARRAES
Nascida em Juazeiro do Norte, na região do Cariri (CE), em 12 de fevereiro de 1991,
Jarid Arraes é escritora, cordelista e autora do livro As Lendas de Dandara. Vive em São
Paulo (SP), onde criou a Terapia Escrita, media o Clube da Escrita Para Mulheres e o Clube
Leitura Independente. Até o momento, tem mais de 60 títulos publicados em Literatura
de Cordel, incluindo a coleção Heroínas Negras na História do Brasil e publicações em
parceria com a Artigo 19 e o Think Olga.
Jarid Arraes é, atualmente, uma das mais representativas escritoras da internet,
escrevendo textos críticos em defesa dos direitos humanos, com total atenção às
mulheres, à diversidade sexual/gênero e questões raciais. A autora escreve cordéis,
herança paterna. Depois de seu primeiro cordel, Dora, A Negra e Feminista, muitos
outros foram escritos. Ela conta a história de mulheres negras que os livros fizeram
questão de não contemplar. Arraes recebe isso como sua missão: faz do cordel não
apenas um importante documento para promoção da cultura afro-brasileira, bem como
uma ferramenta indispensável para o ensino em casa e nas escolas.
A escritora, em entrevista, explica sua gênese literária:
Desde muito nova eu sempre quis ser escritora, mas não entendia que aquilo era
uma profissão, o que acabou acontecendo mesmo pelo destino, como se tivesse que
acontecer. Eu comecei a escrever no meu blog sobre feminismo, depois fui convidada
pela Revista Fórum e aí quando eu comecei a escrever os cordéis que eu de repente
me dei conta: eu sempre quis ser escritora e agora eu sou escritora, socorro! (LIMA,
2015).
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 627
Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira
Por meio da escrita, Arraes se descobre como mulher negra e como feminista. Isso,
segundo ela, “a ajudou a entender o seu papel no mundo”. Por meio da rima e da cultura
popular, consegue naturalizar temas ainda tabus, como o racismo, a homossexualidade e
a violência contra mulheres. Filha e neta de cordelistas, Jarid mantém viva a tradição que
marcou sua infância, mas dá ao cordel um tom a ele pouco associado: de luta e
engajamento político.
A Literatura, na perspectiva cultural, assim como a História, é espaço de discursos
transgressores, com potencial de produzir interrogações, deslocamentos e rupturas nas
categorizações naturalizadas. Nesse sentido, segundo Michel Foucault (2007), reside a
necessidade do olhar crítico e desconstrutor que devemos direcionar à realidade, aos
discursos e às verdades enquadradas na lógica do cogito cartesiano - que colocou o
homem no centro do conhecimento e da razão e criou a ideia do sujeito universal -, para
pensar o homem como objeto de conhecimento, que está inserido dentro de estruturas
sociais, linguísticas, econômicas que o limitam e influenciam, extrapolando os limites da
consciência. Na poética da Jarid Arraes, o discurso transgressor é evidenciado pelo tom
de resistência e preservação da memória advindo da escrita que se desloca no tempo e
no espaço.
No poema “Origem”, escrito por Arraes, observa-se o registro de uma escrita
centrada na subjetividade, em memórias que se entrelaçam com histórias da negritude e
também com lacunas de ancestralidade, em que ela descreve os antepassados que não
conheceu, as raízes apagadas, desafiando visões estereotipadas no que se refere à
representação dos personagens negros:
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 628
DOI: 10.12957/palimpsesto.2018.35394
Não conheço minha história / Tão bem quanto eu gostaria / Eu não sei do meu
passado / Nem minha genealogia / Mas carrego algumas pistas [...] / E na pele a cor
bem preta / Girando uma carrapeta / De histórias instigantes (ARRAES, 2017, p. 32).
Nos versos, aparecem traços de identidade étnico-racial misturados à resistência
que se relaciona com o que Foucault chamou de “[...] insurreição de saberes dominados,
que são os conteúdos históricos e os saberes ingênuos [...]” (FOUCAULT, 2007, p. 170).
Para ele,
[...] os saberes dominados são estes blocos de saber histórico que estavam presentes
e mascarados no interior dos conjuntos funcionais e sistemáticos e que a crítica pode
fazer reaparecer, evidentemente através do instrumento de erudição [...]
(FOUCAULT, 2007, p. 170).
Zilá Bernd (1987) pensa o conceito de identidade como um processo associado ao
conceito de alteridade, na dinâmica da construção e desconstrução da identidade na
relação com a diferença. “Esta consciência da diferença para o negro brasileiro é o
elemento sobre o qual se funda um projeto de superação da sua marginalidade histórica”
(BERND, 1987, p. 38). Arraes traz à tona em seu texto, a questão identitária por meio da
inserção do corpo negro como diferença, revestindo-o de positividade tanto no campo
estético como comportamental. O corpo que a tradição ocidental desenhou como
apropriado apenas para o trabalho, o corpo convencionalmente representado como
depositário de qualidades e sentidos negativos e desprestigiados. A autora reinscreve a
diferença como signo da individualidade: “Eu não sei de onde veio / Meu cabelo enrolado
/ Minha cor escurecida / Ou nariz nesse formato / Mas a força ancestral / Se mostrou a
maioral”.
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 629
Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira
Conforme afirma Lima (2006), “a literatura é um espaço não apenas de
representação neutra, mas de enredos e lógicas, onde ao me representar eu me recrio e
ao me recriar eu me represento”. Em “Origem”, o eu-lírico, ao reconhecer suas origens,
abre o caminho para a libertação das imposições eurocêntricas que ao longo dos anos
vividos faz parte do imaginário da sociedade deste país. Assim, constrói um presente afro-
brasileiro a partir do conhecimento do passado africano:
É que meus antepassados / Precisavam de juntar / Uma gente descendente / Para se
fazer lutar / Relembrando nossa história / Conquistando essa memória / Que
tentaram se apagar. / O meu povo batalhou/Hoje sou sobrevivente / Sou herança
dessa gente / Que por mim só guerreou/ Sobre mim foi derramada / Essa importante
missão / De crescer a identidade / Do meu povo na nação / E com fala flamejante /
Com coragem incessante / Feito um bruto furacão (ARRAES, 2017, p. 32).
A escritora apropria-se da palavra para (re)contar o passado histórico de seu povo.
A poesia de Arraes, nesse sentido, torna-se espaço de ricas possibilidades simbólicas, que
podem se lançar como discursos alternativos, contribuindo para desmantelar uma
História tradicional “formada por brancos, privilegiados, ocidentais e masculinos, muitos
dos quais dominados por pressupostos patriarcais, brancos e burgueses” (CHANTER,
2011, p. 13), lançando-se a diferentes perspectivas, pela inclusão da “voz” e das
representações de minorias sociais
visto que – isto a história não cansa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente
aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é aquilo porque, pelo
que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar (FOUCAULT, 2007, p. 10).
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 630
DOI: 10.12957/palimpsesto.2018.35394
São configuradas formações discursivas, no poema “Origem”, em que a voz literária
negra e feminina é destituída de submissão “Sobre mim foi derramada / Essa importante
missão / De crescer a identidade / Do meu povo na nação”. Ao contrário, a poeta
apropria-se da escrita para criar um universo em que toma para si a continuidade da luta
contra a hegemonia racial. Arraes imprime em sua escrita a marca da especificidade da
condição do ser negro, saindo da posição de negro como vítima e assumindo a posição de
sujeito e de compromisso com a questão. De acordo com Bernd:
A literatura negra brasileira configura-se como literatura de resistência, ou seja, a
que constrói com a matéria da cultura africana que sobreviveu na América em
presença da cultura europeia e indígena. A literatura utiliza o aporte desta cultura
resistente em uma produção que servirá para singularizar um grupo, fornecendo-lhes
mitos, símbolos e valores, em suma, elementos que permitem a emergência de uma
imagem positiva de si próprios (1987, p. 86).
A “fala flamejante com coragem incessante” se traduz nas palavras da própria
autora, marcada pelo seu posicionamento político/ideológico:
Me considero tão representante da luta negra e feminista quanto todas as outras
mulheres negras que resistem diariamente, cada uma no seu contexto de vida, nas
mais diversas profissões. [...] tenho sempre em mente que há um compromisso da
minha parte e me esforço para ampliar as vozes de outras pessoas que devem ser
ouvidas. [...] tudo o que desejo fazer é um pouco de diferença na sociedade, ajudar a
despertar questionamentos incômodos e auxiliar na conscientização de mais
pessoas. Porque tudo isso diz respeito a grupos de pessoas, são fatos sociais, são
questões importantes para mim e para muitas outras mulheres (ARRAES, 2015).
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 631
Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira
No poema “Desequilíbrio”, “Pra cada preta ferida / Um quilombo inteiro / Nascido e
fortalecido / No útero dessa mátria”, Arraes se apropria das palavras partindo de um
universo sociocultural inserido em circuitos e organizações afins à literatura afro-
feminina, que, segundo Ana Rita Santiago (2012), estão “imbuídas de tensão e
circunstanciados por construções socioculturais”. Para Santiago (2016):
a produção literária de escritoras negras contemporâneas pode minar processos de
coisificação, a que foram reduzidas personagens negras femininas na literatura
brasileira, pois vozes se erguem, perspicaz e agudamente, contra estereótipos,
estigmas, discriminação e visões exóticas, colonialistas que ainda passeiam em
trânsitos literários. Para tanto, conciliam e opõem igualmente quando necessário, o
passado histórico e o presente, bem como pontos culturais africanos tradicionais
como aqueles hoje ressignificados no Brasil (p. 20).
O eu poético em “Desequilíbrio” tece uma narrativa de si, mas ligada a memórias
coletivas que se estendem às histórias coletivas de outras mulheres e personagens
negras, aqui caracterizadas por “Pra cada preta ferida”. A noção de uma escrita de si e,
por consequência, nós é visível no texto de Arraes, vislumbrando possibilidades de pensar
sobre si, tornando a escrita um entrecruzamento entre uma função poética, política e
histórica.
Nota-se, no poema, registro da violência simbólica pela condição de gênero e raça.
Na contramão da produção colonial, na qual, segundo Spivak, “o sujeito subalterno
feminino está ainda mais profundamente na obscuridade”, Arraes dá voz e junta as
marcas deixadas por rastros ancestrais, instalados a partir do caos da escravidão. O eu-
lírico é sujeito atuante que não se torna imobilizado perante a adversidade “Um quilombo
inteiro / Nascido e fortalecido’, mostra que é preciso ter coragem e resiliência para o
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 632
DOI: 10.12957/palimpsesto.2018.35394
exercício pleno da cidadania: “No útero dessa mátria”. A busca pela emancipação,
portanto, faz-se presente nos versos de Arraes. A escrita dela traz em seu bojo questões
sociais que revelam marcas identitárias de mulheres negras.
Conclusões possíveis
Recuperar fatos históricos e reelaborá-los por meio da literatura continua sendo
uma prática recorrente e profícua, pois possibilita percorrer os espaços de sombra,
engendrados por uma História que silenciou e marginalizou inúmeros acontecimentos e
sujeitos sociais. A literatura possibilita novos caminhos, multiplica perspectivas que
compõem o entendimento que tecemos diante dos acontecimentos do passado e do
presente - e torna-se, então, um espaço de elasticidade no qual a História se atualiza e se
(re)constrói.
A História (re)construída na poética de Jarid Arraes se ampara longe das amarras
convencionais que compactam o pensamento em direção ao entendimento da realidade
segundo as representações dos discursos oficiais, pois “[...] para compreender um
discurso devemos perguntar sistematicamente o que ele cala” (ORLANDI, 1997, p. 160). E,
nesse estudo em particular, o olhar diferenciado advém da posição marginalizada vivida
pela autora e sua ancestralidade, o que as proporciona uma experiência diferente face ao
mundo, e que, justamente por isso, tem condições de lançar uma nova perspectiva sobre
os discursos misóginos e patriarcais. Os poemas “Origem” e “Desequilíbrio” mesmo
ligando-se a realidade, “desliga-se” dela ao propor uma nova possibilidade de
representação da História oficial, a contrapelo da razão instrumental, na contramão dos
discursos da ordem e do poder. Por isso, não deixamos de considerar o caráter histórico
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 633
Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira
de sua representação literária, as raízes que mantém com o social na crítica em relação a
um discurso histórico dominante e colonizador; marcadamente branco, europeu e
masculino. O que essa literatura absorvida pelo olhar da mulher provoca é o
deslocamento da perspectiva hegemônica da História. Por isso, mesmo mantendo sua
relação com a realidade social e com os relatos cristalizados da História oficial, o faz
refutando sua total legitimidade, para trazer à luz novas vozes: as das mulheres.
Ao falar de Literatura, colocamos em questão as veredas do imaginário, percorridas
para dar vida ao “[...] abstrato, o não-visto e não-experimentado. É elemento organizador
do mundo, que dá coerência, legitimidade e identidade” (PESAVENTO, 2006, p. 2). Ou
seja, pela e na Literatura é possível percorrer caminhos nunca pisados, (re)significar
criativamente o que está fragilizado, o que ficou por muito tempo, esquecido, subjugado,
como é o caso da História das mulheres negras no Brasil.
A análise dos textos de Jarid Arraes permite (re)criar o passado e projetá-lo para o
presente em suas inúmeras possibilidades, num movimento contrário aos discursos
aprisionados nos limite da ordem e do poder eurocêntrico, patriarcal e moralizante. Nota-
se, portanto, que essa recuperação histórica tem um apelo à construção de uma
identidade brasileira fundada no pertencimento de um povo, em um passado comum e
na (des)construção de uma identidade feminina essencialista. À volta ao passado
histórico para reconstruir uma identidade fortemente baseada na concepção de
miscigenação étnica e cultural reconstrói, ao mesmo tempo, as múltiplas subjetividades
femininas que comportam uma história de mais de 500 anos.
Referências
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 634
DOI: 10.12957/palimpsesto.2018.35394
ARRAES, Jarid. Origem. Revista Parênteses. Disponível em:
<http://www.revistaparenteses.com.br/project/edicao-especial-04/>. Acesso em: 8 abr.
2018.
______. Cordelista e feminista: protesto contra a opressão. Entrevista concedida a
Natacha Cortêz. Revista TPM. São Paulo, 19 fev. 2015. Disponível em:
<http://revistatrip.uol.com.br/tpm/cordelista-e-feminista-conheca-jarid-arraes-uma-voz-
de-protesto-contra-a-opressao>. Acesso em: 11 jan. 2017.
BERND, Zilá. Negritude e literatura na América Latina. Porto Alegre: Mercado Aberto,
1987.
CERTEAU, Michel de. A escrita da história. 2 ed. Tradução de Maria de Lourdes Menezes.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
CHANTER, Tina. Gênero: conceitos-chave em filosofia. Trad. Vinicius Figueira. Porto
Alegre: ArtMed, 2011.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
LEONARDI, Victor. Jazz em Jerusalém: inventividade e tradição na história cultural. São
Paulo. Nankin Editorial, 1999.
LIMA, Luiz Costa. História. Ficção. Literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
LIMA, Diane. Do Juazeiro do Norte, é Jarid Arraes a escritora que nos representa. No
Brasil. 9 jun. 2015. Disponível em: <http://nobrasil.co/do-juazeiro-do-norte-e-jarid-
arraes-a-escritora-que-nos-representa/>. Acesso em: 10 jan. 2017.
MALLARD, L. et. al. História Literatura: ensaios. Campinas: Ed. Unicamp: 1995.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e literatura: uma velha-nova história. Nuevo Mundo
Mundos Nuevos. Debates, 28 jan. 2006. Disponível em:
<http:/nuevomundo.revues.org/index1560.html>. Acesso em: 10 ago. 2012.
SANTIAGO, Ana Rita. Vozes literárias de autoras negras. Disponível em:
<http://www.youblisher.com/p/936362-VOZES-LITERARIAS-DE-ESCRITORAS-NEGRAS-
ANA-RITA-SANTIAGO-UFRS/>. Acesso em: 12 fev. 2017.
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 635
Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Tradução de Sandra Regina Goulart
Almeida, Marcos Pereira Feitosa e André Pereira Feitosa. Belo Horizonte: UFMG, 2010.
i
Essa expressão faz referência aos estudos desenvolvidos por Luiz Costa Lima (2006) no livro: História,
Ficção e Literatura.
Recebido em 12 de janeiro de 2018.
Aceito em 28 de fevereiro de 2018.
Nº 26 | Ano 17 | 2018 | pp. 621-636 | Estudos | 636
Você também pode gostar
- Apostila - Produção de VídeoDocumento27 páginasApostila - Produção de VídeoCamila DalcinAinda não há avaliações
- Patativa Do Assaré - História de Aladim e A Lâmpada Maravilhosa (Literatura em Minha Casa - Tradição Popular)Documento36 páginasPatativa Do Assaré - História de Aladim e A Lâmpada Maravilhosa (Literatura em Minha Casa - Tradição Popular)Cassiane Maria50% (2)
- Imprimir Plano de AulaDocumento24 páginasImprimir Plano de Aulaluciana canal100% (2)
- Teoria da Literatura: Reflexões e novas proposiçõesNo EverandTeoria da Literatura: Reflexões e novas proposiçõesAinda não há avaliações
- Por Que A Galinhad'Angola Tem PintasDocumento4 páginasPor Que A Galinhad'Angola Tem PintasDaniel Brandão50% (2)
- 2023 - Ensino Fundamental - Planejamento - 1º Bimestre - 3º Ano PDFDocumento12 páginas2023 - Ensino Fundamental - Planejamento - 1º Bimestre - 3º Ano PDFVanuira FernandesAinda não há avaliações
- O futuro pelo retrovisor: Inquietudes da literatura brasileira contemporâneaNo EverandO futuro pelo retrovisor: Inquietudes da literatura brasileira contemporâneaStefania ChiarelliAinda não há avaliações
- Avaliacao 2º Bimestre de Portugues 6º AnoDocumento3 páginasAvaliacao 2º Bimestre de Portugues 6º AnoLucas Santana100% (1)
- Plano de Aula - CordelDocumento5 páginasPlano de Aula - CordelJohn WolterAinda não há avaliações
- COSSON - Paradigmas Do Ensino de LiteraturaDocumento4 páginasCOSSON - Paradigmas Do Ensino de LiteraturaCamila DalcinAinda não há avaliações
- 1A 3BI CP-minDocumento242 páginas1A 3BI CP-minkeilaAinda não há avaliações
- A Poética Do Pós ModernismoDocumento7 páginasA Poética Do Pós ModernismoJuscimara AndradeAinda não há avaliações
- Leitura de Literatura Na Escola - DemonstraçãoDocumento14 páginasLeitura de Literatura Na Escola - DemonstraçãoJoel MocoAinda não há avaliações
- Sandra Pesavento - Historia e Literatura, Uma Velha-Nova HistóriaDocumento26 páginasSandra Pesavento - Historia e Literatura, Uma Velha-Nova HistóriaCarlos Manoel75% (4)
- História & Literatura - Uma Velha-Nova HistóriaDocumento10 páginasHistória & Literatura - Uma Velha-Nova HistóriaLiana MafraAinda não há avaliações
- Literatura Sul BaianaDocumento133 páginasLiteratura Sul BaianaCamila DalcinAinda não há avaliações
- RESUMO - Teoria Da História e Historiografia - Jurandir MalerbaDocumento3 páginasRESUMO - Teoria Da História e Historiografia - Jurandir MalerbaNi Ramalho100% (1)
- Entre A História e A Literatura - Múltiplos Olhares...Documento9 páginasEntre A História e A Literatura - Múltiplos Olhares...Cílio LindembergAinda não há avaliações
- História e Literatura - Duas Formas de Contar o AcontecerDocumento9 páginasHistória e Literatura - Duas Formas de Contar o AcontecermaikeAinda não há avaliações
- Breve Histórico Do Negro No Texto TeatralDocumento11 páginasBreve Histórico Do Negro No Texto TeatralLuis ManuelAinda não há avaliações
- Literatura e História Florentina Da SilvaDocumento14 páginasLiteratura e História Florentina Da SilvaElivelton MeloAinda não há avaliações
- História & Literatura: Uma Velha-Nova HistóriaDocumento19 páginasHistória & Literatura: Uma Velha-Nova HistóriaStephano Evaristo CezarAinda não há avaliações
- Primeira Avaliação Lit.Documento9 páginasPrimeira Avaliação Lit.rebeca.silvaAinda não há avaliações
- O Mundo Como TextoDocumento15 páginasO Mundo Como TextoCristián Olivares AcuñaAinda não há avaliações
- Currículo, Ensino de História e NarrativaDocumento15 páginasCurrículo, Ensino de História e NarrativaFeliciano Joaquim Cristo FerroAinda não há avaliações
- Entre Memórias E Histórias: As Escritas de Conceição Evaristo E Amadou Hampâte BâDocumento17 páginasEntre Memórias E Histórias: As Escritas de Conceição Evaristo E Amadou Hampâte BâPri NunesAinda não há avaliações
- História & Literatura: Uma Velha-Nova HistóriaDocumento9 páginasHistória & Literatura: Uma Velha-Nova HistóriaJessica Caroline TaveirasAinda não há avaliações
- 1318Documento13 páginas1318Fausto NogueiraAinda não há avaliações
- História LiteraturaDocumento9 páginasHistória Literaturarenato.godoyAinda não há avaliações
- DOSSIE ARTIGO 15-Cristiano Cezar Gomes Da SilvaDocumento14 páginasDOSSIE ARTIGO 15-Cristiano Cezar Gomes Da SilvaPops SenseAinda não há avaliações
- Fichamento PensaventoDocumento5 páginasFichamento PensaventoVinicius FelixAinda não há avaliações
- Anthena BrasileiraDocumento22 páginasAnthena BrasileiraRegilane MacenoAinda não há avaliações
- Literatura e Identidade 5Documento19 páginasLiteratura e Identidade 5Douglas Castro BittencourtAinda não há avaliações
- Apresentação - Stephen BannDocumento4 páginasApresentação - Stephen BannRebecca RibeiroAinda não há avaliações
- História & Literatura - Uma Velha-Nova HistóriaDocumento9 páginasHistória & Literatura - Uma Velha-Nova HistóriaMalane Apolonio DA SilvaAinda não há avaliações
- RESENHA História e História CulturalDocumento1 páginaRESENHA História e História CulturalLauro Chanca Neto100% (1)
- Escrever A História Através Da EstóriaDocumento24 páginasEscrever A História Através Da EstóriaYAN ZOUAinda não há avaliações
- HANCIAU, Nubia Jacques. Confluências Entre Os Discursos Histórico e Ficcional - UnlockedDocumento13 páginasHANCIAU, Nubia Jacques. Confluências Entre Os Discursos Histórico e Ficcional - UnlockedAna KlockAinda não há avaliações
- 303-323 - 35372 História e LiteraturaDocumento21 páginas303-323 - 35372 História e LiteraturaRebeca Talita Menezes OliveiraAinda não há avaliações
- Literatura E História: Um Rizoma PossívelDocumento13 páginasLiteratura E História: Um Rizoma PossívelJosiane DiasAinda não há avaliações
- Carlaangelo, IsatavaresDocumento15 páginasCarlaangelo, IsatavaresRayanne Cristina Lobo GaldinoAinda não há avaliações
- MAIA - Entre Imagem e PalavraDocumento46 páginasMAIA - Entre Imagem e PalavraJulia LobaoAinda não há avaliações
- 726 2264 1 PBDocumento24 páginas726 2264 1 PBmaria claraAinda não há avaliações
- NO LABIRINTO DAS PALAVRAS A Literatura Menor de Clarice LispectorDocumento10 páginasNO LABIRINTO DAS PALAVRAS A Literatura Menor de Clarice LispectorFábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- 74-Texto Do Artigo-254-1-10-20130221Documento14 páginas74-Texto Do Artigo-254-1-10-20130221Marcela CutierAinda não há avaliações
- Antropologia IV - Sobre A Alegoria EtnográficaDocumento3 páginasAntropologia IV - Sobre A Alegoria EtnográficaIago Guarani KaiowáAinda não há avaliações
- A Figura de Ngungunhane Entre A Narrativa Histórica e A Narrativa FiccionalDocumento17 páginasA Figura de Ngungunhane Entre A Narrativa Histórica e A Narrativa Ficcionaljose victorAinda não há avaliações
- M.-J. Simões - Imagotipos LiteráriosDocumento46 páginasM.-J. Simões - Imagotipos Literárioshugo.costacccAinda não há avaliações
- Luciene Azevedo - Saindo Da FicçãoDocumento20 páginasLuciene Azevedo - Saindo Da FicçãoDavi LaraAinda não há avaliações
- Fichamento PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. 2. Ed. 1. Reimp. Belo Horizonte, 2005.Documento2 páginasFichamento PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. 2. Ed. 1. Reimp. Belo Horizonte, 2005.Emely AlmeidaAinda não há avaliações
- 138381-Texto Do Artigo-268408-1-10-20170924Documento27 páginas138381-Texto Do Artigo-268408-1-10-20170924Marcela Dal FiorAinda não há avaliações
- Manoel de BarrosDocumento10 páginasManoel de BarrosAma Lia C LeitesAinda não há avaliações
- Resenha Historia Narrativa Jurandir MalerbaDocumento7 páginasResenha Historia Narrativa Jurandir MalerbaIsabella PinheiroAinda não há avaliações
- Resenha Carlos Reis - Teorias Da Narrativa - Documentos GoogleDocumento4 páginasResenha Carlos Reis - Teorias Da Narrativa - Documentos GoogleAna ClaudiaAinda não há avaliações
- 482 314 PBDocumento109 páginas482 314 PBnot4robotbrandAinda não há avaliações
- fflores,+Escrevendo+a+homossexualidade+-+PARA+PUBLICAÇÃO Correto Com+páginasDocumento16 páginasfflores,+Escrevendo+a+homossexualidade+-+PARA+PUBLICAÇÃO Correto Com+páginaselectrapoluxAinda não há avaliações
- Relatório IC FAPESB 2015-2016 - Greta GarboDocumento21 páginasRelatório IC FAPESB 2015-2016 - Greta GarboTiago CalazansAinda não há avaliações
- 1988 - Velloso - A Literatura Como Espelho Da NacaoDocumento25 páginas1988 - Velloso - A Literatura Como Espelho Da NacaoCamila Kézia FerreiraAinda não há avaliações
- Saramago e o Romance Histórico Nelson Rodrigues FilhoDocumento10 páginasSaramago e o Romance Histórico Nelson Rodrigues FilhoPatrick MarquesAinda não há avaliações
- História e Metaficção No Romance A Casa Da SerpenteDocumento11 páginasHistória e Metaficção No Romance A Casa Da SerpenteMaria MadalenaAinda não há avaliações
- Pepetela 2976447Documento18 páginasPepetela 2976447Celio Hilario MacuacuaAinda não há avaliações
- A Ilusão Biográfica - ResenhaDocumento11 páginasA Ilusão Biográfica - Resenhapriscilla24saraivaAinda não há avaliações
- A Desigualdade Social em O Bicho de Manuel BandeiraDocumento11 páginasA Desigualdade Social em O Bicho de Manuel BandeiraMarcos Vinicius LeiteAinda não há avaliações
- O Labirinto Textual de O Ano Da Morte de Ricardo RDocumento8 páginasO Labirinto Textual de O Ano Da Morte de Ricardo Ralice ferroAinda não há avaliações
- Resenha A História Ou A Leitura Do TempoDocumento5 páginasResenha A História Ou A Leitura Do TempoAllan Kardec PereiraAinda não há avaliações
- Interdisciplinaridade Entre História e Literatura PDFDocumento13 páginasInterdisciplinaridade Entre História e Literatura PDFdanielphb_historiaAinda não há avaliações
- ORATURADocumento4 páginasORATURARaquelitarsAinda não há avaliações
- Espaço Lugar LiteraturaDocumento12 páginasEspaço Lugar LiteraturaSuellen MonteiroAinda não há avaliações
- A Travessia em Guimaraes Rosa PDFDocumento11 páginasA Travessia em Guimaraes Rosa PDFJosi BroloAinda não há avaliações
- Tekoá A Literatura Nativa e Suas Linhas de Fuga - Artigo em Anais - ROSA, Francis Mary S. C. Da. SANTOS, Osmar Moreira Dos.Documento6 páginasTekoá A Literatura Nativa e Suas Linhas de Fuga - Artigo em Anais - ROSA, Francis Mary S. C. Da. SANTOS, Osmar Moreira Dos.Ivonete NinkAinda não há avaliações
- Texto Teatral GeneroDocumento16 páginasTexto Teatral GeneroIzabel TeodolinaAinda não há avaliações
- Guia Dinâmico - AstrodaoDocumento2 páginasGuia Dinâmico - AstrodaoCamila DalcinAinda não há avaliações
- Lete42 Oficina de Leitura e Produo de Textos Ii 2023.1Documento3 páginasLete42 Oficina de Leitura e Produo de Textos Ii 2023.1Camila DalcinAinda não há avaliações
- LP CefetminasDocumento20 páginasLP CefetminasCamila DalcinAinda não há avaliações
- Lete41 Oficina de Leitura e Produo de Textos I 2023.1Documento3 páginasLete41 Oficina de Leitura e Produo de Textos I 2023.1Camila DalcinAinda não há avaliações
- Fanfic - Resumo - PaperDocumento2 páginasFanfic - Resumo - PaperCamila DalcinAinda não há avaliações
- LP FCC 16Documento26 páginasLP FCC 16Camila DalcinAinda não há avaliações
- Arte Literária e Direitos Humanos PDFDocumento3 páginasArte Literária e Direitos Humanos PDFCamila DalcinAinda não há avaliações
- Adendo Edital Lingua Portuguesa IfbaDocumento1 páginaAdendo Edital Lingua Portuguesa IfbaCamila DalcinAinda não há avaliações
- Lei N 13 415 2017 Reforma Do Ensino MedioDocumento47 páginasLei N 13 415 2017 Reforma Do Ensino MedioCamila DalcinAinda não há avaliações
- As Diferentes Correntes Do Pensamento Pedagogico Brasileiro E1662480794Documento98 páginasAs Diferentes Correntes Do Pensamento Pedagogico Brasileiro E1662480794Camila DalcinAinda não há avaliações
- Langua - Portuguesa Ifba 2016Documento82 páginasLangua - Portuguesa Ifba 2016Camila DalcinAinda não há avaliações
- Manual Selecao Ppglitcult 2021Documento14 páginasManual Selecao Ppglitcult 2021Camila DalcinAinda não há avaliações
- Ficha de Inscrição + BaremaDocumento2 páginasFicha de Inscrição + BaremaCamila DalcinAinda não há avaliações
- Modelo de Projeto de PesquisaDocumento19 páginasModelo de Projeto de PesquisaCamila DalcinAinda não há avaliações
- Lingua Oral e Escrita ResendeDocumento8 páginasLingua Oral e Escrita ResendeCamila DalcinAinda não há avaliações
- IssDocumento7 páginasIssPedro Aquino PedrinhoAinda não há avaliações
- UESC 044 - 2022 - RepublicadoDocumento18 páginasUESC 044 - 2022 - RepublicadoCamila DalcinAinda não há avaliações
- O Que É LiteraturaDocumento10 páginasO Que É LiteraturaCamila DalcinAinda não há avaliações
- VALLERIUS - Denise Mallmann - Regionalismo e CriticaDocumento18 páginasVALLERIUS - Denise Mallmann - Regionalismo e CriticaCamila DalcinAinda não há avaliações
- Avaliação - Plano de Aula - Liretatura BrasileiraDocumento3 páginasAvaliação - Plano de Aula - Liretatura BrasileiraCamila DalcinAinda não há avaliações
- UFPEL Edital-01-de-2022-CEEFDocumento10 páginasUFPEL Edital-01-de-2022-CEEFCamila DalcinAinda não há avaliações
- 2 Verificação CFNM 2016Documento20 páginas2 Verificação CFNM 2016Viviane FariaAinda não há avaliações
- A Representação Social Da Beleza e Da FeiuraDocumento7 páginasA Representação Social Da Beleza e Da FeiuraAnonymous f9OZIc67OAinda não há avaliações
- Xica ManicongoDocumento11 páginasXica ManicongoRafael de QueirozAinda não há avaliações
- 2 Pse SEQUENCIA LP 2 TRISDocumento5 páginas2 Pse SEQUENCIA LP 2 TRISGéssica X AlessandroAinda não há avaliações
- 1º Caderno - 5º Ano - ProfessorDocumento27 páginas1º Caderno - 5º Ano - ProfessorJoao LuizAinda não há avaliações
- Evas Ou Marias, As Mulheres Na Literatura de CordelDocumento33 páginasEvas Ou Marias, As Mulheres Na Literatura de CordelRosana Lopes NogueiraAinda não há avaliações
- Atividade 8 3o Ano Lingua Portuesa Tema Compreensao em Leitura Genero CordelDocumento5 páginasAtividade 8 3o Ano Lingua Portuesa Tema Compreensao em Leitura Genero CordelROBERTA SANAY PEREIRA DE SOUZAAinda não há avaliações
- Nas Tramas Dos Versos: A Construção Do Herói João Pessoa Na Literatura de Cordel NordestinaDocumento57 páginasNas Tramas Dos Versos: A Construção Do Herói João Pessoa Na Literatura de Cordel NordestinaThiago Raposo100% (1)
- Peleja Do Cego Aderaldo Com ZE Pretinho Dos Tucuns CordelDocumento10 páginasPeleja Do Cego Aderaldo Com ZE Pretinho Dos Tucuns CordelÉrico CruzAinda não há avaliações
- Fazia - Tudo - de - Novo-Camponeses - e - Partido - Comunista - Brasileiro - em - Trombas - e - Formoso - 1950-1964 - 1Documento250 páginasFazia - Tudo - de - Novo-Camponeses - e - Partido - Comunista - Brasileiro - em - Trombas - e - Formoso - 1950-1964 - 1Aurelio FilhinhoAinda não há avaliações
- Contos e Lendas BrasileirasDocumento4 páginasContos e Lendas BrasileirasMarcia TscherkasAinda não há avaliações
- Maria Alice Amorim CibercordelDocumento335 páginasMaria Alice Amorim CibercordelMacioniliaAinda não há avaliações
- AV2 Linguagens+e+Humanas (19 08 Comentada)Documento46 páginasAV2 Linguagens+e+Humanas (19 08 Comentada)emilly.m.limmaAinda não há avaliações
- Formação e Experiências DocentesDocumento477 páginasFormação e Experiências DocentesLeticia DavidAinda não há avaliações
- Gabarito NL LP Lista8 2024Documento4 páginasGabarito NL LP Lista8 2024maria silvaAinda não há avaliações
- PROVA6Documento34 páginasPROVA6izabela MouraAinda não há avaliações
- Lista de Cordeis - TituloDocumento209 páginasLista de Cordeis - TituloLuana Souza FrançaAinda não há avaliações
- Livro Acao Grio 6Documento16 páginasLivro Acao Grio 6Diego BrittoAinda não há avaliações
- Caderno 5 Aluno Portugues 672Documento47 páginasCaderno 5 Aluno Portugues 672Magna OliveiraAinda não há avaliações
- Slides Tipos de Verso - 230801 - 204807Documento87 páginasSlides Tipos de Verso - 230801 - 204807Eloísa LimaAinda não há avaliações
- CordelDocumento13 páginasCordelMarcos Rodrigues BarretoAinda não há avaliações
- Atividades de Artes 9º Anos 6 SemanaDocumento10 páginasAtividades de Artes 9º Anos 6 SemanaGleiciene SilvaAinda não há avaliações