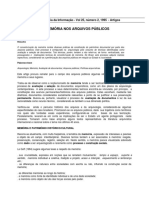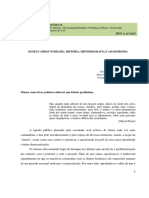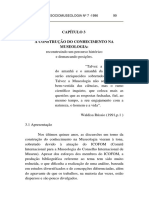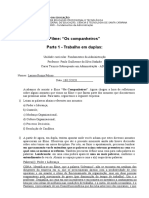Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Os Historiadores e Os Acervos Documentais e Museológicos: Novos Espaços de Atuação Profissional
Os Historiadores e Os Acervos Documentais e Museológicos: Novos Espaços de Atuação Profissional
Enviado por
Eloyse OliveiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Os Historiadores e Os Acervos Documentais e Museológicos: Novos Espaços de Atuação Profissional
Os Historiadores e Os Acervos Documentais e Museológicos: Novos Espaços de Atuação Profissional
Enviado por
Eloyse OliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Os historiadores e os acervos
documentais e museológicos:
novos espaços de atuação
profissional
Benito Bisso Schmidt*
Resumo: O texto reflete sobre a abertura de novos espaços de atuação profissional ao
historiador em instituições como museus, arquivos, centros de cultura e memoriais,
buscando examinar o contexto em que se insere tal processo – marcado pela larga
difusão de uma cultura da memória –, bem como os desafios ligados a este exercí-
cio no que diz respeito à formação, à prática profissional e ao papel da ANPUH
como entidade representativa dos historiadores.
Palavras-chave: Profissão de historiador. Lugares de memória. ANPUH. Arquivos.
Museus
Vivemos em uma sociedade “seduzida pela memória” (HUYS-
SEN, 2000), marcada por uma intensa e ansiosa busca de raízes e
identidades (HARTOG, 1997, p. 15), na qual o presente logo se
aloja em lugares físicos, virtuais e afetivos de memória (NORA,
1993). Vivenciei esta experiência faz pouco tempo ao me deparar,
em uma livraria, com o Almanaque Anos 90, do jornalista Silvio
* Presidente da ANPUH-RS (gestão 2006-2008). Professor do Departamento e do
PPG em História da UFRGS. Diretor do Memorial da Justiça do Trabalho no Rio
Grande do Sul. E-mail: bbissos@yahoo.com
Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p. 187-196, dez. 2008
Os historiadores e os acervos documentais e museológicos...
Essinger (2008), no qual pude encontrar alguns fatos e personagens
que fazem (ou faziam até aquele momento) parte do meu imaginá-
rio presente: a série Arquivo X, o filme Titanic, o apelido “Bráulio”,
dado a certa parte da anatomia masculina, o gol de barriga de Renato
Gaúcho pelo Fluminense que decidiu o campeonado carioca. Conge-
188
lados nas páginas deste livro, lugar de memória de uma geração,
tais acontecimentos transmutavam-se em referências nostálgicas,
como se eu estivesse folheando um daqueles belos álbuns de foto-
grafias de Marc Ferrez que retratam o Rio de Janeiro no final do
século XIX. Minha vida – pensei eu – estava imortalizada, mas, de
certa forma, virara peça de museu.
Diante de um mundo que se transforma rapidamente, com
fluxos que se comprimem em redes cada vez mais densas de espaço
e tempo, buscamos avidamente algumas “ancoragens” (Huyssen,
2000, p. 34) na tentativa de estancar o tempo e evitar que o passado
se perca. De certa forma, em uma encarnação coletiva do perso-
nagem Funes, de Borges (1970), temos o desejo de tudo guardar,
de conservar todas as fotos e documentos, de entrevistar todos os
velhinhos antes que eles morram, de nada esquecer. A ampliação
inimaginável da capacidade de armazenar informações convive, para-
doxalmente, com um enorme medo da amnésia.
Um sintoma dessa conjuntura – em que a memória se tornou
uma preocupação social, cultural e política central – é a constituição
de espaços institucionais de preservação e de celebração dos vestí-
gios do passado (e aqui invoco o título do nosso encontro estadual):1
museus, arquivos, bibliotecas, centros de documentação, memoriais,
rotas turísticas “nostálgicas”... Um número significativo de órgãos
públicos e de instituições privadas, como hospitais, clubes de futebol,
empresas e sindicatos, passou a investir na constituição de espaços
para a exibição (ou, mais propriamente, para a construção) do pas-
sado, para a exposição de certas narrativas a respeito “do que fomos”,
visando a solidificar uma determinada imagem “do que somos”.
Sem dúvida, a espetacularização do passado se tornou uma excelente
Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p. 187-196, dez. 2008
Benito Bisso Schmidt
estratégia de marketing, uma forma bastante eficaz de vender imagens,
produtos e serviços.
Tais espaços, por um lado, ampliam o âmbito de atuação dos
profissionais tradicionalmente voltados à organização, análise e publi-
cização destes “vestígios do passado” – como arquivistas, museólogos
189
e historiadores – além de incorporar outros que normalmente eram
mais associados ao presente – como jornalistas, publicitários e arqui-
tetos; entretanto, por outro lado, também criam novos desafios e
responsabilidades que não podem ser negligenciados por nenhum
destes agentes. Quero abordar, nesta apresentação, de forma muito
sintética, alguns destes desafios e responsabilidades relativos especi-
ficamente à atuação do historiador, com atenção especial às ques-
tões atinentes à sua formação, à sua prática nestes novos espaços
de atuação profissional e às tarefas que a ANPUH – como entidade
representativa dos profissionais de história – deve assumir diante
deste quadro.
Quanto à formação, observamos, nos cursos de graduação
em História, cada vez mais, a criação de disciplinas voltadas à atua-
ção do historiador nos espaços de guarda, organização e publicização
do patrimônio histórico-documental, tanto na forma de cursos teóri-
cos, quanto de estágios curriculares. Iniciativas como essas são extre-
mamente bem-vindas, pois possibilitam ao estudante um primeiro
contato com instituições como arquivos e museus, suas formas de
organização, técnicas de conservação e restauro, elaboração de instru-
mentos de busca, atendimento ao público, educação patrimonial, etc.,
ampliando o foco para incluir não só o “historiador consulente”,
como também o “historiador do outro lado do balcão”, ou seja, o
profissional de história que deverá prestar serviços aos pesquisadores
e à comunidade em geral. Com isso, tais disciplinas colaboram, simul-
taneamente, com a formação dos historiadores pesquisadores, que
agora saberão, ao menos em suas linhas gerais, como funcionam as
instituições onde buscam suas fontes (tendo a noção, por exemplo, no
caso dos arquivos, de que estas fontes não são organizadas por
ordem temática, mas em função de sua fonte geradora), e também na
Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p.187-196, dez. 2008
Os historiadores e os acervos documentais e museológicos...
preparação dos profissionais que poderão trabalhar como funcio-
nários qualificados nestes espaços.
Parece-me, contudo que, para além de cursos de caráter mais
técnico (com noções básicas de arquivística ou museologia, por
exemplo), e de estágios “de observação” e/ou “de vivência”, o mais
190
importante é exercitar nos estudantes – por meio das mais variadas
atividades pedagógicas – a capacidade de voltar para os acervos aquele
tipo de olhar que, por dever de ofício, eles já devem lançar aos demais
objetos que estudam: um olhar eminentemente histórico, que desnatu-
raliza os objetos (inclusive os papéis), seus arranjos, combinações,
organizações e classificações, mostrando que tais operações, aparen-
temente desinteressadas, resultam de gestos, de escolhas, de omis-
sões e de silenciamentos determinados pelas lutas sociais e políticas
presentes em cada contexto histórico. Afinal, lembrando as palavras
de Jacques Le Goff (1990, p. 545), “o documento não é qualquer
coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade
que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o
poder”. Assim, se classificamos os documentos de um arquivo de
determinada forma, ou se reunimos e apresentamos tais ou quais
objetos em um museu de certa maneira, isso certamente se deve a
critérios técnicos, mas estes não são neutros, são políticos, e impli-
cam escolhas e omissões. O historiador, do meu ponto de vista,
seria aquele profissional mais capacitado para perceber esta
historicidade dos acervos, para evidenciar os diferentes “estratos
do tempo” neles imbricados – usando livremente a expressão de
Kosellek (2001) – e, por isso, sua atuação nos espaços que os abrigam
me parece fundamental. Acredito que o “conteúdo básico” a ser
desenvolvido nos cursos de História que buscam qualificar seus
alunos para atuarem em museus, bibliotecas, arquivos, centros de
documentação, etc. é esta reflexão sobre as controversas e sempre
tensas relações entre história e memória, e sobre a maneira como
tais formas de apreensão do passado convergem para a constituição
e/ou fortalecimento de identidades presentes.
Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p. 187-196, dez. 2008
Benito Bisso Schmidt
Encontro, em muitas destes espaços, a idéia de que a eles
caberia “preservar a memória” de uma nação, de um grupo, de
uma comunidade, de uma instituição. Nós, historiadores, sabemos
que, mais do que preservar, a memória constrói o passado, que ela
o inventa, no sentido de conferir-lhe sentido, que ela monta e re-
monta, esquece e recalca os vestígios pretéritos. Museus, arquivos
191
e memoriais – como “memórias postiças” – operam neste registro:
não preservam, não guardam o passado, eles inventam – no sentido
de conferir-lhe sentido, insisto – o passado escolhido por aquele
coletivo – e expressam as relações de poder que o perpassam. E
isso, ressalto, não é um “problema”, mas diz respeito à própria
natureza da memória. Ao contrário de nossa ambição contempo-
rânea, não podemos “lembrar tudo” ou “guardar tudo”, e tal assertiva
vale tanto para o plano individual como para o plano coletivo.
Fazemos escolhas e temos, como historiadores, na medida do pos-
sível, que mostrar que tais escolhas – pautadas por critérios técni-
cos expressos nas tabelas de temporalidade, por exemplo – são
políticas, históricas, são opções.
Neste contexto, creio, não cabe ao historiador, ao menos não
de maneira prioritária, o papel de “corrigir a memória”, apontando
seus “erros”, suas “falsidades”, suas “distorções” (embora possa
fazer isso também). Por mais que se aprenda nas aulas de teoria da
História que é impossível conhecer os “fatos como eles realmente
aconteceram”, tal tarefa ainda é muito cobrada socialmente dos histo-
riadores, sobretudo fora da academia. Frases como “chamamos o
senhor para contar o que realmente aconteceu em tal momento”
não raramente são ouvidas quando se contrata um historiador para
atuar em um memorial, por exemplo. Neste sentido, não podemos
esquecer que as fronteiras entre história e memória não são rígidas
e que a história, seguidamente, torna-se memória e serve como
âncora para identidades individuais e coletivas. Porém, parece-me
que a memória tem um compromisso maior com o reforço das identi-
dades (nacionais, étnicas, de gênero, políticas, institucionais, entre
Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p.187-196, dez. 2008
Os historiadores e os acervos documentais e museológicos...
outras), enquanto que a história deve se voltar à historicização
destas identidades, evidenciando-as como construções históricas,
e não como essências ou dados naturais – não se trata, repito, de
dizer se uma memória ou identidade é falsa ou verdadeira, mas de
mostrar que elas (inevitavelmente) são representações, construções
192
imaginárias, resultados de processos de seleção, de inclusão e de
exclusão.
Obviamente que reflexões teóricas como as que acima esbocei
implicam grandes desafios para a prática profissional do historiador
nestes espaços. Questionar a fixidez de procedimentos e de “normas
técnicas” certamente não é uma posição cômoda. Da mesma forma,
quando se é contratado para atuar em um memorial, normalmente
a instituição contratante já tem uma determinada imagem sobre
si, ancorada em uma certa visão sobre o seu passado, que deseja
ver reforçada em uma narrativa histórica coerente, documentada
e com a “chancela científica” do historiador. Não cabe, e peço
perdão pela insistência, a este profissional dizer se tal identidade
ou tal memória é “falsa” ou “verdadeira”, mas sim evidenciar a sua
historicidade, o seu caráter de construção histórica, o que implica,
como no caso de qualquer construção – inclusive, e principalmente, a
narrativa histórica – permanências, mudanças, omissões, seleções
e esquecimentos.
Mas, tentando ser mais prático, arrisco fazer algumas propo-
sições gerais quanto ao trabalho dos historiadores nestes lugares
de memória. A primeira diz respeito à importância de se trabalhar
em equipe – que pode incluir arquivistas, museólogos, bibliotecários,
arquitetos, jornalistas, designers, advogados, etc. – de forma a per-
mitir que diferentes olhares possam ser lançados ao passado que
se deseja narrar, conservar, expor. Dizer o que foi não é monopólio
dos historiadores – e o sucesso atual dos jornalistas nesse campo
está aí para demonstrar isso. Abrir-se à discussão e à pluralidade, e
também ser capaz de suportar o grau de conflito e de frustração
implicado neste diálogo seguidamente tenso entre tantos olhares
disciplinares diferentes é, acredito, uma das capacidades a serem
Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p. 187-196, dez. 2008
Benito Bisso Schmidt
adquiridas pelo profissional de História que pretende atuar nos
novos espaços de atuação acima referidos.
Decorre desta proposição uma segunda: o historiador deve
saber negociar, mas sem abrir mão dos requisitos e dos objetivos
mínimos de seu ofício – e o principal, como já ressaltei, é mostrar
193
o sentido de construção de qualquer narrativa sobre o passado, e
evidenciar que o conhecimento histórico se baseia no diálogo, no
ir e vir, entre as questões do presente e os vestígios do passado.
Neste sentido, não é demais citar a bela frase da historiadora Natalie
Davis (1987, p. 21), extraída de seu livro “O retorno de Martin
Guerre”: “o que aqui ofereço ao leitor é, em parte, uma invenção
minha, mas uma invenção construída a partir da escuta atenta das
vozes do passado”. Este caráter de invenção – mas uma invenção
controlada pelas regras do ofício e balizada pelas fontes – do conhe-
cimento que elaboramos deve ser constantemente lembrado àqueles
que contratam nossos serviços, aos responsáveis pelas instituições
onde trabalhamos, para que o caráter científico deste mesmo conhe-
cimento não sirva de aval para que qualquer invenção apareça
como “a verdade”.
Quando tratamos do papel da ANPUH neste novo universo
que se abre aos licenciados e bacharéis em História, normalmente
nos limitamos à discussão da tão esperada (e tão adiada) regula-
mentação da profissão do historiador, que acredito fundamental
em um mercado de trabalho cada vez mais regulamentado. Sem o
reconhecimento oficial de nossa profissão, como podemos, por
exemplo, assegurar a presença dos historiadores nestas instituições?
Como podemos garantir a realização de concursos específicos?
Parece que não há dúvidas sobre a necessidade de haver arquivistas
em arquivos, museólogos em museus (até porque suas ausências
seriam denunciadas por seus conselhos profissionais), mas, segui-
damente, a presença de historiadores em tais espaços é vista apenas
como a “cereja do bolo”, e não como uma necessidade incontornável.
É neste sentido que a regulamentação se torna importante.
Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p.187-196, dez. 2008
Os historiadores e os acervos documentais e museológicos...
Considero, portanto, fundamental essa luta pela regulamen-
tação da profissão. Afinal, como ressaltei, vivemos em um mundo
regulamentado e trabalhamos lado a lado com profissionais que
têm profissão regulamentada, como museólogos e arquivistas. Preci-
samos assegurar a presença de historiadores profissionais em espaços
194
voltados ao ensino de História, à pesquisa histórica e à preservação
do patrimônio histórico-documental. Temos funções e contribuições
específicas nestes âmbitos que não podem ser exercidas/oferecidas
por arquivistas, museólogos, jornalistas, entre outros profissionais, da
mesma forma que estes não podem ser substituídos pelos historia-
dores. A regulamentação, em princípio, garantiria nossa presença
nestes espaços ou ao menos daria amparo legal a ela, assim como
à abertura de concursos específicos e à fiscalização das práticas
ligadas ao nosso ofício. Porém, não considero a regulamentação
suficiente para legitimar a nossa prática profissional. Há inúmeros
outros desafios que não podem ser “varridos para debaixo do tapete”
e que não serão resolvidos magicamente por meio de um ato legal.
Que desafios são estes? Encerro minha apresentação elencando
apenas alguns deles:
1) O primeiro e mais fundamental: definir com mais precisão
as funções dos historiadores nestes novos espaços de atuação pro-
fissional. Quais seriam as particularidades do “ato histórico” (por
analogia ao ato médico)? Em equipes multiprofissionais, o que só
caberia a nós? Podemos nos reservar a exclusividade de pesquisar
e escrever sobre o passado, por exemplo? Como fiscalizar os ou-
tros profissionais que se ocupam do passado?
2) Os nossos cursos de graduação têm formado profissio-
nais habilitados a atuar nestes novos espaços? Que disciplinas,
conteúdos e práticas precisariam ser inseridos nas grades curriculares?
3) Podemos pensar em algo como um código de ética do his-
toriador? Quais seriam os seus elementos básicos? Como assegu-
rar procedimentos éticos mínimos da parte deste profissional diante
dos embates já referidos acima entre a pretensão de reforço da
Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p. 187-196, dez. 2008
Benito Bisso Schmidt
memória, da parte dos dirigentes das instituições, por exemplo, e o
exercício da análise histórica?
Assim, acredito que cabe à ANPUH, além de lutar pela regula-
mentação da profissão, promover a reflexão sobre essas e outras espi-
nhosas questões, abrindo canais de comunicação com a sociedade a
195
fim de demonstrar que não há bons arquivos ou bons museus, ou
lugares de memória que não se pretendam apenas celebrativos,
sem a presença de historiadores.
Historians and document and museum collections: new fields of professional
activities
Abstract: This text makes a reflection on the emergence of new professional fields
of activities to historians in institutions like museums, archives, memorials and
culture centers, by trying to analyze the context where this process – pointed by a
spreading “culture of memory” - takes place, as well as the challenges related to this
process as for education, professional practice and the role of ANPUH as an entity
representative of historians.
Keywords: Historian profession. Places of memory. ANPUH. Archives. Museums
Notas
1
IX Encontro Estadual de História – “Vestígios do passado: a História e suas
fontes”. Porto Alegre, Campus do Vale/UFRGS, 14 a 18 de julho de 2008.
Referências
BORGES, Jorge Luis. Funes, o memorioso. In: Ficções. Porto Alegre: Globo, 1970.
DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
ESSINGER, Silvio. Almanaque Anos 90. Rio de Janeiro: Agir, 2008.
HARTOG, François. O tempo desorientado. Tempo e história. Como escrever a
história da França? Anos 90, Porto Alegre, n. 7, julho de 1997.
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio
de Janeiro: Aeroplano, 2000.
Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p.187-196, dez. 2008
Os historiadores e os acervos documentais e museológicos...
KOSELLECK, Reinhardt. Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia. Barcelona:
Paidós, 2001.
LE GOFF, Jacques. Documento/monumento. In: História e memória. Campinas:
Ed. da UNICAMP, 1990.
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História,
196
São Paulo, n. 10, dezembro de 1993.
Recebido em 25/11/2008
Aprovado em 15/12/2009
Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 28, p. 187-196, dez. 2008
Você também pode gostar
- Detonado de Star Ocean 4 Por Cinistro CorrigidoDocumento352 páginasDetonado de Star Ocean 4 Por Cinistro CorrigidoCarlos Vinicius67% (3)
- A Fonte Histórica e Seu Lugar de Produção: José D'Assunção BarrosDocumento23 páginasA Fonte Histórica e Seu Lugar de Produção: José D'Assunção Barrosraquel_hoffmann4Ainda não há avaliações
- HaganáDocumento6 páginasHaganáCléber Sanchez CarlosAinda não há avaliações
- Museu Lugar AprenderDocumento7 páginasMuseu Lugar AprenderGeísa GuterresAinda não há avaliações
- 1835 6042 2 PBDocumento18 páginas1835 6042 2 PBElton Pedroso CorreaAinda não há avaliações
- A Representação Social Da Escravidão Nos Museus Brasileiros Interfaces Entre A Museologia e A História.Documento17 páginasA Representação Social Da Escravidão Nos Museus Brasileiros Interfaces Entre A Museologia e A História.Lorena VazAinda não há avaliações
- Texto MemóriaDocumento13 páginasTexto MemóriaAna ViegasAinda não há avaliações
- A Invenção Da Memória Nos Arquivos Públicos (Jardim)Documento13 páginasA Invenção Da Memória Nos Arquivos Públicos (Jardim)marysimoesAinda não há avaliações
- PDF Cfb64eeaa1 0008801Documento13 páginasPDF Cfb64eeaa1 0008801Ana ViegasAinda não há avaliações
- Mattozzi Didatica Historia Ed PatrimonioDocumento6 páginasMattozzi Didatica Historia Ed PatrimoniogrsncostaAinda não há avaliações
- Avaliação Museu IsaDuarteDocumento3 páginasAvaliação Museu IsaDuarteNikollas VieiraAinda não há avaliações
- CADASTRADO Projeto Escolas CentenáriasDocumento11 páginasCADASTRADO Projeto Escolas CentenáriasAnonymous kgBjU5Qp8Ainda não há avaliações
- Mario Chagas Trabazao!!!!!Documento6 páginasMario Chagas Trabazao!!!!!Rapha SobralAinda não há avaliações
- "Quantas Histórias Conta o Museu Republicano "Convenção de Itu"? Reflexões Iniciais Sobre Ensino de História e Museu Na Cidade de Itu (2006-2014) - "Documento13 páginas"Quantas Histórias Conta o Museu Republicano "Convenção de Itu"? Reflexões Iniciais Sobre Ensino de História e Museu Na Cidade de Itu (2006-2014) - "Marcelo LeiteAinda não há avaliações
- Janaina Cardoso de Mello - Museus Afros No Brasil (Texto)Documento13 páginasJanaina Cardoso de Mello - Museus Afros No Brasil (Texto)rodrigojcostaAinda não há avaliações
- MuseuDocumento7 páginasMuseuSamuel Gomes324Ainda não há avaliações
- Artigo 8 Paulo Cesar Tomaz Fenix Maio Agosto 2010Documento12 páginasArtigo 8 Paulo Cesar Tomaz Fenix Maio Agosto 2010Daniela DantasAinda não há avaliações
- Texto 15 PEREIRA ORIÁDocumento11 páginasTexto 15 PEREIRA ORIÁCamylla MaiaAinda não há avaliações
- Educação Patrimonial e Cidadania - FERNANDES, Jose RicardoDocumento12 páginasEducação Patrimonial e Cidadania - FERNANDES, Jose RicardoJoab Martins de LimaAinda não há avaliações
- Cadernos de Sociomuseologia #12 - 1998Documento23 páginasCadernos de Sociomuseologia #12 - 1998Tiago RaugustAinda não há avaliações
- Fontes HistóricasDocumento23 páginasFontes HistóricasWesley GarciaAinda não há avaliações
- A Presença Na AusênciaDocumento17 páginasA Presença Na Ausêncialis gomesAinda não há avaliações
- Reflexões Epistemológicas DOS Arquivos E DO Fazer Arquivístico Enquanto Instrumentos DE PoderDocumento10 páginasReflexões Epistemológicas DOS Arquivos E DO Fazer Arquivístico Enquanto Instrumentos DE PoderMaria SoaresAinda não há avaliações
- 2.1 Documento MonumentoDocumento25 páginas2.1 Documento MonumentoMah BricciusAinda não há avaliações
- Manoel Luiz Salgado Guimarães. Usos Da História. Refletindo Sobre Identidade e SentidoDocumento8 páginasManoel Luiz Salgado Guimarães. Usos Da História. Refletindo Sobre Identidade e SentidoRogério MattosAinda não há avaliações
- Frehse - Os Informantes Que Jornais e Fotografias RevelamDocumento26 páginasFrehse - Os Informantes Que Jornais e Fotografias RevelamFabiane PredesAinda não há avaliações
- AnnalesDocumento4 páginasAnnalesCarolina de Almeida DuarteAinda não há avaliações
- Relatório de Estágio SupervisionadoDocumento15 páginasRelatório de Estágio SupervisionadoLucas Braga100% (1)
- Lugares de Memória, Educação Patrimonial e Ensino de História ReflexõesDocumento15 páginasLugares de Memória, Educação Patrimonial e Ensino de História ReflexõesDaniBoadiceaAinda não há avaliações
- Intelectuais e HistóriaDocumento9 páginasIntelectuais e HistóriaErivan KarvatAinda não há avaliações
- ABREU, L. R. O Espaço Do Museu Como Lugar de Memória e Educação.Documento16 páginasABREU, L. R. O Espaço Do Museu Como Lugar de Memória e Educação.Alan Luiz JaraAinda não há avaliações
- 4.4.2 BNCC-Final CH-HI PDFDocumento35 páginas4.4.2 BNCC-Final CH-HI PDFromeniseAinda não há avaliações
- Artigo ANPUH 2021 (FINAL) - Daniel Vicente SantiagoDocumento16 páginasArtigo ANPUH 2021 (FINAL) - Daniel Vicente SantiagoDanielAinda não há avaliações
- Patrimônio Histórico, Bens Culturais, História Pública eDocumento11 páginasPatrimônio Histórico, Bens Culturais, História Pública eSheyla FariasAinda não há avaliações
- AssistimosDocumento2 páginasAssistimosSamuel Gomes324Ainda não há avaliações
- A Construção Do Conhecimento Na MuseologiaDocumento35 páginasA Construção Do Conhecimento Na MuseologiaAndre FabriccioAinda não há avaliações
- 2008 Capliv AgrnogueiraDocumento12 páginas2008 Capliv AgrnogueiraBruno FioravanteAinda não há avaliações
- Memórias No Arquivo Maurílio de AlmeidaDocumento13 páginasMemórias No Arquivo Maurílio de AlmeidaSávio SilvaAinda não há avaliações
- SANTOS, M. C. T. M. Documentação Museológica, Educação e Cidadania - Cadernos de Museologia N 3, 1994Documento14 páginasSANTOS, M. C. T. M. Documentação Museológica, Educação e Cidadania - Cadernos de Museologia N 3, 1994Caio Ghirardello100% (1)
- BARROSDocumento22 páginasBARROSGabriel de Oliveira XavierAinda não há avaliações
- ARAUJO, Maria Paula. Museus e Memoriais Na Construção de Narrativas Sobre DitadurasDocumento24 páginasARAUJO, Maria Paula. Museus e Memoriais Na Construção de Narrativas Sobre DitadurasMinha bibliotecaAinda não há avaliações
- Gauchos e Beduinos de Manoelito de Ornellas e As Disputas em Torno Do Passado Sul Rio GrandenseDocumento19 páginasGauchos e Beduinos de Manoelito de Ornellas e As Disputas em Torno Do Passado Sul Rio GrandenseemcartazAinda não há avaliações
- Entre A Vida e A Morte Cemiterios em SiDocumento10 páginasEntre A Vida e A Morte Cemiterios em Siiaciiara meloAinda não há avaliações
- Vol5no1 07.sheivaDocumento20 páginasVol5no1 07.sheivaSheiva SorensenAinda não há avaliações
- A História Dos Objetos de Castigo e Punição A Escravizados Expostas No Museu Do Homem DoDocumento11 páginasA História Dos Objetos de Castigo e Punição A Escravizados Expostas No Museu Do Homem DoMagna MenezesAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro Patrimônio CulturalDocumento4 páginasResenha Do Livro Patrimônio CulturalIsabela NunesAinda não há avaliações
- A História Dos MuseusDocumento3 páginasA História Dos Museus00adrielly00Ainda não há avaliações
- Aula 1 - Fromer - Memoria - e - Preservacao - A - Construcao - Epistemologica - Da - Ciencia - Da - ConservacaoDocumento25 páginasAula 1 - Fromer - Memoria - e - Preservacao - A - Construcao - Epistemologica - Da - Ciencia - Da - ConservacaoFábio de AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Cavalcanti & Goncalves Cultura, FestasDocumento32 páginasCavalcanti & Goncalves Cultura, FestasCarla MirandaAinda não há avaliações
- Arqueologia e Museologia PDFDocumento16 páginasArqueologia e Museologia PDFRôsyh AquinoAinda não há avaliações
- 2020 - 4 Simpósio Icomos - Texto Dos AnaisDocumento16 páginas2020 - 4 Simpósio Icomos - Texto Dos AnaisHércules da Silva Xavier FerreiraAinda não há avaliações
- HistPatriCultural 1 - TextoDocumento8 páginasHistPatriCultural 1 - Textojefersontraja2507Ainda não há avaliações
- Sobre o MonumentoDocumento6 páginasSobre o MonumentoRafael Virgílio de Carvalho100% (1)
- Patrimônio e História Reflexões Sobre o Papel Do HistoriadorDocumento24 páginasPatrimônio e História Reflexões Sobre o Papel Do HistoriadorTeVê BêAinda não há avaliações
- Os Usos Damemoria e Do Patrimonio Cultural Na Sala de AulaDocumento11 páginasOs Usos Damemoria e Do Patrimonio Cultural Na Sala de AulaRecirio GuerinoAinda não há avaliações
- Historia A Partir Das Coisas Tendencias Recentes NDocumento20 páginasHistoria A Partir Das Coisas Tendencias Recentes NSebastião SantosAinda não há avaliações
- Cadernos de Museologia Nº 03Documento113 páginasCadernos de Museologia Nº 03Aline AugustoAinda não há avaliações
- Gonçalves, José Reginaldo - Antropologia - Dos - Objetos PDFDocumento252 páginasGonçalves, José Reginaldo - Antropologia - Dos - Objetos PDFRaisa LadyRed100% (1)
- Fontes e DocumentosDocumento16 páginasFontes e DocumentosThiago ComelliAinda não há avaliações
- Prof. Vitor Izecksohn Guerra Do Paraguai IdentidadesDocumento13 páginasProf. Vitor Izecksohn Guerra Do Paraguai IdentidadesEloyse OliveiraAinda não há avaliações
- Plano de Disciplina (PLE - Turma Vígia)Documento3 páginasPlano de Disciplina (PLE - Turma Vígia)Eloyse OliveiraAinda não há avaliações
- PDF 4 240923045032Documento3 páginasPDF 4 240923045032Eloyse OliveiraAinda não há avaliações
- sdddele.comDocumento2 páginassdddele.comEloyse OliveiraAinda não há avaliações
- Plano de AulaDocumento3 páginasPlano de AulaEloyse OliveiraAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa Brasil IIIDocumento2 páginasProjeto de Pesquisa Brasil IIIEloyse OliveiraAinda não há avaliações
- Mapa Mental - PaciênciaDocumento5 páginasMapa Mental - Paciência4ourworkstationAinda não há avaliações
- Stão de QualidadeDocumento136 páginasStão de Qualidadenuncafalha100% (3)
- Decreto N.º 1.651, de 11 de Março de 2013Documento27 páginasDecreto N.º 1.651, de 11 de Março de 2013AntonioMarcosRodriguesAinda não há avaliações
- Currículo Artistico para GuardarDocumento3 páginasCurrículo Artistico para GuardarAngeane CarvalhoAinda não há avaliações
- Trabalho Os CompanheirosDocumento4 páginasTrabalho Os CompanheirosLarissa Rozza PelusoAinda não há avaliações
- Cronograma - Obras Do PAS 1Documento3 páginasCronograma - Obras Do PAS 1Felipe AmorimAinda não há avaliações
- TCC - Vitor Jose Costa Rodrigues - Versão FinalDocumento106 páginasTCC - Vitor Jose Costa Rodrigues - Versão Finallucas ferreiraAinda não há avaliações
- E-Book - Aulas Muito RelevantesDocumento378 páginasE-Book - Aulas Muito RelevantesTábataAmaralAinda não há avaliações
- Tudo Que Nunca Te Contaram Sobre A EscolioseDocumento9 páginasTudo Que Nunca Te Contaram Sobre A EscolioseArgleydsson Mendes DurãesAinda não há avaliações
- Hinário Permissão Divina Ceu de AruandaDocumento31 páginasHinário Permissão Divina Ceu de AruandaHelena BeatrizAinda não há avaliações
- Atividade Roda VivaDocumento6 páginasAtividade Roda VivaJulia IzidoroAinda não há avaliações
- Os Princípios Da ArteDocumento22 páginasOs Princípios Da ArteulyssespoaAinda não há avaliações
- Diario Oficial - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - Ed 2372 - ExtraDocumento14 páginasDiario Oficial - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - Ed 2372 - ExtraTon Botelho E-MyllaAinda não há avaliações
- Alguma Poesia - Carlos Drumond de AndradeDocumento1 páginaAlguma Poesia - Carlos Drumond de AndradeSolangeAinda não há avaliações
- Engenharia de Software IDocumento28 páginasEngenharia de Software IGeshner MartinsAinda não há avaliações
- PPP - Plano GestorDocumento8 páginasPPP - Plano GestorFilipe Klemenz67% (3)
- Sinastria Amorosa Compatibilidade No Amor Personare PDFDocumento1 páginaSinastria Amorosa Compatibilidade No Amor Personare PDFThalisson Campos100% (1)
- AULA InauguralDocumento14 páginasAULA InauguralRenata Cardoso CostaAinda não há avaliações
- Edital PIBID 2022 - Resultado Final BolsistasDocumento2 páginasEdital PIBID 2022 - Resultado Final BolsistasMaurício DelimaAinda não há avaliações
- Modelo - Proposta de Prestação de ServiçosDocumento1 páginaModelo - Proposta de Prestação de ServiçosDivaldoDanielAinda não há avaliações
- A Pastora e o Limpador de ChaminésDocumento4 páginasA Pastora e o Limpador de ChaminésEnjolras de OliveiraAinda não há avaliações
- Questoes Tipo ExameDocumento8 páginasQuestoes Tipo ExameQuiduxaAinda não há avaliações
- Avaliação Global 7º - 2º TriDocumento2 páginasAvaliação Global 7º - 2º TriJoelma Cristina Ferreira de Oliveira MadeiraAinda não há avaliações
- 46 EpidemiologoDocumento7 páginas46 EpidemiologoHélder LuizAinda não há avaliações
- CORPO DESDOBRADOvivianeDocumento14 páginasCORPO DESDOBRADOvivianeViviane MatescoAinda não há avaliações
- A Tradição Secreta Na Umbanda & QuimbandaDocumento40 páginasA Tradição Secreta Na Umbanda & QuimbandaGetúlio Netto100% (1)
- Turma 702 - Horário - Retorno Presencial Híbrido - Aula Simultânea (Presencial e Videoconferência Ao Mesmo Tempo) - A Partir de 23.08.2021Documento1 páginaTurma 702 - Horário - Retorno Presencial Híbrido - Aula Simultânea (Presencial e Videoconferência Ao Mesmo Tempo) - A Partir de 23.08.2021FUCKYOUAinda não há avaliações
- Fitatos e OxalatosDocumento2 páginasFitatos e OxalatosIsabel SerralheiroAinda não há avaliações