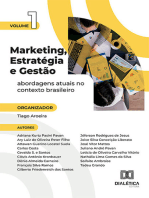Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
NT00031AB2
NT00031AB2
Enviado por
Keytiane AmaralDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
NT00031AB2
NT00031AB2
Enviado por
Keytiane AmaralDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A CONTABILIDADE COMO FERRAMENTA GERENCIAL NA GESTO FINANCEIRA DAS MICRO, PEQUENAS E MDIAS EMPRESAS (MPMEs): NECESSIDADE E APLICABILIDADE.
Joabe Barbosa Lacerda1
RESUMO
O presente estudo explora inicialmente o universo da pequena empresa tratando da questo de sua definio e classificao sob uma perspectiva global. Evidencia sua importncia econmica e social atravs da exposio de dados estatsticos abrangendo as principais regies do pas e alguns dados do exterior. A seguir, investiga o desafio de sobrevivncia dessas pequenas organizaes no Brasil e busca identificar os principais fatores internos e externos que exercem influncia sobre o seu sucesso e insucesso. Diante de tais fatores, objetiva contribuir especificamente a problemtica da discutvel capacidade gerencial da pequena empresa, de sua fragilidade administrativa e de sua carncia de informaes gerenciais. Como resultado do estudo, apresenta ferramentas construdas luz da Cincia Contbil sob seu enfoque gerencial, adaptada de maneira a atender a gesto financeira das pequenas empresas. No desenvolver do trabalho, verifica-se que a Contabilidade Gerencial pode contribuir positivamente para o sucesso da pequena empresa, contudo para viabilizar sua implantao e compreenso por parte dos empresrios de pequena empresa necessria a adaptao de alguns instrumentos contbeis como: Balano Patrimonial, Demonstrao de Resultado do Exerccio, Plano de Contas, Centro de Custos, e Fluxo de Caixa.
Palavras-chave: Adaptao.Controle. Anlise. Resultado.Desenvolvimento.
Formado em 2003- Faculdade de Cincias Contbeis de Caratinga/MG. E-mail: joabe.lacerda@sumeria.com.br - (027)3314-3770. Premiado pela Fundao Brasileira de Contabilidade FBC/DF
1 INTRODUO
Nos sculos IX e XX o poder econmico das grandes potncias se caracterizou pelo domnio da grande empresa onde os Estados viam nelas a oportunidade de crescimento e desenvolvimento econmico (SOLOMOM, 1986). A gerncia cientfica, o controle do tempo e movimentos (taylorismo), a produo em srie e a massificao do produto (fordismo) mostram o esforo empreendido em favor das grandes organizaes.
Contudo, segundo ACS (apud PINHEIRO, 1996) uma viso alternativa sobre a economia, tem sugerido que as pequenas empresas esto cumprindo um papel muito mais importante do que se pensava anteriormente. Esta viso fruto do reconhecimento da capacidade da pequena empresa de contribuir, mais eficazmente, ao desempenho da poltica do Estado, ao fortalecimento econmico e a um desenvolvimento social verdadeiro.
Atualmente, a discusso sobre a importncia da pequena empresa longa e aponta o seu incentivo como soluo para o desenvolvimento do pas e soluo de problemas diversos de natureza social. Neste sentido, BARROS (1978, p. 61), comenta que a pequena e mdia empresa ... tem uma substancial importncia [para o pas] em seu processo evolutivo, contribuindo significadamente, quer seja do ponto de vista econmico, quer seja do ponto de vista social e inclusive poltico.
Devido ao seu grau de importncia e a baixa taxa de sobrevivncia identificada nas empresas desse porte, diversas entidades pblicas e privadas dedicam-se ao estudo da problemtica dessas empresa. Segundo MORAES (Apud PINHEIRO,1996) , identificar os fatores que exercem influncia sobre o sucesso e o insucesso das empresas tem sido um dos objetivos mais almejados por pesquisadores.
Entre os vrios fatores que contribuem para alta taxa de rotatividade das pequenas empresas, destaca-se aqui, o de aspecto gerencial, denunciando o problema da discutvel capacidade gerencial dessas pequenas empresas (PINHEIRO, 1996), da fragilidade administrativa e organizacional (CAVALCANTI apud PINHEIRO, 1996) e de prticas e costumes comuns nestas empresas consideradas como foras restritivas ao seu desenvolvimento (BARROS, 1978).
O presente trabalho orienta-se pelo estudo e identificao de ferramentas gerenciais que possam ser aplicadas pequena empresa como meio de orientar s decises dos empresrios. Verifica-se que, em muitas vezes, nessas empresas as decises so tomadas com base no sentimento (KASSAI, 1997) ou na maioria dos casos, por improvisao (PINHEIRO, 1996). Em seu trabalho BARROS (1978, p.24) observa que ... a grande maioria dos pequenos empresrios adquiriu, em forma emprica e na direo diria de seu estabelecimento, a capacitao exigidas para as funes diretivas.
A relevncia do presente estudo confunde-se com a importncia da pequena empresa conforme BORTOLI (1980, p.4) faz questo de destacar:
Todo trabalho embasado numa pesquisa que tenha como objetivo conhecer a realidade das pequenas e mdias empresas, justifca-se por si s, pois a carncia de informao nesta rea inversamente proporcional sua importncia na economia nacional e regional.
Contribuir para o aumento da taxa de sobrevivncia das MPEs atacando seus problemas relacionados falta de informao gerencial configura-se como objetivo principal deste trabalho.
Segundo ATKINSON et al (2003, p. 37)
a contabilidade gerencial, atravs de suas
ferramentas permite uma interpretao dos nmeros da empresa. Assim, a contabilidade gerencial poder executar o seu papel de gerar informaes ao empresrio para que este tome decises mais acertadas e em tempo hbil.
Quanto adaptao de ferramentas contbeis gerenciais como Balano Patrimonial, Demonstrao de Resultado do Exerccio, Fluxo de Caixa, Plano de Contas e outras, POMPERMAIER (1999) confirma tal possibilidade e ALMEIDA (apud KASSAI, 1997) observa que o conhecimento profundo de tcnicas administrativas no fundamental para as pequenas empresas, dada a simplicidade de seu funcionamento.
2 Definio de Micro, Pequena e Mdia Empresa
Existem vrios critrios utilizados para a definio das MPMEs. Vemos definies que se baseiam no nmero de empregados, no capital social, na receita bruta, na receita operacional lquida, no grau de sofisticao tecnolgica, etc., considerados de forma isolada ou em conjunto (BRASIL & FLEURIET, 1979). Segundo FILION (apud PINHEIRO, 1996, p. 2122), os EUA foram os primeiros a definir a pequena empresa em determinao oficial do Selective Service Act, de 1948 estabelecendo os seguintes critrios:
a. sua posio no comrcio ou indstria da qual faz parte no seja dominante; b. o nmero de empregados no seja superior a 500; c. seja possuda e operada independentemente.
Considerando a multiplicidade dos critrios de definio das MPEs, VIDAL (1990, p. 21) classifica-os e exemplifica em:
a. Qualitativos: incipiente especializao em termos de organizao e administrao (em geral familiar e centralizada); b. Qualitativos combinados: ausncia de organizao com estrutura financeira inadequada.
Contribuindo a esta questo, PINHEIRO (1996, p. 21-22) acrescenta os critrios mistos, resultado da associao de aspectos qualitativos e quantitativos e ainda combina com indicadores econmicos e sociais onde afirma que este mtodo parece permitir anlise mais adequada para fins de categorizao de empresas
Criticando os critrios existentes, BRASIL & FLEURIET (1979, p.13) dizem que tais parmetros de classificao so inadequados pois esto contaminados pelos objetivos que se quer atingir a partir da definio. Ainda explica que no representa a empresa toda no seu encaixe real no mundo dos negcios, pois difuso, e ora abrange uma faixa de firmas, ora outra, sem que venha a traduzir um universo representativo de caractersticas comuns.
Considerando as definies que se baseiam em aspectos qualitativo e/ou quantitativo das empresas um pouco mecanicistas, BRASIL & FLEURIET (1979) partem de um enfoque sociolgico e assumem uma definio da pequena empresa considerando a posio desta diante do governo, sindicatos, demais empresas e da sociedade.
... definiramos as PME como todas aquelas empresas que sofrem a influncia das decises tomadas pelo poder econmico da Nao, pouco podendo fazer para influir nelas. So muito mais objeto do que agentes, ou participantes dessas decises. BRASIL & FLEURIET (1979, p. 14)
Diante dos critrios apresentados e classificados pelos autores como quantitativo, qualitativo, misto e de posio social, na prtica o que observamos que prevalece o critrio de natureza quantitativa (KASSAI, 1996, p. 2) que tem como vantagens:
a. So mais fceis de serem coletados; b. Permitem a determinao de porte da empresa pela faixa de faturamento; c. Permitem o emprego de medidas de tendncias no tempo; d. Possibilitam anlises comparativas; e. So de uso corrente nos setores institucionais pblicos e privados.
Mesmo que os critrios quantitativos prevaleam, SOLOMON (1986, p. 32) afirma que nenhuma das definies quantitativas de Pequena Empresa pode ser considerada universalmente satisfatria.
Perante a questo sobre a definio das MPEs onde cada autor expe seus argumentos, conclui-se que, atualmente, no existe um padro universal que classifique as empresas como Micro, Pequena ou Mdia. Cada rgo, Estado ou Pas, tem sua prpria definio de MPEs pois utilizam os critrios que melhor lhe conduzem a seus objetivos. (BRASIL & FREURIET, 1979). Possivelmente, o maior avano que temos em termos de padronizao est ocorrendo com a consolidao dos blocos econmicos. O Mercosul, por exemplo, j estabelece os limites mximos para a definio das MPMEs visando padronizar sua classificao nos paises participantes do bloco como pode ser percebido no quadro a seguir.
Microempresa MERCOSUL N de Empregados Faturamento Annual Indstria 1 10 US$ 400 mil Comrcio e Servio 15 US$ 200 mil
Pequena Empresa Indstria 11 40 US$ 3,5 milhes Comrcio e Servio 6 30 US$ 1,5 milhes
Mdia Empresa Indstria 41 200 US$ 20 milhes Comrcio e Servio 31 80 US$ 7 milhes
Quadro 1: Critrios de Classificao de empresas no Mercosul Fonte: MDIC/SDP/DMPME - 05/12/02.Documento elaborado pela CAMEX com base em dados extrados de sites oficiais e em informaes enviadas pelas Embaixadas e Cmaras de Comrcio.
De modo geral, as classificaes de porte se baseiam no nmero de empregados, nas vendas/ingressos e nos ativos. Alm disso, alguns pases diferem nas definies de acordo com o setor de atividade econmica (Indstria, Comrcio e Servios). Em outros pases, as definies de porte dependem da instituio que realiza o trabalho, portanto, cada entidade utiliza uma classificao prpria de porte.
H de se lembrar que as divergncias no so apenas de um pas para o outro, mas internamente tambm podem variar em razo de estudo e dos objetivos. Isto torna ainda mais distante a adoo de um critrio nico e dificulta a identificao das MPEs em termo de participao e importncia (KASSAI, 1996).
No Brasil, os critrios para enquadramento legal se divergem nas esferas de governo fazendo com que , na prtica, uma empresa seja considerada microempresa, ME, para fins de Imposto de Renda (Governo Federal) ao mesmo tempo em que no Estado seja classificada como uma Empresa de Pequeno Porte, EPP. Neste caso, a empresa fica impossibilitada de gozar dos incentivos ou isenes fiscais oferecidas no estado. Semelhantemente, rgos de apoio como o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE e o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, IBGE, apesar de adotarem o nmero de empregados como critrio de classificao para MPEs, variam os limites mximos de ocupaes entre o setor de comrcio, indstria e servio. Esta multiplicidade de critrios para classificao de MPMEs , no Brasil, demonstrada na tabela a seguir. Para efeito deste trabalho, o critrio para definio de MPEs adotados aqui ser o mesmo estabelecido pelo SEBRAE.
ORGO/INSTITUIO ESTATUTO MPEs Receita bruta anual SIMPLES FEDERAL Receita bruta anual SIMPLES PAULISTA Receita Bruta anual SEF/MG Receita Bruta anual RAIS/MTE N de empregados SEBRAE Indstria SEBRAE Comrcio e servios IBGE N de empregados BNDES Receita op. lquida.
Microempresa at R$ 244.000,00 at R$ 120.000,00 at R$ 83.700,00 At R$ 180.000,00 0 19 0 19 09 0 19 --
Pequena Empresa at R$ 1.200.000,00 at R$ 1.200.000,00 at R$ 720.000,00 -20 99 20 99 10 49 20 99
Mdia Empresa ----100 499 100 499 50 99 100 499
at R$ 4.000.000,00 at R$ 15.000.000,00
Quadro 2 : Critrios de classificao de empresas no Brasil. Fonte: RAIS/TEM - Lei n 9.317/96(Simples) e IN SRF n 034/01 - Lei n 9.841/99 - PUGA, Fernando Pimentel. Experincias de Apoio s MPEs nos Estados Unidos, na Itlia e em Taiwan. DEPEC/BNDES. Textos para Discusso n 75. RJ, fev/2000.
3 O Interesse despertado pelas MPMEs.
A discusso sobre a importncia das MPMEs longa e aponta o seu incentivo como soluo para o desenvolvimento do pas, diminuio da pobreza, da marginalidade, desigualdades sociais e da concentrao de renda. (QUEIROZ, 2002). Sua importncia para o desenvolvimento do pas comentada por BARROS (1978, p. 60) ao dizer que a pequena e mdia empresa contribuem significadamente, quer seja do ponto de vista econmico, quer seja do ponto de vista social e inclusive poltico".
BARROS (1978, p. 61), revela as funes que a pequena empresa exerce como contribuio ao processo evolutivo do pas como sendo:
a) A significativa contribuio na gerao do Produto Nacional; b) A excelncia na absoro de grande contingente da mo-de-obra a baixo custo;
c) A sua alta flexibilidade locacional, desempenhando importante papel na interiorizao do desenvolvimento; d) A capacidade de gerar uma classe empresarial nacional, atravs da absoro de uma tecnologia gerencial produzida em seu prprio ambiente; e) A possibilidade de atuao no comrcio exterior, proporcionando uma salutar diversificao na pauta de exportaes; f) A sua condio de ao complementar aos grandes empreendimentos.
As MPEs, constituem-se de fato, na maioria dos agentes econmicos como demonstram as estatsticas. Segundo dados da RAIS 2001 (Relao Anual de Informaes Sociais), existem no pas cerca de 5,6 milhes de empresas das quais 99% so micro e pequenas empresas. No setor de indstria as MPEs correspondem a 98,8% do total das empresas formais do pas. No setor de comrcio 99,6 so MPEs. No setor de servios as MPEs representam 98,4% do total das empresas do pas.
Analisando os dados do Ministrio do Trabalho e Emprego MTE (2001), dos vinte e sete milhes de trabalhadores existentes nas empresas formais, 28% estavam na indstria, 16% no comrcio e 56% nos servios. Ao identificarmos estes trabalhadores distribudos segundo o setor de atividade e o porte das empresas verificamos que as MPEs so responsveis por 41,4% dos postos de trabalho.
No somente pela quantidade, mas tambm pela qualidade peculiar, as MPEs vm sendo alvo de ateno de analistas econmicos. Mesmo no ps-fordismo, a ateno as empresas deste porte se intensificaram medida em que os atributos flexibilidade, rapidez e de adaptao as demandas do mercado, caractersticas de muitas MPEs, so valorizadas (LA ROVERI, 1999).
No Brasil BARROS (1978) j dizia que a micro e pequena empresa constitui matriz geradora da capacidade empresarial, condio sine qua non para a existncia e funcionamento de uma economia de mercado eficiente.
por tamanha importncia que atualmente tm surgido alguns trabalhos abordando temas sobre MPEs. No meio acadmico, o reflexo desse contexto tem-se sentido no aumento do nmero de trabalhos voltados anlise da problemtica das pequenas empresas (KASSAI, 1996). Identificar os fatores que exercem influncia sobre o sucesso e o insucesso das empresas tem sido um dos objetivos mais almejados por pesquisadores. (MORAES , apud PINHEIRO,1996)
4 Dificuldades e desafios enfrentados pelas MPMEs
Apesar dos esforos no sentido da manuteno e desenvolvimento MPEs ainda baixa a taxa de sobrevivncia dessas organizaes. Segundo estudo realizado por NAJBERG2 & PUGA3 (2002) existe uma forte heterogeneidade nas taxas de sobrevivncia das empresas que variam de setor da economia (indstria, comrcio, servios e construo) e do tamanho do estabelecimento.
Atravs de uma amostra de trezentos e trinta e cinco mil e duzentas firmas brasileiras formais (firmas nascidas em 1996) com dados obtidos atravs do Ministrio do Trabalho e Emprego, MTE, e a RAIS (1996) (Relao Anual de Informaes Sociais, 1996), NAJBERG & PUGA (2002) observaram que ao final de 2000, 51,8% continuaram a existir (RAIS 2000). Na tabela a seguir, a taxa de sobrevivncia das firmas nascidas em 1996 analisada por porte e setor.
2
NAJBERG (2002) .PhD em Enomonia Califrnia, USA. Gerente de Assuntos Fiscais e Emprego do BNDS.
10
Tabela 2: Firmas Sobreviventes em 2000 dentre as nascidas em 1996
Porte (Nmero deTrab.) 0a4 5 a 19 20 a 99 100 a 499 500+ Indstria Nasc. (%) 24.496 5.935 1.537 392 40 48.2 60.4 59.6 63.3 75.0 S e t o r e s Construo Comrcio Nasc. (%) Nasc. (%) 108.66 47.9 15.057 22.8 6 4.366 33.4 13.469 60.1 873 41.8 1.945 59.2 127 44.1 163 58.3 17 64.7 7 85.7
26.1 124.250 49.4
Servios Nasc. (%) 98.395 16.321 3.630 549 117
119.012
53.7 67.9 68.6 69.8 87.2
56.2
Total 32.400 51.2 20.440 Fonte: NAJBERG & PUGA(2002). Rev. Sebrae n 6, set/out 2002
Analisando por setor observamos que a taxa maior foi no setor de servios (56,2%), menor na construo civil (26,1%), enquanto que na industria ficou em 51,2%. A anlise por porte, independente do tamanho do estabelecimento a taxa de sobrevivncia tambm maior no setor de servios e menor na construo civil.
Segundo NAJBERG & PUGA (2002) a taxa de sobrevivncia cai mais nos primeiros anos de existncia por serem enfrentadas as maiores dificuldades. A concluso do estudo realizado apontou para a existncia de trs grupos de taxas aps os quatro anos de atividade: 50% de sobrevivncia para as microfirmas (at quatro trabalhadores); 62% para micro (com cinco at dezenove empregados), pequenas e mdias firmas; e 83% para as grandes unidades.
BARROS (1978, p. 2428), comenta sobre os fatores bsicos limitantes do crescimento da pequena e mdia empresa e classifica-os em:
a. Foras restritivas de natureza Intrnseca: quando os fatores inibidores so internos empresa e portanto esto sob seu controle. b. Foras restritivas de natureza Extrnsecas: quando os fatores inibidores do crescimento so externos empresa e esta nada pode fazer para modifica-los.
As foras de natureza intrnsecas podem ser resumidas em duas componentes bsicas: a administrativo-gerencial e a tecnolgica. No que se concerne a questo administrativogerencial BARROS (1978, p.24) observa que a grande maioria dos pequenos empresrios
3
PUGA (2002) Mestre em economia pela PUC/RJ e economista do BNDES
11
adquiriu, em forma emprica e na direo diria de seu estabelecimento, a capacitao exigidas para as funes diretivas.
Como fator de restrio intrnseca ao crescimento da empresa, tambm aponta-se o comportamento empresarial, ou seja, a cultura dos empresrios de Micro e Pequenas Empresas detalhada no quadro abaixo e comentada por ARRUDA4 (2002, p. 69):
Na realidade, os obstculos ou dificuldades encontrados pelas micro e pequenas empresas so funo do padro de comportamento dos empresrios em relao competitividade que, por sua vez, resulta da educao que tiveram e do ambiente em que vivem. ARRUDA (2002, p. 69)
Baixo interesse em cooperar com os concorrentes
O Padro de comportamento dos empresrios das MPEs de averso cooperao. Existe um distanciamento entre as micro e pequenas empresas concorrentes que dificultam a concretizao dos programas ou projetos de parcerias Um dos grandes problemas das MPEs a falta de capacitao na comercializao. comum ouvir falar que as MPES no sabem vender seus produtos e que, por este motivo, no so vendidos, so comprados. Em parte, a explicao de que enfrentam alguns problemas estruturais, tais como a falta de escala de produo ou de faturamento insuficiente para amortizar os elevados custos de comercializao, sobretudo nas exportaes. Por outro lado, seus empresrios no se dispem a buscar formas alternativas para contornar esses problemas estruturais, como a cooperao para viabilizar esquemas de comercializao externa. Os consrcios de exportao podem ser uma sada, mas necessrio mexer no padro de comportamento dos grupos de empresrios que o comporo para se ter um efeito desejvel. De um maneira geral, as MPEs desconhecem o perfil da clientela, no pais e no exterior e no investem em pesquisas de mercado, para saber o que a mesma deseja. Falta de conhecimento sobre a estratgia da concorrncia. O conhecimento da concorrncia pode ter duas finalidades: uma ativa, que o aprendizado com a experincia do seu concorrentes; outra, mais defensiva, buscar a defesa de seus interesses ou a escolha de boas estratgicas em funo da ao de seus concorrentes. As MPEs so pouco agressivas, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologias de produto e de processo, o que faz com que o desenvolvimento de tecnologia no esteja entre as suas vantagens competitivas.
No sabem comercializar
Desconhecimento da clientela
Passividade em relao conquista de vantagens competitivas
Nenhuma compreenso sobre a importncia dos Os empresrios das MPEs no do a devida importncia ao quanto uma boa marca para seu produto ou servio pode ser til na conquista de mercado Intangveis nos Negcios Quadro 3:Comportamento predominante dos empresrios de MPE,s no Brasil Fonte: Adaptado da Rev. Sebrae n 6, set/out 2002, p. 69-70. A insero de produtos no mercado por ARRUDA (2002)
4
Mauro Arruda (2002) assessor da presidncia do Sebrae Nacional, pesquisador de MPEs.
12
A componente tecnolgica refere-se principalmente aos processos de produo que demandam inovaes tecnolgicas como mquinas e equipamentos. Relaciona-se tambm com o uso da Tecnologia de Informao (T.I) com objetivos voltados para a tomada de deciso. Essa tecnologia pode ser em forma de automao de operaes que envolvem softwares diversos e computadores. Para as MPE,s, este componente tem uma relao muito estreita com uma fora restritiva extrnseca empresa que o acesso ao crdito que permitiria a obteno de novos equipamentos desfazendo-se de outros j obsoletos.
Como desafios ou restries de naturezas extrnsecas a MPE depara-se com a dificuldade de acesso ao crdito, elevada carga tributria, burocracia excessiva, falta de mo-de-obra especializada, instabilidade econmica, etc.
Outro desafio que merece destaque a posio em que a MPE se encontra no mercado. A essa posio MATTAR (apud CABIDO, 1996, p. 36) denomina efeito sanduche. Ocorre que a pequena empresa se posiciona no mercado entre grandes fornecedores e grandes clientes. Os grandes fornecedores impem o custo dos produtos, enquanto que os grandes clientes impem o preo de venda. Com pouco espao para negociao a MPE se v literalmente exprimida diante da imposio de seus fornecedores e clientes.
Entre os desafios de natureza extrnsecas s MPEs detalharemos a dificuldade de acesso ao crdito e a excessiva carga tributaria e burocrtica:
4.1 Dificuldade de acesso ao crdito:
Segundo KASSAI (2001), as dificuldades que as MPES encontram para levantar dinheiro junto s instituies financeiras giram em torno das elevadas taxas de juros praticadas na economia brasileira e da inexistncia de uma contabilidade devidamente estruturada para gerar as informaes necessrias para facilitar o processo de captao de recursos financeiros. Quanto ao beneficio das informaes contbeis KASSAI (2001,p.1) complementa: ... obviamente, tambm [servir] para minimizar o custo desse capital, pois diretamente proporcional ao nvel de risco identificado nas anlises.
13
Segundo CABIDO (1996), BARROS (1978), as instituies financeiras adotam polticas que dificultam a disponibilidade de crdito para as MPEs tornando-se meros repassadores de capital s empresas de melhor situao econmica e que podem, conseqentemente, oferecer melhores garantias sobre o dinheiro emprestado.
Segundo SEBRAE (2002), Os grandes bancos relutam em administrar crditos pulverizados destinados aos empreendedores de MPE, alegando alto custos administrativos. No Brasil, o volume de crdito aos pequenos empreendimentos alcana apenas 52% do PIB, valor excessivamente baixo quando se compara ao de pases como Estados Unidos ,161%, e mesmo o Chile, 75%. (SEBRAE, 2002).
4.2 Excessiva Burocracia e a elevada carga tributria:
De acordo com o Art. 1, da Lei 9.841, de 05/10/1999, nos termos dos arts. 170 e 179 da Constituio Federal assegurado s microempresas e s empresas de pequeno porte tratamento jurdico diferenciado e simplificado nos campos administrativo, tributrio, previdencirio, trabalhista, creditcio e de desenvolvimento empresarial, em conformidade com o que dispe aquela Lei e a Lei n 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e alteraes posteriores.
Para retratar na prtica a poltica tributaria aplicadas as MPEs NO Brasil faremos uso das palavras de QUEIROZ1(2002, p. 130):
Na prtica da realidade factual, constata-se que o tratamento diferenciado colocado pelo legislador constitucional sofre vrias distores estruturais que terminam por desfavorecer a MPE (...). Para as grandes empresas existem mecanismos que permitem amenizar tal problemtica, para as MPEs, enquanto optantes do SIMPLES, vedado tal possibilidade.
5 QUEIROZ Doutora (PUC/SP) e Mestre em Direito Tributrio (UFPE). Presidente do Instituto Pernambucano de Estatutos Tributrios IPET. Consultora Tributria do Sebrae Nacional.
14
O quadro a seguir identifica as distores as distores apontadas por QUEIROZ (2002) tanto em relao s vedaes legais que estabelecem desigualdade de tratamento entre as pequenas empresas e demais pessoas jurdicas, como no tocante excessiva burocracia.
Vedao possibilidade de que as empresas do SIMPLES parcelem quaisquer dos seus dbitos em atraso, direito esse concedido s empresas em geral. A no incluso das MPE, inicialmente, no parcelamento e na anistia fiscal concedida pela Medida Provisria 38, de 14/05/2002, que deu o perdo de multas e juros incidentes sobre dbitos tributrios e estabeleceu novo prazo para parcelamento para quem tinha ajuizado aes. A falta de correo das faixas e limites do SIMPLES, pelo menos aos ndices do IPC, no mnimo em 36,8%. A no-atualizao dos respectivos valores implica que empresas isentas passem, ao longo do tempo, com os efeitos da inflao, s faixas mais altas de contribuintes, sem que haja um efetivo incremento real do respectivo faturamento. A falta de adequao da Lei do SIMPLES federal ao Estatuto da Micro e Pequena Empresa, com relao aos respectivos valores, torna conflitante as regras que disciplinam a previso constitucional. A impossibilidade de que empresas que compram de pessoas jurdicas optantes do SIMPLES possam creditar-se dos impostos, afeta a competitividade das MPEs em relao s demais. A cumulatividade de impostos e a impossibilidade de que as MPEs possam creditar-se dos tributos pagos na cadeia produtiva, contrariamente ao que acontece com as demais pessoas jurdicas. A vedao a que determinadas categorias de atividades, especialmente as prestadoras de servios, possam ingressar no SIMPLES. A falta de incentivos fiscais exportao efetuada pelas MPEs. As obrigaes burocrticas e tributrias com custo fixo, que se tornam proporcionalmente mais pesadas para a pequena empresa em relao s grandes empresas. A grande dificuldade que as MPEs encontram para se cadastrar nos registros oficiais dos diversos rgos a que esto obrigadas para iniciar as suas atividades. So exigncias repetidas e simultneas que independem do porte. A baixa nos registros oficiais, o que implica milhares de empresas sem movimento a permanecerem com a obrigao de apresentar declaraes e pagar pesadas multas para poderem encerrar a suas atividades, fazendo com que seja utilizado o expediente de abrir empresas por meio de interpostas pessoas (os laranjas). A excluso em massa das MPEs do Refis, as quais ficaram impossibilitadas de pagar, concomitantemente, o parcelamento e tambm os tributos devidos em cada perodo, devendo ser ressaltado que hoje permanecem no Refis apenas 29% das empresas que nele ingressaram, tendo sido excludas mais de 84 mil.
6 7 8 9
10
11
12
Quadro 4: Distores, vedaes legais e excessiva burocracia aplicadas as MPE,s optantes pelo SIMPLES
Fonte: Adaptado da Rev. Sebrae n 6, 2002, set/out, p. 131-133. Artigo: As micro e pequenas empresas em busca de Justia Fiscal. QUEIROZ (2002)
15
5 Necessidade de informaes gerenciais na gesto das MPEs
PINHEIRO (1996) ao considerar depoimentos que tomam o aspecto gerencial das MPMEs como fator importante para eficcia de seu desempenho sugere um questionamento quanto real contribuio de certas aes governamentais e, tambm, de iniciativas privadas, que se julgam pretensamente direcionadas ao desenvolvimento das empresas do setor.
O artigo publicado por El-Namaki (1990) sobre o mito e realidade das pequenas empresas relata que em muitos paises as polticas contemporneas aplicadas as pequenas empresas carregam uma m interpretao de elementos crticos do processo de desenvolvimento resultando, em muitos casos, em um desempenho restrito do setor. Para EL- Namaki (apud PINHEIRO,1996, p.13) a prtica de gerenciamento dessas empresas revela uma barreira estrutural que pode contribuir para este desempenho restrito .Segundo o autor essa barreira expressa-se como um conjunto tangvel de praticas gerenciais imperfeitas observadas em todos os paises considerados em seu estudo (Holanda. Irlanda. Grcia. Japo. Hong Kong e Singapura).
Considerando a baixa taxa de sobrevivncia das pequenas empresas, pergunta-se: At que ponto a aplicao de ferramentas gerenciais nas MPMEs estaria contribuindo para o aumento de sua produtividade e desempenho? Sabe-se que entre os fatores limitantes do crescimento das pequenas empresas, a falta de capacidade gerencial um fator altamente influente. PINHEIRO (1996, p. 9), em sua tese de doutoramento, salienta que: h de se considerar a discutvel capacidade gerencial dessas empresas como um fator altamente influente, at mesmo, impeditivo ao seu crescimento e desenvolvimento
O no uso de ferramentas gerenciais nas empresas de pequeno porte est relacionado ao fato em que, muita das vezes, a deciso tomada com base no sentimento (KASSAI, 1997) ou na maioria dos casos, por improvisao (PINHEIRO, 1996). Entre outros fatores, CAVALCANTI (1986, p. 201) associa a falta de informaes gerenciais fragilidade administrativa e organizacional dessas empresas. ao estado de
A fragilidade administrativa e organizacional das MPMEs revela-se com toda a sua inteireza na pequena interligao entre aspectos tecnolgicos,
16
administrativos, de percepo ambiental, referentes ao sistema de informaes gerenciais adotados ou estratgia desenvolvida .
6 Prticas e costumes em empresas de pequeno porte que inibem seu sucesso e desenvolvimento
Considerando a classificao de BARROS (1978), quando as foras que restringem o desenvolvimento da empresa so causadas por fatores internos, essas esto sob seu controle e portanto, so passveis de mudanas.Estas foras expressam-se como um conjunto de prticas e costumes que, em muitas das vezes , so passados de pais para filhos e influenciam o crescimento da empresa. Algumas dessas praticas, comuns as pequenas empresas e que influenciam negativamente so destacadas por BARROS (1978, p. 185-186) em sua obra Pequena e mdia empresa e poltica econmica como sendo:
a) Uso da contabilidade com objetivo precpuo de atender apenas a um exigncia fiscal; b) Pouco se aplica a finalidade bsica da contabilidade que a de orientar o administrador em suas decises; c) Comumente, as decises de capital importncia para empresa so tomadas com base na intuio do empresrio; d) Decises sem segurana de estudos tcnicos-administrativos fundamentados em informaes ou dados estatsticos pertencentes ao acervo de experincia da prpria empresa; e) No caso de pequenas indstrias, h falta de controle das matrias-primas, produtos em elaborao, produtos acabados, resduos, etc. f) Raramente feito o controle das horas trabalhadas pelos operrios, o mesmo se repetindo no tocante ao rendimento das mquinas e equipamentos e matrias-primas empregadas
7 Contabilidade Gerencial como ferramenta para gesto financeiras das MPEs.
No importa o porte da empresa. Seja ela uma micro, pequena, mdia ou grande empresa, a Cincia Contbil sempre ter a mesma definio. FRANCO (1997, p. 21) defini a
17
contabilidade de forma a expressar a contribuio valorosa desta cincia para o processo de deciso:
A contabilidade a cincia que estuda e controla o patrimnio das entidades, mediante o registro, a demonstrao expositiva e a interpretao dos fatos nele ocorridos, com o fim de oferecer informaes sobre sua composio e variao, bem como sobre o resultado econmico decorrente da gesto da riqueza patrimonial
Tendo reconhecido a importncia que a informao gerencial exerce sobre o processo de tomada de deciso pergunta-se: Quais as tcnicas contbeis e ferramentas gerenciais devem ser aplicadas para uma Pequena Empresa? Quais as dificuldades para se desenvolver um trabalho gerencial voltado para as Pequenas Empresas?
POMPERMAIER (1999.p.89) afirma que todas as teorias e prticas conhecidas, desenvolvidas e executadas nas grandes instituies, podem ser aplicadas nas pequenas e medias empresas, com algumas ou muitas adaptaes. Tambm explica que para desenvolver um trabalho que permita a aplicao da contabilidade gerencial, as dificuldades dependem, fundamentalmente, da vontade dos diretores e da capacidade tcnica dos profissionais da rea contbil. A contabilidade gerencial se difere da contabilidade habitualmente utilizada nas Micro e Pequenas Empresas que se restringe a preocupao com o fisco e as rotinas
trabalhistas. IUDICIBUS (apud PADOVEZE, 2000.p.27) nos faz compreender melhor este campo da contabilidade gerencial e sua importncia:
A Contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque especial conferido a vrias tcnicas e procedimentos contbeis j conhecidos e tratados na Contabilidade Financeira, na Contabilidade de Custos, na Anlise Financeira e de Balanos, etc, colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analtico ou numa forma de apresentao e classificao diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decisrio.
18
Neste conceito, a participao da contabilidade vai alem da emisso de simples papeis para se tornar uma ferramenta estratgica. Passa a exercer seu papel da melhor forma com o objetivo voltado aos seus usurios responsveis pela tomada de deciso na empresa. Para ABRANTES5 (1998) a contabilidade no foi criada por contabilista e no existe para atender as necessidades do profissional, e sim as dos usurios. Este pensamento de Abrante questiona quanto ao real papel do contabilista e reacende a discusso sobre o novo perfil do contabilista, o contador gerencial, capaz de suprir as necessidades de informaes dos empresrios e no apenas as necessidades de informao dos vrios nveis do governo.
A deciso de se implantar a contabilidade gerencial na empresa trar uma infinidade de ferramentas gerenciais que auxiliaro o empresrio na gesto financeira de sua empresa. Dessa forma estar exercendo a capacidade administrativa que exigida nos dias de hoje para lidar com as tarefas dirias que, por mais simples que paream, influenciaro os resultados da empresa.
Segundo ALMEIDA (apud KASSAI, 1997), no fundamental que o empresrio de MPEs tenha um conhecimento profundo de tcnicas administrativas e contbeis para garantir uma boa gesto, dada a simplicidade de funcionamento de uma MPE. Importa adaptar as teorias e prticas conhecidas, desenvolvidas e executadas nas grandes empresas realidade, necessidade e capacidade das pequenas empresas. POMPERMAIER (1999) confirma tal possibilidade e ainda comenta que as dificuldades dependem, fundamentalmente, da vontade dos diretores e da capacidade tcnica dos profissionais da rea contbil.
Com as devidas adaptaes e com o reconhecimento de sua utilidade por parte do empresrio, a contabilidade, em seu foco gerencial, poder transformar-se na principal ferramenta estratgica para o desenvolvimento e at mesmo para sobrevivncia da pequena empresa.
ATKINSON et. al (2003, p. 37) reconhece o valor que a informao gerada pela contabilidade gerencial tem para a empresa e assim comenta:
Jos Serafim Abrantes contabilista e empresrio contbil de sucesso, empossado na presidncia do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 1998.
19
A informao gerencial contbil mede o desempenho econmico de unidades operacionais descentralizadas, como as unidades de negcios, as divises e os departamentos. Essas medidas de desempenho econmico ligam a estratgia da empresa execuo da estratgia individual de cada unidade operacional. Atravs de ferramentas que permitem uma interpretao dos nmeros da empresa a contabilidade poder executar o seu papel de gerar informaes aos empresrios para que este tome decises mais acertadas e a tempo hbil.
A Contabilidade Gerencial ferramenta para administrao das finanas. Para GITMAN (1997) , as atividades chaves do administrador financeiro so realizar anlises e planejamento financeiro; tomar decises de investimento; tomar decises de financiamentos. Para que o empresrio de pequena empresa exera estas atividades necessrio que ele tambm tenha acesso a instrumentos contbeis que permitam a melhor deciso. Pois, diferente das grandes empresas que possuem recursos financeiros para implantao de complexos sistemas de contabilidade, para contratao de profissionais altamente qualificados, para contratao de assessorias e diversas outras possibilidades, empregadas conforme a sua necessidade e capacidade de recursos financeiros, a pequena empresa carente de recursos devido as dificuldades e desafios j comentados em captulo anterior . Por isso, necessrio adaptar as ferramentas contbeis utilizadas pelas grandes empresas, como o Balano Patrimonial (BP), Demonstrativo de Resultado do Exerccio (DRE), Plano de Contas, Centro de Custos , Fluxo de Caixa e Indicadores econmico-financeiros, para que seja possvel o seu uso pelo pequeno empresrio .
8 Ferramentas adaptadas para gesto financeiras das MPMEs
Considerando caractersticas bsicas como simplicidade e facilidade de obteno dos dados, introduz-se ferramentas adaptadas que assegurem a compreesso e o atendimento das necessidades dos gestores de pequenas empresas.
8.1 O Balano Patrimonial e sua adaptao
20
Para ROSS et. all (2000, p.56), o balano patrimonial pode ser descrito como o retrato da empresa, atravs dele pode-se registrar o que a empresa possui, seus ativos, e o que a empresa deve, seus exigveis. Balano patrimonial, a demonstrao financeira que mostra os valores contbeis da empresa em um determinado momento.
Devido a dificuldade de aplicao dessa ferramenta na pequena empresa, KASSAI (1997), em seu artigo publicado sugere como adaptao um relatrio que seja de fcil compreenso e de elaborao: A Posio Patrimonial.
Semelhante ao balano patrimonial, este relatrio representa efetivamente o quanto a empresa teria num determinado momento, contudo, em valores arredondados e desprezando-se as cifras no relevantes. Os valores de caixa, bancos, duplicatas a receber e a pagar seriam obtidos diretamente de controles especficos como fichas e programas de computador j utilizados pela empresa. Os estoques e ativos fixos (mveis, mquinas, veculos, etc) seriam determinados atravs de inventrios, valorizados a preos de mercados. O patrimnio lquido seria apurado por equivalncia contbil, e os lucros em relao com o capital investido at o momento:
POSIO PATRIMONIAL ATIVO Caixa Bancos Dlares A receber Estoques Imobilizado Outros Total Capital Lucros Total PASSIVO Contas a Pagar Emprstimos Bancrios Impostos a pagar
Quadro 5 - Modelo de Posio Patrimonial Fonte: KASSAI (1997, p. 70)
8.2 O Plano de Contas e sua adaptao
21
Segundo PADOVEZE (2002), o patrimnio de uma empresa deve ser discriminado por espcie. atravs dos registros contbeis que feito esta discriminao da qual podemos separar os bens direitos e obrigaes de uma empresa. A conta contbil o meio que possibilita os registros dos elementos do patrimnio e a forma de representar tais elementos.
Portanto o plano de contas compe-se de um conjunto de contas estruturadas e pode ser definido segundo PADOVEZE (2002, p. 185) como: [Uma] tcnica tradicional da contabilidade de ordenao das contas, de forma lgica e estruturada, para melhor compreenso do conjunto patrimonial sistematizao do trabalho contbil.
Como adaptao ao plano de contas, adotaremos a proposta de KASSAI (1997), que sugere um plano de contas de forma simplificada onde o numero de contas deve ser o mnimo possvel e a nomenclatura simples e compreensvel. denominado por ela como Plano de Gasto. Para criar esse plano, Kassai informa que o mais importante ter conhecimento da empresa em toda sua extenso, para identificar suas metas, e as operaes envolvidas.
100 MATRIAS-PRIMAS 200 MAO-DE-OBRA E ENCARGOS 300 TRANSPORTES 700 ALUGUIS 910 ESTOQUES 920 CONTRATOS PAGOS ANTECIPADAMENTE 930 ATIVOS FIXOS
Quadro 6 - Plano de Gastos Fonte: KASSAI (1997, p. 70)
8.3 Centro de Custo e sua adaptao
Alguns Planos de Contas incorporam a viso de departamentalizao, por meio do conceito de centro de custo. Para PADOVEZE (2002, p. 172) os centro de custos representam todos os
22
setores da empresa (diretorias, departamentos, chefias). Comenta ainda que extremamente til e deve necessariamente fazer parte da estrutura da conta contbil.
Na conta contabilidade de custos, MARTINS (2003) comenta que na maioria das vezes um Departamento um Centro de Custos. O Departamento de Produo e o Departamento de Servios, por exemplo, so considerados Centro de Custos distintos. Porem, comenta que em outras situaes podem existir diversos Centros de Custos dentro de um mesmo Departamento,
Como adaptao ao centro de custo, KASSAI (1997), prope a criao de um plano de responsabilidade. Este plano consiste na identificao das principais partes da empresa e que tm autonomia ou condio de provocar dispndios, ou gerar resultados e sua associao com cdigos para acumulao de gastos/resultados.
1000 EMPRESA GERAL 1001 DIRETORIA E SCIOS 1100 REA DE PRODUO 1200 REA COMERCIAL 1300 REA ADMINISTRATIVA
Quadro 7 - Plano de Responsabilidade Fonte: KASSAI (1997, p. 70)
8.4 A Demonstrao do Resultado do Exerccio (DRE) e sua adaptao
Para BRIGHAM & HOUSTON (1999, p.33), a DRE consistem em umaDemonstrao que resume as receitas e despesas da empresa durante um perodo contbil, geralmente de um trimestre ou de um ano.
Para MATARAZZO (1998, p. 470), uma demonstrao dos aumentos e redues causados no Patrimnio Lquido pelas operaes da empresa. Quando a empresa tem dinheiro a receber de suas transaes, duplicatas a receber, possuem ento receitas que fazem
23
parte do ativo, do outro lado tem as despesas que representam o Passivo, enquanto o ativo aumenta o patrimnio lquido, passivo reduz.
Para GITMAN (1997), a demonstrao do resultado fornece um resumo financeiro dos resultados das operaes da empresa durante um perodo especfico.
Como adaptao a DRE, KASSAI (1997) prope um outro modelo mais simplificado adotando o conceito de margem de contribuio e comenta:
Em sua elaborao [modelo proposto], o empreendedor de pequenos negcios compreende e avalia todas as variveis que influenciam o resultado, tais como: poltica de preos, volumes de produo e de vendas, impostos devidos, custos variveis e custos fixos, imposto de renda e a magnitude do lucro final em relao ao lucro desejado KASSAI (1997, p. 71).
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO Mensal Unidades Vendidas: Preo mdio de venda: Faturamento (-) Impostos (-) Descontos (-) Comisses = Faturamento Lquido (-) Custos Variveis = Margem (-) Custos Fixos = Lucro antes do IR (-) Imposto de Renda = Lucro Final $ 30.000 950 300 1.250 27.500 17.857 9.643 3.500 6.143 6.143 % 100% 3,2 1,0 4,2 91,7 59,5 32,1 11,7 20,5 0,0 20,5 $ 330.000 10.450 3.300 13.750 302.500 196.427 106.073 38.500 67.573 67.573 % 100% 3,2 1,0 4,2 91,7 59,5 32,1 11,7 20,5 0,0 20,5 Acumulado no Ano
Quadro 8 - Modelo de Estrutura de Resultado e preos de Venda: Adaptado pelo autor da monografia Fonte: KASSAI (1997, p. 71)
24
8.5 Fluxo de Caixa para Pequenas Empresas
Segundo GITMAN (1997), MATARAZZO (1998), BANGS JR. (1999), ROSS et. al., (2000), o fluxo de caixa onde se obtm as entradas e sadas de caixa. Atravs dele a empresa ser capaz de verificar a capacidade de pagamento por determinado perodo, se h possibilidade de investimentos, em qual data ser melhor para se programar determinada compra, enfim o orientador da empresa para suas tomada de deciso. Atravs o fluxo de caixa a empresa poder saber sobre sua sade financeira. Pois identifica as compras desnecessrias, as contrataes mal feitas, doaes em data errada. Portanto, se a empresa tiver um fluxo de caixa bem elaborado fica fcil de se conduzir empresa de modo rentvel.
J KASSAI (apud KASSAI, 1996, p. 208), elege como questo fundamental a considerao do aspecto temporal ao fluxo de caixa: ... O fluxo de caixa deve retratar eventos econmicos ocorridos no PASSADO ou FUTURO?. Vrios modelos de Demonstrao de Fluxo de Caixa j foram desenvolvidos com o objetivo de auxiliar o processo decisrio. Autores como ASSAF NETO & SILVA (1997), SILVA, SANTOS & OGAWA (1993), IUDCIBUS & MARION (1990), apresentaram modelos, porem todos relacionam os resultados com operaes e eventos passados.
Neste trabalho buscou-se um modelo em que o enfoque mais importante seria o futuro. Portanto, o Modelo de Fluxo de Caixa Prospectivo desenvolvido por KASSAI (1996), que trouxe um avano considervel no desenvolvimento de relatrios contbeis-financeiros para as MPEs, e a contra-proposta e comentrios de OLIVEIRA (2001), juntos compe a base fundamental para o desenvolvimento da proposta de adaptao.
O modelo proposto por KASSAI (1996) disposto de forma dedutiva, ou seja, partindo-se dos dados operacionais relevantes que integram o cenrio da pequena empresa. Ento, estimase os montantes das entradas de caixa, que so diminudos dos respectivos montantes das sadas, at chegar-se ao saldo final, conforme ser demonstrado:
25
MODELO DEDUTIVO DE FLUXO DE CAIXA PROSPECTIVO 1 Dados Operacionais Relevantes 2 ENTRADAS 3 SADAS 4 VARIAO 5 Retiradas 6 Novos Investimentos 7 Depreciao 8 Custo ou Remunerao do Dinheiro 9 SALDO ACUMULADO 10 Emprstimos/Aplicaes de Recursos 11 SALDO FINAL (9+/-10)
Quadro 9 Modelo Dedutivo de Fluxo de Caixa Prospectivo Fonte: KASSAI (1997, p. 72)
Obs.
n PERODOS
(23)
(4-5-6-7-8)
Nas colunas colocam-se os perodos, meses por exemplo, sendo que o perodo corrente est acompanhado de valores orados e realizado, possibilitando a anlise horizontal. Assim, o empreendedor pode comparar oramento com o ocorrido e efetuar as correes.
A proposta de OLIVEIRA (2001) segue o modelo de fluxo de caixa voltado para o futuro, como prope KASSAI (1996), porm suprime alguns dados considerados por ele como de difcil entendimento por parte do usurio.
Em sua Dissertao de Mestrado intitulada Informaes contbeis-financeiras para empreendedores de empresas de pequeno porte, OLIVEIRA (2001) faz longos comentrios a KASSAI (1996), inclusive utilizando varias de suas citaes em todo seu trabalho: [A proposta de Kassai]Trata-se de um instrumento gerencial de grande poder informativo. (OLIVEIRA, 2001, p. 84). E destaca ainda que O Modelo de Fluxo de Caixa Prospectivo desenvolvido por KASSAI(1996) representou um avano considervel no desenvolvimento de relatrios contbeis-financeiros para empresrios de EPPs... OLIVEIRA (2001, p. 82)
Contudo OLIVEIRA (2001) considera que algumas informaes contidas no modelo de fluxo de caixa propostas por KASSAI (1996) seriam de difcil entendimento por parte dos eventuais
26
usurios e comenta que Neste sentido, alguns itens poderiam ser suprimidos do modelo desenvolvido por Kassai, com vistas a simplificar as informaes a serem colocadas disposio dos empresrios OLIVEIRA (2001,p.84).
O modelo de fluxo de caixa que apresentado a seguir, considera as caractersticas do modelo apresentado por KASSAI (1996), porm, levando em conta os comentrios de OLIVEIRA (2001), sobre alguns itens considerados por ele como de difcil entendimento por parte do usurio.
27
Quadro 10 - Proposta de fluxo de caixa prospectivo para pequena empresa Fonte: Adaptado pelo autor do artigo: KASSAI,1996;OLIVEIRA,2001
28
A utilizao do modelo demonstrado de fcil compreenso podendo ser confeccionada numa simples planilha de Excel (Software Microsoft). O item Entradas representam as entradas de dinheiro na empresa a partir de seu faturamento. As entradas podem classificadas por natureza sendo dinheiro, cheques, carto, etc. Dependendo do tipo de empresa pode-se optar pela classificao da receita. Uma revendedora de veculos novos e usados poderia, ento, classificar suas entradas como: Venda de Veculos Prprios, Comisso s/ Vda. de Veculos Consignados, Retorno s/ Financiamento, etc. O item markup est relacionada com a margem de lucro pretendida e ser usado para composio do oramento. KASSAI (1996) explica que este item significa o coeficiente multiplicador que se aplica sobre o montante das compras, para obteno do montante das vendas. Ex: Ao comprar um lote de R$ 10.000,00 e o markup mdio adotar for de 2,5, ento o faturamento total dever ser R$ 25.000,00. J o oramento dos gastos variveis ser feito a proporo da receita estimada porque estes variam de acordo com a variao do faturamento.
Conforme o modelo demonstrado, as sadas foram classificadas como gastos variveis e fixos segundo modelo proposto por KASSAI(1996). Esta distino levar o empresrio de pequena empresa a compreender o conceito de margem de contribuio e ir prepara-lo melhor para entender outras ferramentas gerenciais como Ponto de Equilbrio, Formao do Preo de Venda, j que ambas utilizam o conceito de gastos fixos e variveis.
Sugere-se que o empresrio utilize este modelo para registros dirios de suas entradas e sadas. Para isso, basta criar uma nova planilha no modelo desta proposta substituindo-se as colunas que representam os meses por outras representado os dias. Assim uma pessoa responsvel far o lanamento dirio e ao finalizar o ms transportaria o total acumulado para a planilha mensal, como no modelo demonstrado anteriormente.
29
9 Ferramentas para avaliao do desempenho da empresa
A Avaliao do desempenho da empresa pode ser medido e acompanhado por ndices. MATARAZZO (1992) defini os ndices com a relao entre contas ou grupos de contas das Demonstraes Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situao econmica ou financeira de uma empresa. Assim como um mdico usa certos indicadores, como presso e temperatura , para elaborar o quadro clnico do paciente, os ndices financeiros permitem construir um quadro de avaliao da empresa. MATARAZZO (1992, p. 154)
Existe uma variedade de ndices mas o importante no o clculo de grande nmero de ndices, mas de um conjunto que permita conhecer a situao da empresa, segundo os objetivos e desejos do usurio. Em resumo os ndices revelam informaes econmicas, financeiras e de atividades da empresa. (MATARAZZO, 1992)
Para BANGS JR (1999), PROVAR (1996), MATARAZZO (1998), GITMAN (1997), SANVICENTE (1987), os ndices orientam a empresa na identificao de alguma varivel que esteja em desequilbrio, portanto de suma importncia que se saiba analisar e comparalos com empresas do mesmo setor para no julgar atravs de nmeros errados. Os ndices tm como funo apresentar as situaes econmicas ou financeiras da empresa, auxiliando no sentido de alertar para futuros problemas.
Para GROPPELLI & NIKBAKHT (1999, p. 408), a administrao responsvel por uma empresa exige constante monitoramento das operaes. A maneira pela qual pode-se
monitorar a empresa atravs de seus ndices, que serve de base para um bom planejamento e desempenho financeiro.
A seguir sero apresentados os ndices necessrios para um diagnostico preciso da situao econmico-financeira de uma empresa. No entanto, a avaliao atravs de ndices exige obrigatoriamente a comparao com padres e a fixao da importncia relativa de cada ndice. MATARAZZO (1992, p. 189) explica que h trs tipos bsico de avaliaes de um ndice:
30
a) pelo significado intrnseco, ou seja, de forma grosseira levando em conto somente a interpretao do calculo matemtico; b) pela comparao ao longo do tempo de vrios exerccios; c) pela comparao com ndices de outras empresas, denominado: ndices-padro.
9.1 ndice de Liquidez
Para GITMAN (1997), os ndices de liquidez so utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, isto constituem uma apreciao sobre se a empresa tem capacidade para saldar seus compromissos, no curto prazo. So ndices que a partir do confronto dos ativos circulantes com as dividas, procuram medir quo slida a base financeira da empresa.
ndices de Liquidez
Liquidez Corrente = Ativo Circulante Passivo Circulante Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante A. Circulante + R.L.P P. Circulante + E.L.P
Liquidez Seca
Liquidez Geral
Quadro 11 ndices de Liquidez Fonte: MATARAZZO (1998, p. 170-179)
9.2 ndice de Endividamento
Segundo IUDICIBUS & MARION (1992), so ndices que mostram a relao de dependncia da empresa com relao a capital de terceiros. Ainda reforado por SANVICENTE (1993), So medidas de uso de capital de terceiros pela empresa. Informa a estrutura patrimonial escolhida pelos proprietrios para o funcionamento da empresa, ou seja, o modo como
31
acontece o endividamento da empresa indica o total de dinheiro de terceiros usado na experincia de gerar lucros.
Perfil do Endividamento (PE): Indica a proporo de obrigaes de curto prazo em relao s obrigaes Totais. PE = Passivo Circulante x 100 Exigvel Total
Participao de Capital de Terceiros (PCT): Representa quanto a empresa tomou emprestado de capital de terceiros para cada real de capital prprio. PCT = Exigvel Total Patrimnio Lquido
Grau de Imobilizao (GI): Indica quantos reais foram aplicados no Ativo Permanente comparados com os recursos que compem o Patrimnio Lquido. GI = Ativo Permanente Patrimnio Lquido Quadro12: ndices de Endividamento Fonte: MATARAZZO (1998, p. 159-165)
9.3 ndice de Lucratividade
Os ndices de lucratividade medem o ganho que a empresa est tendo em relao a sua receita realizada. MATARAZZO (1998) explica que a lucratividade pode ser medida em trs etapas: Lucratividade Bruta, Lucratividade Operacional e Lucratividade Lquida ou Margem Bruta, Margem Operacional e Margem Liquida. Segundo SILVA (2001), MATARAZZO (1998) a margem representa a sobra ou excesso de receita sobre os custos e pode ser obtida
dividindo-se o resultado de seus trs estgios de resultados pelo faturamento lquido da empresa.
32
ndices de L ucratividade
Lucro B ruto R eceita O peracional B ruta/Lquida M argem O peracional = Lucro antes do Juros e do IR - LA JIR R eceita O peracional B ruta/Lquida Lucro Lquido R eceita O peracional B ruta/Lquida
M argem B ruta
M argem Lquida
Quadro 13: ndices de Lucratividade Fonte: MATARAZZO (1998, p. 183)
9.4 ndices de Rentabilidade
Rentabilidade do Patrimnio Lquido (RPL):
Tambm conhecido como ndice de Retorno sobre o capital prprio. Representa a lucratividade obtida, servindo inclusive, para comparativos com outros tipos de investimentos, como os obtidos em bolsa de valores, caderneta de poupana, etc. COELHO NETO, et. al (1998)
RPL =
Lucro Lquido Patrimnio Lquido
Giro do Ativo (GA):
Indica o comportamento do faturamento da empresa em comparao ao crescimento do ativo e, quanto maior se apresentar, melhor traduzir o retorno sobre o capital investido.
GA
Vendas Lquidas Total do Ativo
33
Rentabilidade do Ativo Total (RAT):
Mede a rentabilidade do ativo total, indicando quantos centavos foram obtidos de lucro em relao a cada Real aplicado no Ativo. O RAT o resultado da multiplicao da margem lquida pelo giro do ativo ou pode ser obtido diretamente pela diviso do lucro lquido pelo ativo total (SILVA, 2001):
RAT =
Lucro Lquido Ativo Total
9.5 Ferramentas para Analise da Gesto de Caixa
Os ndices de atividades esto diretamente relacionados anlise de gesto de caixa. Com eles possvel argumentar se o caixa esta sendo bem ou mal administrado no que se refere poltica de compras e vendas adotadas pela empresa. Atravs das demonstraes contbeis do balano patrimonial (BP) e demonstrao do resultado do exerccio (DRE) podem ser calculados quantos dias, em mdia, a empresa ter de esperar para receber suas duplicatas (Prazo mdio de recebimento PMR).
Outros ndices que podem ser calculados so os de prazo mdio de renovao de estoques (PME) e prazo mdio de pagamento de compras (PMP). Segundo MATARAZZO (1992) estes ndices de prazos mdios no devem ser analisados individualmente, mas sempre em conjunto:
A conjugao dos trs ndices de prazos mdios leva anlise dos ciclos operacional e de caixa, elementos fundamentais para a determinao de estratgias empresariais (...) vitais para a determinao do fracasso ou sucesso de uma empresa.
MATARAZZO (1992, p. 317)
34
ndices de Atividade
P.M.R
CF =
PME
PMP
DAR 360 Estoque 360 DAP 360 + Re c.Operaciona Re c.Operaciona Re c.operaciona l l l
tem po
C ompra da MP Pagamento de fornecedores Vendas R ec ebimento Das vendas
PMP PME
PMR
Cic lo F inanceira Cic lo O pe racio na l
Quadro 14: ndices de Atividade Fonte: SILVA (2001) Adaptado pelo autor do artigo.
10. Formao de Preo de Venda
Segundo a Teoria Econmica quem faz o preo de venda dos produtos o prprio mercado, basicamente atravs da oferta e procura. Se assumirmos esta essa condio, PADOVEZE (2000) comenta que praticamente seria desnecessrio o clculo dos custos e
conseqentemente a formao do preo de venda a partir dele. MARTINS (2003) em sua obra, salienta que para fixar um preo de venda, sem dvida necessrio conhecer o custo do produto ou servio , porm, comenta que somente a informao do calculo do preo de venda no seria suficiente para sua aplicao devido s mudanas estruturais no mercado, preo praticado pela concorrncia e outros fatores. Diante dessas questes, pergunta-se: Qual seria ento, a utilidade ou necessidade em se calcular o preo de venda na MPE se, afinal, o mercado que decide?
PADOVEZE (2003, p.309) justifica sua necessidade pelo fato de proporcionar condies para anlises comparativas e assim se expressa:
35
De qualquer forma, necessrio um calculo em cima dos custos, tendo em vista que, atravs dele, podemos pelo menos ter um parmetro inicial ou padro de referencia para anlises comparativas
Pelas palavras de PADOVEZE (2003) assume-se que o calculo do preo de venda para as MPE possui utilidade estratgica quando utilizado para anlises comparativas. Como exemplo, PADOVEZE (2003, p. 309-310) cita alguns procedimentos que exigem o calculo do preo de venda, entre os quais destacamos:
a) acompanhamento dos preos e custos dos produtos atuais b) introduo de novos produtos c) anlise de preos de produtos de concorrentes, etc.
Aplicando a frmula para formao do preo de venda chegaremos ao seguinte resultado:
PVUnit =
Custo Unitrio 1 (impostos+comisses+frete+Gastos fixos+margem de lucro)
PVUnit =
2,6875 1- 48,23
2,6875 0,5177
= R$ 5,1972
Quadro 15: Frmula do clculo do preo de Venda Fonte: MARTINS (2003, p. 218-219)
11 Ponto de Equilbrio
Indica o nvel de vendas em que os custos da empresa de igualam s suas receitas, isto , o ponto em que no h lucro, nem prejuzo. No ponto de equilbrio, a empresa consegue absorver todos os seus custos fixos e variveis at aquele ponto. A partir desse nvel, o empreendedor comea a gerar lucro, abaixo desse nvel a empresa opera com prejuzos. MARTINS (2003) faz a seguinte ilustrao:
36
Figura 1 Ponto de Equilbrio Fonte: MARTINS (2003)
O Ponto de Equilbrio pode ser desmembrado em pelo menos trs formulas utilizadas de acordo com o objetivo:
- PEC = Ponto de equilbrio Contbil (com depreciaes) - PEE = Ponto de equilbrio Econmico (com lucro desejado j includo no clculo) - PEF = Ponto de equilbrio Financeiro (sem depreciaes)
Segundo MARTINS (2003) o Ponto de Equilbrio tambm pode ser obtido em moeda (Receita Necessria) ou em quantidade produzida. Pode-se calcular o Ponto de Equilbrio de um produto apenas ou agregando vrios produtos:
PECq =
Gastos Fixos MCUnit
PEC$ = q x PVunit.
PEEq =
Gastos Fixos + Lucro Desejado MCUnit
PEF
Gastos Fixos Gastos no desembolsveis MCUnit
Quadro 16: Formulas: Ponto de Equilbrio por produto:
37
Fonte: MARTINS (2003, p. 261-264)
PEC$
Gastos Fixos 1 Gvtot. RV
Quadro 17: Formula Ponto de Equilbrio com vrios produtos Fonte: MARTINS (2003, p. 261-264)
Legenda Ponto de Equilibrio: CVunit = Custo varivel unitrio DVunit = Despesas variveis unitrias PVUnit = Preo de Venda Unitrio MCUnit = Margem de Contribuio Unitria = [PVUnit (CVunit + DVunit)] Gvtot = Gastos Variveis Totais RV = Receita de Vendas q = quantidade; $, em reais PEC = Ponto de equilbrio Contbil (com depreciaes) PEE = Ponto de equilbrio Econmico (com lucro desejado) PEF = Ponto de equilbrio Financeiro (sem depreciaes)
12 Recomendaes Finais
O Resultado de uma empresa presumivelmente uma funo de vrios fatores. No caso das micro, pequenas e mdias empresas o impacto de fatores ambientais representam um especial desafio para o seu sucesso.
Conforme j mencionado em captulos anteriores, a ateno especial as dificuldades dessas empresas so destacadas devido a suas bases limitadas de recursos e pelo padro de comportamento predominante em grande parte dos empresrios de MPMEs.
Tendo reconhecido a importncia social e econmica das MPMEs, este trabalho trata da problemtica da pequena empresa e recomenda a implantao e uso das ferramentas
gerenciais aqui comentadas com o fim de amenizar as possveis restries causadas pela falta de informao gerencial durante o processo decisrio. Todavia, lembra que a implantao de tais ferramentas depende, principalmente, da vontade do empresrio e da capacitao tcnica do profissional contbil que lhe assiste.
38
A principal caractersticas das ferramentas recomendadas o respeito s limitaes das MPMEs que se expressa tanto na falta de recursos financeiros para investimento em tecnologia de informao (T.I) quanto na capacidade de compreenso de tcnicas administrativas e gerenciais modernas.
Ao explorar o universo da pequena empresa compreende-se que no somente pela sua participao econmica ou pela sua contribuio social, mas sua importncia tambm real porque elas representam, para muitos, uma oportunidade e realizao de sonhos. Como afirma KASSAI (1997), antes do que um tema de estudo a pequena empresa uma paixo.
Você também pode gostar
- Libaneo, Educação EscolarDocumento6 páginasLibaneo, Educação EscolarIvaneide Cruz Santos Estanislau100% (4)
- Livro Luca Pacioli Um Mestre Do RenascimentoDocumento196 páginasLivro Luca Pacioli Um Mestre Do RenascimentoDaiane CruzAinda não há avaliações
- Referencias Do TCCDocumento8 páginasReferencias Do TCCGraziele GonçalvesAinda não há avaliações
- Determinantes Organizacionais Da Gestao em PequenaDocumento11 páginasDeterminantes Organizacionais Da Gestao em PequenaAugusto FukanagaAinda não há avaliações
- Artigo Balanco Perguntado PDFDocumento25 páginasArtigo Balanco Perguntado PDFMarcos RibeiroAinda não há avaliações
- A Controladoria Como Ferramenta EstratégicaDocumento21 páginasA Controladoria Como Ferramenta EstratégicaQueosousaAinda não há avaliações
- TCC Joselio ConcluidoDocumento42 páginasTCC Joselio ConcluidoWérica VelosoAinda não há avaliações
- TRABALHO MARIANA REZENDE - EstratégiaDocumento10 páginasTRABALHO MARIANA REZENDE - EstratégiaMariana RezendeAinda não há avaliações
- Contabilidade Gerencial Como Fator Relevante para o Sucesso Das Pequenas EmpresasDocumento13 páginasContabilidade Gerencial Como Fator Relevante para o Sucesso Das Pequenas EmpresasCarlos VieiraAinda não há avaliações
- Trabalho de ControladoriaDocumento16 páginasTrabalho de ControladoriaVanessaAinda não há avaliações
- Artigo GestaoPessoasMicroDocumento19 páginasArtigo GestaoPessoasMicroLindemberg Arruda da SilvaAinda não há avaliações
- A Gestão Financeira em Micro e Pequenas Empresas No Município de Valença/rjDocumento17 páginasA Gestão Financeira em Micro e Pequenas Empresas No Município de Valença/rjIgor SiqueiraAinda não há avaliações
- Rattner 1982 Nota Introdutoria Pesquisa S 19064Documento4 páginasRattner 1982 Nota Introdutoria Pesquisa S 19064Iago MoreiraAinda não há avaliações
- TCC - A Importância Do Planejamento Estratégico para Sobrevivência Das Pequenas Empresas.Documento17 páginasTCC - A Importância Do Planejamento Estratégico para Sobrevivência Das Pequenas Empresas.Weslley MesquitaAinda não há avaliações
- Controle FInanceiroDocumento19 páginasControle FInanceirochristianAinda não há avaliações
- Plano de Negócio - ArtigoDocumento8 páginasPlano de Negócio - ArtigoLeandro MichelsenAinda não há avaliações
- Planejamento Financeiro PDFDocumento19 páginasPlanejamento Financeiro PDFDanilo Paulino100% (1)
- Artigo Científico para Pós Graduação Futura - Doc 2 CorreçãoDocumento10 páginasArtigo Científico para Pós Graduação Futura - Doc 2 CorreçãoHelielma CarvalhoAinda não há avaliações
- TCC - A Importância Do Planejamento Estratégico para MicroempresasDocumento12 páginasTCC - A Importância Do Planejamento Estratégico para MicroempresasPaula TavaresAinda não há avaliações
- 2983-Texto Do Artigo-11183-1-10-20230328Documento15 páginas2983-Texto Do Artigo-11183-1-10-20230328Jorge VilasAinda não há avaliações
- A Importância Do Planejamento Estratégico para As MicroempresasDocumento20 páginasA Importância Do Planejamento Estratégico para As MicroempresasFlavio FrancaAinda não há avaliações
- 17 6 1 PBDocumento9 páginas17 6 1 PBHalley JoaquimAinda não há avaliações
- A Importancia Do Planejamento Financeiro Micro e Peq EmpresasDocumento4 páginasA Importancia Do Planejamento Financeiro Micro e Peq EmpresasflaviobrunharaAinda não há avaliações
- O Impacto Das Micro e Pequenas Empresas No Mercado de Trabalho: Uma Análise Da Região Sul/Sudoeste de Minas GeraisDocumento16 páginasO Impacto Das Micro e Pequenas Empresas No Mercado de Trabalho: Uma Análise Da Região Sul/Sudoeste de Minas GeraisQuilio LangaAinda não há avaliações
- Planejamento EstratégicoDocumento13 páginasPlanejamento EstratégicoDudaAinda não há avaliações
- Modelo ProjetoTCCDocumento12 páginasModelo ProjetoTCCGiovanna MoreiraAinda não há avaliações
- Gestao Descomplicada para As Micros PequDocumento12 páginasGestao Descomplicada para As Micros Pequrygspt4ttnAinda não há avaliações
- Projeto TCCDocumento7 páginasProjeto TCCLUIZ PAULO PAIAinda não há avaliações
- O Papel Do Gestor Financeiro Dentro Das Pequenas e Médias EmpresasDocumento16 páginasO Papel Do Gestor Financeiro Dentro Das Pequenas e Médias EmpresasflaviobrunharaAinda não há avaliações
- 1034 - Gestores de Pequenas Empresas - Estudo Das Funcoes GerenciaisDocumento16 páginas1034 - Gestores de Pequenas Empresas - Estudo Das Funcoes GerenciaisMaria Gerlane de SoutoAinda não há avaliações
- Fichamentos Básicos em Contabilidade GerencialDocumento9 páginasFichamentos Básicos em Contabilidade GerencialLucas José GarciaAinda não há avaliações
- TCC - Heloisa Lopes - Versão FinalDocumento20 páginasTCC - Heloisa Lopes - Versão FinalIgor SiqueiraAinda não há avaliações
- Tavares A.Colher-Artigo Científico-Aud - ExternaDocumento15 páginasTavares A.Colher-Artigo Científico-Aud - ExternaTavares SerenaAinda não há avaliações
- Sugestao de Etapas para A Estruturacao Da GestaoDocumento14 páginasSugestao de Etapas para A Estruturacao Da GestaoAna Luiza Mafaldo LeaoAinda não há avaliações
- Trab CorrigidoDocumento19 páginasTrab CorrigidoMalu BuzonAinda não há avaliações
- Anderson Catapan, Ana Carolina Teixeira Cortes, Patricia Baptista de Souza, Rosangela Moreira Dos Santos, Vanessa VenturaDocumento8 páginasAnderson Catapan, Ana Carolina Teixeira Cortes, Patricia Baptista de Souza, Rosangela Moreira Dos Santos, Vanessa VenturaVerônica AlmeidaAinda não há avaliações
- 477 2344 1 PBDocumento18 páginas477 2344 1 PBLuiz AntonioAinda não há avaliações
- A Eficiência Da Aplicação Dos Modelos de Previsão de Insolvência Nas Empresas de Capital Aberto Brasileiras em Recuperação JudicialDocumento28 páginasA Eficiência Da Aplicação Dos Modelos de Previsão de Insolvência Nas Empresas de Capital Aberto Brasileiras em Recuperação JudicialClayton FestaAinda não há avaliações
- A Controladoria e A Estratégia Nas Micro e Pequenas EmpresasDocumento5 páginasA Controladoria e A Estratégia Nas Micro e Pequenas EmpresasRicardo FloresAinda não há avaliações
- 13 48 1 PBDocumento20 páginas13 48 1 PBAna Carolina RomeroAinda não há avaliações
- A Importância e Os Benefícios Da Administração Financeira Nas Microempresas e Empresas de Pequeno PorteDocumento7 páginasA Importância e Os Benefícios Da Administração Financeira Nas Microempresas e Empresas de Pequeno PorteClara InêsAinda não há avaliações
- 21102-Texto Do Artigo-133485-1-10-20160118 PDFDocumento15 páginas21102-Texto Do Artigo-133485-1-10-20160118 PDFevandirAinda não há avaliações
- Direito Das EmpresasDocumento13 páginasDireito Das EmpresasEmänüël StëlvioAinda não há avaliações
- A Importância Da Contabilidade Nos Desafios Do EmpreendedorismoDocumento15 páginasA Importância Da Contabilidade Nos Desafios Do EmpreendedorismoEmbody Comunicação100% (2)
- 12632-Texto Do Artigo-49874-1-10-20180810Documento14 páginas12632-Texto Do Artigo-49874-1-10-20180810TAMOIO TERRAPLANAGEMAinda não há avaliações
- FUNDAMENTAÇÃODocumento11 páginasFUNDAMENTAÇÃOLarissa FerreiraAinda não há avaliações
- Projeto TCC Mateus 1.2Documento4 páginasProjeto TCC Mateus 1.2felipebarataalvesomcAinda não há avaliações
- Projeto - OS FATORES QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DE CRÉDITO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPESAS. FinalDocumento11 páginasProjeto - OS FATORES QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DE CRÉDITO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPESAS. FinalGiovanna MoreiraAinda não há avaliações
- Gestão FinanceiraDocumento11 páginasGestão FinanceiraGabriel VieiraAinda não há avaliações
- Capital de GiroDocumento18 páginasCapital de GiroFerzinha_PaolaAinda não há avaliações
- A Análise Do Ambiente Organizacional Na Pequena Empresa - UmDocumento12 páginasA Análise Do Ambiente Organizacional Na Pequena Empresa - UmFulano de TalAinda não há avaliações
- TCC WelitonDocumento31 páginasTCC WelitonlatonmullazAinda não há avaliações
- Modelo Artigo Final JeffersonDocumento23 páginasModelo Artigo Final JeffersonJefferson CabralAinda não há avaliações
- Texto Sobre Plano de Negocios PDFDocumento2 páginasTexto Sobre Plano de Negocios PDFladyjujubaAinda não há avaliações
- O Impacto Dos Custos para As EmpresasDocumento13 páginasO Impacto Dos Custos para As EmpresasfamiliasouzakiraAinda não há avaliações
- 22modelo - Completo Final VF - 1-11Documento11 páginas22modelo - Completo Final VF - 1-11Matheus Alves NevesAinda não há avaliações
- Fator Determinante Na CriaçãoDocumento13 páginasFator Determinante Na CriaçãoFabiane RiosAinda não há avaliações
- Adoção de Práticas de Controles Financeiros e NãoDocumento18 páginasAdoção de Práticas de Controles Financeiros e NãoRaphaela CarvalhoAinda não há avaliações
- EStudo de Caso Matriz SwoatDocumento8 páginasEStudo de Caso Matriz SwoatDricakikaAinda não há avaliações
- Governança Corporativa e Sustentabilidade como Estratégia Competitiva para Pequenas e Médias Empresas no BrasilNo EverandGovernança Corporativa e Sustentabilidade como Estratégia Competitiva para Pequenas e Médias Empresas no BrasilAinda não há avaliações
- Desafios da Administração no Brasil: contribuições para gestão de empresas privadas e organizações públicas: - Volume 3No EverandDesafios da Administração no Brasil: contribuições para gestão de empresas privadas e organizações públicas: - Volume 3Ainda não há avaliações
- Marketing, Estratégia e Gestão: abordagens atuais no contexto brasileiro: - Volume 1No EverandMarketing, Estratégia e Gestão: abordagens atuais no contexto brasileiro: - Volume 1Ainda não há avaliações
- Curso SintegraDocumento48 páginasCurso Sintegraromeu_007Ainda não há avaliações
- Manual Orientacao Preen Chi Men To DCTFDocumento35 páginasManual Orientacao Preen Chi Men To DCTFromeu_007100% (2)
- Cartilha Do Simples NacionalDocumento26 páginasCartilha Do Simples Nacionalromeu_007Ainda não há avaliações
- Cap7 Elias Escritos Ensaios PDFDocumento25 páginasCap7 Elias Escritos Ensaios PDFWill Ribeiro100% (1)
- Gesto de Projetos Apol 2Documento4 páginasGesto de Projetos Apol 2SilvanoAinda não há avaliações
- Blocos Econômicos e A Nova Ordem Mundial (Ex)Documento5 páginasBlocos Econômicos e A Nova Ordem Mundial (Ex)Sidney ChristAinda não há avaliações
- Referencial - EFA - Formação de BaseDocumento38 páginasReferencial - EFA - Formação de Basecarlosmat18@azeitaoAinda não há avaliações
- A Transformação Sistêmica Da Rússia PDFDocumento229 páginasA Transformação Sistêmica Da Rússia PDFAnna Lua CostaAinda não há avaliações
- A Aliança para o Progresso No Brasil: de Propaganda Anticomunista A Instrumento de Intervenção Política (1961-1964)Documento248 páginasA Aliança para o Progresso No Brasil: de Propaganda Anticomunista A Instrumento de Intervenção Política (1961-1964)eapfreitas100% (1)
- PE 2016-2019 - Atualizado 20-07-2018Documento118 páginasPE 2016-2019 - Atualizado 20-07-2018josexnlAinda não há avaliações
- BRB 2019 - Pré-Edital - 200 Exercicios GabaritadosDocumento64 páginasBRB 2019 - Pré-Edital - 200 Exercicios GabaritadosGrazi Santos100% (1)
- Novas Qualificações para A ReconversãoDocumento56 páginasNovas Qualificações para A ReconversãovseixasAinda não há avaliações
- Novo Definição de RuralDocumento83 páginasNovo Definição de RuralZecaGuarani-KaiowáSacramentoAinda não há avaliações
- Barbosa Eco Sol Pol PubDocumento305 páginasBarbosa Eco Sol Pol PubVanessa Monks da SilveiraAinda não há avaliações
- Revista 1000 MaioresDocumento100 páginasRevista 1000 MaioresJoao Manuel OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila A3P - Sustentabilidade Na Administração Pública PDFDocumento103 páginasApostila A3P - Sustentabilidade Na Administração Pública PDFEvelyn PasqualiAinda não há avaliações
- Pagamento Por Serviços Ecossistêmicos em Perspectiva Comparada: Recomendações para Tomada de DecisãoDocumento180 páginasPagamento Por Serviços Ecossistêmicos em Perspectiva Comparada: Recomendações para Tomada de DecisãoPaula BernasconiAinda não há avaliações
- Hidro2015-01 - Versão Final - Canais Navegáveis, Parâmetros e Critérios de DimensionamentoDocumento11 páginasHidro2015-01 - Versão Final - Canais Navegáveis, Parâmetros e Critérios de DimensionamentofchavesmartinsAinda não há avaliações
- O Período Liberal DemocráticoDocumento6 páginasO Período Liberal Democráticob4t3dorAinda não há avaliações
- Dissertação Joana VilasBoas Lucena Mestrado em Gestão ISG FINAL ENTREGUEDocumento112 páginasDissertação Joana VilasBoas Lucena Mestrado em Gestão ISG FINAL ENTREGUEUventude NidaAinda não há avaliações
- Ambientalização Dos Bancos e Financeirização Da NaturezaDocumento204 páginasAmbientalização Dos Bancos e Financeirização Da NaturezaTatiana Emilia Dias Gomes0% (1)
- O Desenvolvimento Económico de ÁfricaDocumento29 páginasO Desenvolvimento Económico de ÁfricaMiguel GongaAinda não há avaliações
- LUKÁCS Bases Ontológicas Pensamento Atividade HomemDocumento10 páginasLUKÁCS Bases Ontológicas Pensamento Atividade HomemAline Louize Deliberali RossoAinda não há avaliações
- Reinventando o Capitalismo de EstadoDocumento314 páginasReinventando o Capitalismo de Estadosf3lip3Ainda não há avaliações
- Lista de Exercicios Respondida - TransportesDocumento17 páginasLista de Exercicios Respondida - TransportesRafael CoutinhoAinda não há avaliações
- Dissertação Abrigamento de Idosos... PDFDocumento142 páginasDissertação Abrigamento de Idosos... PDFcamilanunes33Ainda não há avaliações
- #Legislação Do SUS - Esquematizada e Comentada (2016) - Natale de Oliveira de SouzaDocumento362 páginas#Legislação Do SUS - Esquematizada e Comentada (2016) - Natale de Oliveira de SouzaOtimar E DanielleAinda não há avaliações
- Teoria Do Capital Humano e EducaçãoDocumento7 páginasTeoria Do Capital Humano e EducaçãoliliancorAinda não há avaliações
- 2 - Integração Regional - Visão Geral2019Documento31 páginas2 - Integração Regional - Visão Geral2019Celio Wilson MuiangaAinda não há avaliações
- Deindustrialization in Africa (1) .En - PTDocumento17 páginasDeindustrialization in Africa (1) .En - PTGininha UamusseAinda não há avaliações
- Carlos Lucena Fabiane Santana Previtali Lurdes Lucena: I A Edição EletrônicaDocumento161 páginasCarlos Lucena Fabiane Santana Previtali Lurdes Lucena: I A Edição EletrônicariferreirascribdAinda não há avaliações
- Manual ATESDocumento54 páginasManual ATESMimRita Fagundes100% (1)