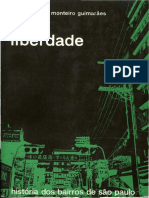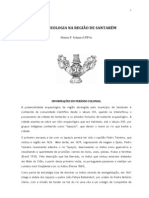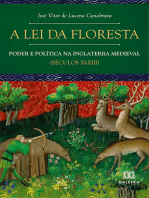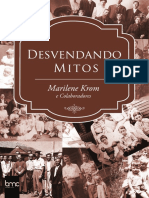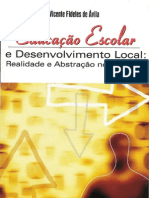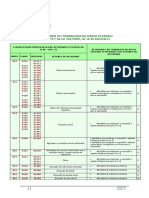Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Uma Longa História - Emilia e Gilson Arrudo
Uma Longa História - Emilia e Gilson Arrudo
Enviado por
Alessandro CarvalhoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Uma Longa História - Emilia e Gilson Arrudo
Uma Longa História - Emilia e Gilson Arrudo
Enviado por
Alessandro CarvalhoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UMA LONGA HISTRIA EM UM GRANDE RIO
(enrios Arqueolgicos
do Alto Paran
Emilia Mariko Kashimoto Gilson Rodolfo Martins
UMA LONGA HISTRIA EM UM GRANDE RIO
Cenrios Arqueolgicos
do Alto Paran
Emlia Mariko Kashimoto Gilson Rodolfo Martins
2005
~ C N P q
~ - - - , ' ..
-=--.-
CfSte
PARAN
(00 TUPl-GUAiWI: PI.AA-N)
Semelhante ao mar,
caudal imenso,
rioenonne.
SUMRIO
INTRODUO
Cenrios arqueolgicos
do Alto Paran
Pgina 6
CONSIDERAES FINAIS
UO homem muda o rio
e o rio muda o homem"
Pgina 85
GLOSSRIO
Pgina 91
REFERNCIAS
Pgina 93
13
AS ETAPAS DA PESQUISAARQUEDLGICA
DO ALTO PARAN
Projeto arqueolgico Porto Primavera-MS Etapa de levantamento arqueolgico '
Etapa de escavaes arqueolgi cas ' Dataes ' Acervo Monitoramento
arqueolgico do Reservatri o' Projeto Gasoduto Bolivia-Brasil Pesqui sa ao sul
da rea do Projeto Porto Primavera: levantamento a queolgico Escavaes
arqueolgicas no Bai xo Jvinhema Continuidade das pesquisas no Al to Paran
25
PAISAGEM EARQUEOLOGIA
As fontes de matria-prima e as corredeiras piscosas Perodo Quaternrio
e transformaes na paisagem ' timo Climtico e povoamento
humano da regi o ' O ambiente recente
45
OALTO PARAN ARQUEOLGICO:
6 MIL ANOS DE POVOAMENTO HUMANO
DAS MARGENS DO GRANDE RIO
As evidncias arqueolgicas Caadores-coletores-pescadores
Indios-agricultores-cerfTlistas Os 'irldgenas ps-descobrimenlo
A resistncia Ofai
69
OALTO PARAN HISTRICO:
FRONRIRA ENAVEGAO
O incio da ocupao colonial' As misses jesuticas e as incurses dos
bandeirantes ' O ciclo das Mones' O sculo da pecuria
ll'ITRODUAO
CENRIOS
ARQUEOLGICOS
DO ALTO PARAN
Vimo-Ia, pela pri m.ra vez, com indizvel.
emoo, na manh de sol em que, vencidos
os 900 quilmetros da Sorocabana, paramos
s suas barrancas, em Porto Tibiri,
NW1ca havamos deparado antes uma mZ1SS3
de gua doce to larga, cantando, murmurando
rumo ao sul, como um mar sem ventos, que se
derramasse em uma diNo nica_
A largura da u a espraiada era to vasta,
que as matas gigantescas pareciam pequeninas,
Tn..o,.fdJodellndmd,., 1941.[>_ 1.11
Apesar da abundncia de gua, floresta, peixes
e animais terrestres, o jornalista Theophilo de
Andrade em seu primeiro contato com o a lto rio
Paran observou tambm que a regio era quase
ina bitada, com mosquitos e malria que, acompa
nhados das bruscas mudanas de temperatura com
a entrada das frentes frias, s6 mesmo os nativos
pareciam suportar. Impresso semelhante tambm
teve o sargento-mor Teotnio Jos Juzarte quase du
zentos anos antes, em 1769, quando percorreu e
mapeou os rios Tiet, Paran e Iguatemi.
Imponente e desafiador, O alto curso do rio Paran
foi cenrio de passagens picas de estudiosos e con
quistadores que, e m diferenles pocas, ousaram per
correr suas guas enfrentando os mais diferentes ti
pos de dificuldades.
Por seu potencial na navegao, foi a via de des
locamento para a fuga dos Jesutas e dos Guarani
das redues do Guair - rumo ao sul, pressiona
dos pelo avano dos bandeirantes paulistas - e tam
bm a via de interligao dos rios Tiet e Pardo no
roteiro monoeiro de So Paulo a Cuiab, e canal
7
Portos doAlto Pwao (A/'lJRAOf. 1941),
senOO cada lf'I'I delas canposto per apenas
l.m OU ourorancoo de patJa, onde
ficav<'lO seus pescadores.
AlTO PARAN
Abrange osegnento do rio Paran em seu alio
curso, desde as cabeceiras at asuperficie de
Guaira, onde o rio fluia entre as rochas e pro
ama as Sele Quels - corf.into de cachoeiaS
llaipu_
OvollJll1e das gJas c a extenso 00 canal fttNi
ai inspiraram adenominao do rio pelos ndios
falantes 00 Par-n, que signmca
semelhoote ao mrT, tarrbm pode ser derivado
do Par-n, rio enorme, caudaJ imenso, o
mal, TeoOOro Freitas (1976)
tarmm observou qJe Joo Mendes fez defivw
o vocbulo de "Por.afla, por coo/rao,
Por'an, excessivamente fTOSSO'. De Rpor,
para exprimir sUperlativo, excesso, extenso,
hbito, etc., e an, glOSSO', Padre Montoya cha
mou orio Paran- parente do mar -, de Par,
mar, ean, abreviaturede anma, parente".
Q
para o escoamento de produtos regionais, como a elVa-mate, rio abaixo
em direo a Assuno e Buenos Aires.
Registras histricos atestam verdadeiras epopias que tomaram pos
svel, por exemplo, a transposio de obstculos naturais como as ca
choeiras das Sete Quedas/Guara, no limite meridional do Alto Param:"\.
Mas, e antes disso? Quem foram e como viviam os primeiros habitan
tes do rio Paran? Como era o ambiente e quais as manifestaes cultu
rais? So respostas para perguntas como essas que a Arqueologia busca
com suas investigaes.
Doze anos de pesquisa contnua no Alto Paran j permitem respon
der a algumas dessas perguntas e podem comprovar que a histria da
ocupao humana na rea muito anterior ao que se supunha at pou
co tempo atrs.
8
A partir de 1970, pesquisadores paulistas e paranaenses a nalisaram
stios a rqueolgicos das margens dos ri os Pa ran, Para napane ma e
Ivinhema, proporcionando um panorama inicial acerca dos componen
tes principais da Arqueologia dessa regio. Esses estudos j permitiram
perceber as numerosas ocupaes dos Guarani e de povos que os ante
cederam, interagindo com esses ambien1es, estendendo-Ihes significa
dos simblicos e constituindo mltiplas experincias humanas nesses
antigos conte xtos ribeirinhos.
No entanto, paralelamente visibilidade arqueolgica da rea, nas
ltimas dcadas tambm se registrou intensa ao humana na paisagem
regional, deixando marcas de desrnatamento e processos erosivos que
destroem as margens do grande rio e de seus a fl uentes e, conseqente
mente, comprometendo a integridade de sti os arqueolgicos com regis
tras de um passado humano de centenas a milhares de anos. As barra
gens e eclusas criaram canais artificiais, alterando a livre navegao do
grande rio.
Em 1993, Cace iminente formao do lago da Usina Hidreltrica
Engenheiro Srgio Motta (UHESM), iniciou-se a pesquisa arqueolgica da
margem direita do a lto curso do ri o Paran, desenvolvida
continuadamente h 12 anos por universidades sul-ma to-grossenses, fi
nanciadas pela Companhia Energtica de So Paulo (CESP). Dessa for
ma, O Projeto Arqueolgico Porto Prillllvera, MS, constituiu-se num dos
lllIiores traballios de salvamento arqueolgico j realizados no pas: tan
to em durao e continuidade de etapas de campo, quanto em volume
de reas escavadas, nmero de dataes realizadas, nmero de peas
AMBIENTES
DOS KAYAP E DOS GUARANI
Os ecossistemas percorridos pelos canais flu
viais da Sacia doAlto Paran tambm infi uen
daram o deslocamento e a configurao dos
antigos territrios indigenas. A Etoo-Histria re
gistou que, anteriormente expanso das pri
meiras fazeJ"d1s na regio, a Kayap
ede oulros povos J era nos
ambientes recobertos pelo Cerrado no seg
mento selenlJional do Alto Paran. Em sellti
do meridional. quando essa vegetao gra
dualmente cedia lugar abUfldante Floresta
Estacionai Semidecidual al uvial, definia-se o
territooo guarani, habitantes das margens flu
viais.
ECLUSAS
NO RIO PARAN
Atuamente, a Bacia mAlta Paran reconhed
da pela expIctao de seu potencial hictelbico
emd3carncia<b de!f8nde pate
ooseuwso. Vrias usinas feram ai instaladas,
a partir da dcada de 1970, pela CESP com
vistas a Sllp'"ir ademanda de elelricidade, sem
crescente, noscenlros urbanos einOOsi1ais
da SUdeste 00 pais.
Nas llinas dcadas a expectativa
de escoamento, pelo Alto Paan. de I.rn lIoxo
continuo de e, assin, integar plena
mente aHaovia PiY3/l.fl<tagJa1. Pa:a tanto, a
navegao dever pefCffier os canais artificiais
criados no rio Paran - eclusas nos eixos das
barragens das usinas hicteltrK:as como a da
UHESM (falo - m<l'"o de 2(05).
9
LAGOA 00 CUSTODIO
No Alio Paran, achegada da Estrada de Ferro
SocabanaconstituilJ t.ma sada paa o eso::la
menlo, apartrdePresidenIeEpitcio, da madei
ra,gado, eNa-mate, dentre 1Dei
rinhos, transpcrlaOOs peIoganderio,
Pr6xino a lJ11 dos locais de extrao de madei
ra, na margem de lJma lagoa, morou solilno o
Sr. ClJstdio, al SlJa morte, j idoso. A lagoa
frcou can seu rnme, 9'l"ando Ia'nbm adencrni
nao do sitio arqueolgco sobre oqlJaI ele m0
rou: Lagoa do Cusldo 1 As fotos l110SIan esse
sitio <rq.JBOI6gco (em ouh.tro de 1995) e o colici
ano numa casa das )l'"oxmidades (em ncwerrtro
de 1997), QJando as vWZeas j estavan
devido construo da barragem da UHESM e
rio Paran.
O SENHOR DA
FOZ 00 RIO PARDO
A rea de conlluncia dos rios Parche Pariln
era paada p-elerencial paa os navegantes.
H C8"ta de1.800 anos (<mOStra Qf-l1 074 que
resultou na dalaode 1.860 45 anos A P.),
caacbes-ooletres--pescadre; a::arp<r<m na
rrayem!eita
inslnmefllos lticos. MlJitos sctOOs depois, as
lTICtIeS tiva"anali 1m deJQa
di edescanso antes de inicia'" alonga. navega
o do rio Pardo; posterioonente. a rea no
passoo i1ferenteaos II)S otiq.Je nela acan
paVa"T1. As vsperas da foonao da UHESM.
em 1998. o soIitrtlrncradcrda 100ebrio P<I'OO
ct.idava.zeIoscmente 00 h:aI,pera:rrendJ
ciente seu tenitCtio can o co (foto - abril de
1998).Ali pem-oa.reeu se recusando asai". Lma
de resgate reliro<ldali dJanIe afoonao
desse resavatooo.eocerrando ahistOOa de ocu
paooo local. Hoje ainensidodas guas que
recobrilJ quilmetros de extenso das margens
00 Alto Paran eafll.Jentes no deixa entrever a
p-elrita existncia desse local.
coletadas e monitoramento peridico da rea aps a formao do reser
vatrio. Os trabalhos no Alto Paran lm continuidade com pesquisas nas
suas margens ao sul da rea desse reservatrio, realizando-se levantamen
tos e escavaes arqueolgicas, seguidas de atividades de educao
patrimonial- no mbito da qual se insere este livro de divulgao cientifica
- em projetos apoiados pelo CNPq e pela FUNDECT.
As pesquisas j realizadas registraram o expressivo nmero de stios
arqueolgicos integrantes do universo cultural dos ndios Tupiguarani
ceramistas, assim como de diversas ocupaes a nteriores, desde pelo
menos 6.000 a nos a trs (cerca de 4.(X)() a nos antes de Cristo). Neste
trabalho, o conhecimento histrico e etno-histrico acumulado, conjuga
se com os dados a rqueolgicos obtidos nas pesquisas, demonstrando as
manifestaes culturais pretritas praticadas no Alto Paran.
As folos que ilustram esta obra - em sua maioria produzidas durante os
doze anos de pesquisa na rea - mostram cenrios do cotidiano dos mora
dores locais, tais como na lagoa do Custdio e na roz do rio Pardo, que
10
tinham no grande rio o seu ambiente de vida, assim como registram cenas
das pesquisas e dos stios arqueol6gkos. Muitos desses locais j no exis
tem, JX>is foram inundados pelo reservatrio da UHESM.
Como um tributo ao grande rio e aos seus habitantes ribeirinhos, do
presente e do passado, este livro apresenta um panorama dos distintos
ambientes e das diferentes manifestaes culturais, desde as ocupaes
pr-coloniais s histricas, neles testemunhadas}Xlr elementos da cultura
material remanescente em 156 stios arqueolgicos j localizados s6 na
margem direita desse grande rio. principalmente e m seus segmentos mais
piscosos_
Convidamos o leitor para percorrer os cenrios histricos e pr-histri
cos do Alto Paran, aqui revisitados sob o dos autores arquelogos.
OS LOCAIS MAIS
PISCOSOS
Alguns trechos do Alto Paran eram especial
"""'"_pelos"""""""-.""
de o passado arqueolgico at as vsperns da
formao do reservam da UHESM, que des
truiu essas paisagens. Afoto mostra ositio ar
q.teOIgico Il haPgJa npa 1(001 maio de 1999),
Cffil seus afloranerrtos rochosos. klcal ()I1(ja orio
Paran era especialmente piscoso; nesses t0
cais airKla habitavam os pescadores, como se
v
I I
Doze anos de pesquisas
arqueolgicas demonstram
que desde 6 mil anos
atrs o Alto Paran foi
palco de distintas
ocupaes humanas.
AS ETAPAS DA
PESQUISA
ARQUEOLGICA
DO ALTO PARARA
Em conjunto com a evidenciao dos stios
e vestgios arqueolgicos, doze anos de convivncia
com o ambiente e os moradores do Alto Paran
subsidiam a consecuo de dinmicas de
educao patrimonial na rea.
BENS DA UNIO
ALei rf 3.924de 26 de juIlode 1961, ea Consti
tuio da Repblca FedErntiva 00 de 5de
OlIbJ:ro de 1988,esIctle!ecanqJE!ossltios <r<p.Je
k!S oocoolraOOs so benswUnio eficaro sba
gJarda eproteoJ pOOIico.
Nos ltimos anos, com o desenvolvimento de projetos de pesquisas
cientficas em reas ambientalmente impactadas porohras de engenharia
civil, algumas extenses do territrio brasile iro, at ento desconhecidas
do ponto de vista arqueolgico, passaram a integrar o conjunto de co
nhecimentos sobre o panOTama arqueolgico pr-colonial do Brasil.
A Resoluo CONAMA nO 001, de 23 de janeiro de 1986, observou que
os stios arqueolgicos, bens da Unif1o, devem passar por estudos de
impacto ambiental provocados por esses e mpreendimentos de e ngenha
ria e, conseqentemente, de aes mitigatrias desses impactos. Diversos
reservatrios do Alto Paran e de seus afluentes so anteriores a essa
legislao.
I
M(Iadores locais e visitanles fl area onde
ento se iniciaVM"I asmas da baTagem da
UHESM em 1978. Abaixo, essa mesma rea
em maio de 1993, dLrallte aconstruo do aterro
,
da mocgern dJeita da b<wragern e, finamente,
esse aterro e o reserval(rioj foorIa<bs.
;
em bIorecenle (SEm data).
PROJETO ARQUEOLGICO
PORTO PRIMAVERA-MS
As obras da Usina Hiclreltrica Porto Primavera foram iniciadas no
final da dcada de 1970, a tingindo uma extensa rea do Alto Paran. Os
trabalhos sistemticos de mitigao dos impactos causados pela obra,
sobre o parrimnio arqueolgico, iniciaram-se efetivamente na dcada
de 1990.
O Projeto Arqueolgico Porto Prim1vem-MS (PAPPMS), executado entre
os anos de 1993 e 1999, abrangeu as aes t01ico-cientficas realizadas
na rea a ser impactada pela obra. Esse projeto
resultou de dois contratos f'innados entre a Com
panhia Energtica de So Paulo (CESP) e a Funda
o de Apoio Pesquisa, ao Ensino e Cultura
O fechamento das comportas da barragem, em
1998. marcou a inaugurao da obra que passou
a ser denominada Usina Hidreltrica Engenheiro
Srgio Mota (UHESM). Foram inundados cerca de
192.(0) ha, na rea balizada pelas coordenadas
geogrficas e 20
0
47'27"5/
.5.: '3TSS-W. Essa inundao atingiu,
na margem direita do reservatrio,
parle dos municpios sul- ma to
grossenses de Anaurilndia, Bata
guassu. Santa Rit a do Pardo,
3rasiJndia e Trs Lagoas. A mar
g.?m esquerda do Alto Paran (Es
MO de So Paulo). na rea impac
iada )Xlr esse reservatrio. foi pes
quisada pela equipe da FCT..{jI\'ESP.
PROJETO ARQUEOLOG1CO
PORTO PRlMAVERA-MS
Oprinero contam, n99QOO94()()()ft)143, assi
nado no anode 1993, viabilizou areal izarioda
"Etapa de Levantamento" desse COCJOe.
nada per Gilson R M<Ytins, no rrbito da LfMSI
CPpqoHIitPA. Portaria IPHAN n" 349, de 8
de noverrtJrOde 1993.
O segunOO contraio de de SE!f\lios
- n MMNCESPFAPECIOI197, viabilizou a
'Etapa de Resgate' desse Projeto, no perodo
de 1997 a 1999, com a atuao conjunta das
equipes da UFMS/CPA<tDHIILPA eda UCOBl
MOBllABPAR. sob acoordenao cientfica de
Em liaM. Kashimolo, PatariaIPHAN n" 55, de
29 de ourubro de 1997.
I';
As viskrias e a ~ , periodcamente
na 'ea, pem1itiran ocornectnemo
dos canais Iluviais. vrios dos quais
estava-n recobertos pelavegetao e
e'aI'I'I pouco visila<bs, possibiltanoo o
registrodetalhado da paisagem local.
As lotos (acina -janeiro de 1988;
abaixo -ou\lb'o de 1997) refererTl ao
IevantamenloooriJei'o 0Uebrach0,
dvisor dos mlKlicpios
de Analdndia e BatagJassu.
,
.
,
,
.
.
OAPA DE LEVANTAMENTO ARQUEOLOGICO
A Etapa de Levantamento do PAPPMS abrangeu reconhecimento geral
do espao e, em seguida, uma vistoria intensiva dos 220 quilmetros de
extenso da margem direita do Alto Paran, bem como de ilhas e o bai
xo curso dos afluentes desse rio. Visando localizao de stios arqueo
Igkos na rea, o levanta mento referencou-se e m um elenco de variveis
ambientais selecionadas como critrio para a definio de pontos de
vistoria, prospeces e sondagens do solo.
o levantamento a rqueolgico foi desenvolvido segundo dois eixos
principais de deslocamento. isto , a vistoria das margens, navegando-se
pelo rio Paran e afluentes, bem como por meio das estradas na plancie
de inundao. Foram vistoriados,
ao todo, 350 locais, devidamente
plotados com o Siste ma de
Posicionamento Global (GPS - sjgla
e m ingls de Global Positioning
System) e anotados em uma carta
arqueoLgica do reservatrio. Des
ses locais, 118 caracterizavam-se
como stios arqueol6gicos a cu
aberto, com vestgios de povos agri
cultores ceramistas e/ou de caado
res-coletores-pescadores pr-hist
ricos .
ii
. .
ETAPA DE ESCAVAOES ARQUEOLOGIW
Considerando-se esse conjunto de 118 stios arqueolgicos localiza
dos na Etapa de Levantamento do PAPPMS, foram escavados 24 stios
considerados representativos dos diferentes passos de ocupaes do pas
sado arqueolgico da regio.
As escavaes seguiram o mtodo das superfcies amplas
(lEROI-GOURHAN, 1983), com abertura de trincheiras e reas
de decapagem, visando evidenciar, por meio de abertura hori
zontal e vertical do terreno, em nveis de 0,10 m de espessura,
vestgios que JX>Ssam contribuir para a leitura de traos do
comportamento cultural, econmico e social dos grupos hu
manos pretritos que a viveram . Para tanto, os trabalhos fo
ram registrados detal hadamente por meio de anotaes, falos
e mapeamento (JOUKOWSKY, 19BO), incluindo-se o levantamento
topogrfico detalhado dos stios realizado pelo engenheiro
cartgrafo Mauro Issamu Ishikawa.
A coleta de cerca de 50.000 peas arqueolgicas durante o
levantamento e as escavaes arqueolgicas, em conjunto com
o processamento de 174 dataes, provenientes do emprego
do mtodo da termoluminescncia (TL) ou do carbono 14
(C
1
4), definiu preliminares que permitem a identi
ficao das etapas do povoamento humano pretrito.
No passaOO aqueolgico do rio
hOuve intensasalMdadesdeproWo
de lerranenlas llicas, C(IOO no silio
Rio VMie 10(folomeoor -maiode 1999).
Ao lOngO.do AlIoParan ede seus afiuentes
tambm fcm'n evirleociadas outras tais
COO'lO ado stio Lagoa doCuslOO 1(loto maio;
jur'lho de 1998): desde4.000 anos AP. at o
sculo XVII.
17
I
i
,
===-III!III!I!!-===="
30m
-
A T A ~ O E S
Sob a perspectiva de identificao da cronologia das ocupaes ar
queolgicas da rea, o processamento de dataes de amostras de ma
teria l cermico, pelo mtodo da TL, foi realizado no Laboratrio de Vi
dros e Datao da Facu1dade de Tecnologia de So Paulo (FATEC), sob li
coordenao da Prafa. Dra. Snia Hatsue Tatumi. As amostras de car
vo foram processadas por meio do mtodo C
14
, no Laboraioire des
Sciences du Climat et de l'Environnement - Laboratire Mixte CEA-CNRS
U/'I1R 1572, em Gif-sur-Yvette, na Frana (Gif), sob a responsabilidade do
As dataes de fragnentosdecermica Dr. Michel Fontugne.
arqueolgica (foto aci'na -junho de 1998)
Slbsiam aide!1tificao dos terontos mcrnenlos
de das peas liticas. Na folO abaixo,
f'emmoolas lticas ooIetacias no Alto Paran.
ACERVO
,
o material coletado nessas pesqui
sas foi analisado, em uma primeira
etapa, no Projeto Anlise do acervo
arqueolgico coletndo em escavaes
realizadas no plancie de inundao
do Alto Paran, MS (Convnio: Fun
dao de Apoio ao Desenvolvimento
do Ensino, Cincia e Tecnologia do
Estado de Mato Grosso do Sul -
FUNDECT/llCDB nO 005/(0). O acervo
analisado totalizou 17.053 peas,
considerando-se sua distribuio es
pacial e insero estratigrfica, visan
do a contribuir para a caracterizao
dos horizontes culturais pretritos que
se sucederZlffi na rea.
I
.
MONITORAMENTO ARQUEOLOGICO
.
DO RESERVATORIO
Aps a formao do reservatrio da UHESM, novas reas passaram a
ser ercx:lklas pela ao das suas guas. Considerando-se a necessidade de
realizao do monitoramento arqueolgico para mitigar esses impactos
erosivos sobre sitios arqueolgicos locaJizados na faixa de depleo da
margem direita desse reservatrio foi firmado, em 4 de dezembro de 2003,
um novo contrato entre a CESP e a FAPEC, Dispensa de Ucitao
nO ASLiPM'985i2003 (Portaria IPHAN nO 131, de 6 de abril de 2004).
No mbito dessa pesquisa de mitigao de impactos sobre o
patTi mnio a rqueolgico local, ameaado pelos processos erosivos pro
vocados pelo reservatrio, pretende-se ampli ar o conhecimento sobre o
o mapa ilustra ainsero espacial dos
perfi( das ocupaes humanas pretritas no Alto Paran. Dessa forma,
rxoj etos de pesquisa arqueolgica aq.i
enfocados. Durante omonitttamenlo
realizaram-se: a vistoria mensal da margem do reservatrio, para O re
arqueolgicodo reservatOrioda UHESM foi
conhecimento das caractersticas paisagsticas atuais da rea do en klcalizado 1msiflO al entodesadleciOO:
Rmeiro auiteri 7, de onde se destaca
torno desse lago, e a mensurao dos processos erosivos; a identifica
(IoII) -oultb"ode 2004) aevideociaode una
o e o registro de stios arqueolgicos; a escavao de oito stios ar
tmacermica sOO ll"ocesso erosivo.
queolgicos passveis de impacto
Projetos de Pesquisa Arqueolgica
pela oscilao do nvel do reserva
no Alto Paran
trio: a anlise, em laboratrio, das
peas arqueol gicas; e o
processamento de da tao de
N
de carvo j coLetadas
nessa pesquisa. As peas e dados
obtidos contriburam para a am
do conhecimento cientfi
co acerca das respectivas OCupa
es das quais so teste munhas.
ws
'"
'"
--_..
--,
... ...
19
I.
Instalao da kbulao do gasod.lkl
na miYgem (eita do Alto Pnn
[fOO> rina 1998).
Aps essainstalao, atWJIao
foi l<vJada sob essecanal eseguiu pela sua
margem esquerda em 4eoa Soo PaaIciSP.
Nas proxmdades dessa hvessia, onde seria
instalado o~ e da obra. a escavao
aqueok':9ca 00 sitio CI'I'ego Moeda 1,
lrna aldeia T n i (foto ao laOO oob.b'o de
1997), datada Bmeca de 700 anos.
20
PROJETO GASODUTO BOLvIA-BRASIL
o rio Paran, e m Trs Lagoas, foi seccionado pela instalao do
Gasoduto Bolvia-Brasil. Os trabal hos de mitigao de impactos ao longo
desse empreendimento possibilitaram a localizao e escavao de stios
arqueolgicos na rea da UHfSM, Alto Paran, ampliando o conheci
mento acerca das ocupaes pretritas do ambiente ribeirinho regional .
A pesquisa dessa fa ixa do gasoduto que seccionou Mato Grosso do
Sul em sentido oeste-leste, transversal ao rio Paran, proporcionou um
diagnstico das fronleiras culturais dos povos ceramistas do Alto Paran:
marcante nos terraos fluviais de Trs Lagoas e ausente, oeste, nos
solos arenosos de gua Clara e Ribas do Rio Pardo.
PESQUIW AO SUL DA REA DO PROJfJO PORTO
PRIMAVERA: LEVANTAMENTO ARQUEOLGICO
Aps a formao do reselVatrio da UHESM, Osegmento de cerca de
250 km do rio Paran , situado entre essa barragem e a UHE Itaipu, cons
titui o nico trecho no represado e, portanto, passvel de futuros estudos
do complexo paisagstico e arqueolgico do Alto Paran. Dessa forma,
nesse segmento no represado do rio Paran, desenvolvem-se novos pro
jetos de pesquisa apoiados pela FUNDECT e pelo Conselho NacionaJ de
Desenvolvimento CientfICO e Tecnolgico (CNPq).
o projeto Arqueologia da paisagem
das v rzeas dos rios Ivinhema e Paran:
registro e preservao do patrimnio
cultural, desenvolvido no perodo de
2002 a 2004, Convnio FUNDECTCNPq/
L: CDB nO 015/02 (portaria IPHAN nO 90,
de 14 de maio de 2002) visou correla
cionar a paisagem e o patrimnio ar
queolgico. Os stios foram contextuali
zados. espacialmente, a partir da ela
borao de um Siste ma de Informaes
Geogrficas (sIGl , por Ayr
Salles. Os dados obtidos e a localiza
o de 26 stios arqueolgicos na rea
subsi diaram li prod uo de mapas
,emiticos e publicaes dirigidas, em
especiaL comunidade de Porto Caiu
E' ao Parque Estadual das Vrzeas do
, ..
. '::nnema.
o rio !vinhema flui sinuoso nas vrzeas
do seu baixo cuso(10\0 - setrotrode 2003)
Aimagemde satlite ooaixo(TM lANOSAT1
RGB 543 -llOYembrode 1999). mostra o
segnento<;b Alio Pnn no rep"esado. desde
a barragem da UHESM. at a Ilha Grande;
os sltios arQJecl9cos esto assinalaoos
can crculos <marelos (Olicos) ou rosados
restacaseatI"ea 00
Parque Estadual dasVi!rn3as 00 Ivin1'lema
delinilada pela liIlha arna-ela.
Dilogo com mcraOO-es de Pockl Gau, habitar.tes
atuaisdo sitioa-queol9co guaoni
Rio Ivinhema 1, durante a das
escavaes cientficas (lotos -janero de 2005).
Ref\etilrSe acerca 00s cOjetivos, e
s;gr;TIcadoo doo""""'_.
IaiSCOOlO o9!!jUl<rneokl h\JllaOO em !.ma
teImica. visto na I0Io maU.
ESCAVAES ARQUEOLGICAS
NO BAIXO IVINHEMA
A anlise desses stios arqueolgicos localizados nas vrzeas dos rios
Ivinhema e Paran est sendo realizada por meio do projeto Conhecendo
e Preservando o Patrimnio Arqueolgico Local: Escavaes de S tios no
Contexto das Vrzeas do Rio Juinhema, em desenvolvimento no perodo
agosto de 2004 a junho de 2006
(Termo de Outorga nO 41/100073/
2004, firmado entre a FUNDECTI
CNPq e a UCOB) . Esse projeto abran
ge atividades de escavao ar
queolgica e de educao patrimo
nial no mbito do Parque Estadual
das Vrzeas do Ivinhema e, em es
pecial, na comunidade de Porto
Caiu, municpio de Navira , a qual
est implantada sobre o s tio
arqueolgio Ri o lvinhema I , teste
munho de uma aldeja guarani pre
trita.
22
CONTINUIDADE DAS PESQUISAS
NO ALTO PARAN
As ocupaes de povos Guarani e de antigos caadores-catetores
produtores de pontas lticas nas margens das lagoas e afluentes do rio
lvinhema esto sendo pesquisadas no mbito do pTOjeto Escavao Ar
queolgica do sitio Rio Baa 1: contribuiao anlise dos horizontes pr
cermicos e guarani da margem direita do alto rio Pamn (Processo CNPq
40222412004-3).
Assim, as resultados obtidos nos proje
tos de pesquisa reiro-referenciados subsi
diam a realizao do projeto integrado de
pesquisa intitulado A rqueologia do alto cur
sodorioParan, MS, enire4.OCIOanosAP.
e o sculo XVlJ: arte/atos e cen6rios cu/tu
rum (processo CNPq' 35024712003-0). Es
to sendo analisados todos os arlefatos
coietados na rea, correlacionando
!ernotiJX)logia e cronologia de ocupao
pretrita regional. Com a continuidade dos
nabalhos, amplia-se o banco de dados que
possibilita descortinar os distintos horizon
:es allturais arqueolgicos do Alto Paran.
No Pfoielo Inm,adode Pesquisas do Alto PIiIil
eWlora-se uma sntese acerca 00s hcrizootes
arqueok'lgicos da rea, considefaoOO-se seus
ambientes ao norte (magem abaixo) e ao sul
(menor. abaixo) doro Pardo em agosto de 199{);
suas de caaOOres-coIela'es
pescadcres, de pontas edos
T (1oID da vasj\l C8"mica 00 slllo
Rberio QuiterOi 1 -maro de 1998). Apesquisa
reb"oalimentada pela escavao do stio Rio Baia 1
(foto da !rinchara 1 - abril de 2005).
,.
- >
-~ . "
-
,
..
Do Alto Paran
outrora ecoavam os sons
dos peixes na piracema.
Suas frteis vrzeas, com
abundncia de vegetais, animais,
cascalheiras e argila, atraram
vrias populaes humanas.
PAISAGEM E
ARQUEOLOGIA
I"
Aps muitos milhes de anos de transformaes
geoambientais, o Alto Paran passou a
acolher, pelo menos desde cerca de 6 mil anos
passados, culturas diferenciadas cujas tcnicas
e prticas interagiram com a tipologia e a
disponibilidade de recursos naturais.
o rio Paran situa-se no centro de uma estrutura geol6gica, formada
h mais de 400 milhes de nos, denOminada Bacia Sedimentar do
Paran, que ocupa uma rea de 1,6 milho de km
2
, representada no
mapa ao lado. Alm de uma extensa rea de Mato Grosso do Sul e ou
tros estados do Centro-Oeste, partes dos estados do Sudeste e Sul brasi
leiro, parte da Argentina, Paraguai e Uruguai situam-se nesta Bacia.
Vrios eventos geolgicos ocorridos no decorrer da histria geolgica
cenozica dessa Bacia, aheraram o -traado origina l do rio Paran. O
-"-...
Sedimentar do
eoLivIil
atual eixo desse rio foi definido no final da &a Mesozica
h mais de 65 milhes de anos), em conseqncia de
soergui mento dos a rcos marginais a essa bacia, vistos no
mesmo mapa, segundo Petri e Flfaro (1983).
Assim, hoje o rio Paran estende-se por cel"Cll de 3.780 km
00 sentido meridional da Amrica do Sul. Com seus afluentes,
compe uma bacia hidrogrfica que drena uma superfcie de
aproximadamente 2,8 milhes de kJn2, desde o Brasil at sua
desembocadm" no Rio de la Plata (AIgentina) .
Os sedi mentos depositados desde mais de 400 milhes de
a..'lOS atrs na Bacia do Paran sofreram litificao, isto ,
:oram transformados em rochas que hoje afloram nas bor
-:as leste e oeste dessa estrutura geolgica. Na maior parte
Bacia, as rochas mais antigas acham-se recobertas
?E".\a;; rochas formadas posteriormente.
Durante a Era Mesozica areias finas transportadas e de
;:x::Stadas pelo vento em a mbiente desrtico foram consoli dadas em
!....:'::os (Formao Botucatu) . Superpostas a esses depsitos, no decor
7': dos perodos Jurss ico e Cretceo dessa Era, ocorreram efuses de
.ii!!!".'aS vulcnicas, predominantemente baslticas, intercaladas por lentes
:Ji? a renitos. que constituem o conjunto de rochas denorrunado Forma
;o Serra Geral. O Alto Paran atualmente flui em grande extenso so
Ore essas rochas produzidas por sucessivos derrames que, em Presidente
SP. alcanaram 1.5 km de espessura total.
9!lciI!I do Parami na gedica
de Pelri e Flfllro (1983). A parsagem 00
Alto Pari'm marcacla pelo
an1rpico produzido UHESM
a agll;l!leCu!lr:a Implicou a Iellrada da floresta
e do cenado, remanescentes apenils em
alguns fragmentos resldulls {vistos na
Imagem de s<illrte cedida pela CESP)
27
AS FONTES DE MATRIA-PRIMA
LTICA EAS CORREDEIRAS PISCOSAS
ARENITOS SIUCIFICADOS
Atkramentos deaoohslrrcificados associaOOs
(Martins, 2(03) e da Serra de Botucalu (Morais,
1983), respectivamente nas ocidental e
aieI1aI da Bacia00 PIal,fcm'I ulizad:Jscano
fontes de matrias-pTna para a confeco de
(Jotoaoladc) coIetadonositioCOOeglProsa 1.
CRISTAIS
No inicio do scuJo XVII, a expectativa de que
ais1alsooq.a1zoeocoob"ados oobasalloJossun
preciosos. motivou afundaode Rica do
Espritu Santo (Cardozo, 1970). Assin como os
arenitos si licificados associados aobasalto, os
aistais de qJlrtz:o toolm faan pelos
povos pretritos. Uma amelista lascada para
eo:::aIxe (foto ao 1aOO,moo:r), SlIQ8rind'J hl!<w"-se
de adano. 101 localizada em solo de ocupao
Guarani da magem direita do rio Baa (sioo
arqueOOgco Rio Baa 1).
Expostas pelos processos de monognese, ou seja, eroso das super
fcies pelo escoamento das guas, atualmente as rochas da Formao
Serra Geral (basaltos e mmilos silkinmdos) afloram ao longo de alguns
afluentes de grande porte do Alto Paran, assim como nas cuestas e mor
ros-testemunho das bordas ocidenml e oriental dessa Bacia. Associados
ao basalto, localmente ocorrem cri$lrli'-i de rocha (quartzo).
Durante o Cretceo Superior (h cerca de 90 milhes de a nos atrs),
sobre as rochas da Formao Serra Geral, depositaram-se os sedimen
tos que foram denominados de Formao Caiu, compostos de arenitos
vermelho-arroxeados com estratificao cruzada. A Frm llilC'-H) Cdillr1 exibe
ampla distribuio espacial no entorno da calha do rio Paran, aflorando,
entre outros locais, no Pontal do Paranapanema.
FORMAAO CAlUA
Arenito CaiuaHorana maior parte da margem
esquerda 00 Alio Paran (foto -outwo de 1997).
Na margem reila 00 lrecl10 setentrional desse
00, aocx:rrocia desses a1Iaanenlos se
rea de inflexo do canal do Alto Paran
denominado Paredo das Araras - sd:fe o qual
se localiza ositio arqueol9coAlto Paran 12.
Esses locais, pela Iqxlgalia elevada de margm
evisibilidade do enlorno, dentre outros falores,
favoreceram ainstalaode aldeias pretritas
Guaani.
28
Posterio rmente, superposta For!l1ao Caiu, de positou-se a
Formao Santo Anastcio que, por sua vez, foi recoberta pela Forn"lao
VISta do Alio Pa-an rbtida aparti" da superlcie do
Adamantina. Segundo a SEPLAI'I (1990), a Formao Santo Anastcio
Paredo das haras, na rea do sitio a-queolgico
Alto Paran 12, antes da forrnaic do reservatrio
composta, na base, por arenito predominantemente fino, de tonalidades
da UHESM'(foto menor - maio de 1994}.
Na margem oposta, confOOne observa-se
cinza-pardo, vermelho-arroxeado ou creme. Por sua vez, a Formao
nessa foto, o ambiente devrzee. da Lagoa
Adamantina se distingue por constituir arenitos finos a mdios, com So Poolo edo canal do rio Paran.
Ao norte dessa rea, as irlnexes 1'10 nado
tonalidades entre cinza-rseas e amarelo-esbranquiados.
donoVerde apresenlavam caredei"as,
cano a VJSfa na foIo abaixo. Otflla manh fria
Os afloramentos das Formaes Caiu, Santo Anastcio e de maiode 1999; IleSSamagemda c:orredei'a,
:\damantina restringem-se, [la vertente ocidentaJ do Alto Paran, a alguns
Rio Verde 15.
dos divisores dos rios Ivinhema/
?ardo e PardoNerde. A maioria
das superfcies do Alto Paran
caracteri za-se pelas amplas
coberturas coluviais cenozicas,
ruretamente relacionadas com a
?doge nizao desses subs
llilt OS. arenticos ou baslticos,
bem como coberturas colvio
cluviais ou aluviais deJXlSitadas
mdias vertentes ou fundos
ce vale.
29
Ao lado, futo area do rio PafCm em 1979 na rea
da Ilha Bandeirantes. Observava-se, direita, a
foz do riodo Peixe, entoC2faClerizado pelo
traado sinuoso no ambiente de vrzeas; ao sul
dessa ilha, o rio Pararl fazia uma infiexo, em
cuja margem direrta se localizava ostio
arqueolgico 3 - BR3 (nwcado com
cJwlo). Oa1krnmenlo deconglomerado de
seixos ecalhaus desse stiovislo, em detalhe,
na foloacrna (em oulubrode 1997).
PONTOS DE
ESTRANGUlAMENTOfESTREITAMENTO
Nos pontos de esreilamento, as margens fiLNi
ais arem elevadas efavereci=m desenvoI
vrnento de solos estruturaOOs, asstn como JXO
moviam proteo coofra inundaes, propicia
vam visllilidade do entcmo e facilitavam
embarque e flLNi aL Em muitos
casos, wredeiras ftllVlais ai famadascoosti1ui
anlocais pnapesca e, poctanlo, JXeferenciais
p<WCl es\abelecimentos hllmanos do passado.
Antes da. forrnas:o do reservalirio da UHESM,
i
S<be os stios arqJeoIgioos a coos:tiludos en
bebEdxrosde gril, epal
Ies, renlreourns eficaes.
Aexistncia de ilhas lan1Jm facilitava o des1o
camento e a travessia ftLNiaJ.
30
A Era Cenozica tambm se caracterizou por complexos eventos
tednicos, que ento se sucederam na Bacia Sedimentar do Paran e
produziram a escavao do canal do rio Paran, e ntre Guara e Foz do
19uau. Estruturas geolgicas como falhamentos determinaram a
configurao da hidrografia e a geomorfologia do alto e mdio rio Paran.
A maior parte dos grandes afluentes do rio Paran se encaixou em
alinhamentos tectnicos como Paranapane ma, Tiet, Arax-Rio Grande
e So Jer ni mo Curiva
(FLFARO et ai., 1982).
No segmento setentrional
do Alto Pa ra n, especia l
mente entre Santa Rita do
Pardo e Trs lagoas, houve
um a umento no e ncaixa
mento do canal, com incre
mento de inflexes bruscas
no traado fl uvia l, deno
minadas lX.mt de eslrangl.l
Ictlltellto/estreitt1ll\ento (node
points)_ No Alto Paran, o
maior deles era o das Sete
Quedas, que representava o
nvel de base regional.
Alm do est reita me nto e inflex o do canal , nos pontos d e
estrangulamento dos rios existiam, antes da formao do reservatrio da
UHESM, afloramentos de substratos rochosos e de conglomerados de seixos
ou cascalheiras sobreja ce ntes. Vrios desses locais apresentavam
ferramentas produzidas a partir do talhe de calhaus e seixos, por povos
do passado. Dessa forma, foram locais escolhidos para confeco desses
instrumentos junto s fontes de matria-prima.
Nesses pontos de estrangulamento fluvial, desembocavam afluentes
de grande porte do Alto Paran. Esses afluentes constituam um sistema
de vias de navegao e foram especialmente ocupados no passado.
Os complexos eventos tectnicos cenozicos geraram pontos de
inflexo na drenagem, desencadearam o soerguimento da Serra de
Maracaju e a conseqente compartimentao e escavao da drenagem.
Essa dinmica resultou na eroso de rochas baslticas e arenticas dos
afluentes. que originaram os depsitos de cascalho do ambien1e de calha
do rio Paran.
Na tna""gem oeste da ilha Ipa l f11:>a aflorava
basalto eocorria esmlanei1todo canal do rio
Paran, fato que apesca no kx:al. Os
nsnrnentos lticos fascacbs, encon!J'a())s neste
albarneflloe no SQIo da barranca pcm1i!i"am a
IIhagua Li"r1>3 1(foto maiode 1999).
31
o segnenlo doAno PcraJ, ii rrJOflIaIta de sua
con!luncia como rioParcto, era abLndante em
afk:mnentos de congkmera::ls de seixos e
calhaus. Nesses locais Ioobm se enconmam
stios arqJ8016gicos,testemunhos de atividades de
povos do passado, que se apropriaram dessas
matrias-pma p;n aconfecode ilsrunentos
<iJilrSOS pnatender s necessidades vitais de
corfa", raspar eIoo perfur.u.As rnosun os
sltios arqJeoI6!jcos Alio P<rn:1. 8(acna) e
AltoParan 11 (abaixo) emoolubrocle 1997.
Os depsitos de cascalho no canal do Alto Paran teriam sido
sedimentados em duas fases distintas, denominadas de geraes
quartztica e calcednica (FLfARO; SUGUIO, 1974), cujas idades precisas
a inda so ignoradas. Entretanto, supe,e-se que, em clima semi-rido, sob
um regime nuviaJ de alta energia, se formaram os
depsitos da "gerao quartztica" compostos
principalmente de blocos e seixos de quamito e
quartzo, oriundos do embasamento cristalino pr
cambri ano da borda oeste da Bacia do Paran.
Posteriormente, o soerguimenl0 da Serra de
Maracaju teria causado mudana das reas-fonte
de cascalhos para a calha do Alto Paran. fluxos
de a lta e ne rgia e nialha ram gra ndes vales e
iniciaram um novo ciclo deposicional de cascalhos.
Os a fluentes de substrato basltico devem ter
fornecido seixos de gata e calcednia, alm de
arenito silicificado e basalto calha do rio principal,
compondo a gerao calcednica. Esse cascalho
ta mb m inclui quartzo e quartzito oriundos do
retrabalhamenio da gerao quartztica.
Na rea da UHESM, Suguio e t a I. (1984)
registrara m dois nveis de cascalho associados
gerao quartztica: na base do terrao colvio
aluvial (cota mdia 245 m) e entre as cotas 237 e
245 m. A gerao calcednica foi identificada na
base do terrao a luvial e na plancie a l u v i a ~ e m cota
mdia de 235 m.
PERODO QUATERNRIO E
~
TRANSFORMAOES NA PAISAGEM
No decorrer da poca pleistocnica do Perodo Quaternrio, ou seja,
durante os ltimos 1,8 millio de anos, ocorreram vrios perodos glaci
ais, com diversos intervalos de paleoclimas semi-ridos a ridos, princi
palmente no Herrsfrio Norte, que repercutiram na dinmica da paisa
gem, mesmo em locais sem glaciaes, como o Alto Paran.
De uma maneira geral, as alteraes paleoclimticas para as condi
es semi-ridas produziram estados de desequilbrio bioclimtico, re
sultando em diminuio da cobertura vegetal e incremento do
intemperismo fsico dos solos e das rochas. Nos paieodimas chuvosos, o
escoamento concentrado sobre solos resseC<l dos originou depsitos de
cascalho nos leitos fluviais. Intercalados aos estdios glaciais ocorreram
interglaciais, quando paleoclimas mais quentes e midos propiciaram a
formao de solos com maior desenvolvimento de cobertura vegetal e de
fauna .
Essas iransfonnaes na cobertura vegetal, bem como na monognese
e evoluo dos depsitos sedimentares do rio Paran, especialmente na
rea de Parlo Rico (PR) , foram interpretadas por Stevaux et alo (1997),
como descreve-se a seguir.
No le ito do rio Paran existe um pacote sedimentar com at 30 m de
espessura, cujas idades ultrapassam 40.000 anos AP. Nas plancies de
inundao, mais recentes, as espessuras dos depsitos so inferiores a
10m.
No final do PLe istoceno, os autores leriam
identificado, no Alto Paran, paleoclimas ridos
a semi-ridos entre 23.540 2.240 anos A.P e
41. 680 4.880 anos A.?, segundo idades
obtidas na seo basaJ de lagoas.
Os paleoclimas ridos a semi-ridos do
Ple istoceno teriam propiciado intensa
coluviao, formando O terrao colvio*aluvial
denominado, por Stevaux (1993), Unidade
Taquaruu. At o momento, no Coram encon
trados vestgios humanos neste perooo de ari
dez no Alto Paran.
A extensa plancie do Alto Paran foi for
mada pela expanso do vale deste rio para a
TERRAO
COLVIO-ALUVlAl
Terrao co!PJiO.-aIuvia! da rocrgem <hila ooAlto
Paran, $I6!PlOO Suguio et aI. (19M), que se
situa fera da <Tea de inundao 00sse rio. Grande
parte! desses terraos, q-mndo tangenciaebs por
canais fluviais, cemo no sUio arqueolgico Rio
Maacai 1(foto-janeiode2003), /a'an habitacbs
per povos GU<rcIni cerarstas que aI vftleran
desde cerca de 1.000 anos atrs.
o mapa ao lado representa
os dilffenles nveis de mao
da IT\argerJl ela00 Alio Paran,
no segnenlo no repesado
dapi9la21): desde avzea
(Unidade Rio Paan), Ienao
coIiMo-akJviaI (lkIde
Fazenda Boa VISta) etetrao
fXedcrnl nantemente cokNial
(lKtidade Taquaruu), seg..n:Io a
denominao de Stevaux (1993).
TERRAO ESTRUTURAL
COI'l"'f'9 rekNocan suavecai"Tal1o lUTlO ao 00
ParaM, onde fama barranco elevado em mais
de 20 mem relao ao leito fllNial (foto abaixo:
sitioarqueolgico guarani na margem esqueroo.
do Alto Paran em 2004). Nesses terraos
estnJttnls bam localizaOOs numerosos sitias
arqueolgicos, vanos deles testemunhando
antigas aldeias de povos Guarani ceramistas.
Esse Ietrao lkMaI elevado tmacooslituiOOlocaI
favorvel inslalao de povos indigenas,
rK>IactmenIe 00 (ti-nomilnil.
IV LiKIi<e do v..".. do
--
fIooIVIsIa_ ,
....
---
_'o
_ TOQ>X\It>Bam>
_ _ Jt>:o
Km
sua margem direita, depositando sedimentos aluviais. Outros eventos
marcantes desse rio foram a mudana de seu cana) em direo oposta,
encaixando-se no Arenito dos atuais estados de So Paulo e Paran
(denominado terrao estrutural ou, segundo Stevaux (1993), Unidade
Porto Hill). Na margem direita do grande rio, os depsitos colvio-aluviais
exibem espessuras ent re 15 e 20 m e formaram a Unidade Fazenda Boa
Vista.
' ..
.
.. __ .. ____ .a, __,.
3-1
TIMO CLIMTICO E
POVOAMENTO HUMANO DA REGIAO
Desde cerca de l O.CXX) anos passados, quando terminou O ltimo es
tdio glacia.l do Hemisfrio Norle, ocorreu me lhoria das condies
paleoambientais, as quais atingiram o seu pice h cerca de 5.000 a
6.()(X) anos passados, constituindo o denominado Estgio Hipsitrmico
ou o timo Climtico.
Essas novas condies paleoambientais no Alto Paran, de expanso
da cobertura vegetal, foram registradas pela produo de turfa e areia
orgnica, datadas de 4.870 100 anos A P. por radiocarbono e conten
do abW1dantes palinomorfos, segundo Stevaux et alo (1997). Segundo
esses autores. nesse ambiente teriam ocorrido a reativao dos canais e
a construo do terrao denominado Unidade Fazenda Boa Vista, locali
zado entre as vrzeas do rio Paran e a Unidade Taquaruu.
A borda elevada desse terrao colvio-aluvial marginal s vrzeas
denominada subunidade Fazenda Boa Vasta Alta, que no inundveL e
acha-se coberta pela vegetao arbrea. composta de cerca de 10 m de
espessura de areia mdia a fi na, com aparncia homognea, que foi as
sociada por Stevaux a retrnbalharnento elico.
TERRAOS
FAZENDA BOA VISTA ALTA
ASlbunidade Fazenda Boa VISta Alta constirula
uma feio gecmorfolgica preferencial pa:a a
das _cheias excepcionais.Aexistncia 00canal ........."""..""'-
nuvial q.Je Iangencia essa ~ f k i e atena aos
mltpbs lISOS cotidianos. Tal falo ccmprovado
pela localizaode sltios arqueolgicos nesse
tipo de relevo, por exemplo, no si tio ClTego
Mm 1(foto abaixo outItrode 2002).
35
II
H cerca de 6.000 anos. durante o Os incrementos da temperatura e da umidade propiciaram a in1ensi
timo Cli mti co. as condies
ficao da pedogoese e a expanso da cobertura vegetal e da fauna,
paleoambienlais favoreceram a expanso
da frora e da fauna. em conjuno com a
aumentando os recursos a limentares. Assim, durante o timo Cli mtico,
presena de populaes de caador es
O Alto Paran tornou-se,
corelores-pescadores no Alio Parana.
A foto acima (em setembro de 2003)
2 lem o naturalmente, mais favo
ilustra a vegetao aluai das varzeas do
rio Ivinhema .
rvel expanso de gru
pos de caadores-coleto
dreit:l tm-6e 1oIod:! ponlas de I e i s
res, fato que compro
pr-hlslricos. M peas kmn coIetadas na rea vado pelos dados obti
da foz do r'o Ivinhema paO1O!dor local.
-""'-"""""""'"
dos nas escavaes dos
stios arqueolgicos. H
6. 000 anos passados
populaes caadoras
coletoras-pescadoras
ocuparam as bordas dos
terraos estruturais, dos
colvio-aluviais e dos
a luviais , tangenciadas
pelos cursos fluviais .
36
Posteriormente, entre 3.500 e 1. 500 anos A P. , teriam prevalecido con
dies paleoclirnticas semi- ridas no Alto Paran, segundo Stevaux et
aL (1997). Essa fase seca est3ria testemunhada pelas cactceas associa
das vegetao de floresta da. margem do rio Paran (JABUR, 1992). A
presena humana continuou nessa rea, conforme se observa nos stios
a rqueolgicos.
Segundo Steva ux et aI. (1997) , por volta de 2.000 anos atrs definiu
se o le ito a lua i do rio Paran, embutido nos paredes de arenito da sua
margem esquerda e, assim, abandonando canais da plancie de inunda
o, tais como o rio Baa, e originando vrias lagoas na vrzea.
Re tra ba lhados pe la di n mica fl uvia l dos ltimos milnios, os
paieoambientes de vrzea e do canal do rio Paran compem a denomi
nada Unidade Rio Paran (STEVAUX, l 993). Nveis de areia e de cascalho
com espessura de at 15 m, presentes no canal desse rio, em suas ilhas e
barras, integram os "depsitos de leito" segundo Suguio et al. (1984).
As vrzeas fora m divididas e m a ltas ou ba ixas, a ladas respecti
vamente a 4,0 e 1,5 m acima do nvel normal das guas. Inundvel nas
cheias a nuais, a vrzea ba ixa aprese nta cicatrizes de pateoilhas e
paleocanais. Parte dos paleocanais foi reocupada por leitos fluviais ou
lacustres aluais.
PAlEOIlHAS
Ps paleoilhas e os diques marginais so formas
de relevoque se destacam na planlcie doAlto
Paan, pois somas elevados. Issopossililila
o crescimento de vegetao arbrea e, no
passado, favcrecia os acampamentos ht.manos,
como se observa pela presena de sltios
arqueolgicos nessas formas de relevo,
e1a!Pas..Abaixo (foto -oullio de 2002), t.m 00s
canaisdo Baixo Ivinhema.
37
ostio an:peolgico Alto Paran 5situava-se
9 A
'"
FSZ o
"" .
'" .
"" .
+
.#
+
+
+
SiTIO ALTO PARAN 5 - AP5
X9!I.11
PONTOS COTADOS
v ARZEA
..... TRINCHEIRAS
REA DE COLETA
I I I I
SISTEMTICA DE SUPERFlc l E
<
A Unidade Rio Paran, segundo Stevaux et a1. (1997), composta,
na base, JX>r depsito fluvial de alta energia ("cascalho polimtico areno
so", com intercalaes de areias mdias a grossas e blocos de cascalho
limonitizados ressedimentados). Posteriormente, sob fluxo de menor ener
gia, depositou-se "are ia estratificada e seixosa", tanto no canal quanto
na pldncie de inundao e, em superposio "lama arenosa", cuja
base foi datada em 4.250 anos A. p.
Os vestgios arqueolgicos so e ncontrados, e m grande parte, nas
camadas arenosas que depois se superpuseram lama arenosa. Isso su
gere a intensificao do povoamento do Alto Paran a pariir do 6 ti mo
Climtico.
Situados nas margens contguas aos canais fluviais, os diques margi
nais possuem elevao topogrfica mais acentuada, advinda de deposi
o dCl frao mais grossa dos sedimen10s transJX>rtados em suspenso
nas guas das cheias, bem como pelo perfil topogrfico assimtrico, uma
vez que as fraes mais finas, .transportadas pelas cheias, decantam no
Limite entre plancie e terrao, com declividade suave e paralela face
abrupta desse dique no seu contato com O canal fluvial. Os segmentos
mais elevados dos diques foram muitas vezes ocupados pelas popula
es do passado.
EQUIDISTNCIA DAS CURVAS DE NVEL. 0,5 m
DATUM HORIZONTAL SAD-S9
OATUM VERTICAl ARBITRRIO
MAURO ISSAMU ISHIKAWA I UNESP
FEVEREIRO DE 1998
no dique marginal do Alto Paran, ao lado da fCfl
do ribeJo Quiteri (foto -Ieverero de 1998).
Atopogafia de detalhe desse stio (carta
topogica ao lado) permite a visualizao da
declividade do t9fTeno, da lTKV"g I11 at avrzea
no il\eria"do terrao HuviaI. Os vestgios
de caves desse sro siIumn
adata de ocupao htmana do local h
cerca de 1.500 anos.
38
Dessa forma, desde cerca de 1.500 anos atrs,
estabelecera m-se as condies paleoambienlais
quentes e midas que se estendem at a atualidade
no Alto Paran, conforme se observa pelo incre
mento de matria orgnica nos depsitos
sedimentares. Esse paleoambiente quente e mido
proporcionou o desenvolvimento de solos e as ex
panses da Floresta Estacional Semidecidual aluvial
e das faunas.
Com os recursos naturais caracterizados por
solos bem desenvolvidos e abundncia de fl ora e
fauna, h cerca de 1.200 anos os povos agriculto
res ceramistas, principalmente os T upiguarani, se
tomaram hegemnicos na rea, ocupando terra
os e diques marginais, onde antes se estabeleciam
os caadores-coletores.
As dataes obtidas indicam esse povoamento
Tupiguarani no intervalo entre 1.600 200 anos
A.p. (falec-259, stio Brasilndia 11, situado na
margem do rio Paran) e 240 30 anos AR (Gif
10038, stio Bataguau 4, loc.alizado na margem
do rio Pardo). Vrios desses stios apresentam a terra preta antroJX>9nica,
originada da matria orgnica de reas de habitao elou de descarte
dos T upiguarani.
Aescavao da hinchef'a 1
Rio Baa 1, ale 1.80mdeprofuncid<Kle, penni!e
vistaz<I' acamada de terra prela
GoY3ni nos 0,20 m do solo (rolo acina
. abril da 2005). Nessa camada marcada pelos
vestgioscrgnicos, eoc::ooIla'n-senumerosos
tagnentos de ca<lmica. As camadas Sliljacentes.
armveJadas, correspondem adepsitos
sedinenlares antaKres, cabend>se destacw que
nofoododa trilchei'a, a1,80 mdeprofooddade,
etX:OOtan-se nsrunentos, tais como pontas
que testeroort.am a eiIs!ncia
caaOO'es--coIeIaes.pescacbes neste local.
A loto ao lado t.ma urnaoornica guarani
coIeL1d:l no sitio Rio fvinhema 1.
39
oAMBIENTE RECENTE
Nos 4O km do seu alto curso, o rio Paran exibe uma bacia de super
fcie suavemen1e inclinada rumo ao canal principal, passando na sua
vertente esquerda de 700 para 270 m de altitude, em virtude do processo
de epirognese positiva 'atuante nas bordas dessa bacia. A drenagem
dos afluentes principais, adaptada a essa inclinao das camadas, pos
sui padro semiparalelo, dissecando as formas de relevo.
Na margem direita do rio Paran, no Estado de Mato Grosso do Sul,
predominavam, antes da formao da UHESM, extensos terraos fluviais
que alcanavam 12 km de largura, compostos de solos "Glei", aluviais e
Areias Quartzosas. Rumo ao alto curso dos afluentes, predominam os
la1osso1os.
o Alto Paran situa-se na transio de dois ecossistemas hoje bas
tante alterados pela agropecuria: o setentrional da Floresta Estacional
Semidecidual e o meridional dos Cerrados, O traado do rio Pardo, afluen
te do rio Paran na latitude de 2130", constitui o limite aproximado
desses dois ecossistemas.
Cabe destacar que antes da formao do reservatrio da UHESM, este
era tambm o limite do rio Paran com traados diferenciados, Ao norte
da foz do rio Pardo, o canal do rio Paran possua inflexes bruscas e
maior encaixamento caracterizado por margens elevadas com mais de 5
m em relao ao leito fluvial e os afluentes possuam grande JX'rle. Nesse
Aloto ao lado (em oubbode 199n ilusta O terrao
elevactJ na margem dreila do Ano Paran, ao nort2
de sua coolkJncia COOl orio PMOO. Os
cffiiJricooda ClCl4DoTuP9Jarani OOpassado.
encontacbs noaltodesse Iefrao, pemUam
(Sitio Alto ParanB).
., 7
as,.
segmento, antes da expanso da agropecuria, a Floresta Estacionai
Semidecidual aluvial do rio Paran dava lugar cobertura de Cerrado,
em clima regional controlado predominantemente pela posio da Zona
de Convergncia IntertropicaL A extenso setentrional desse segmento
era habitada, at o sculo Xlx., pelos ndios Kayap do Sul.
o leito do Alto Paran ao norte da conflu ncia com o rio Pardo era
encaixado, navegvel e com jazidas de argUa, fa tos que favoreceram as
atividades econmicas da rea no sculo xx. A a tividade oleira de cer
mica vermelha, combinada pesca e ao transporte, foi essencial para o
desenvolvimento das localidades sul-mato-grossenses de Porto Joo Andr
e, na f02 do rio Pardo, de Porto XV de Novembro. Com a iminente inun
dao dos a mbientes ribeirinhos pelo reselVatrio da UHESM, as popula
es dessas localidades foram transferidas para novos centros urbanos,
construdos pela CESP no terrao caiuvia\.
Ao sul de sua confluncia com o rio Pardo, a vegetao das margens
do rio Para n passava gradualmente de Cerrado para Roresta Estaciona]
Semidecidual, com clima marcado pelo predoITnio de massas de ar tro
picais e polares.
Nesse tTecho, antes da formao do reservatrio da UHESM, esse seg
mento do rio Paran apresentava traado mais retilneo e menos encai
/J.I) sul da conftuncia com orio Pardo,
amargem ~ e i t a do rio Paran era pouco elevada.
Na foto (em outubrode 1997), o sitioa-queoIgico
Alto Paran 5. com rrwgens baixas e
"'-
.1
As margens 00 AJIo Pnn roonlanle de sua
conlluncia cml orio Verd&, no roram iloodadas
pela formao<*) reservatrio da lJI-ESM.
Entretanto. a elevao 00 nvel das guas acelerou
aeroso das margens, num processo qJe
lagoas 1) e tambm CXIJ1)I'omete a sdlrevivncia
da '!'4)OOenIe figJeia, remanescentevegeCaI hoje
rB"O no Alto Paran (foto ao lado -feverero de
2(05). Cem aeroso dos sltios. omaterial
nasmayeose no leito
IwiaI e, muitas vezes, ac<t>a sendo
aclIentarnenle re!i'acbd.rar\E! aiMmdes de
explorao de areia e cascallo
(foto abaixo -maio de 2005).
EROSO DAS MARGENS
f.s variaes de nvel das guas do Alto Paran
provocam a eroso laleral das margens e a
ISluiode stios
si tuados nesses locais. Este processo
na aIuaIidade, pebcEsmal<mento
fl lNial das barragens mplanladas no Alto Paran.
xado, com maxgens mais baixas e, portanto, mais sujeitas s inundaes
peridicas; os anuentes eram de me nor porte. Essas caractersticas
geomorfolgicas favorecem, a lualmente, a eroso das margens des
matadas; no passado, influram no
padro de ocupao pretrita des
sa rea, inicialmente pelos caado
res-colelores-pescadores e pos1e
riormente pelos Guarani.
Na ma rgem esque rda, o Alto
Paran possua te rraos alados
com mais de 20 m de altura em rela
oao nvel das guas anterior for
mao do reservatrio da UHESM.
Esses terraos eram estruturados
sobre o Arenito Caiu, substrato
regional de la1ossol05 e podzis
que, a ntes da insta lao da
agroperuria, eram reooberlos pela
Floresta Estacionai Se midecidual,
sob condies climticas de zona
transicional de massas de ar pola
res e tropicais conforme denomina
o de Zavatini (1992).
A partir da dcada de 1950 hou
ve, no Alto Paran, intensa ativida
de porturia de escoamento de
madeiras nobres. Na margem
paranaense do Alto Paran, locali
dades como Porto So Jos, ainda
serve m para a travessia fl uvial, a pesar das pontes construdas sobre o rio
Paran ou sobre o aterro da UHESM.
A topografia elevada da margem esquerda do Alto Paran ravoreceu
o desenvolvimento de cidades paulistas como Paulicia, Panorama e Pre
sidente Epitcio, com atividades econrnicas ligadas indstria cerm.i
C3 (telha e tijolo), pesca e transporte de carga. O turismo s margens do
Alto Paran tambm propiciou a expanso de cidades corno Presidente
Epitcio e Porto Rico (PR) que, assim como os demais municpios
impactados pela construo do reservatrio da UHESM almejam ampliar
a tividades do turismo para incrementar o desenvolvimento local.
~ d a cininUo da piscosidade. oAlto
Paran continua alrnindo l'!'IOI"3<b-es ribemhos
ou Ilristas pa-a a alividade de pesca_ As lotos
(m1f,i llhO de 2005) itustam pescaOOrescortando
peixes na margem desserio m1 JUjH
(Trs Lagoas)e. abaixo, aconcentaode
MSlaS pescando na ponta norteda Ilha CorJllIida.
lJn 006 lOcais mcis p!SCosos 00 entorno,de&'onte
ao stioarquedOgicoAIIoPa'an40_
Desde, pelo menos, 6 mil anos,
caadores-coletores-pescadores
acamparam nas margens
do Alto Paran e h
1.500 anos a presena dos
agricultores-ceramistas
tomou-se hegemnica na rea.
oALTO PARAN
ARQUEOLGICO:
6 MIL ANOS DE
-""- .
-
-
POVOAMENTO HUMANO
DAS MARGENS DO
GRANDE RIO
- ~
" ..
'. .
---_../
A anlise dos vestgios arqueolgicos,
em conexo com as informaes da
etno-histria regional permite a
elaborao de interpretaes relativas
aos caadores-coletores-pescadores
e aos agricultores ceramistas do Alto Paran.
Quando a regio do Alto Paran recebeu os primeiros seres humanos
uma questo para a qual a cincia a inda no tem uma resposta precisa.
No entanto, pelos dados coletados pela Arqueologia, j possvellevan
tar algumas hipteses.
Partindo-se de uma anlise geogrfica/ambienta l, o Alto Paran pode
ser considerado um curso fluvial de envergadura continental. o segun
do maior rio do Brasil. e m extenso e volume hdrico: suas guas percor
rem o continente na direo norle-sul e banha os estados brasile iros de
,
l
f
I
Mato Grosso do Sul, So Paulo e Paran, e os
pases vizinhos Paraguai, Uruguai e Argen1ina,
desaguando no Oceano Atlntico, entre Buenos
Aires e Montevidu. O seu delta to extenso
que conhecido como Mar deI Plata.
Na rm:rgem ci"eita do AltlJ Paran
IocaIf2n-se osilio Elrasirlda 8
(loto -;..r!oo de 2005), pc6Sl.
enlreasr-ofundades de 1,40 e 1,SO m, tmaaila
densmde devesligios lticos lascados, os
ioduem viIias pontas de pr(:;les ldicativas 00
modo de vidl caad<:t-ooIelor.pescador qJe,
aps olino Climtico se estabeleceu no local.
As mudanas climticas dos ltimos
7.000 anos se renelir?in em variaes
de nivel domar. conlonne Suguio (l98:W4),
iluslradas nos !JIicOS abaixo:
oaunenlo da desse Estagio
Hipsit9mioo pode ser visualizaOO pelas
elevaes do nivel domar regisr.ldas
em __s localidades do litoral trasiei'tt
-;
ot ' _ _ N."'.M. __
7/$,6 6 S -4 .3 2 O
-, 1
1400' li P. . JQOOGOO.
ISlJGlJ!O o' 01.1 $1101
Conantla. SP
6.&65 .. 3 2 O
'dOllO I!. .P .
Santos. SP
ISVGU'O . 9r10J
claro que ta l configurao hK.lrogrfjca no
passaria despercebida pelas primeiras Levas hu
___ I IU'.M
manas migrat6rias que povoaram pioneiramen
3 2 o
!
te a Amrica do Sul em tempos pr-hist6ricos.
{ BA Idoot ano.
U,oART ' k .. ln91
A histria do uso cultural do Alto Paran ca
racterizou-o, sobretudo, como um siste ma virio de longa extenso, inte
grando o litoral com o interior do continente e vice-versa. O povoamento
do Alto Paran deve ser contextualizado no do Brasil Central, pois esse
rio perpassa, em seu alto curso, ambientes tropicais aos subtropicais.
Pesquisas arqueolgicas em Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Gois e Oeste Paulista sugerem que a presena. do homem no
Brasil Central projeta-se, pelo menos, ao final do Pleistoceno. No sitio ar
queolgicoSanta Elire, aproximadamente a 150 km ao noroeste de Cuiab,
os pesquisadores da misso Franco-Brasileira (VlALOU; VlALOU, 2005) re
gistraram vestfgios arqueolgicos com mais de 20.000 anos. Em Mato
Grosso do Sul, na rea da cabeceira do rio Sucuri, que desgua no rio
Paran nas proximidades da cidade de Trs Lagoas, arquelogos do Insti
tuto Anchietano de Pesquisas coI.etaram amostras de carves de urna fo
gueira arqueolgica datada em 10.480 70 anos A.P. (VERONEZE. 1987)
47
"
+
+ +
\ "00,., s10 P",ULO
p/<>Ma dG
pt. hl. lcidCQ
+
"
.'
.
/
+
00
"
"
.'
y v, J.','
seja, o sul-amaznico, OS Cerrados, a plancie do Alto
T" ,n
" . Paran e o PantanaL A Etno-histria regional e a Ar
"
queologia, ao observarem a diversidade de grupos ind
genas que existiram na regio, levantaram a perspectiva
de visualizao de diversos movimentos de grupos hu
manos, no tempo e no espao, adventcios e intra-re
gionais, os quais folj aram as culturas indgenas regis
tradas cientificamente pelos pesquisadores,
Como ponto de partida para a compreenso do pa
pel do I\1to Paran na questo da origem do homem na
Amrica do Sul, pode-se pens-lo corno uma das princi
pais rotas migrat6rias de caadores-coletores-pescado
res pr-histricos.
A origem, o perfil cultural e o fsico desses primei ros
lO ;lO
,.,
habitantes so algo para o quaJ a cincia arqueolgica
! I I I I
ainda busca respostas. Para que elas seja m obtidas,
necessrio o aprofunda me nto das
pesquisas, o que dever ocorrer nos
prximos anos.
As pri meiras abordagens cient
fi cas sobre a e1 rqueologia da Bacia
fora m realizadas
na dcada de 1970. Pesquisadores
da Universidade de So Paulo es
tuda ra m diversos pontos do rio
Para napanema, que contriburam,
de forma indireta, para a compre-
Os antigosespaos habitacionais dos
Tliguarani "os rios Paranapanerna e Pcwan
fc:ram pesq.lisaoos por (respectivamente
1984; 1978): a tigua abaixo MTiI as manchas de
terrn preta ENidencianOO vestgios de aldeia - stio
Lagoa So Paoo 1 , na margem 00 rteria
lITIitScefmicas nosmoAtlles, M!Io
""",-"",,.
2 l' f
Em Serranpolis, no sul de Gois, no muito distante da cabeceira
do rio Paran, a mesma equipe descobriu vestgios a rqueolgicos da
tados em 8.500 anos (SCHMlTZet aI, 2004). Na bacia do Paran, no m
dio Paranapanema, o nvel ltico do sti Brito foi datado em cerca de
7.000 anos, segundo Vilhena-Vialou (1983/84) . Somam-se a esses da
dos as dataes arqueolgicas mais antigas obtidas durante a execu
o do Projeto Arqueolgico Porto Pri mavera, MS que confi rmam a
presena do homem nessa regio, de forma indiscutvel, h pelo menos
6,000 anos.
Pouco se sabe sobre as origens dos diversos povos indgenas atual
mente existentes no Brasil Central, porm uma questo est hoje mais
clara: devem ter havido, nos ltimos 4,000 a nos, diferentes processos
culturais que se desenrolara m por meio de mecanismos adaptativos s
dinmicas das feies ambientais a predominantes, ou
-I S
I
"- .'1.--< o 10 ZOem
@
@ @
Gl
o
o
00
b C
I I
o
1 ,
"m
enso da complexidade arqueolgica do Alto Paran. Somaram-se a es
ses dados, os resultados obtidos com o desenvolvimento dos trabalhos
de resgate arqueolgico na rea deJXlis inundada pelo reservatrio da
Usina Hidreltrica de ltaipu, os quais foram executados pela equipe de
arquelogos da Universidade Federal do Paran (CHMYZ, 1979).
Entre as pesquisas realizadas pela equipe da USP (PALLESTRlNI,
1984) destaca-se aqui a do stio Lagoa So Paulo 1, no municpio paulista
de Presidente Epitcio. Nessa ocasio, os arque6logos registraram que,
anterior s ocupaes indgenas ceramistas pr-coloniais, ourros horizon
tes culturais existiram (n(velltico, entre 0,80 e 1,10 m de profundidade,
datado e m 2.500 70 anos A.P). Esses testemunhos evidenciaram rea
lidades a rqueolgicas que remetem a modelos culturais anteriores ao
Guarani. Essas OC\.lpaes lticas referem-se aos grupos de caadores-co
letores-pescadores pr-histricos.
A partir dessas abordagens, surgiram, mesmo que e m carter
preliminar, os primeiros esboos explicativos sobre os processos arqueo
lgicos de povoamento humarK> da Bacia Aho-Paranaense. Combase nessa
Os rios ParanaparlelTla eP<W'ana ftXlVn
pesquisados paChrnyz, 001 especial na
dcada de 1970, com regisros de numerosos
stios arqueolgicos evestgios OOcativos eles
sIlnlas ocupaes e
hislricas da Provincia do Guair,
Ai lustrao (CHMYl, 1979) apresenta
um conjunto flmerro tuplguarani , com peas
cermicas compondo urna, tampas etrs ouras
em seu interior; avasi lha que estava
no fundo da lKna wigava em seu inllYior contas
de rolar de concha, de osso, assin como de victo
de ocigem etropia, incanOO ratrse
de um grupo contemporneo presena
espanhola na regio,
49
Aextensiva T 1'\0 rio
Pcranapanema deixou testemunhos em
sltios, taiscomo o1Ilm",Iocalizado na margem
direita do Baixo Paranapanema, alguns
quilmeros montante da Reduo de Santo
Incio (SlbJada na margem esquerda desserio).
Oconjunto funerrio evidenciado no stio ltoccr
era COll'l,JOSto por 2u:nas cermicas.
onde kYam sepulladJs neonakJG.
Afoto, ao lado (em 1989), ilusTa lXl1a
pea ceriw'nica du"anle sua evidenciao.
cultura material remanescente, predominanteme nte co mposta por
cermico e ltico lascado, percebeu-se no solo a sobreposio de sistemas
culturais que evidenciaram o desaparecimento dos grupos de
coletores pioneiros do local e a expanso dos grupos indgenas ceramistas,
provavelmente tambm adventcios, que comearam a ocupar a regio h
cerca de 2.000 anos.
Na dcada de oitenta do sculo xx. alm da pesquisa na Lagoa So
Paulo, os estudos arqueolgicos do Alio Paran pouco evoluram em re
lao dcada anterior. Merecem destaque as iniciativas cientficas en
gendmdas pelo ento embrionrio ncleo de pesquisadores sediado no
campus da FCT/UNESP (Presidente Prudente) , e mbora as atenes
prioritrias dele estivessem voltadas para o oeste paulista e para o Baixo
Paranapanema (KUNZL1, 1987; FACCIO, 1992; KASHIMOTO, 1992). Noelli
(2003) continuou as pesquisas arqueolgicas nas margens paranaenses.
oimpulso aos estudos arqueolgicos alto-paranaenses com
o incremento das obras da UHESM, a partir de 1990. Em atendimento
legislao de proteo ao patrimnio arqueolgico, a CESP contratou duas
equipes cientficas para a realizao dos trabalhos de mitigao dos im
pactos desse empreendimento sobre os stios arqueolgicos existentes nes
se trecho do Alto Paran, ficando uma encarregda da margem paulista e
a outra da margemsul-mato-grossense coordenadas, respectivamente, pela
FCT;UNESP (Projeto de Salvamento Arqueolgico de Parlo Primavera, SP)
e LPA;DHI/CPAqtUFMS (Projeto Arqueolgico Porto Primavera-MS).
Desde ento, o conhecimento desse contexto a rqueolgico
aprofundou-se, pennitindo uma compreenso maior das caractersticas
pretritas das experincias culturais a ocorridas, bem como o surgimento
de novas hipteses cientficas.
50
AS EVIDNCIAS ARQUEOLGIW
Com os levantamentos e escavaes arqueolgicas reatizados nas mar
gens do rio Paran, durante os trab:! lhos de arqueologia preventiva na
rea do reservatrio da UHESM, foram identificadas mais de duas cente
nas de stios arqueolgicos (mapa abaixo) e coletadas dezenas de milha
res de vestgios materiais das populaes que a viveram nos ltimos
milnios. Entre esses vestgios so predOmina ntes aqueles provenientes
da confeco de artefatos de pedm lascada e fragmentos de recipientes
omapa os siOOs
de cermica.
Iocaizados no AlIO Paan,
rea do resetvalOOoda UHESM.
Na margem direita do Alto Paran, durante a realizao do PAPPMS,
PAf"f'MS (UFMSlUOJB)e Projelo de
foram coletadas a lgumas dezenas de amostras de carves arqueolgicos
Arq.JeO\iopl de Ptrtl SP IFCTAJNESp)
bem como frngmentos de peas ce
rmicas, os quais foram submetidos
s dataes radiomtricas, realiza
das em laboratrios especializados.
Produziu-se, assim, uma tabela cro
nolgica que, embora parcial, per
mitiu a elaborao de uma visoge
ral dos diferentes horizontes cultu
rais, que, no tempo e espao, povo
aram essa regio (I{.4.SHIMOTO, 1997
e MARTINS et al. , 1999).
Daque les stios identificados e
registrados durante os trabalhos
preliminares de levantamento ar
queolgico, um percentual foi esco
lhido para ser objefo de escavaes
arqueolgicas siste mticas. Estas
escavaes forneceram um detalha
menta mais completo das estrutwas
que os caraderizavam (KASHIMOTO;
MARTINS, 2004). As abordagens, a
seguir, foram baseadas nos dados
obtidos com as escavaes de res
gate cuquealgico nas margens sul
mato-grossenses, do Alto Paran e
de seus a fluentes, lembrando-se as
limitaes de compreenso que so
intrnsecas a qualquer recorte amos
traVespacial.
READEINUNDAO DA USINA HIDRELTRICA ENGENHEIRO SE'RGIO MOTTA
E SiTIOSARQUEOLG ICOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
,,:
E.
,
-
.
'''''A''':''\ \.
..
,
M'
..
'"'-'"
,...... .,.._"._......
,-_.. ..
_.. _.. ......,., .. _
PERlOOO ARCAICO
o perfodo arcaico engloba os acon
tecimentos relacionados com o cotidi
ano de grupos de caadores-coleto
res nmades e portadores de uma cul
tura nitidamente pr-histrica, isto ,
no l ndlgena: no construlam al
deias, no possuam hierarquia so
cial, no confeccionavam recipientes
de cermica, produziam suas ferra
mentas de trabalho e armas essen
cialmente por meio do lascamento de
rochas.
!\baixo, pontas liticasevidenciadas nas
escavaes 00 Alto Paran. testemunhas da
ocupao regional pu" caadres-wleta"es
pescadores do passado:00 alinhamento supericr,
da csqJerda para arerta, trs pontas de
projles do sitio Lagoa do Custdio 1 e duas do
sitio Brasi lndia 8: ooalinhamenlo inferio"", da
esquerda para adireita, duas pontas do sitio
Brasilandia a, -.ma da Lagoa do Custdio 1 e
!ma do stio Rio Baia 1
CAADORES-COLRORES-PESCADORES
A paisagem das margens do Alto Paran mudou substancialmente
aps o fenmeno ambiental conhecido como timo Cli mtico (ou Est
gio Hipsitrmico) , ocorrido entre cerca de 6 e 4.000 mil anos. A largura
e a profundidade do rio aumentaram significativamente, bem como sur
giram centenas de novas lagoas nas plancies de inundao ribeirinhas.
Um exemplo dessa radical mudana na fisionomia ambiental marginal
o complexo lacustre conhecido como lagoa So Paulo, na margem es
querda do Alto Paran, no municpio paulista de Presidente Epitcio. O
mesmo pcxJe-se dizer dos pantanais na margem sul-mata-grossense no
entorno do rio Pardo no municpio de Bataguassu, do rio Baa, no muni
cpio de Anaurilndia, ou ainda do rio Ivinhema, em Navira.
As principais inferncias da pesquisa do PAPPMS forneceram a possi
bilidade de construo de um modelo explicativo prelimina r sobre os
tipos de sistemas culturais que caracterizavam essa regio no passado
pr-colonial Observou-se, de um modo geral, a existncia de duas gran
des realidades arqueolgicas. A primeira referente aos nveis mais pro
fundos, geralmente com vestgios hoje situados em profundidades supe
riores a 1,5 m da superfcie. Refere-se a vestgios humanos de 4 a 6.000
anos atrs, quando o modo de vida pde ser conceituado como pr
histrico (perodo arcaico) . Isso significa que os comportamentos eco
nmicos, sociais e culturais integravam-se em um padro a rqueolgico,
classicamente denominado de caadores-coletores-pescadores.
Com o tenno acima, a Arqueologia pretende tipificar sociedades que
possuam estratgias de captao de reOlrsos naturais e de sobrevivncia
escoradas em gestos essencialmente predatrios. Os bandos caadores
coletores-pescadores eram, em mdia, compostos por algumas dezenas de
pessoas cada um. Os bens consu
midos por eles eram ob1idos confor
me as disponibilidades naturais/sa
zonais. Ento, essas populaes no
possuam uma economia produtiva,
mas natural: dependiam da diSpo
nibilidade ambiental de ali mentos
animais e vegetais, sem praticar a
agricultura e o pastoreio. Assim, seus
assentamentos espaciais eram acam
pamentos, caracterizados pela cur
ta pennanncia. A rotatividade per
manente, por reas extensas, era um
fator de construo de territo
rialidade, em outras palavras, um t
pico fenmeno de nomadismo.
52
A maior parte dos stios arqueolgicos localizados na margem direita
do Alto Paran situava-se na JX>ro mais alta dos diques marginais aos
cursos Ouviais, bem como nas margens de lagoas que integravam a pla
ncie de inundao desse rio. Em grande parte desses locais, ou nas pro
ximidades, ocorriam afloramentos de cascalheiras que foram visitadas
por esses caadores-coletores para a obteno de matria-prima para o
abastecimento da indstria ltica (calhaus e seixos), a qual fornecia os
arlefatos necessrios ao processamento dos produtos da caa, pesca e
da coleta de alimentos e outros bens de uso, como armas e armadilhas.
Artefatos oriundos dos nveis de ocupao de 4.0c)() anos, tais como
pontas de projteis e raspadores, a lguns com visveis sinais de utilizao,
foram coletados durante os trabalhos de levantamento e escavaes do
PAPPMS, evidenciando um domnio de tecnologias lticas clssicas na pr
histria da humanidade. Esses artefatos demonstram claramente a exis
tncia de gestos culturais seletivos das propriedades petrogrficas (ca
ractensticas minera is) e tecnolgicas (morfologia dos cascalhos sele
clonados em funo de suas formas, que so aptas, no sentido ergomtrico,
preenso).
O stio Lagoa do Custdio 1 um exemplo desses acampamentos de
caadores-coletores-pescadores no Alto Paran , localizado em margem
elevada de lagoa e, portanto, protegida da inundao, sobretudo no am
biente do timo Climtico: a ocorrncia de abundantes vestgios lticos
nos horizontes de 0,91 a 1,80 m de profundidade indica momentos de
intensificao das atividades/ocupao do local desde, pelo menos, 4.000
anos. A presena de ms, nessas camadas, testemunha o consumo de
vegetais, provavelmente razes e frutos silvestres, por esses JX>VOS caa
dores-coletores.
A rea do stio arqueolgico era de cerca de 10 mil m
Z
, dos quais
1.766 m
2
foram escavados at a profundidade de 3, 10 m. Os ba ndos de
caadores -co le tores-pescadores
deixaram instrumentos lticos utili
zados para perfurar, bater, raspar el
ou cortar. Esse material foi produ
zido a partir do Iascamento/1alhe de
cascalho, predominantemente de
arenito silicificado, silexito, quartzo
e quartzito, originando artefatos,
percutores, numerosas lascas, frag
mentos e resduos de lascamento.
As escavaes no Alto Paran re
velaram diferenciados nveis
estratigrficos os quais foram elabo
rados sob ambientes variados e de
longa durao, caractersticos da pri
meira e da segunda metade do
Mcradores navegam na
lagoa do CUStcflO (folo - feverei"o de 1980).
locaIizaOOs
nessam;wyem,maisdeJasd6cadasdepois,
m::.Mran adenoolinao do local COO'IOsitio
LagJa do CuslMo 1.
ConsiderandQse que o sitio lagoa do
Custdio 1 seria inundado pelo reservatrio da
UHESM. reaflZaramse escavaes intensivas
00 local, pcf meio de abertu-a de birJ::heias e
lOtalizaodoumaaea
escavada de 1766 m', ondefoolm alingldas
proluOOdades de ate 3m: afoto acrna(em junho
de 1998) iluslra area de deapagem 2, cuja
crooologia delatlada na pgina seguiJle. Os
miesenlre os 1Dizon\es 00sPJVOS caadJres
Iarbm esta sendo pesqJisaOO: o
nvel cem fogJeias etiOCos lascaOOs 00 slioAllo
Paan 7{Iotl abaxo -oob.Axo de1997}
cooesponde a l.I1l8 de ou
dos seus anlecessoces?
Holoceno (ltimos 10.000 anos).
muito provvel que diversos e
tintos sistemas culturais de caado
res--coletores-pescadores a se desen
volveram ao longo dos ltimos 6.000
anos. A aparente padronizao da
indstria ltica, apesar de ainda pou
co estudada, pode testemunhar um
fe n me no de transculturalidade
tecnolgica, j que instrume ntos
como choppers e alguns tipos de
raspadores, quando confeccionados
sobre seixos e calhaus, so seme
lhantes aos j produzidos, havia cen
temlS de milhares de anos, no deno
minado periodo Paleoltico nos con
tinentes do Velho Mundo.
At agora no foram localizados
vestgios de estruturas de sepulta
mentos humanos e remanescentes esquelefais, desses antigos caado
res-coletores, sobretudo porque os solos cidos dessa regio no so
favorveis conservao de restos orgnicos. Por isso, no momento, a
Arqueologia no dispe de dados para discutir a a na tomia desses remo
tos povoadores da regio alto-paranaense.
Uma interrogao automtica colocada para a Arqueologia respon
der: teria havido um processo de evoluo culturallocaJ, durante o qual
essas milenares geraes de caadores-coletores-pescadores teriam ori
ginado as culturas indgenas ceramistas que os sucederam nesse espao
a partir de, pelo menos, 2.00CI anos atTs? Tal questo surge quando do
registro da posio dos vestgios arqueolgicos nos perfis estratigrficos
dos stios pesquisados durante os trabalhos do PAPPMS, sobretudo consi
derando-se a presena de lticos e de fragmentos de recipientes cermicos.
Da mesma forma que at agora os dados disponveis so insuficien
tes para elucidar a origem dos caadores-coletores-pescadores. isto ,
quando e por onde penetraram os primeiros seres humanos na regio
Alto-paranaense, embora seja forte a hiptese que esse fenmeno ar
queolgico tenha ocorrido h mais de 10.000 anos, tambm no est
claro como e quando eles desapareceram. Entretanto, para a
gia, j visvel a hegemonia espacial de grupos ceramistas na rea a
partir de cerca de 1.500 anos.
Com certeza, a continuidade e o aprofundamento das pesquisas, nos
prximos anos, apresentaro respostas satisfatrias para tais questes.
Por isso, fundamental que polticas permanentes de preservao dos
stios arqueolgicos sejam viabilizadas de forma a garantir a integridade
dos dados a serem analisados pelas prximas geraes de arquelogos.
54
STIO LAGOA DO CUSTDIO 1
(OMPROVAO OA PRESENA
DE <AADORES.(OLETORES 'EKADOIIES NO ALTO'AUII
o perfil do solo do sItio Lagoa do Custdio 1, da base ao topo. demonstra
uma variao das caracterlsticas do solo mineral. A camada da base, de tona
lidade amarelada, com esparsas lascas e f ragment os (3,10 a 1,96 m de pro
fundidade), foi recoberta, at a profundidade de 1,81 m, por uma camada are
nosa de cor amarelo bruno, sugerindo uma mudana paleocl imtica em dire
o ao timo Climtico. Dessa profundidade at 0,91 m (camada bruno ama
relada recoberta pela bruno amarelada escura), h um acentuado aumento na
quantidade de vestgios rrticos indicando uma intensa at ividade de faseamento
realizada por caadores-coletorespescadores que ai se estabeleceram sob
condies de biostasia (abundncia de formas de vida), h ma is de 4.000
anos. Esparsos vestgios lIticos continuam presentes nas camadas superio
res desse perfi l, acima de 0,91 m. Destacam-se, entre 0,40 m de profundidade
e a superfcie do solo, vestrgios cermicos que testemunham a ocupao
desse local por agricultores ceramistas Guarani, ocorrida, predomi nantemen
te, entre 1.200 e 500 anos A.P.
sino LAGOA 00 (USTDIO I:
vestgios cermicos e lticos emontrados nas diversas camadas do solo
Dataes
cm Anos A.P./ d.e.
O
83 (:tOO) '" 1 115 d.C.
950
3.140 (50) = 1.190a.e.
~ - . - : - : : : : : : - : = : - : : - - : : : : : - : - ; : - - , J
4.230 (75) '" 2.280 a .C.
300
--
Dessa forma, as ocupaes de caadores-coletores so a caracterizadas
pela produo de peas IItcas: pontas de proj til , pontas, choppers, lascas
retocadas, percutores lIticos, m/poli dor. Uma referncia de idade a datao
da camada 1,35 m de profundidade que resultou em 4.230 75 anos AP (Gif
11218), No horizonte superior, entre 0,90 a 1,00 m de profundidade, no f oi
detectada a presena de pontas de projti l; entretanto, a datao de 3,140 50
anos AP (Gi f 11217) sugere a presena dos caadores-coletores-pescadores
na rea, As demais camadas no apresentaram amostras de carvo pass
veis de serem submetidas ao processamento de dataes e, portanto, ainda
no possuem referncias cronolgicas.
Assim, nos horizontes entre 0,91 e 1,80 m de prof undi dade, intensificou-se
o lascamento, o que foi testemunhado pela localizao de 86 artefatos. A ocor
rncia dos tipos de artefatos por camada apresentada na tabela abaixo. No
se configurou uma n tida distino entre os tipos de peas liticas produzidas
nas diferentes camadas de ocupao dos caadores-coletores-pescadores:
nelas foram encontrados artefatos confeccionados sobre calhaus e seixos
tais como pontas de projlil, choppers, plainas, percutores, ms e10u polidores
e lascas retocadas. Com exceo das pontas de proj til , as demais peas
possuem semelhanas com outras evidenci adas nos horizontes superi ores
desse perfil, sugerindo-se tratar de tcnicas de lascamentoltalhe praticadas
por distintas culturas com objetivos similares.
Inshmerltos Hticos evideIlOOdos JJ;l
sitiol agoa do Custdio 1, lotos abaixo:
pontas de pro;teis, pontts. choppers
(cascalhos talhados). m6sIpoIKb"es.
epel"cutaes SObrecat.aus.
...,
.t;.,t! ...
"
- 0.- < _ ti ~
.
1:
t-'
. .
,.
,
o t 2 3 m
0123cm
f>r tIl-.
rflJr "
Ocorrncia dos t ipos de artefatos IIti cos no sti o Lagoa do Cust di o 1
CD1 Protundldade da camada (m) M6 eJou Polidor Pereutor Chopper Punta Ponta de Projti!
t ~ 1 1 0 4:)
---'.::....:.:.:c_____--===--____ _ -:::-_ ......._..__
110-120 O O
120-130 O O O O
130140 O O
140-150 O
150 160 O O O
160-170 O O O O
170- 180 O O O
180-190 O
190-200
200-210
i6
NDIOS-AGRICULTORES-CERAMISTAS
Os estudos arqueolgicos, a t agora desenvolvidos, relativos ii inds
tria ltica alto-paranaense, especialmente dos Ltimos 2.000 anos de ocu
pao, sugerem a existncia de uma padronizao tecnotipolgica dos
arlefatos e produtos de debitagem.
Centenas de artefatos lticos, tais como percutores, raspadores, plainas,
facas, machados manuais, talhadores (choppers e chopping too/s) j fo
ram kx:alizados na rea, especialmente nos stios arqueolgicos onde ha
via afloramentos de conglomerados de seixos e cascalheiras. Apresentan
do uma tipologia e funcionalismo diversificado, os estudos sugerem que
muitas dessas ferramentas estavam associadas confeco de canoas,
giraus e adomos, assim corno ao processamento de pescados, to abun
dantes nesse curso fluvia l (no Alto Paran j foram Klentllicados 148 ti pos
de peixes diferentes), bem como da fauna ribeirinha:
antas, capivaras, cervos, catefos, rpteis (tartarugas) e
aves.
Esses arlefatos, confeccionados a partir do talhe
de cascalho corresponderiam ao pice da produo
ltica dos povos caadores-coletores-pescadores? Se
riam vestgios de povos protoceramistas ou dos pr
prios povos que dominavam a tcnica ceramista? O
que se tem como certo que a 1ecnologia de talhei
laseamento de calhaus e seixos perdurou at os po
vos agricultores portadores de cermica que se insta
laram nesses terraos.
1, 00
silioBrasirda 3. permiliu o ffi!jstode peas
al aJ:rofulKidade de 3m; observa-se
soa Iocaao no terrao da m<lgem reita 00
AJtoPCW'Il(folo 00 Iado - noveni:ro de 1998).
A foto!lCina os choppers (calhaus
tal hados) com morfoIOIjas sinilares, coletaOOs
em di ferentes stios ;:vqueolgloos
doAlto Paran
No alto, uma outra forma de utilizao
de rocha identificada no segnento selenlrional
do Alto Para n - polimento e gavao de
- seriam manifestaes 00s
caaoores-coiet<Yes-pescawes ou de an\ig:ls
agicUtoxes MacrQ.J?
57
sino BRASILNDlA 3: vestgios cermicos e lticos lascados encontrados nas diversas camadas do solo
"
'"
'"
"
.,
.,
' 50
""
' .00() (50) = 950 II.C.
""
""
3.165 (6S) '" 1 215 a.C.
,
""
.,
""
"O
3.250 (t75) = 1.300 a.C.
""
(.t4Q) '" 1.990 a.C 300
No stio Blasina 3, rea de decapagem 1 (foto
noverrtrode 1988), omalmal cerfrnicoocorria at
1,10 mdejXOfuncidade; as camadas abaixo
daquela possuiam Rlicos tascaOOs cerca de
4.000 aros (oolaesol::ltdas aptrirde<mlSbas
de ccr;o das vrias camadas, rrocessadas pelo
mloOO ooe
l
4>. <W'queoIgicos mais
l'lrOS na re9o so os de restos de alimentao: a
foto abaixo (em maro de 1999) lIsTa vrteUas de
peixeevidenciadas na troa de hOOtoao 00 si\io
denominado Brasilandia 11 (b:aIizaOO
na mcrgem lesle da lha Verde.AlIo f'arat,
defronl8 Iozdorio Verde).
Dessa forma, a estratigrafia pedolgica/arqueolgica na margem sul
mato-grossense do Alto Paran revela que sobrepostos aos nveis arque
olgicos de caadores-coletores-pescadores, geralmente situados e m pro
fundidades superiores a 1,5 m, encontravam-se essas camadas com nu
merosos arlefatos lticos que, por sua vez, eram recobertas pelas cama
das contemporneas aos povos agricultores ceramistas localizadas, ba
sicamente, e m profundidades inferiores a 1,0 m. As espessuras das ca
madas podem variar e m funo dos distintos ndices de sedimentao
nos relevos ribeirinhos.
Nesses horizontes de agricultores pretritos, a freqncia de vestgios
cer micos aumenta proporcionalmente na medida em que se aproxima
da superfCie atual. Nesta, o material ltico continua aparecendo, porm .
. em menor quantidade, indicando um progressivo desuso das tecnologias
complexas de produo do ferramental ltico.
Tais fatos sugerem uma substituio de hbitos cultura is indicando o
advento de novas estratgias de sobrevivncia, o que quer dizer tambm
novas relaes homem/meio ambiente.
H pelo menos 1.500 a nos, a vegetao arbrea expandiu-se de for
ma exubera nte, ampliando a floresta dUar por algumas dezenas de qui-,
lmetros das margens. Em condies ambientais to favorveis. a fau.:-..a
,
terrestre e area multiplicou-se geometricamente, construindo cenrios
paradisacos para os habitantes pretritos desse compartimento geogr
fico.
Essa exuberante configurao ambie nta l funcionou como um forte
estmulo ao crescimento demogrfico endgeno, o que evidenciado pela
multiplicao de stios arqueolgicos. No entanto, essa paisagem to rica
em recursos naturais tambm foi um atrativo para populaes exgenas
ao vale alto-paranaense, como os Tupiguarani .
Por enquanto, a Arqueologia ainda no capaz de responder se li
revolucionria prtica da agricultura foi desenvolvida in foco ou se foi
introduzida nessa regio por grupos adventcios; o mesmo pode-se dizer
sobre o domnio das tecnologias ceramistas, bem como da produo das
lminas de machado lticas polidas, associadas ao desbaste de troncos
de rvores para a instalao dos roados e outras atividades. Parece que
a segunda hiptese a mais plausvel, pois as evidncias arqueolgicas
cermicas denotam que os mais antigos stios ceramistas da p:>ro
setentriona l do Alto Paran. so depositrios de fragmentos, cujas ca
ractersticas tecnolgicas pressupem um razovel domnio da tcnica
ceramista, j era praticada desde longa data.
As dataes das amostras de cermica coletadas nos nve is
estratigrficos mais profundos datam de 2.100 anos, especificamente no
stio arqueolgico Brasilndia 11. Os recipie ntes desse perodo eram de
pequeno porte com capacidade para um volume cbico mdio de 5 li
tros, paredes finas, sem decorno inte rna ou externa. Por enquanto,
no foi posSvel associar essa tecnologia cermica a alguma das tradi
es ceramistas j classificadas pela Arqueologia brasileira. A quantida
de de fragmentos coletados nos stios mais antigos pequena, sugerindo
que nesses horizontes fonnativos, a cultura material dessas populaes
atravessava um perodo de transio, provavelmente comsocieda:des por
tadoras de uma horticultura incipiente e m que a caa, a pesca e a coleta
deveriam ainda ser preponderantes.
LrrHr.as pokjas de machado lticas
Iocab.das ao longo do Alio Paran.
TUPIGUARANI
Os Tupiguarani confeccionavam peas
que se lanaram caracteristicas: fTa!JTlelllos
cernicos decaados ccrn pinltl"a jX)Iicrnica
Oinhas vermelhas sobre ef'9Do branco - 1010
abaixo, <:!mta) ou lctka d9ta1 (coougado
59
Eshlltra ftnerria tupigJara!1i evidenciaGl na
escavao dosilio Alto Paran 8 (foto - aI:ri de
1998). Nos folos das vasilhas cermicas,
da esqJerda para adi"eita. canbuchi coougado,
sot:re o leram localizados i"ag"nentosde
crnio elXIl lembeff; de resina (a:rno labial
rnasc:uIm -foto); iaJlllava o
ctnio; yapep myri corrugado; cambuch cag./11b
COO\ e;dema (linhas JreIas sdlre eng:bo
verrnelho) e interna;yapep COO! pinrun
ptJIicrmica vermelhas sobre engobo
branco). Anomerdaltra guarani das
segue o regsro de Montoya (1875).
Entre a superfcie e a profundidade de 0,60 m da maioria dos stios
pesquisados, OS vestgios a rqueolgicos predominantes eram fragmentos
de cermica com caractersticas tipolgicas e decorativas predominan
temente filiadas tradio arqueolgica Tupiguarani, com destaque para
a subtradio Gua rani.
A tradio ceramista Tupiguarani nessa rea nos leva a pensar
existiram fronteiras tnicas nesse horizonte cultural, te ndo o rio Parde
aproximadamente, co mo limite geogrfico latitudinal natural.. O rio Par
do um marco ambiental que representa o final dos Cerrados e o indl
da paisagem de transio para a predominncia da Floresta EstacioIlZ
,
60
Semidecidual e, ao que parece, o vale desse rio e as reas adjacentes
definiam tambm o li mite setentrional do territrio indgena pr-colonia l
tipicamente Guarani.
Ao norte do rio Pardo, at a rea do municpio de Trs Lagoas, os stios
arqueolgleos ceramistas continua m sendo tipificados, e m sua maioria,
pela presena de cermica da tradio Tupiguarani, porm notria a
variao no padro decorativo e morfolgico das peas, como no stio
Brasilnclia 3. Embora existam diversos fragmentos com pinturas na parte
externa e interna, que reproduzam a inda o estilo Tupiguarani, a diferen
a clara se compararmos os motivos decorativos empregados ao sul do
Fragnentosde Ci:!I"imca (Ioto- ooverrtrode 1998)
sendo evidenc:iacIoo do Ix:riz:oole 00
siloBrasIIod"la 3e, aps areconsti:Uio,
cbservase, na fulo abaixo, sua borda ca11 ramalo
quad'angulOOe edecuaocanlnpresses de
pordasdeunha (ungWda).
61
FOZ DO RIO IVINHEMA
Sltios arqueolgicos esto sendo
pesquisados no Alto Paran,
do conter indici as do cantat a dos
Guarani com os espanhis no
lo XVI, especi ficamente na foz do ri o
lvi nhema (sitio rio lvinhema 1). Vesti
gios tai s como sepultamentos huma
nos e uma col her de prata,
dos nesse sitio, corroboram t al
tese.
Na evid&nciaode trila das lfMS cermicas do
sitio Rio \vinhema 1 (foto -janero de 2005).
observamse ossos lorqJs euma pea cermK:a
que cOOia \ln crnio, (no detalhe)
<iJanteos bbaIlos Iitlorataiais.
rio Pardo. Possivelmente, aqueles vestigios ao norte do rio Pardo foram
prOOuzidos por outras etnias Tupi que no a Guarani.
As escavaes arqueolgkas revelaram que esse segmento do Alto
Paran, entre o rio Pardo e o rio Sucuri, tributrio da margem direita
que desgua no rio Paran prximo cidade de Trs Lagoas, sedia al
guns stios que possuam ti pos de cermica cujas caractersticas no se
incluem naquelas do unive rso Tupiguarani. Possivelmente, esses stios
so representativos das incluses de indgenas pr-coloniais que a teri
a m chegado percorrendo rios como o Verde e o Sucuri, em direo aos
baixos cursos fluviais.
Com certeza, s vsperas do "descobrimentd' do Brasil, e m 1500, a
margem sul-mata-grossense do Alto Paran e ra hegemonicamente habi
tada por ndios produtores de cermica arqueolgica tupiguarani.
No se sabe ao certo quando os primeiros indgenas arqueologica
mente classificados como Tupiguarani chegaram ao Alto Paran, por m
as dataes at agora obtklas permite m-nos estimar que essa rea lidade
re monta h, pelo menos, 1.500 a nos. Outra incerteza o roteiro migra
trio seguido pelos prirneiros ndios desse horizonte arqueolgico at che
ga rem ao vale do Alto Paran. As possibiUdades mais verossmeis no
sugerem a direo ocidente/orie nte, embora essa hiptese, por enquan
to, no possa ser de todo descartada no que se refere s dcadas iniciais
do sculo XVI .
Qua ndo os primeiros colonizadores europeus ou seus desce ndentes,
chegaram ao vale do Alto Paran, essa regio estava densamente povo
ada, sobretudo por ndios Guarani, distribudos em diversas aldeias, como
na foz do rio Tvinhema. Algumas delas
reuniram vrias centenas de pessoas,
as quais se comunicavam pelo rio
Para n e seus aflue ntes, que eram ca
minhos singrados num fl uxo de cano
as. muito provvel que, nessa poca,
li de mografia indgena no vale a lto
paranaense fosse, ao menos, equiva
lente populao no-indgena que
hoje habita os municpios sul-mato
grosse nses localizados nesse vale .
Como produto de uma histria de ful
minantes conflitos intertnicos, infeliz
mente, no presente, no mais existerr
ndios Guarani autctones habitandc
nas margens do Alto Paran..
OS INDIGENAS POS-DES(OBRIMENTO
Em 1500, os ndios, e m Mato Grosso do Sul. eram vrias centenas de
milhares, distribudos por mais de uma dezena de etnias. Hoje so ape
nas sete etnias que, juntas, somam cerca de 55.CX)() pessoas. Os atuais
ndios da rea so herdeiros de um processo histrico prprio que acu
mula milnios de experincias humanas mltiplas e, geral mente, be m
sucedidas nas relaes homernfmeio ambiente. Embora houvesse pro
fundas diferenas entre as etnias do perodo colonial e do pr-colonial,
esses ndios compartilhavam entre si o hoje espao estadual, transfor
mando a paisagem sem, porm, dizim-la.
A partir do sculo XVI, uma intensa reacomodao espacial e tnica
pode ser observada ta nto pela Histria coroo pela Arqueologia. A pres
so exercida pelas diversas frentes colonizadoras - platinas e a tlnticas
-, no interior do continente sul-americano, forou o deslocamento de
contingentes indgenas de seus espaos tradicionais, o que im
plicou, muitas vezes, o aci rra mento das tenses intertnicas, com o con
seqente desaparecimento de muitas etnias e a fuso de processos cultu
rais em novos sistemas.
Entretanto, cabe observar a continuidade, at a dcada de 1950, da
tcnica de lascamentoltalhe de seixos e caJhaus pelos Xet, caadore.s
colelores seTTnmades da Serra de Dourados, margem esquerda do rio
Paran (lAMING-EMPERAlRE, 1978). At essa poca, esses Xet ainda pro
duziam e usavam choppers e chopping-tools para cortar ramos e tron
cos pequenos, alm de "resmas" (instrumento tico) para da r acabamen
to na madeira de arcos e flechas. Logo aps o cantata com a sociedade
agropastoril a teOlologia ltica foi abandonada por esse povo.
Fofos dos Xet, noregsto de Kozk el ai . flOOO) :
00serva-5e acaa aofel ino. <rro e
lIecha edo lembet(adcmo labial).
63
ARESISTNCIA OFAI
"D. Ramn Coimbrasoube que um dos bugreiros
achoonum rancho um objeto que elerecxJIIheceu
comopropriedade do d8fWJfo JooNogueira, eque
ele tomou comoprova que os Kaiu finham
assassinado este morOOoc
Averdade, penso 00, ser talvez que os bugre!fo:s
saltam, resvMdos de malarquatltos indios que
encootrassem ede acabar com abicha/ia,
fosse f qui tosse anac:onBIidade,
No sitisfeitos ClXTI estas balbaridades, seguiram
aindaem rumo Leste para oRio Sam;;nbaia,
<itavessaram-no ederwn numala/lChaJo
dos Ofaido/ado de l, mal.andotodos que
nelaestavam. AiqJa onde se
deu omortic!nIo chama-se at hoje
Ribeiro cio
ReI!M:rosctn.(JI; X3\Ia11e (te t.Uo Gm&$;)em 1913.
(1993, p. 104)
Ofaicom eqtripanento de caa
em iustaode Frnundl (1947. w.:OUTRA. 2(04).
o passado e o modo de ser dos ndios Ofai antes do contato com o
colonizador europeu so desconhecidos. No h pesquisas arqueolgicas
e etno-histricas que revelem esse panoralT1l . As primeiras informaes
concretas sobre a etnografia desses ndios surgem em meados do sculo
XIX, quando a expanso da fronteira agropastoril brasileira em terras do
ento sul de Mato Grosso j era uma realidade irreversvel. Assim, pressu
pe-se que, no perodo retrocitado, a tenso intertnica j deveria ter acar
retado significativas alteraes no modo de ser dos ()fai, sobretudo no
que diz respeito s manifestaes da cultura material desse povo. Por
inferncia etnogrfica, baseada esta nos retatos dos primeiros conta1oo, OS
Ofa i, antes do contato, poderiam ser classificados como uma sociedade
integrante do Ironco lingstico Macro-J, portadora de um modeloecon6-
mico baseado quase que exclusivamente na caa, pesca e coleta de vege
tais silvestres. Da terem um comportamento espacial, sobretudo itinerante,
obedecendo sazonalidade dos recursos naturais disponveis.
A etno-histria dos ndios Ofai parcialmente conhecida. Os estu
dos at agora realizados, embora apresentem esclarecimentos satisfatrios
para alguns aspectos do passado recente desse povo, ainda so insufi
cienteS para esclarecer muitas questes te mticas ligadas a esse grupo
indgena, entre elas a visualizao objetiva da sua trajetria espacial nos
ltimos sculos.
Na condio de um grupo sitvrcola caador-coletor, os Ofai eram
seminmades. Com OS dados disponveis, pode-se deduzir que antes da
segunda metade do sculo XIX, eles viviam na rea hoje compreendida
entre os municpios de Rio Brilhante e Campo Grande, MS. A partir da
ocupao dessa rea por fazendas, aps a Guerra do Paraguai (1864/70),
esses ndios foram paulatinamente obrigados a procurar refgios em ouba;
reas ainda no impactadas pela expanso da fronteira agropastoril.
Essas circunstncias fIZeram com que os ndios Ofai, nas
seguintes, protagonizassem um verdadeiro xodo de seu territrio trad.
donal. Buscavam refgios distantes da atritosa relao com a socieda
envolvente. Abrigavam-se em ambie ntes ainda preservados do quadn
natural da margem direita do Al10 Paran, e ntre o baixo curso dos rio
lvinhe ma e Verde. Essa regio era, at ento, restritamente incorporad
ao modelo econ mico brasile iro da poca.
Foi por isso que , princi palmente durante a primeira metade do s
xx, os ndios Ofai adotaram a prtica do deslocamento permanente
errante, no se fixando por muito tempo em nenhum lugar. Isso. po:-en
no lhes subtrai o direito de, hoje, tere m um lugar para se
recompor.
Some nte no comeo do sculo XX, com a ao de
Rondon e de tcnicos do Servio de Proteo ao ndio (SPI) ,
especialmente de Curt Nimuendaju, que surgem os pri
meiros testemunhos confiveis sobre as caractersticas tni
cas dos Ofai. Nessa poca, por causa dos contatos
conflituosos, cada vez mais constantes com ele mentos da
sociedade agropastoril envolvente, o grupo e ncontrava-se
em franco processo de desintegrao tnica.
A anlise dos episdios histricos que marcaram a bus
ca, pelo povo Ofai, por um espao tnico vital, registra que
no incio do sculo XX esses ndios j foram possuidores de
uma rea no Alto Paran, reservada por ato pblico e legal.
Essa rea foi estabelecida, a partir de gestes do extinto SPI,
nas margens do rio Samambaia, pelo Decreto nO 683, de 20
de novembro de 1924, do Governo do extinto Estado de
Mato Grosso, abrangendo uma extenso de 3.600 ha. A per
da desse direito histrico, por parte dos ndios, com certeza no foi volun
tria. Por trs desse devia m estar interesses inescrupulosos
que agiram sob a cobertura de ineficientes autoridades pblicas da po
ca, cabendo, portanto, a estas as responsabilidades pelos desdobramen
tos seguintes.
Na metade do sculo XX, a Unio Federal readquiriu imensas exten
ses de terras localizadas na margem direita do Alto Paran, em Mala
Grosso do Sul, que estavam, h anos, improdutivamente sob a posse de
grandes grupos econmicos estrangeiros. Os critrios para essas conces
ses foram nebulosos perante a Histria. Paradoxalmente, essa era uma
situao favorvel aos ndios Ofai pois, enquanto esses extensos lati
fndios permaneceram inexplorados. os "sa nturios" ecolgicos abriga
vam e ocultavam os ndios. Ainda nmades. esses foram preservados,
protelando; dessa forma, o impacto dos no-ndios sobre eles.
Na poca, funcionrios do SPI alertaram as a utoridades sobre a ne
cessidade de uma definio fundiria para os Ofai antes que fosse tarde,
j que. por volta de 1950, era notri a a tragdia que afligia os remanes
centes desse povo e tambm era irreversvel a expanso da fronteira eco
nmica sobre essa poro territorial. No entanto., nenhuma medida foi
tomada. ne m mesmo a recuperao da rea especificada no Decreto nO
683/1924, e nto ainda no revogado.
,
Toda a rea compreendida entre OS rios Taquarussu e Verde, em MS,
foi {X>Sta venda pela Unio Federal, por meio de leilo pblico, sem
Presena Ofai. em 1924.
no Porto '/0/ de Novembro.
ilrea da foz do rro Paroo
(MAlAN. 1929; in: OUTRA, 2004).
Habitao Ofai 00 rio Pa-do
(FRELWT, 1947; io OUTRA. 2(04).
As flechas eos arcos dosOfai
foram ikJsrados cem delElJeS
per ROOro (1976).
Nota-se cpe as ct..Jas flechas centrais
soassociades ii caa aos pssaros.
I
I
65
\
!
\
(
\.
,
1
,
,
\
vea hdciorraI que foi em
diferentes manentos pebs Ofai
I"""IOOodeDUlRA. 1994).
levar e m considerao os ndios que s0
breviviam, no interior dela, em uma eco
nornia natural de caa, pesca e coleia. As
sim, O setor pblico brasileiro cedeu ao
expansionismo econmico "atropelando",
dessa forma, os direitos indgenas e pro
telou para o presente a soluo do impasse
-
no convvio entre ''brancos'' e ndios.
Entre outras conseqncias desse pro
cesso, pode-se destacar, na primeira me
tade do sculo XX, a instabilidade dos as
sentamentos, seja no tempo e/ou espao,
evidenciada, principalmente, pela mobili
dade constante em busca de re fgi os
LEGENDA
a mbientais provisrios. Sabese que, nas
_
O
TorritMo
Akleamonlos Of$lt
primeiras dcadas desse sculo, os ndios
Ofai viveram dispersos em pequenos gru
pos, por toda a margem di reita do Alto
Paran, entre os rios Ivinhema e Verde. A maior parte dos locais onde
houve assentamentos Ofai est hoje submersa com a concluso do re
servatrio da UHESM. Em vista disso, as opes espaciais dos ndios fica
ram ainda mais reduzidas.
Nas ltimas dcadas, com a degradao ambiental acentuada pelo
mode lo econmiCQ em vigor, a oferta de produtos naturais (caa, pesca
e ooleta) foi drasticamente reduzjda, o que obrigou os Ofai a substitu
rem seu padro tradicional de subsistncia por formas tpicas da socie
dade envolvente, ou seja, sobretudo a pequena agricultura e o trabalho
C!lssalariado em fazendas da regio.
Os ndios Ofa i esto parcialmente adaptados aos costumes dos
no-ndios, isto por fora das circunstncias que a eles fora m impostas
pelo modelo econmico regional vigente nas ltimas dcadas, o que.
no entanto no significa que o grupo perdeu sua identidade tnica.
Valores culturais de primeira grandeza na caracterizao de uma soci
edade diferenciada da envolvente esto presentes no grupo, tais como
a lngua, a religio, a mitologia e a auto-identificao enqua nto comu
nidade indgena disti nta das demais existentes na geografia humana
nativa de Mato Grosso do Sul.
A hoje pequena sociedade indgena Ofai, excepcionalmente. sobre
viveu ao cantata conflituoso com a sociedade e nvolve nte. O modelo eco
nmico brasileiro, expandindo sua front eira agropastoril em direo ao
Oeste do pas, ocupou o espao imemorialmente utilizado por
s nativas para sua reprod.uo tnica.
66
o ressarcimento pelos danos historicamente causados aos ndios
uma obrigao da atual gerao brasileira que no pode alegar g n o r n ~
da sobre o seu prprio passado. A responsabilidade de uma din mica
coletiva e histrica: IX1l1anto, os instrumentos compensadores da injusti
a tnica cometida contra os Ofa i devem ser institucionais e ja mais
particula res ou isolados pois, do contrrio, no se estar fazendo justia
e sim caridade com recursos alheios. Assim, a superfcie estabelecida
pelo grupo de trabalho constitudo pela Fundao Nacional do fndi o
(RJNAI) para demarcar um 1erritri o para essa comunidade indgena ,
talvez, uma fonna apenas simbca e insuficiente de resgate, mas que
foi aceita com resignao, humildade e serenidade JX)r parte dos quase
derradeiros protagonistas da saga de um povo cujo passado se perde na
realidade da Arqueologia brasileira.
o que eles necessitam para se recuperar como povo diferenciado no
inte rior da sociedade brasileira a tual o reconhecime nto formal e
institucional de sua existncia, assim como a satisfao das condies
minimas para que lenha m a perspectiva de sua repnxiuo e perpetua
o, como ndios, garantidas.
Hoje, internacionalmente consagrado o princpio do Direito que esta
beleceu que um JX)vo, tuna etnia, seja qual for sua expresso demogrfICa,
sob nenhum pretexto e de nenhuma forma, pode ser exterminado. Quan
do isso acontece, significa o desaparecimento de uma frao nica e ex
clusiva da humanidade. O valor dessa perda, JX'Ira o conjunto e futuro das
geraes humanas, incalculvel. A possibilidade de que tal venha a acon
tecer com a nao indgena Ofai concreta e inaceitvel.
A a nlise do passado histri co recente e do presente da comunidade
Ofai levanta forles indcios de que se no forem tomadas, por parte dos
setores pblicos responsveis, providncias imediatas, o que presencia
mos pode ser entendido corno a aurora de uma cultura tradicional.
Ataide FranciscoRo'9Jes- Xetll-ha.
lder Ofa, em loto de BilGam
(1992; in: OUTRA. 1995).
Face imi nente foonaol reservatrio
da u-\ESM, os Otai ! . ento habitando
ii ..00 da lO;!: do fKl Verde,foraTI ransferidos
para oilterOOvio do RtleiroBoa Esperana
(em foto de 2000).
1"
J
67
Nos ltimos 500 anos houve
uma drstica transformao nos
ambientes ribeirinhos e no
povoamento indgena tradicional,
extinto das margens do grande rio.
A histria nos revela os
processos de ocupao colonial
do Alto Paran.
oALTO PARAN
HISTRI(O:
FRONTEIRA
~
ENAVEGAAO
/' /
/
Situado na fronteira dos domnios espanhol
e portugus, a partir do sculo XVI, o Alto Paran
foi cenrio de navegaes e ocupaes estratgicas
de domnio de fronteira. A formao dos reservatrios
descaracterizou grande parte dos seus cenrios
ambientais e de ocupao.
A regio do Alto Para n, durante os sculos XVI , XVII e pri meira
metade do XVIlI , pelo que determinava o Tratado de Tordesilhas, estava
inserida na rea colonial paraguaia/castelhana e subordi nada adminis
trativamente Assuno. A descoberta e o reconhecimento do baixo cur
so do rio Paran de u-se nas trs primeiras dcadas do sculo XVI, quan
do a expedio conquistadora/colonizadora, cornndada pelo fi dalgo es
panhol, Pedro de Mendoza, explorou esse trecho do rio em busca de
metais preciosos. Nessa poca, a cobia colonizadora espanhola era esti
mulada pelo "Mito da Serra de Prata ou El Dorado" , isto , as fabub;as
jazidas de prata de Potos, localizadas no tenitrio da Bolvia atual. Nes
sa poca, o Imprio Inca, cuja capital em Cuzco, no Peru, estendia seus
dorrnios por uma vasta extenso na cordilheim a ndina e partes do Cen-
iro-Oeste da Amrica do Sul, podendo-se considernr que, e m alguns pon
tos, a sua fronteira oriental aproximava-se da Bacia Platina. Nesse mo
mento, o reconhecimento geogrfico do rio Paran montante do baixo
curso foi impedido pelas instransponveis corredei.ras e cachoeiras exis
tentes no mdjo curso, na altura da atual cidade argentina de Corrientes,
o que fez com que o processo colonizador ibrm nessa rea ficasse adia
do para o final do sculo XVI.
FRONTEIRA ORIENTAL
Durante os trabalhos de construao do
Gasoduto Bollvia-Brasi l, no trecho boliviano,
no final do sculo XX, os arquelogos bolivia
nos, encarregados dos trabalhos de proieo
ao patrimnio arqueolgico passivei de ser
impactado pelas obras, encontraram um stio
arqueolgico, onde fOfam coleladosdiversos
fra(JTlenlos de cermica Inca. aap6MS algu
mas dezenas de qUllmetros do rio Paraguai,
na latitude da cidade sul-mato-grossense de
Corumb.
MI TO DA SERRA DE PRATA
OUElOORAOO
Esse mito teve sua erigem os primeoros
rnaicialais do lilaal ttasilei'o, no inicio do scu
IoXVI, evecifKa"am que os indos GLJaf8ni, habi
tantes do de Santa Catarina, uti lizavam
aoo-nos confeccionados em p-ala. Interrogados
pelosconq.istactres mecorno os havi.." obti
do, os indos infam<nm que havia sickl pq-meio
de trocas inlertnicas e que eles se originavam
de um lendrio reino indlgena localizackl no oci
dente sul-a:naicano alm da bacia Platina. Sem
conhecer ccrn preciso o local e a realidade
etnogfica chaqJenhalandina. estavam refetin
do-se ao ImpriO Inca. Foi desse falo que se
originou o nome dessa bacia hi'ogflC8. Na
verdade, aprata ulizada na confeco desses
adcmosera extralda da Serra dePotosI. no coo
trafate aiental 00s Andes boHvianos. A notcia
da existncia da metais preciosos na Pmrica do
Sul alimentou de fama exbaocria omagn
rio dos et.ropeus, envoMcbs em tma expanso
et::m:ft' sem r;Jece<bltes, 00 !ai bma<JJe esse
fato provocou lITIa verdadeira "febre do ouro,
populaizada pq- rmativas fantslicas sror8 a
existnda de civizaesopulentas c:erc:amsde
Acina, aVia de POIosl , Bolvia,
em fotode BulIrich (1943).
.Abaixo, fra!Jl'leOtos de inca
.denIiIicaOOs na pesquisa
do GaS<::Jto Bollvia-BrasH
(DAMES & MOORE, INC.. 2001).
71
oINCIO DA OCUPAO COLONIAL
JUAN DlAZ seus
Aexpedio espanhola comandada: pelo nave
Antecedendo a expedio de Pedro de Mendoza, na segunda dcada
gador SoIs saiu da Espanha em 1515 COOl o
do sculo XVI, Ale ixo Garcia, um portugus nufrago da expedio de
objefivo de enconlrcr aligao interocena en
Ire oAtloofico e o Pacifico aqJalviabilizaia trna
Juan Diaz SoUs (1516), aps viver alguns anos entre os ndios Guarani
rola alternativa de COITI:io mailioo CQTl as in
do litoral sul-Ciltarinense, aventurou-se pelo interi or centro-ori ental do
elas. Essa expedio, nallegando aUlulo de re
coohecJnerllo geogfio oIitaalIeste da Amri continente, visando a encontrar as minas de metais preciosos dos Incas.
ca do Sul, culminou com o descotrineolo do
Guiado pelos indgenas, trilhando o percurso do Peabiru, por volta de
estuiri::l 00 Rode la PIata (delIa 0000 P<r'an 00
Mar dei Plata) no ano de 1516.Ao deserrbarca
1524, Aleixo Garcia foi o primeiro europeu a cruzar o Alto Paran, mui
rem na costa 00 lilocaJ lSugJaio, os conqJstacb
res faam atacados pelosindios charruas, oca
to provavelmente no atual trecho sul-ma.to-grossense desse no. Os refle
sio em QJe onavegI<b espanhol veio afalecEr.
xos econmicos de sua expedio conferiram a essa regio e ao rio um
Os sd::revr.rentes, "acfalos", PJ' re!l:ma'"
E!;pan!la. quanJ IJT1 I'1aUfrgio os fez reft9a
papel estratgico no modelo conquistador/colonizador ibrico para a
se na costa calarinense. Entre os 18 nufi'ag:Js
Amrica do Sul. Tanto assim que, nos primeiros anos da segunda meta
soI.revrverrtes da expedio SoIis estava opor
tugus Aleixo Garcia. de do sculo XVI , a metrpole castelhana j havia promovido a funda
o de algumas povoaes e cida
des nas margens do Alto Paran,
destacando-se as cidades de
Guair 1 fundada em 1557, na mar
gem esquerda, e Onlive iros, funda
PEABIRU
Esse ela onome que os indgenas atrbulam a
Lm caminho que iIl\a1igavil oliteral
atlntico sul-brasi1eiro com ocenlro-oesle sul
Era pa- esse sistema virio terrestre
que se realizavam as trocas intertnic:as entre
lI'\dios !Yasileiros eos nativos do Chaco edos
Ande<
GUAJRA
Aatual cidade de Guara, Iocatizada no extremo
oeste paranaense, na margem do rio Paran,
ernOOrn p-XIrna, no se sobrepe topogafica
mente GuaI colonial (Citmd Real de Guai).
lo:; runas desIa titma se Iocalzan 00 atual mu
nicpio paranaensede Terra Roxa. na foz do rio
Piquii.
---- --------,,,---
/
ONTIVElROS
Emtxra diversos manuscritos coloniais faam
referncia aexistncia inconteste da cidade de
Onliveiros, at o manento, tanto os hlstoria
f
OOr"es cano os arquelogos no chegaram aifl'
da a um consenso sobre a sua localizac
exata. .AJguns afirmam que ela era prxima f
Guair colonial, na margem esquerda do iii:
Paran, enquanto outros afirmam que ela SI:
localizava na margem direita sul-mato
g-ossense prxima foz do rio lvinhema.
Ao1aOO, acma, mapa da provincia do Guai"
(BELMONTE, 1980) e, abaixo, esquema das
runas da Ciudad Realde Guarn. pesqI isada
, ' . ' <
. .. . . . .
er-a:eadas pa CI'rnyz (1976).
da em 1554- , em local incerto. Segundo a mesma tendncia histrica, em
1593, Ruy Diaz d(l Guzmn fundou na margem esquerda do Baixo
Ivinhema, a cidade de Santiago de Xerez , a qual pode ser considerada a
primeira a ser fundada no territrio sul-mata-grossense. Essa povoao
colonial teve, nesse local, durao efmera, pois, em 1600, foi transladada
para a regio da bacia dos rios Miranda/Aquidauana, na rea no
inundvel do Pantanal sul-mato-grossense.
Logo aps a expedio de Aleixo Garcia, no ano de 1542, o clebre
conquistador espanhol Alvar Nues Cabem de Vaca , com a misso de
assumir o cargo de Adelantado do Rio da Prata, cuja sede era a cidade de
Assuno., retomando o percurso percorrido por Aleixo Garcia, cruzou o
rio Paran, na altura das cachoeiras de Sete Quedas, registrando em
seus relatrios manuscritos essa descoberta topogrfica.
RUY OJAZ DE GUZMN
Clebre coIonizadoc paraguaio, nasceu em As
suno. Era filho de Domingos M<t1inez lrala, o
fundadordoParaguai colonial. Guzmn foi aau
ta" da Jrineia crl1ica hist6rica sOCre aconquista
ecolonizao da bacia Platina e consideraOO
ptt vrios autaes oomo O"pai da Histria da
Bacia Plalina/Paraguai. Suaob-a, la .Argentina
(p"cxluzida no sctMl XVII) pionei-a eindispen
svel para os estudos histricos do inicio da c;o.
Ionizao dessa bacia hktogfica.
IJJ...VAA NUNES CABEZA DE VACA
CEtez.a de Va:a
espanhis 00 inicio das
gandesviagensrna1lil1asde d:s:xbinentogeo.
gi6::o. Enreoorosk!ibsa elea1rbJOOodescQ.
tnTlenbOOsEstacb>I..Q:b;,qaxb<psrata
g<r noC<d:le chegI pionei<rnente
pen1nsUa da Fb'd:I.
As espetacu\ares corredei"as/cachoeras
das Sete QueOOs foran SIbrnersas per ocasio
da foonaodo lageda lJHE de ltaipo.
na dcada de 1970. AtJ lado, fotode AOOade
SANTIAGO DE XEREZ
Alocalizao e)(ala da frinejra Xerez ainda no
esta bem definida pela Arqueologia Histrica,
paim certo ela se situava em aIg.rn ponto
da mil""gem direita do Baixo tvirlherTla, noatual
lerlitOO IrMmiq)al de Naviai, MS. Os r.btIOOs
arqueolgicos realizados no mbito do Projeto
Arq.JeoIocja 00 PaisagEm das Vzeas dos Rios
Ivi nhema e Paran sugerem que olocal da pri
meira Xerez seja o Porto PefOoo (nas imedia
es da COIlHuncia de lIT1 dos canais do rio
Mnhema nono Pa'an, vista 1\8 fofo acma, em
seterrho de 2003). Pa-a tal coolW a nfoona
o catogfica (detalhe rina, onde Xerez pcr
ns destacada por seta) produzida no inicio do
scuk:l XVII, pelo cd:riaI 00 PiI'lIgXIi,
LuisCspecles Xeria.
73
--- -- ---
AS MISSES JEsuTICAS EAS
-
INCURSOES DOS BANDEIRANTES
Rola de fuga dos GuIani. do no
Parapanema ao mdio Paran
(BRUNO. 1967: in: ARRSPIDE, 1997).
(
li
,
I
I
Com a implantao do modelo colonial castelhano no extremo oeste
paranaense houve a necessidade de estruturar a regio no sentido
socioeconmico. A populao europia era rigorosamente insuficiente
para atender s exigncias da economia agrcola colonial por fora de
trabalho, o que determinou a busca por solues alternativas. O recurso
encontrado foi o e mprego da mo-de-obra indgena, disponvel em larga
escala na regio, sobretudo nos grandes aldeamentos guarani, entretanto
era preciso submet-los para tal. Por causa do desequilbrio quantitativo
entre "brancos" e ndios, o uso da fora seria ineficaz, o que levou os
colonizadores a adotarem estratagemas persuasivos para a "domesticao"
dos nativos. A convers.o dos ndios Guarani ao catolicismo foi a ferra
menta utilizada pelo modelo colonizador ibrico para colocar os ndios a
servio do projeto metropolitano.
Nos primeiros anos do sculo XVII chegaram
rea colonial do Guair, enviados pelo Colgio
Jesuta de Assuno, os primeiros padres missio
nrios, destacando-se entre eles o jesuta Antonio
Ruiz de Montaya. Em poucos anos, milhares de
ndios Guarani foram catequizados e reduzidos nas
mais de duas dezenas de misses implantadas no
extremo oeste paranaense, geralmente pr6ximos
aos principais tributrios da margem di reita do rio
Paran, tais como o Paranapanema, o lvai, o Piquiri
entre outros menores. Tambm na margem sul
mato-grossense ho uve a presena da ao
ANTONIO RUIZ DE MONTOYA
Opadre Monloya ocupa um lugar de destaque na Hi!3taia do Alto
Paran: em primeiro lugar, pelo seu sucesso nos trabal hos
evaogeizadores; em SE9rida, pa ter produzido epublicado t.m dos
mais completos estudos sdxe a lngua falada pelos ndios Guarani
ccloojais (Tescro de la Lengua Guaran, 1639) eainda per ler flderaOO o
xodo de milhares de Indos missioneros do Paan pcl oRio Glande
do Sul , em local que, posteriormente, no sculo XVII I, passou a ser
conheado amo Sele Povos das Misses. Esse xodo aSSlllll iu um
carter pico, pois esse lransJado deu-se pa via Ouvial, rio Paran
abaixo, eos ndios fugitivos foram transportados por um COflbojode
cefltenas de canoas. Esse episdo inspirou ofime Ionga.me!ragem.A
Misso' cpe, oobra seja \ma ctra de fico cientfica, relrala ti;! brm
mtito ci3:fIl3i:BE 2 tisZria dessa poca.
i"
I
o Alio Paran foi mirw.riosamente
mapeado. em 1769,por Juza'te
[II: JUlARTE; SOUZA. 20(0).
Na Inagem esquerda cbsevase
esse rio e a confluncia do canal,
!XJSleriorrrlei1te dencmi1&t! 00 lviYlema.
Na faz desse fio (sitio ar<p.leOlbgico
no Mmema 1) foi Ioczada \ITla
cot.er de p-ala COOl i1sglia jesula.
o 1 2 3em
missioneira, porm, no com a mesma dimenso da margem paranaense.
Um testemunho desse fato atestado pela descoberta arqueolgica de
uma pequena colhe r de prata com a insgnia jesuta, coletada durante as
escavaes num stio localizado na margem dire ita da foz do rio Ivinhema
(sitio Rio lvinhema 1) .
Paralelamente implantao colonial casteLhana na poro seten
trional da bacia platina, no decorrer do sculo XVI, o ncleo colonial
luso-paulista tambm se consolidava, sobrevivendo por meio de um modelo
aglco)a, economicamente modesto, voLtado para a prpria subsistncia,
mas tambm oom aJguma insero no abastecimento regular do mercado
interno da colnia portuguesa no Brasil, sobretudo para O nordeste au
careirO. O esgotamento dos estoques de mo-de.-obra indgena dispon
veis no entorno de So Paulo de Piratininga, fundada em 1554-, aps as
primeiras dcadas de colonizao, levou os colonos luso-paulistas a bus
carem braos indgenas em reas cada vez mais distantes do litoral atln
tico, e m um movimento espacia l de a largamento te rritorial de nominado
na Histria rumo Bandeirismo de Apresamento. Contribuiu para esse fe
nmeno, o fato de Porrugal, em 1580, ter sido a nexado aos domnios dos
reis espanhis da dinastia dos Habsburgos, contexto que se aJongou at o
ano de 1640, perodo que ficou sendo conhecido historicamente como
Unio Ibrica. Essa conjuntura poltica transformou toda a Amrica do
Sul em uma nica colnia espanhola, flexibilizando assim as limitaes
fronteirias impostas pelo Tratado de Tordesilhas.
Sob a influncia da conjuno desses fatores, no incio do sculo XVII,
os bandeirantes paulistas voltaram suas expedies de captura de ndiOS
SITIo RIO IVINHEMA 1
As escavaes arqueolOgicas no stio Rio
Mnhema 1esto sendo realizadas no mbito do
Projeto Arqueologia da Paisagem das Vrzeas
00s Rios tvirt1ema e Paran: Regsro ePresa"
vao do PallTnnio CulltJal.
JesuIb-Gu<rnni\feOO>.S6, no delahe, as runas
da Catedal de SoMigueI/lscanp, capital dos
Sete POI.'OS das Misses do Rio Grande 00 Sul
(montagem sobre inagens de TAVARES elal.,
1999).Abaixo, assinalurade Raposo Tavares
eikis"aode dois bandeiarrtes elaboolda
e fXJ' Belmoote (1900).
,
-
r
I ,
I
"
para a regio alto-paranaense, sobretudo a Provncia do Guair, de onde
se apropriaram, pela fora, de milhares de ndios guarani, valorizados
no mercado colonial de mo-de-obra compulsria. por estarem parcial
mente "aculturados" para o trabalho agrcola nas plantaes coloniais.
As sucessivas investidas bandeirantes sobre o
Guair, destacando-se as bandeiras comandadas por
Manoel Preto e RaJX>SO Tavares entre 1629 e 1632, acar
retaram em drstica reduo da demografia indgena
na regio alto-paranaense, inclusive na destruio das
cidades coloniais paraguaias/castelhanas fundadas em
meados do sculo a nte rior. Como conseqncia tam
b m se pooe apontar o xodo e m massa dos indgenas
sobreviventes, os quais foram guiados pelos mission
rios at refgios distantes, como o Rio Grande do Sul,
Paraguai e sul de Mato Grosso do Sul. Contudo, mes
mo assim. continuaram sendo implacavelmente perse
guidos pelos bandeirantes.
ofenmeno bandeirante de apresamento influenciou
todos os acontecimentos na rea da Bacia do Alto Paran
aM meados do sculo XVII, quando, aps o trmino da
Unio Ibrica, a reao pa:raguaia e a crise na econo
mia colonial lusa, que se seguiu Restaurao Portu
guesa, entraram em refluxo progressivo at a sua extino
no incio do sculo XVIII.
~
oCICLO DAS MONOES
o movimento espacial do bandeirismo de apresamento, por causa de
suas caractersticas, tinto na ida dos bandeirantes de So Paulo para os
redutos indgenas na regio das misses do Guair, quanto no retomo
deles com suas presas indgenas, mobUizava milhares de pessoas, o que
implicava que ele seguisse por caminhos terrestres. No entanto, em 1626,
um expressivo comboio fluvial, partindo de So
Paulo, desceu o rio Tiet, adentrou pelo Paran a
j usante e, em seguida, subiu o rio Ivinhema at a
sua cabeceira. Essa expedio teve por objetivo
transportar o Governador do Paraguai, recm
empossado no cargo, e sua comitiva at Assuno.
Essa foi a primeira vez que a bacia hidrogrfi ca
do Alto Paran foi utilizada como sistema virio,
a ntecedendo em 100 anos a sua funo histrica
tpica do sculo XVIII , como se v a seguir.
interessante destacar que a crnica histrica
produzida durante essa viagem gerou um dos
primeiros produtos cartogrfi cos da regio
e nquanto suporte para o transporte fluvi a l.
No fina l do sculo XVII , com o colapso do
bandeirismo de apresamento, os paulistas, a essa
Orio Pard:l foi avia de illeAgao das 1Tl(X)eS. no
scOO XVI II ,no tajetn dos rios rJeWP&'an ao
ParaguaifCLiab; ocotidano das noites passadas
nas marg&ns 00 rio Pard::l pode ser 'isUnbrada
abaixo (l(lIagern meOOr)na leia PousonoSetto
(Rio Pardo} (de v e I ~ de Alsio
ZIrmermam, apa:tr 00 desenho 00gina1 de Hercule
Florence 1804-1879; H1: JUZARTE; SOUZA,
2000). Esse baixo ClfSO do rio Pardoesua foz 00
rio Paran. ccrn seusmeanctos emeasexislentes
anl.esdo f'elX"esanenb pela lI-ESM, visuaizaoo
na K>ioarea abaixo, oblida em 1979.
77
ApMida '"MMlo
(aul(ria de Jos Ferraz de Ameida Junior .
1850/1899; ~ : JUZARTE; SOUZA. 2000).
altura dos acontecimentos, profundos conhecedores dos sertes do Cen
tro-Oeste brasileiro, passaram a dedicar-se busca de metais preciosos.
Em 1718, obtivera m sucesso nessa e mpreitada quando Pascoal Moreira
Cabral descobriu ouro nos anedores da atual cidade de CuaM, em Mato
Grosso.
A "febre do ourd' mobil izou boa parte da populao da capitania
paulista que via no garimpo a soluo para a crise socioeconmica que
perdurava desde as ltimas dcadas do sculo XVII. A necessidade de
abastecer regularmente os garimpos em Mato Grosso fez com que as
autoridades coloniais estruturassem um sistema regular de transporte de
pessoas e mercadorias por via fluvial, j que as longas distncias entre
So Paulo e Mato Grosso, associadas travessia de territrios de indge
nas hostis, tais como os Guaicuru e os Kayap, eram obstculos, at
ento, intransponveis para o empreendimento minerador. Esse contexto
histrico passou a ser conhecido pela Histria como Cido das Mones e
desenrolou-se at o final do sculo XVIII.
o roteiro definido reproduzia parcialmente o caminho experimentado
por Luis Cspede Xeria 100 anos antes. A partir de 1725, uma vez por
ano, aproximadamente, aps celebraes religiosas e festas de despedi
das, OS comboios fluviocomerciais, compostos de dezenas de canoas
monxilas, algumas com a t 30 metros de comprimento, capazes de frans
,
-
l'
I
.'
l
78
portar ma is de uma tonelada de
cargas, partia m de Porto Feliz, lo
calidade no rio Tiet, prximo
Sorocaba, descendo esse rio at sua
foz no rio Paran, poucos quilme
tros a montante da cachoeira de
J upi (posteriormente Trs Lagoas!
MS) . Depois de vencidos inmeros
obstculos naturais do rio Tiet, na
poca denominado Anhembi. tais
como cachoeiras, corredeiras, chu
vas torrenciais, mosquitos, assdio
de indge nas ocultos nas ma tas
ciliares, antes de ingressarem no curso do rio Grande (nome do Paran
na poca) , faziam uma escala para a recomposio das energias e m um
l o c a ~ na barra do Anhembi, denominado Poria Itapura.
Ao entrar no rio Paran, nova rodada de perigos rondava os comboios
monoeiros, tais como rebojos, corredeiras e outros, mas nada igualvel
cachoeira ~ Jupi e o grnnde rebojo que se formava a jusante, onde eram
costumei ros OS naufrgios com gRtndes perdas humanas e materiais.
Transposto esse obstculo, nos primeiros anos do ciclo, o movimento
monoeiro experimentou, efltte os tributrios da margem di rei1a do Alto
Paran, algumas a lternativas Ruviais direcionadas ao Oeste, entre elas o
rio Sucuri, o Verde e o Ivinhema. Porm, a melhor opo configurou-se
no rio Pardo. sua ma rgem, na foz no rio Paran , existia um
arranchamenlo permanente, onde a flotilha de canoas monoeiras fazia
escala antes de enfre ntar as dificuldades naturais e o fre quente
espreitamento dos indgenas Kayap em todo O percurso moniante de
sua barra.
Cachoefa cE JIP3(Iokl ap-esenIada p!I"
LEVORATO, 1999), anligoobstct*>natuaI
navegao no AlIo Paran, hoje est
recoberta pelo reservatrio da UHE Jupi.
Nas totos abaixo, observa-se oAlto Paran. a
partir da sua margem esq..erda:j.xIkI ii oolsap<ra
gadoem Presidente EpiIcio(A/'mADE. 1941)
e a rea da anliga Por1o XV (vista aparti"da
m<rgem esquerdado rio Plfan
!'lOtes da foonao do reservatrio
da UHESM - foto 1998).
Ao atingir a cabeceira do Pardo, ti
nham a seguir um varadouro terrestre por
a lguns quilmetros antes de , por meio do
rio Coxim, adentrar em guas da bacia
do Paraguai. Nesse local na metade da
viagem entre So Paulo e Mato Grosso,
existia uma grande fazenda que oferecia
um pouco de conforto e os suprimentos
necessrios para a segunda etapa dessa
,
epopia , a Fazenda Camapu, dos irmos
-
Dias Leme, bem estruturada, com cape
Ia, bois, plantaes e dezenas de escra-
Ai!us'rao acima de Camapu, local de parada
i'
I
.' dasmaoes (FLORENCE, 1977) ct.fJ destirlO
rnal, Villade Ban JesusdeCuiab (em 1790)
foi apresentada per Reis (2000).
l
I.
vos negros.
A crnica histrica do ciclo das mones foi registrada em milhares
de documentos ma nuscritos e atas das Cmaras Municipais de So Paulo
e Cuiab, os quais se transformaram em fontes fundamentais e detalha
das das paisagens cHiares e da geografia humana nati va. Entre os docu
mentos produzidos por autoridades coloniais merecem destaque os
latos de viagem de D. Antonio Rolim de Moum, quando na metade do
sculo XVl U, saiu de So Paulo para assumir o Governo da
criada Capita nia de Mala Grosso, bem como o rela trio de viagem de
Teotnio Jos J uza rte (JUZARTEj SOUZA, 2000) que, aJX>s navegar o
so quase completo do rio Tie l, desceu o Alto Paran, at a foz do
19uaiemi, e depois navegou montante at quase a cabeceira deste.
onde assumiu o posto de comandante do Forte 19uatemi, cujas runas.
hoje, se encontram no municpio de Amambai.
8"
I
Nas ltimas dcadas do sculo XVHII , o esgotamento do ouro de alu
vio no entorno de Cuiab e a descoberta de novos garimpos na regio
da cabeceira do rio Guapor, integrante da bacia Amaznica, levou as
autoridades coloniais a transferirem a sede da Capitania de Cuiab para
Vila Bela da Santssima Trindade, localizada na margem do Alto Guapor.
Com isso, o sistema fluvial. implantado na Bacia Platina setentrional,
perdeu seu significado e eficincia, sendo substitudo pelo trajeto fluvial
Guapor, Madeira, Amazonas at Belm do Par.
No incio do sculo XI X, toda a infra-estrutura logstica, com o fim do
Ciclo das Mones, sofreu acentuado declnio. Locais, como a outrora
majestosa Fazenda Camapu, regrediram ao ponto de se tornarem runas
e locais desabit ados.
t
j
orio e o Forte 19oaterni. ilusTados
por Jos Custdio de S eFaria
(1 774: in: REIS, 2000)
eas aluaisrulrt8Sda igreja de
V ~ a Bela da Sarttissma Trindade
(em foto de 1999)
81
oSCULO DA PECURIA
Ilustrao da extensiva pecuria
no Alto Paran doscukl XX,
na loto de Amt ade (1941).
o Alto Paran, pela sua feio geogrfica. sempre foi uma fronteira
natural que separava, quase como uma "muralha fluvial", o Brasil orien
tal do ocidental, o Brasil portugus do Centro-Oeste castelhano. No en
tanto, o expansionismo territorial bandeitante, em suas duas fases, nos
sculos XVII e XVIII, criou os fatos fro nteios/territoriais que fundamen
taram as reivindicaes diplomticas da coroa portuguesa, isso no sen
tido de fazer "letras mortas" o que determinava o Tratado de Tordesilhas
e incorporar o Oeste brasileiro colnia luso-brasileira. O start desse
processo se deu com a criao da Capitania de Mato Grosso, em 1748.
A partir de ento. escorada no princpio juridico do uti possidetis, a di
plomacia metropolitana, tendo como seu mentor Alexandre de Gusmo,
provocou a discusso de um tratado substitutivo ao Tratado de Tordesilhas,
o que resultou na assinatura pelas duas coroas ibricas do Tratado de
Madri, em 1750,
Embora questes fronteirias residuais entre as duas colnias tenham
persistido aps as metrpoles firmarem o novo tratado, a partir desse
momento, a incorporao da regio altoparanaense ao Brasil ficou
i!"RNersvel. Mesmo durante a Guerra do Paraguai, entre 1864-1870, as
pretenses territoriais lopistas estendiam sua leitura cartogrfica apenas
para a rea influenciada pela Bacia do Pataguai, isto , reconheciam li
serra de Maracaju, divisor de guas da Bacia Platina setentrional, como
a fronteira poltica e natural aceitveL
Inoorporncla definitivamente ao territrio brasileiro, assim constitudo
aps 1822, com o fim do Ciclo das Mones, a regio alto-paranaense
a margou, nas primeiras dcadas do sculo XIX, acentuado isolamento
poltico-econmico associado a um quadro demogrfico de quase deser
to, Aregio voltou a caracterizar-se como um serto longnquo, silvestre e
povoado, basicamente, pelos remanescentes das populaes indgenas.
As turbul ncias polticas do I Reinado,
do periodo Regencial e da crise da maiori
dade de Dom Pedro II, fizeram com que o
recm-criado Estado brasileiro concentras
se suas as no sentido de, inicialmente,
consolidar-se no cinturo urbano/rural
a tlntico.
Se a primeira dcada do sculo XIX foi
marcada por sucessivas e contnuas crises
jX>Jticas, sociais e at separatistas, todavia,
a economia imperial encontrou seu prumo por meio
da vertiginosa expanso da agricultura cafeeira . .
A nova ordem econmica nacional, incliretamen
te, vai ser o fator responsvel pela lenta, mas pro
gressiva reincorporao do territrio alto-paranaense
ao quadro sociopotico do pas. O avano da lavou
ra cafeeira, a partir do incio do II Reinado, e m dire
o ao oeste paulista e ao tringulo mineiro, pressio
nou a rustica pecuria a desenvolvida a buscar no
vas reas, menos valorizadas e no cobiadas pelo expansivo setor cafe
eiro. Assim, quase que espontaneamente, sem incentivos governamen
tais, criadores do sul-mineiro e oeste paulista ultrapassamm o Alto Paran
com seus rebanhos e passaram a ocupar as devolutas reas do oriente
sul-mata-grossense.
Dessa forma, o Alto Paran volta a ter sentklo geogrfico e histrico,
no ainda como eixo fluvial para o transporte mas como uma
espcie de "ponte", onde as billsas cruzavam as duas margens, interligan
doas estradas.boiadeiras paulistas e sul-mato-grossenses. Foi nesse contex
to que os pontos de vai fransfonnaram-se em rsticas instalaes portu
rias, das quais, algumas, anos mais tarde, deram origem a diversas cida
des alto-paranaenses. Com o mesmo efeito histrico pode-se somar pe
curia a extrao de madeira das exuberantes florestas tropicais que bor
dejavam as duas margeffi do rio.
No final do sculo XIx., uma nova funo agregada ao Alto Paran.
Com o fim da Guerra do Paraguai, o trecho do rio Paran, a jusante do
Paranapanema, bem como das Sete Quedas, passou a sediar instalaes
porturi as e a circulao embarcada do escoamento da produo da erva
nativa do sul de Mato Grosso do Sul.
Foi tambm no sculo XIX que ocorreu a extino dos ltimos re ma
nescentes das populaes indgenas Guarani oriundas do perodo colo
nial. No final desse sculo, apenas famlias indgenas isoladas, bastante
descaracteri zadas cultural e etnicamente,
sobreviveram na condio de "ndios de fa
zenda", das quais, ainda hoje, possvel en
contrar, vivendo em pequenos ranchos ri
beirinhos, a jusante da barra do lvinhema,
eventuais descendentes. Apesar do te mpo
passado, algumas dessas pessoas ainda pre
servam aspectos da memria de seus a nte
passados e afirmam serem descendentes de
ndios.
ERVA NATIVA
Acima, indios "mineiros" (trabalhadores) do
benefici<rnento 00 erva mate noAJto P<rana, jt.m.
to ao rancho COOl "barbaqua' ou 'carijo" (girau
convexo sob oqual o ar quente da flmaIha
aestava a erva) em folo de Anade (1941).
Remanescentes Gua-ani habilaVm as
proxIDdadesda roz do no 1vMema.corno Dona
Cantalicia da SIva (fotoceotral - seterrbode
2003), qJe se dedaa de origem paraguaia lendo
migado para aregio para rabalhar nos ervais.
OUtros descendentes OOgenas contmaTl
habitando oAlto Paran, como amoradora ao sul
da lha Banderanles (foto., ferPr -janeiu de2(103).
k; vrzeas do no Ivinhema,
semefhBntesa Lm
(Jok:I - sekmtrode 20(3).
Essa rea apresenta raros rEfTliI1eSCef1les da
Flaesla EstacooaI StlniOOc.a
Abesta foi intensamente da fl9o.
como Waafcb abaixo 00 desmatamenb
(em 1978) nas IX"QXmrudes do
sitioarqueol6giro Lagoa 00 CIJSIdo 1.
I
I
r
,
I
I.
l
84
Com a progressiva ocupao das margens do Alto Paran, pela
ria, pela extrao de madeiras e o incio de um incipiente processo de
urbanizao, a cobertura vegetal original, nas dcadas seguintes, foi
vastada, restando pequenos bosques da mata original, em reas menos
favorveis para essas atividades, como O caso, por exemplo, do
no Pantanal existente nas plancies de inundao do rio Baa que se
ligam ao Baixo Ivinhema. A partir de e nto, acelerada degradao
ambiental na regio alto-paranaense comprometen
do no s a flora e a fauna, como tambm provocando acelera
do processo de desestruturao das margens com a conseqen
te eroso Alto Paran e a diminuio de sua proCundidade.
se processo de desequilt'brio ambiental, dive rsos stios arqueol6
gicos que estavam instalados em diques fluviais e pequenos ter
raos coluviais nas margens desse rio e de seus tributrios foram
destrudos, desestruturando os perfis estratigrficos e provocan
do o carreamento, pelas guas, de vestgios arqueolgicos. Essa
situao foi claramente observada no levantamento arqueolgi
co realizado durante o desenvolvime nto dos trabalhos de
mitigao dos impactos sobre o patrimnio arqueolgico por
ocasio da construo da UHESM, isso tanto na margem pa ul ista quanto
na sul-mato-grossense.
Foram nesses refgios ambientais, nas margens dos rios Paran,
Quitero, Trs Barras, Pardo, Taquarussu, Verde , nos crregos Combate,
Boa. Esperana e outros que, durante a segunda metade do sculo XIX,
em ondas radia is, os ndios Ofai-Xavante, perseguidos em seu territrio
tradicional no planalto Maracaju-Campo Grande, buscaram proteger
se da perseguio sistemtica empreendida pelos representantes do m0
delo da economia pecuria que, nessa poca, ex.pandia suas fronteiras
para as pores centrais de Mato Grosso do Sul.
CONSIDERAES
FINAIS
"O HOMEM
MUDA ORIO
EO RIO
MUDA OHOMEM"
Os rios so caminhos que andam
e que nos levam aonde q u ~ o s ir.
funJ 11(,23.162}
~
Nos vales dos grandes rios floresceram culturas
tradicionalmente ligadas aos seus ambientes de vida,
estabelecendo contedos simblicos para OS elemen
tos da natureza, conjugados apropriao cultural
dos recursos alimentares e matrias-primas. Parte
dessas populaes tambm utilizou OS canais fluvi
ais como vias de circulao, assim como para aes
de conquistas e defesas nos momentos de conflitos
intertnicos. Nesse sentido, as culhlras tradicionais
do passado aprimoraram, portanto, tecnologias para
suas realizaes, as quais so testemunhadas, em
parte, por itens da cultura material remanescente.
No caso das ocupaes arqueolgicas, esses teste
munhos so, predominantemente, as ferramentas de
pedra lascada e os utenslios cermicos.
No A1fo Paran, a lgumas prticas tradicionais
reproduzidas nos ambientes ribeirinhos continuam
sendo praticadas at hoje por alguns segmentos das
comunidades locais. As olarias utilizam o restante
dos estoques de argila constitudos antes da inunda
o das vrzeas pelo reservatrio da UHESM, sem
plenas perspectivas de continuidade de gerao de
e mprego e renda a longo prazo.
o Alto Paran, cada vez mais assemelhado a um
mar, em decorrncia da formao dos reservatrios
das usinas hidreltricas, continua estimulando a
S
NOVA PORTO XV
A inaugurao do reassentamento de Nova
PQ10 XV, no ano de 1995, roi presencMa pela
equipe que ento escavava ositio arqueolgi
co Bataguau 3, Iocalizado nas proximidades
desse reassentamento. Essa escavao ati n
gia aprofundidade de 1,5m. na camada onde
se eocootravam vesll gios llticos de um acam
pamento de caadaes-coletores que ali se es
tabeleceu h cerca de 6.000 anos.
Antes da mudal"l<l paraesse reassenlamenlo,
acomunidade de Porto XV habitava a margem
dreita do Alto Paran, posteriamenle inundada
pelo resefVatooo da UHESM. O reassenlmlento
foi construido no terrao cduvial, 13 km dstante
da C'fl1i}l1Tli'l!JlilfTl dessem. As
de alventria Irouxmm aespernna de
somakrlal e melhaia t condas de vKIa Gp!!
5a"de possu"estrullras, tais cerno rruos eq.rin
tais peqJeOOS, dsti11as tiJq.JeIas consruicEspa
essa COOlunidade em seu a-nb!ente rtleirinho de
aigon.
Essa mudana tarbm apouca vi<bili
dade de prticas tradicionti$ de pesca e olaria
MSptlxmwoosm "ea de habitao, poisca
nais fluviais e Jantes de.ilexisi<m 00 enta
no 00 reassent:rnento; a famao 00 resavaID
rio da UHESM 8p"OXInou ocorpo d"gJa a essa
rea. Atradicional festa de Nossa.Senhora dos
Navegantes, cujo ponto alto era o ccrtejo HlNial
qJI! atravessava o canal do rio PErnn, da antiga
Pa10 XVa Presi<btte Epitacio, tarbm foi alte
rada can a icnnao dessereservalCrio. outas
COOlunidades de pescadr:Jes da antiga rrayem
desse gande rio, CM"lO ade Porto Joo Arld"
,
(8rasi\ndia), passar<m pr r:rcx::esoos semetm
tes de construo de novos ambientes
habitacionais na expectativa do incremento do
degenvolvinellto local.
,
I
I.
l
r
pesca, porm com o ingrediente adiciona l de se constituir, essenctaJmen
te, numa atividade de lazer, em especial para os habitantes do interior
paulista e paranaense (estados mais densamente povoados que Mato
Grosso do Sul ). A formao desses reservatrios, aliada intensa ativi
dade pesqueira j praticada nesse grande rio, a lteraram os a mbientes
aquticos e prejudicam a piracema, resultando em estoques pesqueiros
cada vez menores. A formao do reservatrio implicou o reassenta mento
de comunidades como Nova Porto Xv.
Com essa diminuio na quantidade de peixes e o avano do processo
de assoreamento dos canais fluviais, hoje as cidades ribeirinhas do Alto
Paran voltam-se ao grande rio para algumas atividades econmicas tais
como "travessias de passageiros e extrao de cascalho/areia do leito flu
vial. Entretanto, no conj unto prevalece a expectativa geral de incremento
do turismo. com a pesca esportiva associada a esportes nuticos, como
atMdade geradora de renda e de melhorias de qualidade de vida local.
Sete anos aps O incio da formao do reservatrio da UHESM, obser
va-se o avano do processo erosivo nas margens e a conseqente conti
nuidade de destruio de stios arqueolgicos. No Alto Paran nota-se a
descaracterizao de Qutros stios provocada pelo fato de neles haver a
sobreposio de obras atua is tais como edificaes, estradas, pontes e
reas de cultivo. Assim como ns, as populaes tradicionais do passa
do pr-colonial seguia m referenciais universais para o bem-estar huma
no instalando, dessa forma, seus acampamentos e a ldeias nas margens
fluviais elevadas, no inundveis, e com solos frteis.
As pesquisas de mitigao desses impactos sobre o palrimnio ar
queolgico possibili taram a constituio de expressivos acervos arqueo
86
lgicos e dados cientficos, alm de vivncias profissionais nos trabalhos
de campo e de laboratrio e de reconhecimentos paisagsticos.
Os dados obtidos indicam que a ocupao dos stios arqueolgicos,
em estreita relao com os a mbientes onde se inseriram, abrangeu os
caadores-coteteres-pescadores ac.ampados nas barrancas de Alto
Paran, desde 6.CXXl anos, utilizando as fontes de cascalho locais. Quais
horizontes culturais se sucederam nas ocupaes dos 4.()()() anos poste-
TRABAlHOS DE CAMPO
Algtrnas centenas de pessoas }ii participaam
dos lJ)alhos de C<WllXl e de Iaborakrio nesses
12 anos de pesquisas arqueolgicas no Mo
Paran. Trabalha<b"es braais, COOlOaeqtJlpe
d e ~ ~ (foto -;mode 1998), pesq.!1sa
dores, all/11OS e tcnicos vivenciaam os am
bientes, aevideociao dos vestigios culbsais,
no conjunto das atividades da pesquisa.
RECONHECIMENTOS PAlSAGISTlCOS
onbeiro Quiteri em o nico canal nLNial 00
entorno, desde o rio Pardo ate orio Baia. que
interl igava os allos terraos s vrzeas e de
saguava no rio PI'"an. Moradcres 00 local
dziam que esse ribelr1kl foi outraa erTl'ega
do paJa escoamento da erva male ao gande
rio. No momento da pSqUisa cr-queoIgica,
h dcadas no mais navegad:!, esse nbei
ro ela dcrninado pela vegelao.
Expkxando esse canal em 1994, desde apon
te da Rela 1, obsetVou-se amorfologia do ter
rao nLNial : eram vlslvels os locais cem stios
arqueolgi cos, terraos elevados cemo o do
sitio Ribei"o Quiteri 1, desmaiado para a
~ (foto<baixo - 1"f"a'O de 1998).
87
TRABALHOS DE lABORATRIO
Nos Ialx:rntmos, as peas so hi!jenizadas, nu
meradas, analisadas e acondicionadas nas re
servas tcnicas. O trabalho continuado de
processanento dos dados eanlise das peas,
proporcionar novos elementos para acaracte
rizao dos hc:rizontes CiJlturais pretritos do Mo
Paran
MANIFESTAES CULTURAIS
Os ruis mais piscosos no Alto Paran so os
mesmos, no passado e no presente, como se
00serva pela concentrao de pescadores de
afoloJaixo(Bn
maio de 2005) ilustra a coocenrno de barcos
no canal da ponta na1e da Ilha Cmvida- Atual
mente, os turistas pescam durante ada, sebo
sol, enquanto os maadores rDeiinhos da canu
nidade de Jupi (Trs Lagoas) embarcam ao
anoitecer para a pesca em maicr escala (foto
feverei'o de 2005).
I,
l
f
I
riores? Quando teria se originado e di fundido li cermica na rea? Como
se configuraram as fronteiras antigas no passado, entre os Tupiguarani e
os outros povos Macro-J? Com a concluso da anlise dos dados, espe
ra-se detalhar esse conhecimento.
Com relao aos dois lti mos milnios de ocupao do Alto Paran,
sabe-se da hegemnica presena Guarani nas latitudes subtropicais. Em
sentido norte ao grande rio, rarefazem-se os vestgios do repertrio
cermico correspondente, percebendo-se a pretrita existncia de uma
gradual zona de fronteira Tupiguarani (no Guarani) com outros grupos
indgenas nesses ambientes ribe irinhos,
A edificao do conhecimento do passado arqueolgico do Alto
Paran, a partir dos trabalhos de i<.lboratrio e de campo, subsidia a
anlise diacrnica acerca da diversidade das manifestaes cultumis a
88
vividas nos ltimos milnios. Esse conhecimento auxilia na a mpliao
das referncias cie ntficas dos antigos territrios constitudos nos cen
rios pretritos do Alto Paran, bem como se soma s expectativas atuais
de preservao do ambiente remanescente, enquanto ecossistema vivo,
sucedneo das mltiplas experincias culturais vividas no passado e pal
co daquelas a serem experienciadas pelas futuras geraes.
A pesquisa pode contribuir no reconhecimento do patrimnio M
queofgico enqua nto teste munhos de processos culturais que nos so
necessrios, para nosso auto-reco
nhecimento, e passveis de preser
vao, junto com seu a mbiente
envolvente. Nesse sentido, patrim
nio cultural e ambiente so indis
sociveis, cabendo a preservao
integrada de ambos para a manu
teno do legado cultural pretrito
s geraes vindouras. O que se
busca com a continuidade das pes
quisas no Alto Paran.
PATRIMNIO
CULTURAL EAMBIENTE
VISta do Alto Paran rep-esadl, ao lado da ~ e a
da anterior confluncia com o rio Verde. O
represamento desse rio pela UHESMinundou
ilhas enwgens, JX(m as manifestaes devida
eoconran soIuesi! continuicbde ooarbiente
rernansscenle (loIorrrlaixo- jubode 2005).
No lOcante sD:rmaesaqJeOl6cjcas da "ea,
crg.:miz<m.se iIi'Ierfltes pa1l ccmu
nicao dos resuftados rus pescpsas (foto atxIi
XO, fla Bbliotecada UCDB, emoub.trode20(4),
S,9
snos ARQUEOlGICOS CITADOS
ERESPECTIVAS COORDENADAS GEOGRFICAS
Rio Mcwacai 1
Rio lvinll ema 1
ClTego Mirim 1
RioBaia 1
l agoa do Custdio 1
Ribeiro Quteri 1
Alto Paran 5
santa Rita do Pardo 1
Bala!/JaU3
Alto Paran 7
Alto Paran 8
Alto Paran 11
Al to Paran 12
Brasilna 3
Brasil1dia 8
Brasi1iffla 11
Trs Lagoas 1
Rio Verde 10
RioVerde 15
Ilha gua U01Xl1
IlhaCompda 7
Ilha Coo-jxida 8
Alto Paran 40
23'2S41' S53'S!f 13"W
2314'40"S 5Y42' 53"W
23"07'51 ' S 5343'09" W
22"41'39' S53"15'41' W
22"23'04' S 52'52' 08'W
22"12'26' S 52"37'41'W
22"08'52'S 52"25'27'W
2145'29" S 52"10'02"W
21'43'3OS 52"14'25'W
21"38'46"S 52"OJ11'W
21'37'53' S 52'03'30' W
21'3S09"S 52"04'58'W
21"32'28' 5 52"OO'21'W
210J0'4O"S 5159' 30'W
2115'4O"S 51OS1'34"W
21"12'34' S 51'52' 40'W
2O"57'58"S 5142'54"W
21 1O"08"S 510S]'17'VV
21'09'56'5 51"58' l1'W
21007'05"S 5149'2W
2O"55'57'S 5139"S9"W
=53'S 51'37'22'W
2O'53'19'S 51'3!f22'W
GLOSSRIO
A da&as geobgle8sokw'm/!$
de y,\Ia lT1Il<C8"IIn da 1Wst6ri! da TemI
III SVIIdss 1111 flQllfll ftIei:l
'ont.: S>..9Jio. Uk. XIOl.
"
"
ALUVIAl: processo de deposio fluvial de sedimentos e fragmentos delriticos nas margensdos
rios e outros oorpos d'gua.
REA DE DECAPAGEM: rea selecfnada em um sitfo arqueolgioo para ser escavada sistema
tioamente.
ARTEFATOS: objetos einstrumentos confeccionados com finalidades especificas tais como armas,
ferramentas. recipientes, adornos, etc.
CAADORESlCOLETORESlPESCAOORES: termo utilizado pela
Antropologia e pela Arqueologia para designar um tipo de socie
dade humana, composta por poucas dezenas de pessoas (ban
dos), nmade e portadora de uma eoonom!a natural , isto a, no
produtora de alimentos, apenas apropriando-se do que era ofe
recido e dfsponvel na natureza.
CALHAUS: rochas ou minerais cujas superflCies so polidas e
arredondadas pelo trallSpOl'\e fluvial , caracterizados por dimen
ses entre 64 e 256 mm (segufldo a escala de Wentworth, 1922).
CHOPPER: artefato de pedra lascada trabalhado em uma nica
face. cup gume formado pela juno da face lascada com o
crtex natural do seixo ou calhau, conservando boa parte de sua
tnteg:ridade. A funo do chopper era corlar/talhar, carnes, pei
xes, vegetais, elc.
CHOPPING-TOOL: alleralo de pedra lascada, confeccionado
soble calhaus ou seixos. cujo gtKI'Ie formado pelo coolalo de
lares opostas lascadas; sua funo era muilo semelhante do
","""",
COLlM: depsilos de sedimentos prolJenienles de partes mais
alias do leHeno (no fluvial).
OERRAM:: VULCNICO. extravasamento de lavas provenien
tes do interia.- da crosta lenese, oonsolidando-se superiicie.
ERA CENOZICA: inlefvalo de tempo anile 65 mihes de anos
at o presente, que se subdivide nos perodos Tercirio e
Quaternrio.
ERA nte!VaIo de tempo entre 230 e65 de
anos atrs, que se Slbdvide nos perodos Triassico, Jurassico e
Cretceo.
ESTRATIFICAO: propriedade de sobreposio de camadas
de sedimentos, em planos definidos pelo tamanho dasparticulas e
composio mineralgica.
91
FAlHAM:NTOS: fraturas geolgicas em superficies rochosas.
Fl OTILHA OE CANOAS: conunlo de canoas uUizadas no comrcio fluvial, durante os sculos
XVIII e )(I)l As canoas podiam ser armadas ou para transporte de cargas ou pessoas.
HOlOCENO: subdiviso do periodo Qua:emfio que..abraoge o intelVCllo de tempo dos Ullimas
10.000 anos, posterior ao fna! da ltima glaciao 00 Hemisfrio Norte.
INTEWPERIStIiO FSICO: fragmentao das rochas e sob a variao de temperatura
ou outra ao mecnica, Quando a deoomposio das superficies lncrementada pela ao
de bactrias e matria orgnica, sob condies de elevada umidade e temperatura, caracte
riza-.se ointemperismo quimico.
LASCAS RETOCADAS: lascas de rochas que apresentam, em uma de suas bordas, pequenos
laseamentos seqenciais para reforo e delineamento do seu gume
LiTICOS LASCADOS: objetos, fTagmonlos de artefatos e res duos provenentes da confeco de
ferramentas de pedra lascada.
MO: artefato (bigorna) de rocha que possui plana ou ligeiramente OOocava utilizada
para esmagar semenles ou 9ros.
MONO: expedies flMoIcomercPais que laziam o abastecimento e o Inmspor1e de mercado
rias e pessoas, entre So Paulo e Cuiaba, o Sculo XVIII.
PAlEOCLlMAS: condies climticas de longa durao, que perduraram no passado e que
podem ser identificados em indicadores encontrados nos solos, rochas, etc.
PEDOGENIZAO: processo de formao de solos.
PERCUTORES lTICOS: "martelos' de pedra utilizados para confeccionar ferramentas de pedra
lascada.
PLAINA: ferramenla de pedra lascada que seMa parn raspar e alisar Sl.4)enlcies de madeira,
COIJO, ele
PLEISTOCENO: SIlbdiviso do peliodo Oualernrio que abrange o intervalo de tempo dos
ltimos 1,8 miho de MOS at cerca de 10.000 anos (inicio do HoIoceno). Caracleriza-se por
mudanas paleocli mticas que procluzramos estgios glaciais e flterglaciais.
PONTAS DE PROJETIL: objetos do pedra lascada que eram coofeccionados para serem a
extremidade ativalperfurante de lanas e flechas.
PRE-COLONIAL: periodo que compreende os sculos que antecederam a 'descoberta" da
Amrica.
PR-HISTRICO: perodo anterior fornlao das sociedades migenas.
RASPADORES: ferramenta de pedra lascada cuja liAlo era raspar couros, maderas, etc.
REBOJO: "rodamoinhos" nos rios.
SEIXOS: ramas ou mnerais CU}al3 superfcies so polidas earredondadas pelo transporte r.uvial.
com dimenses entre 4 a 64 mm (segundo a escala de Wentworth, 1922).
SERTO: reas do interior brasileiro no atingklas pela fronte ira agro-pastoril.
SiTIO ARQUEOLGICO: local onde houve atividade humana no passado, o que evidenciado
pela presena de vestgios materiais tais como, lascas, fragmentos de cermica, carves,
esqueletos, etc.
TERRAO FLW IAL: superllcies geralmente planas, nas margens dos ri os, pouco sujeitas
lRINCHEIRA: escavao arqueolgica lormalo longitudinal visando locaJizar estruMas
arquoolgicas no solo.
TUPIGUARANI: termo temco utilizado pela Arqueologia para denominar uma de rer
mica arqueolgica (esseocialmonto com pintura poIicrmica ou com impresso digital-tmgueaQ
semelhoote quela produzida por povos da familia lingistic:a l l4li-Guarani do sculo XVI.
VALE FLUVIAl: depresso geomorfolgica longitudinal caraclefizada pelas plancies fluviais.
VESTGIO ARQUEOLGICO: qualquer tipo de objeto (inteiro ou fragmentado) de pedra ou
cermica, bem oomo outros produtos humanos inteiros ou fragmentados (carves de foguei
ras, ossos proveniooles de animais caados, vegetais utilizados), grafismos e outros sinais
no-nalurais encontrados em sitias arqueolgicos.
92
REFERNCIAS
ANDRADE, Theq:>hilo. O Rio Paran no roteiro da marcha para o oeste. Rio de Janeiro:
IrmosPongetti-Zelio Valverde Editnres, 1941.
ARRSPIDE, Jos L R Antonio Ruil de Montoya y las reducciones dei Paraguay.
AsulOn. Cenlrode Esludos P""'9""'fOS '1II11ori<> Guasch' , 1997.
BRMONTE. Nos tempos dos bandeirantes. So Paulo: Governo do Estado, 1980.
BRUNO, Cayetano. Historia de la iglesia en la Argentina II. Buenos Airas, 1967.
BULl RICH, EdJardo J. (Org.). la Villa Imperial de Potosi. Buenos Aires: pubficaciones de
la Academia Nacional de Belras,4ites de la RepWlica Alyentina, 1943. (Docunentos de Arte
Colonial SudMJericano, Cuademo 1)
CARDOZQ, Ramn I. EI Guair: histria dela anliguaprovncia 1554-1676: (Ia arrtigua
Provindadei Guair y la Viria Rica 001 Espiritu Santo). Asurx:ln: B Me. 1970.
CHMYZ, 19or. ArqJeoIogia e histria da vila espamota de Ciudad Real de Guait Cadernos
de Arqueologia, aro 1, v. 1, p. 7-103. 1976.
_ _ o Projeto arqueolgico ltalpu (Convnio Italpu-Iphan): quarto relatrio das
pesquisasrealizadas na rea de ltaipu (1978/79). ClXiUba, 1979.
DAMES & MOORE, INC. (019.) East 01 the Andes, South 01 lhe Amazon.
Archaeological discoveries in lhe dry lowland lorest 01 Bolivia. Astudy spoosored by
Gas TransSolM<YlO S.A. Astudyfocthe plaming and COilstrocUoo ofthe BoIivia-to Brazjj Gas
Pipeline 19971999. Santa Cruz de la Sierra: Impranta Ladivar S.RL., 2001.
OUTRA, Carlos A 00s S. Ofaia: morte evida de lKl1 povo. Canvo Grande, MS: Instituto
Histricoe GeogrfICO de Mato Grosso doSuI, 1996.
_ _ o Oterritfo Ofai pelos caminhos da hlstria: reeocootro etrajetria de um povo.
2{l04. Dissertao (Mestrado em Histria) - Campusde Dourados, Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, Dourndos, 2004.
FACCIO, Neide B. O estudo do sitio arqueolgico Alvim no contexto do Projeto
Paranapanema. 1992. Dissertao (MeslIado em ARJJeoIo!ja) - Faculdade de Rlosofia,
lelJase Cincias Hl.f"MfIaS Uriversdade de So Paulo, So PaLAo, 1992.
FLORENCE, Hercules. Viagem fluvial do Tiet ao Amazonas: de 1825 a 1829. So Paulo:
Editora Cul lrixlEDUSP, 1977.
93
FREITAS, AfonsoA. Vocabulrio Nhccngatu: vernaculizado pelo portugus falado em So
PalAo, lngua Publicao p6stt..ma dirigida [XX" Afonso de FreitasJnior. 200. So
PaUo: 1976. (Brasiliana, v.75)
FlFARO, VICente J.; SUGUIO, Kelitiro. O <:er.oZQpaAista:gfflese aidade. ln:
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 3., 1974, PortoAleg'e Anai. ... PoI1ol'Jeg"':
Sociedade Brasileira de Geologia, 1974. p. 91-101
FLFARO, VlCeI1le J. et ai . Compartimentao e evoluo leclnica da bacia 00 Paran
Revista Brasileira de Geologia, v. 12, n. 4, p. 590-611, 1982.
GUZMN, Ruy D. la Argentina. Madti : Hista 16, 1986.
JABUR, Issa G. Anlise paleoambiental do Quaternrio Superior na Bacia do Alto
Paran. 1992. Tese (Doutcxado) - Instituto de Geocincias eCincias Exatas, Universidade
Estadual Mesqui laFilho", Rio Clam, 1992.
JOUKOWSKY. Manha. Acomplcle manual offield archaeoJogy: looIs anel lecmiques of
fleldwor1t for archaeologisls. NewYol1c Prentice HaU Press, 1980.
JUZARTE, TeoI.ooo J. ; SOUZA, Jonas S. (Org.) Dirio da navegao. So Pauto: EDUSp,
2000. (Uspiana-Brasil 500 anos)
KASHIMOTO, Ernlia M. Geoarqueologia no Baixo Paranapanema: uma perspectiva
geogrfica de estroelecimenlos humanos pr-histricos. 1992. Dissertao (Mestrado em
.A.rqueoIocJa) - Faculdade de Fi losofia, Letras eCincias Htxnanas, Universidade de So
Patllo, So PaiJo, 1992.
__.Variveis ambientais earqueologia no Alto Paran. 1997. Tese (DoutOfado em
AIqJeoIogia) - Faculdade de Filosofia, Lelras eCincias Htmanas, Urlversidade de So
Paulo, 1997.
KASHIMOTO, Eml fia M.: MARTINS, GUson
Paran River, Maio Grosso do Sul State, Brazil. Quaternary lnternational, v. 114, p. 67-86,
2004.
KozAK, Vlacimir et aI. Quem so os Xet? Curitiba: Museu Paranaense; Secretaria de
Esladoda CUttxa; Companhia de Informtica do Para/l, 2000.
KUNZIJ, Ruth. .AJQJeoIogiaregiooal: resultados das peSQJisas realizadas na rea
ele Presidente Prudente, SP. Revista do Museu Paulista, So PatAo, v. 32, n. 5, p. 223-247,
1987.
KUNZLI, Ruth. et a. Mapa do Projeto de Salvamento Arqueolgico de Porto Primavera,
SP. NopWIicado.
LAMING-EMPERAIRE, Annette aI aI. Otrabalho de pedra entre os Xet da Serra de
Dourados, Estado do Paran. So Paulo: Fundo de Pesqj sas do Museu Pallista da
Uriverskiade de So PalAo, 1978. Coleo Museu Paulista, Srie Ensaios, 2.
lEROt-GOURHAN, AncnI. le fi] du tcmps. Paris: Fayaro, 1983.
lEVORATO, Ado V. Trs lagoas; Dama em Preto e Branco{1918-1964). Trs lagoas: Graf
Sei lida., 1999.
MARTINS, Gilson R. Arqueologia do Planalto Maracaju-Campo Grande. Brasilia; Campo
Grande, MS: Secretaria de Desenvotvimento do Centro-Oeste; UFMS, 2003. (CoIeo Centro
Oeste de estums epesquisas, 2).
MARTINS, Gilson R. el ai. Dataes arqueolgicas em Mato Grosso do SlA. Revista do
Museu de Arqueologia e Etnol ogia, v. 9, p. 73-93, 1999.
MONTOYA, Antonio R. Tesoro de la lengua Guarani. MaOOd, 1639.
__0 Arte de la lngua Guarani, mas bien Tupi. Vocabulrio y tesora. Viena; Paris,
1875.
94
MORAIS, Jos L. A utilizao dos anoramentos litolgicos pelo homem pr-histrico
brasil eiro: allise 00 tratalT'leflto da malria-plima. So Paulo, 1983. (CoIeo Museu Pauli sta,
srie de Arqueologi a, 7).
NIMUENDAJ, Curt. Etnografi a e indigenismo: sobre os Kaingang, os Ofai--Xavante e os
ndosdo Par. Campinas: Ed 1993.
NOELLI, Francisco S. Pe5(Jsas arqueclgicas no rio Paran, entre os rios e
Pi<pn. ln: CONGRESSO DA SOCIEDADE DE ARQUEOLOGIA BRASILEI RA, 12.2003, So
Paulo. Cadernos de resumos ... So Paulo: Sociedade de ,.A.rQ.Jeologia Brasi leira, 2003.
PALLESTRINI, Luciana. Stio arqueolgico da lagoa So Paulo: Presidente Epitcio-SP.
Revista de Pr-Histria, v. 6, p. 381-4 10, 1984.
__o espao habitacional em pr-histOria brasileira. Revi sta do Museu Paulista. v. 25,
p. 15-30, 1978.
PETRI, Selerllbrino; FLFARO, Vicente J. Geologia do Brasil: So Pauo:
TAQueiroz; Ed. da USp, 1983.
REIS, Nestor G. Imagens de vilas e cidades do Brasil colonial. So Paulo: EDUSP;
Imprensa Oficial do EstaOO; FAPESP, 2000. (Uspiana-Brasil 500 anos).
RENFREW, CoIi n; BAHN, Arqueologia: teorias, mtoO::ls yprctica. Macikl: Eclciones
Ako,Ig,j3.
RIBEIRO, Oarcy. Uir sai a procura de Deus: ensaiosoo etnologia e indigeoismo. 2.00. Rio
de Janeiro: paz e Terra, 1976.
SCHMITZ, Pedro I. etal. Serranopolls lU - Arqueologia nos Cerrados do Brasil Central . So
Leopoldo: Instituto Anch!etano de Pesquisas, 2004. (Antropologia, 60).
SEPLAN-MS. Atlas multirreferencial do Estado de Mato Grosso do Sul.
Grnr<le, Ig,jQ.
STEVAUX, Jos9. C. O rio Paran: geomorIogoese, sedmeotaoeevoluoqualemria 00
seu curso Slp3Of(regiode Porto Rico, PR). 1993. Tese (Doutorado) - Instituto de
Geocincias, Unversidade de So Paulo, 1993.
STEVAUX, JosC. elal. Ahstria qualernria do rio Paranem seu alto curso. ln: VAZZOLER.
A. E., AGOSTINHO, A. A. & HAHN, N.S. (Ed.). A plancie de inundao do Alto Rio Paran:
aspectos fisicos, bioI(9cos esocioeconnlcos. MarYlg: 1997. p. 46--72.
SUGUIO, Kerilro. Rutuaesoonivel marirfu rn<; (jijmosmilfliose evoIuodasplanicies
cosleiras blasileiras. Revista do Museu Paulista, v. 29, p. 125-141 , 1983184.
SUGU10, Keoitiro; SUZUKI, Uko. A evoluo geolgica da Terra e a fragilidade da vida.
So Paulo: Edgard Blucher, 2003.
SUGUIO, Kerltiro el aI. Quaternrio 00 rio Paran em Pontal do Paranapanema: projXlSla de
um modelo de sedimentao. ln: CONGRESSO BRO.SILEIRO DE GEOLOGIA, 33, Riode
Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, v. 1, p. 10-18, 1984.
TAVARES, EciJafoo el ai. Misses. So LeqlOIdo: Unsinos, 1999.
VERONEZE, Elleo. etal. Programa arqueolgico de Mato Grosso do Sul: relat6riofinal
de acompanhameoto 00 pesquisa. Trs Lagoas: Universidade Fademl de Mato Grassa do
Sul, 1987. 47p. (no pui;icaOOl.
VILHENA-VIALOU, gueda. Brilo: o sitio mais antigo 00 Revista do
Instituto de Pr-Histria, v. 29, p. 9-21,1983-1984.
VlAlOU, Aguada &VlALOU, Denis. MaIo Qosso.
Bulletln de la Socit Prhistorique Franaise, v. 91, n. 415, p. 251-263, 1994.
ZAVATINI , JooA. Dinmicaclimijcano Mato Grossooo Sul. Geografia, Rio Claro, v. 17, n.
2. p. ss.S 1992
95
AP.
c"
CESP
CNPq
CONAMA
CPAq/DHl/LPA
CPCX
d.C.
FAPEC
FATEC-SP
FCT/UNESP
FUNAI
FUNDECT
GIF
IMAP/PANTANAL
INPE
IPHAN
LSCElCEA-CNRS
M.A.
MNUFG
MAE/USP
MS
PAPPMS
SPI
lL
UCDS
UCD SiMDSI
LASPAR
UEM
UFMS
UHESM
UnG
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGW
Allos anles do presente (o presente refefenciadopeloaoo 1950)
MtoOO 00 carbono 14 (procedmento laboratorial QJe permite
dataes de amostras de carvo, conchas ou ossos arcpeolgicos)
E""'9ticade So Pat.<o
Conselho de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
CooseIho Nacional 00 Meio ArOOenle
L<tx>ratOO de Pesquisas Arqueolgicas do Departamento de Hslroa,
Campus de Aquidauana da UFMS
Cam,msde CoJ<imde UFMS
Anos OOpois de Cristo
Flfldao de J'Ipoio Pesquisa, ao Ensino e Cultura (CaIfl>O
Gronde,MS)
FactAdadede Tecnologia de So PatAo-SP
Faculdade deCiOOas eTecnologia da Universidade Esta<:kJa1
PaUista JiJio de Mesquita Rlho'
FU'ldao Nacional do ndio
FlXldao de /Ipoio ao DesenvoMmen!o do Ensino, Cincia e
Tecnologia de Mato Grosso do StJ
Datao por C,/ealizada no LSCElCEA-CNRS, em Gif-sLXYvette
(Frana)
Inslilulu 00 Meio MbienlelPanlanal (Campo Grande, M8)
Instituto Nacional de PesqJisas Espaciais
Instituto do Patrirrilnio Histrico eArtstico Nacional
Laboratoire des Sciences du Climal el de I'EnviromementLaboratoire
Mixte CEA-CNRS UMR 1572
Milhes de anos atrs
Museu Antropolgico da Universidade Federalde Gois
Museu de ArqJeOiogia e Etnologia da Universidade de So Paulo
EstadJd;:) Mato Grosso do SLj
Projeto Arquedico Porto Primavera, MS - conlraloCESPIFAPEC
Servio d;:) Proteo ao irrl o
Mtod:> da termoIumifleSCncia (datao de fr<qnenlos de Cfmica)
Uriver!idade C;;ltioa Dom Boooo (Carroo Gronde, M8)
laboratrio de Pesq.isas Alquevlilgicas 00 Museu Dom Boooo,
Uriversidade C;;ttioa Dom Boooo
Universidade EstariJal de Maring
Uriversidade Federal de Maio Grossooo Sul
Usina Hicteltrica Engenheiro Srgio Moita (anleriormente
denominada PortoPrimavera)
Universidade Guarulhos
Osavtores
Emma Mariko Kashimolo
Graduada em Geografia pela Fel/UNESP,
mestre edoutora emArquedogla pela FFLCH/USP,
Foi professora da UCDB ecuradora (Arqueologia e
Etnografia) eh MOS. Alualmente eprofessora aqunta
da UFMSlCPCX e bolsista 00 MCT/CNPq.
Na blo, a aulora na Ilha tia Comisso Geogrfica - Alto Parall, em 2004.
eKashlmo@lerra.com .br
GiIson RocIoHo Martins
GradJaeb em Histria pela FFLCH/USP,
professor Pr-Histlica da UFMSlCPAq/OHIA.PA,
pesq..lisadorbolsista do MCT/CNPq, ex:.presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB) e
rnentlI'O correspondante da Acaderria PaClguaya de la HistOria em Mato Grosso 00 SU,
Na bIo, o autor em (Trs - Alto Paran, em 2005.
Jpa@nin ufms ,br
Ag.....ecimentos
Passados mais de dez anos de pesquisas <l'qucoIgicas noAtto PiRM, Iaam rlU'neI'osas as
pessoas ou i"di'e1aneo1e oontlui'am ptra os rElSIitaOOs cienliioos !fJ'I!SMlaIXls: neste
livro. Entre elas, ressaltamos e estendemos nossos agradecimentos para:
Prof.Dr. Jos Luizde Maais (MAElUSP); Prof. MimelCataino Pites PEf(ReiIorda UFMS);
Pe. Jos liIarinoni (Reitor da UCDB); Prof. Dr. Cezar Augusto Benevides
lPREGlUFMS); Profs. Ors. $9>lbsAnp; Ferreia Pinto, Tetesa Galotti Florenzano e EveIyn
Moraes Novo (INPE); Profs Ors. .kls Ricet1i Nazareno, Otl<mar CancIda Martins e de
Geqx-ocesscwnento (MA-UFG): Profs. Ors. EveraIdo Pinto eRuth Kunzll, Prol. Ms.
Maao Issamu Ishikawa, Leonlce Begoni (FCTIUNsp); Prol. IAs. Ayr TrwisaneO
(UCOB); equipe da e da UCOBJMOBILABPAR; Profa. Ora. Sonia
Hatsue Tall.mi (LVDlFATEC); Dr. MicheI FontlJ!1l8 (lSCEICEA-CNRS); Prof. Dr. Shi!peo
Walanabe (USP); Prof. rx. Jos Cwrldo SteYaox (UEM); Aletha E. M<I1ins Saluo: Dep.
ainda espsclais agadecinenlos ao Prof. IX. Kenti'o SlqJo (lIIlc.ruSP), pela aileriosa reviso
do capitoo .Arqueologia e .Ambiente, bem como Mwitia c l ennon Godoi pela pacincia e
""""'*'_.
AgacIecenoo I<mbm oapoo das seguintes irsIib.Jes:
CNPq, FUNDECTIM$, CESP, MD8/UCDB, CPAQAJFMS, IPHAN,
IMAPIPANTANAL, MAEAJSP, INPE, FCT/UNESP, MNUFG, FATEC. FAPEC,
LSCElCEA-CNRS e UEM.
UMA LONGA HISTRIA EM UM GRANDE RIO
Cenrios Arqueolgicos
do Alto Paran
,-
Ernlia Ma'iko KasIWrtoto
ecaatxxaes assinadas nas respectivas Inagens
"'ieb,-
Marila Leite e Lemon G:xb
Reviso
Ceila Maria Puia Ferreira
Ilustraes abFJ1uras de capllulos
Neli Guimares
Catalogao de inagens
lberde Arrlade Marfus
"""""'" de "'-' """""''=
der Jneoda Silva
MaibLeiIe
........""'"
Fotolito, iupessoe acalmJenk:l
Gn GrfLCae Edlcfa
K 19L KashInolo. Emilia M;:.riko
lkna longa his1ria em lIT1 !J<Ifde rio : ceofwios do AlIO
Paran I Emlia Mari:o Kastimoto, Gilson RoOO/fo MWls. - Can'p) Grande,
MS : Ed. Oeste, 2005.
100 p. : li. coi. ; 30 cm.
ISBN 85-88523-34-5
1. Levantamel1tos arqueolgicos - Mato Grosso do Sul .2. LevanlameJltos
arqueoI6gicos- Parana, Rio. 3. Arqueologa I. Martms, Gilson Rodolfo, II. Titulo.
Es la ptHicayao foi proOuztda
com apoIO fi nanceiro do
Co"".llto de (IN ....,,"'I,.,...,.,
r. """I69/""
Você também pode gostar
- Argumentação by José Luiz FiorinDocumento136 páginasArgumentação by José Luiz FiorinProf. Wagner SantosAinda não há avaliações
- Cópia de Roma Antiga - A História Completa Da República Romana, A Ascensão e Queda Do Império Romano e O Império BizantinoDocumento48 páginasCópia de Roma Antiga - A História Completa Da República Romana, A Ascensão e Queda Do Império Romano e O Império BizantinoMikael EngelageAinda não há avaliações
- FESTA DO DIVINO PAI ETERNO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO: Coletânea de fotos; fatos históricos do Distrito de Lagolândia; curiosidades sobre os 100 anos da festaNo EverandFESTA DO DIVINO PAI ETERNO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO: Coletânea de fotos; fatos históricos do Distrito de Lagolândia; curiosidades sobre os 100 anos da festaAinda não há avaliações
- BT - Princípios de TreinoDocumento21 páginasBT - Princípios de TreinoRodrigo NobregaAinda não há avaliações
- EBOOK - Encantar Se Pelas Culturas de Codo MADocumento154 páginasEBOOK - Encantar Se Pelas Culturas de Codo MAneuhibAinda não há avaliações
- Aula 7 - Exercícios - Elementos de Máquina - ChavetasDocumento4 páginasAula 7 - Exercícios - Elementos de Máquina - ChavetasEder CoserAinda não há avaliações
- O Povo de LuziaDocumento7 páginasO Povo de LuziaIngrid BignardiAinda não há avaliações
- Introdução A Uma História Indigena PDFDocumento29 páginasIntrodução A Uma História Indigena PDFTerrance Smith100% (1)
- Zoroastro Artiaga - O Divulgador Do Sertão Goiano (1930-1970)Documento205 páginasZoroastro Artiaga - O Divulgador Do Sertão Goiano (1930-1970)josiuegAinda não há avaliações
- 01 PDFDocumento358 páginas01 PDFedolAinda não há avaliações
- Ouro Preto e A Inconfidencia MineiraDocumento40 páginasOuro Preto e A Inconfidencia MineiraWagner Da Cruz100% (1)
- A Arte Funerária de Rodolfo Bernardelli Nos QuatroDocumento8 páginasA Arte Funerária de Rodolfo Bernardelli Nos QuatroJorge Luís Stocker Jr.Ainda não há avaliações
- Tradição e ModernidadeDocumento100 páginasTradição e ModernidadeDidico123Ainda não há avaliações
- Museus Como Zonas de Contato: Periódico Permanente. #6 Fev 2016Documento37 páginasMuseus Como Zonas de Contato: Periódico Permanente. #6 Fev 2016Vivian HortaAinda não há avaliações
- De Onde Veio Esse Nome? A Origem Dos Nomes Dos Municípios BrasileirosNo EverandDe Onde Veio Esse Nome? A Origem Dos Nomes Dos Municípios BrasileirosAinda não há avaliações
- LiberdadeDocumento169 páginasLiberdadeAndreAinda não há avaliações
- Estudos Linguísticos: V L H H L PDocumento33 páginasEstudos Linguísticos: V L H H L PclaudiaAinda não há avaliações
- Arte Rupestre Na Amazonia - Um Patrimonio AmeaçadoDocumento14 páginasArte Rupestre Na Amazonia - Um Patrimonio Ameaçadoibiapina730% (1)
- Ebook - Klein, Estanislau Paulo Atlas Cultural Do Acre e Do Alto Juruá (AM) : Locais Sagrados, Peregrinações, Crenças, Ritos e Festas PopularesDocumento101 páginasEbook - Klein, Estanislau Paulo Atlas Cultural Do Acre e Do Alto Juruá (AM) : Locais Sagrados, Peregrinações, Crenças, Ritos e Festas PopularesProf. Dr. Eduardo CarneiroAinda não há avaliações
- Tempos Modernos - Economia, Politica, Religiao e ArteDocumento118 páginasTempos Modernos - Economia, Politica, Religiao e ArteRobson CostaAinda não há avaliações
- Dicionário Do Ocidente Medieval, V. 2Documento718 páginasDicionário Do Ocidente Medieval, V. 2guímeloAinda não há avaliações
- História Do Mundo - América Pré-Colombiana - Os AstecasDocumento8 páginasHistória Do Mundo - América Pré-Colombiana - Os Astecasshakespeare hamletAinda não há avaliações
- Arqueologia Na Região de SantaremDocumento11 páginasArqueologia Na Região de SantaremJose Roberto PelliniAinda não há avaliações
- Aprendendo Antropologia em Sergipe Exper PDFDocumento318 páginasAprendendo Antropologia em Sergipe Exper PDFLucas MeloAinda não há avaliações
- A Floresta, A Cidade E O RioDocumento284 páginasA Floresta, A Cidade E O RiobruxovelhoAinda não há avaliações
- Idade Média, Idade Dos Homens: Do Amor e Outros EnsaiosDocumento14 páginasIdade Média, Idade Dos Homens: Do Amor e Outros EnsaiosLionhardy100% (1)
- Andreas HuyssenDocumento45 páginasAndreas HuyssenAntônio Flávio dos Santos MendesAinda não há avaliações
- Plano de Disciplina - Métodos e Técnicas de Pesquisa em História 2017.2Documento5 páginasPlano de Disciplina - Métodos e Técnicas de Pesquisa em História 2017.2Fábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- Livro - Genero Mulheres e RaçaDocumento405 páginasLivro - Genero Mulheres e RaçaBruna TerraAinda não há avaliações
- Tipos de Pesquisa - ConceitosDocumento5 páginasTipos de Pesquisa - ConceitosEder Janeo Da Silva94% (35)
- Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro - 1988Documento65 páginasBiblioteca Nacional - Rio de Janeiro - 1988Marcelino Torquato100% (1)
- Teoria Da História E Historiografia: Eduardo Pacheco FreitasDocumento16 páginasTeoria Da História E Historiografia: Eduardo Pacheco FreitasDavid VieiraAinda não há avaliações
- Dissertação Carolina Ferreira PDFDocumento178 páginasDissertação Carolina Ferreira PDFMarcelianyMedeirosFariasAinda não há avaliações
- Questões e Caminhos para Uma Historia Publica No BrasilDocumento8 páginasQuestões e Caminhos para Uma Historia Publica No BrasilSheyla FariasAinda não há avaliações
- Ae Pal11 Leitura Gram2Documento3 páginasAe Pal11 Leitura Gram2Carla Luciana PereiraAinda não há avaliações
- Caleidoscopio Da Historia Da Educacao Percursos Teorico MetodologicosDocumento253 páginasCaleidoscopio Da Historia Da Educacao Percursos Teorico Metodologicosangelarojo100% (1)
- Povoamento Inicial Do Continente Tania Lima Ufrj Museu NacionalDocumento28 páginasPovoamento Inicial Do Continente Tania Lima Ufrj Museu NacionalMatheus AlmeidaAinda não há avaliações
- Teoria Da História Coleção Tudo É História Nº... ZDocumento73 páginasTeoria Da História Coleção Tudo É História Nº... ZLorena BotelhoAinda não há avaliações
- Geometria Espacial Cones ExerciciosDocumento18 páginasGeometria Espacial Cones ExerciciosLuiza Cristina Costa MarquesAinda não há avaliações
- A Pesquisa Na Vida e Na UniversidadeDocumento193 páginasA Pesquisa Na Vida e Na UniversidadeEder Janeo Da Silva100% (2)
- O Meio Do Mundo. Território Sagrado em Juazeiro Do Padre Cícero. Francisco Régis Lopes RamosDocumento450 páginasO Meio Do Mundo. Território Sagrado em Juazeiro Do Padre Cícero. Francisco Régis Lopes Ramosamanda_teixeira_1Ainda não há avaliações
- Gênero, Sexualidade e Educação - ResumoDocumento3 páginasGênero, Sexualidade e Educação - ResumoFran RibasAinda não há avaliações
- Anna Roosevelt - Arqueologia AmazônicaDocumento34 páginasAnna Roosevelt - Arqueologia Amazônicamadmarx100% (1)
- Book Review - Religião Como TraduçãoDocumento4 páginasBook Review - Religião Como TraduçãoJoão Azevedo FernandesAinda não há avaliações
- Os Mistérios Do Rosário Visão, Contemplação e InvocaçãoDocumento400 páginasOs Mistérios Do Rosário Visão, Contemplação e InvocaçãoPedro LorranAinda não há avaliações
- A Educação AstecaDocumento7 páginasA Educação AstecaJaqueline Salles VieiraAinda não há avaliações
- Gestao de Patrimonio ArqueologicoDocumento289 páginasGestao de Patrimonio ArqueologicoAna Claudia Silva SilvaAinda não há avaliações
- Tipologias EvolutivasDocumento6 páginasTipologias EvolutivasBruno Rafael Matps PiresAinda não há avaliações
- Faria (2011) - Catálogo Da Coleção Cartográfica e Iconográfica Manuscrita Do Arquivo Histórico UltramarinoDocumento429 páginasFaria (2011) - Catálogo Da Coleção Cartográfica e Iconográfica Manuscrita Do Arquivo Histórico UltramarinoGabriel Lima Marques100% (1)
- As Práticas e Os Saberes Médicos No Brasil ColonialDocumento180 páginasAs Práticas e Os Saberes Médicos No Brasil ColonialThiago Cancelier Dias100% (1)
- MOTT, Luiz. Rosa Egipcíca (Parte I)Documento190 páginasMOTT, Luiz. Rosa Egipcíca (Parte I)Tainan ConradoAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos II SetaDocumento42 páginasCaderno de Resumos II SetaAna100% (1)
- Rodrigues, João Barbosa - Antiguidades Amazonicas - Atterros SepulchraesDocumento175 páginasRodrigues, João Barbosa - Antiguidades Amazonicas - Atterros SepulchraesgelisiárioAinda não há avaliações
- 3b - PORTILLA, Miguel Leon - A Mesoamérica Antes de 1519Documento21 páginas3b - PORTILLA, Miguel Leon - A Mesoamérica Antes de 1519Priscilla Pereira Goncalves Ramal 4146Ainda não há avaliações
- O Jogo Das Diferencas PDFDocumento5 páginasO Jogo Das Diferencas PDFDimingos FreitasAinda não há avaliações
- FEITLER Bruno Nas Malhas Da Consciencia PDFDocumento18 páginasFEITLER Bruno Nas Malhas Da Consciencia PDFCaim BAinda não há avaliações
- Texto s02 - Registros Rupestres e Caracterização Das Etnias Pré-HistóricasDocumento15 páginasTexto s02 - Registros Rupestres e Caracterização Das Etnias Pré-HistóricasmarcolaxxAinda não há avaliações
- A Camara Municipal de Pelotas e Seus Vereadores (1863-)Documento149 páginasA Camara Municipal de Pelotas e Seus Vereadores (1863-)AndresCorreaAinda não há avaliações
- Resenha Do Filme "Lutero"Documento1 páginaResenha Do Filme "Lutero"Francisco Vicenzi100% (2)
- Historiadasinunda PDFDocumento171 páginasHistoriadasinunda PDFHideki MinamizakiAinda não há avaliações
- Os Sertões e o Deserto: Imagens Da 'Nacionalização' Dos Índios No Brasil e Na Argentina Na Obra Do Artista-Viajante J. M. RugendasDocumento371 páginasOs Sertões e o Deserto: Imagens Da 'Nacionalização' Dos Índios No Brasil e Na Argentina Na Obra Do Artista-Viajante J. M. RugendasCamillo César AlvarengaAinda não há avaliações
- A Lei da Floresta: poder e política na Inglaterra medieval (séculos XI-XIII)No EverandA Lei da Floresta: poder e política na Inglaterra medieval (séculos XI-XIII)Ainda não há avaliações
- Livro Performances UrbanasDocumento183 páginasLivro Performances Urbanassuzete gomes silva silvaAinda não há avaliações
- Etnografia Etnografias Ensaios Sobre A D PDFDocumento222 páginasEtnografia Etnografias Ensaios Sobre A D PDFLeonardo RangelAinda não há avaliações
- Dízimos Por Angelo CarraraDocumento36 páginasDízimos Por Angelo CarraraAnton DylanAinda não há avaliações
- Van Gennep - Cap.06. Os Ritos de PassagemDocumento20 páginasVan Gennep - Cap.06. Os Ritos de PassagemmarcosdadaAinda não há avaliações
- Desvendando Mitos - KROM PDFDocumento163 páginasDesvendando Mitos - KROM PDFPatricia Caldeira100% (1)
- Proposicoes - para - o - Patrimonio - 3.ed - Yussef D. S. CamposDocumento181 páginasProposicoes - para - o - Patrimonio - 3.ed - Yussef D. S. CamposHeloisa FernandesAinda não há avaliações
- DESCARTES, René. Meditações Sobre A Filosofia PrimeiraDocumento132 páginasDESCARTES, René. Meditações Sobre A Filosofia PrimeiraEder Janeo Da SilvaAinda não há avaliações
- Neoliberalism oDocumento30 páginasNeoliberalism oJuliano Francisco VitalAinda não há avaliações
- Como Elaborar Uma Monografia (ABNT)Documento28 páginasComo Elaborar Uma Monografia (ABNT)Luis_Fernando_2521Ainda não há avaliações
- Formação Educacional em Desenvolfimento LocalDocumento102 páginasFormação Educacional em Desenvolfimento LocalEder Janeo Da SilvaAinda não há avaliações
- Educação Escolar e Desenvolvimento LocalDocumento99 páginasEducação Escolar e Desenvolvimento LocalEder Janeo Da Silva0% (1)
- Cultura de Subdesenvovimento e Desenvolvimento LocalDocumento113 páginasCultura de Subdesenvovimento e Desenvolvimento LocalEder Janeo Da Silva100% (1)
- Win T25LDocumento16 páginasWin T25LguerradacetAinda não há avaliações
- Material Plantas DaninhasDocumento353 páginasMaterial Plantas DaninhasJúnior Fogaça100% (1)
- 9.11 O Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação FNDEDocumento20 páginas9.11 O Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação FNDERenilva MarquesAinda não há avaliações
- 1ºteste 2020 10B V3Documento7 páginas1ºteste 2020 10B V3mariaantoniamiraAinda não há avaliações
- Gelciane Torres Da Silva - CMT 10° Semana 9° Ano Ensino Religioso - ToinhaDocumento3 páginasGelciane Torres Da Silva - CMT 10° Semana 9° Ano Ensino Religioso - ToinhaGel TorresAinda não há avaliações
- 001 ARQ DET REV00 MICHELE - AssinadoDocumento1 página001 ARQ DET REV00 MICHELE - AssinadoDouglas RibeiroAinda não há avaliações
- Atividades de Risco Elevado CAEDocumento7 páginasAtividades de Risco Elevado CAESerralheiroAinda não há avaliações
- Questões - Weber - Durkheim - Karl MarxDocumento8 páginasQuestões - Weber - Durkheim - Karl MarxFábio CostaAinda não há avaliações
- Palestra Alexandre PandemiaDocumento2 páginasPalestra Alexandre PandemiaMariana Duarte CattaeAinda não há avaliações
- 2a Convocacao Lista Espera 2018.1Documento164 páginas2a Convocacao Lista Espera 2018.1anabetuneAinda não há avaliações
- Teste Das Múltiplas Inteligências Heder Mendes Da Cruz PDFDocumento5 páginasTeste Das Múltiplas Inteligências Heder Mendes Da Cruz PDFheder mendesAinda não há avaliações
- Equipamentos GuilhonDocumento3 páginasEquipamentos GuilhonRodrigo Dias Pantoja100% (1)
- Aula 01 - Legislação e Saúde Pública - Curso Auxiliar Veterinário01Documento28 páginasAula 01 - Legislação e Saúde Pública - Curso Auxiliar Veterinário01sinderbanda300Ainda não há avaliações
- 11714-Texto Do Artigo-57721-1-10-20210717Documento19 páginas11714-Texto Do Artigo-57721-1-10-20210717DomingosAinda não há avaliações
- Downloads - Telecom - Sistemas - Telecom - Satélite - Introduçao Aos Sistemas Via SatéliteDocumento36 páginasDownloads - Telecom - Sistemas - Telecom - Satélite - Introduçao Aos Sistemas Via Satélitediogo edlerAinda não há avaliações
- 1 Exercicios CompletoDocumento4 páginas1 Exercicios CompletoManolo GipielaAinda não há avaliações
- Apostila de Projetos Ambientais IDocumento13 páginasApostila de Projetos Ambientais IMauro R. A. JansenAinda não há avaliações
- MBA em Gestão: Logística e Supply Chain ManagementDocumento7 páginasMBA em Gestão: Logística e Supply Chain ManagementDecision FGVAinda não há avaliações
- (S - 4HANA) - 01 - Fiori para Funcional - IntroduçãoDocumento33 páginas(S - 4HANA) - 01 - Fiori para Funcional - IntroduçãoRodrigo CanutoAinda não há avaliações
- BryophytaDocumento8 páginasBryophytaWilliam PinheiroAinda não há avaliações
- 315903-Propriedade Intelectual 3Documento21 páginas315903-Propriedade Intelectual 3Dauana PlamerAinda não há avaliações
- Teste Globalizante 1 B C D CCDocumento15 páginasTeste Globalizante 1 B C D CCvjmnunes1970Ainda não há avaliações
- Prova Final Pedagogia POLITICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICADocumento2 páginasProva Final Pedagogia POLITICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICALUCIANA APARECIDA LUIZAinda não há avaliações
- GUIA DE APRENDIZAGEM 7°ano 1B CiênciasDocumento4 páginasGUIA DE APRENDIZAGEM 7°ano 1B Ciênciasdani SimonatoAinda não há avaliações
- Metais de Transição e LigantesDocumento59 páginasMetais de Transição e LigantesWELLINGTON DA SILVA DA COSTAAinda não há avaliações