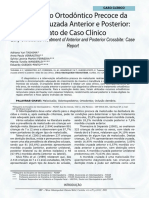Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Uso Indiscriminado de Antibióticos
Uso Indiscriminado de Antibióticos
Enviado por
Érika Trevisan TodescatoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Uso Indiscriminado de Antibióticos
Uso Indiscriminado de Antibióticos
Enviado por
Érika Trevisan TodescatoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
4
ISSN 1810-0791 Vol. 1, N 4 Braslia, Maro de 2004
Uso indiscriminado de antibiticos e resistncia microbiana: Uma guerra perdida?
Lenita Wannmacher
Resumo
Apesar do surgimento e da disponibilizao de vacinas e antimicrobianos eficazes, os germes continuam ganhando a batalha nas doenas infecciosas. Estas ainda acarretam mortes e expressiva morbidade, especialmente em pasesem desenvolvimento. Uma das causas de tal situao consiste no surgimento e na disseminao de resistncia microbiana, que tende a aumentar mediante uso indiscriminado de antimicrobianos. Este srio problema afeta a sade individual e coletiva, sendo real preocupao nos que lidam com a sade pblica. Muitas razes movem os prescritores a recomendar abusivamente os antibiticos. A grande disponibilidade desses medicamentos, acompanhada de publicidade pouco judiciosa, acentua o uso abusivo. Com isso se mantm ou agravam as doenas infecciosas, aparecem mais reaes adversas, usam-se alternativas antimicrobianas mais onerosas e se produzem mais hospitalizaes. Com uso irracional de antibiticos, o desenvolvimento de futura resistncia fcil de prever por ser inevitvel. Antibioticoterapia apropriada significa no usar antimicrobianos na ausncia de indicao, nem em esquema errado ou por tempo demasiado. Ao escolher um antibitico, os prescritores devem preocupar-se com os interesses presentes e futuros dos pacientes.
"Los medicamentos constituyen al mismo tiempo el mayor de los logros y el mayor de los fracasos de la modernidad. Federico Tobar
Introduo
egundo dados da Organizao Mundial da Sade (OMS) , as infeces causam 25% das mortes em todo o mundo e 45%, nos pases menos desenvolvidos. O uso de antimicrobianos para 3 essas situaes tem magnitude calculada .
Mais de 50% das prescries se mostram inapropriadas. 2/3 dos antibiticos so usados sem prescrio mdica em muitos pases. 50% dos consumidores compram o medicamento para 1 dia, 90% compram-no para perodo igual ou inferior a 3 dias. Mais de 50% do oramento com medicamentos so destinados aos antimicrobianos. Os antibiticos correspondem a 12% de todas as prescries 4 ambulatoriais . Isso gera dispndio de 15% dos 100 bilhes de dlares gastos anualmente com medicamentos5.
Nos Estados Unidos h 160 milhes de prescries escritas de antibiticos (30 prescries/100 pessoas/ano), correspondendo a 25 mil toneladas de antibiticos, das quais cerca de 50% destinamse a pacientes e o restante usado em animais, agricultura e aquacultura6. A prevalncia das infeces e o conseqente consumo dos medicamentos para trat-las acarretam muitos erros de prescrio, relacionados a incerteza diagnstica e desconhecimento farmacolgico. H problemas de indicao, seleo e prescrio de antimicrobianos. H ainda o uso de antibiticos como medicamentos sintomticos. comum o no reconhecimento de que antimicrobianos so medicamentos especficos e, portanto, s eficazes para determinados agentes infecciosos. Levantamentos realizados em 1997 e 1996 mostraram que mdicos generalistas ingleses e mdicos de famlia canadenses desconheciam as necessidades 7 8 de antibiticos em rinite purulenta e faringite , respectivamente.
Lenita Wannmacher professora de Farmacologia Clnica, aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente da Universidade de Passo Fundo, RS. Atua como consultora do Ncleo de Assistncia Farmacutica da ENSP/FIOCRUZ para a questo de seleo e uso racional de medicamentos. membro do Comit de Especialistas em Seleo e Uso de Medicamentos Essenciais da OMS, Genebra, para o perodo 2000-2004. autora de trs livros de Farmacologia Clnica.
Pgina 1 : Uso indiscriminado de antibiticos e resistncia microbiana: uma guerra perdida?
Nos Estados Unidos, calcula-se que 50% dos usos sejam inadequados, correspondendo a tratamento desnecessrio de bronquites, faringites e infeces de trato respiratrio superior de etiologia viral 6,9. Cerca de 50% a 66% de todas as prescries de antibiticos para crianas e adultos direcionam-se a tratamento de infeco de trato respiratrio superior e bronquite, condies quase sempre de etiologia viral. Estima-se que somente 35% dos pacientes estejam infectados com estreptococos do grupo A. Se isso fosse levado em conta e corrigido, haveria economia de 6 milhes de prescries de antibiticos. Alm disso, calcula-se que entre 10% e 50% das prescries ambulatoriais de antibiticos sejam desnecessrias.
correspondem a 23% de todas as reaes adversas encontradas 13. em hospital O custo dessas, das hospitalizaes e da resistncia bacteriana (necessidade de alternativas mais onerosas) chega a 14 1,3 bilhes de dlares por ano nos Estados Unidos . A resistncia microbiana refere-se a cepas de microrganismos que so capazes de multiplicar-se em presena de concentraes de antimicrobianos mais altas do que as que provm de doses teraputicas dadas a humanos. O desenvolvimento de resistncia fenmeno biolgico natural que se seguiu introduo de agentes antimicrobianos na prtica clnica. O uso desmedido e irracional desses agentes tem contribudo para o aumento daquele problema. As taxas de resistncia variam localmente na dependncia do consumo local de antimicrobianos. A resistncia bacteriana preocupao mundial, sendo objeto das mais atuais publicaes sobre antimicrobianos. Estes constituem os nicos medicamentos que influenciam no apenas o paciente em tratamento, mas todo o ecossistema onde ele est 10 inserido, com repercusses potenciais profundas . O uso de antibiticos em infeces virais leva ao aumento de resistncia de S. pneumoniae e outros patgenos causadores de infeces na 15 comunidade . E, como diz Hart, bactrias no reconhecem fronteiras internacionais, de modo que a resistncia bacteriana 15 assume dimenso intercontinental . A chamada presso antibitica referente relao entre extenso de uso de antibiticos e seleo de cepas resistentes 6,16 - assunto polmico . O contnuo uso de antimicrobianos tem aumentado a resistncia de vrias bactrias a antimi17 crobianos comuns. Em estudo de coorte - realizado em 271 pacientes e com seguimento de 3810 dias resistncia a Pseudomonas aeruginosa foi de 10% em relao a imipenem, piperacilina, ciprofloxacino e ceftazidima, mostrando que sobra elenco restrito para sua erradicao. Imipenem e ceftazidima apresentaram, respectivamente, o maior e o menor risco de resistncia. possvel que a espcie seja resistente a mais agentes, alm dos testados neste estudo. H ainda evidncia limitada que avalie se a reduo de prescrio 9 de antibitico diminui o desenvolvimento de resistncia . Isso aconteceu na Finlndia em 1996, onde eficiente campanha diminuiu a resistncia de estreptococos do grupo A aos macroldeos 18 (19% em 1993 para 8,6% em 1996) . A limitao de consumo s reduz a resistncia microbiana quando suficientemente ampla e 19 se prolonga por tempo suficiente . O emprego de medidas de sade pblica (vacinao, saneamento, cuidados com a gua de uso) tambm pode lograr a reduo da disseminao de infeces 3 por germes resistentes . Em 1992, Cohen fez previses pessimistas, mas longe de serem meramente especulativas: O uso inadequado de antibitico em um paciente pode reduzir a eficcia em outro paciente devido seleo de organismos resistentes. O desenvolvimento de futura resistncia fcil de prever por ser inevitvel.
20
Fatores que podem influenciar a seleo do medicamento
Alm da falta de informao, o prescritor tem o desejo de satisfazer o paciente e sofre a presso exercida pelos fabricantes que induzem o uso do que mais novo e mais caro. As expectativas dos pacientes influenciam a prescrio mdica. Os pacientes muitas vezes sentemse no direito de receber um remdio que produza cura imediata. Algumas vezes, exigem medicamento injetvel. Antibitico considerado como a panacia universal. A falsa impresso de eficcia reforada nas infeces autolimitadas, como as virais. A prescrio de antibitico serve para encurtar a consulta (menor possibilidade de contgio, maior nmero de consultas por hora) e evitar nova consulta e realizao de culturas diagnsticas (medida econmica dos planos de sade)10. Medo do litgio por erro ou displicncia mdica fator concorrente de uso de antibiticos nos Estados Unidos. Em mbito hospitalar, prescritores com menor experincia clnica (internos e residentes) tomam mais freqentemente as decises teraputicas e se sentem pressionados por casos agudos de alta complexidade. A prioridade evitar o desastre nas 24 horas seguintes, alvo supostamente alcanado com o uso de antibiticos de amplo espectro ou a cacofonia de vrios antibiticos de pequeno 10 espectro em associao . Outro fato comum a repetio automtica de prescries, fazendo com que a durao de um curso de antibitico se prolongue alm do racional, como visto em 11 12 dois estudos de utilizao em hospitais universitrios brasileiros , . A gravidade das infeces favorece o uso de terapia emprica, o que serve para selecionar cepas microbianas resistentes.
Resistncia: conseqncias do uso abusivo e irracional
A grande disponibilidade de antimicrobianos, acompanhada de publicidade pouco judiciosa, acentua o uso abusivo. Este tem como conseqncia o surgimento de efeitos adversos que
Pgina 2 : Uso indiscriminado de antibiticos e resistncia microbiana: uma guerra perdida?
J que h ausncia de evidncia direta de que o uso de um antimicrobiano em particular cause resistncia, e desde que o uso de todos os antibiticos gera resistncia, o mais prudente evitar o uso abusivo e inapropriado desses frmacos. Usar antibioticoterapia apropriadamente a nica justificativa para submeter o paciente ao risco de efeitos adversos e a populao ao risco de aumentada resistncia. Antibioticoterapia apropriada significa no usar antimicrobianos na ausncia de indicao, nem em esquema errado ou por tempo demasiado. Ao escolher um antibitico, os prescritores devem preocupar-se com os interesses presentes e futuros 21 dos pacientes .
diferentemente os atores do processo de uso/fornecimento de 22 antimicrobianos . Prescritor: tem o custo da ineficcia da terapia convencional, com eventual perda de pacientes. Paciente: tem o custo da doena no solucionada e de eventual morte; onera-se com a exigncia de medicamento alternativo, usualmente mais caro. Sistema pblico de sade: gasta excessivamente, desequilibrando recursos geralmente escassos. Viso social: h reduo de fonte de sade (infeces mais graves, menos frmacos eficazes) para a populao. Indstria farmacutica: estmulo para o desenvolvimento de novos produtos. o nico segmento que lucra. A conteno da resistncia somente ser alcanada mediante o uso racional de antimicrobianos em medicina humana e uso nohumano. No entanto, medidas de conteno nem sempre levam a menores custos, e o uso de outros antimicrobianos pode ter impacto negativo nos desfechos clnicos. Na conteno da resistncia microbiana devem colaborar prescritores e dispensadores, pacientes e pblico, governos, sociedades profissionais, indstria farmacutica, 2 indstrias de aquacultura, agricultura e horticultura .
Uso racional: por qu deve ser um compromisso de todos?
necessrio definir claramente o impacto global do problema de 22 resistncia sobre mortalidade, morbidade e custos com a sade . A resistncia microbiana problema mundial. Se medidas nacionais forem tomadas em uma minoria de pases, o efeito total ser muito pequeno. O custo anual das infeces causadas por germes resistentes de 4-5 milhes de dlares nos Estados Unidos. O impacto econmico da resistncia bacteriana afeta
Medidas que podem contribuir para evitar ou diminuir a resistncia
O controle da resistncia microbiana depende de!:
Desenvolvimento de novos medicamentos Desenvolvimento de vacinas Deteco do perfil de resistncia microbiana em hospitais Implementao de medidas de controle de infeco hospitalar Desenvolvimento de protocolos teraputicos para infeces prevalentes Treinamento de estudantes de graduao das reas da sade no diagnstico e no manejo de infeces comuns Programas educacionais para usurios no sentido de prevenir infeco (imunizao) e diminuir a transmisso (lavagem de mos, higiene com os alimentos) Manuteno da qualidade de laboratrios de anlises microbiolgicas Promoo do uso racional de antimicrobianos Dispensao de antibiticos somente com prescrio mdica Autorizao de comercializao somente para antibiticos que atendam a padres internacionais de eficcia, segurana e qualidade
23
Pgina 3 : Uso indiscriminado de antibiticos e resistncia microbiana: uma guerra perdida?
Essas intervenes devem constituir prioridade nacional, fazendo parte das agendas governamentais e de agncias de fomento, 3 com alocao de recursos para implement-las e avali-las . Durante a Conferncia Europia sobre Uso de Antimicrobianos, em 2001, David Byrne asseverou que o problema da resistncia microbiana no vai ser contornado pelo contnuo desenvolvimento de novos frmacos, mas pela urgente preocupao com a imediata 24 reduo do uso desnecessrio e inapropriado dos antibiticos . Tanto a OMS quanto a OPAS tm feito acirradas campanhas com o fito de evitar o crescimento da resistncia bacteriana. Nas Amricas, a OPAS criou uma rede de vigilncia sobre a sensibilidade a antibiticos de patgenos intestinais (Salmonella, Shigella e Vibrio 25 cholera), importantes agentes causais de diarrias . A OMS est dando suporte realizao de projetos pilotos direcionados conteno de resistncia bacteriana em pases em 3 desenvolvimento .
No incio dos anos 40 do sculo XX, iniciava-se a era antibitica, que parecia destinada a vencer a grande batalha contra as infeces, erradicando doenas e aumentando significativamente a expectativa de vida. Prescritores e usurios maravilharam-se com o presente 26 dos antibiticos, mas deturparam-no mediante uso indiscriminado . Nos primrdios do novo sculo, esses mesmos antibiticos esto no bojo de uma guerra atual e futura a da resistncia microbiana que ser perdida, a menos que haja conscientizao global sobre a gravidade do problema e adoo de srias estratgias para contlo. Mais um desafio mundial!
Referncias Bibliogrficas
1. TOBAR, Federico. Los medicamentos y la promesa incumplida de la medicina moderna. Boletn del Programa de Investigacin Aplicada de Isalud, [S.l.], v.1, n.1, p. 1, 2001. 2. WHO global strategy for containment of antimicrobial resistance. anti-infective drug resistance surveillance and containment. Disponvel em: http://www.who.int/emc/amr.html. Acesso em: 27 mar 2001. 3. HOLLOWAY, K. WHO activities to contain antimicrobial resistance and promote Drug and Therapeutic Committees. Geneva: World Health Organization, Departament of Essential Drugs and Medicines Policy, 2003. (Palestra) 4. MCCAIG, L. F.; HUGHES, J. M. Trends in antimicrobial drug prescribing among office-based physicians in the United States. JAMA, [S.l.], v. 273, p. 214-219, 1995. 5. PHELPS, C. E. Bug/drug resistance: sometimes less is more. Med Care, [S.l.], v. 27, p. 194-203, 1989. 6. WENZEL, R. P.; EDMOND, M. B. Managing antibiotic resistance. N Engl J Med, [S.l.], v. 343, p. 1961-1963, 2000. 7. SCHWARTZ, R. H. et. al. Antimicrobial prescribing for acute purulent rhinitis in children: a survey of pediatricians and family practitioners. Pediatr Infec Dis J, [S.l.], v. 16, p. 185-190, 1997. 8. MCISAAC, W. J.; GOEL, V. Sore throat management practices of Canadian family physicians. Fam Pract, [S.l.], v. 14, p. 34-39, 1996. 9. BELONGIA, E. A.; SCHWARTZ, B. Strategies for promoting judicious use of antibiotics by doctors and patients. BMJ, [S.l.], v. 317, p. 668-671, 1998. 10. AVORN, J.; SOLOMON, D. H. Cultural and economic factors that (mis)shape antibiotic use: the nonpharmacologic basis of therapeutics. Ann Intern Med, [S.l.], v. 133, p. 128-135, 2000. 11. WANNMACHER, L. et. al. Anlise da real versus a adequada utilizao de vancomicina no Hospital de Clnicas de Porto Alegre. Revista HCPA, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 26-32, 1993. 12. SILVA, A. B. et. al. Utilizao de ceftriaxona no hospital universitrio de Passo Fundo. Revista Mdica do Hospital So Vicente de Paulo, [S.l.], v. 11, p. 26-29, 2000. 13. CLASSEN, D. C. et. al. Computerized surveillance of adverse drug events in hospital patients. JAMA, [S.l.], v. 266, p. 2847-2851, 1991. 14. OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT. Impacts of antibioticresistant bacteria: (OTA-H-629). Washington DC: US Government Printing Office, 1995. 15. HART, C. A. Antibiotic resistance: an increasing problem? BMJ, [S.l.], v. 316, p. 1255-1256, 1998. 16. AUSTIN, D. J.; KRISTINSSON, K. G.; ANDERSON, R. M. The relationship between the volume of antimicrobial consumption in human communities and the frequency of resistance. Proc Natl Acad Sci USA, [S.l.], v. 96, p. 1152-1156, 1999. 17. CARMELI, Y. et. al. Emergence of antibiotic-resistant Pseudomonas aeruginosa: comparison of risks associated with different antipseudomonal agents. Antim Agents Chemother, [S.l.], v. 43, p. 1379-1382, 1999. 18. SEPPALA, H. et. al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance. N Engl J Med, [S.l.], v. 337, p. 441-446, 1997. 19. STEINKE, D.; DAVEY, P. Association between antibiotic resistance and community prescribing: a critical review of bias and confounding in published studies. Clin Infect Dis, [S.l.], v. 33, Suppl 3, p. S193-205, 2001.
Pgina 4 : Uso indiscriminado de antibiticos e resistncia microbiana: uma guerra perdida?
20. COHEN, M. L. Epidemiology of drug resistance: implications for a post-antimicrobial era. Science, [S.l.], v. 257, p. 1050-1055, 1992. 21. LEIBOVICI, L.; SHRAGA, I.; ANDREASSEN, S. How do you choose antibiotic treatment? BMJ, [S.l.], v. 318, p. 1614-1618, 1999. 22. MCGOWAN, J. E. Economic impact of antimicrobial resistance. Emerg Infect Dis, [S.l.], v. 7, n. 2, special issue, mar-apr 2001 23. OPS. Red de vigilancia a los antibiticos en las amricas enfrenta su uso excesivo e inapropiado. http://www.paho.org/spanish/ dpi/press. [Acessado em 29/03/2001] 24. Carmeli, Y., Eichelberger, K., Soja, D., Dakos, J., Venkataraman, L., DeGirolami, P., Samore, M. Failure of quality control measures
to prevent reporting of false resistance to imipenem, resulting in a pseudo-outbreak of imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa. J Clin Microbiol, 1998, 36(2): 595-597. 25. ORGANIZACIN PANAMERICANA DE LA SALUD. Red de vigilancia a los antibiticos en las Amricas enfrenta su uso excesivo e inapropiado. Disponvel em: http://www.paho.org/spanish/dpi/ press. Acesso em: 29 mar. 2001. 26. SMITH, R. Action on antimicrobial resistance. BMJ, [S.l.], v. 317, p. 764-770, 1998.
Glossrio em Investigao Farmacolgico-clnica - II
Erro aleatrio, inerente a toda observao, influenciado pelo acaso. Pode ser minimizado, mas nunca completamente evitado. Estatstica a cincia que avalia o erro aleatrio. Erro alfa ou de tipo I a probabilidade de ser apontada diferena entre grupos, inexistente na realidade. S pode acontecer em estudos que concluem pela diferena entre grupos. Erro beta ou do tipo II a probabilidade de dizer que no h diferena entre os grupos quando, na realidade, ela existe. S pode ser cogitado quando no h diferena estatisticamente significativa entre os grupos estudados, tendo maior risco de ocorrncia em experimentos com pequena amostragem. Erros sistemticos ou vieses (biases) decorrem de problemas no delineamento do estudo. Podem ocorrer ao selecionar amostra, aferir desfechos ou quando outras variveis se associam ao fator em estudo. Fator de risco atributo presente no indivduo ou no ambiente, associado a aumento de incidncia de um evento. Incidncia (Incidence) medida de freqncia de doena, correspondendo ao nmero de novos casos ou eventos que ocorrem durante um perodo especfico de tempo em populao em risco de desenvolvimento de doena ou eventos no mesmo perodo de tempo. Intervalos de confiana (IC) constituem medida de disperso. Levam em conta a variao de amostra para amostra, definindo uma faixa de valores em que provavelmente est includa a mdia (ou a proporo) da populao de origem. Quando se fala em intervalo de confiana de 95% (IC95%), pode-se afirmar que h probabilidade de 95% de que o intervalo obtido inclua o real valor da mdia (ou proporo) da populao. A probabilidade de esse valor no estar no referido intervalo de apenas 5%. O intervalo de confiana tambm pode ser calculado para dados apresentados como risco relativo (RR) ou razo de chances (RC ou OR = odds ratio em ingls. Nesse caso, se o intervalo englobar o valor 1 - que representa ausncia de risco - infere-se que no h diferena estatisticamente significativa entre os grupos experimentais. Segue-se raciocnio similar para dados apresentados sob a forma de tamanho de efeito. Se o intervalo de confiana engloba o valor zero (ausncia de efeito), conclui-se pela aceitao da igualdade entre grupos. Nvel de significncia do teste estatstico (nvel a) corresponde taxa de erro de tipo I ou alfa que o estudo se prope a tolerar. Usualmente estabelecido em 0,05 ou 0,01, ou seja, a probabilidade de afirmar que h diferena significativa entre os grupos, quando na verdade ela no existe, igual ou inferior a 5% ou 1%, respectivamente. Nmero de pacientes que necessrio tratar (number needed to treat = NNT) corresponde ao nmero de pacientes que necessita ser tratado por perodo determinado de tempo para que ocorra um evento de interesse. Nmero de pacientes que necessrio tratar para se detectar dano (NND; number needed to harm=NNH) nmero de pacientes tratados no ensaio clnico que determinou o aparecimento de um dano. Poder estatstico a probabilidade de um experimento detectar diferena significativa quando ela realmente existe. Quanto maior o poder do estudo, maior a probabilidade de detectar diferena realmente significativa. O poder estatstico suficiente para evitar erro beta usualmente superior a 80% (0,8). Prevalncia (Prevalence) a proporo da populao que apresenta a doena ou a condio em um ponto no tempo (prevalncia no ponto ou prevalncia-ponto) ou em qualquer momento durante um perodo de tempo (prevalncia no perodo). Probabilidade - valor P - a quantificao da probabilidade de que as diferenas observadas tambm possam ser decorrentes de erro aleatrio. Determina-se valor mximo aceitvel de que os resultados sejam fruto do acaso. Se a probabilidade for muito pequena (menor do que 1% ou 5%, representada, respectivamente, por P<0,01 ou P<0,05), assume-se que a interveno ou a exposio gerou duas populaes diversas. Randomizao objetiva produzir grupos com caractersticas semelhantes, de tal forma que as diferenas detectadas ao final do estudo s possam ser atribudas interveno. Os indivduos da
Pgina 5 : Uso indiscriminado de antibiticos e resistncia microbiana: uma guerra perdida?
amostra so aleatoriamente alocados para uma interveno (medicamentosa ou de outra natureza) ou seu controle. Razo de chances, razo de odds, risco relativo estimado, razo de produtos cruzados (odds ratio = OR) a medida de associao dos estudos de casos e controles. Avalia a chance de exposio entre os casos comparativamente chance de exposio entre os controles. Se a freqncia de exposio for maior entre os casos, o resultado exceder a 1, indicando risco. Valores inferiores a 1 indicam proteo. Risco relativo (RR) a medida de associao utilizada em estudos de coorte e de interveno. Corresponde comparao das incidncias do evento observado em indivduos expostos e noexpostos. Significncia farmacolgico-clnica corresponde aplicao pragmtica dos resultados de uma investigao com validades interna e externa. Tamanho da amostra permite maior poder estatstico, pois, aumentando o tamanho da amostra observada, diminui-se a disperso dos dados e, portanto, a amplitude do intervalo de confiana. Maiores amostras fornecem melhor estimativa dos parmetros da populao de origem, diminuindo a probabilidade de ocorrer erro de amostragem. Arbitrariamente, poder de 0,8 (probabilidade de detectar diferenas significativas = 80%) visto como suficiente para detectar certo tamanho de efeito. Testes estatsticos apontam para presena ou ausncia de diferena estatisticamente significativa entre as amostras estudadas. H duas possibilidades de acerto em testes estatsticos: (a) os grupos estudados so realmente diferentes; (b) os grupos realmente se comportam de forma semelhante. H tambm duas possibilidades de erro: (a) o teste detecta diferena entre grupos que, na realidade, so similares, propiciando concluso falsamente positiva; (b) o teste estatstico conclui pela no-diferena entre grupos que so de fato diferentes, levando concluso falsamente negativa.
Validade externa de um estudo corresponde possibilidade de generalizao para outras amostras ou populaes. Validade interna em um estudo atingida quando as evidncias de associao (ou sua falta) tm mnima chance de dever-se ao acaso e no existem erros sistemticos.
BIBLIOGRAFIA
FERREIRA, Maria Beatriz Cardoso. Captulo 3: Fundamentos de Bioestatstica. In: FUCHS FD, WANNMACHER L (eds.). Farmacologia clnica: fundamentos da teraputica racional. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004. [no prelo]. FUCHS, Sandra Costa; FUCHS, Flvio Danni. Captulo 2: Mtodos de Investigao Farmacolgico-clnica. In: FUCHS FD, WANNMACHER L (eds.). Farmacologia clnica: fundamentos da teraputica racional. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004. [no prelo].
N 5 - Depresso maior: da descoberta soluo
Organizao Pan-Americana da Sade/Organizao Mundial da Sade - Brasil, 2003. Todos os direitos reservados. permitida a reproduo total ou parcial desta obra, desde que seja citada a fonte e no seja para venda ou qualquer fim comercial. As opinies expressas no documento por autores denominados so de sua inteira responsabilidade. Endereo: SEN lote 19, Braslia - DF, CEP 70800-400 Site: http://www.opas.org.br/medicamentos E-mail: webmaster.hse@bra.ops-oms.org Responsvel pelo projeto de Medicamentos e Tecnologias: Nelly Marin Jaramillo - OPAS/OMS Diretor do Departamento de Assistncia Farmacutica: Norberto Rech - Ministrio da Sade Coordenao da publicao: Adriana Mitsue Ivama - OPAS/OMS Texto e pesquisa: Lenita Wannmacher Reviso de Texto: Ana Beatriz Marinho de Noronha Consultor de Comunicao: Carlos Wilson de Andrade Filho - OPAS/OMS Normalizao: Centro de Documentao (CEDOC) - OPAS/OMS
Layout e Diagramao: Formatos Design Conselho Editorial: Antonio de Pdua Pithon Cyrino (UNESP), Cludia Osrio de Castro (NAF/ENSP/ FIOCRUZ), Paulo Picon (UFRGS), Paulo Srgio Dourado Arrais (UFC), Rogrio Hoefler (CEBRIM). Uso Racional de Medicamentos: Temas Selecionados uma publicao do Projeto de Medicamentos e Tecnologias da Organizao Pan-Americana da Sade/Organizao Mundial da Sade - Representao do Brasil e do Departamento de Assistncia Farmacutica, da Secretaria de Cincia, Tecnologia e Insumos Estratgicos do Ministrio da Sade.
ISSN 1810-0791
Este Boletim direcionado aos profissionais de sade, com linguagem simplificada, de fcil compreenso. Representa a opinio de quem capta a informao em slidas e ticas pesquisas disponveis, analisa e interpreta criticamente seus resultados e determina sua aplicabilidade e relevncia clnica no contexto nacional. Tal opinio se guia pela hierarquia da evidncia, internacionalmente estabelecida e aceita. Assim, revises sistemticas, metanlises e ensaios clnicos de muito bom padro metodolgico so mais considerados que estudos quase-experimentais, estes, mais do que estudos observacionais (coortes, estudos de casos e controles, estudos transversais), e ainda estes, mais do que a opinio de especialistas (consensos, diretrizes, sries e relatos de casos). pela validade metodolgica das publicaes que se fazem diferentes graus de recomendao de condutas.
Pgina 6 : Uso indiscriminado de antibiticos e resistncia microbiana: uma guerra perdida?
Você também pode gostar
- Revista Pulmao RJ Suplemento Pneumo in Rio 2021Documento79 páginasRevista Pulmao RJ Suplemento Pneumo in Rio 2021ronie redsAinda não há avaliações
- Modelo de ProjetoDocumento8 páginasModelo de ProjetoAndresa souzaAinda não há avaliações
- Principais Cuidados Na Administração de AntibióticosDocumento9 páginasPrincipais Cuidados Na Administração de AntibióticosIrene NascimentoAinda não há avaliações
- Fármacos Utilizados em InfecçãoDocumento186 páginasFármacos Utilizados em InfecçãoFabiano Paes MartinsAinda não há avaliações
- Riscos Do Uso de Antibioticos Indevidamente Abraham Nunes Cezar SchneersohnDocumento3 páginasRiscos Do Uso de Antibioticos Indevidamente Abraham Nunes Cezar SchneersohnAbraham SchneersohnAinda não há avaliações
- Cuidados Farmacuticos No Uso de AntimicrobianosDocumento137 páginasCuidados Farmacuticos No Uso de AntimicrobianosAlessandraGoethenauAinda não há avaliações
- TCC Pós JessycaDocumento17 páginasTCC Pós JessycaFabiola PatricioAinda não há avaliações
- Ana-Flavia-Teixeira-Atividade 2Documento10 páginasAna-Flavia-Teixeira-Atividade 2hitaluAinda não há avaliações
- Hipótese e Justificativa - Projeto MetodologiaDocumento3 páginasHipótese e Justificativa - Projeto MetodologiaAntonio Eduardo de SousaAinda não há avaliações
- Resistência Bacteriana Á Luz Da Teoria NeodarwinistaDocumento4 páginasResistência Bacteriana Á Luz Da Teoria NeodarwinistaLara SilvaAinda não há avaliações
- AED-1 Farmacologia PDFDocumento5 páginasAED-1 Farmacologia PDFRayan CarvalhedoAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2022-08-24 À(s) 15.09.09Documento2 páginasCaptura de Tela 2022-08-24 À(s) 15.09.09Ana Victoria CostaAinda não há avaliações
- Ana-Flavia-Teixeira-Atividade 3Documento12 páginasAna-Flavia-Teixeira-Atividade 3hitaluAinda não há avaliações
- Júlia Santos Do NascimentoDocumento32 páginasJúlia Santos Do NascimentoDominique_DinisAinda não há avaliações
- Resenha MicrobiologiaDocumento5 páginasResenha MicrobiologiaLorena Garcia azevedoAinda não há avaliações
- Projeto FinalizadoDocumento10 páginasProjeto FinalizadoJoao Victor Da SilvaAinda não há avaliações
- Adrian, VITTALLE3310 OkDocumento13 páginasAdrian, VITTALLE3310 Okfeliphe2131Ainda não há avaliações
- Ebook AntibioticoDocumento49 páginasEbook AntibioticoMARCIO LEVIAinda não há avaliações
- Resumo Mad - LucianaDocumento4 páginasResumo Mad - LucianaEwerton BarbozaAinda não há avaliações
- Aula 2Documento7 páginasAula 2Maria MatosAinda não há avaliações
- Resistencia BacterianaDocumento3 páginasResistencia BacterianaJordânia Maria de Nazaré da Silva MineiroAinda não há avaliações
- Resistência Aos Antimicrobianos e Resposta BrasileiraDocumento21 páginasResistência Aos Antimicrobianos e Resposta BrasileiraGabriela BarrosAinda não há avaliações
- Aula 5 - Introdução Ao Estudo Dos AntimicrobianosDocumento28 páginasAula 5 - Introdução Ao Estudo Dos AntimicrobianosAllison InvestimentosAinda não há avaliações
- Proposta Microbiologia AtualDocumento9 páginasProposta Microbiologia AtualDexter BraxterAinda não há avaliações
- ANTIMICROBIANOSDocumento11 páginasANTIMICROBIANOSEllen BuenoAinda não há avaliações
- Uso Antibioticos OdontologiaDocumento18 páginasUso Antibioticos OdontologiaKAREN ALMEIDA MATOSAinda não há avaliações
- Revisão Diag Moleclar TBDocumento8 páginasRevisão Diag Moleclar TBTaís Sá TelesAinda não há avaliações
- 15027-Texto Do Artigo-68288-1-10-20161114Documento4 páginas15027-Texto Do Artigo-68288-1-10-20161114Iza LealAinda não há avaliações
- Antibióticos e ResistênciaDocumento12 páginasAntibióticos e Resistênciacristovaopetronio460Ainda não há avaliações
- Wp-Contentuploads202202guia ATM Final PDFDocumento40 páginasWp-Contentuploads202202guia ATM Final PDFBeatriz Cristina GuerreiroAinda não há avaliações
- A Atuação Do Farmacêutico Clinico No Combate A Resistência AntimicrobianaDocumento2 páginasA Atuação Do Farmacêutico Clinico No Combate A Resistência AntimicrobianaAugusto BorgesAinda não há avaliações
- Resumo TalissaDocumento8 páginasResumo TalissaTalissa AbreuAinda não há avaliações
- 1 - A Resistência Bacteriana No Contexto Da Infecção HospitalarDocumento7 páginas1 - A Resistência Bacteriana No Contexto Da Infecção HospitalarCláudia Rachid ColussiAinda não há avaliações
- Trabalho Antimicrobiano 1Documento4 páginasTrabalho Antimicrobiano 1lucasmedeiros20170Ainda não há avaliações
- Antibioticos Na Clinica VeterinariaDocumento13 páginasAntibioticos Na Clinica VeterinariaNady Chaves100% (1)
- Relatório de Estágio em DrogariaDocumento9 páginasRelatório de Estágio em DrogariaGesiane G. Ferreira100% (1)
- Uso Racional de Antibióticos: Na Medicina VeterináriaDocumento32 páginasUso Racional de Antibióticos: Na Medicina VeterináriaChristopher Silva de souza SilvaAinda não há avaliações
- Aula 7 - Farmacos AntimicrobianosDocumento45 páginasAula 7 - Farmacos AntimicrobianosRoberto BentoAinda não há avaliações
- Perfil de Prescrição de AntimicrobianosDocumento18 páginasPerfil de Prescrição de Antimicrobianoslcesar2008Ainda não há avaliações
- Resistência Bacteriana Pelo Uso Indiscriminado de Antibióticos: Uma Questão de Saúde PúblicaDocumento19 páginasResistência Bacteriana Pelo Uso Indiscriminado de Antibióticos: Uma Questão de Saúde PúblicaAlice SallesAinda não há avaliações
- ANTIBIÓTICOSDocumento31 páginasANTIBIÓTICOSLuana CostaAinda não há avaliações
- Bailet2006 PDFDocumento7 páginasBailet2006 PDFCris FischerAinda não há avaliações
- Art Ariéle Roldão Cfo PDFDocumento13 páginasArt Ariéle Roldão Cfo PDFCris FischerAinda não há avaliações
- Marcela Cruz e Nayara Dos Santos - Perfil Da Dispensação de Atibióticos em Drogarias Na Cidade de Uruana-GODocumento14 páginasMarcela Cruz e Nayara Dos Santos - Perfil Da Dispensação de Atibióticos em Drogarias Na Cidade de Uruana-GOPascal SandriqueAinda não há avaliações
- Antibioticoprofilaxia em Cirurgia - CBCDocumento20 páginasAntibioticoprofilaxia em Cirurgia - CBCAna Luisa Souza PedreiraAinda não há avaliações
- Eventos Adversos Associados A Antimicrobianos em Pacientes Internados em Um Hospital PúblicoDocumento7 páginasEventos Adversos Associados A Antimicrobianos em Pacientes Internados em Um Hospital PúblicoSuéllyn GonçalvesAinda não há avaliações
- Prevenção e Controle de Resistência Aos Antimicrobianos Na Atenção PrimáriaDocumento16 páginasPrevenção e Controle de Resistência Aos Antimicrobianos Na Atenção PrimáriaJéssica CostaAinda não há avaliações
- Texto Sobre PsicologiaDocumento4 páginasTexto Sobre Psicologiadenize nantesAinda não há avaliações
- Infecções Do Trato Respiratório...Documento7 páginasInfecções Do Trato Respiratório...Renata GarzonAinda não há avaliações
- Variabilidade Genética e Resistência AntimicrobianaDocumento1 páginaVariabilidade Genética e Resistência AntimicrobianaAna Clara NevesAinda não há avaliações
- Projecto Final de AntibioticosDocumento5 páginasProjecto Final de AntibioticosMiguel André MikaelAinda não há avaliações
- Antb e ResistDocumento10 páginasAntb e Resistviviane PereiraAinda não há avaliações
- Estudo de Caso AntibióticosDocumento2 páginasEstudo de Caso AntibióticosGábia Maia Alkmim da CostaAinda não há avaliações
- O Potencial Da Terapia Bacteriófaga No Tratamento de Infecções Respiratórias PediátricasDocumento8 páginasO Potencial Da Terapia Bacteriófaga No Tratamento de Infecções Respiratórias PediátricasGuilherme GCAinda não há avaliações
- Seminário TerapeuticaDocumento3 páginasSeminário TerapeuticaJamylli AlmeidaAinda não há avaliações
- Resistencia A AntibioticosDocumento1 páginaResistencia A Antibioticoseliasaraujorocha80Ainda não há avaliações
- Uso Racional de Antimicrobianos Na Nutrição AnimalDocumento6 páginasUso Racional de Antimicrobianos Na Nutrição AnimalFrancislene Silveira SucupiraAinda não há avaliações
- Prevenção e controle de infecção hospitalar: cuidados prestados pelos profissionais da enfermagem em pacientes oncológicos com multirresistência bacterianaNo EverandPrevenção e controle de infecção hospitalar: cuidados prestados pelos profissionais da enfermagem em pacientes oncológicos com multirresistência bacterianaAinda não há avaliações
- Guia Prático De Antibioticoterapia Para A Atenção BásicaNo EverandGuia Prático De Antibioticoterapia Para A Atenção BásicaAinda não há avaliações
- Estudo "in vitro" do extrato bruto da Hyptis suaveolens (L.) Poit. e Hyptis mutabilis (Rich.) Brig. como possível inibidora do crescimento de leveduras do gênero cândidaNo EverandEstudo "in vitro" do extrato bruto da Hyptis suaveolens (L.) Poit. e Hyptis mutabilis (Rich.) Brig. como possível inibidora do crescimento de leveduras do gênero cândidaAinda não há avaliações
- Mucosite em Oncologia Pediátrica: aspectos nutricionais e terapêuticos: explorando novas possibilidades na crioterapiaNo EverandMucosite em Oncologia Pediátrica: aspectos nutricionais e terapêuticos: explorando novas possibilidades na crioterapiaAinda não há avaliações
- Article 166258 1 10 20210217Documento13 páginasArticle 166258 1 10 20210217foco na aprovaçãoAinda não há avaliações
- GASTRITEDocumento22 páginasGASTRITEerivan100% (1)
- Tramadol PDFDocumento1 páginaTramadol PDFtai moreiraAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho #2Documento2 páginasFicha de Trabalho #2Flávia FernandesAinda não há avaliações
- Doenças Sexualmente TransmissíveisDocumento1 páginaDoenças Sexualmente TransmissíveisGiane PimentaAinda não há avaliações
- CaxumbaDocumento1 páginaCaxumbaExpedito MelloAinda não há avaliações
- Planejamento Thaliane Nov - DezDocumento11 páginasPlanejamento Thaliane Nov - DezPedro M NetoAinda não há avaliações
- Amelogenese ImperfeitaDocumento8 páginasAmelogenese ImperfeitaRafael RamosAinda não há avaliações
- Abc Do CâncerDocumento54 páginasAbc Do CâncerGabriela Siqueira Araújo RamosAinda não há avaliações
- Revisão N1 - CLÍNICA INTEGRADADocumento5 páginasRevisão N1 - CLÍNICA INTEGRADAvictor dinizAinda não há avaliações
- Infecções de Vias Aéreas Superiores - PEDIATRIADocumento6 páginasInfecções de Vias Aéreas Superiores - PEDIATRIAVinicius CuryAinda não há avaliações
- Plano de PartoDocumento5 páginasPlano de PartoDanilo EriksonAinda não há avaliações
- Grupo 2-Doenças Emergentes e ReemergentesDocumento14 páginasGrupo 2-Doenças Emergentes e ReemergentesIsrael Dantas Oliveira de MedeirosAinda não há avaliações
- Índice Tornozelo-Braquial (ITB) - Como Medir e QuDocumento1 páginaÍndice Tornozelo-Braquial (ITB) - Como Medir e QufernandappteAinda não há avaliações
- Srag PDFDocumento2 páginasSrag PDFUTI HCSBCAinda não há avaliações
- RETINA VOL. II - Antonio RamalhoDocumento280 páginasRETINA VOL. II - Antonio RamalhoLuiz Henrique Rodrigues De SouzaAinda não há avaliações
- Ca de Cancer - RastreioDocumento32 páginasCa de Cancer - RastreioBárbara Cristal Oliveira AlmeidaAinda não há avaliações
- A Importância Do Cirurgião-Dentista em Ambiente Hospitalar: The Importance of The Surgeon-Dentist at Hospital EnvironmentDocumento5 páginasA Importância Do Cirurgião-Dentista em Ambiente Hospitalar: The Importance of The Surgeon-Dentist at Hospital EnvironmentHeloisa BezerraAinda não há avaliações
- Aula 02 - Biossegurança e Materiais EstereisDocumento42 páginasAula 02 - Biossegurança e Materiais EstereisElio De AngelysAinda não há avaliações
- Tratamento Ortodôntico Precoce Da Mordida Cruzada Anterior e Posterior Relato de Caso ClínicoDocumento8 páginasTratamento Ortodôntico Precoce Da Mordida Cruzada Anterior e Posterior Relato de Caso ClínicoJoao Macena De LimaAinda não há avaliações
- Treinamento Corretor Parceiro - Setembro 22Documento27 páginasTreinamento Corretor Parceiro - Setembro 22vini henriqueAinda não há avaliações
- Noções Básicas de EletrocardiogramaDocumento88 páginasNoções Básicas de EletrocardiogramaVanesa SilvaAinda não há avaliações
- Tese CarlaDocumento141 páginasTese CarlaMafaldaGomesAinda não há avaliações
- DescargarDocumento10 páginasDescargarJonathan NaulaAinda não há avaliações
- TCC 1 Keliane-3Documento6 páginasTCC 1 Keliane-3Danilo GomesAinda não há avaliações
- Relatório de Aula Prática - IvamarDocumento13 páginasRelatório de Aula Prática - IvamarLucas RitieleAinda não há avaliações
- Foco Resumos Saude ColetivaDocumento24 páginasFoco Resumos Saude Coletivanetosilvaroyake.srAinda não há avaliações
- Anamnese Aline 2023Documento13 páginasAnamnese Aline 2023ALINEAinda não há avaliações