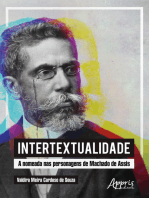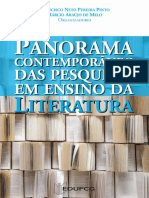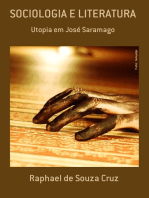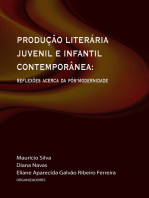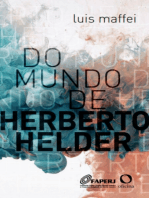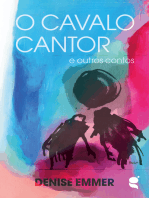Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
História Da Literatura Brasileira
História Da Literatura Brasileira
Enviado por
Chad Thompson0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações185 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações185 páginasHistória Da Literatura Brasileira
História Da Literatura Brasileira
Enviado por
Chad ThompsonDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 185
MINISTRIO DA CULTURA
Fundao Biblioteca Nacional
Departamento Nacional do Livro
HISTRIA DA LITERATURA BRASILEIRA
Jos Verssimo
memria cada vez mais amada e mais saudosa de meus pais Jos Verssimo de Matos
e
Ana Flora Dias de Matos consagro este livro, remate da minha vida literria, que lhes
deve o seu estmulo inicial.
Jos Verssimo Dias de Matos
Rio (Engenho Novo),
11 de julho de 1915
ndice Geral
INTRODUO
PERODO COLONIAL
Captulo I A PRIMITIVA SOCIEDADE COLONIAL
Captulo II PRIMEIRAS MANIFESTAES LITERRIAS
Os Versejadores
Os prosistas
I Portugueses
II Brasileiros
Captulo III O GRUPO BAIANO
Captulo IV GREGRIO DE MATOS
Captulo V ASPECTOS LITERRIOS DO SCULO XVIII
Captulo VI A PLIADE MINEIRA
I Os Lricos
II Os picos
Captulo VII OS PREDECESSORES DO ROMANTISMO
I Os Poetas
II Prosadores
Captulo VIII O ROMANTISMO E A PRIMEIRA GERAO ROMNTICA
Captulo IX MAGALHES E O ROMANTISMO
Captulo X OS PRCERES DO ROMANTISMO
I Porto Alegre
II Teixeira e Sousa
III Pereira da Silva
IVVarnhagen
V Norberto
VI Macedo
Captulo XI GONALVES DIAS E O GRUPO MARANHENSE
Captulo XII A SEGUNDA GERAO ROMNTICA. OS
PROSADORES
Captulo XIII A SEGUNDA GERAO ROMNTICA. OS
POETAS
I lvares de Azevedo
II Laurindo Rabelo
III Junqueira Freire
IV Casimiro de Abreu
V Poetas Menores
Captulo XIV OS LTIMOS ROMNTICOS
I Prosadores
II Poetas
Captulo XV O MODERNISMO
Captulo XVI O NATURALISMO E O PARNASIANISMO
Captulo XVII O TEATRO E A LITERATURA DRAMTICA
Captulo XVIII PUBLICISTAS, ORADORES, CRTICOS
Captulo XIX MACHADO DE ASSIS
ndice Onomstico
Introduo
A LITERATURA QUE SE escreve no Brasil j a expresso de um pensamento e sentimento que se no confundem mais
com o portugus, e em forma que, apesar da comunidade da lngua, no mais inteiramente portuguesa. isto absolutamente
certo desde o Romantismo, que foi a nossa emancipao literria, seguindo-se naturalmente nossa independncia poltica.
Mas o sentimento que o promoveu e princi- palmente o distinguiu, o esprito nativista primeiro e o nacionalista depois, esse
se veio formando desde as nossas primeiras manifestaes literrias, sem que a vassalagem ao pensamento e ao esprito
portugus lograsse jamais abaf-lo. exatamente essa persistncia no tempo e no espao de tal sentimento, manifestado
literariamente, que d nossa literatura a unidade e lhe justifica a autonomia.
A nossa literatura colonial manteve aqui to viva quanto lhe era possvel a tradio literria portuguesa. Submissa a esta
e repetindo-lhe as manifestaes, embora sem nenhuma excelncia e antes inferiormente, animou-a todavia desde o princpio
o nativo sentimento de apego terra e afeto s suas cousas. Ainda sem propsito acabaria este sentimento por determinar
manifestaes literrias que em estilo diverso do da metrpole viessem a exprimir um gnio nacional que paulatinamente se
diferenava.
Necessariamente nasceu e desenvolveu-se a literatura no Brasil como rebento da portuguesa e seu reflexo. Nenhuma
outra aprecivel influncia espiritual experimentou no perodo da sua formao, que o colonial. Tambm do prprio meio
em que se ia daquela formando lhe no proveio ento qualquer influxo mental que pudesse contribuir para distingui-la. E
como assim foi at quase acabar o sculo XVIII, no apresenta perodos claros e definidos da sua evoluo nesse lapso. As
reaes que daquele meio porventura sofreu foram apenas de ordem fsica, a impresso da terra em seus filhos; de ordem
fisiolgica, os naturais efeitos dos cruzamentos que aqui produziram novos tipos tnicos; e de ordem poltica e social,
resultantes das lutas com os holandeses e outros forasteiros, das expedies conquistadoras do serto, dos descobrimentos
das minas e conseqente dilatao do pas e aumento da sua riqueza e importncia. Estas reaes no bastaram para de
qualquer modo infirmar a influncia espiritual portuguesa e minguar-lhe os efeitos. Criaram, porm, o sentimento por onde
a literatura aqui se viria a diferenar da portuguesa. As divises at hoje feitas no desenvolvimento da nossa literatura no
parece correspondam realidade dos fatos. Mostra-o a sua mesma variao e diversidade nos diferentes historiadores da
nossa literatura, e at mesmo no principal deles, incoerente consigo mesmo. Aps acurado estudo desses fatos tenho por
impossvel e vo assent-los em divises perfeitamente exatas ou disp-los em bem distintas categorias. Faz-lo com xito
importaria o mesmo que descobrir outros tantos aspectos diversos e caractersticos em uma literatura sem autonomia, atividade
e riqueza bastantes para se nela passarem as alteraes de inspirao, de estesia ou de estilo que discriminam e assentam os
perodos literrios; uma literatura que em trezentos anos da sua existncia apagada e mesquinha no experimentou outras
reaes espirituais que as da Metrpole, servilmente seguida. Assim sendo, evidente que os nicos perodos literrios aqui
verificveis seriam os mesmos ali averiguados. Quando comeava aqui a literatura, l havia terminado, ou estava terminando,
o quinhentismo, a melhor poca da portuguesa. Principiava ento l o seiscentismo, prematura e rpida degradao daquele
brilhante momento, cuja brevidade era alis consoante com a da poca de esplendor nacional, revendo tudo o que de
ocasional e fortuito houvera nos escassos cem anos da dupla glria portuguesa. Mas, como acertadamente nota um novo
crtico, o seiscentismo no terminou em 1699, no ltimo dia do ano, perdurou at a segunda metade do sculo XVIII e a
Arcdia e suas imitaes no encerram o sculo XVIII; a Arcdia de Antnio Dinis s se fundou em 1756. No segundo
quartel ainda Antnio Jos satirizava o gongorismo, que era uma atualidade.
1
O que, portanto, havia no Brasil era o seiscentismo, a escola gongrica ou espanhola, aqui amesquinhada pela imitao,
e por ser, na poesia e na prosa, a balbuciante expresso de uma sociedade embrionria, sem feio nem carter, inculta e
grossa. Que o era, o mais perfuntrio exame, a leitura ainda por alto dos versejadores e prosistas dessa poca o mostrar
irrecusavelmente. No h descobrir-lhe diferena que os releve na inspirao, composio, forma ou estilo das obras. Sob o
aspecto literrio so todos genuinamente portugueses, por via de regra inferiores aos reinis. A nica exceo apresentada,
a de Gregrio de Matos, impertinente. Da sua obra a s poro distinta, e estimvel por outras qualidades que as propriamente
literrias, a satrica ou antes burlesca. A inspirao e feitio desta no destoa, porm, quando se tem presumido da musa
gaiata portuguesa do tempo, ilustrada ou deslustrada por D. Toms de Noronha, Cristvo de Morais, Serro de Castro, Joo
Sucarelo, Diogo Camacho e quejandos, todos mais ou menos discpulos e imitadores, como o nosso patrcio, do espanhol
Quevedo, mas todos a ele inferiores. Como aos comuns motivos de satirizar de seus mulos portugueses juntasse Gregrio
de Matos o estmulo do seu descontentamento de colonial gorado nas suas ambies e malogrado na sua vaidade, talvez o
seu estro satrico mais rico e, para ns, muito mais interessante que o daqueles. No , porm, nem mais original, nem mais
subido. A singularidade, mesmo a superioridade de Gregrio de Matos, ainda quando bem assente, no bastaria alis para
desabonar o conceito de que o seu exemplo no prejudica a regra geral da nossa evoluo literria no perodo colonial. Um
s escritor, uma s obra, salvo proeminncia excepcional e de efeitos averiguados, no anula um fato literrio como o
verificado. A parte sria das composies de Gregrio de Matos genuinamente do pior seiscentismo, como pela lngua,
estilo e outras feies o tambm a sua poro satrica. De resto o seu caso ficou nico e isolado, incapaz, portanto, de
alterar como quer que fosse a continuidade do nosso desenvolvimento literrio. E os fatos provam que em nada o alterou.
Simultnea e posteriormente continuou aquele como se vinha fazendo.
Somente para o fim do sculo XVIII que entramos a sentir nos poetas brasileiros algo que os comea a distinguir. E s
nos poetas. Distino, porm, ainda muito escassa e limitada e tambm parcial. Por um ou outro poema em que se rev a
influncia americana, h dezenas de outros em tudo e por tudo portugueses. Os mesmos poetas do princpio do sculo XIX,
sucessores imediatos dos mineiros e predecessores prximos dos romnticos, so ainda e sobretudo seiscentistas, apenas
levemente atenuados pelo arcadismo. Esta procrastinao do seiscentismo aqui, como o gongorismo que lhe era consubstancial,
e acaso congnito gente ibrica, alm do motivo geral da mais lenta evoluo mental das colnias, poderia talvez explic-
lo o ter aqui vivido, se exibido e infludo o mais poderoso engenho portugus dessa poca, o Padre Antnio Vieira. A sua
singular individualidade, exaltando-lhe os insignes dotes literrios, supera a desprezvel feio literria do perodo e a
ampara e defende se no legitima. A corroborar-lhe a m influncia, continuada pelos pregadores seus discpulos, vieram as
academias literrias, focos e escolas do mais desbragado gongorismo. Somente com os primeiros romnticos, entre 1836 e
1846, a poesia brasileira, retomando a trilha logo apagada da Pliade Mineira entra j a cantar com inspirao feita dum
consciente esprito nacional. Atuando na expresso principiava essa inspirao a diferen-la da portuguesa. Desde ento
somente possvel descobrir traos diferenciais nas letras brasileiras. No sero j propriamente essenciais ou formais,
deixam-se, porm, perceber nos estmulos de sua inspirao, motivos da sua composio e principalmente no seu propsito.
As duas nicas divises que legitimamente se podem fazer no desenvolvimento da literatura brasileira, so, pois, as
mesmas da nossa histria como povo: perodo colonial e perodo nacional. Entre os dois pode marcar-se um momento, um
estdio de transio, ocupado pelos poetas da Pliade Mineira (1769-1795) e, se quiserem, os que os seguiram at os
primeiros romnticos. Considerada, porm, em conjunto a obra desses mesmos no se diversifica por tal modo da potica
portuguesa contempornea, que force a inveno de uma categoria distinta para os pr nela. No primeiro perodo, o colonial,
toda a diviso que no seja apenas didtica ou meramente cronolgica, isto , toda a diviso sistemtica, parece-me arbitrria.
Nenhum fato literrio autoriza, por exemplo, a descobrir nela mais que algum levssimo indcio de desenvolvimento
autonmico, insuficiente em todo caso para assentar uma diviso metdica. Ao contrrio, ela em todo esse perodo inteira
e estritamente conjunta portuguesa. Nas condies de evoluo da sociedade que aqui se formava, seria milagre que assim
no fosse. De desenvolvimento e portanto de formao, pois que desenvolvimento implica formao e vice-versa, todo o
perodo colonial da nossa literatura, porm, apenas de desenvolvimento em quantidade e extenso, e no de atributos que a
diferenassem.
Certo que na segunda metade do sculo XVII e princpio do XVIII, poetas brasileiros (no foram alis mais de trs),
ocasionalmente, sem inteno nem insistncia mostraram-se impressionados pela sua terra, cantaram-lhe as excelncias
naturais com exagero de apreo e entusiasmo em que lcito perceber o abrolhar do sentimento nacional, comeado a gerar-
se com os sucessos da guerra holandesa. Fizeram-no alis pouco e mediocremente. Em vez de seguir e cavar esse veio que
se lhes deparava, perseveraram na potica portuguesa sua contempornea. Seria desarrazoado, seria forar os fatos a
acomodarem-se s nossas prevenes, enxergar mostras de sentimento literrio autonmico nessas singularssimas excees.
Nem por isso so elas desinteressantes. Testemunham a influncia dos aludidos sucessos no esprito dos brasileiros, onde
criaram ou ativaram o sentimento nativista. Importam-nos ainda como as primeiras manifestaes do impulso de louvar a
terra, impulso que se tornaria logo um sestro literrio nosso. A quase dois sculos de distncia o verificaria Casimiro de
Abreu, nos seus sentidos e conhecidos versos:
Todos cantam sua terra
Tambm vou cantar a minha
Nas dbeis cordas da lira
Hei de faz-la rainha.
Toma outra feio que a puramente portuguesa a nossa literatura no segundo perodo, o nacional.
Independente e constitudo, desenvolvendo-se menos adstrito exclusiva influncia da Metrpole e ao seu absorvente
predomnio, entra o pas a experimentar o influxo de outras e melhores culturas, sofre novos contatos e reaes, que so
outros tantos estmulos da sua inteligncia e capacidade literria. O maior de todos, porm, no ser externo, mas o mesmo
sentimento nacional afinal consciente: o desvanecimento da sua independncia, da sua maioridade de povo, das suas
possibilidades de crescimento com as suas promissoras esperanas de futuro. Por isso a literatura imediatamente posterior
Independncia ostensivamente, intencionalmente nacionalista e patritica. O germe nativista de que a Prosopopia, de
Bento Teixeira, ao expirar do sculo XVI, j o primeiro indcio, e a Ilha de Mar, de Botelho de Oliveira, no final do
sculo XVII, um mais visvel sinal, germe desenvolvido, podemos dizer nutrido, do calor bairrista de Rocha Pita, e relevado
nos poetas do fim do sculo XVIII, completa com a primeira gerao romntica a sua evoluo. E resulta da ndole claramente
nacionalista, mais ainda, patritica, da literatura de aps a Independncia.
Este fato determinara-o a mesma reao literria inaugurada na Europa com o Romantismo, que em suma era sobretudo,
e esta a sua mais exata definio, uma revolta contra o que se continuava a chamar de classicismo. Tanto mais fcil foi
nova escola encontrar aqui simpatias, entusiasmos e sequazes, quanto sendo um princpio de independncia e liberdade
lisonjeava o nosso ardor de ambas no momento. Teve de fato alvoroado acolhimento, como era prprio de gente nova, em
pleno fervor da sua mocidade emancipada, irreflexiva e malquerente de quanto lhe recordava a sua servido poltica e
mental. Cumpre, todavia, no exagerar essa malevolncia, que por honra dos corifeus desse nosso movimento literrio
nunca se desmandou nas suas reivindicaes de autonomia literria, antes guardou nelas uma compostura de bom gosto.
O Romantismo europeu no s influiu os poetas e escritores de todo o gnero, se no os polticos, os oradores, ainda
sacros, de que frisante exemplo Monte Alverne, o maior deles, e os publicistas. Como na Europa, foi tambm aqui mais
que uma escola literria, uma forma de pensamento geral.
Principalmente assinalaram o nosso Romantismo: a simpatia com o ndio, a inteno de o reabilitar do juzo dos
conquistadores e dos nossos mesmos patrcios coloniais, o errado pressuposto dele ser o nosso antepassado histrico, o
amor da natureza e da histria do pas, encarados ambos com sentimentos e intenes estreitamente nativistas, o conceito
sentimentalista da vida, o propsito manifesto de fazer uma literatura nacional e at uma cultura brasileira. Inspirado no
preconceito dos mritos do ndio revelou-se este propsito em recomendaes do ensino da lngua tupi, em parvoinhas
propostas de sua substituio ao portugus na adoo de apelidos indgenas ou na troca dos portugueses por estes e no
encarecimento de quanto era indgena.
2
Com estas feies apenas ligeiramente modificadas por novos influxos recebidos de fora ou aqui mesmo nascidos,
durou o nosso Romantismo, iniciado pela terceira dcada do sculo XIX, at o meado do decnio de 1870. As ltimas obras
de vulto que ainda a ele, com a sua inspirao indianista, se vinculam, so o Evangelho nas Selvas, de Fagundes Varela, e as
Americanas, de Machado de Assis, ambas em 1875.
Pelo fim do Romantismo, esgotado como acabam todas as escolas literrias, tanto por enfraquecimento e exausto dos
seus motivos, como pela natural usura, entram a influir a mente brasileira outras correntes de pensamentos, outros critrios
e at outras modas estticas europias de alm Pireneus oriundas das novas correntes espirituais, o positivismo em geral ou
o novo esprito cientfico, o evolucionismo ingls, o materialismo de Haeckel, Moleschott, Bchner, o comtismo, a crtica de
Strauss, Renan ou Taine, o socialismo integral de Proudhon, o socialismo literrio de Hugo, de Quinet, de Michelet. Outras
tendncias e feies, criadas por estas novas formas de pensamento, se substituem ao ceticismo, ao desalento, ao satanismo,
tudo tambm literrio ou apenas sentimental de Byron, Musset e outros que tanto haviam influenciado a nossa segunda
gerao romntica. Verifica-se que nenhuma das correntes do pensamento europeu que aturaram no brasileiro levou menos
de vinte anos a se fazer aqui sentir. E esta a regra ainda depois que as nossas comunicaes com a Europa se tornaram mais
fceis e mais freqentes. Destas vrias influncias contraditrias, e at disparatadas, que todas, porm, simultaneamente
atuaram o nosso pensamento, no saiu, nem podia sair, um composto nico e ainda menos coerente, como at certo ponto
fora no perodo romntico o espiritualismo cristo ou o puro sentimentalismo dos nossos romnticos, sem exceo. Sob o
aspecto literrio o que delas resultou foi o rompimento, mais ou menos intencional, mais ou menos estrepitoso, mais ou
menos peremptrio, com o Romantismo. De tal rotura se no gerou, entretanto, um movimento com bastante ressalto,
carter ou homogeneidade que possamos defini-lo com um apelido idneo. O que se lhe tem dado, como as divises e
subdivises nele feitas, afigura-se-me inconseqente com os fatos literrios bem apreciados. No ignoro, e menos contesto,
a importncia e valia das classificaes para compendiar a explicao dos fatos literrios. Mas no basta no ignor-lo ou
pratic-las a torto e a direito para podermos alardear filosofia de histria literria. Aquele valor e importncia s a tm as
classificaes perfeitas em que quase nada ou mesmo nada fica ao arbtrio do crtico, mas tudo obedece lgica e naturalmente
a um justo critrio bem estabelecido. Sem isso, que dificlimo em todas as literaturas e positivamente impossvel em a
nossa, tais classificaes tanto podem inculcar uma digna tendncia filosfica, como uma supina presuno.
O que principalmente distinguiu e afeioou este nosso movimento espiritual ou mais propriamente literrio posterior ao
Romantismo foi o pensamento cientfico e filosfico triunfante por meados do sculo XIX caracterizado pelo preconceito
da infalibilidade da cincia e por uma exagerada opinio da sua importncia. Esse pensamento, aqui como em toda a parte,
recebeu a denominao pouco precisa, mas em suma bastante significativa, de pensamento moderno. Aqui produziu ele
maior e mais raciocinado desapego s crenas tradicionais religiosas ou polticas, gerou o acatolicismo ou o agnosticismo
em grande nmero de espritos e o republicanismo ainda em maior nmero. No chegou, porm, a criar manifestao
literria alguma bastante considervel e homognea, e suficientemente distinta, para a podermos nomear com exatido
segundo os seus particulares caracteres literrios. Para sair da dificuldade sem, por iludi-la, cair no erro de dar a esta fase da
nossa literatura algum apelido desapropositado, parece que o meio mais seguro lhe verificar a inspirao ou idia geral e
motriz, e consoante ela denomin-la. Era esta declaradamente seguir em arte como em filosofia, e ainda em poltica, as
idias modernas, o racionalismo cientfico, o positivismo filosfico, o transformismo e o evolucionismo como um critrio
geral do pensamento, o liberalismo poltico, que levava de um lado ao republicanismo, de outro, com duvidosa coerncia, ao
socialismo. O pensamento moderno, e a sua competente apologia, foram aqui um tema literrio repetido at o fastio e sob
esta denominao ou a ainda mais vaga de idia nova se reuniam desencontrados conceitos, sentimentos e aspiraes.
Dava-lhes, todavia, unidade bastante para ao menos exteriormente os caracterizar. No sendo possvel descobrir-lhes com
toda a certeza o acento predominante, a feio literria essencial e por evitar a impertinncia e vaidade das tentativas j
feitas para grupar em categorias definidas autores e obras desta ltima fase da nossa evoluo literria, parece mais prudente
crism-la segundo o seu principal estmulo mental a sua superstio das idias modernas e chamar-lhe de modernismo.
3
Efetivamente a influncia cosmopolita e onmoda dessas idias e dominante em a nossa literatura nessa fase e, salvo
excees individuais pouco relevantes, no mais o nacionalismo romntico. Torna-se a poesia e a poesia foi sempre em
cpia e qualidade a poro mais considervel da nossa literatura menos subjetiva, menos ingnua e sentimentalista, e a
diminuio destas suas qualidades acaso, sob o aspecto da emoo, amesquinhou o nosso lirismo. Ao invs ganhou ele em
dons verbais de expresso e em virtudes de forma e mtrica. A mesma forma aperfeioou-se com qualidades de composio
e temperana. Nota-se mais o aparecimento em toda a nossa literatura de requisitos de que carecia, e que faltaram sempre
antiga literatura portuguesa, o gosto, o interesse, a capacidade das idias gerais, preocupaes mais largamente humanas e
sociais, em vez de pura sentimentalidade e do estreito nacionalismo romntico. Alguns dos principais representantes desta
ltima fase da nossa evoluo literria so, sem prejuzo do seu brasileirismo de raiz, cosmopolitas ou universais. Tais so
Castro Alves, Tobias Barreto, Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Eduardo Prado.
Antes da Repblica, ou por esprito de oposio ao imprio catlico, ou por influncia desse pensamento moderno,
eram os intelectuais brasileiros quase todos livres-pensadores, ou pelo menos espritos de um largussimo liberalismo, que
roava pelo livre-pensamento. Este liberalismo foi, alis, a feio conspcua do esprito brasileiro e da vida pblica brasileira
durante todo o reinado de D. Pedro II. Com a Repblica, que no podia falhar ndole ditatorial e desptica do republi-
canismo latino e aos efeitos da sua educao pelo jacobinismo francs, atenuou-se essa feio e minguou na poltica, como
na inteligncia nacional, aquele esprito liberal.
Uma escola literria no morre de todo porque outra a substitui, como uma religio no desaparece inteiramente porque
outra a suplanta. Tambm no acontece que um movimento ou manifestao coletiva de ordem intelectual, uma poca
literria ou artstica, seja sempre conforme com o seu princpio e conserve inteira a sua fisionomia e carter. , pois, bvio
que aqui, como sucedeu na Europa, ficaram germes ou antes restos do Romantismo, como neste haviam ficado do classicismo.
Misturados com o cientificismo do momento ou infludos por ele, esses remanescente do Romantismo confundiram-se na
corrente geral daquele originada, produzindo com outros estmulos e impulsos supervenientes algumas feies diversas na
fisionomia literria desta fase. Nenhuma, porm, to distinta que force a discriminao.
A dificuldade geralmente verificada desta discriminao sobe de ponto aqui, onde por inpia da tradio intelectual o
nosso pensamento, de si mofino e incerto obedece servil e canhestramente a todos os ventos que nele vm soprar, e no
assume jamais modalidade formal e distinta. Sob o aspecto filosfico o que possvel notar no pensamento brasileiro,
quanto lcito deste falar, , mais talvez que a sua pobreza, a sua informidade. Esta tambm a mais saliente feio da nossa
literatura dos anos de 70 para c. Disfara-as a ambas, ou as atenua, o ntimo sentimento comum do nosso lirismo, ainda em
a nossa prosa manifesto, a sensibilidade fcil, a carncia, no obstante o seu ar de melancolia, de profundeza e seriedade, a
sensualidade levada at a lascvia, o gosto da retrica e do reluzente. Acrescentem-se como caractersticos mentais a petulncia
intelectual substituindo o estudo e a meditao pela improvisao e invencionice, a leviandade em aceitar inspiraes
desencontradas e a facilidade de entusiasmos irrefletidos por novidades estticas, filosficas ou literrias. falta de outras
qualidades, estas emprestam ao nosso pensamento e sua expresso literria a forma de que, por mngua de melhores
virtudes, se reveste. Aquelas revelam mais sentimentalismo que raciocnio, mais impulsos emotivos que conscincia esclarecida
ou alumiado entendimento, revendo tambm as deficincias da nossa cultura. Mas por ora, e a despeito da mencionada
reao do esprito cientfico e do pensamento moderno dele inspirado, somos assim, e a nossa literatura, que a melhor
expresso de ns mesmos, claramente mostra que somos assim.
Literatura arte literria. Somente o escrito com o propsito ou a intuio dessa arte, isto , com os artifcios de
inveno e de composio que a constituem , a meu ver, literatura. Assim pensando, qui erradamente, pois no me
presumo de infalvel, sistematicamente excluo da histria da literatura brasileira quanto a esta luz se no deva considerar
literatura. Esta neste livro sinnimo de boas ou belas letras, conforme a verncula noo clssica. Nem se me d da
pseudonovidade germnica que no vocbulo literatura compreende tudo o que se escreve num pas, poesia lrica e economia
poltica, romance e direito pblico, teatro e artigos de jornal e at o que se no escreve, discursos parlamentares, cantigas e
histrias populares, enfim autores e obras de todo o gnero.
4
No se me impe o conceito com tal grau de certeza que eu me no atreva a opor-lhe a minha heresia, quero dizer a
minha humilde opinio. Com o mais recente e um dos mais justamente apreciados historiadores da literatura francesa, o Sr.
G. Lanson, estou que a literatura destina-se a nos causar um prazer intelectual, conjunto ao exerccio de nossas faculdades
intelectuais, e do qual lucrem estas mais foras, ductilidade e riqueza. assim a literatura um instrumento de cultura interior;
tal o seu verdadeiro ofcio. Possui a superior excelncia de habituar-nos a tomar gosto pelas idias. Faz com que encontremos
num emprego o nosso pensamento, simultaneamente um prazer, um repouso, uma renovao. Descansa das tarefas profissionais
e sobreleva o esprito aos conhecimentos, aos interesses, aos preconceitos de ofcio; ela humaniza os especialistas. Mais
do que nunca precisam hoje os espritos de tmpera filosfica; os estudos tcnicos de filosofia, porm, nem a todos so
acessveis. a literatura, no mais nobre sentido do termo, uma vulgarizao da filosofia: mediante ela so as nossas sociedades
atravessadas por todas as grandes correntes filosficas determinantes do progresso ou ao menos das mudanas sociais; ela
quem mantm nas almas, sem isso deprimidas pela necessidade de viver e afogadas nas preocupaes materiais, a nsia das
altas questes que dominam a vida e lhe do um sentido ou um alvo. Para muitos dos nossos contemporneos sumiu-se-lhes
a religio, anda longe a cincia; da literatura somente lhes advm os estmulos que os arrancam ao egosmo estreito ou ao
mister embrutecedor.
5
No se poderia definir com mais cabal justeza, nem com mais elegante simplicidade, a literatura e
sua importncia.
Muitos dos escritores brasileiros, tanto do perodo colonial como do nacional, conquanto sem qualificaes propriamente
literrias, tiveram todavia uma influncia qualquer em a nossa cultura, a fomentaram ou de algum modo a revelam. Bem
mereceram, pois, da nossa literatura. Erro fora no os admitisse sequer como subsidirios, a histria dessa literatura.
tambm principalmente como tais que merecem consideradas obras, alis por outros ttulos notveis, como a de Gabriel
Soares ou os Dilogos das Grandezas do Brasil. Os portugueses que no Brasil escreveram, embora do Brasil e de cousas
brasileiras, no pertencem nossa literatura nacional, e s abusivamente pode a histria destas ocupar-se deles. O mesmo
sucede com outros estrangeiros que aqui fizeram literatura como o hispano-americano Santiago Nunes Ribeiro, o espanhol
Pascoal, ou os franceses Emile Adet e Louis Bourgain. Aqueles pelo carter e estilo de suas letras eram, como os mesmos
brasileiros natos, portugueses, e como o eram igualmente de nascimento e forosamente de sentimento que este se no
naturaliza como quaisquer outros estrangeiros, no cabem nesta histria. No seu primeiro perodo ela a dos escritores
portugueses nascidos no Brasil, no segundo dos autores brasileiros de nascimento e atividade literria. Os portugueses que
para c vieram fazer literatura aps a Independncia, Castilhos, Zaluares, Novais e outros, nem pela nacionalidade ou
sentimento, nem pela lngua ou estilo, no pertencem nossa literatura, onde legitimamente no se lhes abre lugar. So por
todas as suas feies portugueses. Assim, os brasileiros que, alheando-se inteiramente do Brasil, em Portugal exerceram
toda a sua atividade literria, como o infeliz e engenhoso Antnio Jos e o preclaro Alexandre de Gusmo, tambm no
cabem nela. Tudo autoriza a crer que Antnio Jos e Alexandre de Gusmo no teriam sido literariamente o que foram se
houvessem ficado no Brasil. Foi, pois, Portugal, a sua ptria literria, como o Brasil foi a ptria literria de Gonzaga.
No existe literatura de que apenas h notcia nos repertrios bibliogrficos ou quejandos livros de erudio e consulta.
Uma literatura, e s modernas de aps a imprensa me refiro, s existe pelas obras que vivem, pelo livro lido, de valor efetivo
e permanente e no momentneo e contingente. A literatura brasileira (como alis sua me, a portuguesa) uma literatura de
livros na mxima parte mortos, e sobretudo de nomes, nomes em penca, insignificantes, sem alguma relao positiva com as
obras. Estas, rarssimas so, at entre os letrados, os que ainda as versam. No pode haver maior argumento da sua desvalia.
Por um mau patriotismo, sentimento funesto a toda a histria, que necessariamente vicia, e tambm por vaidade de
erudio, presumiram os nossos historiadores literrios avultar e valorizar o seu assunto, ou o seu prprio conhecimento
dele, com fartos ris de autores e obras, acompanhados de elogios desmarcados e impertinentes qualificativos. No obstante
o prego patritico, tais nomes e obras continuaram desconhecidos eles e elas no lidas. No quero cair no mesmo engano
de supor que a crtica ou a histria literria tm faculdades para dar vida e mrito ao que de si no tem. Igualmente no
desejo continuar a fazer da histria da nossa literatura um cemitrio, enchendo-a de autores de todo mortos, alguns ao
nascer. No perodo colonial haver esta forosamente de ocupar-se de sujeitos e obras de escasso ou at nenhum valor
literrio, como so quase todas as dessa poca. No sendo, porm, esse o nico da obra literria, nem o ponto de vista
esttico e s de que podemos fazer a histria literria, cumpre do ponto de vista histrico, o mais legtimo no caso, apreciar
autores e livros que, ainda quela luz medocres, tm qualquer importncia como iniciadores, precursores, inspiradores ou
at simples indculos de movimentos ou momentos literrios. justamente naquele perodo de formao, o mais insignificante
sob o aspecto esttico, mas no o menos importante do ponto de vista histrico, que mais numerosos se nos depararo obras
e indivduos de todo mofinos. Temos, porm, de contar com eles, pois nessa formao atuaram sequer com o seu exemplo e
ajudaram a manter a tradio literria da raa. No segundo perodo da constituio da literatura a que, sem maior impropriedade,
j podemos chamar de nacional, cumpre-nos ser ainda mais escassos em admitir tipos de insuficiente representao literria.
Cabe excluir-lhe da histria, que deve ser a da literatura viva, indivduos e obras que virtudes de ideao ou de expresso
no assinalaram bastante para poderem continuar estimados alm do seu tempo. Obras que apenas o acompanharam, sem
nele influrem ou se distinguirem, ou que nem ao menos lhe representam dignamente o esprito e capacidade, ou ainda que
no sejam a expresso de uma conspcua personalidade, apenas tero lugar margem da literatura e da sua histria. Parece
um critrio, no infalvel mas seguro, de escolha, a mesma escolha feita pela opinio mais esclarecida dos contemporneos,
confirmada pelo juzo da posteridade. Rarssimo que esta seleo, mesmo no Brasil, onde lcito ter por menos alumiada
a opinio pblica, no seja ao cabo justa, e s os que lhe resistem so dignos da histria literria. No pode esta, a pretexto
de opinies pessoais de quem a escreve, desatender seleo natural que o senso comum opera nas literaturas. Cumpre-lhe
antes acat-la se no tem argumentos incontestveis a opor-lhe. Em que pese nossa pretenso de letrados, so os eleitos
daquela opinio os que cabem na histria da literatura, que no queira invadir o domnio da bibliografia nem merecer o
reproche de simplesmente impressionista.
A histria da literatura brasileira , no meu conceito, a histria do que da nossa atividade literria sobrevive na nossa
memria coletiva de nao. Como no cabem nela os nomes que no lograram viver alm do seu tempo tambm no cabem
nomes que por mais ilustres que regionalmente sejam no conseguiram, ultrapassando as raias das suas provncias, fazerem-
se nacionais. Este conceito presidiu redao desta histria, embora com a largueza que as condies peculiares nossa
evoluo literria impunham. Ainda nela entram muitos nomes que podiam sem inconveniente ser omitidos, pois de fato
bem pouco ou quase nada representam. Porm uma seleo mais rigorosa trabalho para o futuro.
Os elementos biogrficos, necessrios melhor compreenso do autor e da sua poca literria, como outros dados
cronolgicos, so da maior importncia para bem situar nestas obras e autores e indicar-lhes a ao e reao. A histria
literria deve, porm, antes ser a histria daquelas do que destes. Obras e no livros, movimentos e manifestaes literrias
srias e conseqentes, e no modas e rodas literrias, eiva das literaturas contemporneas, so, a meu ver, o imediato objeto
da histria da literatura. Um livro pode constituir uma obra,
6
vinte podem no faz-la. So obras e no livros, escritores e
no meros autores que fazem e ilustram uma literatura. Em a nossa deparam-se-nos a cada passo sujeitos que sem vocao
nem engenho literrio, embora no de todo sem entendimento ou estro, produziram, geralmente em moos, um livro, um ou
mais poemas ou outra pequena e no repetida obra literria. Outros at a repetem em maior nmero de volumes. Mais que a
vocao que no tinham, moveu-os a vaidade, a presuno da notoriedade que a autoria d ou quejando passageiro estmulo.
No reinado de D. Pedro II, monarca amador de letras e carovel aos letrados, por lhe armar benevolncia e patrocnio, foi
comum fingirem-se muitos de amantes daquelas e as praticarem, mesmo assiduamente, mais porventura do que lhes pedia a
vocao ou consentia o talento. Alguma vez foi esse labor sincero, se bem que efeito de uma inspirao circunstancial e
momentnea, que se no repetindo descobre-lhe a insuficincia. Tais autores espordicos, amadores sem engenho nem
capacidade literria, e tais obras casuais, produtos de uma inspirao fortuita ou interesseira, no pertencem literatura e
menos sua histria.
Seja qual for o nosso parecer sobre o valor da obra literria, isolada ou em relao com o seu meio e tempo, prevalece
a noo do senso comum que em todo caso ela precisa de virtudes de pensamento e de expresso com que logre a estima e
agrado geral. A que no as tiver obra de nascena morta. As qualidades de expresso, porm, no so apenas atributos de
forma sob o aspecto gramatical ou estilstico, seno virtudes mais singulares e subidas de ntima conexo entre o pensamento
e o seu enunciado. No escritor seno o que tem alguma cousa interessante do domnio das idias a exprimir e sabe
exprimi-la por escrito, de modo a lhe aumentar o interesse, a torn-lo permanente e a dar aos leitores o prazer intelectual que
a obra literria deve produzir.
Confesso haver hesitado na exposio da marcha da nossa literatura, se pelos gneros literrios, poesia pica, lrica ou
dramtica, histria, romance, eloqncia e que tais, consagrados pela retrica e pelo uso, ou se apenas cronologicamente,
conforme a seqncia natural dos fatos literrios. Ative-me afinal a este ltimo alvitre menos por julg-lo em absoluto o
melhor que por se me antolhar o mais consentneo com a evoluo de uma literatura, como a nossa, em que os fatos
literrios, mormente no perodo de sua formao, no so tais e tantos que lhes permitam a exposio e estudo conforme
determinadas categorias. Nesse perodo e ainda no seguinte aqueles diferentes gneros no apresentam bastante matria
histria, sem perigo desta derramar-se ociosamente. Ao contrrio expor esses fatos na ordem e segundo as circunstncias em
que eles se passam, as condies que os determinam e condicionam e as feies caractersticas que afetam, parece far mais
inteligvel a nossa evoluo literria com a vantagem de guardar maior respeito ao princpio da ltima unidade da literatura.
Nesta, como na arte e na cincia, conspcua a funo do fator individual. Um escritor no pode ser bem entendido na sua
obra e ao seno visto em conjunto, e no repartido conforme os gneros diversos em que provou o engenho.
Refugi tambm praxe das citaes mais ou menos extensas dos autores tratados, limitando-as a raros exemplos,
quando absolutamente indispensveis justificao de algum conceito. possvel, e at provvel, que mais de um deste
livro se encontre e ajuste, com os de outrem. Apesar da diversidade proverbial dos gostos e da variedade das determinantes
das nossas opinies, no infinita a capacidade de variao em assuntos dos quais o gosto individual no mais o nico juiz.
Forosamente ho de algumas vezes as nossas opinies coincidir com alheias. O importante que as minhas eu as tenha feito
com estudo prprio e direto dos fatos e monumentos literrios e isso protesto ter sempre feito. Muito presumido e tolo seria
o escritor, mxime o historiador literrio, que supusesse no dizer seno cousa de todo originais e inditas ou poder evitar os
infalveis encontros de opinies:
Il faut tre ignorant comme un matre dcole
Pour se flatter de dire une seule parole
Que personne ici-bas nait pu dire avant vous.
Por motivos bvios de discrio literria no se quisera este livro ocupar seno de mortos. Esta norma, porm, era quase
impossvel segui-la na ltima fase da nossa literatura, vivendo ainda, como felizmente vivem, alguns dos principais
representantes dos movimentos literrios nela ocorridos; calar-lhes os nomes seria deixar suspensa a histria desses
movimentos. Ainda assim apenas ocasionalmente, por amor de completar ou esclarecer a exposio, se dir de vivos.
Tal o esprito em que aps mais de vinte e cinco anos de estudo da nossa literatura empreendo escrever-lhe a histria.
No me anima, em toda a sinceridade o digo, a presuno de encher nenhuma lacuna nem de prevalecer contra o que do
assunto h escrito, certamente com maior cabedal de saber e mais talento. No h matria que dispense novos estudos.
Existe sempre, em qualquer uma, lugar para outros labores. No desconheo o que devo aos meus benemritos predecessores
desde Varnhagen at o Sr. Slvio Romero.
Pela cpia, valia e influncia de sua obra de investigao da nossa histria literria, aquele o verdadeiro fundador da
histria da nossa literatura. Depois dele esta, em que pese ingrata presuno em contrrio, no fez mais que repeti-lo,
ampliando-o. Cronologicamente, no o ignoro, o precederam, Cunha Barbosa, Norberto Silva, Gonalves de Magalhes,
Pereira da Silva, Bouterwek, Sismonde de Sismondi e Ferdinand Denis.* Nenhum, porm, fez investigaes originais ou
estudos acurados e alguns apenas se ocuparam da nossa literatura ocasional e episodicamente. E todos, repito, at o advento
de Varnhagen, a fizeram superficialmente, apenas repetindo parcas noes hauridas em noticiadores portugueses, divagando
retoricamente a respeito, sem nenhum ou com escasso conhecimento pessoal da obra literria aqui feita. Decididamente o
primeiro que o teve cabal foi Varnhagen. Prestante e estimvel como recolta de documentos da poesia brasileira, que sem ele
se teriam talvez perdido, tem somenos mrito como informao histrica o Parnaso Brasileiro, do Cnego Janurio da
Cunha Barbosa. Pereira da Silva nenhuma confiana e pouca estima merece como historiador literrio. Nunca investigou
seriamente coisa alguma e est cheio de erros de fato e de apreciao j no seu tempo indesculpveis. Magalhes apenas
mostrou a sua ignorncia do assunto, que no estudou, limitando-se a uma amplificao retrica. Depois de Varnhagen
Norberto Silva o mais operoso, o mais seguro dos primitivos estudiosos da nossa literatura, cuja histria projetou escrever.
As suas numerosas contribuies para ela, infelizmente na maior parte avulsas e dispersas em prefcios, revistas e jornais,
so geralmente relevantes. Aproveitando inteligentemente o trabalho destes e de outras fontes de informao e as notcias e
esclarecimentos pessoais de Magalhes e Porto Alegre, o austraco Fernando Wolf publicou (Berlim, 1863) a sua ainda hoje
muito estimvel Histoire de la Littrature Brsilienne, a primeira narrativa sistemtica e exposio completa, at aquela
data, da nossa atividade literria, compreendendo o Romantismo. Trouxe-a at os nossos dias o Sr. Dr. Slvio Romero numa
obra que quaisquer que sejam os seus defeitos no menos um distinto testemunho da nossa cultura literria no ltimo
quartel do sculo passado. A Histria da Literatura Brasileira do Sr. Dr. Slvio Romero sobretudo valiosa por ser o
primeiro quadro completo no s da nossa literatura mas de quase todo o nosso trabalho intelectual e cultura geral, pelas
idias gerais e vistas filosficas que na histria da nossa literatura introduziu, e tambm pela influncia excitante e estimulante
que exerceu em a nossa atividade literria de 1880 para c.
Com diverso conceito do que literatura, e sem fazer praa de filosofia ou esttica sistemtica, aponta esta apenas a
fornecer aos que porventura se interessem pelo assunto uma noo to exata e to clara quanto em meu poder estiver, do
nosso progresso literrio, correlacionado com a nossa evoluo nacional. E foi feita, repito-o desenganadamente, no estudo
direto das fontes, que neste caso so as mesmas obras literrias, todas por mim lidas e estudadas, como alis rigorosamente
me cumpria.
Rio, 4 de dezembro de 1912.
Jos Verssimo
PERODO COLONIAL
Captulo I
A PRIMITIVA SOCIEDADE COLONIAL
O INCIO DA COLONIZAO do Brasil pelos portugueses coincidiu com a mais brilhante poca da histria deste povo e
particularmente com o mais notvel perodo da sua atividade mental. o sculo chamado ureo da sua lngua e literatura, o
sculo dos seus mximos prosadores e poetas, com Cames frente.
Essa curta renascena geral e florescimento literrio de Portugal no passou, porm, nem podia passar, sua grande
colnia americana. Se aquela interessava massa da nao, que lhe assistia s manifestaes e experimentava os efeitos,
esta apenas tocava o crculo estreito que ali, como ento em toda a Europa, advertia em poetas e literatos. Roda de fidalgo,
de cortesos, de eclesisticos, dos quais, justamente os mais cultos, rarssimos se iam a conquistas e empresas ultramarinas.
O grosso dos que se nelas metiam eram da multido ignara que constitua a maioria da nao, o vulgo vil sem nome de que,
com o seu desdm de fidalgo e letrado, fala o Cames, chefiados por bares apenas menos incultos do que eles. Nem o
empenho que os c trazia lhes consentia outras preocupaes que as puramente materiais de a todo o transe assenhorearem
a terra, lhe dominarem o gentio e aproveitarem a riqueza, exagerada pela sua mesma cobia.
No , pois, de estranhar que em nenhum dos primeiros cronistas e noticiadores do Brasil, no primeiro e ainda no
segundo sculo da colonizao, mesmo quando j havia manifestaes literrias, se no encontre a menor referncia ou
aluso a qualquer forma de atividade mental aqui, a existncia de um livro, de um estudioso ou cousa que o valha. O padre
Antnio Vieira, homem de letras como era, em toda a sua obra, abundante de notcias, referncias e informes do Brasil do
sculo XVII, apenas uma vez, acidental e vagamente lhe alude literatura. Foi quando, escrevendo ao mordomo-mor do
Reino, contou, jogando de vocbulo, que na Bahia, sobre se tirarem as capas aos homens (por deciso de um novo governador)
tm dito mil lindezas os poetas, sendo maior a novidade deste ano (1682) nestes engenhos do que nos de acar.
1
Entretanto no tempo de Vieira, a maior parte do sculo XVII, j no Brasil havia manifestaes literrias no medocre
poema de Bento Teixeira (1601) e nos poemas e prosas ainda ento inditas mas que circulariam em cpias ou seriam
conhecidas de ouvido, de seu prprio irmo Bernardo Vieira Ravasco, do padre Antnio de S, pregador, de Eusbio de
Matos e de seu irmo Gergrio de Matos, o famoso satrico, de Botelho de Oliveira, sem falar nos que incgnitos escreviam
relaes, notcias e crnicas da terra, um Gabriel Soares (1587), um Frei Vicente do Salvador, cuja obra de 1627, o
ignorado autor dos Dilogos das Grandezas do Brasil e outros de que h notcia.
No trouxeram, pois, os portugueses para o Brasil algo do movimento literrio que ia quela data em sua ptria. Mas
evidentemente trouxeram a capacidade literria j ali desde o sculo XIII pelo menos revelada pela sua gente e que naquele
em que aqui se comearam a estabelecer atingia ao seu apogeu. As suas primeiras preocupaes de ordem espiritual, que
possamos verificar, produziram-se quase meio sculo aps o descobrimento com a chegada dos primeiros jesutas em 1549,
e sob a influncia destes. As escolas de ler, escrever e contar, gramtica latina, casos de conscincia, doutrina crist e mais
tarde retrica e filosofia escolstica, logo abertas por esses padres nos seus colgios, imediatamente sua chegada fundados,
foram a fonte donde promanou, no primeiro sculo, toda a cultura brasileira e com ela os primeiros alentos da literatura.
A terra achada por tanta maneira graciosa pelos seus descobridores, e que aos primeiros que a descreveram se deparou
magnifica, s muito mais tarde entrou a influir no nimo dos seus filhos os incitamentos das suas excelncias. E isso de leve
e de passagem, embora com repeties que fariam dessa impresso uma sensao duradoura e caracterstica em a nossa
poesia.
A gente que a habitava, broncos selvagens sem sombra de literatura, e cujos mitos e lendas passaram de todo despercebidos
aos primeiros colonizadores e a seus imediatos descendentes, no podia de modo algum influir na primitiva emoo potica
brasileira. S com o tempo e muito lentamente, pelo influxo de sua ndole, do seu temperamento, da sua idiossincrasia na
gente resultante dos seus primeiros cruzamentos com os europeus, viria ela a atuar no sentimento brasileiro. Mas ainda por
forma que ningum pode, sem petulncia ou inconscincia, gabar-se de discriminar e explicar. da mesma natureza indireta,
reflexa, impondervel, a influncia que possa haver tido e que certamente teve no mesmo sentimento o elemento africano,
que desde o primeiro sculo se caldeou com os portugueses e o ndio para a constituio do nosso povo. Ainda que o gentio
selvagem, com quem entraram os conquistadores em contato, tivesse uma poesia de forma mtrica, o que mais que
duvidoso, no se descobre meio de demonstrar no s que ela houvesse em tempo algum infludo na inspirao dos nossos
primeiros poetas, ou como poderia ter infludo. Absolutamente se no descobriu at hoje, mau grado as asseveraes fantasistas
e gratuitas em contrrio, no diremos um testemunho, mas uma simples presuno que autorize a contar quer o ndio, quer
o negro, como fatores da nossa literatura. Apenas o teriam sido mui indiretamente como fatores da variedade tnica que o
brasileiro. Mas ainda assim a determinao com que cada um deles entrou para a formao da psique brasileira, e portanto
das suas emoes em forma literria, impossvel, se no nos queremos pagar de vagas palavras e conceitos especiosos. H
bons fundamentos para supor que os primeiros versejadores e prosistas brasileiros eram brancos estremes, e at de boa
procedncia portuguesa. , portanto, o portugus, com a sua civilizao, com a sua cultura, com a sua lngua e literatura j
feita, e at com o seu sangue, o nico fator certo, positivo e aprecivel nas origens da nossa literatura. E o foi enquanto se no
realizou o mestiamento do pas pelo cruzamento fisiolgico e psicolgico dos diversos elementos tnicos que aqui
concorreram, do qual resultou o tipo brasileiro diferenciado por vrias feies fsicas e morais do seu principal genitor, o
portugus. Forosamente lenta em fazer-se, e ainda mais em atuar espiritualmente, no podia esta mestiagem haver infludo
na mente brasileira seno superficial, indefinida e morosamente. Em todo caso as duas raas inferiores apenas influram pela
via indireta da mestiagem e no com quaisquer manifestaes claras de ordem emotiva, como sem nenhum fundamento se
lhes atribuiu.
A sociedade que aqui existiu no primeiro sculo da conquista e da colonizao (1500-1600) e a que desta se foi
desenvolvendo pela sua multiplicao, logo aumentada pelo cruzamento com aquelas raas, era em suma a mesma de
Portugal nesse tempo, apenas com o amesquinhamento imposto pelo meio fsico em que se encontrava. A todos os respeitos
nela predominava o portugus. ndios e negros eram apenas o instrumento indispensvel ao seu propsito de assenhorear e
explorar a terra e necessidade de sua preparao. Salvo excees diminutas, esse portugus pertencia s classes inferiores
do Reino, e quando acontecia no lhes pertencer pela categoria social, era-o de fato pelas condies morais e econmicas.
Soldados de aventura, fidalgos pobres e desqualificados, assoldadados de donatrios, capites-mores e conquistadores,
tratantes vidos de novas mercancias, clrigos de nenhuma virtude, gente suspeita polcia da Metrpole, alm de homiziados,
de degradados, eram, em sua maioria, os componentes da sociedade portuguesa, para aqui transplantada. Os seus costumes
dissolutos, a sua indisciplina moral e mau comportamento social so o tema de acerbas queixas no s dos jesutas, que
acaso no seu rigor de moralistas austeros lhes exageravam os defeitos, mas das autoridades rgias dos cronistas e mais
noticiadores. Justamente ao tempo da constituio das capitanias gerais a sociedade portuguesa tinha descido ao ltimo grau
de desmoralizao e relaxamento de costumes.
2
Um dos mais perspicazes observadores da primitiva sociedade colonial
brasileira, o autor incgnito dos Dilogos das Grandezas do Brasil, explicando em 1618 por que apesar da abundncia da
terra era tanta a carestia das cousas de maior necessidade, atribui a culpa negligncia e pouca indstria dos moradores que
todos no pensavam seno em voltar ao Reino sem cuidarem do adiantamento e futuro da mesma terra. O Estado do Brasil
todo em geral, escreve ele no seu estilo ingenuamente vernculo, se forma de cinco condies de gente a saber: martima,
que trata de suas navegaes e vem aos portos das capitanias deste Estado com suas naus e caravelas carregadas de fazendas
que trazem por seu frete, aonde descarregam e adubam as suas naus e as tornam a carregar, fazendo outra vez viagem com
carga de acares, pau do Brasil e algodo para o Reino, e de gente desta condio se acha, em qualquer tempo do ano, muita
pelos portos das capitanias. A segunda condio de gente so os mercadores, que trazem do Reino as suas mercadorias a
vender a esta terra, e comutar por acares, do que tiram muito proveito; e daqui nasce haver muita gente dessa qualidade
nela com as suas lojas de mercadorias abertas, e tendo correspondncia com outros mercadores do Reino que lhas mandam.
Como o intento destes fazerem-se somente ricos pela mercancia, no tratam do aumento da terra, antes pretendem de a
esfolarem tudo quanto podem. A terceira condio de gente so oficiais mecnicos de que h muitos no Brasil de todas as
artes, os quais procuram exercitar, fazendo seu proveito nelas, sem se lembrarem de nenhum modo do bem comum. A quarta
condio de gente de homens que servem a outros por soldada que lhe do, ocupando-se em encaixotamento de acar,
feitorizar canaviais de engenho e criarem gados, com nome de vaqueiros, servirem de carreiros e acompanharem seus amos,
e de semelhante gente h muita por todo este Estado, que no tem nenhum cuidado do bem geral. A quinta condio
daqueles que tratam da lavoura e estes tais se dividem ainda em duas espcies: uma a dos que so mais ricos, tm engenhos
com o ttulo de senhores deles, nomes que lhes cede Sua Majestade e suas cartas e provises, e os demais tm partidos de
canas; a outra, cujas foras no abrangem a tanto, se ocupam em lavrar mantimentos, legumes, e todos, assim uns como os
outros, fazem as suas lavouras e granjearias com escravos da Guin......; e como o de que vivem somente do que granjeiam
com os tais escravos, no lhes sofre o nimo ocupar a nenhum deles em cousa que no seja tocante a lavoura, que professam
de maneira que tm por tempo perdido o que gastam em plantar uma rvore que lhes haja de dar fruto em dois ou trs anos,
por lhes parecer que muita demora; porque se ajunta a isto o cuidar cada um deles que logo em breve tempo se ho de
embarcar para o Reino, e no basta a desengan-los desta opinio mil dificuldades que a olhos vistos lhe impedem pod-la
fazer; por maneira que este pressuposto que tm todos em geral de se haverem de ir para o Reino com a cobia de fazerem
mais quatro pes de acar, quatro covas de mantimentos, no h homem em todo este Estado que procure nem se disponha
a plantar rvores frutferas nem fazer as benfeitorias das plantas que se fazem em Portugal e pelo conseguinte se no
dispem a fazerem criaes de gado e outras, e se algum o faz em muita pequena quantidade e to pouca que a gasta toda
consigo mesmo e com a sua famlia. E da resulta a carestia e falta destas coisas...
3
o depoimento de uma testemunha de vista, inteligente, bem intencionada e insuspeita por sua nacionalidade, sobre os
elementos de que se ia formando a vida econmica da nova sociedade portuguesa na Amrica, e a primeira delegao do
desapego terra pelos seus mesmos povoadores, daquilo que um historiador nosso chamou transoceanismo (Capistrano de
Abreu). Ainda mesmo para a apreciao do presente, no perderam todo o interesse estas suas observaes, cuja exatido
alis outros documentos contemporneos confirmam.
Assim escreve no comeo do sculo XVII o nosso historiador Frei Vicente do Salvador: E deste modo se ho os
povoadores, os quais, por mais arraizados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal, e se
as fazendas e bem que possuem souberam falar tambm lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a
primeira coisa que ensinam Papagaio Real, para Portugal, porque tudo querem para l. E isto no tm s os que de l
vieram, mas ainda os que c nasceram, que uns e outros usam da terra no como senhores mas como usufruturios, s para
a desfrutarem e a deixarem destruda.
4
No numera o autor do Dilogos nem os oficiais pblicos da governana, nem a clerezia, nem os homens darmas da
conquista e defesa da colnia. Eram a gente parasita sempre suspirosa por tornar terra, sem nenhum nimo de ficada aqui.
Oficiais e mecnicos e ainda somenos indivduos, mal aqui chegados tornavam-se de uma filucia que deu na vista a mais de
um observador. A escravido exonerando-os de trabalhar e habituando-os a viver como no Reino viam viverem os fidalgos,
insuflavam-se das fumaas destes. Brandnio, no terceiro Dilogo, observava ao seu interlocutor Alviano que a gente do
Brasil era mais afidalgada do que ele imaginava, e aos seus escravos incumbia todo o trabalho. Com estes informes devemos
crer no andam muito longe da verdade os noticiadores da corrupo que logo eivou a primitiva sociedade colonial brasileira.
O seu primeiro estabelecimento foi, com a nica exceo de So Paulo, todo no litoral, beira-mar. As suas vilas e
cidades primitivas, desde So Vicente e Olinda at a do Salvador, enquanto no entraram a construir casas de adobe moda
de Portugal, no se diferenciariam notavelmente das aldeias indgenas aqui encontradas, construdas de paus toscos ou
folhagens. E como ali continuariam a viver desconfortavelmente, incomodamente, sordidamente, faltos de mveis, de alfaias
e de asseio, segundo viviam os mesmos fidalgos e burgueses no Reino.
5
As mulheres brancas eram raras, as donas e senhoras rarssimas. As famlias existentes na maior parte teriam vindo
constitudas de Portugal e muito poucas seriam. As formadas aqui, por motivo de escassez de mulheres brancas, seriam
ainda menos. As demais resultavam de unies irregulares dos colonos com as suas negras, conforme principiaram os
portugueses a chamar s ndias, ou do seu casamento com estas, como comeou a acontecer por influncia dos jesutas, e
mais tarde foi acorooado pelo rei. As numerosas filhas ilegtimas ou legitimadas do Caramuru casaram com fidalgos e
soldados da conquista e seriam mamelucas ainda escuras, do primeiro sangue, e umas broncas caboclas. Ao contrrio do que
passou na Amrica inglesa, excetuando algum eclesistico ou alto funcionrio, quase no veio para o Brasil nenhum reinol
instrudo, e ainda incluindo estes pode dizer-se que no primeiro sculo da colonizao no houve aqui algum representante
da boa cultura europia dessa gloriosa era.
O mais antigo assento da primeira sociedade brasileira, que no desmerea o nome de civilizada, foi a capitania de
Pernambuco de Duarte Coelho. Este fidalgo da primeira nobreza portuguesa e ilustrado por bizarros feitos militares na ndia
desde 1534 se estabeleceu na sua capitania com a sua mulher, da casa dos Albuquerques, um cunhado, outros fidalgos e
cavaleiros de suas relaes ou parentescos, e muitos colonos, os melhores talvez dos que nesses tempos vieram ao Brasil. A
sua colnia foi a mais bem ordenada e a mais em governada de todas e a que mais prosperou. Mas mesmo a no faltam
testemunhos da descompostura dos costumes coloniais. Jernimo de Albuquerque, cunhado do austero donatrio, quando
casou de ordem da rainha escandalizada com a sua libertinagem, fz-se acompanhar de onze filhos naturais que tivera, uns
da filha do tuxaua Arco Verde, outros de suas mancebas ndias.
6
A ordem e polcia material criada pela forte e esclarecida
vontade de Duarte Coelho parece ter a correspondido ao princpio da maior homogeneidade social, nos elementos mais
coerentes da colonizao e no maior nmero e melhor qualidade dos primeiros colonos. Tambm as da terra favoreciam-lhe
o aproveitamento, facilitando ainda, com o seu adiantamento e a obra do seu donatrio, pela maior proximidade do Reino e
mais freqentes e rpidas comunicaes com ele. Duarte Coelho no parece ter sido um fidalgo sem letras, e as apreciaria
porque elas, com Joo de Barros, o tinham celebrado e a parentes seus por suas faanhas na ndia. Dois dos seus descendentes
e sucessores na capitania-mor de Pernambuco foram homens de letras. No admira, pois, que desta sociedade onde j havia
sociabilidade e luxo, sasse a mais antiga obra literria brasileira, a Prosopopia, de Bento Teixeira, em 1601.
A fundao do governo-geral da Bahia e conseqente centralizao da vida colonial da cidade do Salvador, expressamente
fundada para esse efeito, criou na segunda metade do sculo XVI, quando justamente comeava a definhar a prosperidade
de Pernambuco, a segunda sociedade menos grosseira que houve no Brasil. No era to escolhida como a de Duarte Coelho
a colnia trazida por Tom de Sousa. Era, porm, mais numerosa e compunha-se de mais variados e a certos respeitos mais
prestveis elementos de colonizao, oficiais e mestres de ofcios, mecnicos, tcnicos, artesos, alm dos agricultores e
obreiros comuns. Trouxe mais o governador-geral a primeira leva daqueles padres que iam ser o principal instrumento da
civilizao do pas, como ela somente se podia fazer aqui os jesutas. A cidade cresceu em nmero e importncia de
prdios e aumentou em populao. Os jesutas fundaram colgio e outros religiosos conventos distribuindo todos instruo
aos meninos portugueses e indgenas. Ao redor da cidade fizeram-se engenhos. Todo o Recncavo se foi povoando,
contribuindo para o aumento de Salvador, que se fazia uma pequena corte to disparatada nos seus vrios aspectos, costumes
e vesturios, quanto o eram os elementos que a formavam: fidalgos, cavaleiros, funcionrios, mecnicos, soldados, ndios,
negros, bem trajados uns, maltrapilhos outros, seminus aqueles. Gibes de veludo e seda bordados de ouro e enfeites de
penas guisa de roupa. Muitos frades, padres em demasia.
Por divertimentos comuns, ou jogos ilcitos ou festas de igreja, e extraordinariamente touradas, cavalhadas, canas.
Soltura de costumes, viver desregrado, hbitos de ociosidade. Enfim a vida das sociedades coloniais incipientes, compostas
de elementos disparatados, e dispostos a desforrarem-se da disciplina e constrangimento das metrpoles por uma vida
manga lassa. Procuravam conter-lhe os mpetos e desmandos, alis com pouca eficcia, o governador e seus auxiliares e os
padres, principalmente, a acredit-los, os jesutas, que alis constantemente ralham contra esta sociedade. O decorrer dos
tempos lhe no modificou consideravelmente a constituio poltica e moral. Ela permaneceu essencialmente a mesma na
sua feio tnica, na sua constituio fisiolgica, como na sua formao psicolgica, isto , permaneceu portuguesa, ao
menos at as guerras holandesas, na primeira metade do sculo XVII. Por isso que durante todo o perodo colonial, salvo
algumas raras, mofinas e intermitentes manifestaes de nativismo, a literatura aqui inteiramente portuguesa, de inspirao,
de sentimento e de estilo. No faz seno imitar inferiormente, sem variedade nem talento, a da me ptria. E milagre seria se
assim no fosse.
Captulo II
PRIMEIRAS MANIFESTAES LITERRIAS
OS VERSEJADORES
AS LITERATURAS COMEAM sempre por um livro, que freqentemente no tem outro mrito que o da prioridade.
Literatura oral, como foi primeiramente a nossa, apenas uma acepo particular, larga demais e abusiva desse vocbulo.
No importa que esse livro seja uma obra-prima ou sequer estimvel; basta que tenha a inteno, o feitio e o carter da obra
literria. E que se lhe possa descobrir, ou mesmo emprestar, uma representao da sociedade ou da vida que o produziu. Mas
o s fato de ser o ponto de partida de uma literatura lhe marca na histria dela um lugar irrecusvel.
Qual foi o brasileiro que, quando ainda mal se esboava aqui uma sociedade, escreveu e publicou uma obra literria?
H vrias e incertas notcias de uma crnica escrita em Pernambuco talvez antes do sculo de 600. Seria porventura o
primeiro escrito feito no Brasil. Sobre se no saber nada a seu respeito, nem do seu autor, sequer se era brasileiro, duvidoso
tivesse essa obra alguma importncia para a histria da nossa literatura. Mas independentemente da sua existncia e qualificao
literria foi Pernambuco o lugar em que abrolhou a flor literria em nossa ptria.
7
Para este resultado explana o insigne sabedor que o verificou concorreu mais de um fator. Pernambuco desenvolveu-
se regularmente; Duarte Coelho desde o desembarque e empossamento da terra domou os ndios, que nunca mais fizeram-
lhe frente com bom xito; os colonos viram logo remunerados os seus labores; o solo era frtil; a vida fcil; a sociabilidade
e o luxo considerveis; a populao branca em geral de origem comum (Viana) apresentando menos elementos disparatados,
mais depressa tendia unificao; o sentimento caracterstico do nosso sculo XVI o desprezo e desgosto pela terra
brasileira, o transoceanismo... ali primeiro arrefeceu. Acrescente-se a facilidade e freqncia de viagens Europa, a conseqente
abundncia de comodidades, cuja ausncia algures tornava o pas detestado e detestvel; o natural versar de livros histricos,
como o de Joo de Barros, em que fulgiam os nomes de Albuquerque e Duarte Coelho, a tendncia literria dos capites-
mores de terra... que escreveram livros.
8
Em 1601 saa em Lisboa, da imprensa de Antnio Alvarez, um opsculo de dezoito pginas, in-4, trazendo no alto da
primeira do texto este ttulo: Prosopopia Dirigida a Jorge Dalbuquerque Coelho, Capito, e Governador de Pernambuco,
Nova Lusitana, etc. O nome do autor Bento Teyxeyra vinha, assim escrito, embaixo do Prlogo, no qual fazia ao seu heri
o oferecimento da obra.
um poema de noventa e quatro oitavas, em verso endecasslabo, sem diviso de cantos, nem numerao de estrofes,
cheio de reminiscncias, imitaes, arremedos e pardias dos Lusadas. No tem propriamente ao, e a prosopopia donde
tira o nome est numa fala de Proteu, profetizando post facto, os feitos e a fortuna, exageradamente idealizados, dos
Albuquerques, particularmente de Jorge, o terceiro donatrio de Pernambuco, ao qual consagrado.
No tem mrito algum de inspirao, poesia ou forma. Afora a sua importncia cronolgica de primeira produo
literria publicada de um brasileiro, pouqussimo valor tem. No meio da prpria ruim literatura potica portuguesa do tempo
alis, a s atender data em que possivelmente foi este poema escrito, a melhor poca dessa literatura no se elevaria
este acima da multido de maus poetas iguais.
O poeta ou era de si medocre, ou bem novo e inexperiente quando o escreveu. Confessa alis no seu Prlogo, j
gongrico antes do gongorismo (tanto o vcio da nossa raa) que eram as suas primeiras primcias. No se sabe se veio
a dar fruto mais sazonado. Nos seus setecentos e cinqenta e dois versos apenas haver algum notvel, pela idia ou pela
forma. So na maioria prosaicos, como banais so os seus conceitos. A lngua no tem a distino ou relevo, e o estilo traz
j todos os defeitos que maculam o pior estilo potico do tempo, e seriam os distintivos da m poesia portuguesa do sculo
seguinte, o vazio ou o afetado da idia e a penria do sentimento potico, cujo realce se procurava com efeitos mitolgicos
e reminiscncias clssicas, imprprios e incongruentes, sem sombra do gnio com que Cames, com sucesso nico, restaurara
esses recursos na poesia do seu tempo.
Conforme a regra clssica, comea o poema pela invocao. de justia reparar que comea com uma novidade, a
invocao desta vez dirigida ao Deus dos cristos. Alm do Deus, invoca a Jorge de Albuquerque o sublime Jorge em que
se esmalta a estirpe de Albuquerque excelente com versos diretamente imitados do Lusadas. A memria fresca do poema
de Cames est por todo o poema do nosso patrcio, em que no h s reminiscncias, influncias mas versos imitados,
parodiados, alguns quase integralmente transcritos, e ainda aluses grande epopia portuguesa. Nada porm comparvel
ao gnio criador com que Cames soube imitar e superar os seus modelos.
Depois da invocao preceitual segue-se no poema de Bento Teixeira, como tambm era de regra, a narrao
expressamente designada do livro.
A ao do poema falada ou narrada. Proteu a diz de sobre o recife de Pernambuco. Seis estrofes o descrevem, de um
modo inspido, pura e secamente topogrfico:
Para a parte do sul onde a pequena
Ursa, se v de guardas rodeada,
Onde o Cu luminoso mais serena,
Tem sua influio, e temperada.
Junto da nova Lusitnia ordena,
A natureza, me, bem atentada,
Um porto tam quieto e tam seguro,
Que pera as curvas naus serve de muro.
E assim por diante sem nada que lhe eleve o tom at poesia.
Dali, por ordem de Netuno, profetiza Proteu, num largo canto em louvor dos Albuquerques e nomeadamente de Jorge,
a quem se enderea esta prosopopia. V Proteu
A opulenta Olinda florescente
Chegar ao cume do supremo estado
Ser de fera e belicosa gente
O seu largo distrito povoado
Por nome ter, Nova Lusitnia,
Das leis isenta da fatal insnia.
Esta Lusitnia ser governada por Duarte Pacheco o gro Duarte que o poeta, pela voz de Proteu, compara a Enias,
a Pblio Cipio, a Nestor e a Fbio. E tudo o que at ento tinha passado com os Pachecos e Albuquerques, j celebrados por
Cames, ocorre a Proteu que o profetiza posteriormente desmedindo-se no louvor e encarecimento. Acaba o poema pouco
originalmente, com as despedidas do poeta, repetindo a promessa de voltar com um novo canto,
Por tal modo que cause ao mundo espanto.
Jorge de Albuquerque Coelho, o motivo seno o heri deste poema, era filho de Duarte Coelho, primeiro donatrio de
Pernambuco, onde Jorge nasceu, em Olinda, em 1539. O enftico padre Loreto Couto
9
, falando dele como de sujeito
verdadeiramente extraordinrio, assevera que ainda que Pernambuco no tivera produzido outro filho bastaria este para a
sua imortal glria. E mais, que foi este insigne pernambucano um daqueles espritos raros para cuja produo tarda
sculos inteiros a natureza, pois sua rara virtude e insigne valor, acrescentou uma erudio rara e conhecimento das letras
humanas.
Uma e outro no teriam sido adquiridos no Brasil. Se so exatas, como parece, as notcias de Jaboato,
10
Jorge Albu-
querque criou-se em Portugal, onde aos 14 anos se achava. Com 20 voltou a Pernambuco, donde tornou ao Reino, em 1555,
aos 26 anos, aps a sua brilhante campanha contra os ndios da capitania. Nesta viagem para Portugal sofreu o naufrgio
clebre da nau Santo Antnio que o levava, cuja relao, escrita pelo piloto Afonso Lus e reformada por Antnio de Castro,
foi atribuda a Bento Teixeira.
11
Em Portugal foi de todos aplaudido de corteso, generoso, discreto, liberal, afvel e
modesto.
12
Em suma, se havemos de crer os seus panegiristas mais prximos dele e os que os copiaram, teria sido um
portento de gentilezas guerreiras e de virtudes civis.
Poemas como a Prosopopia do nosso patrcio, que este heri motivou, em tudo medocre, endereados a potentados e
magnates, armando-lhes benevolncia e proteo, eram freqentssimos e superabundavam na bibliografia da poca.
Em todos os tempos poetas e literatos foram inclinadssimos bajulao dos poderosos. Casando-se geralmente pouco
o seu gnio com o rduo de uma existncia de trabalho e esforo prprio, e amando sobretudo os lazeres da vida ociosa,
propcios s suas invenes e imaginaes, para o haverem sacrificam de boa mente vaidade dos grandes dos quais sem
mais fadiga que a de cont-los e louv-los, esperam lucrar tais cios, muito seus queridos. Igualmente caroveis da grandeza,
pompa e luxo desses magnates, com os quais facilmente se embevecem, satisfao desse gosto imolam brios e melindres.
Em Portugal tais poetas e literatos faziam at parte da domesticidade da corte ou das grandes casas fidalgas e ricas, que os
aposentavam e pensionavam, em troca dos poemas e escrituras com que infalivelmente celebravam a famlia em cada um
dos seus sucessos domsticos, nascimentos, casamentos, mortes, faanhas guerreiras, vantagens sociais obtidas, aniversrios.
Como havia destes poetas efetivos, privados, caseiros, os havia tambm ocasionais, mas no menos prontos ao louvor
hiperblico, lisonja enftica, bajulao rasteira, em cmbio da proteo solicitada ou em paga de alguma graa obtida.
Na sociedade de ento o homem de letras, ainda sem pblico que o pudesse manter, e at forado e apenas muito limitadamente
exercer a sua atividade, quase s dos principais pelo poderio e riqueza, que acaso lhes estimassem as prendas sem os estimar
a eles, podia viver. Freqentemente eram estes que lhe mandavam imprimir as obras, que sem tais patronos dificilmente
achariam editores. Tais costumes, explicveis e porventura desculpveis pelas condies do tempo, passaram naturalmente
do Reino sua colnia da Amrica, onde os vice-reis, governadores e capites-generais e mores faziam de reis pequenos, e
os fazendeiros, senhores de engenho e outros magnates locais substituram e arremedavam os gros-senhores da Metrpole.
Tanto passaram que desde as suas primeiras manifestaes, a poesia, e depois toda a espcie de literatura, inspirou-se
grandemente aqui daqueles motivos, e foi consideravelmente ulica. Aulicismo, arcadismo, gongorismo foram sempre alis
traos caractersticos das letras portuguesas.
Quer em Portugal, quer no Brasil duraram estes costumes at o sculo XVIII. No sei alis se possvel dizer estejam
de todo extintos. Mais certo ser tenham antes variado e se transformado do que desaparecido completamente as formas e
modos com que poetas e literatos sempre atiraram ao patrocnio dos poderosos, adulando-os em prosa e verso. Seja que
ainda pesa sobre eles essa herana, seja porque continuam a preferir alcanar por tais meios o que s com fadiga e dificuldade
lhes daria trabalho mais honesto, certo no desapareceu o costume de todo. Bento Teixeira fica, pois, sendo, no s o
primeiro em data dos poetas brasileiros, mas o patriarca dos nossos engrossadores literrios. E de ambos os modos
progenitor fecundssimo de incontvel prole.
muito provvel que simultaneamente com ele, se no antes, houvesse o Brasil produzido outros versejadores ulicos,
isto , cujo principal motivo de inspirao fosse angariar o patrono de algum poderoso da terra. O mundo dividiu-se sempre
entre patronos e clientes. Todavia no sabemos de nenhum que o antecedesse ou viesse ao seu tempo.
Conjetura-se com bons fundamentos houvesse composto o seu poema nos ltimos anos do sculo, com certeza depois
do desastre de D. Sebastio em frica, em 1578, a que j o poema se refere. Talvez nos arredores de 1596, que neste ano
ainda vivia Jorge de Albuquerque e o poema foi composto quando ele vivo.
De Bento Teyxeyra, como ele o assinou, ou Bento Teixeira Pinto, como tambm lhe escreveram o nome, nada mais se
sabe alm da parca notcia do bibligrafo Diogo Barbosa Machado na sua Biblioteca Lusitana, publicada em 1741; que
nasceu em Pernambuco e era igualmente perito na potica e na histria. No diz nem o lugar nem a data do nascimento.
Um cronista pernambucano, posterior a Barbosa Machado, o citado padre Couto, noticiador geralmente de segunda mo,
apenas acrescenta que era de Olinda.
13
Dele no h nenhuma notcia contempornea, e estas mesmas vagas informaes de
mais de um sculo posteriores, no foram jamais verificadas ou ampliadas por quaisquer investigaes ulteriores. Outras
notcias que dele h em escritores mais modernos so de pura inventiva de seus autores.
Chama-lhe de perito na histria o bibligrafo Machado, e com este o padre Couto, que apenas o repete, por lhe
atriburem ambos a obra em prosa Dilogos das grandezas do Brasil. Como comeou a provar Varnhagen em 1872,
14
e
pode-se hoje ter por incontestvel, essa obra, porventura a mais interessante da primitiva literatura do Brasil, no de Bento
Teixeira.
15
E pena, pois vale mais do que a sua trivial e inspida Prosopopia. Como quer que seja, marca esta o primeiro
passo dos brasileiros na vida literria, o primeiro documento da sua vontade e capacidade de continuar na Amrica a
atividade espiritual da Metrpole.
Publicada ali, ali mesmo se teria sumido, confundida na massa enorme de quejandas produes. Talvez ficasse at
desconhecida no Brasil. No s no h meno ou memria dela alm das duas indicadas, ambas em suma de origem
portuguesa, mas outro poeta brasileiro, Manoel Botelho de Oliveira, dando luz um livro de versos um sculo depois,
gabava-se de ser o primeiro brasileiro que os publicava. E dos dois nicos exemplares originais que se lhe conhecem, o
nico existente no Brasil, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, veio de Portugal (onde est o outro na Biblioteca
Nacional de Lisboa) na coleo de livro do citado Barbosa Machado.
16
O apreo da terra, mesmo uma exagerada admirao dela, da sua natureza, das suas riquezas e bens, uma impresso
comum nos primeiros que do Brasil escreveram, estranhos e indgenas. Como veremos, ser essa impresso que, fazendo-se
emoo e estmulo de inspirao, imprimir nossa literatura o primeiro trao da sua futura diferenciao da portuguesa. No
desapropositado notar que a primeira manifestao do gnio literrio brasileiro um poema relativo a cousas da terra
embora ainda sem emoo que lhe d maior relevo e significao.
Antes, porm, de Bento Teixeira e de versejadores de igual jaez, que porventura houve, ou simultaneamente com
aquele, versejaram tambm padres jesutas compondo cantigas devotas para os seus catecmenos. Esta primitiva literatura
jesutica se no limitava, entretanto, a tais cantigas. Desde que esses padres aqui se estabeleceram, por meado do sculo
XVI, compreendia discursos em prosa e verso, epigramas ou poemas conceituosos alusivos aos motivos das festividades,
dilogos em verso ou prosa ou misturados de ambos e cenas dialogadas representadas em tablados ou ramadas guisa dos
autos no Reino, infalivelmente sobre um assunto de devoo e edi-ficao. Comumente misturavam-se neste autos o latim e
o portugus e tambm o castelhano. Serviam-lhe de atores ou recitadores os ndios amansados e menos broncos, algum
discpulo europeu dos jesutas e at um destes padres. Das festividades em que tinham lugar estas manifestaes literrias
se tal se lhes pode chamar d repetidas notcias o padre Ferno Cardim, deixando ver quo freqentes e gerais eram em
toda a costa braslica.
17
Dos autores de tais produes o mais, ou antes o nico, conhecido o padre Jos de Anchieta, figura
to verdadeiramente venervel que no conseguiu desmerec-la a admirao carola com que tem sido exalado. Noticia o
seu confrade padre Simo de Vasconcelos que Anchieta comps com vivo e raro engenho, muitas obras poticas, em toda
a sorte de metro, em que era mui fcil, todas ao divino e a fim de evitar abusos e entretenimentos menos honestos. Entre estes
foram a de mais tomo o livro da vida e feitos de Mem de S, terceiro governador que foi deste Estado, em verso herico
latino; vrias comdias, passos, clogas, descries devotssimas que ainda hoje andam na sua mesma letra; e a vida da
Virgem Senhora Nossa em verso elegaco.
18
Em a sua Crnica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil, em 1663, j o
mesmo padre assim informava da particular atividade literria do seu eminente companheiro: Era destro em quatro lnguas:
portuguesa, castelhana, latina e braslica; em todas elas traduziu em romances pios com muita graa e delicadeza, as cantigas
profanas que ento andavam em uso; com fruto das almas, porque deixadas as lascvias no se ouvia pelos caminhos outra
cousa seno cantigas ao divino, convidados os entendimentos a isso do suave metro de Jos.
19
17
Narrativa epistolar de uma viagem e misso jesutica pela Bahia, Ilhus, Porto Seguro, Pernambucano, Esprito Santo, Rio de Janeiro, So Vicente, etc.,
pelo P. Ferno Cardim. Lisboa, 1847, passim.
18
Vida do Padre Joseph de Anchieta. Lisboa, 1672. Apud Teixeira de Melo, P. Joseph de Anchieta, Anais da Biblioteca Nacional, I, 51.
19
Crnica, etc., segunda edio. Rio de Janeiro, 1864, 2 parte, 84.
Das suas comdias, ou melhor autos sacros, a mais considervel a Pregao Universal, circunstancialmente mencionada
pelo seu bigrafo, e da qual so conhecidos alguns trechos, como o so algumas outras, bem poucas alis, composies suas.
So puras obras de catequizao, devoo e edificao sem intuitos nem qualidades literrias, apenas conhecidas de fragmentos
e sem unidade de estilo ou sequer de lngua, pois as escrevia, consoante o interesse do momento, em portugus, latim ou
castelhano e ainda em tupi e at misturava estes idiomas. Mas estas mesmas composies, como o seu poema da Vida de
Mem de S ou da Vida da Virgem Maria, ambos em latim, o que basta para exclu-los da nossa literatura, e mais as suas
notcias e informaes do Brasil e do trabalho de catequese e colonizao que aqui ao seu tempo se fazia, e at a sua
Gramtica da lngua mais usada na costa do Brasil (Coimbra, 1596) esto manifestamente revelando no piedoso jesuta
uma vocao de escritor. Foi seguramente um poeta, menos, porm, nestas obras, a que apenas salva a ingenuidade da
inteno e a pureza do sentimento que lhas inspirou, que pelo seu ardente e esquisito sentimento do divino e profunda
simpatia com o gentio cuja se fez apstolo. A sua obra potica, a sua criao , com a sua purssima vida, toda votada ao
ideal da sua vocao, esse apostolado, que foi simultneo um milagre de entendimento e de ingenuidade. Quanto s suas
composies poticas, essas apenas lhe autorizam a meno do nome, por outros e melhores ttulos glorioso, entre os nossos
primitivos versejadores. So tanto literatura como os diversos catecismos bilnges escritos no perodo colonial.
OS PROSISTAS
I PORTUGUESES
A prosa portuguesa chamada, no se sabe ao certo por que, de clssica do sculo XVI. No so, porm, dessa era, mas
da seguinte, os seus mais acabados modelos. Apreciada sem os comuns preconceitos do casticismo, verifica-se no atingiu
ainda ento a expresso cabal e perfeita de um pensamento que por largo e humano merecesse viver.
Desde o sculo anterior, o sentimento portugus com as suas especiais qualidades exprimiu-se em magnficas formas
poticas que iniciavam o peculiar lirismo nacional e entravam a dar poesia portuguesa a sua distino. Qui essa raa
sentimental e potica carecia de um pensamento to particular quanto o era o seu sentimento. No se lhe encontra a expresso
na prosa. O seu foi alis sempre mesquinho e de repetio. Faltou-lhe imaginao criadora, poder de generalizao, faculdades
filosficas. A prosa, a linguagem apropriada ao revelar ficou-lhe em todo o tempo inferior poesia. Mesmo no perodo
apelidado ureo da literatura portuguesa, a prosa vacilou entre o estilo metafsico brbaro dos rudes escritores do sculo
XV, segundo a qualificao de Herculano, e o falso polimento culto do sculo XVII. Sincretizam-se as duas feies ainda
nos melhores escritores dessa poca, deparam-se-nos ambas sem grande esforo de procura nos mais afamados.
No Brasil, desde que se comeou a escrever prosa a que j possamos chamar de literria, foram justamente os defeitos
dessa prosa portuguesa, a dureza e simultaneamente o amaneirado do frasear, o inchado e o retorcido da expresso, com o
sacrifcio intencional da sua correnteza e naturalidade, que predominaram. Quando aqui se comeou a fazer prosa, a feio
dominante da portuguesa era o gongorismo, o hiprbaton, as construes arrevesadas e rebuscadas, os trocadilhos. Um
estilo presumidamente potico ou eloqente, mas de fato apenas tmido e enftico. Era esse o estilo culto do qual o padre
Vieira, inconsciente de que era por muito o seu, dizia, praticando-o na sua mesma censura: Este desventurado estilo de que
hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto, e os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita
honra. O estilo culto no escuro, negro boal e muito cerrado.
20
Se tal era ainda nos melhores escritores da Metrpole
e estilo literrio da poca em que se comeou a escrever no Brasil, que podia ele ser na grossa colnia nascente?
Do sculo XVI escrito no Brasil, se no por brasileiro nato, por brasileiro adotivo, nacionalizado por longa residncia
no pas e enraizamento nele por famlia aqui constituda e bens aqui adquiridos, s nos resta um livro, o Tratado descritivo
do Brasil, por Gabriel Soares de Sousa, terminado em 1587. Nem pelo estmulo que o originou, nem pelo seu propsito, nem
pelo estilo o livro de Gabriel Soares obra literria. Era, como diramos hoje, um memorial de concesso apresentado ao
Governo, como justificativa dos favores que para a sua empresa de explorao do pas lhe pedia o autor. A obra, porm, lhe
excedeu o propsito. Deu a este memorial desusada extenso e uma amplitude que o fez abranger a histria e a geografia, no
seu mais largo sentido, da grande colnia americana ento sob o domnio espanhol. A sinceridade da sua longa, minuciosa
e exata informao no chegam a prejudicar-lhe os gabos e encarecimentos da terra, que no forasteiro aclimado revem uma
viva e tocante afeio ao seu extico pas de adoo, onde passara da pobreza abastana, a que consagrara o melhor da sua
existncia e atividade, onde amara e fora amado, fizera famlia e iria morrer na busca aventurosa e dura das suas riquezas
nativas. Podamos portanto adot-lo por nosso se acaso este simptico feitio de sua obra no revisse tambm o propsito de
empreiteiro de facilitar-se a merc impetrada, justificando-a sobejamente com a notcia interesseira da terra que se propunha
a explorar.
Como no era um letrado e a sua teno, conforme declara, no foi escrever histria que deleitasse com estilo e boa
linguagem, e no esperava tirar louvor desta escritura, saiu-lhe a obra, embora rude de feitura e pouco castigada de
linguagem, menos eivada dos vcios literrios do tempo, e, por virtude do prprio assunto, muito mais interessante e proveitosa
ainda hoje do que a maior parte das que ento mais classicamente se escreviam, sermonrios, vidas de santos, crnicas de
reis, de prncipes e magnates, livros de devoo e milagrices.
Nunca publicada antes que o fizesse sem ainda lhe saber o autor, em 1825, a Academia Real das Cincias de Lisboa,
21
a obra de Gabriel Soares, sem embargo de indita, no passou desapercebida aos curiosos do seu objeto, imediatos ou
posteriores ao inteligente e laborioso reinol. Se a no compulsou o nosso primeiro cronista nacional, Frei Vicente do Salvador,
conheceram-na e versaram-na o clssico autor dos Dilogos de vria histria, Pedro de Mariz, Jaboato, o perluxo cronista
franciscano, Simo de Vasconcelos, o no menos difuso e no menos gongrico cronista jesuta, o bom autor da Corografia
brasileira, Aires de Casal, e depois, mas ainda em antes dela impressa, outros historiadores e noticiadores do Brasil, Roberto
Southey, Ferdinand Denis, Martius. As numerosas cpias manuscritas (Varnhagen d notcia de vinte) que sem embargo do
seu volume (de mais de trezentas pginas impressas in 8) desta obra se fizeram, indicam que se permaneceu indita no foi
porque a houvessem por desinteressante ou somenos. Somente o suspicaz cime com que a metrpole evitava a divulgao
das suas colnias pode explicar assim ter permanecido obra de tanta valia.
Gabriel Soares de Sousa, nascido em Portugal pelos anos de 1540, veio para o Brasil pelos de 1565 a 1569. Na Bahia
estabeleceu-se como colono agrcola. Ali casou e prosperou a ponto de nos dezessete anos de estada se fazer senhor de um
engenho de acar, e abastado, como do seu testamento se depreende. Ganhando com a fortuna posio, foi dos homens
bons da terra e vereador da Cmara do Salvador. Um irmo seu que, parece, o precedera no Brasil havia feito exploraes
no serto de So Francisco, onde presumira haver descoberto minas preciosas. Falecido ele, quis Gabriel Soares prosseguir
as suas exploraes e descobrimentos. Com este propsito passou Europa em 1584, a fim de solicitar da Corte da Madri
autorizao e favores para o seu empreendimento de procura e explorao de tais minas. Por justificar os seus projetos e
requerimentos, e angariar-se a boa vontade dos que podiam fazer-lhe as graas pedidas, nomeadamente do Ministro D.
Cristvo de Moura, redigiu nos quatro anos de 1584 a 1587 o longo memorial, como ele prprio lhe chamou, que conservado
indito at o sculo passado, foi nele publicado sob ttulos diferentes, o qual constitui uma verdadeira enciclopdia do Brasil
data da sua composio.
Gabriel Soares, sujeito de bom nascimento se no fidalgo de linhagem, suficientemente instrudo, sobreinteligente, era
curioso de observar e saber, e excelente observador como revela o seu livro. Embora determinado por uma necessidade de
momento, no foi este composto de improviso e de memria. Para o redigir serviu-se, como declara, das muitas lembranas
por escrito que nos dezessete anos da sua residncia no Brasil fez do que lhe pareceu digno de nota. Obtidas as concesses
e favores requeridos, nomeado capito-mor e governador da conquista que fizesse e das minas que descobrisse, partiu para
o Brasil em 1591, com uma expedio de trezentos e sessenta colonos e quatro frades. Malogrou-se-lhe completamente a
empresa, pois no s naufragou nas costas de Sergipe mas depois veio, com o resto da expedio que conseguira salvar do
naufrgio e reconstitura na Bahia, a perecer nos sertes pelos quais se internara. Seus ossos, mais tarde trazidos para a
Bahia, foram e se acham sepultados na capela-mor da igreja do mosteiro de S. Bento, tendo sobre a lpide que os recobre o
epitfio: Aqui jaz um pecador segundo o disposto no seu testamento.
22
Deste documento induz-se que era homem abastado,
devoto, nimiamente cuidadoso da salvao da sua alma, mediante esmolas, obras pias, missas e quejandos recursos que aos
catlicos se deparam para o conseguir.
No propriamente a obra de Gabriel Soares literria, nem pela inspirao, nem pelo propsito, nem pelo estilo. S o
no sentido, por assim dizer material, da palavra literatura. O estilo , como pertinentemente mostrou Varnhagen, alis
achando-lhe encanto que lhe no conseguimos descobrir rude, primitivo e pouco castigado, mas em suma menos viciado dos
defeitos dos somenos escritores contemporneos, mais desartificioso do que o comeavam a usar os seus coevos, como de
homem que no fazia literatura e no cuidava de imitar os que a faziam.
grande, porm, o mrito especial dessa obra. Varnhagen se o encareceu no o exagerou demasiado escrevendo, ele
que mais do que ningum a estudou e conheceu: Como corgrafo o mesmo seguir o roteiro de Soares que o de Pimentel
ou de Roussin; em topografia ningum melhor do que ele se ocupou da Bahia; como fitlogo faltam-lhe naturalmente os
princpios da cincia botnica; mas Dioscrides ou Plnio no explicam melhor as plantas do velho mundo que Soares as do
novo, que desejava fazer conhecidas. A obra contempornea que o jesuta Jos de Acosta publicou em Sevilha em 1590, com
o ttulo de Histria natural e moral das ndias e que tanta celebridade chegou a adquirir, bem que pela forma e assuntos se
possa comparar de Soares, -lhe muito inferior quanto originalidade e cpia de doutrina. O mesmo dizemos das de
Francisco Lopes de Cmara e de Gonalo Fernandez de Oviedo. O grande Azara, com o talento natural que todos lhe
reconhecem, no tratou instintivamente, no fim do sculo passado, da zoologia austro-americana melhor que o seu predecessor
portugus; e numa etnografia geral de povos brbaros, nenhumas pginas podero ter mais cabida pelo que respeita ao
Brasil, o que nos legou o senhor do engenho das vizinhanas de Jequiri. Causa pasmo como a ateno de um s homem
pde ocupar-se em tantas cousas que juntas se vem raramente, como as que se contm na sua obra, que trata a um tempo,
em relao ao Brasil, de geografia, de histria, de topografia, de hidrografia, de agricultura entretrpica, de horticultura
brasileira, de matria mdica indgena em todos os seus ramos e at de mineralogia.
23
No excessivo este juzo, e quem
o emitia tinha competncia para o fazer.
Um outro portugus, o padre Jesuta Ferno Cardim, que tambm viveu no Brasil, deixou dois escritos de pouco tomo,
pelos quais tem sido, a meu ver impertinentemente, includo na histria da nossa literatura como um dos seus primitivos
escritores. Menores so ainda que os de Gabriel Soares os seus ttulos a pertencer nossa literatura. O a todos os respeitos
mais considervel e melhor dos seus dois escritos so duas cartas que desde o Brasil endereou ao Provincial da Companhia
em Portugal, recontando-lhe, miudamente, e de modo verdadeiramente interessante, uma viagem de inspeo jesutica por
algumas de nossas capitanias. Varnhagen, que as descobriu, publicou-as em 1847 com o ttulo factcio de Narrativa epistolar
de uma viagem e misso jesutica pela Bahia, Ilhus, Porto Seguro, Pernambuco, Esprito Santo, Rio de Janeiro, etc.,
desde o ano de 1583 ao de 1590.
24
Embora documento interessantssimo para o estudo das misses jesuticas e da mesma
vida colonial no primeiro sculo, no tem a obra de Ferno Cardim, se obra se lhe pode chamar, o interesse bem mais geral,
a importncia e a valia da de Gabriel Soares. A sua incluso na nossa literatura to legtima como o seria a de toda a
correspondncia jesutica daqui desde Nbrega at o padre Antnio Vieira, e ainda alm. No desenvolvimento da nossa
literatura no teve esta de Ferno Cardim sequer a parte que lcito atribuir de Gabriel Soares, pelo que desta aproveitaram
os posteriores autores brasileiros.
Outro escrito que se lhe imputa com fundados motivos mas sem absoluta certeza a monografia, como lhe chamaramos
hoje, Do princpio e origem dos ndios do Brasil e dos seus costumes, adoraes e cerimnias, ttulo tambm factcio.
25
Pertence a esta primeira fase da literatura colonial e a mesma sorte destes, o curioso escrito Dilogos das grandezas do
Brasil, descobertos e divulgados por Varnhagen.
Ignora-se-lhe ainda hoje o autor. Ao invs do que primeiramente sups Varnhagen, que o atribuiu a brasileiro,
nomeadamente a Bento Teixeira, o poeta da Prosopopia, deve de t-lo escrito em portugus. Mas um portugus, como
tantos aqui houve, e dos quais Gabriel Soares timo exemplar, naturalizado por longo estabelecimento na terra, afeioado
a ela, identificado com ela, a ponto de tomar-lhe calorosamente a defesa contra um patrcio recm-chegado e de exagerar-lhe
as excelncias como um zeloso patriota. Quem quer que fosse, era homem instrudo, grande conhecedor do Brasil,
simpaticamente curioso dos seus aspectos naturais e sociais e de todas as exticas feies da nova terra. Instrudo, esclarecido
e judicioso, as suas muitas observaes sobre a administrao, os hbitos, a economia e mais faces do pas, so geralmente
bem feitas e acertadas. Algumas surpreendem-nos pela agudeza e perspiccia. Tais so, em 1618, apenas passado um sculo
do descobrimento e no acabado ainda o da colonizao, os seus reparos da indolncia, indiferena e ndole afidalgada dos
moradores do Brasil que tudo fiavam do escravo, escusando-se ao trabalho. Mais notvel ainda que tenha desde ento
verificado a influncia civilizadora da Amrica na Europa, ou ao menos no europeu, para c imigrado e aqui tornado, graas
riqueza adquirida e sua indistino de classes, de rstico em policiado. Realmente a parte da Amrica na civilizao, na
polcia, como diziam os nossos clssicos, e escreve o autor dos Dilogos das grandezas, muito maior do que se no pensa.
So milhes os europeus que tendo para ela vindo de todo broncos, grosseiramente trajados, sem nenhuns hbitos de asseio,
conforto ou civilidade, e com as manhas inerentes sua miservel posio na me ptria, logram com a fortuna crescer de
situao e emparelhar com as melhores classes americanas. Destas tomam estilos de vida, imitadas por elas das melhores da
Europa, das quais acol os preconceitos de casta, aqui desconhecidos, os traziam afastados. A transformao comeada pelo
que podemos chamar o hbito externo se completa pelo convvio dessas classes, cujo comrcio lhes facilitado pela fortuna
e posio aqui facilmente adquiridas. Muitssimos alm desta educao indireta, a fazem formalmente freqentando as
nossas escolas ou particularmente tomando mestres, o que lhes seria muito mais difcil nos seus pases de origem. E a
Amrica restitui Europa desbastados da sua grosseria originria, limpos, no rigor da expresso, civilizados, polidos, com
o melhor feitio fsico e social, milhes de sujeitos que lhe vm boais e crassos. Devolve-lhe cavalheiro quem lhe chegou
labrego. admirvel que este fato interessantssimo no tenha escapado ao perspicaz observador dos Dilogos das grandezas,
que, notando-o, do mesmo passo o atesta aqui desde o comeo do sculo XVII. O Brasil praa do mundo, assenta-se ele,
se no fazemos agravo a algum reino ou cidade em lhe darmos tal nome, e juntamente academia pblica, onde se aprende
com muita facilidade toda a polcia, bom modo de falar, honra dos termos de cortesia, saber bem negociar e outros atributos
desta qualidade. E como seu interlocutor lhe retorquisse que no devia de ser assim, e antes pelo contrrio, pois o Brasil se
povoara primeiramente com degradados e gente de mau vier e por conseguinte pouco poltico, pois carecendo de nobreza
lhe faltava necessariamente a polcia, Brandnio, pseudnimo com que se disfara o autor, retruca-lhe: Nisso no h
dvida, mas deveis saber que esses povoadores, que primeiramente vieram povoar o Brasil, a poucos lanos pela largueza da
terra, deram em ser ricos, e com a riqueza foram largando de si a ruim natureza, de que as necessidades e pobrezas que
padeciam no Reino os faziam usar, e os filhos de tais j entronizados com a mesma riqueza e governo da terra despiram a
pele velha, como cobra, usando em tudo de honradssimos termos com se ajuntarem a isso o haverem vindo depois a este
Estado muitos homens nobilssimos e fidalgas, os quais casaram nele e se liaram em parentesco com os da terra, em forma
que se h feito entre todos uma mistura de sangue assaz nobres. Ento como neste Brasil concorrem de todas as partes
diversas condies de gente a comerciar, e este comrcio o tratam com os naturais da terra, que geralmente so dotados de
muita habilidade, ou por natureza do clima, ou do bom cu de que gozam, tomam dos estrangeiros tudo o que acham bom,
de que fazem excelente conserva para a seu tempo usarem dela.
Literariamente estes Dilogos, sem serem romance ou novela, so uma fico, a primeira escrita no Brasil. O processo
de dilogos, j o notou Varnhagen, estava ento em moda em Portugal, para a exposio de idias e noes de ordem moral,
poltica ou econmica. So principalmente desta ordem as que intenta divulgar o autor deste, com o propsito manifesto de
propaganda, como hoje diramos, do Brasil, por um portugus que laos diversos de interesse e amor apegariam terra, da
qual fala carinhosamente. Pela lngua e estilo, embora no sejam nem uma nem outro primorosos, so estes Dilogos o que
melhor nos legou a escrita portuguesa no Brasil nesta primeira fase da produo literria aqui. Por ambos de um quinhentista
que, justamente por no ser um literato, no trazia ainda a eiva do sculo literrio que comeava. Escrevendo, com interesse
e amor, de cousas novas, inditas, bem conhecidas suas, f-lo com maior objetividade, inteligncia e simpleza do que era
comum em livros portugueses contemporneos. E, ao menos para ns brasileiros, mais interessantemente. Em nenhum outro
sobre o Brasil e aqui escrito na mesma poca ou ainda imediatamente depois, se encontram tantos testemunhos de mestiagem
que aqui se comeava a operar, e j ia mesmo relativamente adiantada, da comunho das gentes diversas que neste pas se
encontraram. E como ao cabo tal mestiagem, no s fisiolgica seno psicolgica tambm, que distinguir o grupo
brasileiro, dar-lhe- feio prpria e atuar a sua expresso literria, so os Dilogos das grandezas um estimvel subsdio
da nossa histria literria.
II BRASILEIROS
O primeiro brasileiro conhecido que escreveu prosa num gnero literrio, qual a histria, e de feitio a se lhe poder
qualificar a obra de literria, foi Frei Vicente do Salvador. por ele que comea a nossa literatura em prosa.
Vicente Rodrigues Palha, como no sculo se chamava Frei Vicente, segundo as escassas notcias que dele temos, nasceu
em Matuim, umas seis lguas ao norte da cidade da Bahia, em 1564. Como a maioria dos homens instrudos da poca,
estudou com os jesutas no seu colgio de So Salvador, e depois em Coimbra, em cuja Universidade se formou em ambos
os direitos e doutorou-se. Voltando ao Brasil ordenou-se sacerdote, chegou a cnego da S baiana e vigrio-geral. Aos trinta
e cinco anos fz-se frade, vestindo o hbito de So Francisco e trocando o nome pelo de Frei Vicente de Salvador. Missionou
na Paraba, residiu em Pernambuco e cooperou na fundao da casa franciscana do Rio de Janeiro, em 1607, sendo o seu
primeiro prelado. Tornou posteriormente a Pernambuco, onde leu um curso de artes, no convento da ordem, em Olinda.
Regressando Bahia a foi guardio do respectivo convento, em 1612. Eleito em Lisboa custdio da Custdia franciscana
brasileira, no mesmo ano de 1612 teve de voltar a Pernambuco. Aps haver estado em Portugal, regressado novamente
Bahia, como guardio, tornado ao Rio e mais uma vez Bahia, a faleceu entre os anos de 1636 a 1639. Estas diferentes
viagens, este trato de diversas terras e populaes devia ter-lhe completado a educao escolar com aquela, a certos respeitos
melhor, que se faz no comrcio do mundo. A ela podemos atribuir a singular objetividade do seu estilo. Foram grandes e
bons os seus servios sua ordem e sua ptria por vrios lugares e postos da sua atividade. Passou por excelente religioso
e bom letrado. A sua obra faz acreditar merecida esta reputao.
Essa obra, Histria do Brasil, concluda a 20 de dezembro de 1627, ficou indita at 1888. Escreveu-a o bom e douto
frade a pedido, poderamos dizer por encomenda, de Manoel Severim de Faria, um dos mais considerados eruditos portugueses
contemporneos, que lhe prometera public-la sua custa.
Como ningum melhor que Varnhagen conheceu o Tratado descritivo do Brasil de Gabriel Soares, ningum melhor que
o sr. Capistrano de Abreu conhece a Histria do Brasil de Frei Vicente do Salvador, cujo foi se no o revelador, glria que
cabe tambm a Varnhagen, o divulgador a capacssimo editor. Com igual autoridade ao seu ciente predecessor na historiografia
brasileira, julga assim o sr. Capistrano de Abreu a obra do frade baiano: Sua histria prende-se antes ao sculo XVII que ao
sculo XVI, neste com as dificuldades das comunicaes, com a fragmentao do territrio em capitanias e das capitanias
em vilas, dominava o esprito municipal: brasileiro era o nome de uma profisso; quem nascia no Brasil, se no ficava
infamado pelos diversos elementos de seu sangue, ficava-o pelo simples fato de aqui ter nascido um mazombo, se de
algum corpo se reconheciam membros, no estava aqui mas no ultramar: portugueses diziam-se os que o eram e os que o no
eram. Frei Vicente do Salvador representa a reao contra a tendncia dominante: Brasil significa para ele mais que expresso
geogrfica, expresso histrica e social. O sculo XVII a germinao desta idia como o sculo XVIII a maturao.
A sua Histria no repousa sobre os estudos arquivais. Haveria dificuldade em examinar arquivos? ou no era o seu
esprito inclinado a leitura penosa de papis amarelecidos pelo tempo? Da certa laxido no seu livro: muitos fatos omitidos
que hoje conhecemos e que ele com mais facilidade e mais completamente poderia ter apurado, contornos enfumados, datas
flutuantes, dvidas no satisfeitas. At certo ponto a Histria de Frei Vicente comparvel geografia do meritssimo padre
Mateus Soares, um sculo mais tarde: correta onde determinava posies astronmicas; em outros pontos fundada sobre
roteiros de bandeirantes e mineiros.
Mas esta pecha resgata-a por qualidades superiores. A Histria possui um tom popular, quase folclrico; anedotas,
ditos, uma sentena do bispo de Tucum, uma frase do Rei do Congo, uma denominao de Vasco Fernandes. Mais ainda:
v-se o Brasil qual era na realidade, aparece o Branco, aparece o ndio, aparece o Negro; o preto Bastio percebe-se que fez
rir a boas gargalhadas o nosso autor. Informaes por que suspirvamos, e que no espervamos encontrar, ele as oferece s
mos cheias, ora num trao fugitivo, ora demoradamente: leia-se por exemplo o ltimo captulo do livro IV, relativo a
construo de engenhos: antes nada se sabia a tal respeito. H tambm o pensamento que a prosperidade do Brasil est no
serto, que preciso penetrar o oeste, deixar de ser caranguejo, apenas arranhando praias, a oposio do bandeirismo ao
transoceanismo: e da a poro de roteiros que debalde se procuraria em outras obras.
26
Dos mesmos mritos que do seu ponto de vista de historiador lhe verifica o sr. Capistrano de Abreu, pode concluir a
crtica literria para lhe avaliar os quilates nesta espcie. um livro que poderamos chamar de clssico se no nos agarrssemos
estreita concepo gramatical e retrica que o vocbulo tomou em Portugal. A sua lngua correta, expressiva e at s vezes
colorida, mais porventura do que o costuma ser a dos escritores seus contemporneos, tem sobre a destes a superioridade da
singeleza e da naturalidade, virtudes neles raras. E poderamos acrescentar da familiaridade, como o mostram o j aludido
simile da explorao dos portugueses limitada costa com o arranhar das praias pelos caranguejos, e que tais, tirados das
novidades que sua pena inteligente ofereciam os aspectos inteiramente inditos do pas que historiava e descrevia. muito
mais agradvel de ler que Gabriel Soares e para ns brasileiros ao menos do que muitos dos chamados clssicos portugueses,
cronistas como ele. Tem esprito, tem chiste, quase poderamos dizer que s vezes tem at humour. H sobretudo nele uma
desenvoltura de pensar e de dizer que aumentam o sabor literrio sua Histria. Sirvam de exemplo estas suas reflexes
sobre o nome do Brasil: porventura por isso (refere-se troca do nome de Terra de Santa Cruz pelo de Brasil), ainda que
ao nome de Brasil ajuntarem o de estado e lhe chamem estado do Brasil, ficou ele to pouco estvel, que, com no haver hoje
cem anos, quando isto escrevo, que se comeou a povoar, j se ho despovoado alguns lugares, e sendo a terra to grande e
frtil, como adiante veremos, nem por isso vai em aumento, antes em diminuio.
Disto do alguns a culpa aos reis de Portugal, outros aos povoadores; aos reis pelo pouco caso que ho feito deste to
grande estado, que nem o ttulo quiseram dele, pois intitulando-se senhores da Guin por uma caravelinha que l vai e vem,
como disse o rei do Congo, do Brasil que no quiseram intitular. Nem depois da morte de el-rei Do Joo Terceiro, que o
mandou povoar e soube estim-lo, houve outro que dele curasse, seno para colher suas rendas e direitos.
do mesmo esprito e tom a sua observao, j atrs citado do desapego dos moradores terra.
No s historiador que reconta, observa e reflexiona, tambm moralista avisado que sem biocos fradescos, compara,
aprecia e generaliza, e sabe faz-lo com graa natural e frase que desta mesma naturalidade tira a elegncia. So outro
documento destes seus dotes, e at da sua perspiccia psicolgica, estas suas finas observaes sobre a obra da catequese,
com que tambm inculca o que era no fundo a superficial cristianizao do selvagem. Soube o seu esprito realista discernir,
e dizer sem os rebuos que lhe punham os jesutas, alguns motivos da passividade com que o ndio se prestava a certas
prticas religiosas. demais diz-lo com uma deliciosa sem-cerimnia. Confesso que trabalho labutar com este gentio
com a sua inconstncia, porque no princpio era gosto ver o fervor e devoo com que acudiam igreja e quando lhes
tangiam o sino, doutrina ou missa, corriam com um mpeto e estrpido que pareciam cavalos, mas em breve tempo
comearam a esfriar de modo que era necessrio lev-los fora, e se iam morar nas suas roas e lavouras, fora da aldeia,
por no os obrigarem a isto. S acodem todos com muita vontade nas festas em que h alguma cerimnia, porque so muito
amigos de novidades; como dia de So Joo Batista por causa das fogueiras e capelas, dia da comemorao geral dos
defuntos, para ofertarem por eles, dia de Cinza e de Ramos e principalmente das endoenas para se disciplinarem, porque o
tem por valentia. E tanto isto assim que um principal chamado Iniaoba, e depois de cristo Jorge de Albuquerque, estando
ausente uma semana santa, chegando aldeia nas oitavas da Pscoa e dizendo-lhe os outros que se haviam disciplinado
grandes e pequenos, se foi ter comigo, que ento presidia, dizendo: Como havia de haver no mundo que se disciplinasse at
os meninos e ele sendo to grande e valente, como de feito era, ficasse com o seu sangue no corpo sem o derramar.
Respondia-lhe eu que todas as coisas tinham seu tempo, e que nas endoenas se haviam disciplinado em memria dos
aoutes que Cristo senhor nosso por ns havia padecido, mas que j agora se festejava sua gloriosa ressurreio com alegria,
e nem com isto se aquietou, antes me ps tantas instncias dizendo que ficaria desonrado e tido por fraco, que foi necessrio
dizer-lhe que fizesse o que quisesse, com que logo se foi aoutar rijamente por toda a aldeia, derramando tanto sangue das
suas costas quanto os outros estavam por festas metendo de vinhos nas ilhargas.
27
27
Obr. cit., 169.
precioso o texto, assim pela arguta observao de certos caractersticos hoje muito conhecidos do selvagem, a sua
inconstncia de propsito, o seu amor da novidade, o seu ponto de honra de valentia bruta, como pela lngua que sendo boa,
conforme a melhor do tempo, escapa entretanto aos feios vcios desta do empolado, das construes arrevesadas e do estilo
presumidamente pomposo. A sua frase ao contrrio ch, sem artifcio e j, como viria legitimamente a ser brasileira,
quando no se propusesse indiscretamente a arremedar a portuguesa, menos invertida, mais direta do que esta. Mais um
exemplo para acabar com a comprovao das qualidades do nosso primeiro prosador. Descreve-nos no cap. XLIV a primeira
misso jesutica Ibiapaba, dos padres Francisco Pinto e Lus Figueira.
Estes se partiram de Pernambuco o ano de mil seiscentos e sete em o ms de janeiro, com alguns gentios das suas
doutrinas, ferramenta e vestidos, com que os ajudou o Governador para darem aos brbaros. Comearam seu caminho por
mar e prosseguiram ao longo da costa cento e vinte lguas para o norte o Rio de Jaguaribe, onde desembarcaram. Da
caminharam por terra e com muito trabalho outras tantas lguas at os montes de Ibiapaba, que ser outras tantas aqum do
Maranho, perto dos brbaros que buscavam, mas acharam o passo impedido de outros mais brbaros e cruis do gentio
tapuia, aos quais tentearam os padres pelos ndios seus companheiros com ddivas, para que quisessem sua amizade, e os
deixassem passar adiante, porm no fizeram mas antes mataram os embaixadores, reservando somente um moo de dezoito
anos que os guiasse aonde estavam os padres, como o fez seguindo-os muito nmero deles. Saindo o padre Francisco Pinto
da sua tenda, onde estava rezando, a ver o que era, por mais que com palavras cheias de amor e benevolncia os quisesse
quietar, e os seus poucos ndios com flechas pretendiam defend-lo, eles, com a fria com que vinham mataram o mais
valente, com que os mais no puderam resistir-lhe nem defender o padre, que lhe no dessem com um pau rolio tais e tantos
golpes na cabea que lha quebraram e o deixaram morto. O mesmo quiseram fazer ao padre Lus Figueira, que no estava
longe do Companheiro, mas um moo da sua companhia, sentindo o rudo dos brbaros o avisou, dizendo em lngua portuguesa:
Padre, padre, guarda a vida e o padre se meteu pressa em os bosques, onde, guardado da Divina Providncia, o no
puderam achar, por mais que o buscaram, e se foram contentes com os despojos que acharam dos ornamentos que os padres
levavam para dizer missa, e alguns outros vestidos e ferramenta para darem, com o que teve lugar o padre Lus Figueira de
recolher seus poucos companheiros, espalhados com medo da morte, e de chegar ao lugar daquele ditoso sacrifcio, onde
acharam o corpo estendido, a cabea quebrada e desfigurado o rosto, cheio de sangue e lodo, limpando-o e levando-o. E
composto o defunto em uma rede em lugar de atade lhe deram sepultura ao p de um monte, que no permitia ento outro
aparato maior o aperto em que estavam; porm nem Deus permitiu que estivesse assim muito tempo, antes me disse Martins
Soares, que agora capito daquele distrito, que o tinham j posto em uma igreja, onde no s os portugueses e cristos, que
ali moram, venerado, mas ainda dos mesmos gentios.
28
28
As citaes so respectivamente de pgs. 7, 169 e 178 da edio dos Anais da Biblioteca Nacional, cit. claro que modernizei a ortografia e pontuao.
Desta malograda misso jesutica e martrio do padre Francisco Pinto, to sucinta, clara e simplesmente narrada por Frei Vicente do Salvador, conheo
trs verses, duas mais ou menos contemporneas, outra do sculo XVIII, a primeira a do padre Ferno Guerreiro na sua obra Relao anual das causas
que fizeram os padres da Companhia, etc. (Lisboa, 1605) na parte Das cousas do Brasil, apud as Memrias para a histria do extinto estado do
Maranho, por Cndido Mendes de Almeida, Rio de Janeiro, 1874, II, 551 e seg. A segunda a da Relao da misso da serra de Ibiapaba, pelo padre
Antnio Vieira, escrita em 1660, publicada nas mesmas Memrias de Cndido Mendes, II, 455. Vem finalmente a terceira do cap. IV da Histria da
Companhia de Jesus da provncia do Par e Maranho do padre Jos de Morais, escrita em 1759 e publicada em tomo I das mesmas citadas Memrias.
Se concordam no fato essencial da morte do padre Francisco Pinto s mos dos ndios por ele convocados, divergem estas verses e a de Frei Vicente nas
circunstncias que o acompanharam.
As trs outras verses deste fato existentes na literatura da nossa lngua, principalmente a dos padres Antnio Vieira e
Jos de Morais, fornecem-nos oportunidades de avaliarmos de Frei Vicente do Salvador como escritor. Neste passo ao
menos no lhe sai mal o confronto, mesmo com o do muito maior deles, o grande exemplar dos melhores escritores portugueses,
Vieira. Ao passo que a dos dois jesutas nesse estilo que o padre Manuel Bernardes, com tanto sal e a propsito chamou de
fraldoso e dilatado, a do modesto frade brasileiro, embora sem a correo gramatical daqueles, simultaneamente precisa,
sucinta e sbria, sem sacrifcio da clareza. Do que sabemos de Frei Vicente do Salvador e do que nos revela a sua obra, foi
ele, no melhor sentido do qualificativo, de nimo ingnuo. Como escritor este ainda o que mais lhe assenta, e que o
sobreleva, com outros dons j ditos, a todos os escritores do Brasil, nacionais ou portugueses, nesta primeira fase da literatura
aqui. Se houvramos ns brasileiros de fazer a lista dos nossos clssicos, isto , daqueles escritores que sobre bem escreverem
a sua lngua, conforme o uso do seu tempo, melhor nos representassem o sentimento, o entendimento e a vontade que faz de
ns uma nao, o primeiro dessa lista seria por todos os ttulos Frei Vicente do Salvador com a sua Histria do Brasil.
ele o nico prosista brasileiro da fase inicial da nossa literatura.
A prosa brasileira assim to dignamente estreada no se continuou pelo resto do sculo. copiosa produo potica
desse momento de modo algum correspondem escritos em prosa, que no sejam papis e documentos de administrao ou
de informao do pas, j oficiais, j particulares, estes oriundos na maior parte das ordens religiosas, maiormente da
Companhia de Jesus. Esses mesmos permaneceram inditos, ou so apenas de notcia conhecidos. Nenhum foi reduzido a
livro. Informa o bibligrafo portugus Barbosa Machado, escrevendo alis um sculo depois, que um dos poetas dessa
poca, que tambm foi funcionrio real e militara pela metrpole na colnia, Bernardo Vieira Ravasco, irmo do padre
Antnio Vieira, deixara manuscrita uma Descrio topogrfica, eclesistica, civil e natural do Estado do Brasil. Esta obra
no veio jamais a lume e ningum a conhece. A julgar pelo ttulo seria uma repetio no sculo XVII do Tratado descritivo
do Brasil, de Gabriel Soares, do sculo XVI, com a diferena de ser feita por brasileiro, porventura mais completa e com
certeza piorada pela presuno literria e pelo estilo gongrico do autor, que era o da poca.
Escreveu mais Vieira Ravasco em Discurso poltico sobre a neutralidade da coroa de Portugal nas guerras presentes
das coroas da Europa e sobre os danos que da neutralidade podem resultar a essa coroa e como se devem e podem obviar
(1692?) e remdios polticos com que se evitaro os danos que no discurso antecedente se propem (datado da Bahia, 10 de
junho de 1693). Estes dois papis, respectivamente de 13 e 16 folhas, apareceram em cpia moderna na Exposio de
Histria do Brasil realizada pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em 1881.
29
falta de outros mritos, esses escritos
fariam de Vieira Ravasco o primeiro em data dos nossos publicistas.
Exceto estes escritos de Ravasco, e aqueles outros supostos ou apenas referidos, os quais alis no so propriamente
literrios, a nica prosa que se fazia na colnia, afora a da conversao, era a dos sermes.
Admitindo, mais por seguir o uso que por convico, seja o sermo um gnero literrio, e haja de fazer parte da histria
da literatura, parece incontestvel que s o ser e s caber nela quando tenha sido posto por escrito. Sem isto pertenceria
quando muito literatura oral, e desta no h histria.
30
O sermo, porm, teve no passado uma importncia, mesmo literria, muito grande, muito maior do que tem hoje.
Social ou mundanamente foi um divertimento, um espetculo que, conforme o pregador, podia despertar interesse e atrair
concurso to alvoroado ou numeroso de ouvintes como outros quaisquer do tempo: um auto de f, uma corrida de touros,
um jogo de canas, uma representao teatral ou alguma solenidade da Corte. Mas, como espetculo gratuito e aberto ao
povo, era mais concorrido do que estes, s a abastados ou favorecidos acessveis. Tanto mais que no constitua o sermo s
por si o espetculo, mas era apenas um nmero nos que a igreja oferece aos seus fiis, com a prodigalidade, a pompa, a
encenao semipag das suas pitorescas cerimnias. Ajudava, pois, o sermo a sociabilidade de uma gente de natureza
retrada e triste, qual a portuguesa, em tempo em que sociabilidade se deparavam poucos ensejos de exercer-se. Servia de
elemento de instruo pela discusso de problemas morais e noes de toda a ordem, que ao redor deles forosamente
surgiam, e mais pela forma de os expor. De um ou de outro modo, excitavam as inteligncias, punham e resolviam questes,
assentavam ou retificavam opinies, suscitavam emoes e forneciam, como os discursos acadmicos ou parlamentares de
hoje, temas s conversaes. Foi a sua repetio importuna e corriqueira, a sua vulgarizao, a trivialidade dessaborida e
fatigante dos seus processos, dos seus estilos, dos seus truques a inpia do pensamento, invariavelmente o mesmo, que o
alimentava, e da lngua constantemente a mesma que falava, com o mesmo arranjo e corte do assunto, o mesmo aparelho de
erudio, idnticos recursos retricos, e at iguais entonaes e gestos no orador, que acabaram com o sermo, como gnero
literrio estimvel. Prejudicou-o tambm a sua cada vez mais crescente incoerncia com os tempos. Foi um grande expediente
de propaganda e edificao religiosa, e ainda moral, no s quando as almas eram mais sensveis a tal recurso de lio oral
bradada de cima de um plpito, mas quando, sendo pouco vulgar a imprensa, e menos ainda a capacidade de leitura,
encontrava o sermo nas massas analfabetas ou pouco lidas, ou ainda com poucas facilidades de ler, ouvintes numerosos e
de boa vontade. Com a multiplicao dos livros, mesmo religiosos, literatura parentica oral se foi substituindo a literatura
piedosa escrita. Ceci tuera cela. E a decadncia do sermo acompanhada com grande avano pela da oratria sagrada, no
diminuiu apenas a importncia do gnero; teve ainda uma influncia retrospectiva. Amesquinhou lanou no olvido os produtos
do seu bom tempo.
Na lngua portuguesa o nico orador sagrado que porventura ainda tem leitores o padre Antnio Vieira. Tem-nos alis
antes como clssico muito apreciado da lngua, como exemplar de escrita verncula e numerosa, que como professor de
religio ou moral. Nem h j, mesmo entre as pessoas piedosas, se no so de todo ignaras, quem lhe sofra a filosofia
inconsistente ou a cincia e erudio atrasadssimas ainda para o seu tempo, alm dos obsoletos e at ridculos processos
retricos. Na lngua francesa tambm no h mais de trs oradores sagrados com leitores. Bossuet, Massillon e Bourdaloue.
Destes mesmo o que mais se l, qui o nico ainda em verdade lido, Bossuet. Nenhum deles , alis, como tambm no
foi Vieira, apenas orador sagrado. Foram personagens considerveis no seu tempo, e, alm de aes memorveis, deixaram
obras literrias pelas quais se recomendam e sua obra oratria. So justamente tais aes, o papel que desempenharam e a
influncia que tiveram na sua poca os dois maiores deles, Bossuet e Vieira, que mais que os seus mritos literrios lhes
fazem viver os sermes.
Nenhum dos sermonistas brasileiros coloniais exerceu no seu meio e tempo ao ou influncia que se lhes refletisse nos
sermes, dando-lhes a vida e emoo que ainda descobrimos nos de Vieira. Nenhum, tambm, em que pese aos seus excessivos
elogiadores, possui qualidades essenciais ou formais que lhe dessem aos sermes publicados, que os inditos esses de
todo no pertencem literatura aquilo que lhes no pde emprestar a sua existncia obscura.
Desses o que, parece, teve mais talento, melhor lngua estilo e mais fora oratria foi o padre Antnio de S (1620-
1678), jesuta, natural do Rio de Janeiro. Exerceu o Ministrio do plpito no Brasil e em Portugal e, parece, tambm
ocasionalmente em Roma, ao mesmo tempo em que ilustrava o plpito portugus o padre Vieira. Deste foi, como acontecia
com todos os pregadores da poca, discpulo e seguidor. Dos seus sermes, avulsamente publicados ainda em sua vida, e
depois coligidos em 1750,
31
se verifica que por alguns aspectos o foi superiormente. Para o nosso gosto atual, talvez
sobrelevando ao mestre e mulo no estilo nimiamente ornado e culto do tempo, e notavelmente de Vieira, com quem o nosso
bairrismo literrio o tem querido emparelhar. Nem pela cpia, nmero e mais excelncia de linguagem, nem pelo teso,
vigoroso e pessoal do estilo, nem pelo arrojo, riqueza e variedade da imaginao e dos tropos acompanha Antnio de S a
Vieira, do qual , ainda com valor prprio que se lhe no pode negar, plido reflexo. Mas tambm o no acompanha no
gongorismo, no abuso dos trocadilhos e menos no atrevimento e despejo de conceitos e comparaes com que o celebrado
orador portugus, no seu materialismo religioso, roa no raro pela chocarrice e pela indecncia, seno pela blasfmia.
32
No obstante os seus reais mritos, a boa qualidade da sua lngua e estilo, mesmo o talento que revela em seus sermes,
Antnio de S apenas um nome que se encontra nas antologias didticas e cuja obra, fora dos curtos trechos destas,
ningum mais l e quase todos ignoram inteiramente.
que de fato, a despeito do nosso catolicismo consuetudinrio, os sentimentos que o inspiraram no tm mais a virtude
de interessar-nos e comover-nos. E s vive a obra literria cuja emoo geradora persiste apesar do tempo, sempre capaz de
provocar em ns emoo idntica. Isto que o sermo, quando se no misturam nele, como nos de Bossuet ou Vieira,
interesses verdadeiramente humanos, ou bocados da nossa vida e das nossas paixes, quando apenas expediente de edificao
religiosa, no mais consegue. Perdeu, pois, o essencial dos atributos literrios: o dom da emoo.
Numerosos nomes de pregadores podem, no perodo colonial, juntar-se ao do padre Antnio de S e os nossos historiadores
literrios no se tm poupado a faz-lo. Uns viram as suas obras publicadas, as de outros o foram posteriormente. Alguns so
apenas mencionados por noticiadores, s vezes posteriores de um sculo, o que no impediu fossem por aqueles julgados e
elogiados, como se os houveram conhecido mais que por vagas notcias. Nem h como verificar as verses que uma vez
inventadas vo sendo repetidas sem crtica por quantos do assunto tm escrito. Se o maior deles, como parece ter sido
Antnio de S, sumiu-se de todo no recesso escuro de alguma livraria pblica, onde apenas lhe freqentem a obra insetos
biblifagos, e no h descobrir-lhes o influxo na mentalidade do seu tempo na sua literatura, parece intil, ou vo alarde de
faclima erudio, nomear os outros.
A oratria sagrada no Brasil foi sem dvida, no perodo colonial e no incio do nacional, uma revelao e porventura um
estimulante, em estreitos limites alis, da cultura do momento. Era uma das formas por que se manifestava a inteligncia e
cultura brasileira, principalmente eclesistica. Mas como outras dessas formas de expresso, a poesia, a histria, os panegricos
pessoais ou da terra, os escritos morais, tinham os sermes a mesma inferioridade de toda essa literatura convencional,
retrica, sem alguma relevncia de engenho, sentimento ou expresso. S mais tarde, quando os oradores sagrados se
fizeram tambm, sob a influncia do momento histrico, oradores e at tribunos polticos, e exprimiam ou ressumavam as
paixes nacionais na poca da Independncia, se nos deparam alguns, bem poucos alis, cuja obra, somente por este aspecto,
ainda no morreu de todo.
Captulo III
O GRUPO BAIANO
A ATIVIDADE LITERRIA dos brasileiros, na segunda fase do perodo colonial, particularmente na ltima metade do
sculo XVII, manifesta-se quase exclusivamente pela poesia. Alis em todo esse perodo a literatura brasileira comps-se
em grandssima parte de poesia. O Brasil foi uma Arcdia antes de ser uma nao, verificou finalmente um crtico de
meados do sculo passado.
33
O que no , no sculo XVII, poesia, e poesia de bem pouca poesia, sermo ou literatura
oficial, crnicas, relaes, memoriais de carter estilo burocrtico. A natural pobreza da primeira fase do mesmo perodo, da
qual s ficou um nome de poeta e um poema, sucede a sua anormal abundncia na segunda metade do sculo XVII. Anormal
pela sua desproporo com o meio, uma sociedade embrionria, incoerente, apenas policiada, e inculta, e anormal ainda
pela sua correlao com a prosa, de todo muda nesse momento. Relaciona a poesia quase uma dzia de poetas. A que
atribuir-lhes a gnese?
Primeiro ao natural incentivo da prpria inspirao, inconscientemente estimulada pela tradio literria da metrpole,
sobretudo potica. A estes primeiros incitamentos juntou-se o aumento da cultura colonial, pela educao distribuda dos
colgios dos jesutas. Fazia-se esta principalmente nos poetas latinos lidos, comentados, aprendidos de cor. Dessa educao,
sempre e em toda a parte literria, e apontando apenas ao brilhante e vistoso, eram elementos principais exerccios retricos
de poesia, o que alis no obstou a que da Companhia jamais sasse um verdadeiro poeta, em qualquer lngua.
34
Influam
mais para a produo potica brasileira, em poca em que as preocupaes eram forosamente muito outras que as literrias,
as solenidades oficiais, celebrando faustos sucessos da monarquia, os abadessados e outeiros desde que aqui houve conventos,
isto , desde o fim do sculo XVI, as festividades escolsticas inventadas ou pelo menos sistematicamente praticadas pelos
jesutas, quase sempre acompanhadas de representaes teatrais, das quais h notcia desde aquele sculo, as academias ou
assemblias de letrados que reciprocamente se liam versos e prosas versos sobretudo e conversavam de letras, ainda
em antes de se fundarem como sociedades constitudas, no sculo XVIII.
35
Eram tudo costumes da metrpole logo
transplantados para a colnia. Em tais festas e solenidades, como nessas academias, havia sempre recitao de versos
inspirados pelos mesmos motivos delas e consagrados a lhes louvar os objetos ou promotores. justamente nessas festas
que, com certeza desde os princpios do sculo XVIII, se verifica a influncia do indgena e do negro em costumes e prticas
do Brasil
36
e porventura do seu sentimento no sentimento brasileiro.
Alm do natural gosto de se publicarem, e da vaidade, muito de raiz em poetas e literatos, de aparecerem e luzirem,
estimulava-os o empenho ou a necessidade de angariarem a benevolncia e a proteo dos promotores ou patronos dessas
festividades ou objetos delas, governadores, capites-generais, capites-mores, prelados.
Ainda em fins do sculo XVI comeou o descobrimento das minas de ouro, que, continuado pelo XVII e seguido do
achado dos diamantes, criou no pas uma riqueza maior, mais fcil e mais pronta que o pau-brasil, o acar e mais produtos
indgenas da sua primitiva exportao. Simultaneamente deu-se a interpresa dos holandeses contra a colnia. O primeiro
ouro, e at a s bem fundada esperana dele, com a cata cobiosa das esmeraldas, entrara a influir nos moradores, quer
nativos, mamelucos e mazombos, quer adventcios, reinis ou emboabas, a opinio das grandezas da terra. Disso bem-
querena e orgulho dela, com a conseqente presuno dos merecimentos deles prprios seus moradores, ia apenas um
passo. No distaria muito este sentimento de um incipiente patriotismo. De 1624 a 1654 sofrera o Brasil, da Bahia ao
Maranho, assaltos, ocupaes e conquistas dos holandeses. Salvador, com o seu Recncavo, fora duas vezes investida e de
uma tomada. Relativamente, na expugnao do invasor maior fora a parte dos colonos que a da metrpole. Disso houveram
eles clara conscincia. Os nossos sucessos nessas lutas, com as suas conseqncias polticas e sociais, e ainda morais,
haviam exaltado a nascente alma brasileira com os primeiros ardores daquele sentimento, ento apenas existente sob a
forma rudimentar de apego terra natal, a que temos chamado nativismo. Essas lutas do lugar a uma copiosa literatura
histrica: O valeroso Lucideno, de Fr. Manoel Calado (1648), O castrioto lusitano, de Fr. Rafael de Jesus (1679), as
Memrias dirias, de Duarte de Albuquerque (1654) e ainda a Jornada... para se recuperar a cidade do Salvador, do P.
Bartolomeu Guerreiro (1625) e menores e menos importantes escritos relativos a essas guerras. A esses cumpre juntar as
numerosas genealogias que posteriormente a essa poca se comearam a escrever, umas hoje publicadas, outras ainda
inditas, provando histrias e genealogias o acordar de uma conscincia coletiva nos naturais da terra e a satisfao que a si
mesmo se queriam dar da sua valia presente e passada, e de que no era to somenos a sua prospia. No obstante todos
estrangeiros, portugueses, os seus autores falaram da terra e dos seus naturais com tanta estima e encmio que lhes aumentara
a conscincia que comeavam a ter de si e do seu torro natal, por eles defendido com boa vontade, resoluo, denodo
verdadeiramente admirveis. No s admirveis mas fecundos, porque principalmente desse padecer por ela lhes viria a
certeza de quanto a amavam e quanto lhes ela merecia o seu amor. O nacionalismo brasileiro dataria da.
No h entretanto nos poetas nomeados qualquer revelao formal de haverem sido estimulados por essa exaltao
patritica. , porm, quase inadmissvel que no a tenham ainda inconscientemente experimentado, sentindo-se, como
todos os seus patrcios, mais dignos e maiores, levantados como foram os brasileiros no prprio conceito e at no da
metrpole, pela galhardia com que em to apertada conjuntura se houveram. No deve ser inteiramente fortuita a coincidncia
do florescimento, mofino embora, da nossa poesia na segunda metade do sculo XVII sucedendo ao nosso esforo e triunfo
nas guerras com os flamengos. Apenas haver nesses poetas alguma esquiva referncia ou aluso a tais sucessos ainda
frescos. , porm, seguramente notvel que as primeiras manifestaes do nacionalismo brasileiro sob a forma ainda primitiva
do apego por assim dizer material terra, da ufania das suas excelncias e belezas nativas, como sob a forma grosseira da
animadverso ao reinol, datem justamente de aps esses acontecimentos.
Nesse momento tambm a Bahia, a cidade do Salvador e a sua comarca, bero da civilizao brasileira, ptria e domiclio
desses poetas, crescera e se desenvolvera, avantajando-se a todos os respeitos aos demais centros de populao da colnia.
A crer os cronistas coevos, propensos alis todos, pois que o hiperblico e o pomposo estavam na feio do tempo, ao
exagero, era a cidade, desde o primeiro sculo da sua fundao, uma povoao adiantada, de muita comodidade e riqueza.
A Bahia a cidade de El-Rei e a Corte do Brasil escrevia o padre Ferno Cardim, j em 1585. Tudo relativo. A ns
hoje a Bahia se nos afigura ainda uma cidade atrasada, de escasso conforto, comparada a outras mesmo do Brasil, como Rio
de Janeiro e S. Paulo. Como quer que seja a cidade do Salvador, na sua extravagncia e incoerncia de todas as primitivas
cidades americanas, meios aldeamentos de ndios, meios acampamentos militares, meias povoaes civis, aglomeraes de
choupanas, fortalezas, casas de moradia, residncias oficiais, todas mesquinhas e feias, era a sede do Governo-Geral e
assento dos seus membros, autoridades civis e militares, cujas funes alis ainda se confundiam. Dessas autoridades o
maior nmero eram fidalgos de condio e tratamento. Era tambm a sede do nico bispado do pas, com a sua s e o que ela
implica de cnegos e mais dignidades. Possua j muitas igrejas, alguns conventos e um colgio dos jesutas, cujas aulas
quase todos os letrados do tempo haviam freqentado. No seu tempo se fazia justamente ouvir a voz eloqente e florida do
padre Antnio Vieira e a sua palavra de um to literrio sabor. Tinha muitas casas sobradadas e de pedra e cal, telhadas e
forradas como as do Reino das quais ao tempo de Gandavo, que o diz, havia ruas muy cumpridas e formosas.
37
No tempo
daqueles poetas teria de uns mil ou mil e quinhentos moradores, e os seus arredores dois mil e quinhentos a trs mil.
38
Desde
meio sculo antes destes poetas, havia na cidade uma boa praa em que se corriam touros, e nela umas nobres casas onde
residiam os governadores. Numa outra praa faziam-se cavalhadas, que, continuadas no sculo XVII, Gregrio de Matos
devia de celebrar em suas stiras. No faltavam moradores ricos de bens de raiz, peas de prata e ouro, arreios de montaria
e tais alfaias de casa, que muitos possuam dois a trs mil cruzados em jias de ouro e prata lavrada. Mais de cem deles
usufruam rendas de mil a cinco mil cruzados e mais, no faltando capitais de vinte e sessenta mil. Tratavam-se grandemente.
Tinham cavalos, criados e escravos. Vestiam-se, principalmente o mulherio, com grandeza e luxo, no usando elas, por no
ser fria a terra seno sedas. Mesmo a gente somenos acompanhava este luxo. Os pees usavam calo e gibo de cetim e
damasco e traziam as mulheres com vasquinhas e gibes da mesma fazenda. Eram bem arranjadas as casas, e nas mesas
comum o servio de prata, andando as senhoras ataviadas de jias de ouro.
39
Ferno Cardim, descrevendo as boas recepes
feitas ao visitador jesuta e seu squito na Bahia e arredores, no lhe esquece nem de mencionar os grandes repastos que lhes
ofereciam e as iguarias servidas, galinhas, perus, patos, cabritos, leites, todo o gnero de pescado e mariscados de toda a
sorte, como lhe no esquece notar a limpeza e concerto do servio, na maioria de prata, nem os ricos leitos de seda, etc.
40
Quem conhece as nossas cidades sertanejas de hoje em dia, ou as conheceu h trinta anos ou mais, no ter dificuldade em
imaginar o que seria a Bahia dos fins do sculo XVI e do sculo XVII: um misto incongruente de civilizao e barbaria, de
luxo e desconforto. J ento havia nela uma grande populao negra e mestia. Os costumes no eram de forma alguma
austeros, antes soltos, como foram sempre os das sociedades incipientes, quando os no continha uma severa disciplina
moral, qual a dos puritanos da Nova Inglaterra. Afora de guerrear o indgena, que s vezes ainda ameaava a cidade ou o
Recncavo, ou de ir atac-lo nos seus sertes para o descer ou reduzir, alm da preocupao de agresses possveis de
estrangeiros cobiosos do Brasil, resumia-se a atividade daquelas populaes na cultura dos engenhos de acar vizinhos da
cidade ou espalhados pelo Recncavo. Mas esse trabalho como qualquer outro, e tambm a granjearia dos alimentos naturais
caa, pesca, frutos da terra, era todo exclusivamente feito por escravos, o que criava para a populao livre, indgena ou
forasteira, cio propcios aos vcios e mais costumes. Os encargos de conscincia so muitos, escrevia o padre Cardim ao
seu Provincial, os pecados que se cometem neles (engenhos) no tm conta: quase todos andam amancebados por causa das
muitas ocasies; (e jogando de vocbulo com o acar, principal riqueza da terra) bem cheio de pecados vai esse doce, por
que tanto fazem, grande a pacincia de Deus que tanto sofre.
41
tambm a impresso de Froger
42
como de outros
viajantes estrangeiros, citados por Southey,
43
que pela Bahia passaram aquele tempo. E a obra satrica, como a mesma vida
de Gregrio de Matos, confirma essa descompostura de costumes. A essa populao mistura incongruente de fidalguia e de
ral portuguesa, de negros e mulatos, e ndios e mamelucos, de numerosa soldadesca e no menos copiosa clerezia, ocupavam-
na tambm as devoes festivais nas sessenta e tantas igrejas da cidade e seus subrbios.
44
Afora as festas de igreja, em cuja freqncia e esplendor emulariam as diversas religies, missas solenes, procisses,
ladainhas, novenas, vias-sacras e outras da bela e rica liturgia catlica, espetculos diletos da gente ibrica, tinha os moradores
da Bahia para diverti-los touros, no menos dela prezados, as cavalhadas, as festividades por motivos de jbilos nacionais
da metrpole, representaes teatrais dos colgios dos jesutas ou acompanhando essas festividades, os abadessados, obrigados
aos tradicionais outeiros poticos da pennsula. Na cidade e nos seus arredores era comum fazerem-se comdias. A essas
representaes consagrou Gregrio de Matos mais de um dos seus poemas.
45
A escravatura africana muito numerosa, com a
facilidade e despejo de costumes produzidos pela escravido, a soltura da vida colonial devia dar a esses divertimentos, a
que cumpre juntar os batuques, candombls, caterets e outras importaes dfrica, j aqui mestiadas com quejandas de
Portugal e do pas, um singular pico de talvez maior licena que a da sociedade portuguesa da poca.
Os moradores mais abonados mandavam os filhos estudar a Coimbra, depois de os haverem feito cursar as aulas
preparatrias locais, mormente as dos jesutas, que eram as mais recomendadas e freqentadas. Alm das matrias de
religio e teologia, estudavam-se nessas aulas o latim e sua literatura e conjuntamente a histria e geografia antigas e a
mitologia. Nelas explicou e comentou Sneca, est-se a ver com que abuso de sutilezas e desmancho de trocadilhos, o padre
Antnio Vieira. Os jesutas mantinham em seu colgio uma livraria, ou biblioteca como hoje chamamos, em que certamente
com livros de religio e teologia se achariam os poetas antigos e os portugueses e espanhis de mais nomeada e estimao.
Por citaes de Botelho de Oliveira, um dos poetas maiores do grupo baiano, verifica-se que eram a conhecidos entre os
letrados, Tasso, Marini, Gongora, Lope de Vega, Cames, Jorge de Montmor, Gabriel Pereira de Castro. E o seriam com
certeza ainda outros, famosos naquele tempo. A educao jesutica, quase a nica dos nossos primeiros poetas e letrados,
essencialmente formalstica, apenas vistosa, de mostra e aparato, parecendo no apontar seno a ornamentar a memria.
No porventura temerrio atribuir-lhe a feio geral, abundante destes estigmas, do sculo da decadncia literria portuguesa,
j bem estreada, e o carter incolor, e dessaborido como um tema de escolar, da primeira poesia brasileira.
Nesta cidade e sociedade, simultaneamente rudimentar e gastada, nasceram, criaram-se, viveram e produziram no sculo
XVIII os poetas que se convencionou reunir sob o vocbulo de grupo baiano. Alm de os juntar o acidente de existirem no
mesmo lugar e momento, associa-os a comunho na mesma potica portuguesa da poca. So eles, por ordem de nascimento:
Bernardo Vieira Ravasco (1617-1697), irmo do padre Antnio Vieira; Frei Eusbio de Matos (1629-1692); Domingos
Barbosa (1632-1685); Gonalo Soares da Frana (1632-1724?); Gregrio de Matos, irmo de Eusbio (1633-1696); Manoel
Botelho de Oliveira (1636-1711); Jos Borges de Barros (1657-1719); Gonalo Ravasco Cavalcanti de Albuquerque, primo
do outro Ravasco (1659-1725) e Joo de Brito Lima (1677?). Com a s exceo de Botelho de Oliveira, nenhum deixou
livro impresso, sendo que dos outros, excetuado Gregrio de Matos, de quem existe manuscrita parte considervel da sua
produo, apenas nos restam amostras, resguardadas em antologias e repertrios do sculo XVIII. Dessas amostras no
podemos induzir seno o medocre engenho desses versejadores. Nenhuma autoriza a sentir a perda do resto. Apenas se
haveria perdido com ele mais algum sinal, como o da Ilha de Mar, de Botelho de Oliveira, da impresso da terra e dos seus
ltimos sucessos nesses poetas, e, portanto, a confirmao interessante do despontar do nosso nacionalismo.
Cento e quatro anos depois da Prosopopia de Bento Teixeira, saa luz em Lisboa outro livro de brasileiro, uma
coleo de poemas lricos, com este ttulo, muito do tempo: Msica do Parnaso em quatro coros de rimas portuguesas,
castelhanas, italianas e latinas com seu descante cmico reduzido em duas comdias, oferecida ao Excelentssimo Senhor
Dom Nuno lvares Pereira de Melo, Duque do Cadaval, etc., e entoada por Manuel Botelho de Oliveira, Fidalgo da Casa de
Sua Majestade. Na oficina de Miguel Menescal, Impressor do Santo Ofcio, Ano de 1705, in 4, 240 pgs.
Manoel Botelho de Oliveira o nico desses poetas cuja obra foi publicada ainda no seu tempo. Da lhe vem a relativa,
e ainda assim muito apoucada, notoriedade. H nessa obra, alis num s dos seus poemas, o primeiro sintoma de emoo
esttica produzida pela terra em um dos seus naturais, e literariamente exprimida. E a expresso no , sob este aspecto, de
todo somemos. Entre os poemas do tempo acaso o nico que ainda leiamos com aprazimento.
Segundo a mais antiga e nica notcia que do poeta existe, Botelho de Oliveira nasceu na cidade da Bahia, capital da
Amrica portuguesa, no ano de 1636, filho de Antnio lvares Botelho, capito de infantaria paga, fidalgo da Casa de Sua
Majestade. Estudou na Universidade de Coimbra jurisprudncia cesrea (direito romano), exercitando na sua ptria a advocacia
das causas forenses por muitos anos com grande crdito da sua literatura. Foi vereador do Senado da sua ptria e capito-
mor de uma das comarcas dela. Teve grande instruo da lngua latina, castelhana, italiana, como tambm da poesia,
metrificando com suavidade e cadncia. Faleceu a 5 de janeiro de 1711.
46
O livro de Botelho de Oliveira, a primeira coleo de poesias publicada por brasileiro, contm, afora os poemas em
portugus, espanhol, latim e italiano (os quatro coros de rimas a que alude o ttulo), duas comdias em castelhano: Hay
amigo para amigo e amorengaos y zelos, das quais a primeira parece havia j sido impressa antes de sair novamente no
volume Msica do Parnaso.
No h neste principal documento dos comeos da nossa poesia, ou melhor, da poesia portuguesa no Brasil, distino
notvel, pobre de sentimento e inspirao. A lngua, como a metrificao, correta, ainda boa, se bem no escapem ambas
aos vcios e defeitos do tempo. O chamado catlogo da Academia de Lisboa inclui a Msica do Parnaso nos livros que se
haviam de ler para a organizao do dicionrio da lngua, projetado pela mesma Academia. Os poemas, sonetos, canes
madrigais e quejandas composies nas frmulas da potica em moda, ou so laudatrios, endereados a diversas personagens,
geralmente prceres da repblica, por vrios motivos, nenhum bastante comovente para inspirar um poeta, ou so versos de
amor, mas do amor obrigatrio dos poetas, versos frios, sem paixo, a certa Anarda, a amante proverbial que lhos inspira.
Tambm os h simplesmente galantes, endereados a outras damas ou a conta de outras: Pintura dos olhos de uma dama,
pintura de uma dama namorada de um letrado e quejandos... O nosso cronologicamente primeiro lrico (j que Bento
Teixeira presume-se de pico) no foi, pois, seno um correto e vernculo versejador como os teve a nossa lngua s dezenas
na mesma poca e depois. Esta sua obra potica apenas lhe daria direito a uma meno na histria da nossa literatura, como
um nome desvalioso e desinteressante sua evoluo no fora o acidente feliz do seu poema A Ilha de Mar, que unicamente
o salva de um esquecimento completo e merecido. Ao inconsciente estmulo do nativismo, gerado dos acontecimentos no
meio dos quais nasceu e se fez homem, sentiu-se um dia Botelho de Oliveira sinceramente tocado pelas belezas e dons do
seu torro natal, e sob esta comoo cantou-o ingenuamente, caso ento extraordinrio, e no sem lindeza. Aquela insignificante
ilha da baa de Todos os Santos, provavelmente o seu bero, no podia conter ela s tanta cousa como ele lhe pe no poema
em que a celebra, tantas e to boas prendas. a sua Bahia, o mesmo Brasil, que o poeta embevecido resume na sua ilha
natal e que, cantando-a, canta com manifesta satisfao e ufania:
Esta ilha de Mar, ou de alegria
Que termo da Bahia
Tem quase tudo quanto o Brasil todo,
Que de todo o Brasil breve apodo.
Dele embevecido faz j, o que a mesma marca do nativismo brasileiro, ingnuas comparaes desfavorveis a Portugal
e Europa, dando a primazia sua terra:
Tenho explicado as fruitas e legumes
Que do a Portugal muitos cimes;
Tenho recopilado
O que o Brasil contm para invejado
E para preferir a toda a terra.
.............................................
Este poema, que pode ainda hoje ser lido com aprazimento, graas ao seu pitoresco, sua cor local e simplicidade,
inicia na poesia brasileira o seu tocante sestro de cantar a terra natal. Meio sculo depois, Santa Rita Duro pouco mais far
que repetir e desenvolve com mais largo estro e mais advertido sentimento, a inspirao da Ilha de Mar, quando no canto
VII do Caramuru celebra as riquezas naturais e produes do Brasil.
Esta emoo, que no mais a simples impresso da terra do versejador da Prosopopia, Botelho de Oliveira foi o
primeiro a exprimi-la. Outro poeta baiano, o Annimo Itaparicano, a repetiria no sculo XVIII, e ela nunca mais desapareceria
da poesia brasileira. Antes permaneceria nesta como uma das suas emoes mais peculiares e um dos seus mais comuns
motivos de inspirao, concorrendo para dar-lhe as feies que pouco a foram distinguindo da portuguesa. Justamente no
momento em que, com o Romantismo, a separao entre as duas literaturas se estabelece e acentua, o maior poeta brasileiro,
Gonalves Dias, lhe achar a forma definitiva e sublime na sua ingenuidade, na Cano do Exlio. E apenas haver poeta no
nosso Romantismo em que se no oua essa nota amorvel da terra ptria.
Botelho de Oliveira , com a sua Ilha de Mar, o mais frisante exemplo, em nossa primitiva literatura, ao conceito da
gnese do sentimento brasileiro aps os sucessos da primeira parte do sculo XVII, os acrescimentos geogrficos e econmicos
da colnia e as suas lutas vitoriosas contra
Holanda prfida e nociva
como ele disse.
O que nos legaram os outros, excetuando sempre Gregrio de Matos, muito pouco para lhe podermos avaliar com
segurana o mrito. Mas sobre insignificante tem tudo o mesmo ar de famlia da pior poesia contempornea.
Captulo IV
GREGRIO DE MATOS
DO GRUPO BAIANO o mais conhecido, o mais interessante e curioso e ainda, em suma, o mais distinto, Gregrio de
Matos. Se, como parece, so realmente suas as numerosas composies mtricas que, em cpias do sculo XVIII, chegaram
at ns, foi ele tambm o nosso mais copioso poeta dos tempos coloniais. H vrios volumes manuscritos de obras suas. So
umas srias, outras satricas e burlescas, a mxima parte alis, mais burlescas do que satricas. So estas no s as mais
porm as nicas conhecidas, tanto dos historiadores da nossa literatura como do vulgo dos letrados.
Da poro sria da obra de Gregrio de Matos no julgaram aqueles dever ocupar-se. Deste descuido resultou uma
noo imperfeita e uma idia errada do poeta. Fizeram dele um heri literrio, um precursor do nosso nacionalismo, um
antiescravagista, um gnio potico, um repblico austero, qui um patriota revoltado contra a misria moral da colnia.
Houvessem procurado conhecer a parte no satrica de sua obra, ou sequer lido atentamente a parte satrica publicada,
47
nica que conheceram, haveriam escusado cair em tantos erros como juzos.
47
Obras poticas de Gregrio de Matos Guerra... Tomo I (nico publicado). Rio de Janeiro. Na Tipografia Nacional, 1882. A publicao foi feita por
Alfredo do Vale Cabral, da Biblioteca Nacional, editor em quem era muito maior o amor das letras nacionais e do trabalho bibliogrfico do que a
capacidade crtica. Vale Cabral, alis, publicou apenas uma pequena parte da obra satrica de Gregrio de Matos.
nico entre os poetas e escritores coloniais, coube a Gregrio de Matos a fortuna de ter um bigrafo ainda, quase seu
contemporneo. Esta sua biografia
48
escrita por volta do meado do sculo XVIII, mais de quarenta anos depois dele morto,
e o fato das numerosas cpias dos seus poemas provam a fama que havia adquirido e a estima em que era tido. Uma e outra
no deixaram de atuar nos que modernamente o estudaram, alis com preconceitos nacionalistas j de todo desapropositados.
tambm ele acaso o nico dos nossos poetas de quem, antes dos mineiros, encontramos lembrana em autores portugueses.
O bispo do Par, D. Fr. Joo de S. Jos, nas suas Memrias, de meados do sculo XVIII, consagra-lhe um pargrafo.
49
O seu parcialssimo bigrafo noticiou, e todos o tm repetido, que o padre Antnio Vieira dizia que maior fruto faziam
as stiras de Matos que os sermes de Vieira. Pode ser, mas em toda a obra de Vieira referente ao Brasil se no encontra a
mais vaga aluso ao poeta, e no de crer o asserto na boca do soberbo jesuta.
Filho de um escudeiro fidalgo emigrado da provncia portuguesa e proprietrio na Bahia de uma senhora brasileira de
boa gerao e afazendada, Gregrio de Matos cedo foi mandado estudar a Portugal. Ali se doutorou em leis em Coimbra,
50
onde se lhe revelou o engenho potico e a ndole satrica. Na indisciplina geral da sociedade portuguesa, mais do que
estreada naqueles princpios do sculo XVII, teria a Universidade, isto , a corporao de seus alunos, como sempre teve,
parte conspcua. No se precisa de grande esforo de imaginao para ver o nosso brasileiro, naturalmente com boa mesada,
reputao de rico, desenvolto, talentoso, chistoso e trfego, representando saliente papel nas famosas troas e tropelias
daquela rapaziada irrequieta e bulhenta. Anda aqui, escrevia desde Coimbra a um amigo da Corte um seu condiscpulo,
Belchior da Cunha Brochado, ao depois desembargador na Bahia, anda aqui um estudante brasileiro to refinado na stira
que com suas imagens e seus tropos parece que baila Momo s canonetas de Apolo. Imagina-se o furor que ele faria em
Coimbra.
Dali j conhecido e estimado pelo engenho potico e gnio folgazo, parece saiu tambm com bons crditos de leguleio,
confirmados pouco depois na prtica de advocacia com um bom letrado, com quem trabalhou em Lisboa. A metrpole foi-
lhe, como a tantos outros brasileiros, carovel e propcia. Teve em Lisboa os lugares de juiz do crime e de juiz de rfos.
Como tal uma de suas sentenas figura nos Comentrios de Pegas s ordenaes do Reino. Cresceu em crditos e consideraes
de jurista e jurisperito, com bons augrios de aumentos na magistratura, quando de sbito se viu baldado nas suas pretenses
a maiores cargos e, ao que parece, malquisto da Corte ou do Governo. O seu bigrafo, o licenciado Pereira Botelho, cujas
so estas notcias, duvidosas por serem de uma nica testemunha, que no era sequer presencial, no diz claramente o
motivo deste desfavor.
Das suas retorcidas explicaes, no mais sesquipedal estilo do tempo, pode-se porm induzir sem risco de erro que sua
veia satrica, to bem iniciada em Coimbra, deveu Gregrio de Matos a sua desgraa. Deu-lhe provavelmente curso e criou-
se inimigos entre os poderosos. Mas ainda nesta conjuntura no lhe foi a fortuna de todo adversa, pois lhe deparou um
favorecedor no primeiro arcebispo nomeado para a Bahia. Sem obstculo de no ter Gregrio de Matos mais que as ordens
menores, o nomeou tesoureiro-mor da sua catedral, acrescentando-lhe o cargo de vigrio-geral. De Lisboa veio Matos
amatalotado com um patrcio, que recolhia terra como desembargador da Relao. Se so exatos os dados do seu bigrafo,
teria Gregrio de Matos, quando regressou terra natal para nela viver, 58 anos feitos. Era j um pouco tarde para se lhe
afazer e afeioar. No seria uma natureza afetiva, como no o so em geral os satricos. Mostra-o se ter deixado ficar em
Portugal, donde s saiu obrigado das circunstncias. Voltando do desterro de Angola, deixou-se tambm, por puro esprito
de bomia, ficar em Pernambuco, sem mais se lhe dar da famlia que na Bahia fizera e abandonara. certo que entre os seus
poemas alguns h sua futura mulher e morte de seus filhos. So porm os versos de praxe dos poetas enamorados. Nos
feitos aos filhos a retrica do tempo escondeu o sentimento real que porventura os inspirou.
Pelo seu gnio maldico e satrico, pela irritao com que deixara Portugal, pelo desapego da terra, onde se encontrava
deslocado e contrafeito, e a qual no cuidou de afeioar-se, achou-se naturalmente mal e contrariado nesta, e em oposio
com ela. Mais de trinta anos de Portugal lhe tornaram insuportvel a mesquinha vida da sua mesquinha Bahia.
Muito vaidoso, como soem geralmente ser poetas e literatos, era-o extremamente do seu ttulo de doutor, do seu saber
jurdico, da posio que tivera no Reino, e at de ser branco. Sentia-se, pois, afrontado com a indiferena dos seus patrcios
e vizinhos, insensveis a estas suas superioridades. Acham-se-lhe fartos documentos deste seu estado dalma, em todo caso
revelador de pouco esprito, em vrios passos de sua obra. Na Epstola ao Conde do Prado, filho do governador-geral
Marqus das Minas, claramente o descobre:
Era eu em Portugal
Sbio, discreto, entendido,
Poeta melhor que alguns
Douto como os meus vizinhos.
E chegando a esta terra
Logo no fui nada disto
Porque um direito entre tortos
Parece que anda torcido.
Desvanece-se grandemente do seu ttulo de doutor e de vez em quando o alardeia. No Benze-se o poeta de vrias aes
que observava na sua ptria, ralha:
Que pregue um douto sermo
Um alarve, um asneiro;
E que esgrima em demasia
Quem nunca l da Sofia
Soube ler um argumento
Anjo bento!
A Sofia a Universidade de Coimbra, alcunha que lhe veio da rua desse nome ficava. Nas Verdades lastima-se:
Os doutos esto nos cantos
Os ignorantes na praa.
Nos Milagres do Brasil exprobra:
Um branco muito encolhido,
Um mulato muito ousado,
Um branco todo coitado,
Um canaz todo atrevido.
O saber muito abatido
A ignorncia e ignorante
Muito ufano e mui farfante
Sem pena ou contradio:
Milagres do Brasil so.
Mostra Gregrio de Matos particular ojeriza a negros e mulatos, aos quais por via de regra chama de ces. Tinha
conscincia e orgulho de sua prospia e sangue estreme. Lastima, certo, os negros e teve uma vez expresses de comiserao
pelos escravos (pelo que j o deu a crtica indgena por abolicionista), mas a conta que de uns e outros fazia era a do reinol
do mazombo, isto , do branco filho de portugus como ele. Nos citados Milagres do Brasil sobram exemplos desta sua
ojeriza. E na tambm citada Epstola ao Conde do Prado:
Pois eu por limpo e por branco
Fui na Bahia mofino
No suporta o menospreo da gente da Bahia sua superioridade, e no lhe sofre a pacincia a este jurista que a sua
qualidade de branco e outras partes lhe no dem insenes e regalias:
No sei para que nascer
Neste Brasil empestado
Um homem branco e honrado
Sem outra raa.
Terra to grosseira e crassa
Que a ningum se tem respeito
Salvo se mostra algum jeito
De ser mulato!
................
Os brancos aqui no podem
Mais que sofrer e calar
E se um negro vo matar
Chovem despesas.
No lhe valem as defesas.
Do atrevimento de um co,
Porque acorda a Relao
Sempre faminta.
E, mais, ainda nos Citados Milagres do Brasil:
Que vos direi do mulato,
Que vos no tenha j dito,
Se ser amanh delito
Falar dele sem recato?
.............
Imaginais que o insensato
Do canzarro fala tanto
Porque sabe tanto ou quanto?
No, se no por ser mulato;
Ter sangue de carrapato,
Seu estoraque de congo
Cheirar-lhe a roupa a mondongo.
51
Ao revs era extremamente carovel de mulatas e crioulas. O stiro que nele descobriu a crtica imaginosa de Araripe
Jnior, prodigalizou-se em versos amantticos, babosos, de velho femeeiro, a esse tipo feminino, de que a Bahia teve sempre
a primazia. Mas ainda nestes requebros no raro revelar-se-lhe, na ironia com que insensivelmente descambam em stira,
aquela quizlia de raa. Os seus apetites grosseiros eram, porm, mais fortes que esta sua idiossincrasia, e ele sobretudo o
cantor da mulata.
Na Bahia, o seu primeiro ato inconsiderado foi andar a secular, apenas revestindo as vestes sacerdotais, a que o obrigavam
as suas funes, quando as exercia, o que foi motivo de escndalo. Se como sujeito douto, que se vira bem aceito no Reino,
onde ocupara boa posio, se encontrou mal aqui, por outro lado a sua ndole desabusada, solta devia achar a terra sua
feio. Que importa que ele tenha deblaterado contra ela e contra os seus vcios e defeitos quando da sua mesma obra
verificamos, de modo a no deixar dvida, que se comps perfeitamente com tudo aquilo de que ralha e viveu deleitosamente
a mesma vida que to crua e insistentemente reprova aos seus concidados? O capadcio que era de ndole e condio,
achou na sua terra onde expandir os seus instintos nativos se no atvicos, infludos de mais a mais pelo meio. Gregrio de
Matos a mais perfeita e mais ilustre expresso desse tipo essencialmente nacional, do qual foi e continua a ser a Bahia a
fecunda progenitora, o capadcio.
ele o seu mais eminente prottipo, como tambm o primeiro bomio da nossa literatura, com a vantagem sobre os
aqui procriados pelo romantismo de o ser de nascena e originalmente, e no de macaqueao de Paris. Porque nele se
completasse cabalmente o tipo do capadcio, era tambm insigne cantador de modinhas, tocador de viola, um solfista, como
ento se chamava. Ao ltimo remate da sua caracterizao, s lhe faltou ser mestio, se com efeito no era, o que quase custa
a crer. Mas se a indolncia, o desleixo, a incria, certas qualidades brilhantes mas superficiais de esprito, a debilidade de
carter, a lascvia exuberante, so os sinais mais comuns e aparentes do mestio, ele moralmente o era, apesar da sua
presuno de branco puro, da sua vaidade de douto, dos seus muitos anos de Portugal e da educao portuguesa.
Quis, talvez, conciliar duas cousas incompatveis, e de o no ter, por impossvel, conseguido, resultou o seu profundo
desgosto da terra, manifestado com uma reiterao e variedade de formas que lhe esto revendo a sinceridade fundamental.
As duas cousas que quis acordar eram a considerao pblica pelos seus talentos, letras e graduao social com a vida
dissoluta que, a despeito dos pssimos costumes locais, seria ainda assim escandalosa, segundo ressalta das anedotas da sua
vida e o deixa de manifesto a sua obra. Como no o conseguisse, e por hora da moralidade humana que jamais soobra
totalmente no o podia alcanar, rebelou-se, fazendo-se ao mesmo tempo o flagelo e o divertimento dos seus concidados,
o boca do inferno, como de tradio o alcunhavam. No se limitava a versejar por sua conta, se no que fazia versos para
outros. Como fosse de fato quem satricos e maldicos mais e melhor os fazia, atribuam-lhe quantos neste gnero apareciam,
de autoria desconhecida. No , pois, improvvel que dos existentes com o seu nome, os haja que no sejam seus. S se
empresta aos ricos. Disso queixa-se ele, deixando na sua mesma queixa a marca da sua vaidade:
Saiu a stira m
E empurraram-me os perversos,
Porque enquanto a fazer versos
S eu tenho jeito c.
Noutras obras de talento
S eu sou o asneiro
Mas sendo stira, ento
S eu tenho entendimento.
Achou-se, portanto, em guerra com a sociedade cujo era, de cujos vcios e manhas comparticipava, para cuja imoralidade
contribua com o seu exemplo de vida desregrada e ainda torpe, como o testemunham os seus poemas publicados e inditos.
Tinha alis conscincia da animadverso recproca dele e de sua cidade:
Querem-me aqui todos mal,
E eu quero mal a todos,
Eles e eu por nossos modos
Nos pagamos tal por tal:
E querendo eu mal a quantos
Me tm dio to veemente
O meu dio mais valente
Pois sou s e eles tantos.
E noutro passo dos inditos da Biblioteca Nacional (Cod. 34-29, pg. 403) malsina assim cinicamente da terra:
Porque esta negra terra
Nas produes, que erra,
Cria venenos mais que boa planta:
Comigo a prova ordeno
Que me criou para mortal veneno.
estranho que aquela confisso to pessoal seja apenas o desenvolvimento, feito alis com vantagem, destes versos do
espanhol Quevedo, tantas vezes imitado e at plagiado por Gregrio de Matos:
Muchos dicen mal de mi,
Y yo digo mal de muchos;
Mi decir es ms valiente
Por ser tantos y yo ser uno.
52
Foi justamente esta situao singular em que o puseram a sua ndole e o seu engenho que deu a Gregrio de Matos a sua
feio particular e distinta e o singularizou em a nossa literatura colonial. Enganaram-se redondamente os que pretenderam
fazer dele ou quiseram ver nele um precursor da nossa emancipao literria, cronologicamente o primeiro brasileiro da
nossa literatura. de todo impertinente supor-lhe filosofias e intenes morais ou sociais. simplesmente um nervoso,
qui um nevrtico, um impulsivo, um esprito de contradio e denegao, um malcriado rabugento e maldico. Mas estes
mesmos defeitos, se lhe no permitem figurar com a fisionomia com que o fantasiaram, serviram grandemente sua feio
literria e lha revelaram, embora parcialmente, sobre todas as do seu tempo. Em todo caso, mereceria Gregrio de Matos
aquela apreciao se houvera apenas sido o poeta satrico de sua obra e da tradio, o dscolo que s ele entre os seus
contemporneos malsinou do regime colonial e dos vcios pblicos e particulares que o pioravam, e que, num impulso de
despeito pessoal, foi o nico a sentir aquilo que devia, volvidos dois sculos, ser o germe do pensamento da nossa
independncia:
Que os brasileiros so bestas
E estaro a trabalhar
Toda a vida por manterem
Magamos de Portugal.
E mais, se a esse feitio pessoal do seu estro juntasse traos literrios que o diferenassem de qualquer modo da poesia
portuguesa contempornea. Mas isto justamente no acontecia. O stiro era bifronte, e o poeta, ainda na stira, seguia sem
discrepncia aprecivel a moda potica ali em voga sem nenhuma espcie de originalidade, seno a de ser aqui o nico que
ralhava do meio.
Numa face tinha o riso escarninho e petulante e o jeito obsceno do capadcio, na outra a compostura cortes acadmica,
devota, do doutor de Coimbra, do magistrado, do vigrio-geral, do procurador da mitra. Com uma zomba, ri, chalaceia,
maldiz, descompe, injuria, enxovalha, ridiculariza a terra e sociedade a que pertence, e faz praa desavergonhada dos seus
amores reles, da sua vida despejada e indecorosa; com a outra, tal qual os seus confrades em musa do tempo, louvaminha,
bajula, incensa a magnates e poderosos, ou verseja motivos e temas futilssimos, com tropos, imagens, trocados e jogos de
vocbulos em nada destoantes da potica do tempo, da qual a sua se no afasta em cousa alguma. Como satrico, no destoa
Gregrio de Matos, nem pela inspirao, nem pela expresso da musa gaiata portuguesa coeva, ilustrada ou deslustrada por
D. Toms de Noronha, Cristvo de Morais, Serro de Castro, Joo Sucarelo, Fr. Vahia, Diogo Camacho e quejandos, todos
como eles, sequazes do espanhol Quevedo, de quem foi o nosso patrcio servil imitador. Tambm no h, nem na inspirao,
nem na expresso da poesia no satrica de Gregrio de Matos algum sinal que o estreme entre os seiscentistas e gongoristas
seus contemporneos. Emparelha em tudo e por tudo com eles.
Salvo o pouco que dela publicou Varnhagem no seu Florilgio (I,17-104), esta feio da obra potica de Gregrio de
Matos ficou at hoje desconhecida, mesmo dos que sobre ele mais longamente discorreram. Existe entretanto na Biblioteca
Nacional material manuscrito mais que bastante para o estudo completo do poeta, sem o qual no podemos ter dele uma
noo cabal. Desse estudo, que fizemos, resultar a certeza de que Gregrio de Matos antes um poeta burlesco, picaresco,
at chulo, maneira de Quevedo, seu modelo, e dos satricos portugueses seus contemporneos, do que satrico ao modo de
um Horcio, de um Juvenal ou de um Boileau.
E no porque no houvesse nele talento para o ser. Que o havia mostram-no os seus poemas Aos vcios, belo de conceito
e forma, os dous Retratos dos governadores Cmara Coutinho e Sousa de Menezes, e, acaso sobre todos a stira que comea
Que nscio que eu era ento
Quando cuidava o no era!
So todos modelos de boa poesia do gnero, em que podemos admirar imaginao, chiste e conceito, alm da beleza
mtrica e da excelente lngua, numerosa e proprissima. Estas mesmas qualidades se nos deparam em outros seus poemas, j
burlescos, j srios, mas apenas parcialmente, em alguma estrofe, em algum verso. Geralmente, porm, ele o tipo do poeta
descuidado, desmazelado, como foi o tipo do homem desleixado. Versejava a torto e a direito, por conta prpria ou alheia,
sem escolha do momento ou do assunto, sem respeito ao prprio estro, nem decoro de quem era. Prodigalizava a veia
inesgotvel em temas como A uma briga que teve certo vigrio com um ouvires por causa de uma mulata, A priso de
duas mulatas por uma querela que delas deu o clebre capito... de alcunha o Mangar pelo furto de um papagaio, A
mulata... que chamava seu um vestido que trazia de sua senhora, A mulata Vicncia amando ao mesmo tempo a trs
sujeitos, A um crioulo chamado o Luzia a quem vasaram um olho por causa de uma negra e quejandas. Dele se conta que
vendo em Pernambuco duas mulatas engalfinhadas numa briga que as ps ridiculamente descompostas, ps-se a gritar:
Aqui dEl-Rei, contra o Sr. Caetano de Melo!. A razo de seu grito, explicava depois, era ter o governador deste nome lhe
defendido versejar, quando se lhe deparavam assuntos como aquele. A historieta interessante por muito significativo do
estmulo e feitio potico de Gregrio de Matos. E crescidssimo nmero das suas composies chamadas satricas no tm
motivos diversos daquele que se lastimava de perder.
No so melhores se no por menos indecorosos, os mveis de sua inspirao de outra ordem que a burlesca. Verseja
por governadores, potentados, bispos e arcebispos, com louvores e enaltecimentos hiperblicos e peditrios indignos. Verseja
tambm por espetculos de comdias a que assiste, por festas a que vai, por sucessos sem nenhuma importncia, por beldades
diversas, e por fim verseja devotamente como um libertino arrependido ou antes medroso do inferno.
Ao mesmo governador Antnio Lus Gonalves da Cmara Coutinho, de quem fez numa das suas temveis e melhores
stiras o clebre retrato, endereou Gregrio de Matos um Memorial em forma de soneto pedindo uma esmola (sic), o qual
assim termina:
Seguiram os trs reis planeta louro,
Guie-me a minha estrela o peditrio
Com que na vossa mo ache um tesouro.
Entre vrios sonetos seus a arcebispos, todos destoantes da reputao que lhe fizeram de poeta isento e homem de brios,
depara-se-nos este a D. Joo Franco de Oliveira, que do bispado de Angola passava ao arcebispado da Bahia, e que
reproduzimos por dar a medida da potica de Gregrio de Matos:
Hoje os Matos incultos da Bahia
Se no suave for, ruidosamente
Cantem a boa vinda do eminente
Prncipe desta sacra monarquia.
Hoje em Roma de Pedro se lhe fia
Segunda vez a barca e o tridente
Porque a pesca que fez j no Oriente
O destinou para a do meio-dia.
Oh se quisesse Deus que sendo ouvida
A musa bronca dos incultos Matos
Ficasse vossa prpura atrada
Oh se como Aream, que a doces tratos
Uma pedra atraiu endurecida
Atrasse eu, Senhor, vossos sapatos!
No esqueamos que o poeta que assim saudava o arcebispo era vigrio-geral e procurador da mitra. A estes versos de
louvor a poderosos, vezo muito corriqueiro nos poetas contemporneos, juntava Gregrio de Matos alguns poemas de
inspirao mais alta, como este soneto:
Instabilidade das Coisas do Mundo:
Nasce o sol, e no dura mais que um dia
Depois da luz se segue a noite escura
Em tristes sonhos morre a formosura,
Em contnuas tristezas a alegria.
Porm se acaba o sol, por que nascia?
Se to formosa a luz, por que no dura?
Como a beleza assim se transfigura?
Como o gosto da pena assim se fia?
Mas no sol e na luz falte a firmeza
Na formosura no se d constncia
E na alegria sinta-se tristeza.
Comea o mundo enfim pela ignorncia
E tem qualquer dos bens por natureza
E firmeza somente na inconstncia.
Ou como este sobre A vida solitria, ltimo paradeiro dos vares prudentes:
Ditoso tu que na palhoa agreste
Viveste moo e velho respiraste,
Bero foi em que moo te criaste
Essa ser, que para morto ergueste.
A do que ignoravas aprendeste
A do que aprendeste me ensinaste,
Que os desprezos do mundo que alcanaste
Armas so com que a vida defendeste.
Ditoso tu que longe dos enganos
A que a Corte tributa rendimentos
Tua vida dilatas e deleitas
Nos palcios reais se encurtam anos
Porm tu, sincopando os aposentos
Mais te dilatas quando mais te estreitas.
53
Estas transcries do a medida do valor potico de Gregrio de Matos e, parece, justificam o nosso conceito de que ele
se no distingue notavelmente dos poetas portugueses e brasileiros seus contemporneos. Que no teve a mnima influncia
literria no seu tempo ou posteriormente, provam-no de sobejo as obras dos seus confrades de grupo e as do sculo XVIII,
o sculo das Academias literrias e, ao menos at antes dos mineiros, de extrema pobreza potica.
A importncia literria da sua copiosa obra potica singularmente levantada por lances interessantssimos histria
dos nossos costumes e da sociedade do seu tempo. Desta nos deixou, mormente na parte satrica ou burlesca, precioso
elemento de estudo, das suas maneiras e hbitos, dos seus mesmos sentimentos e feies morais. A sua lngua, que julgamos
poder qualificar de clssica, tem modalidades, idiotismos, adgios, fraseados, muito peculiares, e alguns certamente j
brasileiros. O seu vocabulrio, que est a pedir um estudo especial, abundante em termos castios, arcaicos e raros,
espanholismos e brasileirismos. Costumes, usos e manhas nossas aparecem-lhe nos versos em aluses, referncias, expresses,
que documentam o grau adiantado da mestiagem entre os trs fatores da nossa gente que aqui se vinha operando desde o
primeiro sculo da nossa existncia. sobretudo esta feio documental da sociedade do seu tempo que sobreleva Gregrio
de Matos aos seus contemporneos e ainda a todos os poetas coloniais antes dos mineiros, todos eles sem fisionomia
prpria. O nico que em suma a tem ele.
Captulo V
ASPECTOS LITERRIOS
DO SCULO XVIII
LITERARIAMENTE, O SCULO XVIII se caracteriza pela escassez de poetas na sua primeira metade, pela fundao das
academias literrias do fim do seu primeiro quartel aos comeos do ltimo, pela abundncia da sua literatura histrica, e, o
que principalmente o ilustra, pelo advento, no seu tero final, de um grupo de poetas, que foram os melhores no perodo
colonial.
Excludo Antnio Jos da Silva, o engenhoso e mal-aventurado judeu fluminense, queimado pela Inquisio de Lisboa,
em 1739, nenhum poeta de algum valor se nos depara no Brasil naquele momento. Antnio Jos, de brasileiro s teve,
porm, o acidente do nascimento. Sua formao e atividade literria foi toda portuguesa, e no h no seu estilo, quer de
prosador quer de poeta, bem como na sua inspirao, nada que no seja genuinamente portugus. E o que porventura no
portugus antes italiano (como as coplas de que misturou as suas peras) ou espanhol do que brasileiro.
No houve nesse tempo nenhum poeta equivalente a Gregrio de Matos ou mesmo a Botelho de Oliveira. , entretanto,
crescido o nmero de escrevedores e versificadores do sculo XVIII, de que se encontram menes. S Jaboato, e unicamente
na sua ordem franciscana, nomeia perto de trinta e lhes menciona as obras, muitas impressas, outras manuscritas: de devoo,
panegricos de santos, sermes e tambm versos e histria.
54
O mesmo sucedia nas outras ordens religiosas. A prosa, porm,
tirante a dos pregadores, nenhum de mrito que merea recordao, e a de algum memorialista ou noticiador da terra,
igualmente somenos, no deixou de si lembrana estimvel.
Dos poetas do sculo XVII anteriores aos mineiros, no h nenhum que se salve por uma inspirao feliz como a da Ilha
de Mar, ou por qualquer feio particular como a satrica de Gregrio de Matos. Somenos sob todos os aspectos, o poeta
dos Eustquidos, Fr. Manoel de Santa Maria Itaparica, merece todavia comemorado pela sua Descrio versejada da ilha de
Itaparica. Os Eustquidos so um poema sacro e tragicmico da vida de S. Eustquio. Esta classificao do prprio autor
e o seu objeto j deixam ver que sensaboria metrificada no . Vem-lhe apensa a Descrio, interessante somente por ser a
segunda manifestao na poesia brasileira da mesma emoo nativista, patritica se quiserem, que produziu a Ilha de Mar
e que constituiria um rasgo particular da nossa poesia.
55
54
Novo Orbe Serfico Braslico. Rio de Janeiro, 1858, I, 345.
55
Descrio da Ilha de Itaparica em oitavas endecasslabas junta aos Eustquidos, poema sacro e tragicmico em que se contm a vida de Santo
Eustquio mrtir, chamado antes plcido, e sua mulher e filhos. Por um annimo da ilha de Itaparica, termo da cidade da Bahia. Dado luz por um
devoto do Santo. Varnhagem, a quem se deve a revelao deste poema, alcunhado de Annimo Itaparicano o autor dos Eustquidos e da Descrio anexa,
identificou-o primeiramente com o padre Francisco de Souza, natural daquela ilha, e autor do Oriente conquistado. Acabou, porm, identificando-o com
Fr. Manoel de Santa Maria Itaparica (Florilgio, I, 152 e Introduo). A publicao total do Novo orbe serfico de Jaboato (2 parte, I, 38) veio
confirmar esta legtima presuno de Varnhagen, e permitir-nos inferir que a impresso dos Eustquidos posterior ao ano de 1768. Fr. Itaparica,
segundo o mesmo Jaboato, viveu entre 1704 e 1768, ano em que o historiador da ordem franciscana no Brasil ainda o d como vivo e a sua obra como
indita. Segundo a mesma autoridade, teria Fr. Itaparica escrito epigramas, canes, sonetos, e mais um canto herico e um penegrico em oitavas por
ocasio das festas realizadas pelo casamento de prncipes de Portugal e Castela, em 1728, na Paraba. Tudo isto, creio que sem grande perda para as
nossas letras, ficou indito.
Como na Prosopopia de Bento Teixeira e geralmente em todos os versejadores do perodo colonial, manifesta neste
poema de sessenta e cinco oitavas a lio de Cames. Esta infelizmente revela-se apenas na imitao canhestra e at na
pardia de algum verso do grande pico ou ainda no arremedo de situaes ou passos dos Lusadas.
No sem galanteria invoca o poeta a Musa, como sua companheira de todos os tempos, bons e maus:
Musa que no florido de meus anos
Teu furor tantas vezes me inspiraste
E na idade em que vm os desenganos
Tambm sempre fiel me acompanhaste,
Tu, que influxos repartes soberanos
Deste monte Helicon, que j pisaste,
Agora me concede o que te peo
Para seguir seguro o que comeo.
O seu verso tem quase sempre esta facilidade e correo. A descrio da sua ilha natal, mais vasada nos moldes clssicos
que a de Botelho de Oliveira, tem, conquanto topogrfica, a emoo nativista que falta a Bento Teixeira. Pinta a vida dos
pescadores da ilha, a pescaria da baleia, sua principal indstria, a fabricao do seu azeite, e noticia os produtos, dons e bens
da terra, seus frutos e novidades. E terminando, frouxamente alis, a descrio da ilha que fica no
Porto em que est hoje situada
A opulenta e ilustrada Bahia
assim conclui:
At aqui Musa: no me permitido
Que passe mais avante a veloz pena;
A minha ptria tenho definido
Com esta descrio breve e pequena;
E se o t-la to pouco engrandecida
No me louva mas antes me condena,
No usei termos de poeta esperto,
Fui historiador em tudo certo.
Com o mesmo sentimento nativista sensvel, embora sem emoo notvel, desde a Prosopopia e mais manifesto em
Botelho de Oliveira, precedeu este poema de alguns anos o de Santa Rita Duro. Tambm no canto V do seu poema
Eustquidos, Fr. Santa Maria Itaparica, num sonho que finge, pe certo Postero a profetizar o advento do Brasil e nascimento
do poeta, anunciando o poema da Descrio da sua ilha natal, que ele
H de cantar em lira temperada.
Tudo isto com grande insulsez. O tal poema sacro e heri-cmico por si s no daria ao nome do frade poeta o mnimo
relevo se lho no levantasse a emoo simptica com que cantou a sua ptria, como ilha do seu nascimento chamou, e no
documentasse a continuidade da inspirao que se ia criando e ficaria na poesia brasileira como um dos seus traos distintivos.
Sob aspecto da lngua no deixa de ser interessante a medocre produo de Fr. Itaparica. A lngua literria do Brasil ainda
era ento e seria por todo o perodo colonial, apenas talvez com menos arte e menos nmero, a mesma de Portugal. No
havia ainda tempo para que os cruzamentos e outras influncias mesolgicas houvessem modificado o falar brasileiro, e
menos para que as modificaes porventura havidas passassem do falar corrente lngua dos escritores educados por
portugueses e feitos s, ou muito principalmente, na leitura de livros portugueses ou latinos. A de Fr. Itaparica , pois, a
lngua do tempo, gongrica, empolada e sobretudo amaneirada. Todas as impresses e idias se lhe reduzem em adjetivos,
que apenas com variaes sinonmicas se repetem copiosamente com pouca propriedade. Alis o defeito no raro, mesmo
nos chamados clssicos. Usa abundantemente de termos pouco vulgares ou j ento obsoletos e tambm de espanholismos
e neologismos, tudo denotando rebusca de linguagem. Encontram-se-lhe: elado, fenestras, temblar, gateando, lesura,
trufatil(?), olorizar, clveo, estpeo (do grego stupeo, caule, mas feito adjetivo?), pevidosa, ahulidos(?). Descrevendo o
preparo do azeite da baleia em Itaparica, fala dos negros empregados nesse servio:
Cujos membros de azeite andam untados
Daquelas cirandagens salpicados.
em que a palavra cirandagem desviada do seu sentido vernculo (=sarandalha) alimpaduras que se apartam cirandando
(joeirando) e se lanam fora, tem j a acepo brasileira de restos imprestveis, imundcie mida, guloseimas vis.
Nenhum outro poeta que merea lembrado ou mesmo que o no merea, mas com obra conhecida, nos depara este
sfaro perodo da poesia no Brasil. A msica do parnaso foi publicada em 1705, mas os seus poemas so incontestavelmente
dos ltimos anos do sculo anterior, nos quais passou tambm a atividade literria do seu autor. Outrossim poetou nesta
poca Sebastio da Rocha Pita, acaso a melhor figura literria dela. A sua produo potica, porm, nos seria totalmente
desconhecida no foram os documentos relativos s academias literrias de que fez parte, existentes na Biblioteca Nacional
e as transcries deles feitas por Fernandes Pinheiro.
56
H notcia vaga e insegura de que escrevera tambm um romance em
verso castelhano. como historiador que ele tem um lugar na nossa literatura colonial.
S para o fim da terceira dcada do sculo XVIII, se nos antolham alguns escritores em prosa mais estimveis que os
aludidos. Seguindo de perto o seu aparecimento o das academias literrias aqui fundadas desde meados da segunda dcada,
no porventura indiscreto ver neles influncias destas.
Como assemblia ocasional de literatos que reciprocamente se recitavam os seus versos e prosas, havia academias no
Brasil ainda em antes do sculo XVIII. Gregrio de Matos, notavelmente, e elas se refere nos seus versos satricos.
57
Mas
como associaes literrias e regularmente organizadas datam de 1724. Foi nesta era criada a primeira, a Academia Brasileira
dos Esquecidos. Para em tudo imitar as da metrpole, cujo arremedo era, fundava-se conforme aquelas com a proteo real,
sob os auspcios do vice-rei, ou antes estabelecida por ele no seu prprio palcio. Nestes termos, imagem acabada do estilo
da poca e seu, lhe noticia a fundao Rocha Pita, que foi um dos seus membros mais conspcuos:
A nossa portuguesa Amrica (e principalmente a provncia da Bahia), que na produo de engenhosos filhos pode
competir com Itlia e Grcia, no se achava com as academias introduzidas em todas as repblicas bem organizadas, para
apartarem a idade juvenil do cio contrrio das virtudes e origem de todos os vcios e apurarem a sutileza dos engenhos. No
permitiu o vice-rei que faltasse no Brasil esta pedra de toque no estimvel oiro dos seus talentos, de mais quilates que o das
suas minas. Erigiu uma doutssima academia, que se faz em palcio na sua presena. Deram-lhe fama as pessoas de maior
graduao e entendimento que se acham na Bahia, tomando-o por seu protetor. Tm presidido nela eruditssimos sujeitos.
Houve graves e discretos assuntos, aos que se fizeram elegantes e agudssimos versos; e vai continuando nos seus progressos,
esperando que em to grande proteo se dem ao prelo os seus escritos, em prmio das suas fadigas.
58
A Academia dos Renascidos fundava-se em 1759 com quarenta scios de nmero, ou efetivos, e oitenta supranumerrios,
ou correspondentes. A maioria versejava ou fazia prosa oficial ou acadmica. Glosando motes, versificando temas
preestabelecidos ou tambm amplificando retoricamente assuntos oferecidos aos seus curtos engenhos, nenhum destes
versejadores ou prosistas tinham virtudes literrias por que perdurasse na memria dos homens e as suas obras, ainda as
impressas, como se no existissem.
No Rio de Janeiro foi instituda em 1736 a Academia dos Felizes, e mais tarde, em 1752, a dos Seletos, que de fato se
resumiu a uma sesso magna literria, como diramos hoje, consagrada a celebrar o governador e capito-general Gomes
Freire de Andrade, que a presidiu.
59
Tinham estas reunies a vantagem de serem prazo dado e auditrio fcil e benvolo de
letrados e poetas e portanto um estmulo oferecido ao seu estro.
Criadas quando acaso j no correspondiam s condies da sua origem europia, mais por imitao das do Reino,
vontade e inspirao oficial do que como uma exigncia e produto na incipiente cultura indgena, tiveram as academias
literrias no Brasil, uma existncia transitria e inglria. Mas no de todo intil e sem efeito nessa cultura e na literatura que
a devia representar. Apesar da origem oficial, e de serem um arremedo, havia porventura nelas um sentimento de emulao
com a metrpole, e portanto um primeiro e leve sintoma do esprito local de independncia. Acaso a denominao da
primeira, de Academia Brasileira dos Esquecidos, rev o despeito dos seus fundadores contra o esquecimento dos letrados
coloniais na formao das academias portuguesas anteriores. O propsito que no s essa, mas a dos Renascidos e a dos
Felizes declaradamente tiveram, de estudar sob os seus diversos aspectos o Brasil e a sua histria, traduz evidentemente um
ntimo sentimento de apego terra, com a inteno, ainda certamente pouco consciente, da parte que no seu desenvolvimento
devia caber aos seus letrados.
A qualificao que todas, apesar do oficialismo da sua origem ou existncia, se deram de Brasileiras (braslica), quando
ainda no existia ou no era vulgar o patronmico da terra, porventura j revela um sentimento de separao, do qual no
tinham qui esses acadmicos conscincia, mas que o despeito ou motivos menos egosticos, como a ufania da sua terra,
criara. Como quer que seja apontavam todas ao progresso das letras e da cultura espiritual do Brasil, e trabalhando, ainda
mal, como trabalharam, por esse propsito, trabalharam primeiro pela nossa emancipao intelectual e, por esta, sem alis
disso se aperceberem, pela nossa emancipao nacional. Isso, entretanto, no as impediu de continuarem a fazer a mesma
obra literria dos portugueses, e fazerem-na inferiormente. Sobre haverem iniciado o comrcio e trato recproco dos homens
de letras do Brasil, convocando-os de toda a parte dele para se lhes associarem, tiveram o efeito imediatamente til de
chamar a ateno e despertar o gosto e o amor do estudo da nossa histria e das nossas cousas. So testemunho desse seu
influxo a Histria da Amrica Portuguesa, com que Rocha Pita realizou um dos propsitos da Academia Braslica dos
Esquecidos, e a Histria militar do Brasil, de Jos de Mirales, scio da dos Renascidos, e confessadamente escrita por sua
influncia.
60
Estes, com Nuno Marques Pereira, o autor do Peregrino da Amrica, so os escritores de prosa mais conhecidos desta
fase da nossa literatura. Deles, porm, s merecem a ateno da histria literria Rocha Pita e Marques Pereira.
De Nuno Marques Pereira no sabem os bigrafos seno que nasceu em Cairu, na Bahia, em 1652, e faleceu em Lisboa
em 1728. Dos seus estudos, vida e feitos nada se conhece, que no seja suspeito de infundado. Era presbtero secular. No
intuito piedoso de denunciar ou de emendar os costumes do Estado, que se lhe antolhavam pssimos, escreveu o livro citado,
nico lavor literrio que se lhe sabe, e cujo ttulo completo lhe define o estmulo e propsito. Chama-se compridamente:
Compndio narrativo do peregrino da Amrica em que se tratam vrios discursos espirituais e morais com muitas advertncias
e documentos contra os abusos que se acham introduzidos pela milcia diablica no Estado do Brasil.
61
O Peregrino da Amrica, como abreviadamente se lhe chama, no de modo algum um conto ou novela, no tem o
menor parentesco com a chamada literatura de cordel, cousa que no Brasil do sculo XIX, quando aqui apareceu como
imitao serdia ou contrafao da portuguesa, ento j em decadncia. No se pode dizer que o livro de Marques Pereira
haja iniciado o gnero romanesco ou novelstico no Brasil. , porm, uma fico, como o so tambm os Dilogos das
grandezas do Brasil. Uma fico de fim e carter religioso, obra de devoo e edificao. Consiste totalmente a fico em
o autor, ou quem finge escrever a narrativa, dizer-se um peregrino ou viajor que trata da sua salvao (p. 3, ed. 1728) e que
andando pelo mundo aproveita ensejos e oportunidades de doutrinar cristmente os diversos interlocutores que se lhe
deparam, e esse mundo que, segundo um destes, o Ancio do cap. I, estrada de peregrinos e no lugar nem habitao de
moradores, porque a verdadeira ptria o Cu. Este pensamento do misticismo cristo o de todo o livro. Nem ele tem
outra fabulao que os repetidos fingidos encontros do Peregrino com indivduos com quem troca reflexes morais e religiosas,
no propsito manifesto de os doutrinar. Seria ele de todo desinteressante para ns, que no nos compadecemos mais com
estas exortaes parenticas, se o autor lhes no houvesse freqentemente misturado cousas da vida real, contado anedotas,
citado ditos e reflexes profanas, aplicado a sua doutrina e moralidade a casos concretos, revendo a vida e os costumes do
tempo e lugar, referido fatos da sua experincia e feito consideraes atravs das quais divisamos sentimentos e idias
contemporneas e aspectos da existncia colonial. Infelizmente esta feio do seu livro, que seria para ns hoje a mais
importante e aprazvel, de muito excedida pela de prdica de moral caturra e trivialssima, na pior maneira do mau estilo
da poca. Os moralistas s os sofremos em literatura com originalidade, agudeza e bom estilo. Nada salva, pois, o Peregrino
da Amrica de ser a sensaboria que se tornou mal passado o sculo em cujo primeiro tero foi publicado. No pensavam
assim os seus contemporneos. Este livro, que raros sero capazes de ler integralmente, foi um dos mais lidos no seu tempo
e no imediatamente posterior, como provam as cinco edies que dele se fizeram em menos de quarenta anos, nmero
considervel para a poca.
No era romance ou novela, mas em prosa e impressa era a primeira obra de imaginao escrita por natural da terra. E
dizia de cousas desta, e de envolta com referncias aos seus costumes, notaes de sua vida, aluses aos seus moradores,
derramava-se em consideraes de suas manhas. Talvez esteja principalmente nesta atualidade o segredo da sua estimao
e sucesso. J no era, todavia, tanta a dos letrados seus patrcios para o fim do sculo, pois Silva Alvarenga, no canto V do
seu poema heri-cmico O desertor das letras (1774), enumerando livros ento considerados somenos e desprezveis, cita
entre eles o Peregrino da Amrica.
62
Ao Peregrino da Amrica excedem sem dvida muito em valor literrio, em distino de pensamento e excelncia de
expresso as Reflexes sobre a vaidade dos homens, de Matias Aires da Silva de Ea, publicada em Lisboa em 1752.
Entretanto so quase desconhecidas, mesmo dos eruditos e dos historiadores mais minuciosos da nossa literatura, no
obstante o apreo que parece haverem merecido dos contemporneos, se tal se pode inferir das quatro edies que teve at
1768. Matias Aires nasceu em So Paulo a 27 de maro de 1705, de Jos Ramos da Silva, Cavaleiro da Ordem de Cristo e
Provedor da Casa da Moeda de Lisboa, e de sua mulher D. Catarina de Horta. No se lhe conhece a data da morte. Na
companhia de seus pais foi para Portugal com menos de 12 anos, ali graduou-se de mestre em artes na Universidade de
Coimbra e substituiu o pai na Provedoria da Casa da Moeda, e, parece, nunca mais tornou ao Brasil. Seria, pois, um esprito
de pura formao portuguesa, apenas melhorando, ou somente modificado, quanto cultura, pela estadia em Frana, onde
se formou em direito cannico e direito civil. Pode ser estivesse tambm em outros pases europeus. Alm das Reflexes
sobre a vaidade dos homens ou discursos morais sobre os efeitos da vaidade, com o mesmo objeto de filosofia moralizante
escreveu mais uma Carta sobre a fortuna, que saiu anexa 4 edio das Reflexes (1786). H tambm da sua lavra, mas j
em outra ordem de idias, o Problema de arquitetura civil, por que os edifcios antigos tm mais durao e resistem mais ao
tremor de terra que os modernos? (Lisboa, 1777) e um Discurso congratulatrio pela felicssima convalescena e real vida
de El-Rei D. Jos, sado em 1759.
Como moralista, Matias Aires ainda seria hoje benemrito de leitura e estima, sequer pela maior iseno do seu esprito
das estreitezas do moralismo eclesistico dominante no seu tempo, e tambm pela sua expresso mais desempeada dos
vcios estilsticos do tempo, mais livre, menos pesada e at mais elegante. Encontra-se-lhe mesmo, no obstante no fazer
seno glosar a velha lio judaico-crist sobre a vaidade, um ou outro conceito menos vulgar finamente enunciado. Ele seria
o melhor dos nossos moralistas se de fato a sua obra no valesse principalmente ou quase somente como uma curiosidade
literria daqueles tempos, sem tal superioridade de pensamento ou de expresso que lhe determine a integrao nas nossas
letras, e menos qualquer repercusso ou influxo nelas.
63
63
Sobre este quase ignorado escritor nascido no Brasil, v. Inocncio, Dic Bibl., VI; Solidnio Leite, Clssicos esquecidos, e um artigo do Sr. Nestor Vtor
no Correio da Manh.
Sacramento Blake tambm o noticia com espcies novas, mas para mim duvidosas.
O aparecimento destas duas obras um acontecimento literrio acaso mais importante que a numerosa produo potica
anterior. A prosa a linguagem da virilidade e da razo. Entrando a exprimir-se tambm em prosa quando at a, salvo o
exemplo isolado de Fr. Vicente do Salvador, s em verso se exprimira, dava a mentalidade que se ia formando, mostra de
maior madureza e variedade de aptides. O versar das letras histricas e outras, no mesmo sculo, pelos Mirales, Jaboates,
Taques, Madres de Deus, Borges da Fonseca, Velosos, sem embargo da insuficincia literria dos seus produtos, mais
claramente o comprova.
Sebastio da Rocha Pita nasceu na cidade da Bahia a 3 de maio de 1660. Foram seus pais Joo Velho Godin e D. Brites
da Rocha Pita, filha do Capito-Mor Sebastio da Rocha Pita, uma das primeiras e mais poderosas pessoas de Pernam-
buco, informa, justamente desvanecido da sua prospia, o neto. Estudou com os jesutas no seu colgio da Bahia, at os
dezesseis anos. Como no tempo faziam tantos rapazes da colnia de famlias abastadas, da Bahia foi estudar a Coimbra, em
cuja Universidade se bacharelou em cnones. De volta terra, foi feito coronel de um regimento de infantaria de ordenanas.
Casando com uma patrcia, retirou-se para uma rica fazenda s margens do Paraguau, perto da Cachoeira, onde fez vida de
cavalheiro agricultor, dando-se tambm s letras. Alm de um romance em verso, que parece haver merecido pouca estimao,
deu luz, em Lisboa, duas obras pequenas, e de assunto mais de reportagem que de literatura, Breve compndio e narrao
do fnebre espetculo que na cidade da Bahia se viu na morte dEl-Rei D. Pedro II, em 1709, e Sumrio da vida e morte da
Ex.
ma
Sr D. Leonor Josefa de Vilhena e das exquias que se celebraram sua memria na cidade da Bahia, em 1721. Com
estas obrinhas teria tomado gosto das notcias da sua terra. A fundao contempornea da Academia Braslica dos Esquecidos
porventura o estimularia nesse sentido.
Seus scios deviam tomar por matria geral dos seus estudos a histria brasileira, segundo dizia o prprio auto da sua
fundao.
64
Rocha Pita, que fora dos seus fundadores e dos mais conspcuos, empreendeu escrever a do Brasil, mais cabalmente
do que havia sido ainda escrita. Para realizar o seu intento passou-se a Lisboa e a publicou, no dito ano de 1730, a Histria
da Amrica portuguesa.
Nem pela intuio e sentimento histrico, nem pelo sabor literrio, emparelha a Histria de Rocha Pita com a do Fr.
Vicente do Salvador. Est em tudo e por tudo obsoleta, e alm da feio por assim dizer oficial da sua composio, perluxa,
enftica e inchada de pensamento e linguagem. Justamente o excessivo floreio de estilo com que foi intencionalmente
escrita, e que no-la torna desagradvel, fazia-a no seu tempo estimvel e foi, no de todo sem razo, estimada.
Escrita em estilo de prosa potica, como se fora um poema em louvor do Brasil, com mais entusiasmo e arroubo de
sentimento patritico do que com a serenidade e o bom juzo da histria, marca justamente a transio da poesia a que quase
exclusivamente se reduzia a nossa produo literria para a prosa em que amos comear a mais freqentemente exprimir-
nos. Os seus censores oficiais, sujeitos dos mais doutos do tempo, cobriram-na de louvores, no s sua composio, mas
ao seu merecimento de obra histrica. Gostava-se ento do que ora nos despraz. A frase de Rocha Pita acham-na eles
verdadeiramente portuguesa, desafetada, pura, concisa e conceituosa. Afora o casticismo, alis de mau cunho, no pode a
crtica hoje seno verificar-lhe as qualidades opostas, isto , a prolixidade, a afetao, o inchado do frasear e o abuso de
conceitos corriqueiros ou rebuscados. De seu valor histrico disseram os censores cousas justas e boas, se bem prejudicadas
pelo seu tom hiperblico, alis consoante com o do livro.
O mrito incontestvel da Histria de Rocha Pita, ainda com as restries que do ponto de vista das exigncias da
histria se lhe possam fazer, o de ser a mais completa publicada, como lhe reconheceram os censores oficiais, no o era s
para os portugueses que assim podiam melhor informar-se dos sucessos da sua grande colnia. Aos brasileiros, o livro do
historiador baiano, escrito num estilo que lhes seria muito grato ao paladar literrio e sentimento nativista, ensinava-lhes a
histria da sua terra, sublimando-a por tal forma, que eles se ufanariam de serem seus filhos.
A velha tendncia de apreo e gabo da terra, primeiro vagido do nosso brasileirismo, gosto e louvor no artificial e de
estudo, mas natural e espontneo, por inspir-lo realmente a grandeza e opulncia dela, tendncia manifesta, como temos
visto, desde os primeiros representantes espirituais do povo aqui em formao, aparecia agora na obra de Rocha Pita como
que raciocinada, sistematizada na prosa tmida e florida do seu primeiro historiador publicado. E desde ento esse feitio
empolado e hiperblico de dizer da nossa ptria (casando-se alis perfeitamente com o excesso de detratao ela) seria um
rasgo notvel do nosso sentimento nacional, manifestando-se literariamente. Apenas haver dora avante poeta ou prosador
que no a celebre e cante com os arroubos lricos do seu historiador Rocha Pita. Graas sua influncia, to consoante com
o nosso prprio gnio, ser ela magnificada sobre posse, a exata noo da sua natureza deturpada, a sua geografia falsificada,
as suas verdadeiras feies escondidas ou desfiguradas sob postios e arrebiques de patriotismo convencional ou simplrio.
Das nossas mofinas montanhas, pouco mais que colinas comparadas com as do antigo continente, ou com as de outras
regies do nosso, no teve Rocha Pita pudor de escrever que umas parecem ter os ombros no cu, outras penetr-lo com a
cabea. E os demais aspectos naturais do Brasil so assim por ele engrandecidos.
Ufana-se e embevece-se na enumerao hiperblica da nossa fauna e flora, e no seu ingnuo entusiasmado aceita e
propala as noes errneas que ainda viciam a nossa histria natural popular com a existncia de feras temveis, de gados
que se alimentam de terra, cobras que trituram o maior touro e o devoram. Muitas das nossas abuses e enganos da
opulncia e feracidade da nossa terra, iluses umas porventura auspiciosas, outras certamente funestas, vieram de Rocha
Pita e de sua influncia.
Em meio onde a histria era apenas um tema literrio e at retrico, sem disciplina cientfica ou rigoroso mtodo de
investigao e crtica, no era despicienda a obra do escritor brasileiro. Compendiava e ordenava no sem capacidade e num
estilo ao sabor da poca, as dispersas e desconcertadas noes da histria do pas e vulgarizava-as em forma acessvel e
simptica. Os seus defeitos e falhas no seriam aos contemporneos to patentes quanto avultam para ns.
Poder-se-ia incluir aqui, e no deixaram de faz-lo os historiadores da nossa literatura, um outro brasileiro, o padre
Francisco de Souza, natural da ilha de Itaparica, na Bahia, onde nasceu em 1628, falecido em Goa, na ndia portuguesa, em
1713. Em Lisboa publicou ele em 1710 o seu grosso livro Oriente conquistado a Jesus Cristo pelos padres da Companhia
de Jesus na provncia de Goa, notvel exemplar da historiografia e da linguagem e estilo do tempo. Tendo vivido mais de 80
anos, dos quais a mxima parte em Portugal e na sia, e escrito de cousas de todo estranhas ao Brasil e segundo o esprito
e a maneira portuguesa, esse nosso patrcio apenas o pelo acidente do nascimento. Literariamente ainda nos pertence
menos que Gabriel Soares ou o autor dos Dilogos das grandezas.
Da mesquinheza potica da maior parte do sculo XVIII, surde entretanto, pelo seu ltimo tero, uma por todos os
ttulos considervel produo potica. Tambm, ao menos pelo nmero e mrito particular de informao, aparecem trabalhos
histricos que constituem contribuio notvel prosa brasileira. No momento assinalado, uma pliade de poetas brasileiros
entram a concorrer dignamente com os poetas portugueses contemporneos, a fazerem-se bem aceitos da literatura me.
Mais brasileiros que nenhuns outros at a, por mais vivo sentimento da terra natal ou adotiva, ao qual j porventura podemos
chamar de nacional, estabelecem esses poetas a transio da fase puramente portuguesa da nossa literatura para a sua fase
brasileira. Esta, iniciada pelo romantismo ao cabo do primeiro tero do seguinte sculo, ter nalguns deles os seus inconscientes
precursores.
So em suma esses poetas, reunidos sob a denominao, a meu ver imprpria, de escola mineira, quando apenas
formam um grupo literrio, sem algum rasgo caracterstico que coletivamente os distinga, os que enchem esse perodo de
transio e o constituem. Com a criao das academias literrias, o crescimento da populao, o seu desenvolvimento
mental e econmico e mais o das comunicaes da colnia com o Reino, aumentou consideravelmente o nmero de
versejadores, cujos nomes constam de repertrios e livros de consulta especiais. Da multido desses sobressaem, com
qualidades que lhes asseguram um lugar parte, aqueles a quem, no obstante no passarem de seis, me proponho a chamar
englobadamente de pliade mineira: Santa Rita Duro, Cludio Manoel da Costa, Baslio da Gama, Alvarenga Peixoto,
Toms Gonzaga e Silva Alvarenga. Estes merecem lugar separado nesta Histria.
Outros contemporneos seus, Domingos Caldas Barbosa (1740-1800), Antnio Mendes Bordalo (1750-1806), Domingos
Vidal de Barbosa (1760-1793?), Bartolomeu Antnio Cordovil (1746-1810?), Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha (1769-
1811), e que tais versejadores que impertinentemente tm sido anexados chamada escola mineira, de todo no pertencem
ao grupo de poetas com que indiscretamente a formaram. Alguns lhe no pertencem sequer cronologicamente, como Tenreiro
Aranha, nascido quando este grupo j ia em adiantada formao. So demais to insignificantes que podemos dispensar-nos
de os levar em conta no estudo da nossa evoluo literria. Deles um dos de melhor engenho o mulato ou crioulo Caldas
Barbosa. Nasceu no Rio de Janeiro por volta de 1740 ou nesse ano, e faleceu em Lisboa em 1800. Passou o maior tempo da
sua vida em Portugal, como familiar, parasita, quase fmulo dos condes de Pombeiro, capelo e poeta mercenrio dessa
famlia fidalga e generosa. No tem nenhuma superioridade, porm apenas valer menos que muitos dos poetas portugueses
seus contemporneos com quem conviveu e emulou. Vivendo a vida portuguesa, conservou, entretanto, alerta, o sentimento
ntimo da potica popular brasileira revelado no estilo de algumas composies suas em que desce at as formas indecorosas
ou delambidas do verso popular:
Meu bem est mal com eu
Gentes de bem pegou nele
Tape, tape, tipe, tipe,
Ai Cu
Ela minha iai
O seu moleque sou eu.
E que tais modos triviais do nosso lirismo popular de mistura com reminiscncias, sentimento e sensaes de cousas
brasileiras.
Cuidei que o gosto de amar
Sempre o mesmo gosto fosse
Mas um amor brasileiro
Eu no sei por que mais doce.
Gentes como isto
C temperado
Que sempre o favor
Me sabe a salgado:
Ns l no Brasil
A nossa ternura
A acar nos sabe
Tem muita doura
! se tem! tem
Tem um mel mui saboroso
bem bom, bem gostoso.
Cantados viola, com os requebros e denguices da musa mulata, e o sotaque meloso do brasileiro, versos tais teriam em
Portugal o sainete do extico, para resgatar-lhes a mesquinhez da inspirao e da forma. No enriquecem a poesia brasileira.
Na histria desta, Caldas Barbosa apenas ter a importncia de testemunhar como se havia j operado no fim do sculo
XVIII a mestiagem luso-brasileira, que, primeiro fsica, acabara por influir a psique nacional. Era natural que essa influncia
no domnio mental se principiasse a manifestar num mestio de primeiro sangue, como parece era o fulo Caldas, dos
apodos dos seus rivais portugueses. Depois de Gregrio de Matos, na segunda metade do sculo XVII, o qual pode ser,
apesar da sua jactncia do contrrio, no fosse branco estreme, com Caldas Barbosa que expressamente se revela na poesia
brasileira, a musa popular brasileira na sua inspirao dengosamente ertica e no seu estilo baboso.
Ao contrrio da poesia, a prosa aqui escrita no mesmo momento, a prosa a que, sequer pelo seu gnero e intuitos,
possamos chamar de literria, no deixou documentos que a valorizassem. Os que existem so todavia, relativamente
numerosos, e alguns meritrios no tocante nossa historiografia e informao geral do pas. Mas como escritores minguam
a todos, ou pouco avultam em todos, os atributos que lhes valeria essa qualificao. De outros a atividade mental e literria
foi inteiramente portuguesa e passou-se em Portugal. Esto neste caso os irmos Bartolomeu Loureno de Gusmo (1685-
1724) e Alexandre de Gusmo (1695-1753), ambos paulistas, de Santos. O primeiro nada tem de comum com a literatura,
seno uns medocres sermes nunca mais lidos; o segundo, alto e verstil engenho, pertence por toda a sua formao e
atividade literatura portuguesa, que justificadamente o adotou.
Os brasileiros a que primeiro nos referimos como autores de obras em prosa so: Pedro Taques de Almeida Pais Leme
(17..-1777);
65
Fr. Gaspar da Madre Deus (1730-1800);
66
Antnio Jos Vitorino Borges da Fonseca (1718-1786);
67
Fr. Antnio
de Santa Maria Jaboato (1695-176.).
68
So todos estes autores de crnicas e relaes histricas de nenhum ou de ruim
sabor literrio ou de secas e inspidas genealogias, acaso subsdios valiosos para a nossa histria, mas somenos como boas
letras. Sobre o aspecto literrio os sobreleva Fr. Vicente do Salvador com a sua Histria do Brasil, e o mesmo Rocha Pita
com a da Amrica portuguesa. Entretanto esta abundncia de escritos histricos e outros que poderamos citar, no sculo
XVIII, no sem importncia e significao na histria da nossa literatura, como expresso da nacionalidade. Testemunha
que se continuava a operar aqui o trabalho ntimo e lento de uma conscincia nacional que buscava apoio e estmulo na
indagao dos fastos da terra, da prospia e feitos de seus filhos, de que j tirara desvanecimento. Tambm provava a nossa
capacidade para lucubraes que no Reino haviam dado renome e considerao aos seus cultores. Se tivessem sido ento
publicados, houveram esses escritos podido ser um fator do sentimento de solidariedade nacional, que o mesmo fundamento
das naes. Eram em todo caso prova desse sentimento manifesto neles no apreo exagerado e na ufania, no raro indiscreta,
dela. O isolamento completo e a separao dos que aqui cultivaram letras no eram j to completas graas fundao das
academias literrias, que os chamaram donde quer que viessem, para si, como supranumerrios ou correspondentes. A
literatura dessa poca, tomada a expresso do seu mais lato sentido, revela a formao vagarosa e ainda obscura mas certa
de uma gente que comea a ter o sentimento de si mesma, que d provas de inteligncia e capacidade mental e que, tendo a
confiada opinio da excelncia da sua ptria, no tardar muito que no entre a pensar na sua autonomia poltica. O estmulo
daquilo que, na obscuridade dos seus rinces ptrios, escreviam e guardavam esses historigrafos desinteressados e modestos,
andaria j recndito no sentimento popular. por isso que, sem embargo da sua formao portuguesa e do seu respeito e
apego s tradies espirituais da metrpole, os poetas brasileiros das ltimas dcadas do sculo XVIII foram, com
espontaneidade que lhes explica a distino, os intrpretes de tal sentimento. Fato significativo, a poesia de ento, pelo estro
de Santa Rita Duro, prope-se claramente a cantar o Brasil, com a mesma inteno patritica com que Cames cantara
Portugal.
Captulo VI
A PLIADE MINEIRA
DAS CAPITANIAS BRASILEIRAS era certamente a de Minas a que mais motivos dava ao surto deste sentimento e
aspirao. Nos povos como nos indivduos, o principal estmulo autonomia a conscincia, que lhes d a abastana, de se
poderem prover a si mesmos. Descobertas na segunda metade do sculo XVII, as minas que denominaram a regio, e
grandemente incrementada nesta a minerao do ouro e do diamante, aflui-lhe das capitanias vizinhas, Bahia, Rio de Janeiro,
So Paulo, toda a gente, e foi muita, para quem aquelas julgadas fceis riquezas eram irresistvel chamariz. Assim se
comeou a fazer a populao da Capitania de Minas Gerais, desde ento a mais avultada, a mais densa e logo depois a mais
rica do Brasil. Como a riqueza cria a cultura, pelas facilidades que lhes proporciona, tambm a mais culta.
Por disposio geogrfica do pas, e pela variedade dos stios minerais descobertos, a vida local, longe de se concentrar
exclusivamente numa cidade capital, dispersava-se por vrios pontos importantes, Sabar, So Joo del Rei, Diamantina,
Mariana, Serro. Com as suas escolas avulsas, seminrios episcopais, colgios de jesutas ou aulas de outros religiosos,
tambm atrados pelo engodo das minas, eram tais vilas e cidades outros tantos pequenos focos de instruo, e contribuam
para difundi-la pelas comarcas cujo centro eram e pela capitania. Valeriam ainda porventura mais como estmulo do esprito
de autonomia, do municipalismo, que devia contrastar o oficialismo reincola da capital. A riqueza feita a muitos dos seus
moradores pela minerao, do mesmo passo que os excitava a uma vida larga e de luxo, largueza e luxo relativos mas
consoantes com o meio, e para ele at ostentoso, movia-os a mandarem os filhos no s a Portugal, mas tambm a outros
pases europeus, seguir estudos superiores. No sculo XVIII, mormente na sua segunda metade, o nmero de doutores,
leigos e eclesisticos, e de clrigos com estudos superiores dos seminrios, era com certeza em Minas Gerais maior do que
em qualquer outra capitania. J ento, devido justamente a serem principalmente de religiosos os estabelecimentos de
ensino e as aulas avulsas de latim criadas em vrias localidades pelas reformas de Pombal, andava muito espalhado o estudo
do latim e sab-lo era vulgar em Minas. A cincia do latim constitua ainda, mesmo na mais adiantada Europa, o fundamento
e o essencial de toda a cultura. Nas festividades feitas em Mariana, em 1748, por ocasio da ereo do bispado e posse do
seu primeiro prelado, nos outeiros e academias realizadas como partes das festas, numerosos versejadores e letrados recitaram,
alm de discursos congratulatrios e sermes penegricos, grvidos de erudio latina e hidrpicos de hiprboles, dzias de
poemas, curtos e longos, dcimas, sonetos, elegias, acrsticos, cantos hericos, glosas, silvas, epigramas, em latim e em
portugus.
69
Da lio e cultura da capitania podemos fazer idia pelas livrarias particulares nela quele tempo existentes.
Do-nos informao a respeito os autos de seqestros feitos nos bens dos implicados na chamada Conjurao Mineira. Alm
dos livros profissionais de estudo e consulta, constituam-nas geralmente os melhores autores latinos no original e gregos no
original e em tradues latinas, e mais os franceses Descartes, Condillac, Corneille, Racine, Bossuet, Montesquieu, Voltaire,
tratados e dicionrios de histria e erudio, as dcadas de Barros e Couto, os poetas clssicos portugueses, e tambm Tasso,
Milton, Metastsio, Quevedo, afora dicionrios de vrias lnguas, obras de matemticas, cincias naturais e fsicas e outras.
70
Ainda em antes de findar o primeiro quartel do sculo, comearam a manifestar-se em Minas sintomas de descontentamento
da metrpole e de hostilidades aos seus propostos governana da capitania. Contam-se desde ento alguns alvorotos e
motins, pomposa e impropriamente apelidados de revoltas e at de revolues pelos historiadores indgenas, contra o governo
colonial. Reprimidos alguns com a bruta violncia com que em todos os tempos todos os governos presumem impedir o
natural levante contra os seus desmandos, a sua represso apenas serviu para desenvolver ou acirrar a animadverso do
brasileiro contra o reinol. Dos governadores da capitania os houve fidalgos da melhor nobreza portuguesa, homens de corte
e de sociedade, talvez com os vcios e defeitos nessas comuns, mas em todo caso com as prendas que eram o apangio de sua
classe. Acompanhavam-nos outros gentis-homens, que com os filhos da terra mais graduados por educao, haveres, famlias
e postos, faziam em Vila Rica, a pitoresca capital de Minas, uma pequena corte. Festas de igreja, freqentes e pomposas,
cavalhadas, canas e outros divertimentos do Reino para aqui, a que acudiam os vizinhos desde Diamantina, Mariana e mais
longe, e animavam.
Mais numerosa e mais densa que nenhuma outra do Brasil, a populao de Minas, aquela ao menos que tinha Vila Rica
por centro imediato, sentia-se melhor o contacto recproco, criador da solidariedade. Sendo a mais rica, era tambm a mais
isenta, a mais desvanecida de suas possibilidades. Este desvanecimento bairrista tinha-o Tiradentes em sumo grau. O esprito
localista, feio congnita dos mineiros, oriundos das condies fsicas e morais do desenvolvimento da capitania, fortificava
ali o nativismo ou nacionalismo regional. O sentimento da liberdade e da independncia, atribudo geralmente aos montanheses,
parece ter em Minas mais uma vez justificado o conceito. Foi este meio que produziu a florao de poetas que a pliade
mineira. Em qualquer outro do Brasil o seu aparecimento se no compreenderia.
Esses poetas so: Santa Rita Duro (17...-1784), Cludio da Costa (1729-1780), Baslio da Gama (1741-1795), Al-
varenga Peixoto (1744-1793), Toms Gonzaga (1744-1807?), Silva Alvarenga (1749-1814). Estes so os que formam o
grupo at aqui impropriamente chamado de escola mineira, e que chamaremos, porventura, com mais propriedade, a pliade
mineira. Alm destes, e pelo mesmo tempo, produziu Minas muitos outros poetas, somenos a este, meros versejadores
ocasionais, como sempre os houve aqui, dos quais nenhum ultrapassou a fama local contempornea. Os mais midos
noticiadores nomeiam: Joaquim Incio de Seixas Brando, Joaquim Jos Lisboa, Antnio Caetano Vilas Boas da Gama,
irmo de Baslio, Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, Francisco Gregrio Pires Monteiro Bandeira, Miguel Eugnio da
Silva Mascarenhas, Silvrio Ribeiro de Carvalho, Francisco e Domingos Barbosa, Matias Alves de Oliveira. So nomes sem
outra significao e valia que o de servirem para atestar a existncia em Minas de foras poticas que ajudam a explicar a
formao daquela pliade.
Mas a s influncia deste meio, onde nasceram e se criaram, no bastaria a explicar-lhes o estro e surto potico, e menos
a atividade literria. A esse primeiro influxo ptrio juntou-se preponderantemente o de sua longa permanncia na Europa, do
seu convvio em um ambiente social e literrio mais estimulante dos seus dons nativos do que seria a sua terra e o meio, em
suma acanhado, em que se haviam criado. O contrrio alis passou com Toms Gonzaga, do grupo o nico que no era
brasileiro, e o nico de quem se pode dizer que foi o Brasil que o fez poeta. No se conhece com efeito nenhuma produo
anterior s liras de Marlia de Dirceu, e estas resultaram de seus amores malfadados com uma brasileira, e, concomitantemente,
de sucessos em que se achou envolvido no Brasil, que aos seus louros de poeta juntaram a coroa de mrtir da liberdade.
I OS LRICOS
Quando se lhes formou o esprito aos poetas mineiros ou comeavam eles a poetar, viava em Portugal o arcadismo,
movimento propositadamente iniciado ali por meados do mesmo sculo XVIII contra o gongorismo do sculo antecedente.
O arcadismo, porm, foi mais que uma escola, um estilo literrio. Ao contrrio dos seus manifestos intuitos no conseguiu,
se no muito parcialmente, nem desbancar o seiscentismo, nem fazer regressar as letras portuguesas, como era o seu propsito,
natureza e ao natural, nobre simplicidade, pureza da frase, verossimilhana dos pensamentos. Alis estas virtudes
nunca foram comuns nessas letras. E no arcadismo ficaram ainda ressaibos demasiados do sescentismo contra o qual se
organizara.
Os poetas mineiros, como os demais poetas brasileiros da mesma poca, nenhum benemrito de meno particular, so
antes de tudo Arcades, ainda quando no pertencem efetivamente a alguma das Arcdias do Reino. No Brasil nenhuma
houve com existncia real de sociedade organizada de poetas. As de que se fala no passaram de imaginaes e fingimentos
seus. Como rcades portugueses, eles no foram somente ao geral dos seus contemporneos da metrpole, antes, como
reconheceu Garrett e o tm verificado outros historiadores da literatura portuguesa, contriburam para lhe avultar e enriquecer
a poesia naquela poca. O que decididamente os sobreleva queles e os torna mais notveis e, para ns ao menos, mais
interessantes, so as suas novas contribuies poesia portuguesa, com as quais tambm entra a nossa a se distinguir dela.
Introduzem um novo elemento de emoo, o seu nativismo comovido, o seu patriotismo particular; um novo assunto, a gente
e a natureza americana, e com isto, e resultante disto, novos sentimentos e sensaes, indefinveis talvez mais sensveis, que
o meio novo de que eram, do qual ou no qual cantavam, lhes influa nas almas. Escapando, pelo seu mesmo exotismo ao
predomnio absoluto das tradies literrias portuguesas, ao rigor da moda potica ento na metrpole vigente, puderam ser
e foram mais naturais, mais isentos dos defeitos e vcios em que se desmanda ali essa moda. So, em suma, menos gongricos
que os portugueses, sacrificam muito menos mitologia e ao trem clssico do que eles.
Segundo a ordem cronolgica de sua manifestao, Cludio da Costa o primeiro destes poetas. Nasceu no Stio da
Vargem, distrito da cidade de Mariana, aos 5 de junho de 1729, de Joo Gonalves da Costa, portugus, e Teresa Ribeiro de
Alvarenga, mineira. Seu pai ocupava-se de minerao e lavoura. Por parte de pai, seus avs eram portugueses, e de me
brasileiros, de So Paulo e de boa gerao. Eram gente abonada, pois quatro dos seus cinco filhos cursaram a Universidade
de Coimbra. Tinha em Minas um tio frade e doutor, Fr. Francisco Vieira, que fora opositor daquela Universidade e era agora
procurador-geral da Religio da SS. Trindade no Brasil. Com ele iniciou os primeiros estudos de latim em Ouro Preto,
donde aos quatorze anos se passou ao Rio de Janeiro. Aqui, no colgio dos jesutas, estudou filosofia. Com vinte anos
embarcou para Portugal, com destino a Coimbra, em cuja Universidade se formou em cnones. Entre 1753 e 54 recolheu ao
Brasil, dando-se advocacia em Vila Rica, onde tambm exerceu o importante cargo de secretrio do Governo. Por sua
idade, boa lio clssica, fama de douto e crdito de autor publicado, exerceu Cludio da Costa ali uma espcie de magistrio
entre os seus confrades em musa, maiores e menores, que todos lhe liam as suas obras e lhe escutavam os conselhos. Aos
sessenta anos foi comprometido na chamada Conjurao Mineira. Preso, e sem dvida apavorado com as conseqncias da
tremenda acusao de ru de inconfidncia, suicidou-se na priso.
71
Na minuta manuscrita de seus escritos que acompanha os citados apontamentos, declara Cludio que aplicado desde os
primeiros anos ao estudo das belas-letras conservava inditos em 1759: Rimas nas lnguas latina, italiana, portuguesa,
castelhana e francesa em poesia herica e lrica, dois tomos in 4. preciosa a confisso, menos como testemunho da
capacidade potica do nosso patrcio em cinco lnguas, que por mostrar quanto, com mais de meio sculo de permeio, e a
despeito da Arcdia, estava ainda perto de Botelho de Oliveira, o poeta seiscentista da Msica do Parnaso em quatro coros
de rimas portuguesas, castelhanas, italianas e latinas. Cludio Manoel da Costa alis, e ficaria, o mais portugus dos
poetas mineiros, o mais seiscentista e simultaneamente o mais arcdico, o mais achegado inspirao e potica portuguesa
tradicional e a do momento em que se lhe formou o esprito, em suma, o menos brasileiro do grupo. Di-lo bastantemente o
s ttulo de seus escritos inditos e publicados, Rimas pastoris ou Musa buclica, centria sacra, poema ao glorioso parto
de Maria Santssima, Monsculo potico, Culto mtrico a certa abadessa, e quejandos.
Poetou e escreveu com abundncia segundo se v das suas mesmas citadas informaes, e o testemunha a parte publicada
de sua obra.
72
Nos citados Apontamentos figuram entre os seus manuscritos Poesias dramticas que se tm muitas vezes representado
nos teatros de Vila Rica, Minas em geral e Rio de Janeiro e Vrias tradues de dramas de Metastsio. Alguns destes
dramas em rima solta, outros em prosa, proporcionados ao teatro portugus. Sobre confirmarem a variedade de aptides
poticas de Cludio da Costa, seriam estas obras contribuio porventura estimvel para a histria da nossa literatura
dramtica e ainda do nosso teatro. Parece que se perderam todas. De sua copiosa obra potica, a poro verdadeiramente
insigne so os Sonetos, entre os quais os h rivalizando os mais excelentes da lngua. Obedecendo potica preconizada
pelos fautores da Arcdia, embora com sobrevivncias do seiscentismo, duas feies distinguem os sonetos de Cludio
Manuel da Costa: um vago perfume camoniano e uma sensibilidade particular porventura a primeira manifestao da nostalgia
brasileira, depois repetida por tantos poetas nossos. So amostras destes dois traos os sonetos:
Se os poucos dias que vivi contente
Foram bastantes para o meu cuidado,
Que pode vir a um pobre desgraado
Que a idia do seu mal no acrescente!
Aquele mesmo bem, que me consente,
Talvez propcio, meu tirano fado
Esse mesmo me diz, que o meu estado
Se h de mudar em outro diferente.
Leve pois a fortuna os seus favores;
Eu os desprezo j; porque loucura
Comprar a tanto preo as minhas dores:
Se quer que me no queixe, a sorte escura
Ou saiba ser mais firme nos rigores ou saiba ser constante na brandura.
* * *
Onde estou! este stio desconheo;
Quem fez to diferente aquele prado!
Tudo outra natureza tem tomado;
E em contempl-las tmido esmoreo.
Uma fonte aqui houve; eu no me esqueo
De estar a ela um dia reclinado:
Ali em vale um monte est mudado:
Quanto pode dos anos o progresso!
rvores aqui vi to florescentes
Que faziam perptua a primavera:
Nem troncos vejo agora decadentes.
Eu me engano: a regio esta no era:
Mas que venho a estranhar, se esto presentes,
Meus males com que tudo degenera!
* * *
Este o rio, a montanha esta,
Estes os troncos, estes os rochedos,
So estes inda os mesmos arvoredos;
Esta a mesma rstica floresta.
Tudo cheio de horror se manifesta,
Rio, montanhas, troncos e penedos
Que de amor nos suavssimos enredos
Foi cena alegre, e urna j funesta.
Oh! quam lembrado estou de haver subido
Aquele monte, e s vezes, que baixando
Deixei do pranto o vale umedecido!
Tudo me est a memria retratando;
Que na mesma saudade do infame rudo
Vem as mortas espcies despertando.
* * *
Memrias do presente, e do passado
Fazem guerra cruel dentro em meu peito;
E bem que ao sofrimento ando j feito,
Mais que nunca desperta hoje o cuidado.
Que diferente, que diversos estado
este, em que somente o triste efeito
Da pena, a que meu mal me tem sujeito,
Me acompanha entre aflito e magoado!
Tristes lembranas! e que em vo componho
A memria da vossa sombra escura!
Que nscio em vs a ponderar me ponho!
Ide-vos; que em to msera loucura
Todo o passado bem tenho por sonho;
S certa a presente desventura.
Adorador fiel das musas europias, age no obstante nele o incoersvel imprio da terra natal, para onde quisera trazer
e onde quisera aclimatar aquelas musas, e o seu cortejo clssico de ninfas, o pastor, a ovelha, o touro:
Musas, canoras Musas, este canto
Vs me inspirastes, vs meu tenro alento
Erguestes brandamente quele assento.
Que tanto, Musas, prezo, adoro tanto.
Lgrimas tristes so, mgoas e pranto,
Tudo o que entoa o msico instrumento;
Mas se o favor me dais, ao mundo atento
Em assunto maior farei espanto.
Se em campos no pisados algum dia
Entre a Ninfa, o Pastor, a ovelha, o touro,
Efeitos so da vossa melodia;
Que muito, Musas, pois, que em fausto agouro
Cresam do ptrio rio margem fria
A imarcescvel hera, o verde louro!
Sem embargo dos seus poemas de intuitos nativistas, como a Fbula do Ribeiro do Carmo e Vila Rica, faltou-lhe
infelizmente talento para desta transplantao fazer melhor do que instalar na paisagem e no ambiente americano os estafados
temas e motivos da cansada poesia pastoril portuguesa, sem ter ao menos, como Gonzaga, alguma forte paixo que os
reviasse. Influenciado sem dvida pelo exemplo de Baslio da Gama e de Duro, comps o seu poema brasileiro, se no
pelo sentimento e inspirao, pelo assunto, Vila Rica. uma obra medocre, indigna do poeta dos Sonetos e ainda de outros
versos, a qual apenas rev o apego tradio que fazia anacronicamente viver esse gnero na literatura da nossa lngua.
Vernculo nesta e correto na forma e estilo potico de fino e delicado sentimento, com tons bastante pessoais, apenas um
todo nada gongrico, Cludio Manoel da Costa , todavia, julgando-o pelo conjunto da sua obra, o mais rcade dos rcades
brasileiros. No tem alguma emoo grande ou profunda, poetiza por poetizar, academicamente, seguindo de perto a escola
na inspirao, nos temas preferidos, nas formas mtricas. um virtuose e um diletante, se podemos juntar os dois termos,
mas o com engenho e no raro, nos Sonetos, formosamente. Nenhum dos seus poemas em que se pode enxergar algo de
sentimento ptrio, ou de influxo da terra natal, se distingue na sua obra. Revelam, porm, todos, ainda que vagamente, como
tais motivos comeavam a impor-se aos engenhos brasileiros, dos quais volvido meio sculo se iam tornar prediletos.
Nasceu Toms Antnio Gonzaga em Portugal, na cidade do Porto, em 1744, de pai fluminense e me portuguesa, filha
de ingls. Como o pai houvesse exercido a magistratura na Bahia, Toms Gonzaga passou algum tempo da adolescncia
nessa cidade, ainda ento a principal do Brasil. Voltando com a famlia a Portugal, aos vinte e quatro anos bacharelou-se em
leis em Coimbra. Por ter sido opositor a cadeiras da faculdade jurdica, fez jus ao ttulo de desembargador. Com essa
graduao veio para o Brasil, em 1782, nomeado ouvidor de Vila Rica, a pitoresca e sombria capital de Minas Gerais. Afora
a declarao de uma de suas liras, de que por amor de Marlia destrura os versos que antes de a conhecer consagrara a outras
mulheres, declarao que apenas ser gentileza de namorado, no se conhece testemunho de que Gonzaga houvesse poetado
antes de vir para o Brasil. Ao contrrio, nenhum indcio h de o ter feito.
73
Foi o Brasil que o fez poeta, e isto que o
naturaliza brasileiro. Aqui se lhe depararam os motivos do seu poetar, primeiro a mulher que parece ter amado de um grande
e terno amor, principal estmulo do seu estro at ento adormecido; depois os sucessos que, a despeito da sua inocncia, o
envolveram na chamada Conjurao Mineira. Despedaando-lhe a existncia, que se lhe antolhava auspiciosamente fagueira,
esses sucessos ajuntaram s emoes dolorosas dos seus contrariados amores o abalo cruel de uma calamidade inaudita: a
acusao do crime de lesa-majestade, a priso, os ferros, os maus tratos, a masmorra, um longo e martirizante processo, a
perspectiva da forca, em suma o desmoronar sbito e brutal de todas as suas risonhas esperanas de namorado e funcionrio,
em via de realizao. De sua dor fez as formosas canes que o imortalizaram, como um dos bons poetas do amor da nossa
lngua. A brasileira sua amada era uma jovem matuta, sem outra cultura e esprito que as suas graas naturais. Para ser dela
entendido e toc-la, versejou-lhe naturalmente, simplesmente, com o mnimo de artifcios clssicos possvel potica
portuguesa, quase sem arrebiques literrios, nem rebuscas de expresso, que ela pudesse desentender. Assim como lhe
forneceu o motivo e o estmulo de inspirao, deu-lhe o Brasil tambm o estilo que o distingue e sobreleva aos seus pares.
Como poeta , pois, Gonzaga um ldimo produto brasileiro.
Comutada a pena de morte, imposta pela alada que julgou a presumida conspirao, em degredo para Angola, em
frica, ali morreu de misria moral e fsica pelos anos de 1807 a 1809. A primeira edio de suas liras, sob o ttulo que se
devia tornar famoso de Marlia de Dirceu, apareceu em Lisboa, em 1792, no mesmo ano da sua condenao e desterro. E
desde ento se tem feito delas, aumentadas de suas partes, cuja autenticidade questionvel, trinta e quatro edies.
74
Nenhum outro poema da nossa lngua, com a s exceo dos Lusadas, teve to grande nmero de edies.
Marlia de Dirceu, o ttulo consagrado das liras de Gonzaga, a mais nobre e perfeita idealizao do amor da nossa
poesia. Clssica embora de lngua e potica, uma obra pessoal, escapa e superior s frmulas e competncias das escolas.
Canta de amor numa toada sinceramente sentida e por isso tocante, do amor como a grande e fecunda e honesta paixo
humana nas suas relaes com a vida, ainda nos seus aspectos prosaicos, a existncia e os sentimentos vulgares ou sublimes.
Por essa expresso Gonzaga um grande poeta.
No que em Gonzaga se rev o portugus, como alis em Cludio da Costa, brasileiro nato, nos afeites portugueses de
sua poesia, os fingimentos pastoris, imagens e tropos de ambos derivados. Isso mesmo, porm, no mais essencialmente
portugus do que italiano ou espanhol, se no puramente arcdico. Mas a realidade da sua situao, a verdade do seu
sentimento, a sinceridade da sua emoo, sobrelevaram as mculas postas no seu poema pelos inevitveis estigmas da
potica em voga e quase as apagaram. Se o Brasil o naturalizou seu, fazendo-o poeta, ele por sua vez foi o principal agente
de naturalizao aqui da sentimentalidade voluptuosa do lirismo portugus. Foi ele, com efeito, o primeiro que no Brasil
cantou to constante, to exclusiva e to ternamente de amor.
Dos poetas desta pliade, o de obra menos considervel Incio Jos de Alvarenga Peixoto.
75
Natural do Rio de
Janeiro, filho de Simo de Alvarenga Braga e de D. ngela Micaela da Cunha, que ignoramos se eram brasileiros ou
portugueses, gente se no de bom nascimento, abonada. Feitos os primeiros estudos com os jesutas, na sua cidade natal, por
volta de 1760 foi conclu-los em Portugal. Em Coimbra formou-se em leis, em Cintra foi juiz de fora e no Reino demorou-
se at depois de 1775. Neste ano ainda se encontrava ali, onde, com outros poetas e versejadores brasileiros, Baslio da
Gama e seu irmo Antnio Caetano Vilas Boas da Gama, Joaquim Incio de Seixas, da famlia da futura namorada de
Gonzaga, Silva Alvarenga e outros mais versejou inaugurao da esttua de D. Jos I. De Portugal voltou despachado
ouvidor da Comarca do Rio das Mortes. Este cargo, e o seu posterior casamento com uma senhora mineira de famlia
paulista, levou Alvarenga Peixoto a domiciliar-se e estabelecer-se em Minas, onde trocou a profisso de magistrado pela de
fazendeiro e minerador e o ttulo acadmico de doutor pelo de coronel, pelo qual ficou mais conhecido. Dera-lhe esta
patente, com o comando do regimento de cavalaria da campanha do Rio Verde, o Governador D. Lus da Cunha Menezes.
Vivendo em So Joo del Rei, ia freqentemente a Vila Rica, onde era hspede habitual de Gonzaga, de quem devia ter sido
companheiro em Coimbra e era ainda parente. Estes dois poetas e Cludio da Costa encontravam-se em fraternal convvio,
comunicando-se mutuamente as suas composies e conversando de letras e, naturalmente, das cousas da capitania. Destas
conversaes, em que tomariam parte outros homens de letras ou de alguma representao na capitania, mal entendidas por
uns, deturpadas por outros, originou-se a suspeita de uma conjurao contra o domnio portugus, com o intento de conflagrar
a capitania e proclamar a sua independncia. No obstante o seu aulicismo e a constncia de suas manifestaes bajulatrias
de venerao a soberanos e magnates portugueses seus delegados, foi Alvarenga Peixoto comprometido nela, preso e, com
Gonzaga e seus outros companheiros de suspeio, trazido algemado para as lbregas masmorras do Rio de Janeiro. Aps
um longo processo de trs anos, delas saiu para o desterro de Ambaca em frica, onde pouco depois morreu em 1793.
A crermos os seus bigrafos, incluindo o melhor deles, Norberto Silva, Alvarenga Peixoto escreveu muito maior nmero
de composies do que as que se lhe conhecem, e que Norberto foi quem mais completa e cuidadosamente colecionou.
76
Voltando de Portugal ao Rio de Janeiro, aqui o acolheu benignamente o vice-rei Marqus de Lavradio. No teatro ou casa da
pera, como lhe chamavam, criado por este vice-rei, fez Alvarenga Peixoto, sempre chegado aos magnates, representar
uma traduo em versos de Mrope, tragdia de Maffei e tambm um drama original, igualmente em versos, Enias no
Lcio. Tal ao menos a verso de Cunha Barbosa
77
propalada por Norberto, ignoramos com que fundamento. Infelizmente
essas tentativas, como as de Cludio da Costa, e outros que porventura houve, perderam-se totalmente. Assim tambm se
teriam perdido, levadas no tufo da devassa e seqestros de que foram objeto os acusados de inconfidncia e seus bens,
muitas outras composies de Alvarenga Peixoto. No que dele nos resta vinte sonetos, duas liras, trs odes incompletas,
uma cantata e um canto em oitava rima
78
percebe-se um bom poeta, de seu natural fcil e fluente. No lhe falta imaginao
nem conceito. Infelizmente o motivo principal de sua inspirao no que dele nos ficou, versos na maior parte de encmios
a magnates, versos de corteso, lhe haveria prejudicado dotes que mais se adivinham que se sentem. Passa como um dos seus
melhores sonetos A saudade, feito depois da sua sentena de morte. No lhe seriam inferiores A lstima, composta na
masmorra da Ilha das Cobras, lembrando-se da famlia, nem o feito Rainha D. Maria I suplicando-lhe a comutao da
pena de morte, se no houvesse em ambas demasiados traos da ruim potica do tempo, empolada e campanuda. Com-
participa Alvarenga Peixoto do sentimento comum a estes poetas de afeto, pode mesmo dizer-se de ufania, da terra natal,
unido a um sincero apego a Portugal. Manifesta-se na maior parte dos poemas que lhe conhecemos, particularmente na ode
Rainha D. Maria I, da qual se poderia inferir ter havido aqui a esperana de que ela c viesse, em visita sua colnia:
Se o Rio de Janeiro
S a glria de ver-vos merecesse
J era vosso mundo novo inteiro
......
Vinde, real senhora
Honrar os nossos mares por dous meses
Vinde ver o Brasil que vos adora
.....
Vai, ardente desejo,
Entra humilhado na real Lisboa
Sem ser sentido do invejoso Tejo
Aos ps augusto voa,
Chora e faze que a me compadecida
Dos saudosos filhos se condoa
.....
Da Amrica o furor
Perdoai, grande augusta; lealdade
So dignos de perdo crimes de amor.
Este sentimento, que manifesto em todos os poetas, desdiz do que lhes imputou a torva e suspicaz poltica dos
governadores e vice-reis portugueses, cujo excessivo zelo lhes transformou apenas indiscretas conversaes em conjurao
e fez destes rcades ideolgicos rus de inconfidncia, destruindo estpida e maldosamente trs destes amveis poetas. Este
ntimo sentimento casava-se-lhes na fantasia com a ambio patritica de que se aumentasse na monarquia portuguesa a
importncia de sua terra e que as nobres estirpes daquela dessem aqui rebentos que lhe quisessem como a sua. Estas e outras
quimeras, vagos e indecisos sonhos de poetas, se encontram no Sonho e no Canto genetlaco, de Alvarenga Peixoto, em que,
a propsito do filho do governador D. Rodrigo de Menezes, se rejubila de que
Os heris das mais altas cataduras
Principiam a ser patrcios nossos.
Chegamos ao ltimo, na ordem do tempo, dos lricos deste belo grupo. Manoel Incio da Silva Alvarenga, natural de
Vila Rica, em Minas, onde nasceu em 1749, donde saiu apenas adolescente e aonde no mais voltou. Era filho de um homem
pardo, Incio Silva Alvarenga, msico de profisso, como tm sido tantssimos de sua raa no Brasil, e pobre, e de me
desconhecida. A benevolncia de pessoas a quem a sua inteligncia e vocao estudiosa interessava, deveu poder vir para o
Rio estudar, e daqui, feitos os preparatrios, seguir para Coimbra, onde se bacharelou em cnones, sempre com as melhores
aprovaes, em 1775 ou 76, com 27 anos de idade. Em Portugal relacionou-se com alguns patrcios, como Alvarenga
Peixoto e Baslio da Gama, mais velhos do que ele e tambm poetas. Do ltimo, parece, foi grande amigo. Celebrou-o mais
de uma vez, e efusivamente, em seus versos. No crculo destes e de outros brasileiros dados s musas, ter-se-ia primeiro feito
conhecido. Em 1774 publicara em Coimbra o poema heri-cmico. O Desertor (8, 69 pgs.), metendo bulha o escolasticismo
coimbro, pouco antes desbancado pelas reformas pombalinas, e celebrando estas reformas. Franco o mrito literrio
deste poema. No , todavia, despiciendo como documento de um novo estado de esprito, mais literal e desabusado, da
sociedade portuguesa sob a ao de Pombal, e do caminho que havia feito em espritos literrios brasileiros o sentimento
ptrio, manifestado no poema em aluses, referncias, lembranas de cousas nossas. Quando foi do dilvio potico da
inaugurao da esttua eqestre de D. Jos I, em 1775, Silva Alvarenga o engrossou com um soneto e uma ode. O mesmo
motivo inspirou-lhe ainda a epstola em alexandrinos de treze slabas Ao sempre augusto e fidelssimo rei de Portugal o
Senhor D. Jos I no dia da colocao de sua real esttua eqestre. Era ento estudante, e tal se declara no impresso da obra.
Dois anos depois vinha a lume o Templo de Netuno, poemeto (idlio) de sete pginas em tercetos e quartetos, muito bem
metrificados, com que, ao mesmo tempo que celebra a aclamao da Rainha D. Maria I:
Possa da augusta filha o forte brao
Por longo tempo sustentar o escudo,
Que ampara tudo o que seu reino encerra
E encher de astros o cu, de heris a terra.
se despede sinceramente sentido de seu amigo o patrcio Baslio da Gama:
Ainda me parece que saudoso
Te vejo estar da praia derradeira
Cansando a vista pelo mar undoso.
Sei que te ho de assustar de quando em quando
Os ventos, os vrios climas e o perigo
De quem to longos mares vai cortando.
Vive, Termindo, e na inconstante estrada
Pisa a cerviz da indmita fortuna,
Tendo a volbil roda encadeada
Aos ps do trono em slida coluna.
Com este conselho baixamente prtico ao recm-protegido de Pombal para que angarie tambm o patrocnio da rainha
de pouco aclamada, e que ia ser o centro da reao contra aquele, termina Silva Alvarenga o seu poema. Antes de lhes
exprobrarmos a vileza do sentimento, consideremos que era muito menor e muito mais desculpvel do que iguais que agora
vemos em todo o gnero de plumitivos. Ele procedia consoante o tempo e o uso geral de poetas e literatos, que ainda no
tinham outro recurso que a proteo dos poderosos. Precede imediatamente esta quadra menos digna, e acaso por isso
mesmo menos bela, o formoso e sentido terceto:
Se enfim respiro os puros climas nossos,
No teu seio fecundo, Ptria amada,
Em paz descansem os meus frios ossos,
que rev o sentimento do amor da terra natal comum a todos estes poetas, que todos o manifestaram de forma a lhe sentirmos
o trabalho de transformao do limitado nativismo, se no apenas bairrismo, de seus predecessores em um patriotismo mais
consciente e amplo. Vinha este poema assinado por Alcindo Palmireno, rcade ultramarino e era endereado a Jos
Baslio da Gama, Termindo Seplio. Estas alcunhas arcdicas, e outras que tomaram vrios poetas do mesmo grupo, como
a de Dirceu, de Gonzaga, no indicam nos que as traziam a qualidade de associados de alguma das sociedades literrias
ento existentes com o nome de Arcdias. Somente de Cludio e Baslio se pode crer que a tais sociedades pertencessem. Na
maioria dos outros, do grupo mineiro ou no, era apenas um apelido genrico. Arcdia quer dizer assento de poetas, e por
extenso poesia, e, em Portugal e aqui, a poesia na poca vigente. rcade valia, pois, o mesmo que poeta. rcade ultramarino
no dizia mais que poeta do ultramar, sem de forma alguma indicar a existncia no Brasil dessas sociedades, que de fato
nunca aqui existiram.
Foi Silva Alvarenga um dos mais fecundos e melhores poetas da pliade mineira. Desde o Desertor das letras, o seu
poema heri-cmico contra o carrancismo do ensino universitrio, no cessou de versejar. Em folhas avulsas, folhetos,
colees e florilgios diversos, jornais literrios portugueses e brasileiros (pois ainda foi contemporneo dos que primeiro
aqui apareceram), foram publicadas as suas muitas obras. A de mais vulto, o poema madrigalesco Glaura, saiu em Lisboa
em 1799 e 1801. As notas de aprovao obtidas em Coimbra por Silva Alvarenga lhe argem hbitos de estudo srio, que
tudo faz supor conservasse depois de graduado e pela vida adiante. Era seguramente homem de muito boas letras, com a
melhor cultura literria que ento em Portugal se pudesse fazer. Quanto a ela, juntava, alm do engenho potico, talento real,
esprito e bom gosto pouco vulgar no tempo; sobejam-lhe as obras para o provar, nomeadamente os seus prefcios e poemas
didticos. Assenta consigo mesmo, embora segundo a Arcdia e Garo, que na imitao da natureza consiste toda a fora
da poesia, e a sua Epstola a Jos Baslio, insistindo nesta opinio, est cheia de discretos conceitos de bom juzo literrio.
Se nem sempre os praticou, que mais pode com ele a influncia do momento literrio que as excelentes regras da sua arte
potica. Lera Aristteles, Plato, Homero. Lida com eles e os cita de conhecimento direto, e a propsito. Conhece as
literaturas modernas mais ilustres, inclusive a inglesa. No lhe so estranhas as cincias matemticas, fsicas ou naturais. No
seu poema As artes, as figura, ou se lhes refere com apropriadas alegorias ou pertinentes aluses.
Formado em cnones voltou Silva Alvarenga ao Rio de Janeiro em 1777, e aqui se deixou ficar, talvez porque nenhum
afeto ou interesse de famlia, que no a tinha regular, o chamasse a Minas, sua terra natal. Vrios poemas seus, nomeadamente
a sua Ode mocidade portuguesa, a epstola a Baslio da Gama e As artes, acima citado, mostram em Silva Alvarenga um
esprito ardoroso de cultura, de progresso intelectual, e entusiasta de letras e cincias. Ele traria para o Brasil desejos e
impulsos de promover tudo isto aqui. Angariando a boa vontade do vice-rei de ento, Marqus do Lavradio, fundou, com
outros doutos que aqui encontrou, uma sociedade cientfica, cujo objeto principal era no esquecerem os seus scios as
matrias que em outros pases haviam aprendido, antes pelo contrrio adiantar os seus conhecimentos.
79
Foi efmera a
existncia desta sociedade. Num outro vice-rei, Lus de Vasconcelos e Sousa, encontrou igualmente o nosso poeta animao
e patrocnio. Por ele teve a nomeao de professor rgio de uma aula de retrica e potica, solenemente inaugurada em
1782, e sob os seus auspcios restaurou, em 1786, com a denominao agora de Sociedade Literria, a associao extinta.
Dela foi secretrio e porventura a alma.
80
A mal conhecida existncia destas duas associaes literrias fundadas por Alvarenga
deu azo s hipteses e imaginaes que tm alis ocorrido como certezas, de uma Arcdia Ultramarina, criada por ele com
o concurso de Baslio da Gama, que entretanto estava em Portugal, donde nunca mais saiu. Dos scios destas duas sociedades,
mdicos, letrados, padres, o nico nome que escapou ao completo esquecimento e a histria literria recolheu alm do de
Silva Alvarenga, foi o de Mariano Jos Pereira da Fonseca, o futuro Marqus de Maric, autor das Mximas. A esta atividade
literria juntava Alvarenga a profisso de advogado. Mudado o vice-rei liberal pelo Conde de Rezende, que no o era
(1790), este, tornado mais desconfiado pelos recentes sucessos da Inconfidncia Mineira, enxergou nessa reunio de estudiosos
e homens de letras no sei que sinistros projetos de conjura contra o poder real. Preso em 1794, aps mltiplos interrogatrios
e mais de dois anos de priso nas lbregas masmorras da fortaleza de Santo Antnio, foi Silva Alvarenga restitudo sem
julgamento liberdade. Teve sorte. No eram acaso mais culpados do que ele os seus confrades de Minas, dois anos antes,
comutada a sentena de morte em desterro, mandados morrer nas inspitas areias africanas. Faltou apenas um pouco mais de
zelo ao vice-rei Rezende e ao principal juiz da nova alada, o poeta do Hissope, Dinis. Viveu at 1814 e colaborou ainda no
Patriota, a revista literria que fomentou o movimento intelectual anterior independncia.
Pelo esprito, pelo temperamento literrio, pelo estilo tanto como pela idade, Silva Alvarenga o mais moderno dos
poetas do grupo, o menos iscado dos vcios da poca, o mais livre dos preconceitos da escola, cujas aluses e ridculo no
desconhecia, como se v na sua Epstola a Jos Baslio. Tem alm disso bom humor, esprito e, em suma, rev melhor que
os outros a emancipao produzida em certos espritos pela poltica antijesutica de Pombal. Com ser mestre de retrica,
evita mais que os outros os recursos do arsenal clssico e mitolgico. E quando cede corrente, o faz com muito mais
personalidade seno originalidade, mesmo com desembarao e liberdade rara no tempo. disso prova a sua formosa heride
Teseu e Ariana, uma das melhores amostras da nossa poesia, naquela poca.
II OS PICOS
principalmente na pica que os brasileiros, se no sobrelevam aos portugueses da segunda metade do sculo XVIII,
concorrem dignamente com eles. Os dois poemas brasileiros, o Uraguai,* de Baslio da Gama, e o Caramuru, de Santa Rita
Duro, no desmerecem das melhores epopias portuguesas da poca.
Jos Baslio da Gama nasceu nos arredores da antiga Vila de S. Jos do Rio das Mortes, depois S. Jos de El-Rei, hoje
Tiradentes, 1741. Foram seus pais o capito-mor Manoel da Costa Vilas Boas, portugus, e D. Quitria Incia da Gama,
brasileira, ambos de bom nascimento. A me descendia da nobre famlia Gama de Portugal, motivo por que talvez o filho lhe
preferisse o apelido ao do pai. De seus ascendentes somente eram brasileiros a me e a av materna. rfo de pai em anos
verdes, e talvez minguado de bens, veio para o Rio de Janeiro cursar de favor o colgio dos jesutas. Estava para professar
na Companhia quando foi esta dissolvida e seus membros expulsos dos domnios portugueses. Aproveitando a exceo em
favor dos no professos, abandonou Baslio da Gama a Companhia. Do Brasil passou a Portugal e da a Roma, onde foi
admitido Arcdia Romana. De Roma voltou ao Brasil em fins de 1766 ou princpios de 1767. Em meados do ano seguinte
tornava a Portugal, com destino Universidade de Coimbra. Preso em Lisboa como ex-jesuta, esquivou o conseqente
desterro para Angola consagrando um formoso poema ao casamento de uma filha do Marqus de Pombal, ministro todo-
poderoso de D. Jos I. No prprio ano (1769) desse Epitalmio, saiu da Impresso rgia o Uraguai. Como no mesmo
volume vinha a Relao abreviada, famosa diatribe contra os jesutas, obra pessoa de Pombal, legtimo conjeturar que por
conta deste correra a publicao do poema. Dedicado no texto ao irmo de Pombal, ex-governador do Par, Maranho, era
oferecido ao marqus em um soneto preliminar. Desde ento no saiu mais Baslio da Gama de Portugal, sendo inexata a
notcia corrente de uma segunda vinda ao Brasil depois da publicao do Uraguai. Alm deste, que a sua obra capital,
comps mais de trinta poemas, entre maiores e menores, sem contar algumas glosas. Em 1754 foi nomeado oficial da
Secretaria do Reino. Sucessivamente obteve mais tarde o ttulo de escudeiro fidalgo da Casa Real (1787) e o hbito de
Santiago da Espada. Emprego e merc lhe davam uma renda anual que no s o punha ao abrigo de privaes, mas lhe
facultava viver com relativa largueza. Aos cinqenta e quatro anos, ou perto deles, faleceu em Lisboa, solteiro, a 31 de julho
de 1795.
81
Pouco adequado a um poema pico segundo os moldes clssicos, era o assunto de Baslio da Gama: a guerra que
Portugal, auxiliado pela Espanha, fez aos ndios dos Sete Povos das Misses do Uruguai, rebelados contra o tratado de
1750, que os passava ao domnio portugus, tirando-os aos seus padres os jesutas que os haviam descido, amansado e
aldeado, e os despejava de suas terras. Tal tema, ainda exagerado por uma imaginao pica, daria apenas um episdio em
poema de mais vulto. Demais faltava ao poeta o recuo do tempo para uma possvel idealizao do acontecimento, cujos
autores ainda viviam. A epopia tinha, pois, de ser uma simples narrativa histrica em versos de fatos recentssimos, a que
uma animosidade contra os jesutas, que se manifestava j na Espanha e Portugal, e iria breve resultar nos atos de Pombal e
de Aranda, dava um desmesurado relevo. Limitado pela realidade material do acontecimento, ainda a todos presente, peado
pela contemporaneidade das personagens, de todos conhecidas, no podia o poeta dar sua imaginao a liberdade e o alor
necessrios idealizao do seu tema. Pelas circunstncias da sua composio, tinha fatalmente o seu poema de lhe sair
limitado no tempo e no espao, e sobretudo despido das roupagens e feies propriamente picas. Varnhagen notou que a
ao no chega a durar um ano, e o leitor atento observar como o poeta se cinge realidade prosaica dos sucessos.
Ao poeta no prejudicou, antes serviu, esta situao que lhe criou o assunto. Obrigou-o a limitar as propores do seu
poema e impediu-o de seguir os moldes clssicos, inventando ao redor do fato principal os desenvolvimentos que a
coetaneidade deles no comportava. Fossem estas causas mais que o engenho do poeta que deram ao Uraguai a sua feio
particular entre os ltimos poemas ainda oriundos da corrente camoniana, em lhes haver cedido o patenteou ele. O gnio no
a emancipao absoluta das condies que nos rodeiam e limitam. Consiste principalmente em compreend-las no que elas
tm de mais sutil, de mais fugaz e de mais difcil. A superioridade de Baslio da Gama est em ter compreendido, ou antes
sentido, que os poetas so principalmente entes de sensao, que o assunto no lhe dava para uma epopia como aquelas que
ento, cola da de Cames, se faziam, e haver, contra o gosto, a voga, a corrente do seu tempo avanado muito alm dele e
dado literatura portuguesa o seu primeiro poema romntico. Com efeito, no se parece o Uraguai com qualquer outro
poema do tempo. Desvia-se do trilho costumeiro da potica em vigor. No comea pela invocao, antes entre ex-abrupto
na matria do poema, o que era absolutamente novo:
Fumam ainda nas desertas praias
Lagos de sangue tpidos e impuros,
Em que ondeiam cadveres despidos,
Pasto de corvos.
No obedece quase indefectvel prtica da oitava endecasslaba; em verso branco, e os demais deles belssimos. No
recorre ao maravilhoso pago ou outro, no se encontra mcula de gongorismo. A lngua a do seu tempo, castia, sem
rebusca, clara, lmpida, e o estilo natural e simples, apenas com o mnimo de artifcio que a mesma composio exigia. No
refuge a misturar o burlesco com o grave, nem disfara as feies realistas do seu reconto pico. Por todos estes rasgos, e por
alguns outros sinais intrnsecos de metrificao, linguagem e estilo e mais pela liberdade espiritual e sentimentos liberais e
humanos que o animam, j o Uraguai um poema romntico, o precursor na poesia do tempo do romantismo americano, o
iniciador do indianismo, que viria a ser no sculo XIX o trao mais distinto e significativo da renascena literria do Brasil.
Baslio da Gama tem de raiz a inspirao pica. Alm do Uraguai, em que a provou excelentemente, do Quitubia
(1791), que , com pouca sorte alis, outra demonstrao dela, afetava o poeta o tom pico de preferncia a outro, ainda em
poemas de natureza a o no pedirem. Quase no cantou de amor, faltando por isso ao seu lirismo esse poderoso elemento
sentimental e esttico. , porm, um esprito livre e um corao terno. Da liberdade de seu esprito que faz dele um liberal
de antes dos tempos, h indcios sobejos no s no Uraguai, mas em vrios poemas seus. Revela-se ainda o seu gosto por
Voltaire, de quem traduziu a tragdia Mahomet, e a sua desafeio guerra e s mesmas faanhas e glrias militares,
inslitas no seu tempo. No sabemos de outro poeta contemporneo que haja to declaradamente anteposto os labores e
artes da paz, s blicas fadigas e augurado uma futura era pacfica, em que fugissem do mundo
as guerras sanguinosas
Detestadas das mes e das esposas,
e em que
No capacete a abelhas os favos cria,
Curva-se em foice a espada reluzente.
Tambm da sua ternura h exemplos bastantes nos seus versos, particularmente nas lembranas do seu amigo Alpoim,
no Uraguai, e de outro amigo seu, o rcade romano Mireu, no mesmo poema, e em vrios outros menores, aludindo enternecido
a amigos e benfeitores. A sua obra deixa uma grata impresso de admirativa simpatia.
Na histria literria, a importncia de Baslio da Gama o maior do que a de qualquer outro da mesma pliade. Sobre
se revelar no Uraguai porventura o melhor engenho de entre esses poetas, foi o primeiro a tomar por motivos de inspirao
cousas americanas e ptrias. Soube demais cant-las com um raro esprito de liberdade cvica e potica, sem as escravizar a
frmulas consagradas e ainda com peregrinas qualidades de inveno e estilo. Observou Costa e Silva que foi Santa Rita
Duro o fundador da poesia brasileira, por ser o primeiro que teve o bom senso de destacar-se das preocupaes europias
que havia bebido nas escolas, para compor uma epopia brasileira pela ao, pelos costumes, pelos sentimentos e idias e
pelo colorido local. Esqueceu-lhe que o Uraguai precedera o Caramuru de doze anos e que mais do que estes se mostrava
estreme de preocupaes europias bebidas nas escolas.
Deste grupo de poetas Frei Jos de Santa Rita Duro o mais velho, pois nasceu em Cata Preta, distrito de Mariana, no
qual tambm viu a luz Cludio da Costa, pelos anos de 1717 a 1720. Seu pai, o sargento-mor Paulo Rodrigues Duro, era
portugus e abastado. Ignoramos a nacionalidade da me, D. Ana Garcz de Morais. Era o pai homem religioso e nimiamente
devoto. Por sua morte deixou importantes legados para quantidade de objetos e esmolas por sua alma e pelas de seus pais,
escravos e outros. Iguais sentimentos piedosos seriam os da famlia, consoante era ento comum em Minas. Explica-se
assim a vocao religiosa de seu filho Jos, o nosso poeta, que depois de estudos preparatrios no colgio dos jesutas do
Rio de Janeiro, onde a vocao incipiente se lhe teria desenvolvido, passou-se a Portugal. Ali, na ordem de Santo Agostinho,
entrou, fez o noviciado e, em 1738, entre os vinte e vinte trs anos, professou. Para seus alimentos dera o pai ordem dois
mil cruzados. J professo num colgio desta, em Coimbra, fez os estudos para a formatura na Universidade, onde se doutorou
em teologia. Foi lente na sua Ordem e teve o ttulo de substituto na Universidade. Viveu uma vida feliz de estudos e alguns
pequenos trabalhos literrios. Cultivou ento a amizade do clebre erudito portugus, o futuro arcebispo de vora, Frei
Manoel do Cenculo, que associou o nosso patrcio aos seus estudos das lnguas orientais contra o estreito confinamento dos
jesutas na s literatura latina. No se sabe ao certo por que se achou Duro na contingncia de deixar Portugal, retirando-se,
seno fugindo, para Espanha. Na carta em que conta a Fr. Manoel do Cenculo a sua escapula e lhe reclama o apoio, apenas
diz: As minhas desgraas me levaram inconsideradamente Cidade... em 1762, sem explicar quais desgraas foram. Aps
alguns vexames que por motivo de estado de guerra entre a Espanha e Portugal ali sofreu, inclusive a priso, pde transferir-
se Itlia, onde se achava j em 1764. Em Roma soube fazer-se patrocinar por alguns figures da Cria, entre os quais o
famoso Ganganeli, o futuro papa Benedito XIV, que lhe arranjou o lugar de bibliotecrio da livraria pblica Lancisiana,
onde esteve por nove anos, bem aceito dos literatos romanos, que o meteram em vrias das suas sociedades literrias.
notvel que ele no figure com algum nome arcdico, indicando ter pertencido Arcdia Romana. Naquele cargo aposentou-
se, no propsito de concorrer a uma cadeira das que se esperava vagassem na Universidade de Coimbra com a iminente
expulso dos jesutas. Graas, parece, ao apoio de Cenculo e benevolncia do nosso compatriota D. Francisco de Lemos,
amigo de Duro, recm-nomeado por Pombal reitor da Universidade, realizou-se-lhe aquele propsito, pois o encontramos
em 1778 recitando como opositor a orao de sapincia na abertura das aulas.
82
Por esse tempo teria comeado o seu poema, cuja composio continuaria quando, acaso receoso da reao antipom-
balina, recolheu casa de sua ordem em Lisboa, em 1779. A concludo ou limado, foi publicado em 1781.
Em nenhum dos poetas da pliade mineira, ou quaisquer outros seus contemporneos, o nativismo que preludiou aqui o
nacionalismo e o patriotismo, como estmulo de inspirao literria, manifesta-se to claramente como em Santa Rita Duro.
O seu poema tinha j, por volta de 1778 a 80, quando foi imaginado e escrito, um propsito patritico. Os sucessos do
Brasil, escreveu o poeta nas Reflexes prvias, antepostas ao seu livro, no mereciam menos um poema que os da ndia.
Incitou-me a escrever este o amor da ptria. Como por trs de Cames, trazido aqui memria por Duro, vemos a Joo de
Barros, o insigne historiador do descobrimento e conquista da ndia, assim atrs de Santa Rita Duro enxergamos Rocha
Pita, o autor vanglorioso da Histria da Amrica portuguesa. No precisava Duro confessar que o lera. O seu poema
bastaria para o atestar e certificar-nos de que dele principalmente derivam no s passos, incidentes e digresses do Caramuru,
mas principalmente o seu entusiasmo patritico. Patriotismo, porm, que no era ainda o brasileirismo estreme, seno um
sentimento misto, comum a todos esses poetas, de lealdade portuguesa e de amor terra natal, sentimento que se dividia
entre a nao, que era Portugal, e a ptria, que era o Brasil.
Sobre ser impertinente fazer do descobrimento da Bahia, ou ainda do Brasil, uma epopia, luz da esttica no era
muito melhor que o de Baslio da Gama o tema de Duro. Tinha, porm, sobre o daquele a vantagem do maior recuo do
tempo, menor preciso ou maior incerteza histrica, dando ao poeta ensanchas a desenvolvimentos em que aproveitou a
Histria do Brasil do descobrimento ao governo-geral e ainda a previso da luta contra os holandeses. Como todos sabem,
o assunto do poema do episdio meio histrico, meio lendrio, do naufrgio do aventureiro portugus Diogo lvares
Correia, que, soobrando nas costas orientais do Brasil, justamente no recncavo da Bahia, escapou do naufrgio e caiu nas
mos dos ndios que a havia. Guardado para servir-lhes de repasto, conseguiu esquivar a sua triste sorte e dominar-lhes com
o pavor que lhes causou matando no vo um pssaro, e fazendo outras faanhas com um arcabuz que acertara salvar da
catstrofe. Sobre esse fato verossmil, e que se teria repetido entre navegadores e selvagens, ignorantes das armas de fogo,
bordou a imaginao popular circunstncias e acrescentou desenvolvimentos que a histria mais tarde, por mo do operosssimo
Varnhagen, provaria lendrios, como a viagem de Diogo lvares Frana em companhia da gentia Paraguau, sua noiva, o
batismo desta em Paris e o casamento deste casal, sendo padrinhos em ambas as cerimnias Henrique II e a sua mulher, a
clebre Catarina de Mdicis, que deu o seu nome sua extica afilhada. Diogo lvares, dizia a lenda, perfilhada pelos
cronistas, recebeu dos ndios, por causa da arma flamante com que dava a morte, a alcunha de Caramuru. Este nome, que
simplesmente o de um peixe, e que lhe deram por o terem apanhado no mar, a nossa fantasia etnolgica o interpretou de
vrios modos, todos evidentemente falsos. No havia alis em Diogo lvares, nem houve nos seus atos, os predicados de um
heri de epopia, e a mesma lenda no lhos d. Nem o poeta lhos soube emprestar que os relevassem.
Pela sua concepo e execuo era o Caramuru, mais do que o Uraguai, um dos muitos poemas sados da fonte
camoniana. Sem embargo desta falta de originalidade inicial, da mesma forma e estilo potico, e de reminiscncias do
poema de Cames, tem o Caramuru qualidades prprias e estimveis. Como poema nacional leva a primazia ao Uraguai,
apesar da sua inferioridade potica. Alm da inteno manifesta que o gerou como a epopia do descobrimento do Brasil,
o Caramuru mais nosso pela sua ao e teatro dela, o Recncavo, o bero por assim dizer da nacionalidade que se ia criar
aqui, e ainda pelos mltiplos testemunhos do seu interesse e amor do pas. Descreve-o e conta-o Duro j com o desvanecimento
de sua grandeza e excelncia e a previso de seus altos destinos. Estes, porm, se lhe no antolhavam ainda na formao de
uma nacionalidade distinta, mas apenas no concurso decisivo que a sua ptria de nascimento traria restaurao da grandeza
da nao cuja era parte
O Brasil aos lusos confiado
Ser, cumprindo os fins do alto destino,
Instrumento talvez neste hemisfrio
De recobrar no mundo o antigo imprio.
Infelizmente o modo, imposto pelo seu estado de frade, e frade de bons costumes, por que tratou o drama amoroso, e
que serve de ncleo ao seu poema, privou-o de dar-lhe a emoo que nos poderia ainda comover. Gravssima falta de senso
esttico foi o fazer de Diogo lvares e Paraguau, o aventureiro portugus e a ndia sua namorada e depois sua mulher, um
casal de castos amantes. uma situao contra a natureza, contra os fatos, contra a verossimilhana, e mais que tudo
inesttica. No se imagina um rude aventureiro portugus do sculo XVI, ardente e voluptuoso, quais se mostraram na
conquista, na situao singular, e como quer que seja esquerda, descrita por Duro, com uma formosa ndia, moa e amorosa,
em meio desta natureza excitante e dos fceis costumes indgenas, e sem nenhum estorvo social, comportando-se qual se
comportou o seu, isto , como um santo ou um lendrio cavaleiro cristo, e a reservando, num milagre de continncia, para
sua esposa segundo a Santa Madre Igreja e ainda em cima doutrinando-a que nem um missionrio profissional sobre as
excelncias da castidade. No obstante o seu profundo catolicismo, Cames no caiu neste erro, e ao contrrio enalteceu o
seu poema com os conhecidos passos de uma to artstica voluptuosidade.
Como o Uraguai, o Caramuru insinua o americanismo na poesia portuguesa, abre aos ndios e s cousas indgenas
maior espao na brasileira do que o fizera aquele, e funda o primeiro indianismo. No os acompanharam os outros poetas do
grupo. Nestes mesmos, porm, sentimentos e inspiraes mais nativos e mais nativistas do que at a, as suas repetidas
aluses ou referncias a cousas ptrias, a nostalgia dela em alguns deles entremostrada, procedem incontestavelmente de
Baslio da Gama e Duro, mormente do primeiro, do qual h claras impresses em quase todos estes poetas. Duro parece
no os haver tocado tanto. No se encontram reminiscncias, e menos memria deles, em seus poemas. que o seu trazia
ainda muito da velha frmula que o arcadismo desses poetas menosprezava. Sem embargo do propsito patritico de Duro,
e das manifestaes eloqentes do seu brasileirismo, eles, mais artistas que patriotas, lhe preferiram, como ns hoje, Baslio
da Gama, a quem Cludio da Costa, Alvarenga Peixoto e Silva Alvarenga louvaram com admirativa estimao e imitaram,
mostrando sentirem o que de novo, inspirado e alto havia no seu gnio.
A trs dos representantes da pliade mineira, Cludio da Costa, Alvarenga Peixoto e Toms Gonzaga, tem sido atribudo
o poema satrico das Cartas Chilenas, composto em Minas, na segunda metade do sculo XVIII. mais que uma stira, uma
diatribe contra o governador D. Lus da Cunha Menezes e sua administrao. Ele figura como o heri burlesco sob o
pseudnimo de Fanfarro Minsio. Fingem-lhe a ao e sucessos passados em Santiago do Chile, nomes que, conforme j
notara Varnhagen, cabem no verso tanto como Vila Rica e Minas.
Escrito em forma de cartas dirigidas por um tal Critilo e certo Doroteo, ambos poetas, tem este poema, se assim se lhe
pode chamar, real valor literrio. Saram luz pela primeira vez, em edio da revista Minerva Brasiliense, no Rio de
Janeiro, em 1845, em nmero de sete. Deu uma segunda, mais completa do que esta, com treze cartas ou cantos, a Livraria
Laemmert, desta cidade, em 1863. Dirigiu-a Lus Francisco da Veiga, autor conhecido de vrios estimveis trabalhos histricos,
o qual, entre os papis de seu pai, encontrara um manuscrito do poema. Nesse manuscrito, que alis no era um autgrafo,
ocorre a assinatura de Toms Antnio Gonzaga (sic) sob a data: Vila Rica, 9 de fevereiro de 1798, no fim da dedicatria em
prosa, que precede imediatamente o Prlogo igualmente em prosa. O pai do editor literrio, Saturnino da Veiga, ainda
contemporneo daqueles poetas, o acreditava de Gonzaga. O primeiro editor das Cartas Chilenas, o escritor chileno aqui
residente e redator da Minerva Brasiliense, Santiago Nunes Ribeiro, com a sua edio publicara um outro testemunho da
autoria de Gonzaga. o de Francisco das Chagas Ribeiro, abonado por Nunes Ribeiro como ancio entusiasta da literatura
brasileira, depositrio de muitos dos seus tesouros e cujo testemunho, se no irrecusvel, muito poderoso e digno de
respeito. (Apud Cartas Chilenas, edio Laemmert, introduo de L. F. da Veiga). Francisco das Chagas Ribeiro, sobre o
qual se me no deparou outra informao, ps no seu manuscrito esta declarao: Tenho motivos para certificar que o Dr.
Toms Antnio Gonzaga o autor das Cartas Chilenas. E assinou.
Estas duas atribuies, por sujeitos ainda contemporneos do poeta, e ao que parece respeitveis, bastariam, em boa
crtica, para dirimir a questo, se no houvesse contra elas valiosos testemunhos ou documentos.
Depois de estudo mais atento das Cartas, eu, que de primeiro no acreditava fossem de Gonzaga, pendo hoje a crer que
dele so, e no vejo razo entre as muitas dadas, que prevalea contra a atribuio que de sua autoria lhe fazem Saturnino da
Veiga e Chagas Ribeiro. Ao contrrio, militam a favor do seu testemunho os seguintes motivos: a) pelo seu valor literrio e
potico (que muito maior do que se tem dito) no podem essas Cartas ser seno de algum dos poetas conhecidos que
viviam em Minas na poca da sua composio, no sendo provvel a existncia de nenhum outro capaz de as escrever e que
ficasse de todo incgnito; b) esse poeta devia reunir duas condies, manifestas no contexto do poema: ser portugus e ser
inimigo rancoroso do governador satirizado. Que o autor das Cartas Chilenas portugus de naturalidade mostram-no os
versos 5 e 15 da pg. 149 da edio Laemmert, em que positivamente alude sua vinda da Europa e ao seu nascimento em
Portugal. Revela-se ainda portugus nas suas vrias aluses todas pouco simpticas terra e s suas cousas, e em que,
atacando acrimoniosamente o governador e a sua administrao, no malsina jamais do regime ou do governo colonial.
Rev-se ainda o reinol, branco estreme e de categoria fina, na sua manifesta antipatia aos mulatos, a quem no perde ensejo
de apodar (pgs. 106, 203, 312 e passim). A sua linguagem nimiamente castia, de boleio de frase e vocabulrio muito de
Portugal, e outros sinais idiomticos que uma anlise mida revelaria, traem tambm o portugus. Ora, como o nico
portugus do grupo era Gonzaga, a ele se deve atribuir o poema, onde alis se encontram pensamentos, imagens e expresses
que coincidem com as da Marlia de Dirceu. (Cp. pg. 100: Que importa que os acuses... com a lira XXXVI da 1 parte).
As Cartas so evidentemente de um inimigo acrrimo do governador, a quem no poupam as mais terrveis acusaes
e convcios. Ora, dos trs poetas que somente podiam ser os seus autores, e nicos a quem tm sido atribudas, s Gonzaga
era sabidamente inimigo dele. Alvarenga Peixoto, ao contrrio, um favorecido, um protegido de Cunha Menezes, que o fez
coronel, honraria que o desvaneceu mais que o seu ttulo de doutor, e lhe concedeu adiasse o pagamento de certa dvida
Fazenda Real.
83
Cludio era personagem quase oficial, ligado ao governo da Capitania, que por duas vezes (1762-1765 e 1769-1773)
secretariara, era j setuagenrio, idade menos apropriada s violncias da stira. Gonzaga, ao contrrio, como ouvidor da
comarca e deputado Junta de Fazenda, achou-se em conflito com aquele governador, quando foi da arrematao do
Contrato das entradas no trinio de 785 a 787, em que Cunha Menezes de sua prpria particular autoridade, segundo o
Ministro do Reino, Martinho de Melo e Castro (V. Rev. do Inst., VI, 54 e seg.) e contra o voto fundamentado de Gonzaga,
mandou adjudicar ao seu protegido Jos Pereira Marques, o Marquesio das Cartas Chilenas, aquele contrato. Foi esta
questo do contrato das entradas, em que, talvez, tanto o governador como o ouvidor estavam empenhados por martes
diversas, que criou a recproca hostilidade de Cunha Menezes e Gonzaga, e principalmente motivou as Cartas Chilenas, e
que fez o poeta tom-lo entre dentes, segundo a sua expresso, muito portuguesa, do incio da 4. E a 8 inteiramente
consagrada prevaricao do governador em contratos e despachos, de que o poeta o acusa e malsina quase com as mesmas
razes e palavras que a Gonzaga ouvidor atribuiu o Ministro Melo e Castro no documento acima citado. Repetirei que
notvel que, maldizendo este poema to afrontosamente do governador e da sua roda, jamais deixa perceber o menor
sentimento de desgosto da metrpole e do regime colonial. Um portugus qualquer poderia alis deix-lo transparecer; no
o podia Gonzaga, que, como magistrado reinol e vogal da Junta da Real Fazenda, fazia parte conspcua do governo da
Capitania. No obstante esta sua cautela, s a sua autoria conhecida, ou desconfiada, de to terrvel libelo contra um recente
governador e vrios funcionrios seus parciais explica que ele fosse, contra a sua manifesta inocncia, comprometido numa
conspirao, se conspirao houve, de que tudo os seus sentimentos de portugus, a sua lealdade de funcionrio, o seu
interesse pessoal e a sua situao de noivo amorosssimo forosamente o afastava. O argumento de que o poeta sentimental
e mimoso de Marlia no podia escrever aquelas violentas Cartas, de virulenta stira, roando s vezes pela obscenidade,
de uma pobre psicologia, contradita por mil exemplos da histria literria.
84
Todos os poetas deste grupo, o que talvez se no reproduza mais na histria da nossa literatura com qualquer dos grupos
literrios que nela possamos distinguir, alm do estro, tinham a mais completa cultura literria do tempo. Todos fizeram com
aproveitamento as suas humanidades, todos, exceto Baslio da Gama, tinham o seu curso universitrio, eram doutores em
leis ou cnones. Todos parecem a par do saber da sua poca, ao menos do que, sem estudos especiais, se adquire com aquela
cultura. Os brasileiros do grupo todos saram do seu pas, estanciaram largos anos em Portugal e alguns, como Duro e
Baslio, estiveram em Espanha e Itlia. Liam os enciclopedistas franceses. Quase todos, alm do latim, sabiam o grego, e de
ambas as lnguas versavam os poetas no original. Duro, afora essas duas lnguas clssicas, sabia o hebraico. A todos eram
familiares os escritores antigos, particularmente os poetas, e os principais escritores e poetas modernos, italianos, franceses
e espanhis, e ainda alguns ingleses. Cludio da Costa poetava em italiano, acaso no menos excelentemente que em portugus,
e o podia fazer ainda em castelhano e francs; traduziu Voltaire e cantou a Milton. Baslio da Gama tambm traduziu
Voltaire.
Conheceram-se, trataram-se, foram camaradas ou amigos quase todos. Ligou-os o sentimento da ptria comum, o mesmo
amor s letras, a irmandade do estro, e mais, o mesmo esprito liberal, comum a todos e manifesto na obra de todos. Silva
Alvarenga compreendia e admirava a Baslio da Gama e o cantou com entusiasmo, pode dizer-se patriotismo. Cludio da
Costa, com igual entusiasmo, consagrou uma ode aos rcades seus patrcios e endereou poemas a Alvarenga Peixoto.
Serviu tambm de centro no s a este e a Gonzaga, mas a outros menores que poetavam em Vila Rica, que todos, segundo
a verdica tradio, lhe submetiam ao saber e experincia os seus versos. Gonzaga alude carinhosamente em suas liras a
Cludio e a Alvarenga Peixoto, seus ntimos. Naquela poca de acesa briga de poetas, se no sabe que hajam os nossos entre
si brigado.
Todas essas coincidncias e circunstncias no foram certamente alheias constituio deste grupo de poetas e feio
e distino que os assinalam na nossa literatura e ainda na poesia portuguesa. Para alguns deles ao menos, a sua justa
celebridade foi grandemente ajudada, sem quebra alis no seu merecimento, pelos desgraados sucessos em que foram
envolvidos. Aureolando-os de martrio, no serviriam pouco, e justo que assim fosse, sua glria de poetas.
Captulo VII
OS PREDECESSORES DO ROMANTISMO
I OS POETAS
VERDADEIRAMENTE DO SCULO XIX que podemos datar a existncia de uma literatura brasileira, tanto quanto
pode existir literatura sem lngua prpria.
Se a Independncia do Brasil oficialmente comea em 1822, de fato a sua autonomia, e at hegemonia no sistema
poltico portugus, data de 1808, quando, emigrando para c, a dinastia portuguesa, na realidade, fez do Rio de Janeiro a
capital da monarquia. Virtualmente o Imprio do Brasil estava criado desde que o prncipe regente, D. Joo, realizando um
velho, intermitente mas nunca desvanecido pensamento poltico portugus, proclamou que o seu protesto contra a violncia
napolenica se erguia do seio de um novo imprio.
Ardores e alentos novos criou ento o povo que h trs sculos se vinha aqui formando e cuja conscincia nacional,
desde o sculo XVII, com as guerras holandesas, entrara a despontar. O fato do Ipiranga, precedido da singular situao
resultante da estada aqui da famlia real e conseqente transformao da colnia em reino unido ao de Portugal, perfizera
essa conscincia e lhe influra a vontade de existir com a vida distinta que faz as naes. Em tais momentos, como em todos
os partos, so infalveis as roturas. Deu-se aqui o rompimento entre brasileiros e portugueses, pode dizer-se o levante de uns
contra outros, fenmeno necessrio da separao dos dois povos. Para complet-la devia esse sentimento forosamente
interessar a todos aos aspectos da vida do brasileiro, at a comum com a do portugus, e as vrias feies do seu pensamento
e sentimento. No foi maior a rotura porque o fato poltico que a produziu foi antes uma transao que uma revoluo e por
se haver passado justamente no momento em que a metrpole se afeioava ao mesmo modelo poltico adotado pela colnia.
Em todo caso, foi suficiente para diferenar desde ento como entidades polticas distintas portugueses e brasileiros.
Exageravam estes a ruindade da administrao colonial, aumentavam-lhe com as mais deslavadas hiprboles de um
patriotismo exaltado os vexames e as incapacidades. Aos seus olhos, com a importncia de metrpole, perdia tambm
Portugal o prestgio moral e mental, de criador, educador e guia dessa sociedade que aqui se emancipava.
Era precisamente a hora em que na Europa, na verdadeira Europa, em Alemanha, em Inglaterra, em Frana, manifestavam-
se claramente j os sinais da renovao literria que iria interessar todos os aspectos do pensamento e ainda do sentimento
europeu: o Romantismo. Quaisquer que hajam sido os seus motivos e caractersticos, sejam quais forem as definies que
comporte (e inmeras lhe tem sido dadas), o Romantismo foi sobretudo um movimento de liberdade espiritual, primeiro, se
lhe remontarmos s ltimas origens, filosfica, literria e artstica depois, e ainda social e poltica. Em arte e literatura seu
objetivo foi fazer algo diferente do passado e do existente, e at contra ambos. Excedeu o seu propsito, e em todos os ramos
de atividade mental, at nas cincias, foi uma reao contra o esprito clssico, que, embora desnaturado, ainda dominava
em todos.
Iniciou-se na Alemanha pelos ltimos vinte e cinco anos do sculo XVIII. Reinava ento em Portugal o pseudo-classicismo
da Arcdia. No Brasil cantavam os poetas mineiros, alguns deles romnticos por antecipao, mas em suma era o mesmo
Arcadismo o tom dominante nas letras. Da Alemanha irradiou por Inglaterra e Frana. Nestes pases as suas primeiras
manifestaes considerveis so j do princpio do sculo XIX. S quase vinte e cinco anos mais tarde comearia a sua
influncia a se fazer sentir em Portugal, onde as suas ainda indecisas manifestaes datam exatamente do princpio do
segundo quartel do sculo. Com a sua terceira dcada entra ele no Brasil. No foi, entretanto, de Portugal que o recebemos,
seno de Frana, que ia ser e permanecer a principal fornecedora de idias, de sentimentos e at de estilo nossa literatura.
Mas entre o fim do renascimento potico aqui operado (dentro alis s de si mesmo e sem irradiao notvel) pela
pliade mineira e as primeiras manifestaes do nosso Romantismo, isto , entre o ltimo decnio do sculo XVIII e o
terceiro do XIX, d-se na poesia brasileira uma paralisao do movimento que parecia prenunciar-lhe a autonomia. Pode
mesmo dizer-se que se d um regresso ao estafado Arcadismo portugus. Nunca tivera o Brasil tantos poetas, se a esses
versejadores se pode atribuir o epteto. Relativamente aos progressos que j fizramos, nunca os tivera to ruins, to inspidos
e incolores.
Nesta fase arrolam os historiadores ou simples noticiadores da nossa literatura mais de vinte. Na v presuno de lhes
emprestarem valor, pois no crvel que efetivamente lho encontrem, sobre nome-los adjetivam-nos com qualificativos
que a leitura dos seus poemas no s desabona mas prejudica.
So, calando ainda bastantes nomes, e na ordem cronolgica, Francisco de Melo Franco (1757-1823), Antnio Pereira
de Sousa Caldas (1762-1814), Jos Bonifcio de Andrada e Silva (1763-1838), Silvrio Ribeiro de Carvalho (1746-1843?),
Jos Eli Otni (1764-1851), Fr. Francisco de S. Carlos (1768-1829), Francisco Vilela Barbosa (marqus de Paranagu)
(1769-1846), Lus Paulino Pinto da Frana (1771-1824), Paulo Jos de Melo Azevedo e Brito (1779-1848), Janurio da
Cunha Barbosa (1780-1846), Domingos Borges de Barros (visconde de Pedra Branca) (1780-1855), Joo Gualberto Ferreira
dos Santos Reis (1787-185?), Manoel Alves Branco (visconde de Caravelas) (1797-1854), Joaquim Jos da Silva (?),
Ladislau dos Santos Titara (1802-1861), lvaro Teixeira de Macedo (1807-1849?), Antnio Augusto de Queiroga (1812-
1855), Francisco Bernardino Ribeiro (1815-1837), Joaquim Jos Lisboa (?).
A mxima parte destes compridos nomes no despertar na memria do leitor, ainda ilustrado, reminiscncia literria
alguma. como se lhe citassem poetas chineses. Os que no morreram de todo, de morte alis merecidssima, vivem apenas
numa vaga e indefinida tradio, mantida pelos professores de literatura. Algum raro amador das letras ptrias, mais por
curiosidade que por gozo literrio, ler ainda, ou melhor ter lido, Jos Bonifcio, Eli Otni, Fr. Francisco de S. Carlos,
Sousa Caldas, talvez Pedra Branca. Os outros nem mais essa curiosidade despertam. Tais como Pinto de Frana e algum
outro, que, idos moos e at crianas para Portugal, l se criaram, educaram e deixaram ficar, so de educao e sentimento
portugueses, e portugus o seu estro e estilo potico. Custa a reconhecer nesta lista um verdadeiro poeta. Na grande
maioria, so apenas versejadores de mais ou menos engenho e arte, os melhores com a erudio potica e literria comum
aos doutos do tempo, com a qual, a custo e raro, conseguem realar a penria do seu estro, sem disfarar entretanto a
trivialidade do seu estilo potico, repetio insulsa e fraco arremedo do da metrpole, ento igualmente miservel. J
entrado o sculo XIX, versejavam copiosamente odes, sonetos, epitalmios, cantatas, glosas, liras, epigramas, ditirambos,
metamorfoses, epstolas, enfim toda a farta e extravagante nomenclatura dos sculos passados. Versejavam sem inspirao
nem sentimento, artificialmente, por ofcio ou presuno. Repetiam sem o talento de os renovar os tropos e imagens da
mitologia clssica e as formas estafadas de uma potica anacrnica e obsoleta. Natividade Saldanha, com a falsa eloqncia
que de bom grado confundimos com poesia, celebra os feitos e vultos patrcios com reminiscncia, eptetos, figuras e
apelidos clssicos e pago. a fatigante nfase do ditirambo histrico, de que fala Morley, aqui vulgarssima. A fecundidade
potica de alguns assombrosa. Ladislau Titara, de 1827 a 1852, publicou oito tomos em formato de 8. de Obras poticas,
somando 1819 pginas de versos, e o seu irmo Gualberto, em seis anos, quatro tomos do mesmo formato. Que exemplo a
futuros escritores!
imitao do seu Horcio, que sabem talvez de cor, mas cujo ntimo sentimento mal alcanam, e de cujo talento andam
afastadssimos, e seguindo velhos hbitos arraigados dos poetas portugueses, so-lhes motivos de inspirao fatos e datas de
pessoas gradas, a cuja benevolncia armam com lisonjas metrificadas, elogios poticos, epitalmios por casamentos,
nascimentos e quejandos.
Sousa Caldas certamente o melhor deles todos, o mais vigoroso lrico dos predecessores imediatos do Romantismo.
Ele fez um trabalho considervel de erudito e poeta traduzindo em vernculo os Salmos atribudos a Davi.
85
Algumas dessas
tradues no so em verdade indignas dos louvores que de praxe fazer-lhes. No teria, porm, idia muito exata da poesia
hebraica quem por elas houvesse de julg-la. Mas, ainda excelente, perderia o lavor do nosso patrcio muito do seu valor
pelo mesmo desinteresse com que hoje a maioria dos leitores se dispensam de ler tradues dos poemas de pura inveno
religiosa e de uso devoto. Conquanto se digam catlicos, no certamente neles que procuram nem acham a emoo esttica
de que acaso sintam necessidade. Os Salmos de Davi, traduzidos pelo padre Sousa Caldas para lngua falada por muitos
milhes de catlicos, ficaram na primeira e nica edio. Publicados h noventa anos, no so ainda um livro raro. Escreveu
tambm Sousa Caldas Poesias sacras e profanas, impressas no tomo II das Obras poticas. Padecem as primeiras do
mesmo percalo dos Salmos, pois no mais, se alguma vez foi, sob as formas e maneiras da poesia profana, odes, cantatas
e outras tais que buscamos a edificao religiosa ou a satisfao esttica para a nossa piedade. De resto, em nossa gente o
sentimento religioso no foi jamais tal que comportasse a espcie de deleite proveniente da leitura e meditao dos poemas
bblicos versificados em vulgar. Mais devotos que religiosos, preferimos sempre as aparncias e exteriorizaes da religio
sob a forma oral dos sermes ou visual e sensitiva das pompas cultuais.
Como poeta profano, Sousa Caldas se no extrema dos portugueses seus contemporneos, se bem valha mais que
qualquer dos seus patrcios coevos. E, salvo os mineiros, mais que todos os poetas seus antecessores. mais correto e mais
rico versejador que estes, e sobretudo mais vernculo. Sob o aspecto da lngua pode, entre os brasileiros, passar por distinto.
As suas produes originais consideradas melhores so a cantata Pigmalio e a ode Ao Homem Selvagem. quela infelizmente
se depara na cantata Dido, de Garo, um desfavorvel confronto. A ode Ao homem selvagem, essa realmente formoso
transunto das idias de Rousseau, em sustentao das quais foi escrita. Os seis sonetos que nos deixou Sousa Caldas, sem
distino alguma, antes lhe desabonam que lhe acreditam o estro.
imitao das Lettres Persannes, de Montesquieu, Sousa Caldas escrevera uma obra em prosa de filosofia prtica e
moral em forma epistolar. Dela apenas nos restam duas cartas que no bastam para autorizar um juzo do seu trabalho.
Revela-se contudo a escritor fcil, castio e, para o seu tempo, meio e estado, esprito liberal e tolerante. Versam justamente
essas duas cartas sobre a atitude da Igreja perante os escritos contrrios sua moral e dogmas, o que o leva a considerar o
tema geral geral da livre expresso do pensamento. F-lo Sousa Caldas com aquele latitudinarismo que foi sempre a marca
do ultramontanismo franco-italiano.
86
No pode divergir muito o juzo que devemos fazer de Jos Eli Otni, que, como Sousa Caldas, foi poeta sacro e
profano. Mas o foi com menos talento, e principalmente, com menos vigor. As suas tradues dos pseudos Provrbios de
Salomo e do Livro de J, feitos do latim da Vulgata, so antes parfrases que tradues. No h achar-lhes o sabor que do
original parecem guardar algumas tradues diretamente feitas em prosa ou verso. As poesias originais de Otni no destoam
da comum mediocridade da poesia sua contempornea.
87
Jos Eli Otni nasceu na cidade do Serro, em Minas Gerais, em
1764. Depois dos primeiros estudos em sua terra, esteve na Itlia e em Portugal, onde ainda voltou duas vezes em outras
pocas de sua vida, vindo a falecer no Rio de Janeiro, num emprego pblico subalterno, em 1851.
86
V. essas cartas na Ver. Do Inst., III, 144 e 216.
87
J, traduzido em verso por Jos Eli Otni, etc. Rio de Janeiro, 1852, in 8. gr., XXXIX, 42, 104 pgs. longa a lista de produes de Eli Otni,
comeadas a publicar em Lisboa desde 1801, Cf. Inocncia, Dic. Bibliogrfico, IV, 309 e seg.
Um frade franciscano fluminense, Fr. Francisco de S. Carlos, comps pela mesma poca, em honra da Santa Virgem,
segundo reza o ttulo, um poema, A Assuno, que uma das mais insulsas e aborridas produes da nossa poesia. Em oito
estirados cantos de versos decasslabos, rimados uniformemente em parelha, monotonia que aumentada pela pobreza das
rimas e geral mesquinheza da forma, descreve o poeta a Assuno da Virgem desde a ressurreio do seu tmulo, em feso,
at sua chegada ao Paraso, atravs de vrias peripcias maravilhosas por ele imaginadas. O poema do princpio ao fim
prosaico, sem se lhe poder tirar algum episdio ou trecho realmente belo, a inventiva pobre, balda de novidades ou grandeza,
a lngua mesquinha e vulgar. Entretanto crticos houve que o acharam digno de rivalizar com o Paraso Perdido, de Milton,
e a Messada, de Klopstock, e no duvidaram de qualific-lo de poema eminentemente nacional e de consider-lo como
um dos monumentos que nos legou a gerao passada (do princpio do sculo XIX) para a formao da nossa literatura.
Chamar-lhe poema eminentemente nacional, porque introduziu nas suas descries frutas, plantas e animais do Brasil e
alguns aspectos da natureza brasileira, equivocar-se sobre o sentido da expresso. O vezo de cantar as cousas da terra, de
nome-las, cit-las ou descrev-las, s vezes comovidamente, mas tambm s vezes sem emoo alguma, era velho na nossa
poesia. Vinha, conforme mostramos, dos fins do sculo XVI; praticou-o Duro no Caramuru, cultivaram-no alguns dos
poetas mineiros e outros. Tal sestro revia o despontar do sentimento nativista e o seu sucessivo desenvolvimento. Ao tempo
de Fr. Francisco de S. Carlos era j to comum o emprego desse recurso potico, que nada tinha de particularmente notvel.
Tanto mais que o usou o franciscano poeta sem a menor distino. Apenas continuava uma tradio criada, da qual h
exemplos noutros poetas seus contemporneos deste infausto perodo das nossas letras, como na Discrio curiosa, do ruim
poeta mineiro Joaquim Jos Lisboa. E como a continuava sem a relevar por quaisquer virtudes de fundo ou de forma,
fazendo apenas nomenclaturas ridas, no sabendo tirar desse expediente nenhum partido esttico, no lhe pode servir isso
de recomendao ao seu inspido poema. O que era nos seus predecessores novidade interessante, reveladora de um sentimento,
uma emoo, uma inspirao nova na poesia portuguesa, era nele simples repetio, no levantada por algum talento superior
de expresso.
Destas duas dzias de poetas menores, o nico, alm de Sousa Caldas, que porventura se destaca por uma inspirao
mais sincera e dons de expresso que o extremam, Jos Bonifcio de Andrada e Silva, o Jos Bonifcio, principal cooperador
da nossa independncia nacional. As circunstncias que o fizeram e em que foi poeta, lhe explicam o destaque.
Jos Bonifcio nasceu em Santos, So Paulo, aos 13 de junho de 1763. Feitos os seus primeiros estudos no Brasil e
completos os seus dezoito anos, passou-se a Portugal, e ali, em Coimbra, se formou em filosofia e leis. Fundada em 1774,
pelo duque de Lafes, a Academia Real das Cincias de Lisboa, foi, com o patrocnio daquele magnate, seu membro e
depois secretrio. Ao mesmo apoio deveu a comisso especial de estudar nos principais centros cientficos europeus cincias
naturais e metalurgia. Dez anos empregou nestes estudos, percorrendo os principais pases da Europa, onde os podia com
mais proveito fazer. De volta a Portugal, foi nomeado intendente geral das minas, com a graduao de desembargador,
recebendo tambm o grau de doutor em cincias naturais e o encargo de inaugurar na Universidade de Coimbra uma cadeira
de metalurgia e geognosia, a qual regeu at invaso francesa de 1807. Criado, por motivo desta invaso, um batalho
acadmico, foi dele Jos Bonifcio major e logo depois tenente-coronel. Mais tarde serviu o cargo de intendente de polcia
do Porto. Em 1819 retirou-se, com licena, para o Brasil. Vivia em S. Paulo, sua provncia natal, quando sobrevieram os
acontecimentos de 1820 e 1821 e comearam no Rio de Janeiro os primeiros movimentos da Independncia. Estes despertaram-
lhe o sentimento nacional, acaso adormecido por cerca de quarenta anos de existncia portuguesa. Fez-se parte conspcua
nesse movimento, do qual foi, com D. Pedro, o principal protagonista. Como ministro e conselheiro muito ouvido do recm
fundado imprio e deputado sua assemblia constituinte, teve um grande papel nessa primeira fase da construo do pas
sob o novo regime, sendo, pelos seus talentos e capacidades, a primeira figura dela. A excessiva energia que, como primeiro-
ministro, empregou contra os seus oposicionistas, ia comprometendo a causa que to bem servira. Em todo caso motivou a
excitao dos nimos que produziu os sucessos donde resultou a demisso de Jos Bonifcio e o seu exlio.
Era Jos Bonifcio uma natureza pessoalssima, de ndole autoritria e violenta. Como todos os polticos do seu
temperamento, tanto era desptico no poder como abominava o despotismo em no sendo ele o dspota. Nimiamente
orgulhoso e demasiado convencido da sua superioridade, alis real, no meio poltico donde o expulsavam, doeu-lhe
profundamente o exlio a que o constrangiam os seus adversrios, desterrando-o da ptria cuja independncia, com mais
presuno que razo, exclusivamente se atribua. Encheu-se de despeito e raiva contra o soberano, a quem com mau gosto
reprochou de ingrato, contra os polticos seus adversrios, e at contra a ptria. Foi neste estado dalma de homem que se cr
indispensvel e a quem dispensam, de homem soberbo de si e humilhado pelos mesmos a quem se julgava proeminente e
tinha por seus devedores, que repontou em Jos Bonifcio, aos sessenta e dois anos, o estro potico de que j dera amostras
quando estabelecido em Portugal. Facit indignatio versum. Em Bordus, em cujos arredores se fixara durante o exlio,
publicou o volume das Poesias avulsas, de Amrico Elsio, em 1825. A sua forte e no comum cultura literria e cientfica,
e grandes experincias da vida, fortificaram-lhe o engenho potico. A paixo real fez o resto. Era um apaixonado e estava
apaixonado. Aquela deu-lhe aos versos, no obstante o ressaibo arcdico que se lhe descobre no estilo, no feitio e at na
alcunha com que se disfarou o autor, uma vida, uma emoo, uma sinceridade como se no encontra em nenhum dos poetas
seus patrcios e contemporneos, e que fazem dele acaso o nico que tem personalidade e que, por isso, possamos ouvir
ainda hoje. Ao contrrio de toda a poesia do tempo, a sua, ao menos a inspirada da sua situao atual, pessoal, vibrante das
suas paixes polticas e patriticas e dos seus mesmos sentimentos egostas, do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade
malferida, e que ele no procura dissimular. Soam nelas queixas, reproches, imprecaes e brados pela liberdade que ele
prprio, de essncia desptico, recusara aos seus antagonistas quando no poder. E mais, sem embargo de queixas e exprobraes
que chegam negao da ptria,
Morrerei no desterro em terra estranha,
Que no Brasil s vis escravos medram:
Para mim o Brasil no mais ptria,
Pois faltou justia.
Vivssimo amor dela e fervorosos anseios por ela. Ainda quando, por distrair-se das suas angstias de repblico despeitado,
recorre aos prazeres reais ou imaginrios de que Baco era o patrono clssico, o pensamento saudoso e amargurado se lhe
volve ptria distante:
Em brdio festivo
Mil copos retinam;
Que a ns no nos minam
Remorsos cruis;
Em jbilo vivo
Juremos constantes
De ser como dantes
ptria fiis
.........................................
Gritemos unidos
Em santa amizade
Salve, liberdade!
E viva o Brasil!
Sim, cessem gemidos,
Que a ptria adorada
Veremos vingada
Do bando servil.
A sua forte cultura, desempeada do caturrismo portugus por longo comrcio com a melhor da Europa, e aliviada do
aparelho escolstico e clssico pela sua paixo, deu-lhe expresso potica mais calor, mais vida e movimento do que tinha
a do tempo. H versos seus que, pela liberdade e personalismo da sua inspirao, pelo subjetivismo dos sentimentos,
exuberncia usual da expresso e despejo de apetites, como que aventam j o Romantismo. A sua ode A Natureza, no seu
sincretismo do pseudoclssico com o que se chamava romntico nas terras por onde Jos Bonifcio peregrinou, exemplo
e testemunho de que nele a nova corrente literria comeava, ainda a despeito seu, a influir. Lembre-se que Jos Bonifcio
traduziu para nova lngua, em verso, o pseudo Ossian, um dos dolos do Romantismo.
Manifestaes patriticas como as de Jos Bonifcio, mas sem a vibrao das suas, so alis comuns na poesia desta
fase. Raro ser dos citados o poeta em que se no deparem. Ainda portugueses pela retrica, so j brasileiros pelo corao.
Vimos como Caldas Barbosa, predecessor imediato desses poetas, no obstante as condies em que se lhe desenvolveu o
engenho e em que poetou, conservou um ntimo sentimento da sua terra e espontaneamente o exprimia. O poema de Fr.
Francisco de S. Carlos superambunda de manifestaes do mesmo sentimento. Joaquim Lisboa consagra terra natal uma
descrio em verso, da qual alis s se salva a inteno. Bartolomeu Cordovil celebra em seus poemas as cousas e melhorias
do seu Gois. Natividade Saldanha, esse mais que todos, canta as glrias do seu Pernambuco e os seus heris, comparando-
os aos da poesia e histria clssicas. De envolta, celebrando o Brasil, proclama aos brasileiros:
jovens brasileiros,
Descendentes de heris, heris vs mesmos
Pois a raa de heris no degenera,
Eis o vosso modelo:
O valor paternal em vs reviva
A ptria que habitais comprou seu sangue,
Que em vossas veias pulsa.
Imitai-os, porque eles no sepulcro
Vos chamem com prazer seus caros filhos.
Vilela Barbosa festeja a primavera do seu ptrio Brasil, retoricamente ainda, mas revendo o sentimento, desajudado
de engenho, que o inspirava. O mesmo exato dizer do Cnego Janurio da Cunha Barbosa, cujo talento era tambm muito
inferior s suas boas intenes e cuja obra, em todos os gneros medocre, apenas tem o mrito destas. A poesia brasileira
deve-lhe entretanto um inestimvel servio, a compilao e publicao do Parnaso brasileiro,
88
com que salvou de total
perda grande nmero de produes dos nossos poetas da poca colonial.
A atividade destes poetas toda dos ltimos anos do sculo XVIII e dos trinta primeiros do XIX. Muitos deles viram as
suas obras publicadas, j em volume, j em colees ou peridicos, na mesma poca em que as compuseram. As de outros
correram manuscritas ou impressas em folhas avulsas. Afora a tendncia assinalada de celebrar a terra, com um mais vivo
sentimento do que se pode chamar a sua capacidade poltica, com que continuavam a inspirao nativista de desde o incio
da nossa poesia, no h nesta fase nada que a distinga da ruim poesia portuguesa contempornea, ou que a aproxime do que
nesta havia de melhor. Excetuados Jos Bonifcio e Sousa Caldas, cuja obra mais slida e revela mais talento, os mais so
de fato insignificantes. Em Jos Bonifcio s tem alis valor os poemas inspirados da sua paixo de repblico fundamente
ferido na sua soberba, ou em que ele mais misturou essa paixo. O resto se no sobreleva mediocridade comum. de um
rcade imbudo de filintismo. Predecessores do Romantismo, no lhe so os precursores, pois bem pouco o que se lhes
possa descobrir pronunciando o movimento que aqui se ia em breve iniciar, e do qual alguns destes poetas foram
contemporneos, inadvertidos. No souberam sequer continuar os mineiros, dos quais no h neles outro sinal que o apontado,
nem preceder os romnticos. Ocupam apenas um vazio, a fase entre os dois movimentos poticos, sem o preencherem. E
tomados em conjunto, no se lhes sente na poesia impresso ou influxo da evoluo que desde a chegada da famlia real
portuguesa se operava aqui, nem mesmo da independncia cujos contemporneos e testemunhas muitos deles foram. rcades
de decadncia, mostraram-se verdadeiramente impassveis, muito antes que o desinteligente parnasianismo houvesse importado
de Paris a moda de o ser de caso pensado.
II PROSADORES
Sob o aspecto literrio, to mesquinha e despicienda como a poesia foi a prosa da fase que precedeu imediatamente o
Romantismo. Nenhuma grande ou sequer notvel obra literria produziu. Foi, porm, como a poesia, frtil em escrevedores
de assunto que s remota e subsidiariamente podero dizer com a literatura: economia poltica e social, direito pblico e
administrativo, questes polticas, comrcio e finanas. A histria, que tambm fizeram, a trataram em mofino estilo, e
mesquinhamente, moda de anais e crnicas. O nmero relativamente grande dos que destes assuntos e de outros congneres
escreveram e a cpia dos escritos publicados neste perodo, so um documento precioso da nossa vida intelectual e da nossa
cultura nessa poca. Se os poetas, com raras excees, ficaram alheios s circunstncias precursoras da independncia, os
prosadores, ao contrrio, mostram-se influenciados e interessados pelo que aqui se passava, e, de boa vontade e nimo puro,
lhe trouxeram ao seu concurso. Toda a sua obra, mal construda sob o aspecto literrio, com pouco ou sem algum mrito de
fundo ou forma que a fizesse sobreviver ao seu tempo, ou que lhe desse nele qualquer proeminncia literria, obra de
publicistas e de jornalistas de ocasio, apontando a fins imediatamente prticos, serviu ou procurou servir constituio de
nossa nao, a qual j tinha como certa e definitiva. No se pode todavia incorporar ao nosso patrimnio propriamente
literrio.
Uma das manifestaes espirituais mais interessantes do sentimento pblico brasileiro no momento que precedeu a
independncia o aparecimento, em 1813, no Rio de Janeiro, do Patriota, jornal literrio, poltico, mercantil, etc. Fundou-
o e dirigiu, e publicou-o na Impresso Rgia, criada em 1808 pelo prncipe regente, Manoel Ferreira de Arajo Guimares,
polgrafo baiano, formado em Portugal, matemtico, engenheiro, economista, poeta e jornalista, homem, como tantos outros
naquele fecundo perodo da nossa formao nacional, cheio de boa vontade. Como com muita razo reparava outro publicista
nacional, Hiplito Jos da Costa Pereira, o famoso redator do clebre Correio Brasiliense, de Londres, que s publicao
de um jornal com o nome de Patriota era um sinal dos tempos. H dez anos, escrevia ele no seu Correio, em 1813, estando
a Corte em Lisboa, que ningum se atreveria a dar a um jornal o nome de Patriota, e a Henrada, de Voltaire, estava no
nmero dos livros que se no podiam ler sem correr o risco de passar por ateu, pelo menos por jacobino. E temos agora em
to curto espao j se assenta que o povo do Brasil pode ler a Henrada, de Voltaire, e pode ter um jornal com o ttulo de
Patriota, termo que estava proscrito como um dos que tinham o cunho revolucionrio.
89
Nos dois anos completos que
durou, foi o Patriota um centro de convergncia do trabalho mental brasileiro, particularmente aplicado ao estudo das
cousas do pas, e nele colaboraram, com alguns dos poetas citados, Pedra Branca, Silva Alvarenga, Jos Bonifcio e todos
os homens doutos do tempo que deixaram qualquer sinal de si nas nossas letras, marqus de Maric, Camilo Martins Lage,
Pedro Francisco Xavier de Brito, Silvestre Pinheiro Ferreira, Jos Saturnino da Costa Pereira, etc. O Brasil e tudo quanto lhe
interessava o conhecimento e o progresso eram os seus assuntos prediletos.
Jos de Sousa de Azevedo Pizarro e Arajo (1753-1830), Jos da Silva Lisboa (visconde de Cairu) (1756-1835),
Baltazar da Silva Lisboa (1761-1840), Lus Gonalves dos Santos (1764-1844), Mariano Jos Pereira da Fonseca (marqus
de Maric) (1773-1848), Jos Feliciano Fernandes Pinheiro (visconde de S. Leopoldo) (1774-1847), alm de somenos
nomes com que facilmente se alongaria esta lista, formam como prosistas o exato pendant dos poetas nomeados seus
contemporneos. Tem, porm, sobre estes a superioridade de uma obra que ao tempo foi mais til e serviu melhor causa da
nao e particularmente da sua cultura. A de alguns deles tem ainda o mrito de haverem iniciado qualquer cousa na cultura
ou nas letras brasileiras: assim a de Cairu estria aqui os estudos econmicos e de direito pblico e mercantil, a de Maric a
literatura moralista. o que lhes d direito ao menos meno dos seus nomes na histria da nossa literatura. Com exceo
de um ou outro, no so propriamente escritores com idias e dons de expresso literria, ou que representem o esprito ou
o sentimento do seu povo, nem as suas obras tm qualidades que nos permitam l-las sem fastio e displicncia e pelas quais
se incorporassem no patrimnio das nossas boas letras. So, porm, expoentes ingnuos e expositores sinceros da cultura da
sua poca no Brasil, seus promotores e fautores aqui. Tais so principalmente o visconde de Cairu, o marqus de Maric, o
visconde de S. Leopoldo e o mesmo Aires de Casal, se no fora portugus.
Jos da Silva Lisboa, a quem seus grandes mritos literrios e relevantes servios pblicos mereceram o ttulo de
visconde de Cairu, pelo qual mais conhecido, certamente pela extenso e solidez dos seus conhecimentos, e fecundidade
do seu labor, a figura mais proeminente das nossas letras, tomada a expresso no seu sentido mais lato da fase que vamos
historiando. Nasceu na Bahia em 1756, completou os estudos secundrios e fez superiores em Portugal, onde lecionou grego
e hebraico no Colgio das Artes, de Coimbra, e aps uma longa e bem preenchida existncia no Brasil como professor,
publicista, funcionrio pblico, magistrado e parlamentar, faleceu no Rio de Janeiro em 1836. O seu mrito muito maior
como jurista, economista, comercialista e publicista ou sabedor e escritor de questes pblicas, polticas e administrativas,
do que como literato, se bem tenha sido o visconde de Cairu um dos brasileiros de mais vasta literatura. Contemporneo de
Adam Smith, o criador da economia poltica, parece foi o nosso patrcio o primeiro que nas lnguas neolatinas escreveu
dessa nova cincia, divulgando desde 1798 as idias do pensador ingls. As trs principais obras de Silva Lisboa sobre a
matria so Princpios de direito mercantil (1798-1803), Princpios de economia poltica (1804) e Estudos de bem comum
(1819-1820). Conta-se que Monte Alverne, mais que seu adversrio terico, seu inimigo pessoal e inimigo rancoroso como
saa ser, entrando na sua aula de filosofia do seminrio de S. Jos no dia da morte de Cairu, com um gesto desabrido, com
que acaso escondia o sentimento, declarara que no dava aula porque morrera um grande homem, apesar de que a sua
cabea no passava de uma gaveta de sapateiro. Tambm a antipatia, em que pese a Carlyle, agua a inteligncia e facilita
a compreenso. A frase atribuda ao soberbo frade
90
traduz na sua vulgaridade uma impresso exata da copiosa, desigual e
disforme obra do douto e laboriosssimo escritor que foi Cairu. Consta-lhe a produo impressa ou manuscrita de setenta e
sete nmeros de obras maiores ou menores de direito, economia poltica ou social, histria, questes do dia e pblicas,
didasclica, jornalismo, polmica, pedagogia, moral.
91
Como composio, fatura, estilo, esta produo irregular, desigual
e ainda extravagante e disparatada, revendo pressa e at precipitao do trabalho, a excitao ou a paixo do momento,
o produto de ocasio. A literatura dela s podia aproveitar pequenssima parte, a Histria dos principais sucessos polticos
do Brasil por exemplo, a Vida de Wellington e pouco mais. Esta mesma, porm, carece de predicados literrios que a
recomendem nossa estima. Em todos os gneros produtos das circunstncias, as obras de Cairu no sobrevivem s que as
produziram.
Mariano Jos Pereira da Fonseca, quase somente conhecido pelo seu ttulo de marqus de Maric, vinha do tempo dos
ltimos vice-reis do Brasil, um dos quais o Conde de Resende, sob a inculpao de inconfidente, o teve preso por mais de
dois anos. No vice-reinado de Lus de Vasconcelos fundaram alguns homens de estudo e letras do Rio de Janeiro, o doutor
Manoel Incio da Silva Alvarenga, mestre rgio de retrica e conhecido poeta da pliade mineira, Joo Marques Pinto,
mestre rgio de grego, o mdico Jacinto Jos da Silva, o nosso Mariano Jos Pereira da Fonseca e outros letrados, uma
sociedade literria. As reunies peridicas destes homens de letras, em tempos em que ainda estava fresca a lembrana da
chamada Conjurao Mineira, cujos scios eram em maioria tambm homens de letras, foram havidas por suspeitas, dissolvida
a sociedade e presos e processados os seus membros.
Mariano da Fonseca nasceu no Rio de Janeiro em 1773, e na mesma cidade faleceu em 1848. Formou-se em matemtica
e filosofia em Coimbra, o que correspondia profisso de engenheiro. Como aconteceu geralmente a todos os brasileiros de
instruo e mrito da poca da Independncia, teve importante situao poltica e social no primeiro reinado, distines
honorficas e altos cargos, senador, conselheiro de Estado. Aos quarenta ou quarenta e um anos comeou a publicar no
Patriota, de Arajo Guimares, as suas Mximas, pensamentos e reflexes, sob o pseudnimo de Um brasileiro. Porventura
para lhes dar o peso da autoridade de maior experincia, mais tarde, em nova edio que delas fez, declarou hav-las escrito
dos sessenta aos setenta e trs. Norberto lhe reparou no equvoco e o corrigiu com razo.
92
De 1837 a 1841 publicou, j sob
o ttulo de marqus de Maric, as suas Mximas, pensamentos e reflexes em trs partes respectivamente, distribuindo-as
gratuitamente. Como ele tenha depois facultado a todos a reimpresso das suas obras, devemos crer que esta rara generosidade
obedecia a um pensamento de interesse pela doutrinao moral dos seus patrcios. O marqus de Maric, como La
Rochefoucauld, com quem mui indevidamente o comparou uma crtica mais patritica que esclarecida, no escreveu em sua
vida seno mximas. Ele prprio as computou, na ltima coleo que delas imprimiu, em 1845. , pois, segundo a qualificao
modernssima e depois do autor do Compndio do peregrino da Amrica e de Matias Aires, o primeiro moralista da nossa
literatura. No tinha, porm, uma filosofia sua ou sequer alheia afeioada pela sua prpria experincia e meditao. Repete
os lugares comuns da tica contempornea, mistura de cristianismo sentimental e de liberalismo poltico. A sua psicologia,
escolstica e vulgar, jamais vai ao fundo das cousas, nem descobre na alma humana novidades ou aspectos recnditos ou
inditos. sua observao falta finura e penetrao, ou originalidade. Faz parte da vulgar sabedoria comum e ele no a
soube relevar pelos dons singulares de expresso que o gnero requer, e que so porventura o principal mrito dos seus
grandes modelos franceses. Mximas e pensamentos, valem talvez principalmente pela forma que revestem. So o imprevisto,
o ressalto, junto conciso e justeza desta que os valoriza. O escolho do gnero a banalidade, clara ou mascarada com
o paradoxo ou a singularidade. Neste escolho bateu freqentemente o marqus de Maric. Nem por isso perdem as suas
Mximas a importncia que lhe assinalei de primeiro exemplar do moralismo leigo e literrio em a nossa literatura. E para
o comum dos leitores que dispensam no assunto refinamentos, sutilezas de idias e expresso, podem ser leitura agradvel
e proveitosa, porque o essencial so e a forma escorreita, sem rebusca indiscreta de purismo e j do nosso tempo e gosto.
Jos Feliciano Fernandes Pinheiro, visconde de S. Leopoldo, nascido em Santos (S. Paulo) em 1774 e falecido em Porto
Alegre (Rio Grande do Sul) em 1847, foi sujeito considervel pela sua ilustrao e alta situao social e poltica no reinado
do primeiro imperador. Formado em direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal fez os seus primeiros trabalhos
literrios, tradues e compilaes de assuntos de imediata utilidade prtica, ali publicados de 1799 a 1801. No Brasil, aps
haver exercido diversas comisses de servio pblico, foi eleito em 1821, deputado s Cortes da nao portuguesa quando
da reforma governamental por que esta passou, e como tal tornou a Portugal. Esprito conservador e moderado, foi dos
poucos deputados brasileiros que juraram a constituio por elas feita. De volta ao Brasil em seguida declarao da
Independncia, foi aqui deputado geral, presidente de provncia, ministro do Imprio, senador e ocasionalmente encarregado
de uma misso de carter diplomtico. Por estes servios teve o ttulo de visconde de S. Leopoldo, nome por que ficou quase
exclusivamente conhecido. Alm de memrias biogrficas de compatriotas ilustres ou sobre limites do Brasil e ainda
monografias interessantes para a nossa histria literria,
93
escreveu uma obra notvel para o tempo e ainda hoje estimvel,
Anais da Capitania de S. Pedro.
94
Como livro, quero dizer, sob o puro aspecto bibliogrfico, o mais bem feito dessa poca,
o mais perfeito de composio e estrutura. No obstante algumas incorrees de linguagem, galicismos e alguns mais graves
defeitos de estilo, a sua redao rev o homem educado em Portugal e a leitura dos portugueses. A lngua geralmente
melhor do que aqui comumente escrita. Como historiador distingue-se j o visconde de S. Leopoldo por bom critrio
histrico, aptides crticas, capacidade de apurar os sucessos nos documentos autnticos de preferncia originais ou inditos,
informao segura das fontes ou informes impressos do assunto ou a ele aproveitveis, arte de dispor e referir os fatos e,
notavelmente, menos prolixidade como era, e continuou a ser, de costume. As suas Memrias, publicadas postumamente na
Revista do Instituto Histrico (tomos 37-38), conquanto lhes falte o interesse das revelaes inditas e mesmo das indiscries,
que principalmente do relevo e pico a este gnero de literatura, sem que lho levante tambm um estilo mais literrio, so
todavia, at pela raridade delas nas nossas letras, estimveis.
Todos os mais autores de prosa desta mesma fase ainda menos considerveis so. Nenhum um escritor que se faa
todavia ler com aprazimento.
Captulo VIII
O ROMANTISMO E A PRIMEIRA GERAO ROMNTICA
TIVESSE O PRNCIPE regente de Portugal, logo depois rei D. Joo VI, o propsito de preparar o Brasil para a independncia,
no haveria porventura procedido to atilada e eficazmente. Por uma srie de medidas econmicas e polticas, mal chegado
ao Brasil havia ele comeado a reforma completa do velho regime colonial, naquilo justamente que mais devia concorrer
para despertar nos brasileiros o sentimento da sua personalidade e importncia e lhes acorooar veleidades porventura
latentes de autonomia e emancipao. A autonomia nos dera de fato a transplantao da realeza para c, a elevao do Brasil
a reino e a ereo do Rio de Janeiro em capital da monarquia portuguesa. A emancipao surgiria do conflito dessa autonomia
com a insensata contrariedade que lhe criou a reao recolonizadora portuguesa.
Da gerao que testemunhou, acompanhou e at fomentou ou promoveu os sucessos da nossa independncia poltica,
surgiu um seleto grupo de homens de estudo e letras que lhe completaram o feito insigne, dando recente nao o abono
indispensvel da sua capacidade de cultura. esse grupo que, sob o aspecto literrio, chamo a primeira gerao romntica,
quero dizer os escritores que, influenciados pelo Romantismo europeu e seguindo-lhe aqui os ditames, apareceram de 1836
em diante e cuja atividade se dilatou por um quarto de sculo.
Alm de Monte Alverne (1784-1858), que foi de algum modo um precursor do movimento como o mais escutado
preceptor filosfico dos seus principais fautores, e de Magalhes, o seu iniciador, mormente constituem essa gerao intelectual,
Porto Alegre (1806-1879), amigo e mulo de Magalhes; Teixeira e Sousa (1812-1861); Pereira da Silva (1817-1898);
Varnhagen (1819-1882); Norberto da Silva (1820-1891) e, o maior deles, Gonalves Dias (1823-1864). Outros nomes
podiam alongar esta lista, nenhum, porm, com a significao e importncia de quaisquer destes.
Distingue-se esta gerao pela versatilidade dos talentos, variedade da obra e propsito patritico da sua atividade
mental. Quase todos eles, seno todos, so poetas, dramaturgos, novelistas, eruditos, crticos, publicistas, e Porto Alegre
ser demais pintor e arquiteto. No seu ardor pelos crditos intelectuais de sua ptria, parecia quererem completa a sua
literatura; que se no limitasse, como at ento, quase exclusivamente poesia.
Quando todos eles se faziam homens, o cnego Janurio da Cunha Barbosa, que com grandes crditos de literato e
orador sagrado vinha da gerao anterior, zeloso dos interesses mentais da novel ptria, fundou com outros letrados e
homens de boa vontade o Instituto histrico, geogrfico e etnogrfico brasileiro. Com a publicao do Parnaso Brasileiro
(1829), foi este o melhor servio prestado por Janurio Barbosa, no s s nossas letras, mas nossa cultura. Teve o Instituto
histrico, em verdade, o papel de uma Academia que, sem restries de especialidades, se abrisse a todos as capacidades
nacionais e a todos as lucubraes por pouco que interessassem ao Brasil. E assim, de propsito ou no, deu ao movimento
espiritual que se aqui operava uma base racional no estudo da histria, da geografia e da etnografia do pas, compreendidas
todas largamente. Os principais romnticos foram todos seus scios conspcuos e colaboradores da Revista que desde 1839
comeou o Instituto histrico a publicar trimensalmente. A todos os literatos brasileiros do tempo serviu esta instituio de
trao de unio e confraternidade literria e de estmulo.
Alm de patritica, ostensivamente patritica, a primeira gerao romntica religiosa e moralizante. Estas feies
fazem que seja triste, como alis ser a segunda. Somente a tristeza desta a do ceticismo, do desalento e fastio da vida,
segundo Byron, Musset, Espronceda e quejandos mestres seus. A melancolia de Magalhes e seus parceiros a tristeza de
que penetrou a alma humana o sombrio catolicismo medieval. Na alma portuguesa, donde deriva a nossa, aumentou-a a
forada beataria popular, sob o terror da Inquisio e o jugo, acaso pior, do jesuitismo. Rematava-a o descontentamento
criado nesses brasileiros pela desconformidade entre as suas ambies intelectuais e o meio. J em prosa, j em verso, todos
eles lastimam-se da pouca estima e mesquinha recompensa do gnio que, parece, acreditavam ter e do desapreo do seu
trabalho literrio. No tinha alis razo. Era inconsiderado pretender que um povo em suma inculto, e de mais a mais
ocupado com a questo poltica, a organizao da Monarquia, a manuteno da ordem, de 1817 a 1848 alterada por todo o
pas, cuidasse de seus poetas e literatos. No , todavia, exato que, apesar disso, os descurasse por completo. O povo amava
esses seus patrcios talentosos e sabidos, revia-se gostosamente neles, acatava desvanecido os louvores que mereciam aos
que acreditava mais capazes de os apreciar. Supria-lhe esta capacidade, o sentimento patritico restante dos tempos ainda
prximos da Independncia, e a ingnua vaidade nacional com ela nascida. O imperador comeou ento o seu mecenato,
nem sempre esclarecido, mas sempre cordial, em favor dessa gerao que lhe vinha ilustrar o reinado. D. Pedro II, que por
tantos anos devia ser a nica opinio pblica que jamais houve no Brasil, iniciou por esse tempo a sua ao, ao cabo
utilssima, na vida intelectual da nao. Prezando-se de literato e douto, apreciou pelo seu povo incapaz de faz-lo, e
acorooou e premiou esses seus representantes intelectuais. Se no todos, a maioria da primeira gerao romntica, com
muitos outros depois dela, em todo o reinado, mereceram-lhe decidido patrocnio. Revestia este no s a forma de sua
amizade pessoal, que alis nunca chegava ao valimento, porm a mais concreta e prestadia de empregos, comisses, honrarias.
E, louvados sejam, no lhe foram ingratos. As principais obras em todos os gneros dessa poca so-lhe dedicadas, em
termos que revem o reconhecimento da munificncia imperial. Todos eles foram fervorosos e sinceros monarquistas,
menos alis por amor do princpio que do monarca. E se no pode malsinar-lhes ou sequer suspeitar-lhes a dedicao,
sabendo-se quo escrupuloso era o imperante nos seus favores e quo parco era deles. Mas a vaidade, infalvel estigma
profissional, destes literatos, se no contentava desta alta estima; quisera mais, quisera o impossvel, que, como nas principais
naes literrias da Europa, dessem s letras aqui considerao, glria e fortuna. Foi esse, alis, um dos rasgos do Romantismo,
o exagero da vaidade nos homens de letras e artistas, revendo a intensidade do descomedido individualismo da escola. Os
dessa gerao, porm, ainda tiveram pudor de no aludir sequer feio material das suas ambies, pudor que, passado o
Romantismo, desapareceria de todo, principalmente depois da emigrao de literatos estrangeiros, industriais das letras, e
da invaso do jornalismo pela literatura ou da literatura pelo jornalismo. A desconformidade entre aqueles nossos primeiros
homens de letras e o meio, essa, porm, era real, continuou e acaso tem aumentado com o tempo. E basta para, com a
mofineza sentimental que, sobre ser muito nossa, era tambm da poca, explicar o matiz de tristeza da primeira gerao
romntica, no tom geral do seu entusiasmo poltico literrio. Aumentando na segunda gerao romntica, nunca mais
desapareceria esse matiz das nossas letras, sob este aspecto expresso exata do nosso humor nacional.
Ao contrrio do que at ento se passava, a educao literria da maioria dos escritores dessa gerao se fizera aqui
mesmo. Por desgosto da metrpole, entraram a abandonar-lhe a escola, at a assdua e submissamente freqentada. Falavam,
pois, a lngua que aqui se falava, e naturalmente a escreviam como a falavam, sem mais arremedo do casticismo reinol. A que
escreveram, e no por ventura este um dos seus somenos mritos do ponto de vista da nossa evoluo geral, mrito que
avultar quando de todo nos emanciparmos literariamente de Portugal, no mais a que aqui antes deles se escrevia. outro
o boleio da frase, a construo mais direta, a inverso menos freqente. Usam mais comumente dos tempos compostos dos
verbos, francesa ou italiana. Refogem ao hbito clssico portugus de nas suas oraes de gerndio come-las por ele.
Colocam os pronomes oblquos segundo lhes pede o falar do pas e no conforme a prosdia portuguesa, que entra ento a
ser aqui motivo de chufa e troa. Usam de extrema e at abusiva liberdade no coloc-los. Do maior extenso a certas
preposies. A forma do modo finito seguido de um infinitivo com preposio maneira portuguesa, preferem a do infinito
seguido de gerndio. E propositadamente, ou propositalmente, como escrevem segundo aqui soa, empregam vocbulos de
origem americana ou africana, j perfilhados pelo povo. Aceitam as deturpaes ou modificaes de sentido das formas
castias aqui popularmente operadas, e comeam a dar foros de literrios a todos esses vocbulos ou dizeres, de fato
lidimamente brasileiros e para ns vernculos, por serem de cunho do povo que aqui se constitua em nao distinta e
independente. So, entretanto, parcos de estrangeirismos, quer de vocabulrio, quer de sintaxe. O fundo da lngua conserva-
se neles mais puro, embora sem afetao de casticismo. Sua linguagem e estilo so por via de regra nativos, infelizmente at
sem as qualidades essenciais boa composio literria. Sempre crescendo e avultando segue esta maneira, que comeou
com eles, at depois da segunda gerao romntica. S na segunda fase do que chamamos modernismo, com a introduo
dos estudos filolgicos segundo o seu novo conceito, e da sua reao sobre o da lngua nacional, consoante os mesmos
programas do ensino oficial entraram a chamar nossa, inicia-se aqui um movimento em contrrio quela indiferena pelo
apuro desta. Comea-se ento a fazer timbre de escrever bem segundo os ditames gramaticais e os modelos chamados
clssicos. A mesma crtica, que at a descarava este relevante aspecto da obra literria, principia a prestar-lhe ateno e a
not-lo, ainda quando ela prpria o desatende. No sei quem ao cabo tem razo. Foi mais firme j o meu parecer da
necessidade de conservarmos o portugus castio estreme quanto possvel nas modificaes que o seu novo habitculo
americano lhe impe. Comeo a convencer-me da impossibilidade de tal propsito. No o poderamos realizar seno
artificialmente como uma reao erudita, sem apoio nas razes ntimas da mentalidade nacional e com sacrifcio da nossa
espontaneidade e originalidade. Nem teria tal reao probabilidade de definitivamente vingar numa populao que ser
amanh de muitos milhes, originariamente de vrias e diversas lnguas. No se pode admitir que a gente brasileira se
submeta a uma disciplina lingstica de todo oposta aos instintos profundos das suas necessidades de expresso determinadas
pela variedade de seus falares ancestrais e pelas exigncias imediatas da sua situao social e moral.
Apenas a literatura no deve esquecer que ela , sobre o aspecto da expresso, uma fora conservadora. Sem oferecer
resistncia caprichosa e desarrazoada natural evoluo da lngua que lhe serve de instrumento, cumpre-lhe no se lhe
submeter enquanto os seus resultados no tiverem a generalidade de fatos lingsticos indisputveis. A intromisso inoportuna
da literatura nessa evoluo, sobretudo para lhe aceitar indiscretamente todas as novidades inventadas com pretexto dela,
no pode seno prejudic-la naquilo que justamente importante da sua existncia, a sua faculdade de expresso. Se ela,
porm, por outro lado, se ativesse rigorosamente ao casticismo portugus, no genuno sentido deste vocbulo, o brasileiro
acabaria por ficar alheio aos seus escritores e estes aos seus patrcios, por motivo da descorrelao entre a lngua falada por
uns e a escrita por outros.
E talvez esta a mais ntima causa da falta de simpatia agora talvez maior do que dantes entre os nossos escritores
e o nosso povo. Nesta sociedade descomedidamente igualitria, como talvez outra no exista, o escritor e o pblico vivem
inteiramente alheados um do outro pelo pensamento e pela expresso. A reao vernaculista dos maranhenses durante
justamente esta primeira fase romntica, no obstante os preclaros modelos de Sotero dos Reis, Joo Lisboa, Odorico
Mendes e Gonalves Dias, ficou estril. Destes nomes, o nico que sobrevive na memria do povo o de Gonalves Dias,
o poeta dos versos simples e populares da Cano do Exlio.
Tambm o segredo da popularidade persistente dos poetas da segunda gerao romntica no est somente em que eles
foram os de mais rico e sincero sentimento que jamais tivemos, mas em que o exprimiram numa lngua e forma potica ao
alcance de todos, sem artifcio de mtrica nem arrebiques de estilo. O mesmo acontece com os principais romancistas dessa
fase. Macedo e Alencar, como o documentam os registros da Biblioteca Nacional e vos informaro os livreiros e mais que
tudo o provam as suas constantes reimpresses, continuam a ter mais leitores do que os romancistas de hoje, apesar de no
terem por si os reclamos do noticirio camaradeiro e das parcerias de elogio mtuo.
Os nossos escritores da primeira gerao romntica, se no menos artistas, so tambm em suma menos artificiosos que
os do mesmo perodo em Portugal. A sua arte literria, quando a tm, ingnua e canhestra, o que lhes d ao estilo algo, no
de todo desagradvel, dos primitivos. Com exceo do pomposo Porto Alegre e de certos poetas menores, como Norberto
em algumas das sua infelizes tentativas picas e dramticas, os melhores deles escrevem se no singelamente, o que parece
incompatvel com o nosso gnio literrio, todavia em estilo menos torcido e enftico que o geral da ex-metrpole, e do qual
no escaparam no mesmo perodo os melhores dali, porventura com a nica exceo relevante de Garrett. Esta relativa
simplicidade uma das virtudes mais estimveis dos bons poetas da segunda gerao romntica. Pecam, entretanto, os de
ambas estas geraes pelo excesso de sentimentalismo e de romanesco que, principalmente na fico em prosa, roa neles
pela pieguice e pelo amaneirado do pensamento e da expresso. No tem ainda as preocupaes de forma que chamamos de
artsticas. E no eram desses artistas natos da palavra escrita que, sem inteno nem rebusca, acham a forma excelente.
Apenas Gonalves Dias na maior parte da sua obra, e Porto Alegre no seu to mal julgado quanto desconhecido Colombo,
e alguma vez na sua prosa caracterstica, a encontraram. Porto Alegre, cujo bom gosto era menos apurado que o de Gonalves
Dias, prejudicou-se no entanto pela sua inclinao brbara, mas muito da ndole literria nacional, ao pomposo e reluzente
do estilo e ao rebuscado do pensamento e da forma.
Captulo IX
MAGALHES E O ROMANTISMO
FAVORECIDO PELA AUTONOMIA de fato resultante da mudana da Corte portuguesa para c, pelo apartamento intelectual
da metrpole comeado a operar com a criao de faculdades, escolas, institutos de instruo e da imprensa, e, sobretudo,
pela total independncia poltica proclamada em 1822, e efervescncia cvica por ela produzida, manifestou-se no Brasil,
por volta de 1840, o movimento de reforma literria chamado o Romantismo.
aos Suspiros poticos e saudades, coleo de poesias publicada em Paris, em 1836, por Domingos Jos Gonalves de
Magalhes, que ele prprio, os crticos e leitores contemporneos atriburam o incio do Romantismo aqui. Razoavelmente
se no pode discordar deste conceito. O leitor de hoje, entretanto, s com esforo e aplicao encontrar nesse livro o que
plenamente o justifique. E somente da comparao com o que era aqui a poesia antes dele, lhe vir a certeza de que no
errado.
Tem um duplo carter a inspirao desses poemas, patritico e religoso. O patriotismo, significando com esta palavra
no s o amor e devoo da terra, mas o sentimento da sua distino de Portugal, j era, desde os mineiros, e aumentada
pelos poetas difceis de dominar que lhes sucederam, a feio particularmente notvel da poesia brasileira. Era alis apenas
o desenvolvimento do nativismo nela manifestado desde o sculo XVII, que se acentuava na proporo do progresso do
pas. A religio, ou melhor a religiosidade potica de Magalhes, era o produto direto da revivescncia religiosa operada na
Alemanha pelo idealismo filosfico de Kant e Hegel, em Frana pelo sentimentalismo catlico de Chateaubriand. E mais o
resultado imediato da influncia de Monte Alverne, o facundo professor dessa filosofia, mestre muito querido e admirado do
poeta.
Em nenhum destes dois rasgos da potica de Magalhes h mais que traos, como se diria em qumica, do movimento
de emancipao esttica desde o fim do sculo anterior iniciado na Europa. Traos iguais encontram-se em Jos Bonifcio
e, apenas mais apagados, em Sousa Caldas. O impressionismo potico dos Suspiros e saudades, revelado no livro por
poemas inspirados das runas romanas, da meditao sobre a sorte dos imprios, dos grandes espetculos da natureza ou das
magnficas fbricas humanas, gerando o assombro da grandeza de Deus e dos prodgios do Cristianismo, a nostalgia curtida
entre tmulos e ciprestes, a cisma dos destinos da ptria, nas paixes humanas e no nada da vida, todos temas aqui novos, j
certamente, por mais de um aspecto da inspirao e da expresso, romntico, como romntico o subjetivismo de que
procede essa impresso potica. Mas o sem clara conscincia ou intuio profunda. Se do prefcio que sob o vocbulo de
Lede lhe ps o poeta, pginas de pouco valor filosfico ou esttico, algo pode tirar-se que o poeta no concebia a poesia
seno como um aroma dalma, que deve de contnuo subir ao Senhor; som acorde da inteligncia deve santificar as
virtudes e amaldioar o vcio. O poeta, resume ele em um vazio anfiguri, empunhando a lira da Razo, cumpre-lhe vibrar
as cordas eternas do Santo, do Justo e do Belo. E logo abaixo exprobra maior parte dos nossos poetas e ao mesmo
Caldas, o primeiro dos nossos lricos no se terem apoderado desta idia. Essas pginas andinas, mal pensadas e mal
escritas, nada tm do ardor dos iniciadores ou nefitos da nova escola fora daqui. Delas se no deduz nenhuma idia clara da
esttica do poeta e do seu conceito dessa escola. Procurou d-la desde o aparecimento do livro, Sales Trres Homem, o
futuro Visconde de Inhomirim, que ento ainda fazia literatura, num artigo da Niteri, Revista Brasiliense, ao tempo publi-
cada em Paris. Apenas, porm, com um pouco mais de clareza que o mesmo poeta. Sales Trres Homem via o Romantismo
como uma reao contra o paganismo e a literatura deste derivada, assim como via que da mesma fonte crist bebiam
inspiraes no s a poesia, como as artes e a filosofia, irm da teologia. E pe de manifesto a inspirao religiosa e
patritica do poeta, que tambm a da sua crtica. Como a patritica, a inspirao religiosa no era uma novidade na poesia
brasileira. Estavam frescos os exemplos de Sousa Caldas e de Eli Otni, alm de mostras acidentais de outros poetas
contemporneos destes ou seus antecessores. Deus, sob vrios vocbulos (at o de Tup: Tup, Nmen dos meus pais,
de Firmino Rodrigues Silva) e perfrases, bem como a religio e seus mistrios entravam freqentemente em tropos, imagens,
figuras e em toda a potica daquela fase intermdia. Erraria quem destas manifestaes inferisse um ntimo e forte sentimento
religioso nesses poetas e no povo cujos rgos eram. um simples vezo, um cacoete literrio, oriundo da sua educao,
inteiramente eclesistica. Desde que se iniciou, com o primeiro estabelecimento dos portugueses, at o comeo da segunda
metade do sculo XIX, a instruo aqui foi toda e exclusivamente dada por padres nas escolas, colgios e seminrios, e
ainda nas famlias. Os homens mais instrudos, os letrados que encheram as listas de scios das academias literrias coloniais,
eram em sua maioria padres ou frades, doutores em cnones, homens de igreja em suma. A forma oral e popular da literatura
tinha a sua mais alta, mais freqente e mais autorizada expresso no sermo. Desta educao recebida, na escola e fora dela,
de eclesisticos, mais do que um real sentimento religioso resultou o hbito de expresses de carter religioso no s em a
nossa conversao corrente, mas em nossos escritos, discursos, poesias. So antes tropos, frases feitas, locues proverbiais
que a expresso de verdadeiro sentimento religioso. Justamente nesta fase, os dois sentimentos, patritico e religioso,
misturavam-se aqui. Nas crises nacionais graves, como nos transes individuais, o esprito humano apavorado, revendo a
origem deste sentimento, faz-se religioso. Aqui, demais, eram em grande nmero eclesisticos os principais adeptos e
fatores da revoluo que se operava. Do plpito, as vozes mais ou menos eloqentes de Janurio Barbosa, de S. Carlos, de
Sampaio e de Monte Alverne pregavam ao mesmo tempo pela religio e pela ptria. Nas aulas, mestres, em maioria clrigos
regulares ou seculares, juntavam s suas lies fundamentalmente religiosas as suas excitaes patriticas. No Rio de Janeiro,
o principal centro de cultura e de vida literria do pas, como o principal foco do movimento da independncia nacional, Fr.
Francisco de Monte Alverne fazia do plpito ou da ctedra estrado de tribuno poltico, misturando constantemente, com
eloqncia retumbante, havida ento por sublime, a religio e a ptria. De resto, o Romantismo europeu, mesmo na Alemanha,
foi em seus princpios, no s uma reao religiosa, mas at catlica. Esta sua feio bastava para o tornar simptico aqui,
onde o elemento eclesistico era mentalmente preponderante.
Foi este meio e momento que produziu Magalhes. Nascido em 1811 no Rio de Janeiro, a sua infncia, adolescncia e
juventude passaram-se na quadra mais ativa e efervescente da nossa vida poltica, que justamente ento em verdade comeava.
Era menino de onze anos pela Independncia, e pelo 7 de abril entrava em plena juventude. Coincidiu-lhe a idade viril com
a da ptria. Se houvesse em Magalhes maior personalidade, mais carter, quero dizer qualidades morais salientes e ativas
que lhe estimulassem o engenho, o momento e o meio teriam podido fazer dele um grande poeta. No logrou ser seno um
distinto poeta, cujo sentimento se ressente das circunstncias em que se criou, cujo estro e inspirao revem aquele meio e
momento, mas sem o relevo e a distino que foi de moda atribuir-lhe. No se veja, alis, nessa atribuio apenas a mesquinhez
do gosto e do senso crtico do tempo ou um efeito das camaradagens literrias do autor, seno a conseqncia dos mesmos
exaltados sentimentos nacionais do momento. Nem foi ele o nico a quem esta circunstncia aproveitou. Ao contrrio, ela
influiu preponderantemente na admirao ingnua e desavisado apreo que os nossos avs da primeira gerao aps a
Independncia tiveram por todos os seus poetas e literatos. A sua vaidade patritica, ento exagerada, desvanecia-se deles,
como prova da nossa capacidade mental a opor s presunes e preconceitos portugueses da nossa inferioridade. E, ou fosse
porque candidamente estivessem persuadidos do mrito dos escritores patrcios, ou por despique da opinio da metrpole,
lho encareciam descomedidamente. Que, por Magalhes, no era a manifestao de uma parceria ou conventculo de literatos,
mas o sentimento geral e sincero mostra-o o terem dele aproveitado ainda os mais medocres. Tal sentimento o inspirador
da crtica nimiamente laudatria e at louvaminheira da poca, e que se continuaria at ns em virtude de um hbito adquirido.
tambm esse sentimento, ininteligente certamente, mas ao cabo respeitvel, que levaria os primeiros historiadores das
nossas letras, que justamente ento comeam a aparecer, enumerao fastidiosa e intil de nomes e nomes, e a juntar-lhes
os mais descabidos encmios.
Antes dos Suspiros poticos e saudades, publicara Magalhes, em 1832, um volume de Poesias, reproduzido mais tarde
nas Poesias avulsas (Rio de Janeiro, Garnier, 1864). Superabunda de provas de que quela data estava ainda Magalhes no
subarcadismo reinante em Portugal e aqui em todo o primeiro quartel do XIX sculo e continuado at o pleno advento do
Romantismo. Sob a influncia desse subarcadismo ou pseudoclassicismo, como se lhe tem chamado, conservou-se Magalhes
ainda nas duas dcadas seguintes. E acaso se pudesse dizer que, salvo a exceo da Confederao dos Tamoios e de parte a
inteno do seu teatro, nunca se lhe emancipou de todo. Como o seu amigo e mulo Porto Alegre, era Magalhes de
temperamento mais um rcade que um romntico, e mais do que quele acontecia, lhe iam contra a ndole as audcias do
Romantismo, naturais e necessrias nos movimentos revolucionrios como foi esse. H poemas seus dos anos de 40, e at de
60, de todo em todo arcdicos, odes pindricas, com os obsoletos cortes clssicos de estrofes, podos e antiestrofes, a
terminologia mitolgica, os tropos e figuras da velha retrica quintilianesca, com que os pseudoclssicos de todos os pases
desde a Renascena ingenuamente presumiram emular com os latinos e gregos e reproduzi-los. Nessas poesias avulsas bem
pouco h que, ao menos pela inspirao e estilo, eleve Magalhes acima dos poetas seus imediatos predecessores, nem que
o separe deles. Apenas na composio e forma desses poemas possvel notar alguma diferena na maior objetividade dos
assuntos e ainda nos ttulos de diversas composies. Ao amor da ptria, liberdade, guerra, ao dia 25 de maro, ao dia
7 de abril e quejandos, no so comuns na poesia anterior. Talvez se pudesse dizer que pronunciam o individualismo
romntico assuntos e ttulos como saudade, A volta do exlio e outras inspiradas de motivos pessoais, assim como as
Noites melanclicas, se o seu ntimo sentimento e estilo no fossem ainda os da potica dominantes antes do Romantismo.
Compe elogios dramticos em verso, como o da Independncia do Brasil, tal qual Tenreiro Aranha, e cartas amistosas em
prosa e verso, tal qual Sousa Caldas. Escreve epicdios, liras, epstolas, copiosamente, perluxamente mas sem engenho que
revigore e alente essas formas de todo gastas. Alis o vinco dessas categorias poticas era profundo na poesia da nossa
lngua, e o prprio Golalves Dias ainda capitulou com ele quando j era de todo anacrnico e impertinente o seu emprego.
No mesmo ano em que, com 21 de idade, estreara com as Poesias (1832), partiu Magalhes para a Europa, em viagem
de instruo e recreio. Para ser doutor, ttulo aqui indispensvel de recomendao, formara-se antes em medicina no Rio de
Janeiro. Quatro anos depois apareciam em Paris os Suspiros poticos e saudades.
95
Nesse perodo percorrera a Frana, a Blgica, a Itlia, a Sua. No foi grande a modificao que o contato de cousas
novas e sugestivas operou na sua ndole potica. Em suma os Suspiros poticos, acolhidos e saudados como uma renovao
literria, no se distinguem com tal relevo das Poesias do ano de 32, que sem mais exames possamos atribuir-lhe aquele
efeito. Teve-o entretanto.
As formas poticas eram outras, j a dos poemas soltos no sujeitos a uma nomenclatura preestabelecida. Bania o poeta,
ou ao menos olvidava, as odes com as suas reparties clssicas, e o resto daquelas categorias, e quando se endereava aos
amigos no mais lhes trocava os nomes por apelidos arcdicos, como nas Poesias avulsas. O soneto, forma estrfica de que
os rcades usaram e abusaram, e numerosos na primeira coleo, desaparece totalmente desta, onde no se nos depara
nenhum. O Romantismo foi parco em sonetos. H mais variedade, mais liberdade nas formas mtricas e quase nenhum
socorro aos recursos mitolgicos ou clssicos. O prprio ttulo da coleo indica uma subjetividade, um sentimentalismo
maior, e da leitura verifica-se que de fato maior e influi na emoo dos prprios poemas objetivos. O poeta refere e reporta
a si, o que bem romntico, todas as comoes que lhe vm dos aspectos da natureza, da contemplao dos sucessos
humanos, das meditaes sobre temas e fices abstratas. Mistura-lhes constantemente a sua nostalgia, o seu pesar, os
sofrimentos que experimenta ou cisma. Da biografia conhecida de Magalhes no parece tenha sido desventurado ou tido
grandes penas na vida. Ao invs, quanto dele sabemos, foi um mimoso da fortuna. Dos seus poemas, entretanto, resultaria a
presuno contrria. talvez ele quem inaugura na poesia brasileira o estilo lamuriento dos que j algures chamei de
nostlgicos da desgraa, moda potica que tanto floresceu aqui. No achou, no entanto, a sua dor, talvez por no ser
verdadeiramente sentida, nenhuma expresso bastante forte para nos comover tambm a ns. O abstrato do seu estilo,
porventura a sua caracterstica, sob o aspecto do estilo, concorreu ainda mais para diminuir-lhe a intensidade da emoo j
de si, parece, pouco profunda e o calor da expresso, apenas altieloqente. Da, e da prolixidade, outra feio do seu poetar,
o desmaio e o banal da sua poesia, apesar dos seus propsitos filosficos. que ele lhe ps no os seus ntimos sentimentos
atuados pela sua filosofia, as suas emoes apenas infludas por ela, seno os prprios ditames da escola e do livro, e levou
para a sua arte intenes pedaggicas. Os passos de inspirao filosfica dos seus poemas so puramente didticos e no a
expresso de uma simples emoo potica:
No, o medo no foi quem sobre a terra
Os joelhos dobrou ao homem primeiro,
E as mos aos cus ergueu-lhe. No, o medo
No foi o criador da Divindade!
Foi o espanto, o amor, a conscincia,
E a sublime efuso dalma e sentidos,
Viu o homem seu Deus por toda a parte,
E a sua alma exaltou-se de alegria.
Todo esse poema O Cristianismo, cujos so estes desenxabidos versos, didtico, sem que um sentimento potico,
inspirado embora do religioso, se nele manifeste de maneira a tocar-nos. Noutro seu poema, muito celebrado, todo ele
justificativo deste conceito, se nos deparam trechos como o seguinte, antes versos de professor de filosofia que de poeta
filsofo:
Assaz, oh Deus, o homem sobre a terra
Revela teu poder, tua grandeza,
A Razo, s tu mesmo; a liberdade,
Com que prendaste o homem, no, no pode
Dominar a Razo, que te proclama!
Se muda para mim fosse a Natura,
Na Razo que me aclara, e no minha,
Senhor, tua existncia eu descobrira.
Em arte no basta no imitar para ser original. No se descobre em Magalhes imitaes, nem predileo por algum dos
mestres do Romantismo. Mas tambm se lhe no lobriga originalidade. Se alguma tinha, prejudicou-a a sua filosofia de
escola, o seu demasiado respeito das tradies literrias, e obliterou-lha o abstrato e o fluido do seu estilo potico. A
diplomacia, carreira em que apenas estreado em letras entrou, com a sua gravidade protocolar, a sua artificialidade, a sua
futilidade, a sua compostura de mostra, no devia ter pouco contribudo para sufocar em Magalhes, ou amesquinh-los, os
dons poticos mais vivazes que porventura recebera na natureza. Influncias de filosofia escolstica e livresca e do decoro
da situao social fazem-no versejar os mais triviais lugares-comuns:
Um Deus existe, a Natureza o atesta:
A voz do tempo a sua glria entoa,
De seus prodgios se acumula o espao;
E esse Deus, que criou milhes de mundos,
Mal queira, num minuto
Pode ainda criar mil mundos novos.
Se a sua emoo potica, a sua inspirao, carece de profundeza, pobre tambm a sua expresso. Raro se faz nalguma
forma sinttica, conceituosa ou intuitiva. Por via de regra se derrama em um longo fraseado, com exclamaes e apstrofes.
Roma lhe no inspira seno banalidades da sua histria corriqueira e dos seus mais triviais aspectos:
Roma bela, sublime, um tesouro
De milhes de riquezas; toda a Itlia
um vasto museu de maravilhas.
Eis o queu dizer possa; esta a Ptria
Do pintor, do filsofo, do vate.
O prosaico escandaloso destes versos no uma exceo ou uma raridade. De todo este grosso volume dos Suspiros
poticos (mais de 350 pginas) apenas vive hoje, e merece viver, o Napoleo em Waterloo, que sem ter a profundeza, a
intensa emoo humana e potica do Cinque magio, de Manzoni, salva-se por um alevantado sopro pico e sem embargo de
alguns desfalecimentos, uma bela forma eloqente e comovida.
O que os contemporneos acharam de novo no livro, e o pelo que ele os impressionou, foi, com a ausncia dos fastidiosos
e safados assuntos antes preferidos, mitolgicos e clssicos, dos ranosos tropos da caduca retrica, a personalidade do
autor. No se revelava esta no vigor do sentimento ou no ressalto da expresso, como com Victor Hugo em Frana ou Garrett
em Portugal, mas se apresentava nas numerosas referncias a si mesmo, nas suas declaraes de f e de princpios, nas suas
confisses e lstimas. Por pouco que tudo isso fosse realmente, ou por pouco que nos parea a ns, foi ento, com ajuda do
sentimento nacionalista predominante, achado muito. A despeito das restries que podemos fazer hoje, havia ainda nos
Suspiros poticos, e se no enganaram os contemporneos, a exalao de uma alma, tocada da nova graa romntica,
influda, por pouco que fosse, pelo sopro da liberdade esttica que agitava a atmosfera europia e to bem se casava com o
de liberdade poltica que soprava em sua ptria. E s vezes exalava-se linda e sentidamente:
Castas Virgens da Grcia,
Que os sacros bosques habitais do Pindo!
Oh Numes to fagueiros,
Que o bero me embalastes
Com risos lisonjeiros
Assaz a infncia minha fascinastes.
Guardai os louros vossos,
Guardai-os, sim, queu hoje os renuncio.
Adeus fices de Homero!
Deixai, deixai minha alma
Em seus novos delrios engolfar-se,
Sonhar com as terras do seu ptrio Rio;
S de suspiros coroar-me quero,
De saudades, de ramos de cipreste;
S quero suspirar, gemer s quero.
E um cntico formar coos meus suspiros.
Assim pela aura matinal vibrado
O Anemocrdio, o ramo pendurado,
Em cada corda geme,
E a selva peja de harmonia estreme.
Renunciando s musas clssicas, , entretanto, na sua lngua que lhes refoge. Distingue o Magalhes dos Suspiros
poticos da gerao potica precedente e do mesmo Magalhes dos versos de 32, outra feio muito do Romantismo, a
soberba do poeta, o senso da nobreza da sua misso, a alevantada ambio que se lhe gera deste pressuposto. So manifestaes
do individualismo romntico, embora nele contidas, mais discretas do que acaso cumpria, sem os entusiasmos, transbordantes
at descompostura, de muitos dos corifeus da escola. Leiam-se o Vate, A Poesia, A Mocidade. Este poema sobretudo rev,
e no sem intensidade, aquela tragdia da ambio que, segundo Brandes, se apresentava na alma da juventude romntica
francesa. Como quer que seja, esse grosso volume de poesias teve, de 1836 a 1865, trs edies, fato aqui extraordinrio.
Que no fundo de Magalhes, porm, havia permanecido o rcade retardatrio das Poesias de 1832, provam-no os
poemas posteriores a 1836, publicados sob o ttulo de Poesias vrias, como segunda parte das Poesias avulsas, em 1864.
Neles volta potica apenas esquecida nos Suspiros. Prova-o mais, de desde o ttulo, a sua posterior coleo de versos,
Urnia, em que tudo lembra mais a potica obsoleta que a em voga.
A inspirao potica, como a forma que a realiza, ou o estilo, funo do temperamento do poeta que a condiciona. O
de Magalhes era evidentemente mais consoante ao pensamento geral e potica dos ltimos cinqenta anos, do que com as
idias e a potica do seu tempo. Pode ser que, como ele prprio insinua atravs de Wolf, fosse o Romantismo alemo,
simplesmente como expresso do sentimento nacional, como revolta contra a servido de todo o mundo ao classicismo
francs, que lhe atuasse o estro. Em todo caso, sob uma forma comedida e reportada, revendo o seu medocre entusiasmo
pelo movimento, cujo promotor e chefe, mais por fora das cousas quer por ntima persuao, foi aqui.
Se Magalhes houvera ficado nos Suspiros poticos, talvez fosse apenas um nome a mais no comprido rol dos nossos
poetas. Quaisquer que fossem os mritos dessa coleo, no eram tais que s por ela pudesse o autor tomar na literatura
brasileira a importncia que alcanou. Deu-lha mui justamente o volume e a variedade da sua obra, provando nele capacidades
que, sem serem sublimes, eram menos comuns, aptides literrias diversas e vocao literria incontestvel.
Magalhes, e o seu exemplo influiria os seus companheiros e discpulos da primeira gerao romntica, sentiu que o
renovamento literrio de que as circunstncias o faziam o principal promotor, carecia de apoiar-se em um labor mental mais
copioso, mais variado e mais intenso, do que at ento aqui feito, e que uma literatura no pode constar somente de poesia,
e menos de pequenos poemas soltos. Com esta intuio, seno inteligncia clara do problema, que para ele e os jovens
intelectuais seus patrcios se estabelecia, Magalhes colaborou em revistas com ensaios diretamente interessantes ao movimento
literrio e ao pensamento brasileiro, criou, com Martins Pena, o teatro nacional, iniciou, com Teixeira e Sousa, o romance,
reatou com os Tamoios a tradio da poesia pica do Caramuru e do Uraguai, fez etnografia e histria brasileiras, deu
filosofia do Brasil o seu primeiro livro que no fosse um mero compndio, e ainda fez jornalismo poltico e literrio, e
crtica. Pela sua constncia, assiduidade, dedicao s letras, que a situao social alcanada no segundo reinado, ao contrrio
do que foi aqui comum, nunca lhe fez abandonar, Magalhes o primeiro em data dos nossos homens de letras, e um dos
maiores pela inspirao fundamental, volume, variedade e ainda mrito da sua obra. Pode dizer-se que ele inicia, quanto
ela possvel aqui, a carreira literria no Brasil, e ainda por isso um fundador.
Os preconceitos pseudoclssicos de Magalhes e a sua ndole literria, sempre mais arcdica que romntica, levaram-no
no teatro tragdia, na poesia ao poema pico. Em ambos os casos inspirou-o o esprito nacionalista da poca, o propsito
de fazer literatura nacional, de assunto e sentimento. Declara ele prprio o seu desejo de encetar a carreira dramtica com
um assunto nacional. A sua esttica confessada no prefcio da tragdia de Antnio Jos lhe oscila entre o rigor dos clssicos
e o desalinho dos romnticos. Como ecltico de temperamento e de filosofia, admirador fervoroso de Cousin, Magalhes
toma a posio soberba de um artista alheio e superior a escolas, emancipado. O poeta independente, diz ele no seu magro
Discurso sobre a histria da literatura do Brasil, citando Schiller,
96
no reconhece por lei seno as inspiraes de sua alma,
e por soberano o seu gnio. Gnio uma palavra de que Magalhes abusava, metendo-a at um passo onde forosamente
se referia a si prprio. Infelizmente, gnio no tinha nenhuma, e a postura de poeta independente que alardeava no lhe
calhava ao modesto engenho. Era a formao pseudoclssica do seu esprito, consoante com a sua ndole literria, e o seu
ecletismo filosfico que lhe impunham essa atitude. O prprio ttulo de tragdia que deu s suas peas de teatro contrastava
o parecer do Romantismo, que em nome da liberdade da arte, e da verdade humana, refugava a velha frmula clssica.
96
Opsculos histricos e literrios, 2. edio. Rio de Janeiro, Garnier, 1865,270.
O renovador do teatro, e simultaneamente principal fautor do Romantismo portugus, Garrett, no por simples imitao,
mas com razes excelentes, chamou ao seu admirvel Frei Lus de Sousa de drama, no obedeceu regra dos cinco atos
e escreveu-o em prosa, porventura a mais bela que jamais se fez em nossa lngua. Magalhes, que tem sobre Garrett o mrito
da prioridade na introduo do teatro moderno em portugus,
97
ao invs deliberadamente chamava sua de tragdia, punha-
lhe os cinco atos clssicos, embora para isso tivesse de derramar a composio, e fazia-a em verso, segundo a frmula
consagrada. Distinguem-na, porm, do mesmo passo revendo a influncia do Romantismo, o assunto moderno e nacional, a
familiaridade da expresso apesar do verso clssico, e o pensamento liberal que a inspira, no obstante o catolicismo do
autor. No ser o Antnio Jos, sob o puro aspecto literrio e esttico, uma perfeita ou sequer notvel obra darte, mas sem
dvida um documento muito aprecivel da capacidade do poeta, e no de todo sem fora dramtica ou beleza de expresso.
E, o que muito importa, no conjunto da nossa literatura dramtica, sobre a iniciar, no despecienda. Sente-se ainda que
uma obra feita de inspirao. Pe-no de manifesto o contraste com o Olgato, obra prolixa, difusa e declamatria. O Otelo
apenas a traduo em verso da incolor tragdia do pseudoclssico francs Ducis, a qual nesta dinamizao j nada conserva
da fortssima emoo shakespeariana.
Como quer que seja, o impulso da literatura dramtica estava dado. Em outubro do mesmo ano de 1838, Martins Pena,
engenho teatral mais nativo que Magalhes, fazia representar a sua primeira comdia, O juiz de paz na roa, lidimamente
brasileira, por figurar com toda a verdade um aspecto cmico da nossa vida. Seguindo o exemplo de Magalhes, todos os
romnticos escrevero teatro. Nenhum, porm, antes da segunda gerao, com o talento, a arte e o sucesso dele.
Da impresso feita na mente portuguesa pela epopia de Cames, resultou no s em Portugal mas no Brasil a criao
pica, que um dos mais curiosos aspectos da literatura da nossa lngua. Desvaneceram-se dela por tal forma os portugueses,
que de ver o filaucioso entono com que presumiram amesquinhar a literatura francesa, reprochando-lhe a carncia de uma
epopia. Ao contrrio, eles as tinham em demasia. Desta opinio resultou mais o parvoinho pressuposto de que um poeta,
para merecer inteira estimao, cumpria-lhe escrever um poema pico. Aos brasileiros herdaram o seu preconceito. Os
nossos romnticos encontravam-no sancionado pelos exemplos de Bento Teixeira, de Santa Rita Duro, de Baslio da
Gama, de Cludio da Costa e de outros poetas autores de poemas picos mais ou menos considerveis. No propsito
deliberado de fomentar a literatura da nao estreante, Magalhes fizera poesia, fizera teatro, fizera novela, escrevera
ensaios filosficos, histricos e literrios. Em 1856 coroou, segundo seria a sua mesma persuaso, a sua obra de renascena
com um poema pico, em dez cantos, em endecasslabos soltos, de assunto e de inspirao nacional, a Confederao dos
Tamoios.
O aparecimento desta obra foi um acontecimento literrio. Contra ela escreveu Jos de Alencar, ento estreante, uma
crtica acerba, e o que pior, freqentemente desarrazoada. Saram-lhe em defesa ningum menos que Monte Alverne e o
prprio Imperador D. Pedro II, que fora, s ocultas, o editor do poema. Tinha razo Magalhes quando do seu citado estudo
sobre a histria da nossa literatura notava que no comeo daquele sculo uma s idia absorve todos os pensamentos, uma
idia at ento quase desconhecida; a idia da ptria; ela domina tudo, e tudo se faz por ela e em seu nome. Independncia,
liberdade, instituies sociais, reformas polticas, todas as criaes necessrias em uma nova nao, tais so os objetos que
ocupam as inteligncias, que atraem a ateno de todos, e os nicos que ao povo interessam. Continuava verdadeira a sua
observao, e desse sentimento menos de so patriotismo que de vaidade patritica aproveitou ele largamente, e aproveitava
agora no sucesso da Confederao dos Tamoios. O que principalmente disseram do poema os seus defensores que era uma
obra de inspirao patritica. Este errado critrio de juzo de uma obra literria ou artstica permaneceria nos nossos costumes,
como um vcio de crtica irradicvel, e ainda no desapareceu de todo. O prprio Alencar, trs lustros depois, defendendo
obras suas dos ataques da crtica ou da opinio pblica, apelava para o sentimento patritico que lhas inspirava. Este
indiscreto sentimento, principalmente, ajudou a nomeada que no seu tempo teve a Confederao dos Tamoios, como em
geral favoreceu a obra dos nossos primeiros romnticos, dele inspirada.
O poema de Magalhes apareceu um ano antes dos quatro cantos dos Timbiras, de Gonalves Dias. Parece, entretanto,
que os contemporneos no repararam que a Confederao dos Tamoios, voltando ao ndio estreado na poesia brasileira por
Baslio da Gama e Duro, nada criava, mas apenas seguia a sua retaurao nela, desde 1846 feita por Gonalves dias nos
seus Primeiros cantos. Apenas feio que se chamou indianismo, e que foi de princpio a mais singular do nosso Romantismo,
trouxe o poema de Magalhes o concurso precioso de uma obra considervel e de um homem socialmente mais considerado
que Gonalves Dias, com altas e prestigiosas amizades e relaes, poeta ento muito mais estimado que o seu jovem mulo.
Era ainda o momento em que um falso critrio sociolgico e um desvairado sentimentalismo queriam fazer do ndio um
elemento demasiado interessante da nossa nacionalidade. Portanto, lisonjeava o sentimento pblico, e lhe aproveitava da
simpatia. A Confederao dos Tamoios no criou na nossa literatura o que se viria chamar indianismo, e que se no foi
todo o nosso Romantismo, foi a sua feio mais peculiar. Mas, com a autoridade literria de que ento gozava o seu autor,
trouxe iniciativa de Gonalves Dias uma cooperao apenas inferior ao deste, se que no momento no foi havida por
superior. Em 1859, trs anos depois da Confederao, apresentava Magalhes ao Instituto histrico uma extensa memria
sobre Os indgenas do Brasil perante a histria, que poderia ser como o comentrio perptuo de seu poema. O fim declarado
desse trabalho reabilitar o elemento indgena. No era outro o ntimo pensamento do indianismo.
98
Magalhes foi principalmente e sobretudo poeta. Por sua obra de poeta influiu poderosamente na implantao do
Romantismo aqui, e, portanto, na fundao da literatura que desde ento se comea a distinguir da portuguesa. Mas escreveu
tambm prosa, ensaios diversos e tratados filosficos. Como prosador seguramente, no obstante alguns defeitos nativos
(como o j ridiculamente famoso da colocao dos pronomes), um dos mais vernculos, pela propriedade do vocabulrio,
sempre nele castio, e de parte os legtimos sacrifcios ao seu falar brasileiro, pela correo sinttica do fraseado. mais
simples, mais natural, menos rebuscado ou trabalhado o seu estilo do que era o dos escritores que aqui o precederam, e ainda
da maior parte dos que se lhe seguiram. Sob o aspecto da linguagem e estilo so escritos estimveis, e que se deixam ainda
ler sem dificuldade, antes com aprazimento, os seus opsculos citados. A sua Biografia do padre Mestre Fr. Francisco de
Monte Alverne, e pginas suas de literatura amena como O pavo, podem passar por exemplos de boa prosa, como no era
vulgar na poca.
Captulo X
OS PRCERES DO ROMANTISMO
I PORTO ALEGRE
MANUEL DE ARAJO PORTO ALEGRE nasceu no Rio Grande do Sul em 29 de novembro de 1806 e faleceu, feito Baro
de Santo ngelo, em Lisboa, em 29 de dezembro de 1879. Como crescidssimo nmero de literatos brasileiros, era um
autodidata. Aps os primeiros e forosamente mofinos estudos preparatrios feitos na sua provncia natal, veio para o Rio de
Janeiro em 1827.
99
Destinava-se Academia Militar. No indicava este propsito nenhuma vocao pela carreira das armas.
Porto Alegre cedia necessidade que levou tantssimos moos brasileiros pobres a procurarem aquela escola para adquirirem
economicamente uma instruo que de outro modo no poderiam fazer. Como lhe falhasse a matrcula na Academia Militar,
voltou-se para a de Belas-Artes, onde ao cabo do primeiro ano alcanou o prmio de pintura e arquitetura. O pintor Debret,
daquele grupo de artistas franceses que no tempo de D. Joo VI vieram aqui fundar o ensino artstico, foi um dos seus
mestres e por tal maneira se lhe afeioou, que regressando Frana, em 1831, levou-o consigo. At o ano de 1837 viajou
Porto Alegre pela Blgica, Itlia, Sua, Inglaterra e Portugal, e nessas viagens completou a sua instruo geral e educao
artstica. Voltando ao Brasil nesse ano, fundou com outros o Conservatrio Dramtico e a Academia de pera Lrica, e
tomou parte ativa e conspcua no movimento literrio do Romantismo, colaborando em vrias revistas, dirigindo outras,
trabalhando no Instituto Histrico e publicando obras diversas. Posteriormente entrou para o Corpo Consular, tornando
Europa, que desde 1859 quase sempre habitou e onde morreu. Em Paris pertenceu ao grupo da Niteri, revista brasileira de
cincias, letras e artes ali publicada em 1836, e que serviu de rgo iniciao da literatura brasileira no Romantismo. Do
mesmo grupo eram Magalhes e Sales Trres Homem, que a poltica devia em breve tomar s letras. Nesse perodo estreou
com o poema A voz da natureza, composto em Npoles, em 1835. Este Canto sobre as runas de Cumas naquela poca
um poema estranho, inteiramente fora dos moldes da poesia contempornea, alguma coisa que, no obstante fraquezas de
inspirao e forma, se aproxima da poesia bem mais moderna da Lenda dos sculos e que tais interpretaes poticas da
histria. Em 1843, noutra revista que foi parte importante no movimento do nosso Romantismo, a Minerva Brasiliense, deu
Porto Alegre luz as suas primeiras Brasilianas. Muito mais tarde as reuniu em volume com outras composies e este
mesmo ttulo, que era de si um programa literrio.
100
A sua inteno declara-o ele no prefcio, no lhe pareceu ficasse
baldada, porque foi logo compreendida por alguns engenhos mais fecundos e superiores que trilharam a mesma vereda. E
em seguida confessa ter desejado seguir e acompanhar o Sr. Magalhes na reforma da arte, feita por ele em 1836 com a
publicao dos Suspiros poticos e completada em 1856 com o seu poema da Confederao dos Tamoios. O testemunho
precioso de Porto Alegre ratifica plenamente o consenso geral dos contemporneos do papel principal de Magalhes no
advento do nosso Romantismo. Porto Alegre , entretanto, um engenho mais vasto, mais profundo, mais completo que o seu
amigo e mulo. E mais pessoal tambm, e mais intenso. No obstante no , como no era Magalhes, um romntico de
vocao ou de ndole. Pelo menos nenhum deles o foi como sero os da gerao seguinte sua. Ao Romantismo dos dous
preclaros amigos faltam algumas feies, e acaso das mais caractersticas, desse importante fato literrio, como o extremo
subjetivismo e o individualismo inslito. Quase lhes ficou estranho, principalmente a Porto Alegre, o amor, que em Magalhes
apenas o amor comedido, burgus, domstico, ao invs justamente do que cantavam e faziam os corifeus do Romantismo
europeu. Esta falta lhes amesquinhou o estro e a expresso, em ambos sempre mais retrica, mais eloqente mesmo que
sentida. As Brasilianas so uma obra de escola e de propsito, em que a inteno, louvabilssima embora e s vezes realizada
com talento, mais visvel que a inspirao. Esto muito longe da emoo sincera e tocante das Americanas, de Gonalves
Dias, que viriam dar ao ntimo sentimento brasileiro, qual era naquele momento histrico, a sua exata expresso.
A obra capital de Porto Alegre , porm, o grande poema Colombo, publicado em 1866, em pleno Romantismo, quando
a poesia brasileira havia j rompido com a tradio potica portuguesa antiga, e florescia aqui a segunda gerao romntica.
Entrementes, de 1844 a 1859, escrevera, fizera representar ou publicar vrias peas de teatro, libretos de pera, dramas,
comdias e outras obras, que se nenhuma lhe assegura renome como autor dramtico, demonstram-lhe todas a versatilidade
do engenho e a atividade literria, e serviram para impedir no secasse a corrente iniciada com Magalhes e Martins Pena e
para, materialmente ao menos, avolumarem-na. No mesmo perodo da sua estadia no Brasil antes do Consulado, escreveu
em peridicos cujo fundador, diretor ou simples colaborador, foi, viagem, crtica literria e de arte, biografias, pronunciando
como orador do Instituto Histrico vrios discursos, que so talvez a sua obra mais notvel em prosa. Na Revista dessa
associao publicou a sua conhecida Memria sobre a antiga escola de pintura fluminense e artigos de iconografia brasileira.
Como a quantos do mesmo gnero escreveu, os inspirava mais a inteno patritica de exalar alm do legtimo cousas da
ptria que discreto senso crtico. Mas era moda louvar descomedidamente, engrandecer sobre posse, tudo o que era nosso,
na ingnua esperana de nos valorizarmos. A ndole de si mesma entusiasta e pomposa de Porto Alegre cedeu gostosamente
moda.
A obra de prosador de Porto Alegre menos considervel que a de Magalhes, e no foi, como a deste, jamais reunida
em livro. Menos vernculo como prosador que o seu mulo, o muito mais como poeta, no Colombo. Mas sobretudo lhe
superior pela abundncia e vigor das idias, movimento e colorido do estilo, e brilho da forma. Neste, como muito nosso,
freqentemente excede-se e cai no empolado e no retrico. Magalhes escreve mais natural e simplesmente, sem alis evitar
sempre os extremos, o banal e o inchado. Esta marca do verdadeiro escritor, ter idias gerais, Porto Alegre um dos
primeiros dos nossos em que se nos depara.
extraordinariamente raro que ainda um homem de grande engenho, como sem dvida era Porto Alegre, resista s
influncias e se forre aos preconceitos do seu ambiente espiritual. Em plena pujana das suas faculdades literrias, aos
cinqenta anos e em mais de metade do sculo que rompera com a tradio clssica das grandes epopias, comps e
publicou um poema de um prlogo e quarenta cantos com mais de vinte e quatro mil versos, Colombo.
101
Por mais difcil que se nos antolhe a leitura deste extensssimo poema, merece ele que venamos a nossa hodierna
repugnncia de ler grandes epopias e o leiamos. H nele uma realmente assombrosa imaginao e fecundidade de inveno,
insignes dons de expresso verbal, como raro se achar outro exemplo na poesia da nossa lngua, magnificncias de descries
verdadeiramente primorosas, revelando no poeta o artista plstico, um nobre intuito quase sempre felizmente realizado de
pensamento, correo quase impecvel de versificao, vernaculidade estreme, engenhosas audcias de criao e de expresso,
e outras qualidades que o fazem uma das mais excelentes tentativas para reviver na nossa lngua, se no nas literaturas
contemporneas, essa espcie de poemas. Mas os gneros ou formas literrias valem tambm por sua conformidade com o
tempo que os produziu. O poema de Porto Alegre vinha j de todo obsoleto e inoportunamente, com um maquinismo potico
apenas suportvel na pura lenda e no em uma epopia de fundo histrico. Representa um em todo caso nobre esforo de
vontade de uma inspirao que no podia ser natural e espontnea, por desconforme com tudo quanto constitui a mentalidade
e estimula o estro do poeta. O leitor pode admirar o meio sucesso desse ingente esforo. Mas no lhe sente emoo capaz de
comov-lo at lhe fazer aceitar essa nova criao pica. O Colombo uma obra mais de razo e de inteligncia que de
instinto e sentimento, como foram os monumentos poticos que ele anacronicamente procurava continuar.
II TEIXEIRA E SOUSA
Fluminense, como a maior parte dos primeiros romnticos, Antnio Gonalves Teixeira e Sousa nasceu em Cabo Frio
aos 28 de maro de 1812 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 1. de dezembro de 1861. Teve algo de romntica a vida
do criador do romance brasileiro. Filho legtimo de um portugus com uma preta, apenas fazia os seus primeiros estudos
quando se viu obrigado, pela precria situao econmica da famlia, a abandon-los e adotar uma profisso mecnica, a de
carpinteiro. Por alguns anos exerceu este ofcio no Rio de Janeiro, para onde viera de Itabora com o fim de nele aperfeioar-
se. Cinco anos depois regressou terra natal. Tinham-lhe morrido os quatro irmos mais velhos. Aos vinte anos achou-se s
no mundo, com escassssimos bens que lhe herdara o pai. Senhor de si, voltou aos estudos com o mesmo antigo ardor e o
mesmo mestre, o cirurgio Incio Cardoso da Silva, professor rgio em Cabo Frio, e tambm poeta, cujos versos Teixeira e
Sousa mais tarde piedosamente reuniu e publicou. Em 1840 voltou ao Rio de Janeiro, onde a simpatia de cor, de engenho
potico e de amor s letras facilmente o ligou a Paula Brito.
Francisco Paula Brito (1809-1861) , na sua situao secundria, uma das figuras mais curiosas e mais simpticas dessa
poca literria. Nascido no Rio de Janeiro, de gente de cor e humilde, chegou-lhe a puberdade e juventude em pleno
movimento da Independncia e estabelecimento da monarquia, e dessa poca conservou o ardor patritico e o desvanecido
nacionalismo que a assinalou. De quase nenhumas letras, mas inteligente e curioso, despertou-se-lhe o gosto por aquelas e
pelos seus cultores no trato de umas e outros, no exerccio do seu ofcio de tipgrafo. Mais tarde montou uma imprensa de
conta prpria, qual anexou uma loja de livros. Como fosse muito carovel de literatos, a quem com peridicos que fundou,
como a Marmota (1849-1861), oferecia a satisfao de se verem publicados e louvados, a sua loja, no antigo Largo do
Rossio, tornou-se o prazo dado da mocidade literria do tempo, e, como era igualmente patriota ardente e chefe poltico de
bairro, freqentavam-no tambm homens pblicos notveis, doutores e outros letrados. Por ser a sua loja um centro de
notcias, palestras e novidades da vida urbana que no seriam sempre de extrema veracidade e antes facilmente mentirosas,
deu-lhe o povo a alcunha de A Petalgica. Foram seus habituados todos os nossos primeiros e ainda muitos dos segundos
romnticos, de todas as graduaes. Desse comrcio com letrados, a inteligncia aberta e pronta de mestio de Paula Brito
tirou o melhor proveito. Ele tambm se fez escritor e poeta. Alis o foi em tudo mediocremente, revelando apenas um
generoso esforo e excelentes intenes de servir as letras nacionais, e a mesma sociedade, com publicaes de carter
educativo, moralizador e patritico, edies de obras brasileiras e tambm com as suas produes em prosa e verso. Mais
rico de boa vontade que de bens de fortuna, no s acolheu, apresentou, protegeu os jovens de vocao literria que o
procuravam, como festejou, celebrou, preconizou os literados j feitos, mecenas quase to pobre e desvalido como os seus
protegidos, e sequer sem idoneidade para mentor literrio, teve entretanto o amvel Paula Brito ao aprecivel e frutuosa
no momento em que a sua loja, se no ele, era o centro da vida literria no Rio de Janeiro.
Teixeira e Sousa foi simultaneamente empregado e colaborador literrio de Paula Brito, em cuja clebre loja conheceu,
imagina-se com que cndida admirao, os sujeitos mais afamados em letras, a roda literria, habituada da Petalgica. A
repartia o tempo que lhe deixava a freguesia entre ouvir aqueles personagens e escrever os seus primeiros versos. Comeou
por composies dramticas, mas como se lhe no abrissem as portas do teatro, e na doce iluso de ganhar mais alguma
cousa do que lhe podia dar o patro e amigo, fez romances. Escusa dizer que nem versos nem romances lhe deram fortuna.
Era, porm, uma real vocao literria, desajudada embora de gnio e de cultura. No s no desanimou, mas na constncia
do engano que lhe acalentava a ambio, e vendo a proteo que recebiam alguns letrados, imaginou compor um poema que
lha atrasse. E o comps numa improvisao rpida, em doze cantos de oitava rima, moda de Cames. Escritos os seis
primeiros, foi com eles, como carta de recomendao, ao ministro da Fazenda solicitar-lhe um emprego. Deu-lhe o prcere
o de guarda da Alfndega com 400 mil-ris anuais, o que para o tempo e situao do poeta no seria to mau como figurou
Norberto na biografia de Teixeira e Sousa. O poema A independncia do Brasil, mais um dos muitos pecos rebentos da
rvore camoniana, e este de todo mofino.
102
A crtica, com Gonalves Dias frente, foi-lhe impiedosa. vista, porm, da sua
condescendncia habitual com no melhores frutos da musa indgena contempornea, lcito supor que a humildade de
condio do poeta fosse parte na justia que lhe faziam. Desse pssimo poema salvou-se o autor com um verso que, como
aquele tambm nico verso da tragdia troada por Pailleron, bom, e ficaria proverbial:
Em nobre empresa a mesma queda nobre.
Magalhes o citaria, sem nomear o autor, no seu prefcio dos Fatos do esprito humano, deturpando-o. Um escritor
portugus, com a incoercvel antipatia com que quase sempre olharam os escritores seus patrcios para os nossos, chamou-
lhe de Cames africano. Esquecia que Cames como Teixeira e Sousa os tem havido em barda na sua terra, como lhe no
lembrava que desde o sculo XV havia uma numerosssima escravaria negra em Portugal... Auxiliado por amigos e associado
a Paula Brito, abandonando o mesquinho emprego, abriu uma oficina tipogrfica conjuntamente loja de objetos de escritrio.
Casou, fez famlia e maus negcios, fechou a loja e aceitou para viver o lugar de mestre-escola do Engenho Velho com casa
e 800 mil-ris anuais, nomeado pelo marqus de Monte Alegre. Sem jeito nem gosto pela ingrata profisso de mestre de
meninos, pediu ao Ministro Nabuco lhe desse a escrivania vaga de Maca. Nabuco fez melhor, nomeou-o para uma escrivania
da Corte, o que era para ele quase a abastana: escrivo da Primeira Vara do Juzo do Comrcio do Rio de Janeiro. Foi isto
em 1855. Mal passados seis anos morria Teixeira e Sousa com 49 anos de idade. Fora carpinteiro, tipgrafo, caixeiro,
revisor de provas, guarda da Alfndega, editor, mestre-escola e por fim escrivo do Foro. Mas sobretudo foi, com mal
empregada e malograda vocao, homem de letras. E no as tinha de todo ms, pois compunha versos latinos
103
e era lido
nas literaturas modernas.
Antes do mal sorteado poema da Independncia do Brasil, publicara Teixeira e Sousa dous volumes de poesias com o
ttulo de Cnticos lricos (1841-1842) e o poema romntico, em cinco cantos, de versos endecasslabos soltos, Os trs dias
de um noivado (1844), inspirado de uma lenda indgena. Mais de uma daquelas poesias e um ou outro passo deste poema
dizem que havia um poeta, que porventura apenas carecia de cultura e polimento, neste desventurado amador das letras. Um
soneto seu ao menos, embora o prejudique o amaneirado do estilo, um dos melhores do tempo e j prenuncia o lirismo da
segunda gerao romntica, muito mais subjetivo do que o era o da primeira. este:
Vi o semblante teu, morri de gosto,
Amei-te e tu regeste a minha sorte;
Tu foste a minha estrela, e tu meu norte;
Que mgico poder tem o teu rosto!
Foste ingrata, mudou-se o teu composto,
Sofri da ingratido o cruel corte,
Anelei no meu mal a torva morte;
Que mgico poder tem o desgosto!
Choras arrependida?... ! no, serena,
Serena o rosto teu meu doce encanto;
Que mgico poder tem tua pena!
Resistir aos teus ais... quem pode tanto?!
Que te adore outra vez amor ordena;
Que mgico poder no tem teu pranto!
No , porm, como poeta que Teixeira e Sousa tem um lugar nesta gerao e nesta Histria, mas como o primeiro
escritor brasileiro de romance, portanto o criador do gnero aqui. O Perodo Colonial que com Nuno Marques Pereira tivera
no Peregrino da Amrica a primeira fico, essa, porm, de moral e edificao religiosa, nada produziu que se possa chamar
de novela ou romance. A renovao literria indicada por Magalhes produzira algumas novelas e contos, publicados
geralmente nos peridicos dessa poca e muito poucos dados luz em volume. Daquelas, a mais antiga so As duas rfs,
de Noberto, aparecida em 1841. Romance propriamente, o primeiro o Filho do pescador, de Teixeira e Sousa, de 1843.
Sucessivamente publicou Teixeira e Sousa mais cinco romances, As fatalidades de dous jovens (1846), Maria ou a menina
roubada (1859), Tardes de um pintor ou as intrigas de um jesuta (1847), A providncia (1854), Gonzaga ou a conspirao
de Tiradentes (1848-1851). Destes, alguns saram primeiramente em jornais e peridicos, como a Marmota de Paula Brito.
Por esta constncia de produo num gnero que, antes que Macedo o seguisse em 1844 com A moreninha, era ele o nico
a cultivar, ganhou Teixeira e Sousa direito inconcusso ao ttulo de criador do romance brasileiro. Os seus infelizmente
tornaram-se para ns ilegveis, tanta a insuficincia da sua inveno e composio, e tambm da sua linguagem.
Se houvramos de aceitar a precedncia cronolgica como nica ou principal indicao de prioridade literria que
antes deve ser julgada pela valia e influxo da obra, a Teixeira e Sousa caberia tambm a primazia na introduo do nosso
segundo indianismo. Com efeito, de parte algumas passageiras referncias a assuntos indgenas, ou episdicas apresentaes
de ndios em alguns poemas da fase imediatamente anterior ao Romantismo, ele o primeiro a fazer do nosso selvagem tema
de uma fico em verso e a tomar ndios para suas personagens principais nos Trs dias de um noivado, poema romntico
de que a Minerva Brasiliense publicou fragmentos em 1843 e que veio a lume em 1844. Que o inspirara ou estimulara a
inveno de Chateaubriand do indianismo na literatura francesa com a sua Atala, fornece ele prprio um documento na
seguinte estrofe do seu poema:
Tu que de ermos speros, inspitos
Do Gro Meschacebeu viste os arcanos;
Que debuxaste dos agrestes ncolas
A par de usos seus, beleza egrgia
Na melindrosa virgem das palmeiras,
Com sublime pincel, bardo sicambro,
Tua Atala to gentil, to pura e meiga,
Perdoa, inda era menos que Mirlia.
que, sob a influncia do Romantismo europeu, em revolta contra o classicismo, o indianismo se apresentava nossa
mente revoltada contra a hegemonia literria portuguesa, que era o nosso classicismo, como o nosso natural recurso de
reao espiritual nacionalista. Foi antes o estmulo poltico da Independncia que a ao de nossos escritores uns sobre os
outros que originou aqui o indianismo romntico e o generalizou. Ao mesmo tempo que Teixeira e Sousa escrevia, talvez
ainda em Itabora, esse poema j indianista de inspirao, assunto e sentimento (1842-43), Gonalves Dias, segundo informe
fidedigno no seu bigrafo A. H. Leal, compunha as poesias americanas que deviam vir luz em volume no Rio em 1846, e
criar pela fora de beleza que trazia o indianismo.
III PEREIRA DA SILVA
Joo Manuel Pereira da Silva nasceu no Rio de Janeiro a 30 de agosto de 1817 e faleceu em Paris a 14 de junho de 1898.
Era formado em Direito pela Faculdade de Paris, foi deputado geral, presidente de provncia e exerceu outras funes
pblicas igualmente importantes. Escritor abundante, como todos os do grupo de que fez parte, foi historiador poltico e
literrio, bigrafo, crtico, romancista e poeta. o tipo do amador, do diletante, em letras, escrevendo pelo gosto, acaso pela
vaidade de escrever, sem no ntimo se lhe dar muito do que escreve e menos de como escreve. Tinha sem dvida vocao
literria, mas sem dons correspondentes que a fecundassem. Escrever era para ele um hbito, como que um vcio elegante,
qual jogar as armas ou montar a cavalo, um desporto agradvel e distinto. No lhe importava nem a tmpera das armas nem
a qualidade do animal, o essencial para ele era jog-las ou mont-lo. Assim a sua obra copiosa e volumosa, importante pelos
assuntos, pouco vale pelo fundo e pela forma. Historiador, escreveu histria com pouco estudo, com quase nenhuma pesquisa,
sem crtica nem escrpulos de investigao demorada e paciente; crtico, no passa de um elogiador retrico, com vasta mas
superficial leitura das literaturas modernas e mal assimilada conquanto extensa informao literria, sem idias prprias
nem alguma originalidade; poeta, menos que medocre, e romancista, carece absolutamente de imaginao. Mas como
veio sempre escrevendo desde a inaugurao do Romantismo at o pleno modernismo, por mais de cinqenta anos, dando
um exemplo raro de constncia no labor literrio, o seu nome ganhou em suma certa aura e a sua figura literria ficou at a
sua morte em evidncia, e, ao menos por aquela virtude, estimada. O exemplo seria demais belssimo se outro fosse o valor
da sua volumosa obra. Desta apenas lhe sobrevive ainda, antes por ser a nica no gnero que pelo merecimento que possa
ter, a Histria da fundao do imprio brasileiro (Paris, 1864-1868), alis cheia de inexatides e falhas, como todas as suas
obras histricas.
Se Teixeira e Sousa foi o criador do romance que nos habituamos a chamar de brasileiro, isto , o que representa a nossa
vida comum e descreve os nossos costumes, paisagens, tipos, foi entretanto Pereira da Silva quem, precedendo-o, criou o
romance de fico histrica, ento em voga com Walter Scott e seus primeiros discpulos. Ufanava-se com motivo no
prefcio da primeira edio do seu Jernimo Corte Real, crnica do sculo XVI, de que este era um dos primeiros da
literatura portuguesa moderna, pois que viu a luz do dia nos anos de 1839. Realmente s o precedeu em Portugal o Arco de
SantAna, de Garrett, que de 1833. Em 1839 publicou Pereira da Silva o romance histrico O aniversrio de D. Miguel em
1825, mas apenas uma novela de trinta e trs pginas, como apenas uma novela de poucas mais pginas Religio, amor
e ptria, sada no mesmo ano. Jernimo Corte Real tambm teve a sua primeira publicao no Jornal do Comrcio em
forma de curta novela, que o autor ampliou em romance, alongando-o alis com desenvolvimento impertinente, quando a
deu em livro de 240 pginas, em 1865. Do mesmo gnero de Jernimo Corte Real Manoel de Morais, crnica do sculo
XVII. Sabendo-se como ele fazia histria, avalia-se como faz o romance histrico. Os seus realmente no tm valia alguma
como quadro das pocas que presumem pintar, nem qualidades de imaginao ou expresso que lhes atenuem esse defeito.
Esta alis talvez melhor nestes seus dous romances que no resto dos seus livros, e, em todo caso, superior dos de
Teixeira e Sousa.
Pereira da Silva um dos criadores da nossa histria literria. Precedeu mesmo Varnhagen nesses estudos, mas de
pouco lhe vale essa precedncia meramente cronolgica, porque o que fez nesse gnero, quer no Parnaso Brasileiro (1843)
quer no Plutarco Brasileiro (1847), no tem a originalidade nem a segurana dos trabalhos de Varnhagen. So a repetio
sem crtica do j sabido, com muitas novidades de pura inveno ou de falha ou viciosa informao. Acham-se-lhe porm na
obra crtica, desde 1842, alguns conceitos que deviam mais tarde ser espalhafatosamente apresentados como originais e
inditos. Tal o de literatura que aquela data j Pereira da Silva declarava ser o desenvolvimento das foras intelectuais
todas de um povo; o complexo de suas luzes e civilizao; a expresso do grau de cincia que ele possui; a reunio de tudo
quanto exprimem a imaginao e o raciocnio pela linguagem e pelos escritos.
104
Sem menosprezar-lhe inteiramente as
constantes provas do seu gosto das letras e da sua longa persistncia em document-lo com obras de toda a espcie, os seus
contemporneos, no obstante as sinceras louvaminhas de parceiros, no se enganaram sobre o valor da sua obra, e apenas
mediocremente o estimaram como escritor. A histria da literatura lhes ratificar este sentimento.
IV VARNHAGEN
Cronologicamente pertence tambm a esta gerao um escritor que, sem ter como tal grandes recomendaes, foi
todavia um dos mais prestimosos da literatura e da cultura brasileira: Francisco Adolfo de Varnhagen. Nasceu em Sorocaba
(S. Paulo) em 17 de fevereiro de 1816 de pai alemo, criou-se e educou-se em Portugal, onde passou a infncia e juventude.
Conquanto houvesse percorrido uma grande extenso do litoral e ainda do serto brasileiro, em viagens de observao e
estudo, nunca propriamente habitou o Brasil, quero dizer, nunca nele se demorou com nimo de se domiciliar. O fato de sua
origem germnica e formao portuguesa e europia, da sua constante ausncia e pouca convivncia do seu pas natal e mais
tarde de ter constitudo famlia fora dele, do a Varnhagen uma fisionomia particular, um todo nada extico. Da estirpe
germnica tirava seu instinto de venerao e respeito dos magnates, dos poderosos, das instituies consagradas e das
cousas estabelecidas. talvez o nico brasileiro sem falha neste particular, justamente porque em suma pouco brasileiro
de temperamento, de ndole e ainda de sentimento. Levou-o pia batismal o prprio capito general da provncia em que
nasceu, o Conde de Palma. Desde a com tais prceres que anda. Como historiador, raro acha a censurar nos que tm o
mando, ao contrrio esfora-se por lhes encontrar sempre razes e desculpas. Do mesmo modo justifica sempre todas as
instituies, descobre-lhes ou inventa-lhes virtudes e benefcios. Mal pode esconder o jbilo e a vaidade pela troca feita pelo
imperador, seu amigo e protetor, do seu nome j glorioso de Varnhagen pelo de visconde de Porto Seguro. Consagrou toda
a sua laboriosa existncia a estudar a histria do Brasil, e a servi-lo com dedicao e zelo em cargos e misses diplomticas.
Sente-se-lhe, entretanto, no sei que ausncia de simpatia, no rigor etimolgico da palavra, pelo pas que melhor que ningum
estudou e conhecia, e era o do seu nascimento. No patriotismo, entenda-se, que lhe desconhecemos, esse o tinha ele,
como qualquer outro e do melhor. Faltava-lhe, porm, no lho sentimos ao menos, aquele no sei que ntimo e ingnuo, mais
instintivo que raciocinado, sentimento da terra e da gente. Ele no tem as idiossincrasias do pas. Por isso Varnhagen no
de fato romntico, seno pela poca literria em que viveu e colaborou; de todos os brasileiros seus contemporneos no
perodo inicial do Romantismo, talvez o nico que alm de no ser indianista, isto , de no ter nenhuma simpatia pelo
ndio como fator da nossa gente, ao contrrio o menospreza, o deprime e at lhe aplaude a destruio. tambm o nico que
altamente estima o portugus, lhe proclama a superioridade, oculta ou disfara os defeitos do regime colonial e,
propositadamente, lhe adota o pensamento e a lngua. S ele dos seus companheiros a escreveria vernaculamente, sem
sequer o incoercvel brasileirismo da posio dos pronomes, todos neles indefectivelmente postos portuguesa. Mas a
escreve apenas corretamente, de estudo e propsito, com esforo manifesto, sem espontaneidade, fluncia ou elegncia,
nem os idiotismos por que o verdadeiro escritor revela a sua nacionalidade. Por tudo isto se no achou Varnhagen em
simpatia com os seus confrades de gerao, nem estes com ele. Enquanto por esprito de camaradagem e muito tambm de
solidariedade na obra que juntos amorosamente faziam, eles se no regateavam mtuos encmios e acorooamentos
freqentemente desmerecidos e indiscretos, olvidavam a Varnhagen ou o tratavam como colaborador somenos. Raramente
se lhe acha o nome, e ainda assim parcamente elogiado, nos muitos escritos com que reciprocamente se sustentavam e sua
causa. Ser porque no compreendessem a importncia para esta da obra de erudio que ele fazia? Ser porque a esses
poetas, que todos sobretudo o eram, essa obra parecesse de pouco alcance literrio e pouco gloriosa? No entanto quase
todos eles faziam tambm histria, mesmo literria. verdade que a faziam de palpite, como poetas, sem investigao
prpria, sem acurado estudo, retrica e declamatoriamente, com a sua imaginao ou repetio do j feito pelos portugueses.
Apenas Norberto, mas somente em parte da sua obra, escapa a este reproche.
O primeiro escrito considervel de Varnhagen, j da slida erudio de que ele seria um dos raros exemplos nas nossas
letras, foram as suas Reflexes crticas sobre a obra de Gabriel Soares, publicadas no tomo V da Coleo de notcias para
a histria e geografia das naes ultramarinas pela Academia Real das Cincias de Lisboa (1836). Comeando a sua
fecunda iniciativa da rebusca e publicao de monumentos interessantes para a nossa histria geral, d, em 1839, luz,
tambm em Lisboa, o Dirio da navegao, de Pro Lopes.
Em 1840 escreve no Panorama, o clebre rgo da renovao literria portuguesa, uma Crnica do descobrimento do
Brasil, que seria o primeiro romance brasileiro se no fosse apenas uma dessaborida crnica romanceada sobre a carta de
Caminha, cujo descobridor na Torre do Tombo foi Varnhagen. Sem falar em outros seus escritos de maior interesse portugus
que brasileiro, dos anos imediatamente subseqentes, enceta em 1845, com os picos brasileiros, nova edio prefaciada e
anotada dos poemas de Santa Rita Duro e Baslio da Gama, as suas publicaes diretamente relativas nossa histria
literria, pouco depois prosseguidas com a do Florilgio da poesia brasileira ou coleo das mais notveis composies
dos poetas brasileiros falecidos, contendo as biografias de muitos deles, tudo precedido de um Ensaio Histrico sobre as
Letras do Brasil.
105
Pelo rigoroso e acurado da sua investigao e estudo e dos seus resultados, pela novidade das suas notcias, pelo indito
e seguro da sua informao, pelo nmero e justeza de algumas de suas idias gerais, pela largueza de sua vista, esta obra de
Varnhagen lanava os fundamentos, e o futuro provou que definitivos, da histria da nossa literatura. No valem contra este
conceito a precedncia meramente cronolgica de alguns tmidos e deficientssimos ensaios de Cunha Barbosa, de Pereira
da Silva, de Norberto, de Magalhes e outros, que apenas repetiram as conhecidas notcias dos bibligrafos e memorialistas
portugueses, sem lhe acrescentar nada de novo, e ainda errando o que j andava sabido. Neste investigar dos nossos primrdios
literrios, continuado na sua Histria geral do Brasil, onde em vrios passos se ocupa da nossa evoluo literria, e em
papis e memrias diversas publicadas em peridicos e revistas, descobriu, noticiou, editou e fez editar Varnhagem alguns
preciosos escritos. Tais foram os Dilogos das grandezas do Brasil, de Gabriel Soares, a Narrativa epistolar, de Cardim, a
Prosopopia, de Bento Teixeira, a Histria do Brasil, de Fr. Vicente do Salvador, sem contar quantidade de espcies novas
para a vida e obra de outros escritores do perodo colonial.
A obra capital de Varnhagen , porm, a sua Histria do Brasil, que ele chamou de Geral por abranger nela todas as
manifestaes da nossa vida e atividade, ainda a literria e a artstica. Publicada primeiro em 1857 e reeditada em 1872,
um livro de primeira ordem, se no pela sua estrutura, ainda assim no de todo defeituosa, pelo bem apurado dos fatos,
riqueza e variedade das informaes, harmonia do conjunto e exposio geralmente bem feita. Sem imaginao, sem qualidades
estticas de escritor, sem relevo ou elegncia de estilo, Varnhagen escreve, todavia, decorosamente. Merece igual apreciao
outra considervel obra sua, a Histria das lutas com os holandeses, publicada j fora do perodo romntico. Na nossa
literatura histrica, as obras de Varnhagen so certamente o que temos de mais notvel.
Tentou ele, como vimos, pela sua Crnica romanceada do Descobrimento do Brasil, as obras de imaginao ou de
fico. Carecendo de qualidades de imaginao e fantasia e de estilo, no lhe podia suceder bem. O seu Amador Bueno,
drama pico-histrico-americano (Lisboa, 1847, Madri, 1858), com o seu Sum, lenda mito-religiosa-americana, e o
seu Caramuru, romance histrico brasileiro, em redondilhas de seis slabas, sado primeiro no Florilgio e depois em
separado, apenas lhe documentam a incapacidade para essa espcie de literatura. pela sua obra de historiador e de erudito
que Varnhagen merece, e tem, um distinto lugar na histria da nossa literatura, da qual foi o criador e permanece o alicerce
ainda inabalado.
Varnhagen veio a falecer longe do Brasil, como sempre tinha vivido, em Viena dustria, a 20 de junho de 1878.
A filosofia da Histria de Varnhagen a comum filosofia espiritualista crist do seu tempo, com o pensamento moral e
poltico da sua educao portuguesa. em histria um providencialista, em poltica um homem de razo de Estado, da
ordem, da autoridade e do fato consumado. Depois de narrar as depredaes do corsrio ingls Cavendish nas costas do
Brasil, diz que veio a falecer no mar, dentro de pouco tempo, provavelmente ralado pelos remorsos (Hist. geral, I, 391).
Os remorsos matarem um corsrio do sculo XVI! Duguay-Trouin, regressando do seu assalto feliz ao Rio de Janeiro,
sofreu temporais que lhe derrotaram a esquadra, como se a Providncia quisesse castigar os que os nossos haviam deixado
impunes (ibid. II, 816). Malogrou-se a revoluo pernambucana de 1817. Ainda assim desta vez (e no foi a ltima) o
brao da Providncia, afirma seriamente Varnhagen, bem que custa de lamentveis vtimas e sacrifcios, amparou o Brasil,
provendo em favor da sua integridade (ibid. 1150, II). Esta filosofia tem ao menos a vantagem de no ser presunosa e de
dispensar qualquer outra. Era alis a do tempo, e dela se serviram aqui todos os historiadores sem exceo de Joo Lisboa,
o mais alumiado de todos. Varnhagen, porm, com abuso, piorando o seu caso com o carrancismo da sua educao portuguesa
se no de seu prprio temperamento literrio.
V NORBERTO
Joaquim Norberto de Souza Silva nasceu no Rio de Janeiro a 6 de junho de 1820 e faleceu em Niteri a 14 de maio de
1891. Nesta gerao de laboriosos homens de letras, foi um dos mais laboriosos, e a alguns respeitos, um dos melhores e
mais teis deles. Ou porque a existncia fosse ento mais fcil ou porque o amor desinteressado das letras fosse ento maior,
certo que nenhuma gerao literria brasileira antes ou depois desta trabalhou e produziu tanto como esta. As bibliografias
de Norberto enumeram-lhe cerca de 80 obras diversas, grandes e pequenas, desde 1841 publicadas em volume ou em jornais
e revistas, afora prefcios, introdues crtico-literrias a obras que editou e outras. No acervo literrio encontra-se-lhe de
tudo, poesia de vrios gneros, teatro, romance, biografia, ensaios e estudos literrios, administrao pblica, histria poltica
e literria e crtica. Como Norberto no tinha nem o talento, nem a cultura, pois era um fraco autodidata, que presume
tamanha e to variada produo, ela na mxima parte medocre ou insignificante. Deste enorme lavor apenas se salvam,
para bem da sua reputao, os seus vrios trabalhos sobre as nossas origens literrias, os seus excelentes estudos sobre os
poetas mineiros, a sua grande e boa monografia da Conjurao Mineira e algumas memrias histricas publicadas na Revista
do Instituto. Por aqueles trabalhos Norberto, depois de Varnhagen, o mais prestimoso e capaz dos indagadores da histria
da nossa literatura, um dos instituidores desta. Como crtico, porm, sacrifica demais ao preconceito nacionalista de achar
bom quanto era nosso, de encarecer o mrito de poetas e escritores somenos, no ingnuo pressuposto de servir causa das
nossas letras. Ele as serviu otimamente alis, menos pelo que de original produziu, que tudo secundrio, ou por esse zelo
indiscreto delas que f-las suas conscienciosas investigaes de alguns tipos e momentos da nossa histria literria, e
publicaes escorreitas de algumas obras que andavam inditas ou dispersas e desencontradias dos nossos melhores poetas
coloniais.
Concorreu mais para avultar grandemente a produo literria do seu tempo e gerao. Na esteira de Magalhes fez
tambm poesia americana, cantou os ndios, ps em verso cenas e episdios da nossa histria ou das nossas tradies, e, at,
com pouco engenho e nenhum sucesso, tentou a naturalizao da balada, forma potica por sua singeleza absolutamente
antiptica gente, como a portuguesa e a nossa, de alma pouco ingnua e que de raiz ama a eloqncia da poesia. Em
Norberto se exagera o espiritualismo sentimental de Magalhes, e o seu maneirismo potico. Alm dos portugueses e
brasileiros l o pseudo-Ossian, Lamartine, George Sand (ainda ento M.me Du Devant, como a cita), A. de Vigny, Delavingne
e Chateaubriand, Lope de Rueda, Victor Hugo, Parny, Ducis, Shakespeare. O alimento romntico no lhe tira toda a substncia
clssica, e, cedendo-lhe, escreve tambm uma tragdia em verso, em cinco atos, respeitando deliberadamente as regras
aristotlicas: Clitemnestra. Das peas que escreveu Norberto, parece que a nica representada, em 1846, e por Joo Caetano,
foi Amador Bueno ou a fidelidade paulistana, em 5 atos. Tambm se representaram tradues suas do Tartufo, de Molire,
e do Carlos VII, de Dumas pai, segundo a informao pouco segura de Sacramento Blake.
Noberto foi mais o criador, se no do romance brasileiro da fico novelstica em prosa aqui. A sua novela, alis por ele
mesmo chamada de romance, As duas rfs, foi publicada em 1841 (8., 35 pgs.), dois anos portanto antes do Filho do
pescador, de Teixeira e Sousa, que de fato pelo desenvolvimento e volume o primeiro romance brasileiro. Em 1852 reuniu
Norberto essa e mais trs novelas sob o ttulo, imprprio quanto ao primeiro termo, de Romances e novelas, num volume em
oitavo de 224 pginas. So todas de assunto e inspirao nacional. A intuio que Norberto tinha do romance acha-se
expressa na sua notcia sobre Teixeira e Sousa: expandir-se pelas minuciosidades das descries dos quadros da natureza,
perder-se em reflexes filosficas e demorar-se nas trivialidades de um enredo cheio de incidentes para retardar o desenlace
da ao principal.
106
Certamente Teixeira e Sousa nos seus longos romances cumpriu mais risca este programa, alis da sua ndole e gosto;
Norberto, porm, ainda nas suas novelas o seguiu.
Norberto publicou vrias colees de poesias, quatro ou cinco pelo menos, alm de numerosos poemas que em tempos
diversos saram em perodicos e no foram jamais reunidos. Embora muito apreciados no seu tempo, nenhum s desses
poemas viveu na nossa memria ou sobreviveu ao poeta. A histria literria uma impertinente e implacvel desconsoladora
da vaidade literria, patenteando a do prprio trabalho das letras e o efmero e precrio da glria contempornea. Mas no
seu tempo, ao menos, no foi de todo vo esse mprobo labor dos Norbertos, dos Teixeiras e Sousas e de outros companheiros
seus na criao da nossa literatura. Eles trouxeram a pedra que por oculta e desconhecida nem por isso deixa de ter servido
para levantar o edifcio.
No obstante haver compilado um volume de estudos alheios da lngua portuguesa,
107
o que faria supor-lhe particular
estudo dela, Norberto no escreveu bem. Como os escritores seus confrades de escola e companheiros de gerao, no teve
mesmo a nossa preocupao de bem escrever, com acerto e elegncia. geralmente natural desataviado, mas no raro
tambm incorreto. Quando se quer elevar a um estilo mais castigado, guinda-se e cai no empolado e no difuso. Perpetra
menos galicismos do que hoje e do que o vulgo dos escritores portugueses seus contemporneos. Alis os da sua gerao
incorriam menos nesse defeito que os posteriores.
A sua obra capital em prosa a Histria da Conjurao Mineira, nada obstante a opinio que dela possa fazer o nosso
sentimentalismo poltico, uma das boas monografias da nossa literatura histrica. E mais bem ordenada e composta do que
comum em livros tais aqui escritos. Alm disso, o que tambm no aqui vulgar, uma obra original, feita principalmente
com pesquisas prprias e de estudo pessoal.
VI MACEDO
Joaquim Manuel de Macedo nasceu em Itabora, na provncia do Rio de Janeiro, em 24 de junho de 1820, e morreu na
cidade do Rio de Janeiro em 11 de abril de 1882. Foi historiador, poeta, romancista, corgrafo, dramaturgo e comedista,
alm de jornalista poltico e literrio. Nem pelo vigor do pensamento, nem por qualidades de expresso literria, se abaliza
como escritor. como criador, com Magalhes e Teixeira e Sousa, e mais eficaz do que estes, do romance brasileiro, como
um dos principais fomentadores do nosso teatro, e porventura o seu melhor engenho, como autor de um poema romntico,
no gnero um dos melhores produtos literrios dessa poca, e enfim pela influncia que, principalmente como romancista,
exerceu, que Macedo um dos tipos mais vivos da nossa literatura. Foi um dos escritores mais fecundos que temos tido,
talvez o mais fecundo. Deixou mais de vinte romances, quase outras tantas peas de teatro, poesia e aquele poema romntico
em seis cantos, livros de histria e corografia do Brasil, quatro grossos volumes de biografia, obras didticas, discursos
acadmicos e polticos, alm de estudos histricos, e folhetins e artigos diversos de sua colaborao em jornais e revistas.
Afora os romances, o teatro e aquele poema, o resto de somenos valor. Macedo fazia histria como fazia romance,
descuidadamente, ao correr da pena, sem nenhum escrpulo de investigao e de estudo. Os seus grossos tomos de biografia
so totalmente sem prstimo.
A sua primeira obra em livro o romance A moreninha,
108
de 1844. Seguem-se-lhe, no ano seguinte, O moo loiro (2
vols. In-8.), em 1848, Os dois amres (2 vols. In-8.), em 49 Rosa e, a breves trechos, Vicentina, O forasteiro (alis escrito
antes de todos estes), O culto do dever, A luneta mgica, O Rio do Quarto, Nina, As mulheres de mantilha, Um noivo e duas
noivas, e outros, sem contar as novelas colecionadas sob vrios ttulos. A maior parte tem mais de um tomo.
A moreninha foi um acontecimento literrio e popularizou-se rapidamente. A crtica exultou com o seu aparecimento.
Dutra e Melo, na Minerva Brasiliense, do mesmo passo que o celebra com grandes gabos, expe a teoria do romance como
devia ser e era aqui praticado. Preconiza o romance histrico e o romance filosfico, que ainda ningum aqui fizera, contanto
que neste se no sigam os delrios da escola francesa, um Louis Lambert por exemplo. Se bem cair no preceito do Omne
tulit punctum qui miscuit utile dulci, deve esse romance tornar-se moralizador e potico. Reconhece que autores de
merecimento, poetas distintos (aludiria certamente a Magalhes, Teixeira e Sousa e Noberto) se tinham j ocupado do
romance sentimental produzindo belas pginas. De todo esse artigo de escritor ento muito conceituado, deduz-se que o
romance devia ser potico, sentimental, moralizador. Foi assim realmente que mais ou menos o fizeram os romancistas
dessa gerao e ainda da seguinte.
A moreninha consagrou definitivamente o autor que at a sua morte foi conhecido como o Macedo dA moreninha ou
tambm pelo apelido familiar de o Macedinho. Esse romance, ainda hoje muito lido, talvez o que maior nmero de
edies e republicaes tem tido no Brasil.
Os romances de Macedo so todos talhados por um s molde. So ingnuas histrias de amor, ou antes de namoro, com
a reproduo igualmente ingnua de uma sociedade qual era a do seu tempo, ch e matuta. Cuidando aumentar-lhes o
interesse, e acaso tambm faz-los mais literrios, carrega o autor no romanesco, exagera a sentimentalidade at pieguice,
filosofa banalidades a fartar e moraliza impertinentemente. So romances morais, de famlia; leitura para senhoras e senhoritas
de uma sociedade que deles prprios se verifica inocente, pelo menos sem malcia, e que, salvo os retoques do romanesco,
essas novelas parece retratam fielmente. A sua filosofia trivial, otimista e satisfeita, conforme o esprito da poca romanceada.
A sua moral, a tradicional nos povos cristos, sem dvidas, nem conflitos de conscincia, a moral de catecismo para uso
vulgar. Nem a prejudica o abuso de namoro, ou alguns casos de amor romanesco, pois tudo no aponta seno ao casamento
e acaba invariavelmente nele, para completa satisfao dos bons costumes. Pouco variam as situaes e tipos dos romances
de Macedo. Ou eram de fato uma e outros constantes na sociedade de que Macedo escreveu o romance, ou ao romancista
faltou a arte de lhes descobrir as forosas variaes. So infalveis neles certas categorias de personagens, a moa apaixonada,
amorosa ou namoradeira, a intrigante ou invejosa que contra esta conspira, o gal, ora fatal e irresistvel, ora apenas simpti co
e galanteador, a velha namoradeira e ridcula, o velho azevieiro e grotesco, o estudante engraado, divertido e trfego, o
traidor que maquina contra o gal e a sua amada, o ancio (o ancio de Macedo um homem de 50 anos, como as suas
jovens amorosas no tm nunca mais de dezesseis) experiente, amigo certo e conselheiro avisado e mais o gracioso ou
jocoso da comdia. Vem a plo a terminologia teatral, porque Macedo em muito autor dramtico, e os seus romances
deixam por mais de uma feio rever este conspcuo feitio do seu engenho. Ao invs dos escritores nossos patrcios dessa
fase e ainda dos das subseqentes, Macedo um escritor alegre e satisfeito, porventura o nico da nossa literatura. A sua arte
lhe um divertimento, e o seu objeto, praticando-a, divertir os seus contemporneos, sem talvez se lhe dar dos vindouros.
Diverti-los moralizando-os, risonhamente, despreocupadamente, sem outro propsito mais alto, tal parece ter sido o seu
intuito literrio.
A atividade dramtica de Macedo vai de 1849 aos ltimos anos de 60 ou aos primeiros de 70. justamente o perodo de
maior florescimento do nosso teatro, que ento realmente existiu com autores e atores nacionais, queridos e estimados do
pblico. Entre os ltimos havia-os, certo, portugueses, mas esses, quase todos domiciliados aqui, achavam-se de fato
nacionalizados. Macedo concorreu para esse teatro com mais de uma dzia de peas, dramas em prosa e verso, comdias,
peras, que so o moderno vaudeville, e farsas, mostrando em tudo vocao decidida para o gnero fcil e boa veia cmica.
Como esta lhe vinha mais do natural que a dramtica, valem as suas comdias mais do que os seus dramas. Na comdia acha-
se ele melhor, em um mundo mais natural, mais espontneo e que lhe mais familiar e conhecido que o dos seus dramas. Na
inspirao e feitura destes, sente-se a influncia da dramaturgia francesa contempornea, como em Lusbela, por exemplo, a
da Dame aux Camlias, ou de quejandos modelos. Demasiado romnticos de assunto, excessivamente romanescos de
composio e estilo, falham mais os seus dramas do que as suas comdias na representao que presumem ser da nossa vida.
No logram tambm atingir por qualidades superiores de inveno e expresso a generalidade da representao humana que
supra ou exceda aquela. H, porm, neles condies de teatralidade e arte de desenvolvimento e exposio. O principal
defeito do nosso teatro, o que mais nos afronta com a sua desnaturalidade, o dilogo geralmente falso ou em desacordo
com o que ouvimos na rua ou na sala. A nossa sociedade, de fato ainda no de todo perfeitamente policiada, se no criou j
uma sociabilidade, com frmulas dialogais e de tratamento mtuo entre os interlocutores, que o escritor de outras lnguas
quase no faz seno reproduzir. Esse tratamento no nosso teatro mostra afrontosa incoerncia, que alis a mesma dos
nossos hbitos de conversao. Querendo evit-la, Macedo e muitos dos nossos escritores de teatro ainda hoje recorrem ao
tratamento da segunda pessoa do plural, que fora do estilo oficial ou do verso, de todo no usamos. E como o ridculo um
pouco o inslito, essas formas ridiculizam as peas que as empregam. O teatro romntico na comdia popular de Pena, de
Macedo, de Alencar e de autores de menor nome, deu da sociedade do tempo uma cpia em suma exata. Desmerece, porm,
essa representao no drama ou na comdia da nossa alta vida. Esta a viram sempre atravs de suas impresses de romntica
francesa. Da a pouca fidelidade na pintura dela e nos sentimentos que lhe atribuem. Nunca houve de fato na nossa sociedade
preconceitos de raa ou de casta bastante generalizados e profundos, capazes de determinar as situaes como a de Lusbela,
de Macedo.
Num momento de feliz inspirao escreveu Macedo A nebulosa, poema no s romntico de inteno e de escola, mas
nimiamente romanesco. No obstante a sua sensibilidade lamurienta, e o aparelho ultra-romntico da ao, cheia de maravilhas
de mgica, h neste nico poema de Macedo grandes belezas de poesia e expresso. Mais de um trecho seu ainda nos
impressiona pela fora de emoo que lhe ps o poeta. Mas ainda para o tempo desmasiava-se o poema em indiscretos
apelos ao pattico e sentimentalidade que fazem que hoje no o leiamos sem enfado.
Concomitantemente com estes principais representantes da nossa primeira fase romntica, poetaram aqui outros muitos
sujeitos, como os fluminenses Joaquim Jos Teixeira (1822-1884), Jos Maria Velho da Silva (1811-1901), Antnio Flix
Martins (1812-?), Jos Maria do Amaral (1812-1885), Firmino Rodrigues Silva (de Niteri, 1816-1879); os mineiros Cndido
Jos de Arajo Viana (marqus de Sapuca 1893-1875) e Antnio Augusto de Queiroga (1812-1855); o baiano Francisco
Moniz Barreto (1804-1868), e o pernambucano Antnio Peregrino Maciel Monteiro (1804-1868).
Publicistas, polticos, diplomatas, advogados, mdicos, funcionrios pblicos, poetas o so apenas ocasionalmente,
inconseqentemente, mais de recreio que de vocao, e a sua obra de amadores sobre escassa, o que lhes rev a inpia do
estro, em suma insignificante. Vale somente como indcio de uma inspirao potica que se no limitava aos prceres do
movimento romntico.
Havia no entanto entre eles um bom, um verdadeiro poeta, Jos Maria do Amaral, antes um rcade retardatrio do que
um puro romntico, mas um rcade todo impregnado do lirismo garretiano. Os seus sonetos, nunca reunidos em volume, so
talvez como tais, e como poesia subjetiva, o que melhor deixou essa gerao. A fama de que gozou Moniz Barreto, devida
ao seu singular talento de improvisador, qualidade ento apreciadssima, no a confirma agora a leitura da sua obra, reflexo
demasiado apagado do dessorado elmanismo.
Captulo XI
GONALVES DIAS E O GRUPO MARANHENSE
OS IMPULSOS DE renovao literria dos nossos romnticos da primeira hora, Magalhes, Porto Alegre, Norberto, Macedo
e outros, os veio perfazer o poderoso talento de Gonalves Dias. Da poesia genuinamente brasileira, no por exterioridade
de inspirao ou de forma ou pela inteno dos temas e motivos, mas pelo ntimo sentimento do nosso gnio com as suas
idiossincrasias e peculiaridades, em suma da psique nacional, foi ele o nosso primeiro e jamais excedido poeta.
Gonalves Dias nas nossas letras um dos raros exemplos comprobatrios da falaz teoria da raa. Parece que nele se
reuniam as trs de que se formou o nosso povo. Seu pai era portugus de nascimento, a me aquilo que chamamos no Norte,
donde era, cafuza, isto , o resultado do cruzamento do ndio com o negro. Nasceu em Caxias, no Maranho, em 1823, da
unio natural de seu pai com aquela boa mestia, que lhe foi me carinhosa. Da terra natal, onde iniciou os estudos de latim
com o mestre pblico local, passou com o pai capital da Provncia, seguindo logo ambos da para Portugal, o pai em busca
de sade, ele de instruo. Pouco depois de ali chegado, morreu-lhe o pai, que j ia muito doente. Com quatorze anos,
achou-se Gonalves Dias s, em terra estranha. Esta circunstncia, agravando a nostalgia que sem dvida lhe produzia o
apartamento da ptria e da me, aumentar-lhe-ia a natural dor da perda do pai. No belssimo poema autobiogrfico Saudades,
que dedicou irm, transpira ainda, no obstante os anos passados, a sua grande mgoa, essa dor que no tem nome:
De quando sobre as bordas de um sepulcro
Anseia um filho, e nas feies queridas
Dum pai, dum conselheiro, dum amigo
O selo eterno vai gravando a morte!
Escutei suas ltimas palavras,
Repassado de dor! Junto ao seu leito,
De joelhos, em lgrimas banhado
Recebi os seus ltimos suspiros.
E a luz funrea e triste que lanaram
Seus olhos turvos, ao partir da vida
De plido claro cobriu meu rosto
No meu amargo pranto refletindo
O cansado porvir que me aguardava!
Tornou ao Maranho, mas j em 1840 estava de volta a Portugal matriculado na Universidade de Coimbra. Ou assim
nascesse, e talvez o mais certo, ou as circunstncias do seu nascimento, aquele golpe precocemente sofrido, a orfandade,
o prematuro afastamento da terra natal e das suas mais caras afeies de infncia, assim o houvessem feito, foi Gonalves
Dias, no obstante alguns lampejos de bom humor e de jovialidade, uma alma profundamente melanclica e profundamente
sensvel. Ela se lhe formou ainda em meio das agitaes conseqentes Independncia. Deu-o a me luz quando o pai, por
esquivar perseguies que a sua qualidade de portugus lhe poderia atrair, achava-se foragido nos matos vizinhos de Caxias,
habitando uma palhoa, onde Gonalves Dias nasceu, na carncia de qualquer conforto, entre aflies e medos. Deixaram-
lhe forte e viva impresso estes primeiros incidentes de sua vida. Di-lo ele sua irm naquele poema, uma das suas melhores
pginas:
Parti, dizendo adeus minha infncia,
Aos stios que eu amei, aos rostos caros
Que j no bero conheci, queles
De quem, mau grado a ausncia, o tempo, a morte
E a incerteza cruel do meu destino,
No me posso lembrar sem ter saudades,
Sem que aos meus olhos lgrimas despontem.
......................................................................
Ave educada nas floridas selvas
Vim da praia beijar a fina areia;
Subitneo tufo arrebatou-me,
Perdi a verde relva, o brando ninho.
Nem jamais casarei doces gorjeios
Ao saudoso rugir dos meus palmares;
Porm a branca anglica mimosa
Com seu candor enamorando as guas,
Floresce s margens do meu ptrio rio.
E a mesma imagem se repete mais adiante, mostrando a obsesso daquela impresso dolorosa:
Ave educada nas floridas selvas,
Um tufo me expeliu do ptrio ninho;
As tardes dos meus dias vorrascosos
No terei de passar sentado porta
Do abrigo de meus pais, nem longe dele,
Verei tranqilo aproximar-se o inverno
E pr do sol dos meus cansados anos!
O tufo que o expeliu do ptrio ninho foi o casamento do pai com outra mulher que no aquela de quem ele nascera. A
dor que lhe envolveu a infncia afeioou-lhe a ndole pessoal e potica e ps-lhe nalma a tristeza forte que ser a sua marca
e o seu encanto. A ela juntaram-se-lhe despertadas ou alvoroadas pelos gabos desde menino ouvidos ao seu talento, ambies
de sobrelevar-se sua mesquinha condio:
Um dia apareceu um recm-nado,
Como a concha que o mar praia arroja;
Cresceu qual cresce a planta em terra inculta,
Que ningum educou, a chuva apenas,
Infante viu da roda sepulturas,
Em que no atentou;
................................................................
Ento sentiu brotarem na sua alma
Sonhos de puro amor, sonhos de glria
Sentiu no peito um mundo de esperanas,
Sentiu a fora em si patente o mundo.
Em 1845 formado em Direito, regressou sua provncia. Foi terra natal que deixou logo ralado de desgostos, por
motivos que se no declara, informa discretamente um seu grande amigo e amoroso bigrafo. Esses motivos seriam de
ordem domstica e provenientes da coexistncia da me e da madrasta, que alis parece-lhe fora carovel. A entristecer-lhe
o nimo j de raiz e das circunstncias de sua vida melanclico, a amargurar-lhe a alma e travar-lha de dissabores, que a sua
sensibilidade de poeta e de valetudinrio exagerariam, concorreram mais as condies de penria e dependncia em que,
graas bondade e comiserao de patrcios, amigos rarssimos, lograra completar a formatura em Coimbra. Pouco se
demorando na capital de sua Provncia, veio para o Rio de Janeiro em meados de 1846 e aqui publicou os seus Primeiros
cantos.
109
Antes publicara apenas um pequeno poema Inocncia no trovador de Coimbra e trs ou quatro de igual extenso
no Arquivo, jornal do Maranho.
A crtica, tanto a do Rio de Janeiro como a das provncias, acolheu este primeiro livro de Gonalves Dias com calorosos
e merecidos encmios e, o que mais vale e menos comum, com atilada compreenso do seu valor. O balbucio de Magalhes
e Porto Alegre era j em Gonalves Dias a fala clara, perfeita e melodiosa. Com muito mais harmonia, mais ntimo e mais
vivo sentimento, mais espontnea e original inspirao, maior sensibilidade emotiva, havia relevantemente nele dons de
expresso muito superiores. Pode dizer-se que aqueles poemas revelam e os posteriores o confirmariam o primeiro
grande poeta do Brasil.
Esta preeminncia de que os contemporneos tiveram a intuio, a vieram confirmar os Segundos cantos e sextilhas de
Frei Anto, publicados tambm no Rio dois anos depois. Valem menos as Sextilhas como prova do seu saber da lngua e um
feliz postio arcaico desta, que por testemunharem a delicadeza e vigor da sua imaginao e pensamento potico e riqueza
de sua inspirao lrica. Corroboraram-no ainda os ltimos cantos, de 1851, tudo reunido mais tarde sob o ttulo de Cantos,
na primeira edio de Leipzig (F. A. Brackhaus, 1857, 16., XXVIII, 654 pgs.). Sucederam-se novas edies em nmero de
quatro, contadas da primeira dos Cantos quando acabava o poeta de morrer. Alguns dos poemas dos Primeiros Cantos,
porventura os melhores, repunham em a nossa poesia o ndio nela primeiro introduzido por Baslio da Gama e Duro. Era
essa a sua grande e formosa novidade. Nos poemas daqueles poetas no entrava o ndio seno como elemento da ao ou de
episdios, sem lhes interessar mais do que o pediam o assunto ou as condies do gnero. Nos cantos de Gonalves Dias, ao
contrrio, ele de fato a personagem principal, o heri, a ele vo claramente as simpatias do poeta, por ele a sua predileo
manifesta.
Entre a publicao dos Primeiros e dos ltimos cantos comps Gonalves Dias os primeiros seis de um poema americano
Os Timbiras, dos quais publicou em Leipzig, em 1857, os quatro primeiros. Continuava a mesma inspirao simptica ao
ndio e a mesma idealizao afetuosa dos seus feitos e gestos, que distinguir o segundo indianismo, cujo iniciador foi
exatamente Gonalves Dias, do primeiro criado por Baslio da Gama. Os Timbiras, como as Americanas, no s ficariam, a
todas as luzes, os mais belos poemas de inspirao indianista aqui produzidos, mas os nicos que sobrevivem aos motivos
ocasionais dessa inspirao e ao gosto do momento. Um deles, I-Juca-Pirama, sob todos os aspectos, essenciais ou
formais, uma das raras obras-primas da nossa poesia e ainda de nossa lngua. O prprio Portugal, geralmente pouco simptico
s nossas tentativas de emancipao literria, pelo mais autorizado ento dos seus rgos intelectuais, Alexandre Herculano,
no s reconhecia nos Primeiros cantos as inspiraes de um grande poeta, mas lastimava no houvesse o poeta dado
neles maior espao s poesias americanas. Os Timbiras cediam ao preconceito do poema pico da tradio portuguesa,
continuada aqui desde os comeos da nossa poesia. Acostando-se-lhe, fazia-o entretanto Gonalves Dias com manifesta
superioridade de inspirao e de expresso. Aquela mais sincera, vem-lhe mais do ntimo. Porventura impulsado por um
recndito sentimento de sua alma de caboclo, avivado pela nostalgia do filho do bosque, traz muito maior vigor de
idealizao. A expresso muito mais rica, muito mais variada e melodiosa sobre tudo muito mais melodiosa que a de
qualquer outro dos nossos poemas. Do maior dos nossos picos at ento, Baslio da Gama ter, com mais opulenta imaginao,
a harmonia do verso branco, no qual j rivalizava com Garrett. A influncia do Uraguai visvel no poema. Mas no o
deslustra essa influncia, que apenas rev a continuidade da nossa tradio potica. Indicia esse influxo, e quase reproduz o
verso do Uraguai
No espao azul no chega o raio
estoutro dos Timbiras, aludindo ao surto do condor aps a presa feita,
E sobe audaz onde no chega o raio.
Tambm a apstrofe Amrica infeliz! do formosssimo canto terceiro recorda o Gentes da Europa nunca vos
trouxera do segundo canto do Uraguai.
Nenhum poeta moderno teve como Cames o sentimento do paganismo e do seu maravilhoso. Assim tambm nenhum
poeta brasileiro, em prosa ou verso, teve em grau igual ao de Gonalves Dias o sentimento do nosso ndio e do que lhe
constitua a feio prpria. Todos os nossos indianistas, maiores e menores, sem excetuar o prprio Alencar, que quem em
tal sentimento mais se aproxima de Gonalves Dias, o foram antes de estudo e propsito que de vocao. Da a sua inferioridade
relativamente ao poeta dos Timbiras e os despropsitos em que caram. E o conceito pode ser generalizado a toda a obra
lrica de Gonalves Dias.
que ele um dos raros, se no foi o nico, dos nossos que, com os dons naturais para o ser, a vida fez poeta. No a
moda, a retrica, a camaradagem, a presuno ou algum estmulo vaidoso ou interesseiro, ou sequer patritico, o fizeram
poeta seno a dor e o sofrimento. primeiro o afastamento do torro natal e do carinho materno em anos verdes, a perda do
pai e o isolamento em terra estranha, a amargura do seu nascimento mais que humilde, o sentimento da sua inferioridade
social contrastando com a sua fidalguia moral e mental, a humilhao de viver de amigos, a sua penria de recursos
e mesquinhez de vida, o desencontro de suas ambies com as suas possibilidades, o convvio do meio mesquinho seu
conterrneo e por fim e acaso mais que tudo, quando j lhe sorrira a glria e ele assim mesmo se enobrecera pelo gnio e
trabalho, a recusa da mulher muito amada, por motivo do seu nascimento. No h, ou apenas haver um destes passos da sua
vida dolorosa, aos quais outros fora possvel acrescentar, que no tenha deixado impresses, ecos, vislumbres nos seus
poemas. A nostalgia inspira-lhe a Cano do exlio, no seu gnero e ingenuidade acaso o mais sublime trecho lrico da nossa
poesia, a expresso mais intensa e mais exata do nosso ntimo sentimento ptrio. As agruras da sua juventude as Saudades,
de to fina sensao dolorosa, de to bela e comovedora expresso. Os seus amores infelizes esses dois soberbssimos
trechos sem iguais no nosso lirismo: Se se morre de amor e Ainda uma vez, adeus, e mais aquele encantador No jardim,
amostra peregrina em a nossa poesia de emoo profunda casada profunda singeleza. Nem desmerecem destes os poemas
da mesma inspirao, que lhe brotam, cheios de lgrimas do fundo dalma: que acordar e Se muito sofri j, no mo
perguntes.
110
110
Os dois primeiros citados foram publicados pelo poeta nos seus Cantos, edio de Leipzig, de 1857; os trs ltimos saram nas suas Obras pstumas,
dadas a lume com inteligente e carinhoso desvlo pelo seu amigo Dr. Antnio Henriques Leal (S. Lus do Maranho, 1868-1869, 4 vols.). Na biografia do
poeta que o mesmo consciencioso editor publicou no 3. vol. Do seu Panteon Maranhense (Lisboa, 1873-1875, in-8. gr., 4 vols.) reproduziu correta e
aumentada a excelente notcia da vida e obras do poeta de que lhe precedera as Obras Pstumas. Foi-nos ela de grande prstimo neste estudo. Sem
embargo de veniais senes de composio (divagaes e alongamentos escusados, por exemplo) so estas duas obras de Henriques Leal, um dos epgonos
dessa bela gerao maranhense, modelo nico em a nossa crtica bibliogrfica e biogrfica, e credores de muita estima.
Antes e depois de Gonzaga jamais se ouvira em a nossa poesia cantos de amor to repassados de ntimo sentimento e de
uma to formosa expresso. Os poetas contemporneos dos ltimos anos de Gonalves Dias, os seus sucessores imediatos,
os poetas da segunda gerao romntica, os repetiro com emoo s vezes igual, nenhum porm com a alta e essencial
beleza dos seus. Com ele achava enfim o lirismo brasileiro a sua expresso mais eminente, a sua feio modelar, nunca mais,
se no atingida, excedida.
O poeta a mais de um respeito genial desdobra-se em Gonalves Dias num dos prosadores mais seletos das nossas
letras. s obras lricas junta simultaneamente com inspirao muito mais romntica que a de Magalhes e seus colaboradores,
a dramtica. Em 1847 publica D. Leonor de Mendona, drama original de assunto portugus, em trs atos e cinco quadros.
Antes, em 1843, compusera o Patkul, no ano seguinte Beatriz Cenci e mais tarde (1860) Boabdil, todos s postumamente
publicados. No sabemos por que no foi nenhum destes dramas representado tendo aparecido o primeiro e sendo escritos
os outros justamente na poca em que nascia o teatro brasileiro, que eles teriam concorrido para enriquecer e ilustrar. Ainda
do ponto de vista teatral, no nenhum deles inferior aos de Magalhes e companheiros, e ao menos Leonor de Mendona
lhes , como criao artstica e mrito literrio, superior. Est este longe da intensa emoo e da alta e serena beleza do Frei
Lus de Souza, de Garrett, mas no lhe est tanto da sobriedade e formosa singeleza de estilo. Publicando-o, precedeu-o o
autor de um prefcio em que, de parte os inevitveis sacrifcios potica do tempo, h conceitos originais e inteligentes da
literatura dramtica e de seus meios de expresso. Mais que tudo, interessante neste drama a interpretao do duvidoso
caso histrico que lhe forneceu o tema. Alm de original e psicologicamente verdadeira, humana e dramtica. Segundo o
poeta, determinaram-no somente as condies do meio, a fatalidade filha das circunstncias e que dimana dos nossos
hbitos e da nossa civilizao, como ele chmente explica, sem parecer dar maior importncia ao seu achado, que no era
vulgar para a poca. pelo menos reparvel que fazendo teatro Gonalves Dias s o fizesse de assuntos estrangeiros. Podia-
se acaso ver neste fato a clara conscincia que teria de que a nossa sociedade, a histrica e a atual, dificilmente depararia ao
poeta assuntos propcios criao dramtica. Embora assim fosse, no menos de notar-lhe a absteno de assuntos nacionais,
pois a grandeza do poeta consiste por muito em sobrepujar tais dificuldades. Quanto a trazer o ndio para o teatro, como o
trouxe para a poesia, parece andou acertadssimo, sem embargo do muito que h de dramaticamente belo no I-Juca-Pirama.
Mas a esttica particular do governo desaconselha a invaso, ainda acompanhada de msica, do selvagem no teatro.
A obra puramente potica de Gonalves Dias sobrepujou em acabamento e mrito a tudo o mais que escreveu, de modo
a o velar e esconder mesmo maioria dos seus admiradores. O seu brasileirismo, que no era apenas manifestao do seu
indianismo, mas lhe estava, para falar com o nosso povo, na massa do sangue, e lhe vinha do nascimento e criao em um
meio genuinamente brasileiro e de influies da raa indgena na formao da sua psique, o fortificaram estudos da histria
e etnografia nacional, nos quais revelou outras faces do seu talento e capacidade literria: qualificaes para tais estudos,
aptido crtica, facilidade e pertinncia de exposio. As suas memrias sobre a existncia de amazonas no Brasil, sobre o
descobrimento casual ou no deste e sobre as civilizaes indgenas do pas e da Ocenia, como antes desde as suas Reflexes
acerca dos Anais de Berredo, do mesmo passo que lhe comprovam no comum erudio destes assuntos, documentam no
poeta no vulgar versatilidade de talento.
111
A estes diversos escritos, e at alguns de carter administrativo e oficial, colaborao em revistas e jornais, ensaios
apenas encetados, folhetins, cumpre juntar como prova da atividade mental do poeta e gosto e vocao dos estudos brasileiros,
o Dicionrio da lngua tupi (Leipzig, 1858) e o Vocabulrio da lngua geral... usada no Alto Amazonas (Rev. do Inst.,
XVII). Todas estas obras em prosa de Gonalves Dias, ainda as que no so de natureza literria, distinguem-se pela
linguagem e estilo mais cuidados do que era aqui comum, salvo nos seus comprovincianos. So por isso das que ainda
podemos ler com facilidade e prazer. No s por qualidades de pensamento, de imaginao e de sentimento, seno pelas de
expresso, Gonalves Dias um dos nossos clssicos, ou por outra um daqueles pouco numerosos escritores brasileiros que
o sendo pelas ntimas qualidades de que procede um estilo, escrevem certa, fluente e elegantemente. Ainda como escritor
portugus, um ou outro deslize
112
no o desabona de vernculo. E o com mais naturalidade, menos intencionalmente e de
estudo do que os seus camaradas do grupo Odorico Mendes, Sotero dos Reis e Joo Lisboa.
Ensaiou tambm Gonalves Dias o romance, e quase foi ele, antes de Texeira e Sousa, o seu inventor aqui. Ainda em
Coimbra, por 1841 ou 42, escreveu um a que deu o ttulo realista de Memrias de Agapito Goiaba, do qual apareceram
fragmentos no Maranho em 1846. Era um livro de memrias e recordaes pessoais travestidas e idealizadas, moda da
Nova Helosa, e s por isso seria certamente curioso. Apesar deste exemplo ilustre, se no estava ainda na despudorada
literatura pessoal cujo criador foi exatamente Rousseau. delicadeza de Gonalves Dias repugnou public-lo e o destruiu
mais tarde. Pelo que dessa tentativa nos resta, presumimos que alm do sainete das reminiscncias e confidncias disfaradas
num romance vivido, teria este sobre os dos criadores do gnero aqui, aquilo que totalmente lhes faltou, virtudes de composio
e de expresso. , porm, como poeta o maior e o mais completo que o Brasil criou, e o que lhe mais afim, que Gonalves
Dias vive e viver na nossa literatura, da qual uma das figuras mais eminentes, se no a mais eminente. Vive e viver
tambm pela sua influncia, que foi considervel e legtima e no cessou ainda de todo, e que porventura reviver quando,
passado este momento de exotismo desvairado e incoerente, volvermos mesma fonte donde dimana o nosso sentimento,
no indgena e nativista, mas social e humano.
O GRUPO MARANHENSE
Os comprovincianos e admiradores de Gonalves Dias levantaram-lhe em S. Lus uma esttua. De sobre o airoso fuste
de uma palmeira de mrmore, eleva-se a sua dbil e melanclica figura de romntico. Em cada face do plinto onde assenta
a planta que o poeta fez, com o canoro sabi, smbolo da terra brasileira, destacam-se em relevo os medalhes de ilustres
conterrneos e camaradas do poeta: Joo Lisboa (1812-1863), Odorico Mendes (1799-1864), Sotero dos Reis (1800-1871),
Gomes de Sousa. A idia feliz da associao destes nomes na justa homenagem que ao mximo de seus filhos prestava a sua
terra natal, comemora a coexistncia simultnea nesse mesmo torro brasileiro de um grupo de intelectuais, como ora
dizemos, que por mal dela e nosso jamais se repetiria. Console-se o Maranho, tambm Atenas, que lhe deram por
antonomstico, nunca jamais lhe voltou o tempo de Pricles.
Conquistado pelos portugueses ao franceses em antes de passados trs lustros do sculo XVII, era desde 1624 o Maranho
constitudo em Estado, separado do Brasil, aumentado do Gro-Par, do Piau e do Cear. Como o Brasil, teve o seu
governador particular, geralmente fidalgo de boa linhagem, sua legislao e administrao privativa. A posio geogrfica
aproximava-o mais da metrpole que o Brasil, tornando-lhe as comunicaes com ela mais prontas. No seria pouco motivo
para lhe atrair a imigrao que se no desenraza de todo da ptria e que talvez, como qualidade de gente, a melhor. Nota
o insigne historiador maranhense que o Maranho recebeu menos degradados que o Brasil.
113
Desde 1655, como galardo
dos seus servios na expulso dos holandeses, foram pelo rei concedidos aos cidados de S. Lus (e de Belm do Gro-
Par) os privilgios dos do Porto. Qualquer que fosse, pondera o mesmo historiador, a importncia destes privilgios, todos
(os moradores) faziam muito empenho em alcan-los, e nesta matria, como em tudo o mais, se introduziram pouco a
pouco graves abusos. Soldados, criados de servir, mercadores degradados, cristos novos; uns simplesmente inbeis, outros
at infames pela lei, achavam maneiras de introduzir os seus nomes nos pelouros, obtendo assim por uma parte as qualificaes
de nobreza e o exerccio dos cargos da governana, e por outro a iseno do servio militar na infantaria paga, e nas
ordenanas.
114
Desde os seus comeos, foi o Maranho pas agrcola, de cultura de gneros da terra e mais de algodo.
Nesta cultura, tambm desde os seus princpios, empregou numerosa escravaria negra e indgena. A grande propriedade
agrcola, mormente quando baseada no trabalho escravo, sempre e por toda a parte criou presunes ou fumos de fidalguia,
vida ou aparncias de grandeza. Excetuado talvez Pernambuco, foi o Maranho, em todo o Norte do Brasil, o lugar de mais
numerosa escravatura negra, e pela mesma situao de trabalhadores agrcolas onde esta mais maltratada e desprezvel se
achou. Por motivo ainda daquela real ou supositiva prospia, foi ali mais vivo do que soa ser no resto do pas o preconceito
de cor. Mais porventura do que em outra parte do Brasil se conservou estreme acol a branca, predominando na sua capital
at a Independncia, e querendo predominar ainda depois dela, o elemento portugus. Talvez sejam estes os motivos do
sotaque maranhense aproximar-se mais do que nenhum outro brasileiro do portugus, o que explicaria tambm, sabida a
influncia da fontica na sintaxe, que ali se tenha falado e escrito melhor do que algures. Por que so os escritores maranhenses
os que menos praticam a colocao brasileira dos pronomes pessoais oblquos, seno porque a sua pronncia se avizinha
mais da de Portugal? No se pode mais duvidar que este fato lingstico em suma produzido por um fenmeno prosdico.
115
O Maranho foi no Brasil um dos bons centros da cultura jesutica, toda ela particularmente literria. Ali viveu alguns
anos da sua vida, pregou vrios dos seus sermes, escreveu muitas de suas cartas, participou das suas lutas e contendas o
padre Antnio Vieira. Que desde o sculo XVII havia em S. Lus poetas, embora nenhum nome tenha chegado at ns,
mostra-o o fato da existncia de devassas contra os homens versistas, autores de stiras contra os governantes.
116
Bequimo,
o cabea dos motins de 1684, possua e lia livros de histrias de revolues. Mais de um dos fidalgos portugueses que
governaram o Maranho, alm de Berredo, o autor dos seus Anais, era homem culto e ainda de letras; e de outros funcionrios
coloniais portugueses como Guedes Aranha, Henriarte, h documentos preciosos do que chamo neste livro literatura de
informao. Fosse qual fosse a constituio da sociedade maranhense nos tempos coloniais, tivesse ela no extremo norte a
primazia da prospia, da riqueza ou da cultura, e demais um sentimento cvico mais apurado pelas suas lutas com o estrangeiro
invasor, ou brigas intestinas que muitas foram e que, bem como aquelas, poderiam concorrer para lhes aguar o entendimento,
o certo que nesse perodo no concorreu o Maranho sequer com um nome para engrossar o nosso cabedal literrio. No
h com efeito um s maranhense entre os escritores brasileiros do perodo colonial.
Entretanto, mal acabado este, estriam os maranhenses em a nossa literatura e da maneira mais brilhante. Efeito demorado
daqueles antecedentes ou simples acaso, isto , evento, fortuito, cujas causas no podemos deslindar? Antes de ter imprensa,
teve o Maranho, em 1821, um jornal manuscrito, como os faziam os rapazes nos internatos, o qual, em cpias to numerosas
quanto possvel, corria a capital. Ainda nesse ano passou a folha manuscrita a impressa, sob o mesmo ttulo de Conciliador
maranhense, que rev o generoso intuito de empecer as demasias da agitao nacionalista, j bem comeada, contra os
reinis. A partir da multiplicam-se os jornais na provncia. Desde 1825 aparecem como publicistas, frente de jornais, dois
daquele grupo de intelectuais, Odorico Mendes e Sotero dos Reis. Outro, qui o maior dos quatro, Joo Francisco Lisboa,
jornalista desde 1832 e o ser, com intermitncias e sem fazer disso estado, pelo resto da vida. Desde o princpio foi
escritor mais zeloso do seu estilo do que costumam ou podem ser jornalistas. Com a Revista aparecida em 1840, inicia
Sotero dos Reis o jornalismo literrio na sua Provncia. Era uma folha poltica e literria no s pela declarao do seu
subttulo, mas pela sua matria e linguagem. Quando se lhe deparava ensejo, no deixava passar uma obra literria de
cunho sem dar dela notcia, assinalando-lhe as belezas e reproduzindo trechos de originais brasileiros ou portugueses ou
traduzindo-os que eram em lngua estranha.
117
O jornalismo destes homens de letras, talvez nele deslocados, era doutrinal,
de alto tom e boa lngua.
Quaisquer que tenham sido as suas determinantes, existia j na poca da Independncia o gosto literrio no Maranho.
Prova-o o apuro com que ali se estudava e escrevia a lngua nacional em contraste com o desleixo com que era tratada no
resto do Brasil e a parte que ali se dava no mesmo jornalismo poltico literatura. Provam-no mais outros fatos. Em 1845,
uma sociedade literria, composta de nomes no de todo obscuros nas nossas letras, funda um Jornal de instruo e recreio,
que, alm de versar assuntos didticos e pedaggicos, era revista de literatura amena. Outro grupo de homens de estudo e
letras, no qual se encontram alguns do primeiro, fundou no ano seguinte uma Sociedade filomtica, a qual tambm publicou
uma Revista e iniciou, antes de ningum mais no Brasil, as conferncias literrias. Caso talvez mais notvel, desde 1847
tinha o Maranho uma imprensa capaz de imprimir com decncia que lhe podia invejar a Corte, obras volumosas como os
Anais de Berredo. Nessa oficina aprendeu Belarmino de Matos, talvez o melhor impressor que j teve o Brasil, e dela saiu
para montar uma prpria, onde nitidamente imprimiu bom nmero de obras, com acabamento ento nico e ainda hoje raro
excedido. No menor testemunho deste pendor maranhense a possibilidade ali de livros como os de Sotero dos Reis e de
publicaes como o Jornal de Timon.
Neste ambiente, por qualquer motivo que nos escapa, literrio, apareceu a bela prognie de jornalistas, poetas,
historiadores, crticos, eruditos, sabedores que desde o momento da Independncia at os anos de 1860, isto , durante cerca
de quarenta, ilustraram o Maranho e lhe mereceram a alcunha gloriosa de Atenas brasileira. Benemritos de mais demorada
ateno e maior apreo pela sua importncia literria e parte em a nossa literatura, so os j mencionados.
Manoel Odorico Mendes, nascido em S. Lus em 1799 e falecido em Londres em 1864, porventura o mais acabado
humanista que j tivemos. cincia das lnguas clssicas, e da sua filologia e literatura, de que deixou prova cabal e duas
verses fidelssimas, embora de custosa leitura, de Virglio e de Homero, juntava estro potico original, se bem que escasso.
Foi tambm um erudito de cousas literrias castias e exticas. Coube-lhe reivindicar definitivamente para Portugal a
composio original do Palmeirim de Inglaterra, pretendida pela Espanha, j com assentimento de erudio portuguesa.
118
Mas sobretudo foi um tradutor insigne, se no pela eloqncia e fluncia, pela fidelidade e conciso verdadeiramente
assombrosa, dada a diferente ndole das lnguas, com que trasladou para o portugus os dous mximos poetas da antigidade
clssica, no raras vezes alis emulando-os em beleza e vigor de expresso. Tambm traduziu Mrope (1831) e o Tancredo
(1839), de Voltaire. Assevera o clssico D. Francisco Manuel de Melo que no pecado de tradues no costumam cair
seno homens de pouco engenho. Que no era grande o de Odorico Mendes parece mostr-lo o fato de no nos haver ele
deixado, benemrito de citao e leitura, mais que um poema original, ele que tanto trabalhou e produziu em tradues. Esse
poema o Hino tarde. Escrito em Portugal e publicado pela primeira vez na Minerva Brasiliense, em 1844, mesclam-se
nesta composio o clssico e o romntico, uma inspirao ainda arcdica e europia e sentimentos brasileiros e estilo
moderno. , nada obstante, um dos melhores produtos poticos do tempo e merece ainda estimado. J porventura prenuncia
Gonalves Dias pelo tom sentimental do seu lirismo mais subjetivo que o de Magalhes.
Francisco Sotero dos Reis, um ano mais moo que Odorico Mendes, mas seu condiscpulo de humanidades, sem ter to
completa cultura clssica deste, o sobrelevou pela maior amplitude e originalidade de sua obra. Principiou como Odorico
Mendes e Joo Lisboa por jornalista poltico, conforme era necessrio em poca em que todo o brasileiro de alguma instruo
e capacidade de expresso era solicitado, se no constrangido pelas circunstncias, a dizer da cousa pblica e a tomar parte
na refrega poltica. Jornalista com letras e professor delas, foi-lhe fcil a transio para autor de livros, principalmente
didticos, Postilas de gramtica geral aplicada lngua portuguesa pela anlise dos clssicos (1862), Gramtica portuguesa
(1866), traduo dos Comentrios de Csar (1863), e finalmente o Curso de literatura portuguesa e brasileira (1866-1868,
8. gr., 4 vols.). No obstante ainda didtico e composto para uso dos seus discpulos do Instituto de humanidades, onde
lecionava a matria, por este livro que Sotero dos Reis pertence literatura e particularmente histria da nossa.
crtica de Sotero dos Reis, no obstante informadssima e alumiada por uma boa cultura literria clssica e moderna,
falta porventura, com um mais justo critrio filosfico ou esttico, a necessria iseno de preconceitos escolsticos e
patriticos. Deriva por muito ainda das regras e processos quintilianescos e da crtica portuguesa de origem acadmica. No
esconde ou sequer disfara o seu empenho em engrandecer o nosso valor literrio, aumentando o dos autores por eles
estudado, muito alm da medida permitida. Equiparar, por exemplo, o marqus de Maric a La Rochefoucauld um
despropsito que por si s bastaria para desqualificar a capacidade crtica e a inteligncia literria de Sotero dos Reis, se a
sua obra no desmentisse este conceito. Como quer que seja, o Curso de literatura, de Sotero dos Reis, , no seu gnero,
com a Histria do Brasil, de Varnhagen, e o Jornal de Timon, de Joo Lisboa, uma das obras capitais da fase romntica.
Joo Francisco Lisboa, nascido no Itapicurumirim, no Maranho, em 1812, e falecido em Lisboa, em 1863, das mais
singulares figuras da nossa literatura. Com grande aproveitamento estudou as poucas letras que era possvel aprender na
capital de sua Provncia, tendo por mestre de latim e latinidade o seu futuro mulo e rival Sotero dos Reis, treze anos mais
velho do que ele. Fez-se homem quando os acontecimentos do 7 de abril de 1831, alvorotando o pas, provocaram em todo
ele as lutas e conflitos, no raro mais que de opinies e de imprensa, entre brasileiros e portugueses ou caramurus, conforme
a alcunha que lhes davam os nossos. Estreou nas letras como jornalista poltico com o Brasileiro, ttulo que na poca era um
programa, em meados de 1832. J havia ento na capital da Provncia quatro jornais, todos quatro muito exagerados e
descomedidos na linguagem e desarrazoados nas doutrinas.
119
Os trechos desse jornal, reproduzidos na biografia de Lisboa pelo autor do Panteon maranhense, testemunham j no
novel jornalista de vinte anos o reflexivo pensador, e diserto e vernculo escritor do futuro Jornal de Timon. Como aos
homens de verdadeiros talento literrio e alta compostura moral, a poltica em que entrara como jornalista e com legtimas
ambies de repblico, no quis a Joo Lisboa. Ele despicou-se-lhe da recusa auspiciosa consagrando-se s letras. Mas no
literato sentir-se- sempre o repblico malogrado que, sem amesquinhar-se em recriminaes, se desforra com humor e
ironia do desdm ou da boalidade do povo soberano e dos seus dignos diretores. Na poltica e no jornalismo fora sempre
um liberal, no mais alto e melhor sentido da palavra, mais adiantado e desabusado at que o comum dos liberais do seu
tempo. Tambm o foi em literatura romanticamente, apesar da gravidade do seu feitio mental, sem temor do sentimentalismo,
como quem sabia que, razoado, ainda o sentimento o melhor estmulo da inteligncia e da ao humana. Antes de conhecer
pessoalmente a Herculano, e do seu comrcio com o maior dos portugueses contemporneos, j tinha Joo Lisboa no
pensamento e na escrita o estilo em que se tem querido enxergar a influncia do grande escritor portugus. O feitio e iseno
do seu carter deu-lhe a forma tersa, lmpida, em que juntou com discernimento e garbo o casticismo portugus aos naturais
influxos do brasileirismo. menos purista do que Sotero dos Reis e Odorico Mendes, que alis tambm, em rigor, no o so.
Pe muitas vezes os pronomes brasileira, porque lhe soariam melhor e ainda se no havia inventado a cerebrina teoria de
fazer de um uso geral a constante de doutos e indoutos da nossa terra, erro crasso da lngua. No refoge de todo ao neologismo
pertinente nem recua ao estrangeirismo expressivo e necessrio. Encontra-se-lhe por acaso uma ou outra impropriedade ou
sacrifcio ao uso comum. Estes senes, se certo que o sejam, e em todo caso raros, no lhe chegam a macular a escrita ou
sequer a lhe empanarem a geral formosura. Tais e maiores se nos deparam nos melhores dos chamados clssicos da lngua.
Esta nele portuguesa de lei pela correo gramatical e mais pelo torneio da frase, ndole, nmero e propriedades do
vocabulrio, sem indiscretas escavaes arcaicas e apenas com uma ou outra afetao impertinente de classicismo. Com
alumiado entendimento leu e meditou os clssicos, o que no era costume aqui, e se lhes apropriou da lngua, com exata
inteligncia da sua evoluo e fino tato de escritor de raa.
A sua obra principal, comeada a publicar em 1852, o Jornal de Timon, obra sem precedentes na nossa lngua e uma
das mais originais da nossa literatura. No pensamento do autor devia o Jornal de Timon ser uma espcie de revista dos
costumes do tempo vistos atravs do seu temperamento, cuja austeridade lhe valia dos seus concidados o apodo de
misantropo ou mais vulgarmente casmurro, e descritos e comentados com o seu natural humor e veia literria. D-se antes
como amigo contristado e abatido do que presenciava, que como inimigo cheio de fel e desabrimento. O seu fim
primrio, porm, ficaria sendo sempre a pintura dos costumes polticos. Mas como na nossa terra, segundo observa
perspicazmente, a vida e atividade dos partidos se concentram principalmente nas eleies, transformando assim um simples
meio, em princpio e fim, de todos os seus atos, as cenas eleitorais descritas sob todas as suas relaes e pontos de vista
imaginveis lhe ocuparam grande parte do Jornal. De fato este se veio a dividir em trs partes, a primeira sobre as eleies
nos tempos anteriores ao nosso, a segunda sobre partidos e eleies no Maranho, e a terceira e ltima relativa histria
desta Provncia e por extenso do Brasil. Sem muita regularidade apareceu o Jornal de Timon de 1852 a 1858, sendo
recebido no pas, no obstante o seu tom praguento, com merecida estimao e grandes louvores. Chegou esse apreo
negao epigramtica de que fosse obra de brasileiro.
120
A primeira parte um bom estudo histrico, em estilo ameno e humorstico, feito no sobre expositores de segunda
mo, mas das mesmas fontes originais, das eleies nos tempos antigos, mdios e modernos, no s com a cincia dos
documentos, mas com a intuio e sentimento da vida pblica dessas pocas. O estilo o mais adequado ao gnero de que
era o autor o criador aqui, natural, prazenteiro, bem-humorado e irnico. So as mesmas, com maior personalidade, mais
ironia, at mais acrimnia que s vezes chega ao sarcasmo, as qualidades de estilo da segunda parte. Esta modificao de
tom lha impunha o prprio assunto, por mais de perto lhe importar. Vibram-lhe na pena por mais que o contenha o seu bom
gosto e natural compostura, e lhas disfarce a ironia, as paixes que lhe agitaram a mocidade e no estavam de todo extintas
nem na sua alma, nem na sociedade que lha formara. Por isso talvez essa parte a sua obra no s mais original, porm, do
puro aspecto literrio, mais curiosa e mais viva. Conquanto aplicada no Maranho, fez Joo Lisboa nela um comentrio
perptuo do que entre ns a vida poltica, cifrada como ele argutamente reconheceu, nas lutas dos partidos e nas brigas
eleitorais. Tem o seu opsculo o sinal das obras que por virtudes de pensamento e de forma no envelhecem e ficam
contemporneas de todas as eras. Refere o seu citado minudencioso e fidedigno bigrafo que, horrorizado da escravido (a
qual na sua terra, justamente mais do que em outras do Norte, apresentava mais execrando aspecto), comeou Joo Lisboa
a escrever um livro, meio histria, meio romance, da escravido no Brasil, como propaganda contra ela. Foi isto nas vsperas
de 1850 ou entrada desse decnio. Em todo caso antes do Jornal de Timon. O aparecimento da Senzala do Pai Tom, como
castiamente vertia o Uncle Toms Cabin, de Beecher Stowe, onde parece achou semelhanas com o seu principiado trabalho,
fizeram-no desistir de continu-lo. Havia, entretanto, em Joo Lisboa um romancista, e esta inteno prova que ele prprio
o sentia. Provam-no, porm, melhor As eleies e os partidos no Maranho, ruim ttulo de uma excelente poro do Jornal
de Timon, onde h cenas, dilogos, invenes, descries, criaes de tipos, figuras e situaes fartamente reveladores de
que no carecia Joo Lisboa, antes as tinha em grau relevante, das qualidades de imaginao, sem falar nas de expresso, de
um bom romancista. As duas primeiras partes do mesmo Jornal, revelam em Joo Lisboa um pensador poltico e um
moralista, no sentido literrio dado hoje a este vocbulo, como no temos talvez outro. Os seus Apontamentos, notcias e
observaes para servirem histria do Maranho, que constituem a terceira poro da obra, confirmando-lhe as qualidades
literrias, descobrem-lhe peregrinos dotes de investigador, de erudito e de crtico, e fazem lastimar que como historiador no
nos deixasse mais que essa curta obra fragmentria e a Vida do padre Antnio Vieira. histria do Brasil, como ela vinha
sendo feita aqui, at, se no mormente, pelo mesmo Varnhagen, histria burocrtica e oficial, ainda com o feitio de crnicas
ou anais, sem imaginao, filosofia ou estilo, desanimada e tediosa, dava Joo Lisboa nova feio com a sua arte de fazer
viver as personagens e os sucessos, aproveitando algum rasgo mais saliente deles com que os caracterizasse, descobrindo-
lhes algum aspecto mais pitoresco ou lhos engenhando com bom gosto e justo senso das cousas histricas. Mas sobretudo
com um sentimento brasileiro mais ntimo e perfeito que o de Varnhagen, muito maior sensibilidade artstica e capacidade
literria de expresso, e, tambm, compreendendo melhor do que nenhum dos seus predecessores os aspectos sociais e
psicolgicos da Histria e a importncia do povo nela. Certos rasgos ou questes da nossa, como o respeitante aos ndios,
processos de colonizao portuguesa, feies e caracteres diversos da vida colonial, ningum aqui ainda os encarara com
igual compreenso da sua importncia, com tanta sagacidade e inteligncia como Joo Lisboa. Com alumiado entendimento
viu a questo dos ndios sem as aberraes realistas de Varnhagen, nem o sentimentalismo romntico da poca, sendo muito
para notar em favor da sua inteligncia a iseno com que apreciou o indianismo, em seu tempo to vigoroso, e lhe viu a
falcia: Esse falso patriotismo caboclo, espcie de mania mais ou menos dominante, escreveu ele, leva-nos a formular
quanto ao passado acusaes injustas contra os nossos genunos maiores; desperta no presente antipatias e animosidades,
que a s razo e uma poltica ilustrada aconselham pelo contrrio a apartar e adormecer; e ao passo que faz conceber
esperanas infundadas e quimricas sobre uma reabilitao que seria perigosa, se no fora impossvel, embaraa, retarda e
empece os progressos da nossa ptria, em grande parte dependente da imigrao da raa empreendedora dos brancos, e da
transfuso de um sangue mais ativo e generoso, nico meio possvel j agora de reabilitao.
121
Brasileiro de origem e
nascimento, brasileiro pelas mais ntimas fibras de sua alma e pelo mais profundo do seu sentimento, Joo Lisboa um dos
nossos primeiros europeus, pelas lcidas qualidades do seu claro gnio, tento da civilizao e desdm dos nossos parvoinhos
preconceitos nativistas e ainda patriticos.
No obstante carecer-lhe da ltima demo, a Vida do padre Antnio Vieira ainda o que de melhor se escreveu sobre o
famoso jesuta, com mais exata inteligncia do homem e da sua obra de missionrio e de poltico, e de sua poca. No fora
algum exagero de liberalismo, uma obra que se poderia dizer atual.
Nada adiantaria considerar Joo Lisboa sob outros aspectos do seu variado engenho. Em nenhum desmereceu, quer pela
fora ou destreza do pensamento, quer pelo vigor ou beleza da expresso. Mesmo como orador, que dizem fora notvel,
deixou no seu discurso sobre a anistia magnfico testemunho de uma viril eloqncia e da mais bela, sbria e comovida
linguagem oratria. incontestavelmente um dos escritores que mais ilustram a nossa literatura, dos poucos que ho de
viver quando, na seleo que o tempo vai naturalmente fazendo, houverem desaparecido grande parte de nomes ontem e
hoje mais celebrados que o seu.
Outros nomes, menos ilustres, mas ainda estimveis conta o grupo maranhense. So quase todos, se no todos, produto
manifesto da influncia destes, gerao criada na sua admirao e pelo seu estmulo. Dos que tm o seu medalho no
pedestal da esttua de Gonalves Dias, Gomes de Sousa o nico sem jus histria da literatura. Gomes de Souza (Joaquim)
de 1829 a 1863. Os seus contemporneos tiveram-no em conta de gnio. Aos dezenove anos, j formado em medicina, foi
nomeado, aps brilhante concurso, professor da Escola mais tarde denominada Politcnica, e, parece, deu outras provas da
sua extraordinria inteligncia, rara capacidade de estudo e variedade de aptides. Morrendo aos 34, no deixou mais que
uma pequena obra fragmentria de matemtica e uma antologia de poemas lricos das principais lnguas cultas. Foi apenas
uma bela e porventura legtima esperana malograda, mas de fato sem importncia literria.
Lisboa Serra (Joo Duarte, 1818-1855). Contemporneo em Coimbra de Gonalves Dias e seu amigo dedicadssimo, a
quem este deveu amparo quando se achou isolado e sem recursos em Portugal. Poetou com longos intervalos e parcamente,
mas com bastante sentimento e correo. Galvo de Carvalho (Trajano, 1830-1864). Andou sucessivamente a estudar por
Portugal, S. Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, onde afinal se formou e ficou. Havia nele a massa de um bom, talvez
excelente poeta, com muita sensibilidade e facilidade de expresso. Foi um dos primeiros que aqui cantou compassivamente
o escravo. Cantou igualmente a paisagem, a vida campesina e cousas brasileiras, com sentimento e graa. Franco de S
(Antnio Joaquim, 1836-1856). poeta de grande sensibilidade e sinceridade de emoo e rara facilidade e singeleza de
expresso, qualidades que a morte, colhendo-o aos vinte anos, lhe no deu tempo de cultivar.
Desvanece-se ainda o Maranho com os nomes de Almeida Braga (Flvio Reimar), Celso de Magalhes, Marques
Rodrigues, Dias Carneiro, Augusto Colin, Frederico Correia, Frei Custdio Ferro, Vieira da Silva, Sousa Andrade, Antnio
Henriques Leal, homens de letras ou de saber, todos que com obras de vrios gneros e mrito continuaram at perto de ns
o movimento literrio da sua provncia pelo grupo primitivo iniciado.
Este grupo contemporneo da primeira gerao romntica toda ela de nascimento ou residncia fluminense. O que o
situa e distingue na nossa literatura e o sobreleva a essa mesma gerao, a sua mais clara inteligncia literria, a sua maior
largueza espiritual. Os maranhenses no tm os biocos devotos, a ostentao patritica, a afetao moralizante do grupo
fluminense, e geralmente escrevem melhor que estes.
Captulo XII
A SEGUNDA GERAO ROMNTICA. OS PROSADORES
NA PROSA, UM NOME principalmente domina a fase literria que das ltimas manifestaes do primeiro Romantismo vai
s primeiras do que, falta de melhor nome, chamarei de naturalismo: Jos de Alencar. O seu aferro ao indianismo quando
este j comeava a ser anacrnico, os estmulos e propsitos nacionalistas da sua atividade literria, a despeito da cronologia
o poriam espiritualmente na primeira gerao romntica se, por outro lado, as qualidades peculiares do seu engenho, estro
e estilo no o separassem dela. uma das principais figuras da nossa literatura e, com Magalhes e Gonalves Dias, um dos
seus fundadores. Mais talvez, porm, que pelo valor intrnseco de sua obra, em todo o caso grande, serviu-a com a sua
vontade decisiva de faz-la de todo independente da portuguesa. Este propsito o arrastou, alis, alm do racional e do justo,
com as suas desarrazoadas opinies e, o que pior, a sua desavisada prtica, da lngua que devamos escrever e do nosso
direito de alterar a que nos herdaram os nossos fundadores. Apesar da obstinao que ps neste conceito, sobretudo depois
que os escritores portugueses lhe malsinaram o propsito nacionalista, e sem embargo de incorrees manifestas, algumas
alis voluntrias, foi Jos de Alencar o primeiro dos nossos romancistas a mostrar real talento literrio e a escrever com
elegncia. Afora os prosadores maranhenses, escritores entretanto de outros gneros, ele cronologicamente o primeiro que
por virtudes de ideao e dons de expresso merea plenamente o nome de escritor.
Jos Martiniano de Alencar, nascido no Cear em 1 de maio de 1829 e falecido no Rio de Janeiro em 13 de dezembro
de 1877, vinha de uma famlia antiga e notvel pela comparticipao que naquela Provncia, seu bero, tivera nos movimentos
da Independncia, por amor da qual alguns dos seus sofreram perseguies, punies e at morte. Seu pai, o padre Jos
Martiniano de Alencar, participou na Revolta Pernambucana de 1817, foi deputado s Cortes portuguesas e nelas se distinguiu
pelo calor com que combateu pelo Brasil contra o pensamento portugus da sua recolonizao. Ao diante membro da
Constituinte brasileira, foi um dos deportados por motivos polticos. Havia, pois, no filho, o escritor, uma herana de
revolta, de independncia de Portugal e at de m vontade ao portugus. Ele tambm foi poltico, deputado da sua terra,
ministro e conselheiro de Estado, figura conspcua num partido, o conservador. Pela natureza aristocrtica do seu temperamento
e do seu esprito, por tradio de famlia, que, a despeito dos seus antecendentes revolucionrios, era, de partido, conservadora,
foi Jos de Alencar, revolucionrio em letras, conservador em poltica. Num pas novo como o Brasil, onde nenhuma
tradio existia, e todos os instintos polticos eram de ontem e de emprstimo, nada de importante havia a conservar. As
diferentes alcunhas dos partidos apenas cobriam e disfaravam sentimentos, interesses ou at paixes pessoais ou de grupos,
sem alguma correspondncia efetiva com princpios necessrios e definidos. Como era um nervoso, um pessoal, esquivo
popularidade que, contradio muito humana, acaso no ntimo ambicionava, chegava s vezes, qui por influncia literria
dos escritores polticos ingleses, ao exagero do seu conservantismo. Assim foi adversrio da emancipao dos escravos
quando j no o era nenhum intelectual brasileiro. Poltico conservador, mostrou-se todavia indcil disciplina partidria,
pretendendo inconsideradamente manter a sua personalidade de encontro s exigncias dessa disciplina. Fazendo-se um
nome literrio justamente glorioso, sua nativa altivez, virtude dos tmidos, como ele, e que nele escorregava para a
misantropia, juntou-se a incoercvel vaidade do literato, tornando-o menos acomodativo na vida pblica e mais distante na
vida comum. Num meio como o nosso, mal-educado, fcil camaradagem vulgar e avesso s relaes cerimoniosas, a sua
atitude reservada, esquiva familiaridade corriqueira do nosso viver, impediu-lhe de ser pessoalmente popular, como foi,
por exemplo, Macedo, seu mulo e seu contraste. Desarrazoadamente doa-lhe, ao que parece, esta falta de popularidade,
qual alis, honra lhe seja, nunca sacrificou a sua atitude. Tudo isto lhe serviu entretanto no s formao da sua personalidade
literria, mas de estmulo a um labor que foi um dos mais fecundos das nossas letras. Nascido e criado no serto, ainda ento
pouco menos que bravio, do Cear, onde se no haveriam de todo desvanecido as memrias do antigo ncola, tendo ainda
sangue deste nas veias, sentindo portanto mais fortemente essa espcie de brasileirismo caboclo que o Romantismo acorooara,
comparticipando da ojeriza de famlia ao conquistador, explica-se que Jos de Alencar haja serodiamente se rendido ao
indianismo, rejuvenescendo na sua inspirao e instaurando-o na prosa brasileira, quando ele se morria na poesia. Certo, so
justamente da dcada de 50 a 60 a Confederao dos Tamoios e os Timbiras, as duas manifestaes mais considerveis do
indianismo. Mas, vindo aps as poesias americanas de Gonalves Dias, eram apenas um caso de movimento adquirido. Os
Timbiras, desde meados de 1847, estavam planejados e o seu primeiro canto escrito.
122
Havendo Gonalves Dias e outros
seus companheiros de gerao composto fices em prosa, nenhuma fizera em cujo assunto o elemento fosse o ndio, pois
no vale a pena lembrar o mesquinho Sum, de Varnhagen.
esta a primeira distino de Jos de Alencar, introduzir no romance brasileiro o ndio e os seus acessrios, aproveitando-
o ou em plena selvageria ou em comrcio com o branco. Como o quer representar no seu ambiente exato, ou que lhe parece
exato, levado a fazer tambm, se no antes de mais ningum, com talento que lhe assegura a primazia, o romance da
natureza brasileira. Protraindo-se nele, atravs de Chateaubriand, o sentimentalismo de Rousseau, exageradamente carovel
ao homem selvagem, fez este romance do ndio e do seu meio com todo o idealismo indispensvel para o tornar simptico.
E f-lo de propsito por contrariar a imagem que dele nos deixam os cronistas e que os seus atuais remanescentes embrutecidos
no desmentem.
123
Nesse romance havia de ficar, pela sinceridade da inspirao e pela forma, a mais bela que at ento se
aqui escrevera, o mestre inexcedvel.
Estreou em 1857 com uma obra-prima, que infelizmente no mais se repetiria em sua carreira literria, o Guarani. Na
literatura brasileira d-se freqentemente o caso estranho de iniciarem-se os escritores com as suas melhores obras e
estacionarem nelas, se delas no retrogradam. O fato passou-se com Alencar com o Guarani, com Macedo com a Moreninha,
com Taunay com a Inocncia, com Raul Pompia com o Ateneu, com o Sr. Bilac com as suas primeiras Poesias, e se esta
acaso passando com o Sr. Graa Aranha com o seu Cana. As obras-primas, como j foi dito, fazem-nas tambm o tempo,
e o tempo no faltou com esta sua virtude ao romance de Alencar. E legitimamente. Alm da imaginao criadora da
inveno do drama, da sua urdidura e desenvolvimento, da traa dos episdios, da variedade e bem tecido das cenas, da
inveno das figuras, da vida insuflada numa fico de raiz falsssima, a ponto de no-la fazer verossmil e aceitvel, levava
o Guarani tal vantagem de composio, de lngua e estilo a todos os romances at ento aqui escritos que, sob este aspecto,
pode dizer-se que criava o gnero em a nossa literatura. para a nossa fico em prosa o que foram os Primeiros cantos de
Gonalves Dias para a nossa poesia. E se em literatura a verdadeira e legtima prioridade no a do tempo, seno a da
qualidade e repercusso da obra, Alencar o criador de um gnero em que Teixeira e Sousa e o mesmo Macedo haviam
apenas sido os precursores, como quer que sejam ainda canhestros. A de todo falsa ou inverossmil fabulao, o desmedido
idealismo, o demasiado romanesco, vcios da escola aqui, mas tambm efeitos de temperamento literrio do autor, de tudo
o salva o largo e belo sopro pico, que, casando-se perfeitamente com a inspirao lrica, quase faz do Guarani o romance
brasileiro por excelncia, o nosso epos. Como representao, por um idealista de raa, do choque em o nosso meio selvagem
do conquistador e do indgena, da oposio dos dous e dos sentimentos que encarnavam, e mais da vitria da graa da
civilizao sobre a selvageria, como o romance brasileiro de inteno, de assunto, de cenrio e mais que tudo de sentimento,
ficaria o Guarani como um livro sem segundo na obra de Alencar e talvez em a nossa literatura.
A inclinao dos romnticos aos estudos histricos foi uma, e talvez a melhor das manifestaes do sentimento patritico
que aqui se gerou da Independncia. Deu-lhe corpo, estimulou-a, favoreceu-a a criao do Instituto Histrico, onde se
procurou assdua e zelosamente estudar a nossa histria, menos talvez por curiosidade e amor de sab-la que por, mediante
ela, justificar e exaltar aquele sentimento. O melhor fruto desse bom trabalho de pesquisa das nossas origens e da nossa vida
colonial foi a Histria geral do Brasil, de Varnhagen, de 1857. Nesta rebusca dos seus ttulos histricos, da sua genealogia
nacional e principalmente de quanto neles pudesse legitimar-lhe o orgulho ou as aspiraes patriticas, natural que as
imaginaes se alvoroassem na ambio de idealizar o nosso passado. Tanto mais que se estava em plena voga do romance
histrico, de que a literatura da nossa lngua possua j alguns modelos ento estimadssimos. Criando o romance brasileiro,
Teixeira e Sousa, sem lhe ser estorvo a pouquidade do seu engenho e da sua cultura, ensaiou tambm o romance histrico nas
Fatalidades de dous jovens, recordaes dos tempos coloniais. Este mesmo subttulo traziam as suas Tardes de um pintor.
Macedo, que alis se abonava de historiador, e fazia histria pitoresca, s muito tarde, em 1870, escreveu romance histrico.
O gnero abundou aqui depois dos anos de 40. Cultivaram-no Pereira da Silva, Moreira de Azevedo e vrios outros autores
somenos. Pode dizer-se que foi uma das feies do nacionalismo dominante no perodo romntico este gosto pelo chamado
romance histrico.
Dele resultava tambm o Guarani, pois pela figura vagamente histrica de D. Antnio de Mariz e representao de um
aspecto da vida colonial, se podia presumir de histrico. As minas de prata, sete anos posteriores ao Guarani, continuam-
lhe, com mais acentuada inteno de romance histrico, o mesmo propsito de tomar o Brasil e aspectos brasileiros tradicionais,
pitorescos ou sociais, como principal tema literrio, acaso o nico convinhvel a uma literatura verdadeiramente nacional.
Este conceito parece ter sido, com algum exclusivismo, o de Alencar, de seus discpulos e admiradores e at de antagonistas
seus, o que o maior documento da impresso que ele fez no seu meio. , entretanto, errado. Certamente neste perodo de
formao das naes americanas, carecedoras ainda de um real sentimento ou pensamento prprio, o que pode dar sua
literatura alguma diferena e sainete a representao das feies pitorescas que lhes so peculiares. Nada obsta, porm,
que tambm aquelas que lhes so comuns com outras sociedades mais antigas e j formadas, como as europias, possam ter
o interesse literrio, e que no haja na alma elementar destes povos primrios aspectos dignos de ateno da literatura. H
sempre num povo alguma cousa de ntimo que lhe prprio, como no indivduo algo recndito e importante que o distingue.
Ao escritor cabe descobri-lo e revel-lo e literatura represent-lo em suas relaes morais e sociais.
Sabemos as sugestes de Chateaubriand, de Walter Scott, de Cooper, a que Alencar, como todos os autores de romances
americanos de inteno histrica, obedecia. A crtica que mais tarde procurou diminuir Alencar contrapondo-lhe este e
outros predecessores, nomeadamente o primeiro, criador do indianismo na mais moderna fico americana em prosa, foi de
todo ininteligente, acaso por ser de todo malvola. Muito embora seguindo trilhas j por outros abertas, Jos de Alencar o
fez com sentimento diferente e prprio, inspirao pessoal e individualidade e engenho bastantes para assegurar-lhe, do
ponto de vista da histria da nossa literatura, crditos de original. Iracema (1865), Ubirajara, chamados pelo autor de
lendas tupis so dois romances poticos; a mais de um respeito dous poemas em prosa. E s como tal aceitveis, pois
apesar da cndida presuno contrria do autor, no possvel maior contrafao da vida, costumes, ndole e linguagem do
ndio brasileiro, nem mais extravagante sentimento do que o selvagem em geral e do que era particularmente o nosso.
Porfiam nestes dous romances as mais disparatadas imaginaes com as mais flagrantes inveros- similhanas etnolgicas,
histricas e morais. Imitados por escritores somenos, que no tinham a sincera inspirao de Alencar nem o seu engenho,
foram estes os nicos que dessa literatura ficaram. Mais que a inteno nacionalista ou o preconceito indianista, j periclitante
publicao do ltimo, deixaram-se os leitores tocar pela falaciosa mas sedutora poesia que neles havia, e que ainda no
passou de todo.
Como a da maioria dos literados brasileiros, a formao literria de Alencar era, sobre deficiente, defeituosa. Se a falta
de uma educao literria sistemtica houvesse de ser motivo de espontaneidade e originalidade, raras literaturas poderiam
mais que a nossa mostrar estas qualidades. Confessa Jos de Alencar, alis em pginas bem insignificantes, que aps estudos
clssicos malfeitos, como foram sempre os nossos dos chamados preparatrios, os livros que leu foram maus romances
franceses, Amanda e Oscar, Saint-Clair das Ilhas, Celestina e quejandos em ruins tradues portuguesas. Leu-os e os releu
e, reconhece ele prprio, foi essa leitura que lhe influiu a imaginao, cuja herana atribui me, para se fazer romancista.
Mais tarde, j estudante de um curso superior, mas ainda entendendo mal o francs, leu no original e desordenadamente
Balzac, Vigny, Dumas, alm de Chateaubriand e Victor Hugo. Daquelas primeiras leituras de romances romanescos traduzidos
na inteno das damas sentimentais, lhe ficaria sempre o conceito que foi alis o de toda a nossa romntica at o
naturalismo que o romance uma histria puramente sentimental, cujos lances devem pela idealizao e romanesco nos
afastar das feias realidades da vida e servir de divertimento e ensino. uma histria principalmente escrita em vista das
senhoras. O romanesco, freqentemente de uma inveno pueril e de uma sentimentalidade que frisa pieguice, foi com
Alencar, com Macedo, com Bernardo Guimares e ainda com Taunay, sem falar em menores, a feio predominante
feio que no-lo torna hoje geralmente despiciendo do romance brasileiro at o Naturalismo ou melhor at Machado de
Assis, que ainda em antes deste se libertara desse vezo. Um ou outra exceo, embora relevante, como a de Manoel de
Almeida, e do mesmo Machado de Assis desde as suas primeiras novelas e contos, no foi bastante para alterar aquele tom
muito no gosto do pblico. Foi nele, ora mais ora menos acentuado, que Alencar escreveu as novelas e romances com que
desde 1860 iniciara, em Cinco minutos, o romance da nossa vida civilizada e mundana e ainda um vago esboo do que viria
a chamar-se romance psicolgico. Para este romance faltavam-lhe porm dons de aguda observao que o gnero presume
e tambm acaso o gosto de as fazer, pelo que lhe deparariam de antiptico e at molesto ao seu idealismo. S isto impediu
de ser aqui o criador dessa forma. Simultaneamente, sem descontinuar fazia bem a expresso tratando-se deste idealista
da gema o romance da vida mestia brasileira, do nosso meio provinciano ou sertanejo, com a sua paisagem, os seus
moradores, os seus costumes, as suas atividades peculiares. No Gacho (1870), no Tronco do ip (1871), no Til (1875), no
Sertanejo (1876), essa vida recontada no conforme uma viso natural das cousas, mas segundo o conceito que j fora
confessadamente o do Guarani, um ideal que o escritor intenta poetizar e cuja prtica o arrasta, como em todos eles, a
frioleiras ou a monstruosidade de imaginao e de esttica. No obsta que no haja tambm nesses livros a realidade
superior que a mesma poesia cria.
A incapacidade de ficar na realidade mdia, que a fico para nos interessar exige, e no s realidade de ao, mas de
expresso e de emoo, empeceu Alencar de ser um melhor, mesmo um bom autor dramtico. Como tal estreou em 1857, no
mesmo ano do Guarani, com o Demnio familiar, que porventura tambm a sua melhor obra de teatro. Realmente pouco
falta a esta pea para ser, como comdia de costumes e representao de um dos percalos dos nossos de ento, uma obra
excelente e mal chega a ser uma pea de conta. Para o teatro, principalmente, levou Alencar as predisposies moralizantes
que, sobre serem muito do gosto do nosso Romantismo, excetuados os poetas da segunda gerao romntica, so da ndole
do gnero. Todo o seu teatro as revela. Acentua deliberadamente as preocupaes morais e didticas com que nascera o
nosso teatro, apenas em Martins Pena atenuadas pelo carter de farsa do seu e pelo que havia na sua veia de nativo e popular.
O fito do teatro, segundo se lhe depreende da obra, deve ser a discusso dos problemas de ordem moral que interessam a
sociedade contempornea. Esta alis a concepo do teatro posterior ao Romantismo, desde a dramaturgia burguesa dos
franceses, mestres do gnero, at a de Ibsen, Tolsti ou Sudermann. As Asas de um anjo, representadas em 1858, exageravam
este propsito moralizador at exceder os limites necessrios dos direitos da arte. Manifestamente inspirada das peas
congneres ento no galarim A Dama das camlias e as Mulheres de mrmore, com as quais o mesmo autor as compara, tem
confrontadas com estas inferioridades e defeitos palmares. So os mais sainetes, a desconformidade com o meio, que
certamente no comportava o drama (no sei por que o autor lhe chamou comdia) qual o concebeu e realizou o escritor,
artificialidade dos processos, da composio, do estilo, tudo resultante daquela mesma desconformidade. Nem tem como
aquelas peas, que evidentemente lhe serviram de estmulo e modelo, no s a arte consumada do dramaturgo, mas a, ainda
mais relevante, do escritor. Custa a dizer, mas a verdade: toda a filosofia teatral de Alencar, nesta como em suas outras
peas, uma coleo de lugares-comuns, no levantados infelizmente por excelncias de expresso. No pode ser outro,
penso, o nosso juzo de hoje, mas no seu tempo a obra dramtica de Alencar era aqui uma novidade de concepo e de estilo.
Ao teatro de costumes de Pena e de Macedo traz Jos de Alencar o teatro de teses, de idias, com propsitos no s de
moralista vulgar, mas de pensador e em suma com melhor estilo que aqueles. Se no tem o engenho cmico dos dous e o
dramtico do segundo, o sobrelevava a ambos em qualidades propriamente literrias. Compreende a obra teatral de Alencar
sete peas, cinco comdias e dous dramas, sem falar numa comdia lrica ou libreto de pera, ao todo uns trinta atos que pelo
menos provam nos autores do nosso teatro romntico maior imaginao e capacidade do gnero do que tm mostrado os que
lhe sucederam.
Dessas peas, a ltima que escreveu e fez representar foi o Jesuta, pelos anos de 70. Na sua obra dramtica no ser
talvez a melhor, mas porventura a mais forte, a mais trabalhada, aquela em que o autor deu mais de si, em que mais
evidente o seu esforo de fazer uma grande obra de teatro. Infelizmente assentou-a numa concepo do jesuta, se no falsa,
contrria ao conceito comum desse tipo, e faltou-lhe engenho para vencer a nossa preveno. H no entretanto no seu drama,
mais talvez que em nenhuma outra das suas peas, qualidades estimveis e ainda relevantes de simplicidade de meios, de
expresso e de emoo. Afora as suas prticas sistemticas no escrever a lngua, tem a sua, nesta, qualidades que lhes suprem
e escondem os defeitos neste particular. O drama bem feito, se bem a sua inspirao paradoxal um jesuta precursor da
Independncia do Brasil parea de todo falsa. Ou ao autor faltou com que dar-lhe a verossimilhana que a fico dramtica
exige.
Jos de Alencar foi ainda crtico, publicista, orador parlamentar e jurisconsulto. Da sua atividade como crtico,
principalmente exercida em breves artigos de jornais, s ficaram em livro as Cartas sobre a Confederao dos Tamoios
(1856), mera censura impressionista, freqentemente desarrazoada, de inspirao demasiado pessoal, dos defeitos do poema
de Gonalves de Magalhes. como publicista principalmente que Alencar se assinalou fora do romance, e que mostrou,
alm de vigor dialtico, brilho e elegncia de forma no comum no gnero at ele. Estreou nele com as desde logo clebres
Cartas de Erasmo, dirigidas anonimamente ao imperador, cuja primeira edio de 1865. Outras com a mesma epgrafe, o
mesmo endereo, ou tambm escritas a outros destinatrios, como o povo e alguns prceres da poltica, saram ainda em
1866 e 68. Da primeira srie houve segunda edio, de Paris, no mesmo ano, e terceira do Rio de Janeiro, em 1866, o que
indica a ateno e interesse que despertaram. Alm de opsculos de carter poltico ou de discusso de teses constitucionais,
deixou um livro, O sistema representativo, sobre este assunto. Para orador no tinha figura, nem voz, nem porte, mas
compensava com grande vantagem estas falhas, pelas qualidades literrias dos seus discursos, cincia doutrinria e notveis
recursos de ataque e defesa, ironia mordente e at acerado sarcasmo de que na tribuna era prdigo. Com isto conseguiu no
seu tempo renome de orador parlamentar notvel, que os seus discursos publicados confirmam. A sua obra de jurisconsulto,
que os competentes ainda estimam, so, afora alguns opsculos de advocacia, A propriedade e esboos jurdicos, ambas
publicaes pstumas de 1883. Toda esta poro da sua atividade intelectual lhe verifica o engenho, poderoso e verstil,
mas sob o puro aspecto literrio, principalmente provado no romance, no teria bastado para lhe criar o nome que este lhe
deu.
Como romancista, a sua produo oferece duas fases, das quais a segunda , se no de declnio, de relativa inferioridade.
Ele prprio parece o haver sentido quando, desde 1870, trocou o seu nome j ilustre pelo pseudnimo de Snio, declarando-
se velho da velhice no do corpo, feitura dos anos, mas da alma, gerada das desiluses. H duas velhices escrevia
tristemente frente do Gacho, publicado aquele ano : a do corpo, que trazem os anos, e a da alma, que deixam as
desiluses. Aqui onde a opinio terra sfara e o mormao da corrupo vai crestando todos os estmulos nobres, aqui a
alma envelhece depressa. Ainda bem! A solido moral dessa velhice precoce um refgio contra a idolatria de Moloch.
Tinha apenas quarenta e um anos quem estas desenganadas palavras escrevia. As desiluses lhas dera a poltica, criando-lhe
ambies que lhe no deixou satisfazer. Artista nervoso e nimiamente suscetvel, um sensitivo, alma de impressionabilidade
doentia, no soube Alencar sofrer com iseno e superioridade o malogro das suas ambies polticas, mais quando vinha
acompanhado da negao dos seus talentos literrios e da sua obra, em arremetidas auladas pelos mesmos com quem o seu
temperamento irritadio, qui vaidade de intelectual que se no dissimulava bastante, o tinham politicamente
incompatibilizado. Com a recusa do imperador de o escolher senador na lista sxtupla em que tinha o primeiro lugar, recusa
inspirada num alto sentimento de moral pblica, pois Alencar era ministro na ocasio do pleito, com a sua desavena com os
seus correligionrios, coincidia a guerra j aludida que ao literato fizeram Franklin Tvora e Jos de Castilho e outros,
seguindo-se-lhe os primeiros ataques da crtica (Joaquim Nabuco, Slvio Romero), aos quais se mostrou mais que de razo
sensvel. E ele que em opsculos polticos, nomeadamente nas Cartas de Erasmo, a sua principal obra de publicista, se
mostrava um devotado imperialista e havia feito, com a apologia do imperador, a defesa do poder pessoal, que lhe argiam,
e at preconizado o uso deste poder, agora, por uma reviravolta vulgar nos nossos temperamentos de impulsivos, atribuindo
ao monarca todos os seus dissabores, encheu-se de dio contra ele, desdisse-se e contradisse-se, em demasia entregue a este
abalo moral. Como quer que seja o melhor da sua obra literria, justamente a anterior a este perodo, o Guarani, as Minas
de prata, as novelas de 1860, Lucola, Diva, Iracema. H nas que vm aps aquela crise um gosto malso do extravagante,
mesmo do monstruoso, uma afetao do desengano e de desiluso, que lhe rev a chaga da alma malferida. O Gacho, Til,
a Pata da gazela e ainda o Tronco do ip so disso documento. E voltando ao romance histrico, de que dera em Minas de
prata o nosso mais perfeito exemplar, descai na stira propositada e, o que pior, feita sem talento nem finura. A Guerra dos
mascates (1871), onde, com o imperador, quase sem disfarce encarnado no governador de Pernambuco, figuram alguns
magnates da poltica grossamente caracterizados e outros contemporneos de algum destaque, antes um panfleto que um
romance histrico. E como obra darte a todos os respeitos inferior, sem que a execuo lhe desculpe a m sortida inspirao.
A obra propriamente literria de Alencar, romance e teatro, fundamento do seu renome, , a despeito das restries que
se lhe possam fazer, valiosa. Mas s as suas virtudes estticas no lhe assegurariam a proeminncia que nas nossas letras ele
tem, no fora a sua importncia e significao na histria da nossa literatura. A vontade persistente de promover a literatura
nacional, o esforo que nisto empenhou, a mesma cpia e variedade desta obra, mais talvez que o seu valor propriamente
literrio, lhe asseguram e ao seu autor lugar eminente nesta histria. A sua poro principal, onde se nos deparam trs ou
quatro livros porventura destinados a perdurar, so os romances e novelas de antes de Snio, compreendida Senhora, no
obstante a sua data (1857). No possuindo a lngua com seguro conhecimento, tinha Alencar, entretanto, com um fino
sentimento dela, dons naturais de escritor que o distinguiram, desde que apareceu, entre todos os seus contemporneos,
antes que Machado de Assis, sob este aspecto ao menos, os excedesse a todos. Mas com essas qualidades nativas, alguma
afetao e certos amaneirados de estilo, aumentados na fase de Snio. As crticas geralmente justas feitas sua linguagem
no tiveram seno o efeito de lhe exacerbarem o orgulho ou vaidade literria. Ps-se a estudar a lngua mais com o propsito
de encontrar nesse estudo antes justificativa do que emenda dos seus defeitos de escritor, nos quais desarrazoadamente e
com dano da sua literatura perseverou do mesmo passo acorooando com o seu exemplo ilustre a funesta intruso individual
em o natural desenvolvimento da lngua. H no estilo de Alencar, colorido, sonoridade, mesmo msica, eloqncia, emoo
comunicativa, mas h tambm nfase e mau gosto. Como escritor faltava-lhe, pode dizer-se inteiramente, esprito, que
parece apenas revelou nas discusses parlamentares, onde alis os seus ataques e rplicas so mais aceradas que espirituosas.
Como Herculano, segundo lhe reprochou Camilo Castelo Branco, Alencar era de uma insulsez alm do que se permite ao
escritor pblico. Da o malogro do seu romance caricatural da Guerra dos mascates, e a fraca vida das suas comdias. Foi-
lhe acaso funesto o ter comeado por uma obra-prima, muito admirada e celebrada e lhe haver faltado o bom esprito de se
no embevecer do seu sucesso, alis merecido.
Trs anos antes do Guarani, com que Jos de Alencar retaurava nas nossas letras a inspirao pseudonacionalista do
indianismo periclitante, aparecia o primeiro volume das Memrias de um sargento de milcias, por Um Brasileiro. O
pseudnimo est revendo a preocupao nacionalista que era ainda por muito a da literatura do tempo e da qual Alencar se
vinha justamente fazer o arauto convencido. Tambm o era o das Memrias de um sargento de milcias, mas depurado do
preconceito indianista. Assentava antes numa intuio mais justa do objeto da nossa fico.
Como Macedo quando escreveu a sua Moreninha, o autor era um estudante de medicina, jornalista, redator do Correio
Mercantil, ento um dos mais literrios do Rio de Janeiro, Manoel Antnio de Almeida, nesta cidade nascido em 1830.
Formado em 1857, no ano do Guarani, dos Tamoios e dos Timbiras, pouco depois, em 1861, pereceu num naufrgio indo de
viagem para Campos. Com ele, pode dizer-se, naufragou a talvez mais promissora esperana do romance brasileiro. Pouco
falta, com efeito, s Memrias de um sargento de milcias para serem a obra-prima do gnero na fase romntica. original
como nenhum outro dos at ento e ainda imediatamente posteriores, aparecidos, pois foi concebido e executado sem
imitao ou influncia de qualquer escola ou corrente literria que houvesse atuado a nossa literatura, e antes pelo contrrio
a despeito delas, como uma obra espontnea e pessoal. Em pleno Romantismo, aqui sobreexcessivamente idealista, romanesco
e sentimental tambm em excesso, o romance do malogrado Manoel de Almeida perfeitamente realista, ainda naturalista,
muito antes do advento, mesmo na Europa, das doutrinas literrias que receberam estes nomes. No pertence a nenhuma
escola ou tendncia da fico sua contempornea, antes destoa por completo do seu feitio geral. uma obra inteiramente
pessoal em relao no meio literrio de ento. Antes de ningum, pratica no romance brasileiro e pode afirmar-se que a
pratica com suficiente engenho, mais que a pintura ou notao superficial, a observao a que j lcito chamar de psicolgica
do indivduo e do meio, a descrio pontual, sem preocupaes de embelezamento dos costumes e tipos caractersticos, a
representao realista das cousas, sem refugir, o que haveria escandalizado a Macedo e Alencar, mesmo aos seus aspectos
mais prosaicos e at mais repugnantes, mas evitando sempre tanto as cruezas que trinta anos depois haviam de macular o
naturalismo indgena, no seu grosseiro arremedo do francs, como os fingimentos e afeites com que presumiam aformosear
a nossa vida e a sua literatura os romancistas seus contemporneos. A lngua e o estilo deste romance, menos trabalhados que
o de Alencar e menos desleixados que os de Teixeira e Sousa e Macedo, tem, se no maior correo (e a sua certamente
maior que a destes ltimos), mais fluncia e espontaneidade e mais personalidade.
Acaso foram estas feies, que hoje revelam aos nossos olhos este romance, a causa dele no ter tido na nossa literatura
a influncia merecida. O gosto e a inteligncia do pblico quela data iam preferentemente s qualidades opostas s que
agora nos parecem constituir o mrito. Habituado ao romance romanesco e moralizante qual era no s o nosso, mas o
portugus nessa poca, em rever-se embevecido nas concertadas criaes dos seus romancistas, no se podia o pblico
enfeitiar com um romance que para o seu gosto tinha o defeito de ser demasiado real e desenfeitado. Este seria tambm o
sentimento dos prceres do Romantismo, ento com toda a autoridade na opinio literria nacional. Parece indic-lo o fato
do Brsil littraire, de Wolf, sabidamente inspirado por Magalhes e Porto Alegre, no aludir sequer s Memrias de um
sargento de milcias, e ao seu mal-aventurado autor, nem o representar na antologia, onde tanta cousa pssima vem, que
adicionou ao seu livro. O desaparecimento de Manoel de Almeida, quase imediato publicao do seu romance, o triunfo
inconteste da romntica de Alencar, prejudicariam essa obra at ento a mais original e a mais viva da nossa fico e lhe
impediriam de ter a influncia que nela merecia ter tido e que porventura lhe daria outra e melhor feio. A sua reedio em
1862, por Quintino Bocaiva, ainda todo devotado s nossas letras, embora provando que a certos espritos no era o seu
valor desconhecido, ainda encontrou a opinio pblica a mesma em matria literria. S muito mais tarde, quando o naturalismo
entrou a desbancar o Romantismo que aqui se procrastinava, se comearia a ver no romance de Manoel de Almeida e
precursor indgena, mas sempre desconhecido, da romntica em voga.
Simultaneamente com Alencar, dous romancistas principalmente disputavam a ateno do nosso pblico, Joaquim
Manoel de Macedo e Bernardo Joaquim da Silva Guimares. Cronolgica e literariamente, Macedo pertencia primeira
gerao romntica. Era um genuno produto daquele momento e meio literrio, e foi na sua plena vigncia que estreou nas
letras, iniciando do mesmo passo com Teixeira e Sousa o romance, e com Martins Pena e Magalhes o teatro brasileiro.
Escritor copiosssimo como, excetuado presentemente o Sr. Coelho Neto, no tivemos outro, Macedo, alis sem jamais
progredir nem variar, ultrapassou a sua poca e foi ainda o mais abundante dos prosistas da segunda gerao. Sem falar dos
seus livros de histria ou de crnica e numerosos escritos polticos e literrios dispersos em jornais e revistas, tudo geralmente
insignificante, so da fase ocupada por esta gerao (1850-1870) os Romances da semana, O culto do dever, A luneta
mgica, As vtimas algozes, Nina, As mulheres de mantilha, A namoradeira, A baronesa do amor, para no citar seno os,
aos menos pelo tomo, mais considerveis. E no teatro, excetuado o Cego, que de 1849, desta mesma fase toda a sua
abundante literatura dramtica. Mas quer no romance, quer no teatro. Macedo no fez mais ainda na vspera ou j em pleno
dia do naturalismo que continuar, por inrcia, o movimento adquirido com a primeira gerao romntica. Esta imobilidade,
que no basta inspirao social de Vtimas algozes, e de alguma sua pea de teatro, para desmentir, decididamente o fixa
nesta gerao, sem embargo dele ter vivido, e sempre escrevendo, at 1882. Nem a concepo do romance ou do teatro, nem
o estilo de Macedo, variaram nunca do seu conceito primitivo de uma histria inventada e recontada com muita poesia, ou,
o que ele cria tal, para comover a sentimentalidade do leitor ou do ouvinte, com o fim de o edificar moralmente. Com este
conceito, que foi o de todos os nossos romnticos, sem exceo de Alencar, Macedo o realizou sem engenho que o relevasse,
a sua obra , do puro aspecto literrio, de somenos valia. H nela, porm, alguma cousa que a levanta e faz viver da vida
mesquinha que ainda tem: primeiro a sua sinceridade, a sua ingenuidade na representao do primeiro meio sculo da nossa
existncia nacional, segundo a alegria que h nela, e que agradavelmente destoa da estranha tristeza de todos os seus
companheiros de gerao. Como quer que seja, ele tem, sem grande riqueza e fora alis, imaginao e facilidade. Como
autor de teatro foi talvez o que melhor o soube fazer aqui. O desleixo com que geralmente escreveu, seno tambm pensou
as suas obras, prejudicou-as consideravelmente em o nosso atual conceito. Mas os seus defeitos de concepo e de forma, a
que somos hoje nimiamente sensvel, no afrontavam os seus contemporneos, dos quais foi um favorito. Ainda hoje dos
nossos romancistas mais lidos, se bem que s escondidas e em segredo. o que tem sido mais repetidamente editado. E
Taunay, que estreava j na terceira gerao, dedicando-lhe o seu romance A mocidade de Trajano, como a um mestre, apenas
exprimiu o sentimento de comum apreo pelo operoso e divertido escritor.
Bernardo Guimares nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1827.
124
Era filho de Joaquim da Silva Guimares, um
desses muitssimos poetas merecidamente esquecidos de que o Brasil abundante. Alm de versejar, o pai escrevia prosa;
era pequeno jornalista provinciano. Bernardo Guimares encontrou, pois, uma tradio literria na famlia. Devia-lhe avultar
a herana e comunho da Sociedade Acadmica de S. Paulo, cuja Faculdade de Direito, no tempo em que a freqentou, era
um foco de atividade intelectual. Ali teve por colegas e companheiros lvares de Azevedo, Aureliano Lessa e outros jovens
poetas e escritores. Segundo a tradio constante, ele, como alis tantssimos outros dos nossos doutores, tudo fez menos
estudar. Depois de formado, foi sucessivamente magistrado em Gois, professor de Retrica e Filosofia na sua terra e
jornalista no Rio de Janeiro. Fixando-se mais tarde na sua Provncia, a exerceu quase toda a sua atividade literria, que no
foi pequena. Como prosador, Bernardo Guimares comeou, ao que parece, pela crtica, feita em jornais em que escrevia no
Rio. No sabemos o que vale a sua crtica. Como ele no perseverou nela e no deixasse como crtico obra por que o
avaliemos, pouco nos importa sab-lo, rebuscando jornais velhos.
Muito mais que Alencar e acaso mais at que Macedo, Bernardo Guimares, como romancista um espontneo, sem
alguma preveno literria, propsito esttico ou filiao consciente a nenhuma escola. um contador de histrias no
sentido popular da expresso, sem a ingenuidade, s vezes excelente, destes, porque em suma um letrado, e as suas letras
lhe viciam a naturalidade. Se o seu primeiro romance, O ermito do Muquem, um romance brasileiro, segundo a
classificao costumeira, com grandes laivos indianistas, porque essa era a corrente do momento e tambm porque se lhe
deparou, quando nos sertes goianos, um tema sobre muito prprio para impressionar a imaginao, extremamente favorvel
idealizao romanesca, consoante o conceito e gosto dela aqui vigentes. As datas da primeira publicao do Guarani em
jornal e depois em livro, e da edio do Ermito, autorizam a admitir a influncia daquele na inteno deste. No h nele,
entretanto, influncia formal do romance de Alencar, nem dos seus processos, tirante a excessiva sentimentalidade e o
desmarcado romanesco, em suma a idealizao descomedida, que era o achaque do tempo. Qualquer que seja a qualidade do
engenho de Bernardo Guimares, e como poeta ele dos bons que tivemos a verdade que, sem literariamente ser o que
chamamos um esprito original, no um esprito imitativo e subordinado. Como poeta, no obstante ter vivido no foco da
reao ultra-romntica e na intimidade espiritual do seu principal corifeu, ele conserva a sua individualidade distinta por
feies que contrastam com as dos companheiros de gerao; emoo e expresso mais sbrias, sentimentalidade menos
exuberante, alma e veia menos triste e ainda jovial, apenas algum alarde do ceticismo ou desesperao.
Os seus romances e novelas so todos natural e correntemente contados sem preocupao ou trabalho de escrita, mas
tambm sem a peregrina virtude de a conseguir bela, independentemente deste esforo. Nele, como em Macedo e no geral
dos nossos romnticos, a espontaneidade no a literria, e menos a que, sem grande trabalho, d com a forma justa. Ainda
menos a que, ainda com trabalho, s vezes grande, logra, o que o sumo da arte, iludir-nos dando-nos a impresso da
facilidade. Bernardo Guimares escreveu mal, quero dizer sem apuro de composio, nem beleza de estilo. O seu o de todo
o mundo que no cuida do que escreve, a sua lngua pobre, a sua adjetivao corriqueira, o seu pensamento trivial. So os
defeitos de Macedo e ainda mais de Teixeira e Sousa, mas no escritor mineiro mais sensveis por virem depois destes e
quando a literatura nacional j tinha trinta anos de existncia e de produo nunca descontinuada. Com uma justa intuio
das exigncias da composio literria, faltou aos nossos romnticos uma crtica que os esclarecesse delas. A que aqui se
comeou ento a fazer, provinha em linha reta da que tinha em Portugal por rgos principais as Academias e Arcdias e os
censores oficiais, uma crtica de hiperblicos encmios, de campanudos elogios, em que os juzos tomavam por via de regra
a forma de equiparaes disparatadas com os autores clebres ou de assimilaes antonomsticas no menos estapafrdias.
A crtica ali, alis, oscilou sempre entre o panegrico e o vituprio, a louvaminha e a diatribe. Com a mesma ndole passou
ao Brasil, e os que a fizeram aqui, nos nossos primeiros jornais e revistas, como o Patriota, a Minerva, o Guanabara,
Niteri, movidos do sentimento presumido patritico de encarecer os nossos valores intelectuais, ainda lhe exageram aquela
tendncia atvica. A cr-los, esses nossos comeos de literatura nacional seriam um acervo de obras-primas. No fora essa
crtica louvaminheira e puerilmente patritica que teve Macedo por um gnio literrio e cada uma das suas defeituosas
produes por um primor, os seus seguidores e discpulos e ele prprio, que viveu mais que bastante para emendar-se, teriam
necessariamente nos sado mais perfeitos. Essa crtica continuou para Bernardo Guimares, havido no seu tempo (e ainda
hoje pela opinio bairrista) por um grande romancista e escritor. O pblico parece alis no lhe ter endossado o conceito,
pois o Ermito, publicado em 1859, no teve at agora mais que essa edio. E os seus outros romances no passaram
igualmente da primeira, ao invs das suas poesias, que j atingiram a quarta, o que prova que o pblico mais inteligente do
que se nos afigura. esta a lio da nossa histria literria, que a crtica indiscretamente animadora no s intil, mas
prejudicial. Apenas serve para produzir frutos pecos, desencaminhando atividades porventura melhor empregadas fora da
literatura ou acorooando vaidades que se tomam por vocaes. Sem embargo deste ensino, continua a ser este o conceito da
crtica aqui, quando no a diatribe ou a simples arrogncia de indigesta erudio.
Na romntica brasileira, Teixeira e Sousa havia criado o gnero, iniciado o romance de costumes populares rurais ou
urbanos, Macedo o continuara, mas romanceando principalmente a vida burguesa da capital, Manoel de Almeida ensaiara-
se apenas, mas com engenho superior ao destes, no romance da vida carioca de um quarto de sculo antes, segundo o
conceito tradicional, com evidente propenso e clara inteligncia para a anlise dos caracteres e sentimentos. Alencar,
depois de se haver ensaiado na novela romanesca da vida social, iniciara o romance do perodo da conquista da luta em
que a raa invasora destri a raa indgena com o manifesto propsito de reabilitar o ndio da m fama que lhe fizeram os
cronistas, o que s idealizando-o extravagantemente podia conseguir.
125
Este propsito era alis o mesmo de Magalhes, de
Gonalves Dias de outros indianistas, e o que de alguma sorte o legitimava que a nao inteira o adotou.
Bernardo Guimares o criador do romance sertanejo e regional, sob o seu puro aspecto brasileiro. O meio cujo era,
determinou esta tendncia da sua romntica. Mas ao contrrio do que se devia esperar de escritor to familiar com o
ambiente que lhe fornecia os temas, no se lhe apura nas obras a imagem exata, seja na sua representao objetiva, seja na
sua idealizao subjetiva. Em toda a obra romntica de Bernardo Guimares ser difcil escolher uma pgina que possamos
citar como pintura ou expresso exemplar do meio sertanejo. Teve ele ambies mais altas que esta pintura de gnero,
ensaiou-se tambm no romance histrico e no de intenes sociais, com o Seminarista, onde versou o caso celibato clerical,
com a Escrava Isaura, em que dramatiza cenas da escravido, com Maurcio, em que tenta ressuscitar uma poca histrica
da vida colonial da sua provncia. Infelizmente os mesmos defeitos que lhe viciam os romances sertanejos lhe maculam
estes, acrescidos da pobreza do seu pensamento e acaso maior insuficincia da sua expresso.
125
Como e Porque Sou Romancista, 44 e seg.
Captulo XIII
A SEGUNDA GERAO ROMNTICA. OS POETAS
AS LTIMAS MANIFESTAES do Romantismo com os rasgos que deram ao nosso a sua feio particular, nomeadamente
o indianismo, a inspirao patritica e o propsito nacionalista, o espiritualismo filosfico, o sentimentalismo, a religiosidade
e a inteno moralizante, alcanam at meados dos anos de 60, com a publicao do Colombo, de Porto Alegre, em 1864.
Ainda em antes do seu esgotamento como forma literria, surge uma nova gerao de poetas e prosadores, na qual se contam
alguns dos nossos principais escritores. Simultaneamente com a primeira gerao romntica, mas depois desta bem estreada,
isto , aps 1846, coexiste, como j relatamos, o grupo maranhense que por Gonalves Dias, a sua mais eminente
individualidade, se liga ao grupo formado no Rio de Janeiro por aquela gerao. Gonalves Dias estabelece tambm a
transio entre essa e a seguinte. Esta apenas mui parcialmente lhe acompanhar a inspirao indianista. Sofrer, porm, a
influncia da sua potica e ainda do seu sentimento potico.
Desde 1853, com as Obras Poticas de lvares de Azevedo, seguidas das Trovas de Laurindo Rabelo (1854), das
Inspiraes do Claustro de Junqueira Freire 91855), das Primaveras de Casimiro de Abreu (1859), revela-se uma nova
prognie de poetas. Juntam-se-lhe os prosadores, alguns tambm poetas, Jos de Alencar, que estria em 1857; Macedo, que
vinha da primeira, mas como romancista ocupa nesta um grande lugar e como escritor dramtico quase totalmente lhe
pertence; Manoel de Almeida, porventura a mais promissora e infelizmente malograda esperana da novelstica brasileira;
Bernardo Guimares, Agrrio de Meneses se menores ou menos importantes.
Como epgonos da primeira gerao de iniciadores, continuam-lhe a tradio e o labor, infludos ou no por novas
idias e conceitos literrios, Pereira da Silva, Varnhagen, Macedo, Norberto Silva, alm de outros somenos, contemporneos
e companheiros seus.
Principalmente distingue esta gerao da precedente a sua maior liberdade espiritual, e conseqente mais largo conceito
esttico, quer no seu pensamento geral, quer na sua aplicao literatura. Aquele no mais o estreme idealismo catlico
dos primeiros romnticos. Ressente-se ao contrrio o seu do influxo do ceticismo literrio, do satanismo, para falar com
De Maistre, de Byroin, Musset e outros romnticos europeus de feio menos religiosa que a do primeiro movimento na
Europa e aqui. O Brasil tambm progredira poltica, econmica e mentalmente. Ao cabo da primeira metade do sculo,
asseguradas da independncia, a monarquia e a ordem, no havia mais motivo e lugar para os ardores patriticos e as
paixes nacionalistas de antes. Na gerao literria que surge por esta poca, e que ser talvez a mais brilhante de toda a
nossa literatura, entra a desvanecer-se a miragem do indianismo, que justamente por esse tempo Joo Lisboa, no seu Jornal
de Timon, metia pela primeira vez bulha. Apesar do grande exemplo e durvel sucesso de Gonalves Dias, e da Confederao
do Tamoios, de Magalhes, publicada em 1856, nenhum poeta caiu mais nesse engano, ao menos com a convico ou
sentimento dos seus criadores na nossa literatura. Restaurou-o, ou melhor instaurou-o, no romance Jos de Alencar, publicando,
um ano depois dos Tamoios e no mesmo dos Timbiras, o Guarani.
O pensamento de uma literatura brasileira, que fora expressamente o de Magalhes e seus companheiros, que a obra de
Gonalves Dias principalmente avigorara, o reassumira Jos de Alencar com mais clara conscincia e mais firme propsito
de o executar. Pensou servi-lo criando o romance da vida indgena selvagem ou misturada com a vida civilizada dos
colonizadores, como no Guarani, ou pura ou quase pura na Iracema e depois, serodiamente, no Ubirajara. Mas no obstante
o real talento de escritor que neste propsito ps, e daquelas duas primeiras obras de mrito verdadeiro com que procurou
realiz-lo, ele lhe ficou infecundo. No conseguiu empecer a decadncia do indianismo, nem assentar definitivamente o
senso nacionalista da literatura brasileira, como o quisera. No ficou, entretanto, de todo sem repercusso ou influncia. Os
prprios portugueses Mendes Leal e Pinheiro Chagas se meteram a fazer com O calabar (1863), Os bandeirantes (1867), A
virgem guaraciaba (1868), literatura nacionalista brasileira. O estmulo puramente industrial dessas obras insinua-lhes
claramente o malogro. Os jovens poetas que desde 1850, ainda em antes de publicados em livros, vinham versejando, no
curam mais de ndios nem do que lhes concerne. No so sequer patriotas no sentido em que o foram Magalhes e os do seu
grupo. Nem os preocupa ao menos a formao de uma literatura nacional. O seu brasileirismo de todo estreme dos preconceitos
nacionalistas, vem-lhe mais do ntimo e em suma mais racional. So mais subjetivos, mais pessoais, mais ocupados de si,
dos seus amores, das suas paixes, dos seus sofrimentos e dissabores, que de literatura ou de poltica. menor neles do que
fora nos seus antecessores a influncia de Chateaubriand, avoengo do nosso segundo indianismo. Pratica-o tambm pela
mesma poca um outro romancista, Bernardo Guimares, mas pratica-o antes por imitao, sem a espontaneidade e menos
o talento de Alencar. E sendo melhor poeta que romancista e tendo poetado copiosamente, jamais poetou do ndio.
Os poetas da segunda gerao romntica possuram em grau notvel a primeira virtude de quem nos quer comover, a
sinceridade. Circunstncias fortuitas de sua vida fizeram com que todos eles de fato vivessem a sua poesia ou sentissem
realmente o que com ela exprimiram. Talvez por isso no so artistas mas poetas, com o mnimo de artifcio e o mximo de
emoo, em mais de um deles ingnua, conforme convm boa arte. O que se lhes pode descobrir de nacional, o seu
brasileirismo mais ntimo que de mostra, como o era o dos da gerao anterior, j a revelao da nossa alma do povo
diferente, como se ela viera formando e afeioando em trs sculos de vida histrica e em trinta anos de existncia autnoma,
a expresso inconsciente do seu sentir ou do seu pensar, indefinidos sim, mas j inconfundveis. No so brasileiros porque
cantem o bronco silvcola destas terras, ou porque celebram-nas a estas. No rebuscam temas, nem foram a inspirao ao
feitio indgena. Com exceo de Gonalves Dias, que mais da primeira gerao que desta, nenhum destes poetas , ainda
parcialmente, indianista, ou tem sequer o propsito nacionalista. Protraem-se estas feies apenas nalgum mais medocre ou
em um ou outro prosador, cujo provincianismo sertanejo os sujeitava mais influncia do ambiente nacional, onde mais
vivazes eram ainda as tradies da terra brava e do seu primitivo habitador. Tais so Jos de Alencar, que confessa a
influncia do serto brasileiro na germinao do Guarani,
126
e Bernardo Guimares, que diretamente dos nossos sertes
meio selvagens recebe mais que a inspirao os assuntos de suas novelas.
Criados e educados j de todo fora da influncia mental portuguesa, so os escritores desta gerao menos portugueses
de pensamento e expresso do que os da primeira. O seu brasileirismo, menos poltico do que o destes, mais emotivo, mais
de raiz, e por isso mesmo, est mais nos seus defeitos e qualidades de inspirao e de estilo, que nas inferioridades da sua
manifestao. Conservando muito do sentimento potico portugus, do senso da saudade e da nostalgia, da melancolia
amorosa que tanto o distingue, e que em Gonalves Dias, embora ardente e voluptuosa, no atinge ainda a luxria, o lirismo
destes poetas tem j desenganadamente o tom que separa o lirismo brasileiro do portugus. Nada o prova melhor que a
comparao destes poetas com os seus contemporneos portugueses Joo de Lemos, Soares de Passos, Mendes Leal, Serpa
Pimentel, aos quais pode afirmar-se que ficaram de todo estranhos os nossos.
Afora em alguns poetas da Renascena portuguesa como Cames, o lirismo portugus no foi jamais casto, antes
sempre mais luxurioso que voluptuoso. O lirismo brasileiro, porm, exagera e piora esta feio. Desde a segunda gerao
romntica o da primeira pecara mesmo por demasiado continente entra a ser desenfreadamente ertico, como o de um
povo onde o amor nasceu entre raas desiguais e inimigas e portanto entre violncias e brutezas de apetites e carnalidades,
e um povo onde a fcil e franca mistura de uma gente europia em decadncia com raas inferiores e brbaras devia produzir
um mestio excessivamente sensual, em todas as acepes do termo. A influncia particular portuguesa que acaso se descobre
nesta gerao a de Garrett. Mas o tom popular que Garrett restitura poesia portuguesa e que h na destes poetas, apenas
porventura lhes rev o ntimo brasileirismo, feito sob a influncia do meio ainda matuto, simples e desartificioso. Nessa
influncia concorreria a da poesia que andava tradicionalmente na boca das mucamas negras, crioulas, mamelucas e mulatas
que haveriam sido as primeiras educadoras desses poetas e suas iniciadoras sentimentais, como o foram de geraes de
brasileiros.
A riqueza relativa do seu estro, se o compararmos ao dos romnticos da primeira hora, e ainda aos dos nossos poetas que
imediatamente lhes sucederam, a naturalidade e viveza da sua expresso, alm dos j notados atributos de espontaneidade,
sinceridade e candura, sempre raro na poesia da nossa lngua, impuseram estes poetas, mais que admirao, afeio dos
seus patrcios. Efetivamente so porventura os melhores que jamais teve o Brasil, e incontestvel que so ainda hoje os
mais estimados da nao, os mais repetidamente publicados, os mais constantemente lidos. E a sua influncia, que foi
grande, ainda no desapareceu. Queira-o ou no, mais de um poeta atual e no dos somenos, discpulo dos desta gerao.
No obstante o aumento da cultura, o presumido aperfeioamento do gosto e o desenvolvimento exagerado do reclamo,
nenhum poeta nosso depois deles, com exceo talvez de Castro Alves, que deles alis procede, teve um nmero de
reimpresses parciais ou totais e de leitores que estes tiveram.
Com os poetas da segunda gerao romntica, nomeadamente com lvares de Azevedo, entra um novo motivo na
poesia brasileira, a morte. Cantores da terra, das damas, de magnates, de temas abstratos, da natureza, de indivduos, do
amor, da ptria, de sentimentos personificados e at do sofrimento e da dor, nenhum cantara entretanto a morte, ou a morte,
a despeito de ser um dos grandes temas lricos, no fora para nenhum, estmulo de inspirao. Estes poetas so todos tristes.
A todos eles contagiou a melancolia de Gonalves Dias, o primeiro dos nossos poetas com quem andou a idia da morte.
Alm das heranas ancestrais e das influncias deprimentes do ambiente e de poetas estrangeiros nimiamente admirados
e seguidos, contribuiu para a sua tristeza e desalento a sua fraqueza fsica congnita ou sobrevinda, atestada pela existncia
enfermia e morte prematura de todos eles. O que mais velho morreu, Gonalves Dias, tinha apenas quarenta e um anos; dos
outros nenhum alcanou os quarenta, e os mais deles nem aos trinta chegaram. lvares de Azevedo finou-se aos vinte.
natureza dbil e doentia destes poetas juntaram-se em todos eles circunstncias pessoais de desacordo com o seu ambiente
domstico ou meio social que lhes agravaram o triste estado dalma para o qual j os predispunha a sua astenia. Tambm
passara a poca dos grandes entusiasmos e vastas esperanas criada pelos sucessos conseqentes Independncia e ao 7 de
abril. A nao entrava na sua existncia sossegada e pouco estimulante de quaisquer energias.
I LVARES DE AZEVEDO
A Lira dos vinte anos e as Poesias diversas, que compunham o primeiro tomo das Obras poticas de lvares de
Azevedo, eram uma novidade na poesia brasileira, quase igual ao que haviam sido os Suspiros poticos, de Magalhes, em
1836, e os Primeiros cantos, de Gonalves Dias, em 1846.
Manoel Antnio lvares de Azevedo nascera em S. Paulo em 1831. A infncia passou-lhe no Rio de Janeiro. De menino
revelou grande inteligncia e curiosidade mental, estudando e tanto e to bem que aos dezesseis anos completara com
aproveitamento e brilho o curso do Colgio de Pedro II e recebia a carta de bacharel em letras. Mais que assduo leitor, era
um devorador de livros, ainda na idade em que a tal apetite no pode corresponder igual capacidade de assimilao. Em S.
Paulo, para onde passou a estudar Direito, distinguiu-se pelo talento com que acaso supria a aplicao e pelo seu precoce
engenho potico. A liberdade que lhe outorgava a vida de acadmico, numa pequena cidade escolar onde os estudantes
tinham graas de estado de que usavam e abusavam, a ausncia do constrangimento familiar e as mesmas isenes que lhe
conferia o renome de menino prodgio que levara do Rio, influram-no a viver a vida romntica, realizando as idealizaes
dos poetas de que se achava saturado, Musset, Byron, Espronceda, George Sand, ou imitando a existncia e vezos que lhes
atribua a eles ou tinham as suas criaturas. E pela imaginao ao menos, comeou a viver tal vida na qual, com as suas nativas
inclinaes, entrou muita literatura. Como, porm, o arremedo se lhe fundia perfeitamente com o temperamento e correspondia
em suma aos seus mais ntimos instintos poticos, no resultou em disparate conforme com mais de um tem acontecido. Da
combinao das prprias tendncias com a imitao literria, criou-se uma vida factcia. Presumiu transplantar para a
mesquinha vida de S. Paulo de meados do sculo passado, costumes e prticas do Romantismo europeu. Quis praticar as
faanhas sentimentais dos heris de Musset e Byron. A candura com que o fez no s o salvou de um ridculo naufrgio, mas
at o engrandeceu, criando-lhe a feio que o distinguiria na poesia brasileira e o faria um dos seus dominadores. Daquele
seu teor da vida romntica, a expresso literria a Noite na taverna, composio singular, extravagante, mas acaso na mais
vigorosa, colorida e nervosa prosa que aqui se escreveu nesse tempo.
Mostrava-se lvares de Azevedo poeta pessoal e subjetivo, como no fora talvez nenhum dos nossos antes dele e raros
o seriam depois. Impresses da natureza ou de arte no lograva nunca objetiv-las. Transfundiam-se-lhe naturalmente em
ntimas sensaes, por via de regra dolorosas. , neste perodo, o primeiro que quase unicamente canta de amor, que fica
alheio natureza que o cerca ou nao a que pertence. S lhe interessa a mulher, o eterno feminino de que foi talvez o
primeiro a ter aqui o sentimento maneira goetiana, e que o absorve e alucina. No fcil distinguir o que nele inspirao
e sensibilidade potica do que so instintos e impulsos sensuais de moo brasileiro, superexcitado pela tsica que o minava.
Eram raros nele os temas objetivos vulgares em Magalhes, Porto Alegre e Gonalves Dias e menos os temas retricos ou
adequados s amplificaes poticas, to ao gosto destes, inclusive o ltimo. Quando casualmente os tratava, ou incidentemente
lhe acudiam, envolvia-os com o seu sentimentalismo romntico, preocupaes femininas ou amorosas, em imagens,
pensamentos e sensaes. Malsinando dos polticos traidores de seus ideais e que tudo sotopem aos seus baixos interesses,
a imagem de que se socorre ainda de poeta amoroso:
Almas descridas de um sonhar primeiro
Venderiam o beijo derradeiro
Da virgem que os amou.
Mesmo quando o desespero romntico, a sua sensibilidade doentia o reverte s crenas tradicionais como nos Hinos do
profeta, declamao potica muito moda romntica, se bem mais eloqente que similares de Magalhes, ainda nesses
momentos se lhes insinua na inspirao o eterno feminino, um eterno feminino qual o podia conceber um poeta brasileiro,
jovem, sensual e ardoroso. Como alis nenhum dos poetas da sua gerao, lvares de Azevedo no um poeta descritivo,
um paisagista, conforme mais ou menos sero quase todos os nossos depois dela. Quando, porm, acerta de ter uma inspirao
da natureza, sua emoo mistura-se infalivelmente a mulher e o amor, reagindo sobre a materialidade da impresso e
idealizando-a. Vejam Tarde de vero, Tarde de outono, em que ao descritivo inculcado pelo ttulo se substituem puras
sensaes subjetivas.
Segundo era j consuetudinrio na nossa poesia, a sua terra tambm lhe inspira um canto de amor em que no falta o
confronto preferencial com terras estrangeiras:
No italiano cu nem mais suaves
So da noute os amores
No tem mais fogo os cnticos das aves
Nem tem mais flores!
Onde sentimos reminiscncias da Cano do exlio, de Gonalves Dias. Mas o que lhe aformoseia a terra natal e lha faz
amada ainda a mulher querida que nela vive. Ao descante de sua terra mistura os seus transportes amorosos.
Aos homens doentes e desconsolados pela idia da morte, mxime se so poetas, acontece recolherem-se em si mesmos
e viverem de uma vida interior. lvares de Azevedo, valetudinrio precoce, foi levado a viver essa vida, apesar das alegrias
da idade que lhe resumam em mais de um poema faceto ou humorstico. Alegrias e tristezas chocam-se-lhe na alma jovem,
ardente e ambiciosa, produzindo a ironia por vezes amarga de alguns dos seus poemas (O poema do Frade, Um cadver de
poeta, Idias ntimas, Bomios, Spleen e charutos) os gritos de descrena e desesperana desses e de outros e de prosas
como a Noite na taverna. Dessa ironia ele o nico exemplar na nossa poesia, como seria o instituidor nela dessa desesperao
e descrena. De tal estado dalma lhe veio, com o nmio subjetivismo, o sentimento ora acerbo, ora zombeteiro, da vida, e a
carncia ou a pobreza de impresses da natureza ou da sociedade na sua poesia. Destas ltimas apenas se lhe achar um
exemplo claro no nico poema objetivo que deixou, Pedro Ivo, alis um dos mais admirveis da nossa poesia, dos raros em
que o motivo poltico ou social da inspirao no sufoca ou amesquinha os elementos propriamente poticos, antes lhes
serve excelentemente expresso. que no poema de lvares de Azevedo predominou o mesmo objeto da sua inspirao,
a sua ntima emoo mais de poeta que de repblico.
Entre estes poetas foi lvares de Azevedo um dos espritos literariamente mais cultos. Conheceu as obras-primas das
melhores literaturas na sua lngua original, e tinha boa lio das letras-mes da nossa. Havia atilamento e bom gosto no seu
esprito crtico, apenas iludido pelo seu entusiasmo juvenil. Conhecia e amava os portugueses, e foi um dos que sofreu a
influncia de Garrett, a quem tinha alta e merecida estima. Do influxo do lirismo e da forma garretiana h talvez sinais em
seus poemas Ai Jesus!, o poeta, amor e poucos mais. porm uma influncia toda lateral, digamos assim, em que o poeta
brasileiro, ainda sofrendo-a, conserva a sua personalidade. Nem ela obrou ento aqui com a mesma generalidade ou fora,
com que atuava a literatura portuguesa antes do Romantismo.
A idia da morte uma obsesso em lvares de Azevedo. Direta ou indiretamente, intencional ou inconscientemente,
aparece ou insinua-se-lhe nos versos como a que, com a do amor, lhe mais familiar. Lembranas de morrer, um dos seus
mais belos poemas, como Se eu morresse amanh, de igual sentimento e beleza, no so mais que manifestaes explcitas
da ntima angstia de sua alma de que, como verdadeiro poeta, ele fez deliciosas canes. E apenas haver algumas das suas
que a no reveja.
II LAURINDO RABELO
Laurindo Jos da Silva Rabelo, fluminense ou antes carioca, viveu de 8 de junho de 1826 a 28 de setembro de 1864.
Menos a educao e a cultura, que, no obstante a sua formatura em Medicina, parece no terem sido apuradas, havia nele
feies de lvares de Azevedo. Foi igualmente, talvez desde a puberdade, doente e fraco. De origem e condio humilde,
mulato de raa, a conscincia da sua situao, sem a fora de carter necessria para a contrastar, amargurou-lhe desde cedo
a existncia que levou bomia, obrigado da necessidade, se no tambm pelo natural relaxamento a angariar amizades e
protees da benevolncia social, ornando e animando partidas e festas com o seu estro e as suas faccias, improvisos,
glosas, poesias recitadas ou cantadas viola, como um aedo ou trovador primitivo, e mais os ditos que se lhe atribuem. Foi,
como nenhum outro, o poeta popular, mais conhecido em seu tempo pela alcunha de Poeta lagartixa, tirada de seu corpo
escanifrado, que pelo seu nome. No o roou a descrena romntica, como a lvares de Azevedo e a Junqueira Freire. No
lhe fugiu, ou sequer se lhe desvaneceu notavelmente a ingnua crena domstica, conservada, como to comum, por
hbito, e nele, poeta de nascena, por necessidade sentimental. A desventura, o sofrimento, aumentou-lhe, porm, a tristeza
dos da sua gerao e exacerbou-lhe a sensibilidade, e como queles criou-lhe a angstia da morte, que atormentava o poeta
da Lira dos vinte anos, afligia a Junqueira Freire, a Casimiro de Abreu e a outros da mesma famlia literria. Do Rio Grande
do Sul, aonde o levara o seu emprego de mdico do exrcito, escrevia nos formosos tercetos endereados ao seu amigo
Paula Brito, o bondoso e ingnuo mecenas, to mesquinho como os poetas que patrocinava:
Tenho nalma um cruel pressentimento
(Talvez no mui remota profecia
Que no posso apagar do pensamento!)
Espero cedo o meu extremo dia
E a morte, da ptria to distante,
quadro que me abate de agonia!
Das humilhaes que ao seu talento e brio impunha a sua mofina condio, defendia-se com o orgulho com que se lhe
fingia indiferente, mas que s vezes lhe irrompiam ou em gestos desabridos ou em gritos poticos verdadeiramente dolorosos
e comoventes, porque vindos dalma. Tais so: Meu segredo, Minha vida, A linguagem dos tristes, No posso mais, ltimo
canto do cisne:
Eu me finjo ante vs, porque venero
O sublime das lgrimas; conheo-as
So modestas vestais, vivem no ermo
Aborrecem festins.............................
.....................................................
Bem fechadas no claustro de meus olhos
Dentro em meu corao hei de cont-las
Guard-las bem de vs, contentes, hei de
Porque a dor me no traia neste empenho
Zelosa e vigilante sentinela
Em meus lbios trazer constante um riso.
Pungia-o esse to comum mal secreto, de que um dos nossos poetas devia, duas geraes depois, dizer num soneto
modelar. Serviu-lhe grandemente o estro esse mal. Na sua desgraa, de que a sua ndole de bomio e a sua doentia sensibilidade
de poeta fizera um real sofrimento, achou motivos de inspirao cuja sinceridade se traduz numa forma comovida e tocante,
se no excelente. Esta mesma lucrou da sua existncia de poeta popular a simplicidade do sentimento e a singeleza da
expresso que lhe do poesia um cunho particular e no raro delicioso. O ttulo de Trovas que lhe ps calha admiravelmente
aos seus poemas em que a espontaneidade da inspirao e a ingenuidade do sentimento se no embaraam de dificuldades
e caprichos de expresso. Laurindo Rabelo um poeta no sentido profundo que o povo d a este nome. Tambm nenhum
outro dos nossos teve a alma to perto do povo.
III JUNQUEIRA FREIRE
Lus Jos Junqueira Freire nasceu na Bahia em 1832 e ali mesmo faleceu, sem nunca ter sado da terra natal, em 1855.
Os seus estudos exclusivamente literrios, fizera-os com pouco sistema nas aulas primrias e avulsas secundrias da sua
terra e em seguida no Liceu Provincial. Completou-os ou os aperfeioou depois com a leitura copiosa e variada, principalmente
dos poetas latinos e modernos. As suas tentativas crticas no lhe desmerecem essa capacidade e so escritas numa lngua em
que porventura havia um bom embrio de prosador.
Uma tempor paixo amorosa mal-aventurada levou Junqueira Freire, por desespero romntico, a fazer-se frade. No
tinha nenhuma vocao ou sequer vivo sentimento religioso. Ao revs, dos fragmentos autobiogrficos dele restantes verifica-
se que era antes um esprito crtico, j meio desabusado, que metia bulha devoes e crendices acatadas pela Igreja. Ao
desespero amoroso a que a vida monstica no dera remdio, ajuntou-se lhe logo o desespero da vida, para a qual no
nascera, e com ele a revolta contra o seu estado de frade e at contra o estado monstico em geral. Foram os dois sentimentos
conjugados que o fizeram poeta e lhe deram a originalidade de ser na nossa literatura, seno tambm em toda a poesia da
nossa lngua, o nico francamente rebelde a uma das feies mais particulares do catolicismo, e que de o ser tirou inspirao.
Ao livro de seus primeiros poemas publicados na Bahia em 1855, pouco antes de sua morte, chamou de Inspiraes do
claustro. O ttulo imprprio, pois faz erroneamente supor que lhos inspirou a religio do claustro, quando motivaram-nos
o desespero e a revolta contra ele. Sob a estamenha do monge continuou a palpitar o seu corao enamorado, e no claustro
mesmo o seu amor, numa ardncia de desejos insatisfeitos e agora irrealizveis sem crime, irrompia em poemas que, no seu
estado, frisavam ao sacrilgio. Dessa coleo justamente os poemas mais fracos so os de inspirao presumida de religiosa,
O apstolo entre as gentes, A flor murcha do altar, O incenso do altar, Os claustros e quejandos, em que idia, emoo,
estilo so de lamentvel frouxido. A todos falta a uno que s d menos uma f confessada que um ntimo sentimento
religioso. Nenhum parece vindo to do fundo dalma como as suas imprecaes de frade desiludido ou os seus lamentos de
amoroso desesperado. A mesma observao cabe aos seus poemas intencionalmente brasileiros. Destes poetas Junqueira
Freire o nico a ainda sacrificar ao indianismo e a propsitos patriticos, embora escassamente e sem convico nem
entusiasmo. Ressentem-se destas falhas os seus poemas (O hino da cabocla, Dertinoa) dessa inspirao, que esto em tudo
e por tudo bem longe do modelo evidentemente mirado, Gonalves Dias, com quem Junqueira Freire teve relaes pessoais
e a quem dedicou um dos seus poemas. No aprendeu, alis, dele a cincia do verso branco, que ao seu falta harmonia e
relevo. Os melhores versos de Junqueira Freire so talvez os de contextura popular, sem preocupaes de mtrica. Afetava
demasiado o verso de onze slabas, geralmente desagradvel pelo seu soar agalopado.
Punge-o tambm a idia da morte, como era natural de uma alma de raiz romntica, afligida pelo dio da sua profisso
monstica, pelo desespero de um mal-aventurado amor e ainda pela misria de um organismo doentio. Entrev-se-lhe aquela
idia em vrios passos dos seus poemas, e claramente e numa bela frase potica mostra-se no intitulado Morte:
Pensamento gentil de paz eterna
Amiga morte, vem.
Punge-o porm, sem a expresso angustiosa de lvares de Azevedo ou Casimiro de Abreu, se no mais conformada e
serena. Os seus poemas caractersticos, a manifestaes mais significativas do seu sentimento e estro e do seu feitio potico,
so Meu filho no claustro, A rf na costura, Frei Bastos, A profisso de Frei Ramos, A freira, Ela, Saudade, Desejo, Morte,
Temor. Estes sobretudo lhe do a feio que o distingue no grupo da segunda gerao romntica. Nenhum deles tem a
perfeio relativa que se pode exigir de quem poetava em poca em que se no era to pontilhoso nas exigncias da forma
potica, mas reunidos desenham uma no vulgar fisionomia de poeta.
IV CASIMIRO DE ABREU
Tem-na tambm prpria e notvel Casimiro de Abreu. Poetando desde 1855, havendo mesmo publicado em Portugal
desde 1856, na Ilustrao Luso-Brasileira, alguns poemas, s em 1859 deu luz as suas Primaveras, porventura o mais lido
dos nossos livros de versos.
Casimiro Jos Marques de Abreu era natural da Barra de So Joo, na provncia do Rio de Janeiro, onde nasceu em
1837 e morreu em 1860. Seu pai, portugus como o de Gonalves Dias, como esse o destinava ao comrcio. Menos tratvel,
porm, que aquele, quis obrigar o filho a ficar numa profisso a que este era de todo avesso.
Dos poetas da sua gerao Casimiro de Abreu, talvez mais que outro qualquer, o poeta do amor e da saudade. Os dois
sentimentos so a alma da sua poesia. Este pobre rapaz fraco e enfermio nascera poeta, com a sensao viva, dolorosa do
que o grande poeta latino chamara as lgrimas das cousas, cujo mortal encanto lhe penetrou cedo a alma melanclica. O
drama ntimo da sua vida, o desconhecimento do seu talento, a contrariedade oposta sua vocao e, acaso, as imperfeies
do lar paterno, tudo teria sido exagerado at ao trgico pela sua sensibilidade doentia. grande a mgoa que de tudo lhe
vem; grande, real e sincera. Da sua vida amorosa nada de certo sabemos. Os seus bigrafos, mesmo aqueles que mais
intimamente, parece, o conheceram e trataram, como Reinaldo Montoro e Teixeira de Melo, divagam e amplificam, segundo
tem sido aqui o mau vezo dos bigrafos, em vez de lhe investigarem a vida e de a contarem sem impertinentes recatos.
127
Nos seus versos, porm, h a impresso pungente de um amor infeliz que lhe deixou a alma malferida e para sempre
dolorosa. O afastamento, a ausncia da terra natal, o exlio, como, imitando a Gonalves Dias, lhe chamou, completaria a
exacerbao da sua sensibilidade orgnica e lhe daria ao estro o tom nostlgico que, sem igualar a simplicidade genial do seu
inspirador, no lhe ficar somenos em emoo.
sob a influncia da nostalgia e do amor, ambos de fato nele uma doena, que se pe a cantar o Brasil. Mas o Brasil, que
canta em seus sentidos versos, a ptria por quem chora e que celebra, principalmente a terra em que lhe ficaram as cousas
amadas e mormente a desconhecida a quem dedicou o seu livro e que, segundo a meia confidncia de um daqueles bigrafos,
teria encontrado morta quando voltou terra natal. A saudade desta com os encantos que a saudade empresta aos seus
motivos que o faz patriota, se mesmo com esta restrio se lhe pode aplicar o epteto, que no vai aqui como elogio. A sua
nostalgia sobretudo o amor, no s mulher querida, mas a quanto este amoroso amava, o torro natal, a casa paterna, a
vida campestre, que para as almas sensveis como a sua se enche de prestgio ignorados do vulgo.
L de longe cantou a sua terra, os stios da sua infncia, as suas recordaes de toda a ordem, avivadas pela saudade,
com sentida e comovedora emoo. As penas de amor e de saudade fizeram-no o poeta que foi. Toda a sua curta vida, ainda
depois de restitudo sua terra, uma saudade incerta, uma indefinida nostalgia ficar-lhe-ia na alma como um ferrete daquelas
penas. E o nosso povo, que do portugus herdou o senso desses dois sentimentos, em a nossa raa irmanados na mesma
emoo, achou porventura em Casimiro de Abreu o mais fiel intrprete das suas prprias comoes elementares, primrias,
do amor do torro e da mulher querida. Pelo que Casimiro de Abreu o poeta brasileiro que o nosso povo mais entende e a
quem mais quer. Ama-o, recita-o, canta-o, fazendo-o um poeta popular, em certos meios quase annimo. Comprova este
asserto o fato de ser Casimiro de Abreu, de todos os nossos poetas, excetuando Gonzaga, certamente o que tem sido mais
vezes reimpresso, total ou parcialmente. As suas Primaveras tm, pelo menos, oito edies.
Voltando doente e abatido terra natal, a vista daquelas cousas to choradas no exlio pe-lhe na alma dolente acentos
raros atingidos pela nossa poesia. E dele se haviam de inspirar Lus Guimares Jnior, Lcio de Mendona e outros que
cantaram iguais estados dalma:
Eis meu lar, minha casa, meus amores,
A terra onde nasci, meu teto amigo,
A gruta, a sombra, a solido, o rio
Onde o amor me nasceu, cresceu comigo.
Os mesmos campos que eu deixei criana,
rvores novas, tanta flor no prado!...
Oh! como s linda, minha terra dalma,
Noiva enfeitada para o seu noivado.
Foi aqui, foi ali, alm... mais longe,
Que eu sentei-me a chorar no fim do dia,
L vejo o atalho que vai dar na vrzea...
L o barranco por onde eu subia!...
Acho agora mais seca a cachoeira
Onde banhei meu infantil cansao,
Como est velho o laranjal tamanho
Onde eu caava o sanhau a lao!...
Como eu me lembro dos meus dias puros!
Nada me esquece!... Esquecer quem h de?
Cada pedra que eu palpo ou tronco ou folha
Fala-me ainda dessa doce idade.
E a casa?... as salas, estes mveis, tudo,
O crucifixo pendurado ao muro...
O quarto do oratrio, a sala grande
Onde eu temia penetrar no escuro!...
da melhor, da mais alta, da mais profunda poesia. Como poeta do amor, no demais dizer que Casimiro de Abreu deu
nossa lngua, to rica sob este aspecto, algum dos seus mais comovidos seno mais formosos cantos. A uns destes os
prejudicou, no conceito da gerao imediata ao poeta, a mesma popularidade que os vulgarizou nos recitativos de salo,
como foram de moda. No obsta que poemas como Amor e medo e Minha alma triste sejam, sem encarecimento, apesar da
sua toada que nos hoje menos agradvel, dos mais belos da nossa poesia.
Com incorrees de forma potica, a que somos depois do parnasianismo demasiadamente sensveis, tm eles em alto
grau, sentimento, idealizao, emoo da melhor espcie potica, e at, em mais de um passo, peregrinas excelncias de
expresso. H em Amor e medo notadamente um ardor de volpia ao mesmo tempo contida e exuberante, que lhe reala
sobremodo a beleza, e formosuras de sensao e de expresso que no teriam o direito de desdenhar os mais reputados
sequazes de Baudelaire. forte a sua traduo das tentaes amorosas da carne, como o diriam estes poetas, e, mais, de todo
nova na nossa poesia, seno tambm na da lngua portuguesa:
Ai! Se eu te visse no calor da sesta,
A mo tremente no calor das tuas,
Amarrotado o teu vestido branco,
Solto o cabelo nas espduas nuas...
Ai! Se eu te visse, Madalena pura,
Sobre o veludo reclinada a meio,
Olhos cerrados na volpia doce,
Os braos frouxos, palpitante o seio!...
Ai! Se eu te visse em languidez sublime,
Na face as rosas virginais do pejo,
Trmula a fala, a protestar baixinho,
Vermelha a boca soluando um beijo!...
Desprezados, como necessariamente suceder dentro em pouco, os preconceitos que a vulgarizao de tais versos
contra eles criou, eles nos aparecero em toda a sua novidade e beleza de sensao e expresso. Ver-se-a o seu realismo de
idias e estilo, nem sequer suspeitado ento como frmula ou processo de escola, do mesmo passo que se lhes sentir o ardor
e a intensidade que desafia quanto a paixo cola daquele poeta francs e dos seus discpulos ps nos versos dos nossos
ulteriores poetas. Em que lhes pese ao estpido desdm pelo verdadeiro e notvel poeta que Casimiro de Abreu, facilmente
se verifica que eles lhe sofreram a influncia e freqentemente o imitaram, raro o igualando e nunca o excedendo na
realidade da emoo nem no sublime da expresso. Pela profundeza e sinceridade do seu sentimento potico, tem ele mais
razo de viver do que estes; j vive de fato mais do que eles vivero, e o futuro, no duvido vaticinar, o desforrar cabalmente
dos seus tolos desdns.
Tristeza ingnita, melancolia amorosa, acerba nostalgia, angustioso sofrimento de uma alma rica de ingnuas e ardentes
aspiraes de glria e de amor, tudo deu a este delicioso poeta a feio dolorosa que ainda no meio dos poetas dolentes da
sua gerao o distingue. Tinha tambm, como os outros, o pressentimento da morte prematura. Mais de um poema seu o
declara ou o rev.
A um amigo recm-morto dizia:
Dorme tranqilo sombra do cipreste...
No tarda a minha vez;
Com efeito, dois anos depois, finava-se com vinte e trs de idade, na sua fazenda ou stio de Indaiau, no torro natal, s
cinco horas e vinte e cinco minutos da tarde do dia 18 de outubro de 1860.
128
V POETAS MENORES
Tais so estes poetas, os principais da gerao que, estreando pelos anos de 1850, viveu literariamente at o fim da
seguinte dcada e ainda alm. Afora estes, poetaram, por esse tempo, com ou sem livros publicados, Francisco Otaviano de
Almeida Rosa (1825-1889), Jos Bonifcio de Andrada e Silva (1827-1886), Aureliano Jos Lessa (1828-1861), Bernardo
Joaquim da Silva Guimares (1827-1884), Jos Alexandre Teixeira de Melo (1833-1907), Jos Joaquim Cndido de Macedo
Jnior (1842-1860) e outros de menor merecimento e reputao.
Francisco Otaviano e Jos Bonifcio, chamado o Moo, para distingui-lo do seu tio do mesmo nome, o patriarca da
Independncia, foram dous brilhantes poetas amadores, dous insignes diletantes da poesia, e tambm, dous brilhantes espritos,
porventura dous talentos de primeira ordem. Mas a sua vocao, se a vocao no seno a incapacidade de falharmos s
inclinaes naturais do nosso esprito, no eram as letras ou ao menos as letras praticadas com a assiduidade de uma
profisso. Com encantador e no vulgar estro potico, ambos, apenas espordica e ocasionalmente, poetaram. Esse dom, o
exerceram antes como uma prenda de sociedade, mais uma distino a juntar s muitas que possuam como polticos,
jornalistas, parlamentares, juristas, do que por necessidade do seu temperamento literrio. Jos Bonifcio, cuja obra potica
esparsa contm algumas obras-primas (O redivivo, Um p, Primus inter pares, A margem da corrente), publicou apenas,
ainda em antes que comeasse esta gerao, com a qual principalmente cantou, um pequeno folheto de versos Rosas e
goivos, em 1848.
129
Francisco Otaviano versificou copiosa e elegantemente em jornais, revistas e lbuns mulheris, fez
primorosas tradues de Byron, deixou admirveis versos proverbiais, mas ao cabo nenhum volume por onde possamos
cabalmente apreci-lo. Nem um, nem outro tiveram na nossa poesia a importncia a que os seus talentos lhes dariam direito
incontestvel e at os obrigavam; ambos, porm, exerceram nela, ao menos no crculo dos poetas que puderam conhec-los
e a sua dispersa produo, inegvel influncia. So antes dous grandes nomes literrios, algo lendrios, que dous escritos
notveis.
Est exatamente nas mesmas condies Pedro Lus Pereira de Souza (1839-1884). Tambm ele foi um poeta brilhante,
o precursor da inspirao poltica e social e do que depois se chamou condoreirismo, na nossa poesia, poltico de relevo,
jornalista, conversador agradabilssimo, segundo quantos o trataram, e homem do mundo de rara seduo. Deixou meia
dzia de poemas, os melhores no tom pico (Os voluntrios da morte, Terribilis Dea) que todo o Brasil conheceu, recitou e
admirou. Mas a sua obra dispersa de mero diletante, se lhe criou um nome meio lendrio como o de Jos Bonifcio e
Francisco Otaviano, no basta a assegurar-lhe um posto de primeira ordem na nossa poesia.
Sem lhes ter a fama, valem acaso mais para a histria da nossa literatura Teixeira de Melo, Aureliano Lessa e principalmente
Bernardo Guimares. Teixeira de Melo, cujas Sombras e sonhos precederam as Primaveras de Casimiro de Abreu, e que
era um quase conterrneo do poeta da alma triste, era tambm, como ele, de seu natural melanclico. A sua tristeza nativa e
o seu estro sofreram a influncia de Gonalves Dias, mas por sua vez o seu lirismo no deixou de influir no de Casimiro de
Abreu, em que se encontram imagens e expresses de poemas das Sombras e sonhos, e que epigrafou com versos destes
poemas as suas Primaveras. Mas Teixeira de Melo, com desenganados queixumes mtricos da vida, cedo abandonou a
poesia e burocraticamente, fazendo bibliografia e erudio, viveu septuagenrio. Como poeta, alm de ser um legtimo e
estimvel representante da potica da sua gerao, foi um dos mais corretos versificadores dela, devendo-lhe a arte do verso
aqui as melhorias de um alexandrino mais perfeito do que antes dele se fizera e de nas estrofes de quatro versos rim-los
sempre alternadamente, o que antes s excepcionalmente se fazia.
Aureliano Lessa, ligeiramente mais objetivo que lvares de Azevedo, e de um sentimento menos profundo que qualquer
dos poetas desta gerao, nem assim lhe escapa aos estigmas caractersticos. Ao contrrio, pertence-lhe por todas as feies
da sua poesia, sem que tenha nenhuma que particularmente o distinga. Destes poetas secundrios desta prognie, o maior,
pela sua mais distinta fisionomia, pela cpia da sua produo e ainda pelos quilates destas, , sem dvida, Bernardo Guimares.
Este, alis, pertence-lhe antes cronolgica que literariamente, antes por ser do mesmo tempo, ter vivido a vida de alguns
deles, poetado conjuntamente com eles, do que por paridade de sentimento ou estro com eles. No h nos seus poemas e
a sua produo foi uma das mais copiosas do tempo nem o excessivo subjetivismo, nem o mrbido sentimentalismo, nem
a tristeza e dolncia dos seus companheiros de gerao, e menos ainda a sua ardente voluptuosidade. mesmo o nico deles
que no triste ou que sabe disfarar a tristeza e mgoa, que s vezes declara galhofando dos seus mesmos pesares ou
expondo-os mais a sorrir que a chorar, como preferiam fazer aqueles. em todo o nosso romantismo o nico poeta alegre,
o que versejou de cousas alegres e com inspirao e inteno jovial. E versejou geralmente bem, se no com mais arte, com
arte diferente da dos seus companheiros e mais variada inspirao. ele quem reintegra o descritivo na poesia desta gerao,
que dela o tinha quase abolido. O seu temperamento potico, principalmente considerado em relao poca em que poetou
(1858-1864), mais clssico ou antes mais arcdico, que romntico; no h ao menos nas suas manifestaes as exuberncias
e menos os excessos de emoo do Romantismo. Mas tambm no h o melhor da sua sensibilidade. Bernardo Guimares
teve em seu tempo, e no sei se continuar a ter, mais nome como romancista que como poeta. No me parece de todo
acertado este modo de ver.
Captulo XIV
OS LTIMOS ROMNTICOS
I PROSADORES
ANACRNICO E AMANEIRADO procrastinava-se o Romantismo, conservando os seus traos distintivos; a inteno
nacionalista, realizada no poema ou no romance, j indianista, j do pitoresco patrcio da paisagem ou da vida, e a
sentimentalidade idealista. Afora os romnticos da primeira hora, que se sobreviviam a si mesmos e eram quase todos
porque esta gerao, ao invs da segunda, viveu velha, havia os que, aparecendo quando j se acabava o alento literrio
que a criara, ainda lhe sofreram a influncia ou cediam tambm ao prestgio daqueles fundadores. Os mesmos que se
desviam de Alencar, a principal figura literria do tempo, o reconhecido chefe da literatura nacional, at os que o negam
(alis poucos) no contestam ou sequer duvidam a legitimidade do propsito nacionalista. que este revia o ntimo sentimento
a que, com a sua ordinria propriedade de expresso, Machado de Assis chamaria de instinto de nacionalidade. Presume
esta Histria haver cabalmente verificado o desabrochar desse instinto desde ainda mal iniciada a formao do nosso povo,
bem como o seu constante desenvolvimento a par com o deste. A espontaneidade do fenmeno no prova, entretanto, que
no assentasse em um errado conceito do nacionalismo na literatura. Desde 1873, no artigo de que acabo de citar uma feliz
expresso, Machado de Assis oferecia a primeira contrariedade, que me conste, opinio ao seu parecer errnea, que s nas
obras consoantes aquele propsito reconhecia esprito nacional e conceituosamente escrevia no h dvida que uma literatura,
sobretudo uma literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua regio; mas no
estabelecemos doutrinas to absolutas que a empobream. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, certo sentimento
ntimo que o torne homem do seu tempo e do seu pas, ainda quando trata de assuntos remotos no tempo e no espao.
130
Este programa devia ele cumpri-lo com peregrina distino, despreocupadamente.
Iniciava-se, porm, a reao contrria ao Romantismo, sob o seu aspecto de nacionalismo exclusivista. Aps largos
anos de paz, de tranqilidade interna, de remansosa vida pacata sob um regime liberal e bonacho, apenas abalada por
mesquinhas brigas partidrias que no logravam perturb-la, rebentou a guerra do Paraguai, que durante os ltimos cinco
anos do decnio de 60 devia alvoroar o pas. Pela primeira vez depois da Independncia (pois a guerra do Prata de 1851
mal durou um ano e no chegou a interessar a nao) sentiu o povo brasileiro praticamente a responsabilidade que aos seus
membros impem estas coletividades chamadas naes. Ele, que at ento vivia segregado nas suas provncias, ignorando-
se mutuamente, encontra-se agora fora das estreitas preocupaes bairristas do campanrio, num campo propcio para
estreitar a confraternidade de um povo, o campo de batalha. De provncia a provncia trocam-se idias e sentimentos;
prolongam-se aps a guerra as relaes de acampamento. Houve enfim uma vasta comunicao interprovincial do Norte
para o Sul, um intercmbio nacional de emoes, cujos efeitos se fariam forosamente sentir na mentalidade nacional. A
mocidade das escolas, cujos catedrticos se faziam soldados e marchavam para a guerra, alvoroou-se com o entusiasmo
prprio da idade. Os que no deixavam o livro pela espada, bombardeavam o inimigo longnquo com estrofes inflamadas e
discursos tonitruantes, excitando o frvido entusiasmo das massas. O amor, a morte, o desgosto da vida, os queixumes
melanclicos, remanescentes do Romantismo, cederam lugar a novos motivos de inspirao. Por outro lado, acontecimentos
exteriores que tinham aqui grande repercusso, as lutas do liberalismo francs contra o Segundo Imprio napolenico, lutas
em que a poesia e a literatura tomavam to grande parte, a implantao de uma monarquia europia na Amrica, a revoluo
republicana na Espanha e o fenmeno de um grande poeta, Victor Hugo, contrapondo-se em toda a grandeza do seu gnio e
da sua clera republicana ao Imprio e desafiando-o em face do mundo atnito, comoviam tambm a mente nacional.
Impresses de todos esses sucessos h na poesia do tempo. Poetas e ainda prosadores eram por eles solicitados em outras
direes que o estreme subjetivismo romntico. Debuxou-se ento a reao anti-romntica. Iniciava-se, porm, sem alvoroto,
nem deciso como que a medo. Ainda vencedora, no o suplantara de todo na radicada opinio de que o assunto brasileiro
primasse em a nossa literatura e at em quaisquer lucubraes nossas. Salvo o que o cumprimento deste preceito pudesse ter
de excessivo, no era ele inteiramente desarrazoado. A funo faz o rgo. A aplicao constante dos nossos sentimentos
nacionais na idealizao literria ou noutro labor intelectual a assuntos brasileiros devia em rigor acabar por criar e desenvolver
em ns aquele instinto. A histria da nossa literatura prova, alis, que assim sucedeu.
J comeada a reao, menos contra esse instinto legtimo e necessrio que contra o conceito abusivo da sua aplicao,
apareceu nas nossas letras um escritor que, sem embargo da sua procedncia francesa e ser de raa um puro europeu, o
possui como poucos brasileiros da nossa formao tradicional, o visconde de Taunay. Em 1872, Machado de Assis, que viria
a suceder a Alencar no principado das nossas letras, estreava no romance com um livro a todos os respeitos novo aqui,
Ressurreio. No mesmo ano publicou Taunay a Inocncia, formoso exemplar do romance brasileiro segundo a frmula
aceita. Um ano antes estreara com a Mocidade de Trajano. Apesar da antipatia posteriormente manifestada pelo autor, na
sua obra crtica, s novas correntes que comeavam a arrastar para fora do Romantismo a fico francesa, figurino sempre
canhestramente copiado da nossa, sente-se-lhe todavia o influxo em ambos os romances.
Alfredo dEscragnolle Taunay, visconde de Taunay, nasceu no Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de 1843 e nesta cidade
faleceu em 1899. Engenheiro militar e oficial de exrcito, fez a campanha do Paraguai e exerceu vrias comisses tcnicas.
Professou tambm letras e cincias naturais na Escola Militar e, como Alencar, foi homem poltico, deputado geral, presidente
de provncia e senador do Imprio. Teve talentos e aptides variadas, era pintor e msico, e possua, com boa educao
liberal, prendas de homem do mundo. Foi um dos escritores mais versteis e fecundos do seu tempo, mesmo o foi talvez com
desleixada facilidade, acaso com menosprezo da sua situao literria. Aludo a livros como o Encilhamento ou Como e
porque me tornei kneipista e que tais escritos seus. Esta falha, porm, revia a sua esquisita bonomia e o ingnuo ardor de
propagandista que nele houve sempre e se manifestou nas suas campanhas de imprensa e de tribuna por questes pblicas
tomadas calorosamente a peito. No ocioso record-lo, pois mostra a feio prtica do gnio de Taunay, feio que no foi
estranha sua frmula literria.
sua obra, considerada pela cpia e ainda pela qualidade, faltou coeso e intensidade que lhe dessem mais solidez e
distino. E como quer que seja dispersiva, feita com facilidade que roa pelo banal e inconseqente. Alm da propriamente
literria, romance, crtica, teatro, compreende viagens e exploraes de engenheiro, relatrios tcnicos, relaes de guerra,
estudos etnogrficos, escritos polticos e sociais, questes pblicas, biografias, histria e peas musicais. Dois livros destacam-
se de toda ela, que lhe asseguraram em vida nomeada de bons quilates e lhe do um lugar na nossa literatura: a narrativa,
feita com grande talento literrio, de um episdio da guerra do Paraguai, a Retirada da laguna e o romance de costumes
sertanejos Inocncia, j referido.
Taunay, a quem tive a ventura de conhecer de perto, no obstante a sua dupla origem estrangeira, era um genuno
brasileiro de ndole e sentimento. No lhe faltavam sequer sinais das nossas peculiaridades, o que lhe completava a
caracterizao nacional. A sua literatura de inspirao, sentimento e inteno brasileira a expresso sincera desta sua
feio. O seu europesmo ainda muito prximo, apenas lhe transparece no ardor com que, apesar de conservador de partido,
se empenhou por idias liberais que a seu ver deviam atrair e facilitar a imigrao europia, da qual foi ardoroso propugnador.
Sob o pseudnimo, logo descoberto, de Slvio Dinarte, estreou na literatura com o j citado romance A mocidade de Trajano,
em 1871. Quer neste, quer em Inocncia, que se lhe seguiu de perto, atenua-se a sentimentalidade excessiva e o romanesco
do romance em voga. Paisagens e costumes so descritos com mais senso da realidade e mais sobriedade e exatido de
traos. E no somente a sua representao interessa ao autor, seno tambm aspectos polticos, sociais e morais, que ressaiam
da ao, das personagens ou dos usos. No se libertara ainda da preocupao doutrinal dos seus antecessores, tinha-a,
porm, com mais largueza espiritual e mais desenvoltura de expresso. Em A Mocidade de Trajano havia manifestaes de
livre-pensamento e stira quer aos nossos costumes polticos, quer a prticas devotas, desusadas na nossa fico.
Tinha feitio diferente de tudo o que no gnero aqui se publicara, a Inocncia. Romance feito de impresses diretas de
paisagens, cenas, tipos e fatos gerais, apenas idealizados por uma recordao que devia de ser saudosa, havia neste, com
uma representao esteticamente verdadeira, ao mesmo tempo singela e forte, do serto e da vida sertaneja no Brasil central,
um sincero sentimento, uma simpatia real, sem excesso de sensibilidade, do seu objeto. No obstante desfalecimentos de
estilo, havia mais nele o mrito da novidade. Estavam em voga os romances de Alencar, Macedo e Bernardo Guimares. O
primeiro era nimiamente romanesco e idealista, feies que ao tempo as suas reais qualidades de escritor no bastavam para
atenuar. Macedo, mestre de que alis Taunay se confessava discpulo, sobre romanesco, de lngua desleixada e estilo frouxo,
pode dizer-se que no tinha propriamente feitio literrio. Bernardo Guimares, com qualidades artsticas inferiores, como
Macedo, era como Alencar, mas sem o seu talento, um romntico idealista piorado pelo romanesco sentimental. Sem falar
em Manoel de Almeida, cujo nico romance no teve repercusso, Taunay quem na Inocncia, talvez sem propsito,
levado apenas dos instintos prticos do seu gnio e nativo realismo do seu temperamento, e ainda pelo que chamarei o seu
materialismo literrio, escreve o primeiro romance realista, no exato sentido do vocbulo, da vida brasileira num dos seus
aspectos mais curiosos, um romance ressumando a realidade, quase sem esforo de imaginao, nem literatura, mas que a
emoo humana da tragdia rstica, de uma simplicidade clssica, idealiza nobremente. Precedera-o de trs anos o Casamento
no arrabalde, de Franklin Tvora, de idntica feio. Sobre no ter a intensidade e o compendioso de Inocncia, nem,
portanto, a sua emoo, publicado na provncia, passou despercebido menos por uma conspirao de silncio, como
erradamente suporia o autor, mas em virtude mesmo das necessrias condies da nossa vida literria. Ao contrrio, o
romance de Taunay saa acompanhado da calorosa recomendao considervel de Francisco Otaviano, que lhe augurava
longa vida e acertou no vaticnio. No havia em Inocncia os arrebiques e enfeites com que ainda os melhores dos nossos
romances presumiam embelezar-nos a vida e costumes e a si mesmos sublimarem-se. E com rara simplicidade de meios,
lngua ch e at comum, estilo natural de quase nenhum lavor literrio, composio sbria, desartificiosa, quase ingnua, e,
relativamente a ento vigente, original e nova, saa uma obra-prima.
Infelizmente se no repetiria jamais na obra do romancista. Os seus seguintes romances tero quase todos o mrito,
ainda extraordinrio, de melhor observao, de inteno de psicologia e estudo e desenho de caracteres, de lngua mais
cuidada. Esta, porm, por demasiado impessoal e dessangrada, nunca logrou ser um estilo. Depois de Inocncia, a sua obra
mais viva, e digno par desta, a Retirada da Laguna, ou antes La Retraite de Lagune, pois foi escrita em francs. O ser
escrita nesta lngua porventura contribuiu para lhe dar a sbria elegncia e o intenso vigor descritivo que a distinguem na sua
obra, mas de alguma sorte a desterra da nossa literatura. Taunay aumentou o nosso cabedal literrio, enriquecendo do
mesmo passo a nossa fico, com outros romances, Lgrimas do corao (1873), republicado nos anos de 90 com o ttulo
menos romntico de Manuscrito de uma mulher, Ouro sobre azul (1874), Histrias brasileiras (1878), Narrativas militares
(1878) e No declnio (1899). Dons de observao, qualidades de narrao e tambm de composio, apesar da fraqueza e
ineficincia da aplicao psicolgica e maior simplicidade de estilo, geralmente os sobrelevam aos romances de Macedo ou
Bernardo Guimares e at, embora menos, aos de Alencar. Nos ltimos era j evidente o influxo do naturalismo na sua fase
extrema. Eram, porm, acaso mais realistas que naturalistas, porque o realismo estava no fundo do engenho literrio de
Taunay, como o idealismo no de Alencar.
Ensaiou igualmente Taunay o teatro (Amlia Smith) e a crtica (Estudos crticos, 1881-1883), mas em nenhum destes
gneros deixou obra considervel. O seu lugar na histria da nossa literatura so os seus romances somente que merecidamente
lho conferem.
A precedncia de Franklin Tvora aos dois romancistas atrs nomeados, Taunay e Machado de Assis, apenas cronolgica.
No obstante se haver estreado no romance desde 1862, com os ndios de Jaguaribe, s de fato comeou o seu nome a sair
da obscuridade provinciana pelos anos de 70, primeiro com a publicao escandalosa das Cartas a Cincinato, depois com
os romances O cabeleira (1876), O matuto (1878), Loureno (1881).
Joaquim Franklin da Silveira Tvora era do Cear, nascido em 13 de janeiro de 1843. Passou a maior parte da sua vida
no Norte, onde se lhe formou o esprito e pelo qual tinha um apego bairrista. Os seus ltimos anos viveu-os no Rio de
Janeiro, e aqui faleceu em 18 de agosto de 1888. Acaso mais por esprito de insubordinao dos escritores novis contra os
consagrados, que por justificadas razes, foi dos que se insurgiram contra a hegemonia literria de Alencar. Tem sido sempre
aqui a literatura uma cousa parte na vida nacional. Feita principal se no exclusivamente por moos despreocupados da
vida prtica, que sacrificavam a ingnuas ambies de glria ou vaidade de nomeada, nunca assegurou aos seus cultores
posies ou proveitos, como no constituiu jamais profisso ou carreira. Nestas condies tal insurreio, como outras
quejandas, e tanta cousa da nossa vida literria, era apenas uma macaqueao de idnticas rebelies nos centros literrios
europeus. Com violncia que tanto pode haver sinceridade de convices como a congnita irritabilidade dos poetas, e sob
pseudnimo de Semprnio, atacou Franklin Tvora a Jos de Alencar, e aos seus livros, nomeadamente a Iracema e o
Gacho, em uma srie de cartas primeiro publicadas num peridico do Rio, depois reunidas em livro de ntida edio de
Paris.
131
Sob o disfarce de Cincinato eram endereadas ao escritor portugus Jos Feliciano de Castilho. Ainda banindo da
literatura e da vida, como devem ser, quaisquer estreitas prevenes nacionais, de todo impertinentes na ordem intelectual,
essa obra de Franklin Tvora, alis aprecivel como crtica e como estilo, era uma m ao. Fossem quais fossem os defeitos
da de Alencar, no eram tais que o desclassificassem do posto que ocupava nas nossas letras. Determinava-a demais uma
verdadeira vocao literria, como a inspiravam uma sincera e nobre ambio de promover a literatura nacional. E em
verdade o fazia com honrado labor e engenho no momento incomparvel. Ao mesmo empenho, alis, se consagrara Franklin
Tvora, encetando a sua atividade literria com livros da chamada literatura brasileira, Os ndios de Jaguaribe, Um
casamento no arrabalde. E o mesmo propsito teve o resto da sua vida. Nem ao cabo a sua literatura diferia notavelmente
da de Alencar, seno por lhe ser inferior. Os ndios de jaguaribe, O cabeleira, O matuto, Loureno, que so as suas obras
tpicas como indianismo ou regionalismo pitoresco, no se diferenciam essencialmente dos romances de Alencar da mesma
inspirao, e menos ainda os excedem em merecimento. So-lhes antes somenos como imaginao e estilo. E era a um
escritor estrangeiro que se fizera aqui o negador sistemtico ou o instigador da negao sistemtica, do nosso engenho e
capacidade literria, que Franklin Tvora tomava por parceiro nesse jogo de descrdito do escritor que com tanta bizarria,
e no sem sucesso, se empenhava no fomento da literatura nacional. Mas na vida literria no h maior satisfao nem
melhor prmio, de que vermos seguir-nos os passos os mesmos que nos contestam e nos atacam. Se Alencar fosse um
homem de esprito, a investida de Franklin Tvora, acompanhada de seus romances brasileiros, devia intimamente rejubil-
lo. Sem embargo de endereadas ao irmo de Antnio de Castilho, o serdio rcade contra quem se tinha revoltado no
havia muito a mocidade literria portuguesa, as Cartas a Cincinato eram acaso repercusso do famoso e ridculo motim
literrio do Bom senso e bom gosto. No tiveram, porm, o eco da clebre carta deste ttulo de Antero de Quental quele,
nem motivaram seno as respostas malignas e ainda ferinas do seu equvoco destinatrio.
Com excelentes qualidades literrias, tinha Franklin Tvora, mais do que lcito a um homem de esprito, preconceitos
provincianos, quizila Corte, cujos literatos, alis na maioria provincianos, imaginava apostados em desconhecer e hostilizar
os escritores da provncia. Algum tempo, justamente naquele em que fazia as suas primeiras armas literrias Franklin Tvora,
prevaleceu este estado de esprito, que o revia mesquinho, em certo grupo de homens de letras nortistas, indiscretamente
revoltados contra a legtima e natural preponderncia mental do Rio de Janeiro. Como se, dada a nossa formao histrica
e cultural, e organizao poltica, no fosse absurdo o regionalismo espiritual que lhes apetecia. Desta ridicularia ainda
haver algum representante anacrnico, e nunca se emancipou Franklin Tvora. Manifestou-o ainda no prefcio da 2.
edio, aqui publicada, de Um casamento no arrabalde. Esta preveno lhe teria gerado a desinteligente ojeriza a Alencar,
como um dos sacerdotes sumos, segundo o seu dizer, da literatura dos que no Rio de Janeiro menosprezavam a da
provncia. Do mesmo preconceito lhe viria a infeliz idia da repartio da literatura brasileira em literatura do Norte e
literatura do Sul, conforme a regio brasileira que lhe fornecia a inspirao e o tema. Quo melhor alumiado no andou
Alencar escolhendo os seus sem preferncia de regies, para compor segundo o belssimo dizer de Machado de Assis com
as diferenas da vida, das zonas e dos tempos a unidade nacional de sua obra.
Mas a obra construtiva de Franklin Tvora, os seus quatro ou seis romances publicados de 1869 a 1881, excludos os
ndios de Jaguaribe, tentativa malograda de indianismo da sua juventude inesperta, sobreleva de muito este seu mal-avisado
trabalho de demolio. Ele no tem nem a imaginao nem o alinde do estilo literrio de Alencar, escreve todavia com mais
apuro e observa com mais fidelidade. A sua representao da natureza e da vida mais exata, se no mais expressiva. A sua
lngua mais simples, menos enfeitada, atingindo mesmo s vezes, como no Casamento no arrabalde, uma singeleza
encantadora, livra-o da retrica sentimental que Alencar nem sempre evitou. Este ltimo romance no seu gnero um dos
melhores da nossa literatura, um daqueles em que a vida burguesa provinciana, e no s nas suas exterioridades, mas nos
seus caracteres intrnsecos e essenciais, se acha mais fiel e artisticamente reproduzida. Um casamento no arrabalde, como
a Inocncia, de Taunay, um romance de um realista espontneo, para quem o realismo no exclui por completo a idealizao
artstica, que como o sopro divino que lhe anima a feitura. Algo deste carter realista se nos depara em todos os romances
de Tvora, o que faz dele, como do seu contemporneo Taunay, um dos reatores contra a romntica aqui ainda ento
prevalecente, um dos precursores, portanto, do naturalismo.
O teatro e a literatura dramtica no Brasil no tiveram nunca a importncia, nem o mrito, do romance ou da poesia.
Ficaram-lhes sempre somenos em quantidade e em qualidade. A poca de maior florescimento, sob estas duas espcies, do
nosso teatro e da nossa literatura dramtica, so as duas dcadas de 1860 a 1880. Pertence-lhes quase todo ou o melhor do
teatro de Macedo, de Alencar, de Quintino Bocaiuva, de Agrrio de Meneses, de Pinheiro Guimares e de outros numerosos
autores de teatro, cujos nomes, entretanto, cabem mais na histria deste que na da literatura em geral. No s no Rio de
Janeiro, mas nas capitais das provncias principais, existiam e mantinham-se casas de espetculos de peas nacionais,
portuguesas ou traduzidas, representadas por companhias compostas quase por igual de atores brasileiros e portugueses
fixados no Brasil, e at aqui feitos, dos quais alguns nomes ainda vivem na tradio, como Joaquim Augusto, Furtado
Coelho, Florindo, Vicente de Oliveira, Eugnia Cmara, Ismnia dos Santos, Manuela Luci, Xisto Baa, Corra Vasques, e
ainda outros. Mas, ou por deficincia dos nossos autores dramticos, ou por defeito do prprio meio de que se inspiravam,
faltou sempre ao nosso teatro capacidade de representao teatral da nossa sociedade, que invariavelmente falsificava. E
como tambm no tiveram o talento de expresso mais alta da nossa vida que, embora a desnaturando, atingisse a uma
realidade humana geral, a nossa literatura dramtica consta antes de timas intenes que de boas obras.
Nela trabalhou tambm Franklin Tvora, de quem se conhecem pelo menos trs dramas: Um mistrio de famlia (1861),
Trs lgrimas (1870) e Antnio, representado aqui no Rio, mas que parece se no chegou a imprimir. Os impressos corroboram
o conceito acima, no se distinguem nem como representao da nossa vida, neles adulterada ao influxo da dramaturgia
francesa, sempre aqui dominante, mas aqui sempre estril, nem como expresso geral de sentimentos e atos humanos.
Deixou Franklin Tvora tambm algumas excelentes pginas de crtica, gnero que tratou com evidente disposio e
talento, mas que no cultivou bastante para destacar a figura nele.
II POETAS
Pela poca em que se estrearam estes romancistas, as principais feies ou correntes da poesia brasileira, no que tinha
esta de mais peculiar, eram ainda, se no o indianismo, o brasileirismo dos primeiros romnticos, e o sentimentalismo
doentio, de envolta com o ceticismo literrio e a desiluso e desalento, dos segundos. Esgotavam-se essas duas correntes
quando surgiram, com pouco intervalo, Machado de Assis (1839-1908), Tobias Barreto (1839-1889), Fagundes Varela
(1841-1875), Lus Guimares Jnior (1847-1898) e Castro Alves (1847-1871), que podemos considerar os ltimos romnticos
da nossa poesia, que j no sejam anacrnicos.
Alis nenhum trao comum saliente liga estes poetas. Quando muito, o teriam Tobias Barreto e Castro Alves na feio
oratria do seu estro, a que se deu o nome de condoreirismo, porque os seus arroubos poticos presumiam semelhar-se ao
surto do condor. Denominao alis, como tantas outras inventadas na nossa literatura, de pouca propriedade. Naquele
grupo no caberia seno aos dois poetas nomeados ou a algum seu secundrio imitador, indigno de meno particular.
Demais no foram nem Tobias, nem Castro Alves os inventores desse falso gnero de poesia enftica e declamatria. Antes
deles, Pedro Lus publicara os seus poemas Nunes Machado, A sombra de Tiradentes, Os voluntrios da morte (1863),
Terribilis Dea, Justamente no diapaso que devia dar queles dois poetas o epteto extravagante de condoreiros. E na
procura das ltimas fontes do mesmo veio, poderamos acaso remontar ao Napoleo em Waterloo, de Magalhes, a certos
poemas de Jos Bonifcio, o Moo, e a outras anteriores amostras da nossa facndia potica. Est esta no nosso temperamento,
e o condoreirismo no era uma novidade na nossa poesia, mas apenas o exagero, sob a influncia do entusiasmo patritico
do momento e da retrica hugoana, desse defeito do nosso estro potico. O aparecimento simultneo de Varela com o seu
Pavilho auviverde, e de Vitoriano Palhares com o seu A D. Pedro II, a propsito do conflito anglo-brasileiro de 1862, e de
numerosos poemas to patriticos como bombsticos de Jos Bonifcio e Pedro Lus, coincidindo com os de Castro Alves
e Tobias Barreto, da mesma entoao, esto atestando que no havia novidade essencial no chamado condoreirismo de 60 a
70.
O Romantismo byroniano, temperado por lvares de Azevedo, de Musset e Spronceda e de outros condimentos de
idntico sabor literrio, tinha certamente desviado da sua direo primeira, crist, patritica e moralizante, o movimento
literrio com que aqui se iniciara a nossa literatura nacional. Mas alm da parcial impresso que fez nos trs principais
poetas da mesma gerao, mal fizera escola com Aureliano Lessa, Bernardo Guimares e menores poetas, desvairados
sobretudo com as extravagncias da Noite na taverna. Nos anos de 60, mesmo no atrasado Brasil, j no havia atmosfera
para ele. A voz do desespero, da ironia, do ceticismo daqueles poetas europeus substitua-se como um clarim de guerra
vibrante de cleras, mas rica de esperanas, ora flauta buclica, ora lira amorosa, tuba canora e belicosa ou doce avena da
paz, mas em suma otimista, a voz de Victor Hugo. Esta ouviram e seguiram mais ou menos de perto da gerao que entrou
a cantar por esta poca. Tambm os houve que escutaram de preferncia a melodia lamartiniana impregnada do idealismo
cristo. Mas no se sai imune de uma corrente literria para outra. Levam-se sempre ressaibos daquela. Estes poetas apresentam
um misto de romantismo e das tendncias estticas que em nascendo para a vida literria encontraram no seu ambiente. Tem
em dose quase igual o desalento sentimental, mesmo o ceticismo, apenas menos anunciado daquela gerao e os ideais
prticos, as emoes sociais, a preocupao humana, ainda poltica, com os instintos de propaganda da corrente hugoana. E
apenas alguma leve nota de indianismo ou brasileirismo nela transformada num mais ntimo que ostensivo sentimento
nacional. E como em Victor Hugo, alm da feio social e humanitria, o que mais os impressiona so os aspectos verbais
do seu estro, a sua altiloqncia poderosa, caem no arremedo, geralmente infeliz, desse feitio da sua potica. Da derivaria
a alcunha, que cumpre no tomar a srio, que de hugoanos tiveram alguns.
A facndia potica do grande vate francs, cujo prestgio se aumentava do seu papel poltico, achava no meio escolar
onde se ia fazer este novo movimento literrio, terreno propcio. s predisposies oratrias ou verbosas da raa, amiga da
frase empolada e do vocbulo pomposo, juntava-se aquela venturosa idade em que nem a reflexo nem o estudo apuraram
ainda o gosto e o discernimento. Em tal meio, as tiradas poticas de Tobias Barreto e Castro Alves, que hoje nos parecem
extravagantes despropsitos, eram achadas sublimes:
A lei sustenta o popular direito,
Ns sustentamos o direito em p!
Um pedao de gldio no infinito,
Um trapo de bandeira na amplido.
Ver o mistrio eriado,
Rodeando os mausolus,
Morrer... subindo agarrado
No escarpamento dos Cus.
Pernambuco anelante
Suspende na mo possante
O peso do Paraguai!
132
Quejandos versos, estrofes, que digo?, poemas inteiros neste estilo alvoroavam aquela mocidade, cujo indiscreto
entusiasmo no serviria seno para mais perverter o estro desses poetas e desvairar o gosto pblico.
Dos chamados condoreiros apenas dois, os j nomeados Tobias Barreto e Castro Alves, lograram distinguir-se por
outras partes que essa falaz poesia, entre os que, como eles, presumiam reproduzir aqui a Victor Hugo, quando no faziam
seno contrafazer-lhe os mais patentes defeitos.
Tobias Barreto de Menezes nasceu em Sergipe em 7 de junho de 1839, e a 20 do mesmo ms de junho de 1889 faleceu
no Recife, em cuja Faculdade de direito se formou e onde principalmente exerceu a sua atividade literria. No obstante o
dispersivo, o incoerente e at, de algum modo, o extravagante dessa atividade, que no lhe permitiu deixar em qualquer
direo em que se exerceu, mais que uma obra fragmentria e incongruente, certo ele uma das figuras singulares das nossas
letras. Tinha grande talento, memria acaso ainda mais grande, rara aptido para lnguas como para msica, e decidida
vocao para o estudo, ora servida, ora prejudicada, pelos seus estmulos desencontrados de mestio impulsivo e malcriado.
Orador nativo, amava a pompa dos grandes gestos e das grandes frases. Apenas a sua educao roceira e rudimentar atenuava
e amortecia esta sua predileo com a vulgaridade, que no raro chegava ao chulismo da expresso, em que o rstico
transparecia sob o letrado. Fazendo filosofia, crtica, sociologia e ainda poesia, freqentemente se lhe revela este vcio de
origem ou temperamento. justamente o contrrio do honnte homme consoante La Rochefoucauld. A sua fama, um pouco
factcia, a deveu mais s suas brigas e polmicas, por via de regra descompostas, ou ao prego temerrio de discpulos, que
propriamente sua obra, de fato muito pouco lida. Como filsofo que presumiu ser ou pretenderam faz-lo, como crtico,
como socilogo, foi sobretudo um negador dos valores existentes da nossa intelectualidade, um contemptor sistemtico da
cultura francesa e portuguesa e um pregoeiro e vulgarizador da cultura alem. Tinha ao menos a desculpa de que sabia
perfeitamente o alemo, e puerilmente se desvanecia de o haver aprendido consigo mesmo, o que no aconteceu talvez
a nenhum outro dos seus discpulos, presunosos germanistas. Como jurista, nada mais fez que recomendar, com o
descomedimento que um dos traos do seu temperamento literrio, as novas idias jurdicas alems, contrapondo-as
apaixonadamente s idias clssicas aqui vigentes.
Se o pensador e o jurista em Tobias Barreto iam cultura germnica, tratada embora por ele mais lrica que objetivamente,
o seu temperamento esttico, em msica e em poesia, rev demais o mestio luso-africano. Como poeta simultaneamente
um sentimental, um orador sem algo da profunda ingenuidade da poesia alem. Em msica, no obstante a sua, ao que
parece, grande cincia desta arte, confessa ele prprio que no compreendia seno a italiana. No incontestvel que fosse
o introdutor do hugosmo na nossa poesia. Tal invento, alis, no bastaria para afam-lo. De parte a sua inspirao poltica,
social, objetiva em suma, a poesia de Hugo influiu aqui, ainda nos seus melhores discpulos, muito mais pelos seus aspectos
extreriores e pelo defeito da sua feio oratria, que pelo profundo lirismo ntimo e alto sentimento potico que acaso a
sobreleva entre toda a poesia do sculo.
Muito menor foi o renome e a influncia de Tobias Barreto como poeta do que como pensador. Eclipsou-lhos Castro
Alves, seu feliz mulo no condoreirismo e seu triunfante rival em toda a poesia. O lirismo de Tobias Barreto, no que tem de
melhor, em suma da mesma espcie do comum lirismo brasileiro, amoroso ou antes namorado, sensual, dolente, abundante
em voluptuosidades ardentes e queixumes melanclicos. Se alguma cousa o distingue , de um lado, o tom oratrio, ainda
pico, em que oscila entre as extravagncia dos Voluntrios pernambucanos e quejandos poemas e os belos rasgos do Gnio
da humanidade; de outro, a nota popular simples, vulgar, mesmo trivial, que s vezes lhe d a cantiga um sainete particular
e, ocasionalmente, encantador. Mas dessa nota abusa, bem como barateia e vulgariza o estro em glosar notas, moda dos
poetas seiscentistas e arcdicos, e em celebrar com inaudita facilidade de admirao e trivialidade de emoo a quanto
cabotino ou cabotina acertava de passar pelo Recife. Quer como poeta, quer como prosador, uma das maiores falhas de
Tobias Barreto foi a de gosto. A atividade potica de Tobias Barreto exerceu-se alis, principalmente nos primeiros anos da
sua vida literria (1862-1871), quando ainda estudante, o que lhe explica e desculpa as deficincias e senes. Que, apesar do
seu incontestvel estro, no era propriamente uma vocao de poeta, prova-o o haver quase abandonado a poesia pela
filosofia, o direito, a crtica e outros estudos.
a Antnio de Castro Alves que por consenso geral pertence a primazia entre os poetas desta gerao. Nasceu ele na
Bahia a 14 de maro de 1847, e ali morreu em 6 de junho de 1871. Da sua terra natal, ainda no completos os estudos de
preparatrios, passou-se a Pernambuco para os acabar, e estudar Direito. Foi l que realmente estreou em 1862. Seis anos
depois deixou Pernambuco por S. Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, onde lhe serviram de introdutores Jos de Alencar e
Machado de Assis. Trazia na sua bagagem literria, com vrios poemas soltos avulsamente publicados, o drama Gonzaga ou
a Conjurao Mineira, j representado na Bahia. Em S. Paulo, ao contato de uma juventude entusiasta de poesia e eloqncia,
ao estmulo de festas repetidas que lhe depararam ensejo de dar provas de ambas, acabou de se lhe desabrochar o engenho
potico. No fim de 1869, dali recolheu enfermo terra natal, onde pouco depois faleceu, tendo antes dado a lume os seus
versos reunidos, sob o ttulo de Espumas flutuantes (1870). Poucos livros brasileiros, e menos de versos, tm sido to lidos.
Tem-se dito que os latinos no temos poesia, seno eloqncia. No discuto o asserto. Ns brasileiros, que apenas
seremos por um tero latinos, sei que somos nimiamente sensveis retrica potica. No nos impede isso alis de comovermo-
nos tambm, embora superficialmente talvez, ao sentimento da poesia quando ela canta as fceis paixes sensuais do nosso
ardor amoroso de mestios ou chora os nossos fceis desgostos de gente mole. So exemplos os casos de Gonalves Dias,
poeta do amor, e dos realmente deliciosos cantores da segunda gerao romntica, e de Fagundes Varela, ainda hoje os
poetas mais vivos na nossa memria e no nosso corao. A ingenuidade, porm, a virtude cardial dos maiores poetas anglo-
germnicos, essa sim, quase de todo estranha nossa poesia, que assim carece de um dos mais sedutores elementos da arte,
quando, aps os ltimos romnticos, os nossos poetas se fizeram refinados e se puseram a apurar com a forma o sentimento
moda dos parnasianos franceses, deixaram de fato de comover o pblico, ou s continuaram a impression-lo pelo aspecto
externo dos seus poemas perfeitos, pela sonoridade constante dos seus versos. Porque em suma o que preferimos a forma,
mormente a forma eloqente, oratria, a nfase, ainda o palavro, as imagens vistosas, aquelas sobre todas, que por seu
exagero, sua desconformidade, sua materialidade, mais impressionam o nosso esprito, de nenhum modo tico. este no
fundo o motivo do nosso antigo afeto ao pico e da nossa moderna predileo pelos poetas sobretudo eloqentes e brilhantes,
como os condoreiros, Pedro Lus, Jos Bonifcio e o Sr. Bilac. verdade que nenhum destes vale apenas por qualidades de
brilho e facndia potica. Essas tinha-as em alto grau, e da boa espcie, Castro Alves, mas tinha outras alm delas.
Passada a sentimentalidade sincera, mas pouco variada, e que sob o aspecto da expresso acabara por se tornar montona,
das geraes precedentes, a inspirao de Castro Alves apareceu como uma novidade. Era, pois, bem-vindo o jovem poeta
baiano, e no lhe custou a assumir no breve tempo que viveu e poetou o principado da poesia. possvel que Tobias Barreto
o precedesse de dois ou trs anos no arremedo de Hugo e na facndia potica alcunhada de condoreirismo. Esta precedncia
meramente cronolgica, no seguida de influncia aprecivel, por forma alguma prejudica o fato incontestvel da preeminncia
potica de Castro Alves neste momento. Alm de maior talento potico, de mais rica inspirao, de estro mais poderoso e da
expresso ao cabo mais formosa e mais tocante, concorreram para o sobrelevar ao poeta sergipano a sua sada de Pernambuco
e vinda ao Rio e S. Paulo, e que lhe dilatou a fama alm do estreito crculo pernambucano, no qual se confinou a de Tobias
Barreto, e, mais ainda, a publicao em 1870 dos seus versos, ao passo que os do seu rival s vieram luz onze anos depois.
E em tanto que as Espumas flutuantes, de Castro Alves, tm hoje oito ou dez edies, afora numerosas publicaes avulsas
de alguns dos seus poemas, os Dias e noites de Tobias Barreto no alcanaram mais de duas. Este fato marca suficientemente
o grau de estima em que os dois poetas so tidos.
Havia em Castro Alves, como em lvares de Azevedo, que ele grandemente admirava e imitou, o fogo sagrado, alguma
cousa que nossa observao superficial e pendor para o exagero de juzos, parecia gnio, um grande talento verbal, uma
sincera eloqncia comunicativa, um simptico entusiasmo juvenil. Tudo isto encobria as imperfeies evidentes da sua
obra, e disfarava-lhe as incorreies de pensamento e expresso. No se viu ento que farragem daquela verbosidade de
escola sobrelevava de muito a feio por onde se ele ligava ao nosso lirismo e o continuava dando-lhe e este o seu
mrito e importncia com um verbo mais vivo, mais brilhante, mais sonoro, uma vida nova, formas mais variadas, cores
mais rutilantes, sentimentos menos comuns, maior fundo de idias, maior riqueza de sensaes. No que naquele estilo
pomposo no tenha Castro Alves dous ou trs poemas verdadeiramente belos. H, por exemplo, em Vozes dfrica, e ainda
no Navio negreiro, mais que a nfase ou a retrica da escola, eloqncia dos melhores quilates, profundo sentimento potico,
emoo sincera e, sobretudo no primeiro, uma formosa idealizao artstica da situao do continente maldito e das
reivindicaes que o nosso ideal humano lhe atribui. E mais uma ento ainda no vulgar perfeio de forma. No a perfeio
mtrica simplesmente, porm, mrito mais alto e mais raro, a correlao da palavra com o pensamento, a sobriedade da
expresso que se no desvia e derrama do seu curso, e por vezes uma conciso forte que reala singularmente toda a
composio, alm de imagens novas, verdadeiras, belas de fato, e uma representao que em certas estrofes atinge do
perfeito seno ao sublime. So disso exemplo esses versos que tm o vigor de uma grande pintura:
L no solo onde o cardo apenas medra,
Boceja a esfinge colossal de pedra
Fitando o morno cu.
De Tebas nas colunas derrocadas
As cegonhas espiam debruadas,
O horizonte sem fim
Onde branqueja a caravana errante
E o camelo montono, arquejante,
Que desce de Efraim...
Com Castro Alves pode dizer-se que se alarga a nossa inspirao potica, objetiva-se o nosso estro e os poetas entram
a perceber que o mundo visvel existe. Poeta nacional, se no mais nacionalista, poeta social, humano e humanitrio, o seu
rico estro livrou-o de perder-se num objetivismo que, no temperado de lirismo, a mesma negao da poesia. As cousas
sociais e humanas as viu e entendeu e as cantou como poeta, s vezes com prevalncia da eloqncia sobre o sentimento,
mas sempre com sentida emoo de poeta. A sua influncia foi enorme, seno sempre estimvel. Atuou vantajosamente em
alguns dos seus melhores sucessores, o que desculpa a calamidade dos imitadores medocres.
Foi contemporneo destes poetas em Pernambuco, qui os emulou, Lus Nicolau Fagundes Varela, fluminense do Rio
Claro, onde nasceu em 17 de agosto de 1841. Na sua mesma provncia, em Niteri, faleceu em 18 de fevereiro de 1875.
Poetou entre os anos de 60 e 75. Cronolgica e literariamente sucede aos primeiros poetas da segunda gerao romntica,
que admirou e imitou. Alm da deles, sofreu visvel e confessadamente como alis aconteceu a todos os poetas posteriores
a Gonalves Dias, a influncia do poeta maranhense. Estes diversos influxos foram decisivos na formao do estro e estilo
potico de Varela. Foi menor o de Tobias Barreto e Castro Alves, no obstante ter Varela assistido em Pernambuco no tempo
em que os dous emulavam ali pela supremacia potica. Varela era de essncia um puro sentimental, e isso ficou apesar das
suas medocres tentativas de poesia patritica. Mas a sua originalidade, se a tinha, ressentiu-se demasiado de todas essas
influncias. Lido aps aqueles poetas, deixa-nos a impresso do j lido. No tom propriamente lrico dos seus poemas, nada
se depara de novo, nem no fundo nem na forma. E como ambos no tm nele quaisquer virtudes notveis ou sinais particulares
de distino, e haja em seus versos demasiadas reminiscncias daqueles poetas, e repeties de seus prprios pensamentos
e dizeres, impresso de falta de originalidade junta-se a da banalidade. que poeta espontneo, de uma inspirao quase
popular, tambm poeta muito descuidado do seu estro e da sua arte, todo entregue pura inspirao, que as reminiscncias
e o prestgio daqueles poetas queridos freqentemente comprometem. Havia, entretanto, nele um grande fundo de poesia,
isto , de sentimento potico. Se no tivera cedido com demasiada negligncia do seu prprio engenho s influncias que
banalizaram parte considervel da sua obra, outro poderia ter sido o valor desta. Juvenlia um dos mais admirveis trechos
do nosso lirismo, como o tambm o Cntico do calvrio, uma das mais eloqentes, quero dizer uma das mais comoventes,
uma das mais belas entre as elegias da nossa lngua. Mas enfim a sinceridade que parece haver no seu sentimento, a simplicidade
s vezes deliciosa do seu cantar, a melanclica voluptuosidade e o ntimo brasileirismo daquele sentimento, com a mesma
ingenuidade da sua potica seduzem-nos irresistivelmente e justificam a estima que, apesar das restries feitas, ele merece
e teve dos seus contemporneos. Dos poetas do seu tempo o que mais tem a inspirao nacionalista ento em declnio,
talvez o nico de inspirao americana, ainda indianista. Foi parte principal nesta a sua devoo por Gonalves Dias, a quem
evoca no Evangelho das selvas, como o mestre da harmonia. Este poema seria a derradeira manifestao do indianismo.
A de Machado de Assis tem feies prprias que a separam do indianismo tradicional. Com belssimos versos brancos, h
ainda neste poema de Varela formosos trechos, mas, em suma, revela o cansao da escola e o seu esgotamento, se no a
mesma insuficincia do poeta para o gnero. Os seus poemas patriticos, inspirados de um momento crtico da vida nacional,
e que dele e dos sentimentos que agitavam o pas tiravam interesse, foram por isso mesmo parte grande na fama que em vida
adquiriu Varela, acaso acima do seu valor real. Passado o motivo de sua inspirao, nos parecem agora apenas declamatrios,
no tendo guardado nada que esteticamente nos comova. O que h de bom, s vezes mesmo de excelente, em Varela, o seu
lirismo sentimental, as suas manifestaes de dor de pai ou de amante, os seus lamentos de poeta infeliz, ou que, por amor
do romantismo, se fez infeliz, quando, o que desgraadamente acontece com demasiada freqncia, no lhe desmerecem o
canto imitaes ou reminiscncias de outros poetas.
Machado de Assis e Lus Guimares Jnior, cronologicamente desta gerao, estrearam com ela. Machado de Assis,
porm, mesmo como poeta, tem um lugar parte e merece captulo especial da histria da nossa literatura. Lus Guimares
Jnior, a despeito da cronologia, pertence antes gerao parnasiana que a esta. Foi como parnasiano que ele teve na poesia
brasileira um lugar, se no distinto, notvel, que os seus Corimbos (Pernambuco, 1869), pelos quais pertence aos ltimos
romnticos, no bastariam para dar-lhe.
Captulo XV
O MODERNISMO
O MOVIMENTO DE IDIAS que antes de acabada a primeira metade do sculo XIX se comeara a operar na Europa com
o positivismo comtista, o transformismo darwinista, o evolucionismo spenceriano, o intelectualismo de Taine e Renan e
quejandas correntes de pensamento, que, influindo na literatura, deviam pr termo ao domnio exclusivo do Romantismo, s
se entrou a sentir no Brasil, pelo menos, vinte anos depois de verificada a sua influncia ali. Sucessos de ordem poltica e
social, e ainda de ordem geral, determinaram-lhe ou facilitaram-lhe a manifestao aqui. Foram, entre outros, ou os principais:
a guerra do Paraguai, acordando o sentimento nacional, meio adormecido desde o fim das agitaes revolucionrias
conseqentes Independncia, e das nossas lutas o Prata; a questo do elemento servil, comovendo toda a nao, e lhe
despertando os brios contra a aviltante instituio consuetudinria; a impropriamente chamada questo religiosa, resultante
de conflito entre as pretenses de autonomia do catolicismo oficial e as exigncias do tradicional regalismo do Estado, a
qual alvoroou o esprito liberal contra as veleidades do ultramontanismo e abriu a discusso da crena avoenga, provocando
emancipaes de conscincias e abalos da f costumeira; e, finalmente, a guerra franco-alem com as suas conseqncias,
despertando a nossa ateno para uma outra civilizao e cultura que a francesa, estimulando novas curiosidades intelectuais.
Certos efeitos inesperados da guerra do Paraguai, como o surdo conflito que, apenas acabada, surgiu entre a tropa demasiado
presumida do seu papel e importncia e os profundos instintos civilistas da monarquia, no foram sem efeito neste momento
da mentalidade nacional. Tambm a Revoluo Espanhola de 1868 e conseqente advento da Repblica em Espanha, a
queda do segundo imprio napolenico e imediata proclamao da repblica em Frana, em 1870, fizeram ressurgir aqui
com maior vigor do que nunca a idia republicana, que desde justamente este ano de 70 se consubstanciara num partido com
rgo na imprensa da capital do imprio. Esta propaganda republicana teve um pronunciado carter intelectual e interessou
grandemente os intelectuais, pode dizer-se que toda a sua parte moa, ao menos. Outro carter da agitao republicana foi o
seu livre-pensamento, se no o seu anticatolicismo, por oposio monarquia, oficialmente catlica.
Atuando simultaneamente sobre o nosso entendimento e a nossa conscincia, pela comoo causada nos espritos aptos
para lhes sofrer o abalo, estes diferentes sucessos produziram um salutar alvoroo, do qual evidentemente se ressentiu o
nosso pensamento e a nossa expresso literria. s idias, nem sempre coerentes, s vezes mesmo desencontradas daquele
movimento, fautoras tambm nos acontecimentos sociais e polticos apontados, chamamos aqui de modernas; expressamente
de pensamento moderno. A novidade que tinham, ou que lhe enxergvamos, foi principalssima parte no alvoroo com que
as abravamos. Na ordem mental e, particularmente literria, os seus efeitos se fizeram sentir numa maior liberdade espiritual
e num mais vivo esprito crtico.
Foi um dos seus principais agentes, mormente no norte do pas, onde ento a vida intelectual, com o seu centro em
Pernambuco, tinha certa atividade, Tobias Barreto, j atrs estudado como poeta. Eis como o porventura mais inteligente
dos seus alunos, o Sr. Graa Aranha, no estilo com que a nossa gente se escusa a clarificar as prprias idias e se embriaga
de palavras, lhe diz o feito insigne: Em 1882, Tobias Barreto, que os seus condiscpulos no compreenderam e de cuja
intensa reputao ainda se espantam e sorriem, abalava como um ciclone a sonolenta Academia do Recife. Ele invade a
sociedade espiritual do seu tempo como um verdadeiro homem da sua raa. E o segredo da sua fora est na absoluta e
constante fidelidade a esse temperamento, em cuja formidvel composio entram doses gigantescas de calor, de luz e de
todas aquelas ondas de vida, que o sol transfunde regiamente ao sangue mestio... Tinha a exuberncia, a seiva, a negligncia
que o fazia estranho a todo o clculo, mesmo o da sua reputao de alm-tmulo, o prodigioso dom de fantasiar, o fabuliren
dos criadores, e mais a impacincia e a temvel exploso da revolta que permanecer como o trao vivaz do seu carter. No
houve vaso que o amoldasse; no conheceu seno os limites inabordveis da liberdade e os de extrema irresponsabilidade.
Pde como um sertanejo viver com o povo, foi descuidado, miservel e infeliz. Cresceu msico e poeta. E mais tarde,
quando lhe chegar a cultura, ela vir na barca fantstica da poesia. E foi pelo impulso dessa voltil essncia do seu
temperamento, que Tobias Barreto passou da arte para a filosofia. O pensador nele uma modelao do vate. Transportar
para a metafsica, para as cincias biolgicas, para o direito, a magia da adivinhao, o improviso milagroso, a necessidade
de idealizar e de imaginar, que a poesia. Quase toda a sua cincia, quando no vem da legislao ou da lngua, feita
principalmente da intuio, e os seus vastos descortinamentos, os clares que abre, a vida que d s idias apenas entrevistas
no prisma da sua viso, mais a criao do poeta que a lgica do sbio. E nisto foi um homem do seu tempo e da nossa raa.
preciso que o sangue corra longamente, durante sculos, numa infinita descendncia, para que o precipitado das foras
originais do nosso esprito seja a idealizao cientfica. O mximo, o que por enquanto podemos atingir, foi o que nos deu
Tobias Barreto, a filosofia atravs das cores solares da poesia.
133
Esta pgina, alis bela, por mais de um ttulo preciosa. Primeira como documento do nosso gosto do verbo pelo verbo,
quanto mais pomposo e rutilante mais amado, imensa reputao, abalava como um ciclone, formidvel composio de
um temperamento, doses gigantescas, prodigioso dom de fantasiar, a magia da adivinhao, o improviso milagroso,
os vastos descortinamentos, e tudo mais assim magnificado e exorbitante.
Nunca os mximos pensadores dos grandes pases de alta cultura, um Kant, um Spencer, um Comte lograram ser assim
to grandiloquamente celebrados pelos seus compatriotas.
Mas sobretudo precioso este discurso, porque o prprio vago e ambguo desta representao de Tobias Barreto e sua
obra rev o incerto e equvoco dessa figura e dessa obra, ainda hoje ambas mal definidas, graas principalmente aos seus
indiscretos panegiristas. J vimos em que verdadeiramente lhe consistiu a ao, que, ainda reduzida a essas propores, foi
todavia considervel, como estmulo e impulso. As nossas academias ou faculdades superiores foram desde o meio do
sculo passado os principais focos da nossa atividade literria. Dessa origem lhe vir a fraqueza dos resultados, a sua
imperfeio e inconsistncia. A nossa literatura desde o Romantismo foi principalmente feita por estudantes ou moos
apenas sados das faculdades, com pouca lio dos livros e nenhuma da vida. Nelas se geraram quase todos os nossos
movimentos, e todas as novidades de ordem mental, como era natural, acharam nelas terreno adequado, tanto para o joio
como para o trigo. Foi sobretudo mediante os seus alunos do Recife, literariamente deslumbrados pela facndia do professor,
deslumbramento aumentado da simpatia que lhes inspiravam os seus hbitos bomios e alguns dos seus mesmos defeitos,
tudo levado conta de poesia ou filosofia, que Tobias Barreto influiu na mente brasileira. Sem outra originalidade, talvez,
que a do seu verbo, como ele desordenado e exuberante, sem nenhum saber cientfico realmente slido, agitou, entretanto,
uma poro de idias novas, pregou ou doutrinou concepes desconhecidas da maioria, citou, com enfticos encmios,
nomes alemes e russos de quase todos ignorados, e cujo valor rarssimos podiam verificar, e firme e desassombradamente
proclamou a necessidade de refazermos completamente a nossa cultura em outras fontes que aquelas onde at a principalmente
bebiam as portuguesas e francesas. A estas no conseguiu alis que de todo as deixssemos, pois nela que principalmente
bebemos ainda. No foi, porm, inteiramente perdido o seu reclamo. Concorreu muito para entrar conosco a dvida salutar
de que as nascentes tradicionais da nossa cultura no seriam as nicas benficas, e a curiosidade do nosso esprito se alargou
consoantemente. Basta isso para lhe assegurar um posto proeminente na nossa evoluo literria, ou antes cultural, sem
necessidade de lhe exagerarmos o valor da obra.
Esta a fragmentria e dispersiva, e no guarda outra unidade que a da inspirao acaso mais lrica que filosfica do seu
gnio e da sua f, na superioridade da cultura alem e na legitimidade da sua hegemonia. Em estilo descomposto como lhe
era a vida, numa forma muito pessoal, e por isso mesmo viva e interessante, com propositada ou congenial carncia daquela
urbanidade de que os latinos faziam uma virtude literria, escreveu dezenas de opsculos, artigos e ensaios. Teoria literria,
crtica, filosofia, sociologia, religio, direito, psicologia, literatura comparada, filosofia cientfica, biologia, histria, em
suma de omni re scibili, tudo versou neles. Esta afetao de saber universal, sempre suspeito num puro autodidata, realado
em verdade por um grande e sincero calor de exposio, em que superabundavam provas de talento, abalou a mocidade da
escola onde professava e por ela boa parte da mentalidade moa do pas. Livro, no publicou em vida mais que os Estudos
alemes, coleo de artigos diversos, e Menores e loucos, monografia de direito criminal. A maior parte da sua obra saiu
pstuma. A sua ao foi sobretudo oral, a do seu ensino, dos seus discursos, das suas palestras, e reflexa, operada por
intermdio dos seus discpulos. E de fato se no exerceu e tornou sensvel com prioridade que lhe assegure a primazia de
precursor do movimento modernista aqui. Sem falar dos seus anos de estudante no Recife (1862-1871), em que cultivou
preponderamente a poesia,
134
a sua ao til s verdadeiramente comeou com o seu professorado ali em 1882. Os dez
anos anteriores (1871-1881) passara-os ele na pequena cidade pernambucana da Escada, obscuro e desconhecido. Nesse
lugarejo, que no era nenhuma Weimar, publicou opsculos em portugus e alemo. Destes ltimos seria ele prprio um dos
rarssimos leitores, porque, segundo nos exprobrava como de uma infmia, no havia ento aqui mais que umas escassas
dezenas de pessoas que lessem essa lngua. Esta excntrica atividade literria da Escada no teve nenhuma publicidade e
menos repercusso. S foi lembrada quanto Tobias Barreto se tinha feito conhecido como professor no Recife e comeava
a criar proslitos. Ningum que de todo no ignore as condies da nossa vida intelectual, admitir a influncia de um
escritor, por mais genial que o suponhamos, cuja atividade se exera espordica e fragmentariamente em magros folhetos e
efmeros peridicos, numa cidade sertaneja. Somente em 1882 comeou, pois, a ao de Tobias Barreto a se fazer sentir, e
de primeiro exclusivamente no Recife.
Antes disso, porm, desde os primeiros anos do decnio de 70, e sob as influncias notadas, manifestava-se no Rio de
Janeiro o movimento modernista. Foi nos prprios livros franceses de Litr, de Quinet, de Taine ou de Renan, influenciados
pelo pensamento alemo e tambm pelo ingls, que comeamos desde aquele momento a intruir-nos das novas idias.
Influindo tambm em Portugal, criara ali a cultura alem uma pliade de escritores pelo menos ruidosos, como Tefilo
Braga, Adolfo Coelho, Joaquim de Vasconcelos, Antero de Quental, Luciano Cordeiro, amotinados contra a situao mental
do Reino. Alm destes, Ea de Queirs e Ramalho Ortigo vulgarizavam nas Farpas, com mais petulncia e esprito do que
saber, as novas idias. Todos estes, aqui muito mais lidos do que nunca o foi Tobias Barreto, atuaram poderosamente a nossa
mentalidade. E o movimento coimbro, como se chamou briga literria do Bom senso e bom gosto, pelos anos de 65,
teve certamente muito maior repercusso na mentalidade literria brasileira do tempo, do que a pseudo-escola do Recife.
Muito mais daquele movimento do que da influncia de Tobias Barreto, derivou a Literatura brasileira e a Crtica moderna
(1880) do Sr. Slvio Romero, e bem assim os seus principais estudos da histria da literatura brasileira. O positivismo
comtista inaugurava aqui e em S. Paulo a sua propaganda, primeiro somente do aspecto cientfico da doutrina. Essa pregao
convencida, tenaz, teve desde logo a seu lado, a prestigi-la, alguns bons sabedores das cincias positivas, particularmente
das matemticas. E em 1875, estranho a qualquer influncia do excntrico filsofo da Escada, um velho diplomata, Arajo
Ribeiro (visconde do Rio Grande), publicava no Rio de Janeiro o seu volumoso livro O fim da criao, o primeiro de
doutrina darwinista, se no materialista, escrito no Brasil.
Na mesma dcada entrou a instruo pblica a ocupar mais seriamente a ateno dos governos e do pblico. A Tipografia
Nacional tirava em volume as tradues dos livros de Hippeau sobre o ensino pblico nos Estados Unidos, na Inglaterra e na
Prssia. Reformava-se, procurando-se desenvolv-lo, o Colgio de D. Pedro II, nico foco de estudos clssicos que possuamos,
hoje quase extinto. Criavam-se conferncias e cursos pblicos, onde se comearam a agitar as novas idias filosficas,
cientficas e literrias. Remodelava-se o antigo curso da Escola Central, organizando-se a Escola Politcnica, acrescentando-
se-lhe aos cursos profissionais as duas importantes sees de cincias fsicas e naturais e cincias fsicas e matemticas. Para
reger as novas cadeiras vieram da Europa professores especiais, como o fsico Guignet, o fisiologista Couty, o mineralogista
e gelogo Gorceix, logo depois incumbido da fundao e direo da Escola de Minas de Ouro Preto, nesse tempo criada.
Tambm o ensino mdico foi reformado, acrescido de matrias e cadeiras novas. A reforma que igualmente sofreram o
Museu e a Biblioteca Nacional determinou maior atividade e mais til efeito destas velhas e paradas instituies. O Museu
comeou a publicar os seus interessantes Arquivos em cujos trs primeiros volumes (1876-1878) se encontram trabalhos
originais de antropologia, fisiologia, arqueologia e etnografia e histria natural de sabedores brasileiros, Lacerda, Rodrigues
Peixoto, Ladislau Neto, Ferreira Pena, e estrangeiros ao servio do Brasil, Hartt, Orville Derby, Fritz Mller e outros.
Simultaneamente com os Arquivos do Museu vm a lume os Anais da Biblioteca Nacional, ricos de informaes bibliogrficas,
de eruditas memrias e monografias interessantes para a nossa histria literria e geral. Nos ensaios de cincia (1873),
Batista Caetano de Almeida Nogueira funda o estudo das lnguas indgenas brasileiras segundo os novos mtodos da cincia
da linguagem, recriada pelos alemes, tirando-o do fantasioso empirismo em que at ento andou. Os estudos da histria do
Brasil no sculo XVI (1880), no obstante o seu exguo tomo, revelavam no Sr. Capistrano de Abreu raras capacidades,
posteriormente confirmadas por outros trabalhos, para essa ordem de estudos, aqui tambm depois da morte de Varnhagen
quase que entregues pura improvisao. Pelo fim do mesmo decnio, Araripe Jnior, um dos melhores espritos deste
momento, comeara a publicar o seu perfil literrio de Jos de Alencar, uma das obras capitais da crtica brasileira, e no
prefcio da primeira edio, em 1882, declarava que a reconstituio das suas idias datava de 1873. No Cear, donde era
e onde residia Araripe Jnior, formara-se por aquele tempo um grupo literrio composto dele, de Capistrano de Abreu, do
malogrado Rocha Lima, de Domingos Olmpio, de Toms Pompeu e doutros nomes menos conhecidos, grupo ledor de
Spencer, Buckle, Taine e Comte e entusiasta das suas novas idias. Esse grupo ficou estranho influncia da Escada e
precedeu de dez anos a do Recife. O Jos de Alencar, de Araripe Jnior, inspirava-o manifestamente o critrio crtico de
Taine, como o descobrimento do Brasil e seu desenvolvimento no sculo XVI (1883), de Capistrano de Abreu, o evolucionismo
spenceriano. Em 1874, um mdico de S. Paulo, o Dr. Lus Pereira Barreto, publicava, sob o ttulo de Trs filosofias, a
exposio e discusso, que ficou alis incompleta, dos trs estados do esprito humano, conforme a doutrina de Augusto
Comte. E as questes histricas, filosficas, jurdicas, polticas e ainda culturais que se prendem ao grave tema do poder e
autoridade do papa e das suas relaes com o sculo eram, em 1877, larga e eruditamente discutidas pelo Sr. Rui Barbosa
numa copiosssima introduo sua verso para o portugus da obra alem do Cnego Doellinger, O Papa e o Conclio.
Nessa prefao, o Sr. Rui Barbosa revelava, acaso excessivamente, a vastido da sua literatura no s francesa ou alem,
mas universal.
Destes fatos no lcito seno concluir que a ao de Tobias Barreto, conquanto considervel, no foi tal qual se tem
presumido, e que efetivamente s entrou a exercer-se pelo ano de 1882. Ento j no Cear e em S. Paulo pelo menos, e no
Rio de Janeiro, desde o princpio do sculo passado o nosso mais considervel centro intelectual, manifestamente se desenhava
o movimento a que tenho chamado de modernismo. Principalmente reflexa, a ao de Tobias Barreto nesse movimento
operou-se mediante os seus discpulos imediatos, dos quais um ao menos, o Sr. Slvio Romero (S. Paulo de quem Tobias
o Cristo), teve considervel influncia na juventude literria dos ltimos vinte anos do sculo passado. No empenho, alis
simptico na sua inspirao, de o exaltarem, inventaram uma escola do Recife, da qual o fizeram instituidor. No viram,
como atiladamente nota o mesmo Sr. Graa Aranha, que a fora singular desse homem estava na genialidade potica por
onde lhe veio a intuio cientfica e filosfica e que essa genialidade, essa imaginao faltaria aos seus discpulos porque
ela era uma expresso puramente individual e que se no repete... Extrairiam dos livros e das frases do mestre apenas as
frmulas audazes, confundiriam a stira com a seriedade do pensamento, tomariam os vagos delineamentos por concluses
definitivas e espalhariam numa lngua brbara a dogmtica doutrina para as quais no teriam nem a cincia, nem adivinhao
proftica.
135
A escola do Recife no tem de fato existncia real. O que assim abusivamente chamaram apenas um grupo
constitudo pelos discpulos diretos de Tobias Barreto, professor diserto e, sobretudo, ultrabenvolo, eloqente orador
literrio e poeta facundo, mais do que Tobias pensador e escritor. Cumpre, alis, repetir que esse grupo, salvo imigraes
individuais posteriores, restringiu-se ao Norte, donde era a mxima parte de seus alunos, e mais exatamente a Pernambuco.
Mas ainda reduzida a estas propores, que me parecem as verdadeiras, a figura de Tobias Barreto e o seu papel na
nossa literatura, ou mais exatamente na nossa mentalidade, relevante. Ele atuou duplamente, primeiro, e acaso principalmente,
como demolidor dos nossos valores mentais que pela sua prpria imobilidade se tornavam um impedimento ao nosso
progresso espiritual, depois como uma fora de estmulo e reforma para essa mentalidade. Apontou, se no abriu, caminhos
novos e novas direes nossa inteligncia, criou discpulos em que se lhe frutificaram os ensinamentos e cuja ao foi
considervel, suscitou discusses e polmicas com que agitou o nosso meio intelectual, em suma, deu um forte e til abalo
ao nosso pensamento, como quer que seja no momento inerte. No foi, porm, nem um sbio, nem um pensador original ou
profundo. O seu darwinismo no podia ser seno de mera predileo sentimental. Carecendo da instruo cientfica, e
especialmente biolgica, para apreciar idoneamente as doutrinas de Darwin e seus discpulos ou mulos, no podia, sem
impertinncia, pronunciar-se sobre elas e menos profess-las. Alis quase todos os nossos pseudo-filsofos evolucionistas,
transformistas ou darwinistas o foram, como ele, de palpite. Um princpio, um conceito, uma idia sua, no se lhe conhece
naqueles domnios. No fez de fato seno expor, ao que parece com grande eloqncia professoral, em todo caso, mesmo
escrevendo, com grande calor comunicativo, a arrogncia prpria para impor, o que em filosofia, em crtica, em literatura,
em direito, faziam os alemes, por cuja cultura se enrabichou com exclusivismo pouco abonatrio do seu esprito crtico.
Como a sua pregao, endereava-se a um pblico para quem a Alemanha, sob o aspecto da cultura, era terra incgnita, e
mais um pblico principalmente constitudo de rapazes to ignorantes como facilmente impressionveis, nada mais fcil do
que alcanar foros de orculo.
O modernismo de que, em todo caso, foi ele aqui um dos principais fautores, produto de foras heterogneas, teve
tambm desencontrados efeitos na ordem literria: na fico em prosa, deu o naturalismo, ou melhor favoreceu o advento do
naturalismo francs; na poesia simultaneamente o parnasianismo e a extravagncia da chamada poesia cientfica. Em outras
ordens de atividade, na filosofia, na crtica, em sociologia, em histria, influiu com outros mtodos e porventura mais
esclarecido entendimento. Mas tambm, e em maior nmero talvez, produziu repeties, descorados ou desajeitados arremedos
do que nesses ramos de conhecimento se fazia l fora. Desvairando, porm, a nossa fraca cincia deu lugar ao que Herculano
chamou com propriedade de gongorismo cientfico. Acaso o seu mais til e notvel efeito foi, apesar destas mculas, o
desenvolvimento do esprito crtico. Efetivamente nesta fase da nossa literatura, mais que em qualquer das que a precederam,
se nos depara esse esprito e s vezes da boa qualidade. Fora, porm, da poesia e do romance, ou da oratria parlamentar,
justamente em plena e brilhante florescncia nos ltimos anos do Imprio, no produziu um conjunto de obras que se
possam agrupar sob uma qualificao particular ou a que una qualquer pensamento ou idia geral comum. A mais considervel
sada desse movimento, menos alis por virtudes intrnsecas, que pelos seus efeitos, e essa produto direto do estilo criado em
Pernambuco por Tobias Barreto, mas concebida e realizada no Rio de Janeiro, talvez a j citada Histria da literatura
brasileira do Sr. Slvio Romero (1888).
O romance romanesco e nimiamente sentimental de Alencar, Macedo ou Bernardo Guimares, quando j o naturalismo
francs no era uma novidade, acabara por, ainda em antes deste movimento, ceder o passo ao de Taunay, Machado de Assis
e Franklin Tvora, nicos dos romancistas sucessores daqueles que fizeram uma obra equivalente sua. Esta, porm, salvo
no segundo, era ainda, como a dos romnticos, intencionalmente nacionalista, e em Franklin Tvora at propositadamente
regionalista. Somente continuando com o nacionalismo literrio, estes e outros que os acompanharam, o fizeram com atenuao
da frmula romntica dominante. Eles pertencem antes ltima fase do Romantismo. Os verdadeiros naturalistas segundo
as receitas francesas j aviadas em Portugal por Ea de Queirs e seus discpulos vieram depois, quando esses ltimos
romnticos iam em meio da sua literria, e at quando o naturalismo entrava j a declinar em Frana.
Captulo XVI
O NATURALISMO E O PARNASIANISMO
RARISSIMAMENTE, SE ALGUMA VEZ acontece, exprimem fielmente as etiquetas literrias o fenmeno que presumem
definir, ou lhe compendiam exatamente o carter. No escapou o naturalismo a esta regra. Nenhuma das suas vrias definies
satisfaz plenamente. Para a mesma fico em prosa, a que primeiro e particularmente foi esse nome dado, no se lhe acha
explicao cabal. No entanto, os autores o aplicam crtica, oratria, filosofia, histria e at poesia. Historiadores da
literatura francesa, por exemplo, sob este vocbulo designam o perodo literrio de 1850 a 1890.
136
, que, como o Romantismo, o naturalismo foi sobretudo uma tendncia geral. Como aquele fora uma reao contra o
classicismo, foi o Naturalismo um levante contra o Romantismo. Caracteriza-o e distingue-o a sua inspirao diversa do
Romantismo, mormente a sua inspirao muito menos espiritualista que a deste, e conseqentemente a sua vontade de
proceder diferentemente dele. Revela-se este seu ntimo sentimento e propsito no sacrifcio ou diminuio da personalidade
do autor, exuberante no Romantismo; numa observao mais rigorosa e at presumidamente inspirada em mtodos cientficos;
numa representao mais fiel do observado, reduzindo ao mnimo a idealizao romanesca; no menosprezo dos constantes
apelos sensibilidade do leitor, pelo abuso do pattico; na invaso, no s do romance, mas de todos os gneros literrios,
pelo esprito crtico, que era principalmente o do tempo. Tudo isto revia o momento, da prevalncia das cincias exatas e de
uma filosofia inspirada de seus mtodos e baseada nos seus resultados sobre a metafsica ecltica do princpio do sculo.
O nosso naturalismo, que foi uma das resultantes do modernismo, nada inovou ou sequer modificou no naturalismo
francs seu prottipo. Ao naturalismo ingls, anterior a este, e ao mesmo tempo to sbrio e distinto, ficou de todo alheio.
Apenas se lhe vislumbra o contgio na fico de Machado de Assis. Mas estreitamente ainda que o nosso Romantismo
seguira o francs, arremedou o naturalismo indgena o naturalismo da mesma procedncia modelando-se quase exclusivamente
por mile Zola e o seu discpulo portugus Ea de Queirs. De novelas, contos, curtas e ligeiras fices e ainda romances,
segundo a frmula pessoal destes dois escritores, houve aqui fartura deste 1883 at o rpido esgotamento dessa frmula
pelos anos de 90, quando ela se no procrastinou em exemplares inferiores que importunamente ainda a empregavam. Obras
realmente notveis e vivedouras, ou sequer estimveis, bem poucas produziu, e nomes que meream historiados so, acaso,
apenas trs: Alusio de Azevedo, Jlio Ribeiro e Raul Pompia.
Alm de haver formulado estes fiis discpulos, e muitos outros somenos, atuou o naturalismo aqui, como fica atrs
verificado, modificando e atenuando em romancistas como Franklin Tvora e Taunay e nas nossas letras em geral, as feies
e os excessos do Romantismo. Resultou em viso mais clara das cousas, observao mais sincera e expresso em suma
melhor.
Alusio de Azevedo nasceu no Maranho em 14 de abril de 1857 e veio a morrer como cnsul do Brasil em Buenos
Aires em 31 de janeiro de 1913. Como tantos dos nossos escritores, com insuficientes letras lanou-se no jornalismo, que,
as dispensando, uma boa escola de escrita corrente e fcil. O seu primeiro livro foi um romance, na pior maneira romntica,
Uma lgrima de mulher (Maranho, 1880). Logo depois enveredou pelo caminho que lhe antolhava o naturalismo,
conservando, contudo, ressaibos daquela moda. Quando apareceu o seu segundo livro, outro romance, O mulato (Maranho,
1881), onde, ao jeito da nossa esttica, era estudado o caso do preconceito de cor na provncia natal do autor, protraa-se
ainda o Romantismo nos romances sempre lidos de Alencar e Macedo e de Bernardo Guimares, ainda vivo. Como tipos de
transio entre as duas correntes literrias, romntica e naturalista, haviam aparecido desde 1870 Taunay e Franklin Tvora,
para no citar seno os que fizeram obra mais considervel. Estreando-se no romance em 1872, com a Ressurreio, eximira-
se Machado de Assis quase completamente do Romantismo, sem cair, porm, no que ao seu claro engenho lhe parecia o
engano do naturalismo. Ele de fato nunca pertenceu a escola alguma, e atravs de todas manteve isenta a sua singular
personalidade literria.
No obstante a sua procedncia provinciana, teve O mulato o mais simptico acolhimento do Rio de Janeiro e do pas
em geral. A novidade um pouco escandalosa que trazia, ajudada demais do cansao, de frmula romntica, foi grata ao nosso
paladar enfastiado do romanesco dos nossos novelistas, e pouco apurado para saborear as finas iguarias do Brs Cubas, de
Machado de Assis, publicado em 1881. A gente habituada ao despejado naturalismo, mesmo cru realismo das discusses
polticas e brigas jornalsticas, aqui sempre descompostas ambas, e mais proverbial licena da nossa conversao, a
maneira zolista devia forosamente de agradar.
Passando-se da terra natal para o Rio de Janeiro, continuou Alusio de Azevedo a obra encetada com O mulato, e
continuou aperfeioando-se, o que de comum no tem sucedido nas nossas letras, onde, como j fica notado, no so poucos
os autores cujos melhores livros so justamente os primeiros. Alusio de Azevedo no s reformou O mulato, melhorando-
lhe em nova edio a composio e o estilo, mas, no obstante a bomia que por um resto anacrnico do Romantismo ainda
praticou, ps srio empenho de aperfeioamento na obra subseqente. Os romances A casa de penso (1884), O homem
(1887), O cortio (1890), confirmaram o talento afirmado no Mulato e asseguraram-lhe na nossa literatura o ttulo de
iniciador do naturalismo e do seu mais notvel escritor.
O principal demrito do naturalismo da receita zolista, j, sem nenhum ingrediente novo, aviada em Portugal por Ea de
Queirs e agora no Brasil por Alusio de Azevedo, era vulgarizao da arte que em si mesmo trazia. Os seus assuntos
prediletos, o seu objeto, os seus temas, os seus processos, a sua esttica, tudo nele estava ao alcance de toda a gente, que se
deliciava com se dar ares de entender literatura discutindo de livros que traziam todas as vulgaridades da vida ordinria e se
lhe compraziam na descrio minudenciosa. Foi tambm o que fez efmero o naturalismo, j moribundo em Frana quando
aqui nascia.
No seria, porm, justo contestar-lhe o bom servio prestado, tanto aqui como l, s letras. Ele trouxe nossa fico
mais justo sentimento da realidade, arte mais perfeita da sua figurao, maior interesse humano, inteligncia mais clara dos
fenmenos sociais e da alma individual, expresso mais apurada, em suma uma representao menos defeituosa da nossa
vida, que pretendia definir. Dos que aqui por vocao ou mero instinto de imitao, demasiado comum nas nossas letras,
seguiram o naturalismo e se nele ensaiaram, o que mais cabalmente realizou este efeito da nossa doutrina literria foi Alusio
de Azevedo, com uma obra de mrito e influncia considerveis, qual a daqueles seus quatro romances, aos quais podemos
juntar o ltimo que escreveu, o livro de uma sogra. Este alis no mais plenamente naturalista, e a sua execuo lhe saiu
inferior dos primeiros. O resto de sua obra, de pura inspirao industrial, de valor somenos.
Foi tambm naturalista de escola, mais talvez por amor da sua novidade e voga que por sincera simpatia com ela, Jlio
Ribeiro, no seu nico romance dessa frmula, A carne (S. Paulo, 1888).
Jlio Csar Ribeiro, filho de norte-americano com brasileira, nasceu em Minas Gerais aos 16 de abril de 1845 e faleceu
em S. Paulo, onde exerceu a sua atividade literria, em 1 de novembro de 1890. Como aqui muito comum, era autodidata,
votado por natural inclinao aos estudos lingsticos. De atividade dispersiva e ndole mbil, acaso trfega, foi
cumulativamente professor de lnguas, jornalista, polemista, pondo nestes dois ofcios grande ardor e at veemncia. Alm
dos antigos , necessrios sua educao filolgica, estudou ou simplesmente leu desordenadamente os modernos, sobre
todos os modernssimos, sem talvez os meditar bastante. De seu natural ardoroso, alvoroou-se com as mais frescas novidades
intelectuais. O melhor fundamento da sua reputao a sua gramtica portuguesa (S. Paulo, 1881), um dos mais notveis
produtos da nossa copiosa literatura do gnero. Com suficiente saber e inteligncia do assunto, h talvez nessa obra demasiado
e qui indiscreto entusiasmo pelas ltimas novidades glotolgicas e pelos seus inventores. Da mesma especialidade publicou
tambm Jlio Ribeiro outros estudos. A sua obra propriamente literria cifra-se, porm, naquele romance e no que o precedeu
Padre Belchior de Pontes (Campinas, S. Paulo, 1876-1877, nova edio, Lisboa, 1904). Chamou-lhe ele de romance
histrico original, mas a despeito do aparato de erudio de que o cercou, e de serem histricos fatos, episdios e algumas
principais personagens bem como o protagonista, ainda o menos que os de Alencar ou Macedo. Nada no livro nos d a
iluso da poca e do meio romanceados, antes pelo contrrio. Padre Belchior de Pontes, no obstante a afetao de cincia,
afetao que na Carne sedes desmandaria at ao ridculo, no obstante maior objetividade de inspirao e da representao
romanesca, era ainda uma pura novela romntica, canhestramente composta.
137
No tem sequer este romance as excelncias
de expresso que imaginaria encontrar num gramtico profissional quem no soubesse que por via de regra so os gramticos
mofinos escritores.
O modernismo teve em Jlio Ribeiro, como fica insinuado, um dos seus fervorosos adeptos. Seguindo, menos acaso e
inspirao que por enlevo da novidade, ento muito festejada, a corrente do romance naturalista, escreveu A carne nos mais
apertados moldes do zolismo, e cujo ttulo s por si indica a feio voluntria e escandalosamente obscena do romance.
Salva-o, entretanto, de completo malogro o vigor de certas descries. Mas A carne vinha ao cabo confirmar a incapacidade
do distinto gramtico para obras de imaginao j provada em Padre Belchior de Pontes. , como dela escrevi em 1889,
ainda vivo o autor, o parto monstruoso de um crebro artisticamente enfermo.
138
Mas ainda assim no nosso mofino naturalismo
sectrio, um livro que merece lembrado e que, com todos os seus defeitos, seguramente revela talento.
do mesmo ano da Carne, O ateneu de Raul Pompia. Nascido em 12 de abril de 1863 e falecido a 25 de dezembro de
1895. Raul dvila Pompia escreveu este romance ainda em comeo da juventude. Inexperiente na vida, com aquela
vigorosa ignorncia que faz a fora da mocidade, de que fala Brunetire, mais com a impresso forte, como seriam todas
em a sua natureza excitvel e vibrtil, das novas idias e pressentimentos que alvoroavam a mocidade do tempo, Raul
Pompia deu no Ateneu a amostra mais distinta, se no a mais perfeita, do naturalismo no Brasil. Ao contrrio dos seus dous
principais mulos nessa moda literria, Alusio de Azevedo e Jlio Ribeiro, que, achegando-se demasiado ao seu figurino
francs, sacrificaram-lhe a originalidade que acaso tinham, Raul Pompia, com dotes de pensador e de artista superiores aos
dous, no perdeu a sua. O seu romance mais original e o mais distinto produto da escola aqui, sem ser to bem composto
como os melhores de Alusio de Azevedo. Pelo Desenvolvimento, volume e ainda qualidade de sua obra, este ficaria,
entretanto, e como tal considerado, o principal representante indgena da escola. No que decididamente os sobreleva a
todos Raul Pompia , no s na maior originalidade nativa e na distino, sob o aspecto artstico, do seu nico romance,
mas ainda no talento superior revelado na abundncia, roando acaso pela demasia de idias e sensaes no raro esquisitas
e sempre curiosas, que do ao seu livro singular sainete e pico. Nesse livro, porm, que tantas promessas trazia e tantas
esperanas despertou, parece se esgotou todo o engenho do malogrado escritor e esprito brilhantssimo.
No houve no Brasil, como no houve em parte alguma, poesia a que se possa chamar de naturalista no mesmo sentido
em que se fala de romance, e ainda de teatro, naturalista. que no existe poesia sem certa dose de idealismo, incompatvel
com tal naturalismo. Enganavam-se redondamente, como ao tempo lhes mostrou Machado de Assis,
139
os imitadores indgenas
de Baudelaire que nas Fleurs du mal buscavam justificao do seu realismo ou naturalismo. E a sua inteligncia os condenou
imitao pueril e falha.
A poesia brasileira contempornea da romntica naturalista foi, como ficou averiguado, o parnasianismo, e, com
manifestaes minguadas e somenos, a alcunhada poesia cientfica, que de poesia s teve o exprimir-se em versos, geralmente
ruins.
Influiu de fato o modernismo na poesia com a sua inspirao cientfica e filosfica, produzindo isso que aqui se denominou
de poesia cientfica, o que de si mesmo uma contradio, enquanto as verdades cientficas se no fizerem sentimento na
alma do poeta. Pr em versos, ainda excelentes o que alis nunca aconteceu noes cientficas ou idias filosficas
retrogradar poesia didtica, cousa que de poesia s tem o nome. J vimos que no deu aqui nada de si, e nada deixou por
que sequer merea lembrada, seno como um fato, alis insignificante, da nossa evoluo literria.
Desde 1879, Machado de Assis, no escrito citado, verificava que a poesia subjetiva chegara efetivamente aos derradeiros
limites da conveno e simultaneamente a influncia das cincias modernas que deram mocidade diferentes noes das
cousas e um sentimento que de nenhum modo podia ser o da gerao que os precedeu.
Com estas noes mais sofregamente bebidas que cabalmente assimiladas, entraram a impressionar a nossa imaginao
e faculdades poticas, Teodoro de Banville, Baudelaire, Leconte de Lisle, os poetas do Parnasse contemporain, e, ainda e
sempre, Victor Hugo, o Hugo da Lgende des sicles (1859-77-83), o vate social e poltico. Simultaneamente as impressionaram
os poetas portugueses da reao coimbr contra Castilho e o ultra-romantismo, em que demoradamente agonizava, sob o
patrocnio deste extraordinrio versejador, a poesia portuguesa: Joo de Deus, Tefilo Braga, Antero de Quental, Guerra
Junqueiro.
Ao contrrio do que superficialmente se pensa, as influncias intelectuais europias nunca demoraram menos de vinte
anos a se fazerem aqui sentir. Banville e Baudelaire apareceram com as suas obras tpicas em 1857, aquela revista de poesia
publicou-se de 1865 a 66, e os poetas portugueses que nos traziam o eco do movimento das idias, que havia pelo menos
cinco lustros abalavam os espritos europeus, eram todos do decnio de 60.
Ao feitio potico que no Brasil correspondeu ao naturalismo no romance, e que de parte modalidades diversas e indefinveis
de inspirao se caracterizou pela preocupao da forma e pela maior absteno da personalidade do artista, chamou-se de
parnasianismo. Naturalismo e parnasianismo so ambos filhos daquele movimento. Mesmo em Frana, a denominao de
parnasianismo arbitrria. No houve propriamente ali escola parnasiana. A no ser o do trabalho exterior, do lavor do
verso, nenhum vnculo de sentimento ou inspirao comum liga os poetas que, reunidos em torno de Leconte de Lisle,
colaboravam no Parnasse contemporain, do qual lhes veio a alcunha. O nico que com ele tinha alguma analogia era Jos
Maria Heredia.
140
A forma rigorosa, impessoal, impassvel, em que se quis ver a marca da escola desmentida alis mesmo em Frana,
por alguns dos seus mais distintos alunos, como Coppe se no coadunava com o lirismo portugus e brasileiro, ambos
essencialmente feitos de sentimentalidade e de personalismo, ambos muito pessoais. Em Portugal, mais ainda que no Brasil,
no houve nunca verdadeiros parnasianos, segundo o conceito comum do parnasianismo,
141
se no o forem os seus rcades
do fim do sculo XVIII.
Transplantado para o Brasil, o parnasianismo francs modificou-se sensivelmente sob a ao das nossas idiossincrasias
sentimentais, da nossa fcil emotividade e das tradies da nossa poesia. A impersonalidade e sobretudo a impassibilidade
no vo com o nosso temperamento. So dos anos de 70 as primeiras manifestaes do paranasianismo na nossa poesia.
Foram talvez as Miniaturas de Gonalves Crspo a sua primeira manifestao. Publicadas em 1871, com poemas de 69 e 70,
traziam sob o nome do poeta a meno natural do Rio de Janeiro. Brasileiro de nascimento e mestio, tambm de
temperamento, de inteno, e, o que mais, de sentimento, era o autor genuinamente brasileiro. Os seus deliciosos poemas,
porm, de parnasianos apenas tinham o escrpulo da fatura. Muitos livros de versos publicaram-se aqui no decnio de 70 a
80: Falenas e Americanas, de Machado de Assis; Nvoas matutinas e Alvoradas, de Lcio de Mendona; Flores do campo,
de Ezequiel Freire; Telas Sonantes, do Sr. Afonso Celso; Sonetos e rimas, de Lus Guimares Jnior, e outros. Distingue
estas colees de poemas maior abundncia de temas objetivos, uma notvel diminuio na sentimentalidade e subjetivismo,
acaso excessivos, dos romnticos e, sobretudo, um mais esmerado trabalho de forma. Algumas delas, como as de Machado
de Assis e Lus Guimares Jnior, j traziam, sob este aspecto, distinta excelncia. Estes dous poetas, porm, desde os seus
primeiros versos se mostravam, mais do que era aqui comum, cuidadosos da forma.
A inspirao romntica to consoante com a nossa ndole literria, como de ver, se no desvanecera totalmente ao
influxo da nova potica. No s ainda visvel naqueles poemas mas em dois novos poetas que por esse tempo apareceram,
o Sr. Alberto de Oliveira, que viria a ser talvez o mais tpico dos nossos parnasianos, e o malogrado Tefilo Dias. Tanto as
Canes romnticas do primeiro, como a Lira dos verdes anos e os Cantos tropicais do segundo so de 1878, e em ambos,
de mistura com a toada geral do nosso lirismo romntico, h claros toques da nova potica. A estas diversas colees
seguiram-se as Sinfonias (1883) e Versos e verses (1887), de Raimundo Correia, as Meridionais, do Sr. Alberto de Oliveira,
as Contemporneas, do Sr. Augusto de Lima e, finalmente, em 1888 as Poesias do Sr. Bilac, que ficariam como talvez o
mais acabado exemplar do nosso parnasianismo, tanto pelas qualidades formais como de inspirao. No vale a pena citar
mais: uns, embora com estro, apenas ocasionalmente foram poetas, outros no o souberam ser com virtudes tais que mal
decorrido um quarto de sculo no ficassem de todo esquecidos. Como felizmente passara a poca em que os nossos poetas
morriam moos, esto, Deus louvado, vivos esses e outros seus imediatos sucessores, dos quais alguns tm um nome e um
lugar na poesia brasileira. Acode naturalmente o do Sr. Lus Murat, estreado nesta poca com muito rudo, aplauso, abundncia
e brilho e que assim poetou at h pouco. O Sr. Lus Murat, porm, apenas parcialmente pertence a esta fase potica, pois ao
contrrio dos poetas que a assinalam, seus contemporneos e companheiros, tanto a sua inspirao como a sua maneira
refletem notavelmente, no obstante meras aparncias de novidades, a potica anterior. como ele, embora de feio muito
diferente, mais romntico que parnasiano, o Sr. Melo Morais Filho, o poeta dos Cantos do Equador. Com o propsito de
nacionalismo voltou ao indianismo, repetindo com muito menos engenho a Gonalves Dias.
Dos citados poetas, dois dos mais estimados vinham do Romantismo, do qual ainda conservam ressaibos Machado de
Assis e Lus Guimares Jnior. Machado de Assis, que desde o princpio se distinguira pela arte excelente dos seus versos,
apenas a teria apurado mais com o advento do parnasianismo. Mas nele os efeitos da nova potica e das correntes que a
originaram s so manifestos na sua ltima coleo, as Ocidentais. Lus Guimares Jnior, que ia pelos trinta anos, o que
aqui quase a velhice para um poeta, fora desde os seus primeiros versos (Corimbos, 1869) versificador esmerado. Sofrendo
a impresso da nova moda, no foi s a sua versificao que se aperfeioou, mas toda a sua expresso potica, e os Sonetos
e Rimas (Roma, 1880) so, sob este aspecto, um dos mais distintos livros da nossa poesia e no sei se no tambm um dos
melhores exemplares do parnasianismo francesa aqui. O seu lirismo, de qualidades muito nacionais, no sofreu modificao
essencial do parnasianismo e por muitos rasgos ele continuou com originalidade e sentimento prprios, e melhor expresso,
os poetas das ltimas geraes romnticas. Mas poemas como Histria de um co, Satans, A esmola, A morte de guia,
revelam a ao do novo pensamento que influa a poesia. A distinta arte do verso fazia-o um dos corifeus da sua renovao
aqui.
Pelo mesmo tempo comeou a aparecer com maior reputao e lustre o nome de Lus Delfino, que talvez desde os anos
de 50 se vinha lendo sob versos publicados em diversos peridicos. Lus Delfino dos Santos uma das figuras mais curiosas,
mais extraordinrias at da nossa poesia. Era de Santa Catarina, onde nasceu em 25 de agosto de 1834, o que o faz da
gerao dos segundos romnticos, quase todos nesse decnio nascidos. Formou-se em medicina no Rio de Janeiro, onde se
deixou ficar clinicando e onde faleceu a 30 de janeiro de 1910.
Desde muito jovem at s vsperas de morrer, com setenta e seis anos, poetou constante e despreocupadamente, sem
esforo, sem presuno, acaso sem maior afeto e certamente sem paixo pela sua habilidade potica. A poesia foi-lhe antes
um hbito contrado na mocidade e continuado pelo resto da vida que um ofcio, ou sequer uma ocupao literria. Sendo o
mais copioso poeta que jamais tivemos, e no raro um dos mais excelentes, no deixou entretanto um livro de versos, em
terra onde todo o versejador se precipita em pr em volume os seus. Como certamente lhe no teriam faltado oportunidades
de o fazer, pois alm da posio social que alcanou, era abastado, pode-se ver nesta sua negligncia ou uma singular
indiferena pela sua arte ou uma peregrina forma de faceirice literria. Tanto pela qualidade da sua ideao, como pela da
sua expresso, Lus Delfino motivadamente impressionou os poetas que, quando ele comeava a envelhecer, entravam a
despir-se do Romantismo. Ainda com as qualidades comezinhas do nosso lirismo, e a sua, mais que volutuosidade, lascvia,
mostrava-se ele mais esquisito e mais requintado. Trazia maior riqueza, maior variedade, maior novidade de imagens,
expressas em formas menos vulgares. Sente-se-lhe, entretanto, a rebusca, o que no era para lhe desafeioar os moos que
pospunham o espontneo da inspirao ao caprichoso do lavor artstico. Nesta rebusca cai freqentemente no extravagante
do pensamento e no anfiguri da expresso. A relativa serenidade do seu estro, contido nas suas naturais exuberncias indgenas
pela feio do poeta ao requinte da expresso, o seu amor da bela forma, o seu menos absorvente subjetivismo, o seu ar mais
de refinado galanteador que de apaixonado, libertando-o dos mais comuns vcios da nossa poesia de ento, estremaram Lus
Delfino dos ltimos romnticos. Na voga do parnasianismo aqui, e no no seu incio, foi que o nome de Lus Delfino saiu da
penumbra em que se vinha fazendo desde aqueles anos, para ser reconhecido e proclamado pelos poetas da nova gerao
como um dos seus cabeas e por eles celebrado como um mestre de verso. Valia-lhe a predileo, to contrrio aos nossos
costumes literrios, o afastamento do velho poeta das rodas em que aqueles jovens, que poderiam ser seus filhos,
reciprocamente se disputavam a preeminncia. De fato ele no lhes era um concorrente. Foram principalmente os seus
numerosos sonetos nos moldes da nova potica, alguns realmente belos, que lhe trouxeram ao pblico o nome, at ento
pouco menos que obscuro. At que ponto a importncia que mais talvez que o seu engenho lhe deram as circunstncias, se
haja traduzido em influncia suficientemente aprecivel, no sei dizer. Houve em sua fama, que alis mal ultrapassou as
rodas literrias, muito do que os franceses chamam succs destime. Em suma, Lus Delfino foi talvez antes um insigne
virtuose do verso do que um grande poeta, como liberalmente chegaram a chamar-lhe.
No decnio de 70 a 80 repetiu-se em S. Paulo o que ali sucedera de 50 a 60: um grupo de moos estudantes da respectiva
Faculdade de Direito, amigos das letras, particularmente da poesia e entusiastas das idias modernas, tomaram a frente do
movimento potico. Desse grupo, donde todos mais ou menos poetavam, saram alguns dos melhores, poetas desta fase,
nomeadamente alm dos Srs. Augusto de Lima e Olavo Bilac, ainda felizmente vivos, sem falar dos que ficaram em estrias,
Tefilo Dias e Raimundo Correia.
Nesse grupo, a poesia, sofrendo embora as influncias do pensamento moderno, no exorbitava da sua natureza. Mantinha-
se entre o nosso lirismo tradicional e a nova potica, oriunda dos parnasianos franceses. Misturava-lhes alis Baudelaire,
que no chegou a entender, e continuava a admirar e imitar Hugo. Mas em suma, com menos corriqueira inspirao, certas
novidades de pensamento e, sobretudo, expresso mais apurada, poesia da que dispensa qualificativo. Dos poetas que a
iniciaram, e com mais distino a fizeram, os que, por j falecidos, tm lugar nesta Histria, so os mais notveis Tefilo
Dias e Raimundo Correia, ambos maranhenses.
Tefilo Dias de Mesquita nasceu em Caxias em 28 de fevereiro de 1857. Era, por sua me, sobrinho de Gonalves Dias.
Este prximo parentesco no deixou de ser parte tanto na sua feio potica como no renome que adquiriu. Ele prprio
parece se desvanecia, e com razo, dele, e de bom grado se deixava impressionar desta consanginidade gloriosa. Mais do
que a confessada admirao pelo seu ilustre parente, o grande poeta dos Cantos, o feitio do engenho potico de Tefilo Dias
lhe rev o afeto e as naturais afinidades. Ele no s um puro parnasiano, o que, como fica assentado, no tivemos aqui, por
o no consentir nem o nosso temperamento nacional, nem a nossa feitura mental. Mais do que em Raimundo Correia, Bilac,
Alberto de Oliveira, Augusto de Lima, que do grupo parnasiano de S. Paulo e do Rio de Janeiro e pode dizer-se do Brasil,
foram os corifeus e os mais distintos poetas, so em Tefilo Dias evidentes os ressaibos do Romantismo, ainda na sua feio,
aqui a mais saliente, de nacionalismo. nestas que se lhe sente o parentesco de Gonalves Dias. Do seu natural feitio
romntico h tambm indcios no seu vezo romntico da bomia. A julgar pelas reminiscncias dos seus contemporneos e
camaradas, ele foi o ltimo dos nossos bomios literrios moda romntica, piorada em S. Paulo por lvares de Azevedo e
os estudantes literatos do tempo e os seus subseqentes macaqueadores.
A atividade potica de Tefilo Dias vai de 1876, ano em que estria com a Lira dos verdes anos (Cp. Lira dos vinte
anos, de lvares de Azevedo), a 1887, em que publicou a Comdia dos deuses. Entrementes publicara os Cantos tropicais
(1878) e Fanfarras (1882). Faleceu a 29 de maro de 1889 em S. Paulo, onde casara na famlia dos Andradas, a cuja
proteo deveu modesta posio poltica nessa provncia. Segundo o comum conceito do parnasianismo, Tefilo Dias, no
obstante haver poetado no melhor perodo da escola aqui, apenas pelo apuro intencional da forma, abuso do descritivo e
outras particularidades e feies de virtuosidade, ser um parnasiano. De parte tais feies, ainda um romntico modificado,
atenuado pelo pensamento moderno, que nele influiu mais do que nos seus camaradas de gerao. Mostra-o notavelmente
a sua Comdia dos deuses, poema confessadamente calado no Aasvero, de Edgard Quinet, sem quase nenhuma inveno
essencial de fundo e de expresso. Esta alis em Tefilo Dias mais rica do que naqueles. Mas no tal que lhe tenha
sobrelevado o estro at uma obra de vida e beleza duradoura. , entre os poetas da mesma grei, talvez o menos vivo.
Ao contrrio, vive de uma vida ainda muito prezada e que no parece deva extinguir-se breve, o seu companheiro
Raimundo Correia. Este delicioso poeta nasceu a bordo de um vapor, em guas do Maranho, aos 13 de maio de 1860.
Valetudinrio, de um nervosismo doentio, que alis mal se revela em seus poemas ou apenas se vislumbra no tom de
melancolia e desalento que talvez o seu mais ntimo encanto, em extremo sensitivo, encontrou nas suas mesmas condies
fsicas e morais o melhor do seu estro. Filho de um magistrado do velho feitio, que at nos aspectos exteriores punham a
gravidade profissional do seu estado, severamente educado numa famlia rigorosamente catlica, e ele prprio magistrado,
Raimundo Correia, no obstante a perda das crenas paternas e a deletria influncia da serdia bomia dos poetas estudantes
de S. Paulo, conservou, com o fundo de tristeza que lhe era congenial, a sua honestidade nativa e uma intemerata alma de
poeta idealista e intimamente romanesco. Como todos os nervosos da sua espcie, era um desconfiado e um tmido. De todas
estas suas feies pessoais h vestgios na sua poesia, e foi a consubstanciao perfeita do seu estro com o seu temperamento
que, apesar do seu apego s frmulas da potica parnasiana, fez dele talvez o mais comovido e por isso mesmo o mais
interessante poeta da sua gerao. Sem maior originalidade (e a falta de originalidade talvez o mais visvel defeito da nossa
gerao parnasiana) tem, como nenhum dos seus confrades, um raro e particular dom de assimilao com que soube
transubstanciar em prprias emoes alheias, emprestando-lhes um sentimento mais profundo e uma expresso mais intensa
e mais formosa. Os temas dos seus dous mais belos e mais justamente afamados poemas As pombas e mal secreto no lhe
pertencem, mas nem por isso esses admirveis sonetos so menos seus, tantos ele lhes recriou e ressentiu o sentimento
original e to formosamente os afeioou consoante com a sua ndole potica. No s pelo seu real talento potico e peregrinas
qualidades da sua expresso foi Raimundo Correia um dos maiores dos nossos poetas de aps o Romantismo, mas tambm
porque foi de todos eles aquele em que o apuro, mesmo a rebusca da forma, no prejudicou nem a ingenuidade do sentimento,
nem a sua expresso natural, nem tampouco a essncia do nosso lirismo tradicional. Com menores aptides verbais que os
seus mulos, ele entretanto os excedeu a todos em propriedade, singularidade e beleza de expresso potica. Raimundo
Correia morreu em Paris, a 13 de setembro de 1911.
Em Pernambuco, tambm no meio escolar se operou paralela mas no igual renovao potica. Em S. Paulo, o pensamento
moderno, ou diretamente ou mediante os parnasianos franceses, influa os estros poticos sem os desviar enormemente dos
domnios e da expresso prpria da poesia. Eram novos, mais ficavam poetas. O contrrio sucedia em Pernambuco. Ao
influxo de Tobias Barreto, dos repetidos e impertinentes apelos Cincia, Filosofia, ao Pensamento Moderno (tudo com
maiscula), em uma palavra, do cientificismo, como barbaramente se chamou a esta presuno de cincia, nasceu o propsito
desta coisa hbrida e desarrazoada que apelidaram de poesia cientfica. No deu alis seno frutos pecos ou gorados ainda
em flor. Poesia cientfica incongruncia manifesta. Que a cincia, influindo a mentalidade humana e aperfeioando-a
consoante as suas solues definitivas, ou os seus critrios, possa acabar por atuar tambm o sentimento humano, uma
verdade psicolgica de primeira intuio. No o menos que o sentimento assim feito possa comover-se conformemente
com os motivos que o produziram ou segundo a emotividade resultante de determinaes daquelas solues a critrios. Se
for cabal a converso da noo em sentimento, se este j for bastante intenso, poder a sua expresso corresponder-lhe
intensidade e ser, pois, do ponto de vista esttico, legtima e bela. Mas para que isto acontea, cumpre seja completa e
perfeita a transformao da idia em sentimento ntimo capaz de expresso artstica, subjetiva. Seno ser uma pura emoo
sentimental, cuja expresso potica dispensa qualificativo ou, o que foi a nossa poesia cientfica, uma aberrao de
pseudopoetas e pseudocientistas, um efeito de moda ou uma ocasio oratria. Poesia, como arte que , sntese, uma sntese
emotiva. Limitando-se os nossos poetas cientficos a versejar noes, princpios, conhecimentos cientficos, e mais nomes
do que coisas, resvalavam poesia didtica, de ridcula memria.
Tobias Barreto, o principal causador, pelo seu ensino todo imbudo de cientificismo, desta suposta poesia, mas muito
mais poeta que os seus discpulos, no caiu to em cheio como estes no engano para o qual tanto concorreu. Quem
principalmente a apadrinhou foi Martins Jnior, poeta em que era maior o fogo juvenil que o estro.
Jos Isidoro Martins Jnior nasceu no Recife em 24 de novembro de 1860, e faleceu no Rio de Janeiro em 22 de agosto
de 1904. Desde os bancos da Faculdade de Direito, onde se formou, foi um esprito agitado das idias mais adiantadas, das
opinies mais recentes, de entusiasmos fogosos, tudo traduzido em manifestaes e gestos de orador. Prodigalizava-se em
discusses, palestras, escritos do efmero jornalismo escolar, discursos e versos, num movimento infatigvel do seu
temperamento caloroso e impulsivo. Desde 1879 publicou folhetos de direito, filosofia, literatura, e os seus primeiros
versos, com o ttulo intencionalmente expressivo de Estilhaos, As vises de hoje (1881), republicadas, refundidas cinco
anos depois, so o seu livro principal. Foi a que fez e propagou a poesia cientfica em poemas que eram a condenao do
gnero como esse da Sntese cientfica, do qual s estes versos bastavam para o desmoralizar definitivamente:
Mas s Comte
Pde, estico, escalar o alevantado monte
No pncaro do qual via-se a neve branca
Da nova concepo do mundo reta e franca!
Deixando embaixo Kant, Simon, Burdin, Turgot,
Newton e Condorcet e Leibnitz, voou
Ele para as alturas mgicas da glria,
Aps ter arrancado ao plago da Histria
A vasta concha azul da Cincia Social!
E mais que houve quem tomasse a srio estas infantilidades, e s como tais perdoveis, de rapaz de escola!
Acompanharam-no, com efeito, outros moos to pouco reflexivos e to pouco poetas como ele. Apenas menos
declaradamente seguiu a corrente, a que afluam tambm caudais da Lenda dos sculos, de Victor Hugo, e da Viso dos
templos, do Sr. Tefilo Braga, o Sr. Slvio Romero (Cantos do fim do sculo, Rio de Janeiro, 1878). Pelo nome que justamente
adquiriu nas nossas letras, e pela sua mesma obra potica desta errada tendncia, foi talvez o Sr. Slvio Romero o mais
considervel destes poetas. Sem nenhuma superioridade, mas tambm sem tamanha insuficincia quanto lhe assacaram,
versificou noes cientficas, pensamentos filosficos, conceitos histricos, opinies sociais com maior ardor que sucesso.
Esta poesia cientfica de que Martins Jnior se fizera o arauto (Poesia cientfica, Recife, 1883), e que poucos mais cultores
teve alm dele e do Sr. Slvio Romero, e nenhum certamente credor de estimao, era ainda, por muitos aspectos, um
remanescente do condoreirismo. Acabada a guerra do Paraguai e esgotado um dos principais estimulantes desta maneira
potica, exatamente quando novas idias cientficas e filosficas nos chegavam da Europa e comeava aqui ao menos o
momento de cndida f na cincia que durou at h pouco, foi esta, por isso mesmo que pouco sabida, que alvoroou a
mocidade.
este o grande mal da literatura brasileira: que por circunstncias peculiares nossa evoluo nacional, ela tem sido
sobretudo, quase exclusivamente at, feita por moos, geralmente rapazes das escolas superiores, ou simples estudantes de
preparatrios, sem o saber dos livros e menos ainda o da vida. Ora a literatura, para que valha alguma cousa, h de ser o
resultado emocional da experincia humana. A nossa tem principalmente sido uma literatura de inspirao e fundo, mais
livrescos que vividos.
Captulo XVII
O TEATRO E A LITERATURA DRAMTICA
SENO COMO LITERATURA, como espetculo data o teatro no Brasil do sculo do descobrimento. Foram seus inventores
ou introdutores aqui os jesutas. Na sua obra de catequese e educao, a mais inteligente sem dvida que jamais se fez,
recorriam esses padres, desde a Europa, a todos os recursos, ainda os mais grosseiros, de sugesto. Desses foram as grandes
solenidades, meio profanas, meio religiosas, dos seus colgios, com representaes, recitaes, cnticos e danas e espetculos
a que j podemos chamar de teatrais. Mediante estes, os seus mais rudes palcos achariam acaso ouvintes mais caroveis que
o seu plpito.
Desde o sculo XVI, na citada Narrativa epistolar de Ferno Cardim e em outros cronistas, no sculo XVII, nos longos
ttulos dos poemas de Gregrio de Matos
142
e em mais de um noticiador do Brasil de ento, e com freqncia maior nos
cronistas do sculo XVIII, encontram-se notcias desses espetculos, que uma crtica incompetente pretendeu arvorar em
incio do nosso teatro.
142
A umas comdias que se representaram no stio de Cajaba. A uma comdia que fizeram os pardos confrades de N.S. do Amparo. MS. 1-5-1-29 da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Desses talvez o primeiro de que h notcia foi o que o Padre Jos de Anchieta realizou em S. Vicente, em 1555, fazendo
representar por ndios seus catecmenos e portugueses, em tupi, e em portugus, o auto da Pregao universal, ruim arremedo
dos autos de devoo que se representavam no Reino, dos quais o contemporneo Gil Vicente deixou os melhores exemplares.
Mas nem esse pobre auto, nem outros que se lhe seguiram, representados em estabelecimentos jesuticos ou alhures, no
so propriamente teatro no sentido da literatura dramtica. Todos eles desapareceram sem deixar prole, nem seqncia.
As representaes ou espetculos teatrais, que aqui mais tarde se viram, e de que h notcias desde os meados do sculo
XVIII, de comdias, entremezes, momos, loas, portugueses e espanhis, ou, quem sabe?, j produto colonial, nenhuma
afinidade teriam com os autos jesuticos ou quejandos. Desde, pelo menos, a segunda metade do sculo XVIII que em festas
pblicas celebradas por ocasio da exaltao ao trono de reis portugueses, ou de nascimentos, desposrios principescos, se
faziam aqui representaes teatrais, em geral de peas espanholas, como tambm sucedia na metrpole. Em 1761, na Bahia,
por motivos dos esponsais da futura D. Maria I, foi representado um Anfitrio, acaso o mesmo do nosso engenhoso e
desgraado patrcio Antnio Jos.
143
Destas representaes, e sempre por idnticos motivos, em outras partes do Brasil, ainda em antes da fundao da Casa
da pera no Rio de Janeiro, em 1767, se encontram notcias nas crnicas e relatos contemporneos. Se no ainda possvel
asseverar que Alvarenga Peixoto, um dos poetas da pliade mineira, tenha de fato composto um drama Enias no Lcio e
traduzido a Mrope, de Maffei, e, menos ainda, que por volta de 1775 estes se hajam representados na referida Casa da
pera, no parece duvidoso que outro poeta do mesmo grupo, Cludio Manoel da Costa, tenha composto poesias dramticas
que, segundo declarao sua, se tinham muitas vezes representado nos teatros de Vila Rica, Minas em geral e Rio de
Janeiro e feito vrias tradues de dramas de Metastsio.
144
Nesses teatros, de existncia forosamente precria, e atividade espordica e intermitente, eram principalmente, tal qual
como em Portugal, peas espanholas que se representavam. Quando ele comeou, j ali mesmo se no representava mais Gil
Vicente. O teatro portugus vivia de peas estrangeiras, e menos de entremezes e peras nacionais alguma coisa como o
moderno vaudeville francs sendo as principais e melhores destas as do Judeu, cuja popularidade foi grande e que, sem
o nome do seu malogrado autor, se representavam freqentemente no Reino, e porventura tambm no Brasil. Este teatro,
pois, de brasileiro s tem a circunstncia de estar no Brasil. O teatro brasileiro propriamente dito, de autores, peas e atores
brasileiros ou abrasileirados, que fosse j um produto do nosso gnio e do meio, , por assim dizer, de ontem. Pode existir
quem o tenha visto nascer.
Como simples curiosidade histrica, uma histria exaustiva de teatro brasileiro, compreendendo o espetculo e a literatura,
podia, porventura devia, recordar essas primeiras representaes. Nessa relao caberiam os autos, dilogos, loas e quejandos
espetculos dados nos estabelecimentos jesuticos e em festividades pblicas ou particulares nos tempos coloniais. H para
tal notcia material bastante em documentos contemporneos. No existe, porm, um s de literatura dramtica, por onde
possamos avaliar-lhe a importncia e mrito. Os primeiros que apareceram so de 1838 para c, os dramas ou tragdias de
Magalhes e as comdias ou farsas de Martins Pena.
Foi o Romantismo, com o qual se iniciou o que j podemos chamar de literatura nacional, o criador tambm do nosso
teatro. Este ficou de todo estreme de qualquer influxo daquelas remotas e, pode dizer-se, ignoradas representaes coloniais.
Na sua primeira fase produziu o Romantismo Gonalves de Magalhes e Martins Pena, e logo depois Macedo e Jos de
Alencar. Simultaneamente apareceu aqui um grande ator que, com seu nativo talento e ardor pela arte dramtica, realizou no
palco, mediante companhias em que chegou a interessar os mesmos estadistas do tempo e outros conspcuos cidados, e
com aplauso e colaborao do pblico, o teatro brasileiro. O nome desse ator, Joo Caetano (+ 1863), chegou at ns com
tal aurola de admirao e de glria, to saudosamente lembrado, que se lhe dispensa a biografia ou mais positivos testemunhos
do seu valor real. A impresso que ele causou nos seus contemporneos, impresso profunda e duradoura, basta para assegurar-
lhe a primazia na realizao cnica daqueles e doutros autores e, portanto, na criao de teatro aqui.
Como literatura, o seu criador foi, segundo vimos, Gonalves de Magalhes, com o seu Antnio Jos ou o poeta e a
Inquisio, tragdia em verso, em 5 atos, representada pela primeira vez por Joo Caetano e sua companhia, no seu teatro da
Praa da Constituio (depois Teatro de S. Pedro de Alcntara) em 13 de maro de 1838. Esta data asseguraria a Magalhes
e ao Brasil a prioridade do teatro romntico na literatura da nossa lngua. A pea com que Garrett inaugurou o moderno
teatro portugus, Um auto de Gil Vicente, foi representada em Lisboa quatro meses depois da do nosso patrcio. Esta
prioridade, porm, pouco mais que cronolgica. O drama de Garrett, sobre ter outro valor literrio, bem mais romntico
do que a tragdia de Magalhes. Aproveita, entretanto, a primazia da data, para comprovar que no foi de Portugal que
Magalhes recebeu o impulso renovador, e portanto que o nosso Romantismo, por ele inaugurado na poesia com os Suspiros
poticos (1836), compostos e publicados no foco do romantismo latino, Paris, se originou de outras fontes que a portuguesa.
Magalhes como Porto Alegre, seu amigo e mulo nesta renovao, no eram por temperamento e ndole literria dois
verdadeiros romnticos, quanto o seriam por exemplo Gonalves Dias e Alencar. Foram-no antes de estudo e propsito que
de vocao. A sua ntima caracterstica literria seria antes o pseudoclassicismo ou o serdio arcadismo do fim do sculo
XVIII e princpio do XIX em Portugal e alhures, e do qual Ponsard, em Frana, era no teatro o mais eminente representante.
Quando o Romantismo francs proclamava a falncia ou esgotamento da tragdia, substituindo-a pelo drama em que os
elementos da comdia se misturavam ao pattico do teatro trgico, Magalhes escrevia tragdias feitas ainda segundo as
clssicas regras aristotlicas. De fora parte a sobriedade austera dos grandes moldes gregos, seguidos por Ferreira e Racine,
e a inferioridade do seu estro, renasciam estas no palco de S. Pedro de Alcntara, ao gesto poderoso de Joo Caetano. Eram,
porm, antes uns arremedos da tragdia clssica do que o verdadeiro drama romntico qual o conceberam Schiller e Hugo.
Trasladando para o nosso teatro, e poderamos dizer para o teatro portugus, o drama shakespeariano, que o mais remoto
e ilustre avoengo do Romantismo, fazia-o Magalhes das descoradas verses com que Ducis amaneirou ao gosto francs o
teatro de Shakespeare. Mas Antnio Jos ou o poeta e a Inquisio, que pelo tema moderno, pelo esprito liberal e sobretudo
pelo ttulo bem romntico, Olgiato, que o de inspirao e expresso, e o mesmo Otelo, deviam ficar na nossa literatura
dramtica, se no no nosso teatro, como bons exemplares da nossa obra literria nesse gnero. O importante, porm, estava
feito, um belo exemplo estava dado, uma fecunda iniciativa realizada, e no sem superioridade. Atores brasileiros ou
abrasileirados, num teatro brasileiro, representavam diante de uma platia brasileira entusiasmada e comovida, o autor
brasileiro de uma pea cujo protagonista era tambm brasileiro e que explcita e implicitamente lhe falava do Brasil. Isto
sucedia dezesseis anos aps a Independncia, quando ainda referviam e bulhavam na jovem alma nacional todos os entusiasmos
desse grande momento poltico e todas as alvoroadas esperanas e generosas iluses por ele criadas. Nada mais era preciso
para que na opinio do pblico brasileiro, em quem era ainda ento vivo o ardor cvico, aquele teatro com os que nele
oficiavam como autores e atores, tomasse a feio de um templo onde se celebrava literariamente a ptria nova.
Martins Pena, como alis todos os romnticos, aproveitou deste sentimento. A individualidade que certamente tinha, a
sua originalidade nativa, em uma palavra a sua vocao, livraram-no, porm, de ceder ao duplo ascendente de Magalhes e
de Joo Caetano, e fizeram dele o verdadeiro criador do nosso teatro. Mais porventura que a Magalhes, assegura-lhe este
ttulo a cpia de peas que escreveu e fez representar, quer pela cena, quer pela imprensa, e, sobretudo, o seu muito mais
acentuado carter nacional. Por tudo isso a obra teatral de Martins Pena certamente influiu mais no advento do teatro
nacional que a de Magalhes.
Lus Carlos Martins Pena nasceu no Rio de Janeiro a 5 de novembro de 1815 e faleceu em Lisboa a 7 de dezembro de
1848. A sua instruo parece no ter tido mtodo nem seqncia. Passou pela Aula de Comrcio ento existente, e pela
Academia de Belas-Artes. Estudou lnguas estrangeiras e completou consigo mesmo os seus estudos. Cultivou tambm a
msica, que o ajudaria na composio dos couplets que lhe exornam as peas. Foi empregado pblico em dois ministrios
e mais tarde adido legao brasileira em Londres, onde esteve quase um ano. Dando-se mal com o clima londrino, veio j
bastante doente para Lisboa e a faleceu apenas passado um ms. Seria, pois, mais culto e mais instrudo pela freqentao
de sociedades mais civilizadas que a da ptria do que o deixam supor as suas comdias. No se lhe vislumbra na obra
conhecida nada que revele algo de gnio teatral ingls ou da literatura inglesa, nem de qualquer outra. A sua graa, pois a tem
em quantidade, j a resultante da fuso aqui da chalaa portuguesa com a capadoagem mestia, a graola brasileira, sem
sombra da finura do esprito francs ou do humor britnico. Esta sua imunidade, como a j verificada ao prestgio de
Magalhes e Joo Caetano, a despeito da predileo pblica pelo dramalho e pela tragdia, est atestando a individualidade
prpria, a inspirao nativa, a originalidade de Martins Pena.
145
Estreando no teatro aps o grande sucesso de Magalhes, servido por Joo Caetano, e os vrios triunfos por este e seus
companheiros alcanados com os dramalhes romnticos, e sem lhe dar da voga deste teatro, antes seguindo o seu gnio e
vocao, como deve fazer todo o artista sincero, Martins Pena comea e prossegue com a comdia. Ingenuamente,
desartificiosamente, com observao sem profundeza, mesmo banal mas exata e sincera, traz para o teatro pela primeira
vez, note-se, porque o seu sucesso explica-o a s novidade do seu feito a nossa vida popular e burguesa e quotidiana do
tempo. Evidentemente no tem presunes nem propsitos literrios como os teve Magalhes; apenas v claro, observa com
ateno e reproduz fielmente, com a naturalidade em que se revela o escritor de teatro. E Martins Pena no seno isto, um
escritor de teatro. Do autor dramtico possui, em grau de que se no antolha outro exemplo na nossa literatura, as qualidades
essenciais ao ofcio e ainda certos dons, que as realam: sabe imaginar ou arranjar uma pea, combinar as cenas, dispor os
efeitos, travar o dilogo, e tem essa espcie de observao fcil, elementar, corriqueira e superficial, mas no caso preciosa,
que um dos talentos do gnero. No raro tem o trao psicolgico do caricaturista, e o jeito de apanhar o rasgo significativo
de um tipo, de uma situao, de um vezo. Possui veia cmica nativa, espontnea e ainda abundante, infelizmente, porm,
(defeito desta mesma virtude) com facilidade de se desmandar na farsa. Martins Pena e Manoel de Almeida, o singular e
malogrado autor das Memrias de um sargento de milcias, so porventura os melhores, se no os nicos, exemplos de
espontaneidade literria que apresenta a literatura brasileira.
A maior parte das peas de Martins Pena so antes farsas que comdias. Independentemente dessa denominao, que
ele prprio lhes deu, a sua feio e estilo de farsa. Ele exagera o feitio cmico das situaes e personagens, acumula o
burlesco sobre o ridculo, manifestamente no intuito de melhor divertir, provocando-lhe o riso abundante e descomedido, o
seu pblico. tradio que o conseguiu plenamente. Ainda hoje se representam as comdias de Pena com o mesmo sucesso
de franca hilaridade que lhe fizeram nossos pais. A mais de meio sculo de distncia, lidas ou ouvidas, deixam-nos a
impresso de representarem suficientemente no essencial e caracterstico o meio brasileiro que lhe serviu de modelo e tema.
E s talvez delas, em todo o nosso teatro, se poder dizer a mesma cousa.
Foi considervel, sobretudo em relao ao tempo, a atividade literria de Martins Pena, exercida de 1838 a 1847. Alm
de um romance e folhetins teatrais, de que apenas temos notcia incerta, deixou vinte e tantas peas de teatro, das quais trs
dramas. Dezenove pelo menos foram representadas e nove impressas, sendo algumas reimpressas, ainda em vida do autor ou
posteriormente. Ultimamente foram reeditadas em um s volume, infelizmente com bem pouco cuidado editorial.
146
O exemplo de Magalhes e Martins Pena frutificou. Dos romnticos da primeira hora, os principais, Norberto, Teixeira
e Sousa, Porto Alegre, Gonalves Dias, Macedo e at Varnhagen, com fortuna e sucesso diverso, em geral medocre, escreveram
tambm teatro. Alguns alm de Macedo, conseguiram ver-se representados. J fica dito da obra teatral de cada um deles, no
que ela interessa literatura. So, porm, muitos os autores de peas de teatro de todo o gnero escritas ou representadas
nessa fase da nossa literatura e na que imediatamente se lhe segue. Desses apenas um ou outro nome no est de todo
esquecido. Tais so os de Carlos Cordeiro, Castro Lopes, Lus Burgain, Pinheiro Guimares, Agrrio de Meneses, Quintino
Bocaiva, cujo teatro de 1850 a 1870. Estes mesmos so apenas uma recordao cada dia mais apagada, pois no concorre
para aviv-la a sua obra dramtica que no mais se representa e ningum l.
Nesse momento, que corresponde segunda fase do Romantismo, as duas principais figuras do nosso teatro foram Jos
de Alencar e Macedo, j atrs como tais estudados. So dois talentos diversos, dois engenhos quase opostos. H mais arte,
mais gravidade, maior sentimento e respeito da literatura no primeiro que no segundo. Mas tambm menos espontaneidade,
menos naturalidade, menor vis comica e somenos dons de autor de teatro. Macedo o legtimo continuador de Martins Pena,
com melhorias de composio e mais largo engenho dramtico. , sobretudo, principalmente comparado com Alencar, um
autor burgus e para a burguesia, se lcito o uso de tais expresses aqui. Na representao da vida burguesa, ou antes da
vida medocre brasileira, nos deixou Macedo no seu teatro, como no seu romance, de parte os seus nunca emendados
defeitos de linguagem e estilo, exemplares estimveis. Geralmente tem as suas peas boas qualidades teatrais, e h atos seus,
como o primeiro de Luxo e vaidade, excelentes. A torre em concurso, que criou o tipo popular do capito Tibrio, embora
descambe na farsa, tem todo o sabor de uma crtica hilariante feita s nossas brigas polticas, das quais timo retrato.
Nesta, como na maioria de suas peas, mormente nas estremes de presunes literrias e portanto mais espontneas e
naturais, enredo, tipos, situaes, expresso, tudo muito nosso. Quaisquer que sejam as deficincias e defeitos do teatro de
Macedo, a vida brasileira ou mais propriamente a vida carioca do seu tempo, acha-se nele, como alis no seu romance,
sinceramente representada.
Alencar, natureza literariamente mais fina que Macedo, ao invs deste leva para a literatura vistas de artista e de pensador,
aponta mais alto. O seu teatro no quer ser, como o de Pena ou o de Macedo, a simples representao elementar da vida
nacional. Representando-a como melhor lhe permite o seu congnito idealismo, pretende tambm educar, Para Alencar, o
teatro, segundo o conceito no seu tempo incontestado, uma escola. Cabe-lhe a honra de haver trazido para a cena brasileira
o que depois se chamou o teatro de idias. Me (1860), drama cheio de defeitos, mas no sem intensidade e por partes belo,
uma das primeiras manifestaes literrias do sentimento nacional contra a escravido. O crdito (1858) trouxe para o
nosso teatro a questo do dinheiro, que com Dumas Filho, comeara a ser um dos temas do teatro francs. Tambm as
questes sociais e morais contemporneas acham eco ou encontram cabida no teatro de Alencar. No mais agudo da questo
religiosa aqui (1875), ele fez representar o Jesuta, malograda concepo de um tipo que o teatro no comportava tal qual
ele o concebeu, ao contrrio no s do que parece ser a verdade, mas, o que o importante, do conceito vulgar do jesuta. E
a inferioridade do teatro que ele no comporta o que abertamente contraria esses preconceitos.
Alencar, que tinha muito menos graa e veia cmica que Pena e Macedo, escreveu tambm puras comdias de costumes,
e uma delas ao menos ficou na nossa literatura teatral com a expresso arguta e espirituosa de um grave mal da nossa
sociedade, no de todo acabado com a extino da escravido: a influncia nefasta do moleque, da cria da casa, fmulo da
nossa intimidade, intrometido na nossa vida, e que, graas nossa proverbial bonacheirice ou desleixo e aos nossos costumes
extremamente igualitrios, toma nela uma situao desmoralizadora do decoro domstico. o Demnio familiar, rplica
indgena do criado ou lacaio da antiga comdia italiana, francesa e ainda portuguesa, mas na de Alencar, criao original,
filha somente da sua observao, da qual, porm, nem ele nem os seus mulos no souberam tirar todo o proveito que
porventura ela comportava.
O perodo da maior atividade de Alencar e Macedo, como escritores dramticos, vai de meados do decnio de 50 aos
fins do de 70. esse tambm o de mais vida do nosso teatro, quer como espetculo, quer como literatura dramtica. Com
estes dous escritores concorreram, alm de alguns dos j citados (Quintino Bocaiva, Agrrio de Meneses, Pinheiro Guimares
e outros somenos), Augusto de Castro, Aquiles Varejo, Frana Jnior, que sem notvel mrito literrio, tiveram entretanto
relativo e no de todo imerecido sucesso no palco.
Agrrio de Menezes, baiano (1834-1863), goza de uma reputao exagerada que a literatura da sua obra absolutamente
no justifica. O seu Calabar, to gabado quo pouco conhecido, como aqui muito freqentemente sucede, no lhe abona
nem a imaginao criadora, nem o estro potico. Como escritores de teatro, mais valor tm Pinheiro Guimares e Frana
Jnior. Aquele como dramaturgo, que principalmente foi, tem os mesmos defeitos de Macedo e Alencar, com menos
espontaneidade que o primeiro e pior estilo que o segundo. Frana Jnior, com muito da veia cmica popular de Martins
Pena, a mesma observao superficial dos tipos e ridculos sociais, a mesma graa um pouco vulgar no apresent-los, carece
da ingenuidade que reala o engenho de Pena. No teatro de Frana Jnior sente-se o trato com o teatro cmico francs. Em
todo caso, com Martins Pena e Macedo um dos nossos autores dramticos ainda porventura representveis.
No assinalado perodo no s muitos dos nossos literatos escreveram para o teatro e acharam quem lhes representasse
as peas, mas quem os fosse ouvir, o que nunca mais aconteceu. A nossa bibliografia teatral de ento a mais copiosa de toda
a nossa literatura e para ela no concorreu somente o Rio de Janeiro, mas outras capitais brasileiras, como Par, Maranho,
Cear, Pernambuco, Bahia, S. Paulo, Porto Alegre. Havia pelo teatro vernculo, brasileiro ou portugus, ou estrangeiro
nacionalizado por tradues aqui feitas (e numerosas foram ento as tradues do francs), interesse e curiosidade que
depois desapareceram de todo com a concorrncia do teatro estrangeiro, trazido por companhias adventcias. O espetculo
bem mais divertido e interessante por elas apresentado foi um tremendo confronto para o nosso teatro, que tambm no tinha
mais para ampar-lo aquele antigo ingnuo sentimento nativista, que tanto aproveitara aos iniciadores do nosso teatro e da
nossa literatura em geral. Ao contrrio com o desenvolvimento das nossas comunicaes com a Europa pela mais freqente
e mais rpida navegao a vapor, comeara a prevalecer na nossa sociedade o gosto extico. Antes floresceram vrias
empresas teatrais que ofereciam aos autores oportunidades de se fazerem representar e at lhes desafiavam o engenho. Nas
principais capitais do pas, companhias locais ou aventcias era certo darem em estaes adequadas espetculos com peas
nacionais, portuguesas ou traduzidas. Dos atores que as compunham escaparam alguns nomes, famosos no seu tempo, e que
ainda vivem na tradio. Alm dos da primeira hora do nosso teatro e seus fundadores, Joo Caetano, Florindo, Estela
Sezefreda, Costa, citam-se mais os de Joaquim Augusto, Furtado Coelho, Germano Amoedo, Vicente de Oliveira, Eugnia
Cmara, Ismnia dos Santos, Manuela Luci, Xisto Baa, Corra Vasques e outros.
Produto do Romantismo, o teatro brasileiro finou-se com ele. Parece-me verdade que no deixou de si nenhum documento
equivalente aos que nos legou o Romantismo no romance o na poesia. A literatura dramtica brasileira nada conta, ao meu
ver, que valha o Guarani ou a Iracema, a Moreninha ou as Memrias de um sargento de milcias, a Inocncia ou Brs
Cubas, os Cantos de Gonalves Dias ou os poemas da segunda gerao romntica.
O modernismo, ltima fase da nossa evoluo literria, nenhum documento notvel deixou de si no nosso teatro ou na
nossa literatura dramtica. O seu advento coincidiu com a inteira decadncia de ambos pelos motivos apontados. O naturalismo,
feio do modernismo que poderia ter infludo nesse gnero de literatura, tambm no produziu nada de distinto nela. Com
excelentes intenes e incontestvel engenho para o teatro, Artur Azevedo (1856-1908) no conseguiu seno tornar mais
patente o esgotamento do nosso, pela descorrelao entre a sua boa vontade e a sua prtica de autor dramtico. Vencidos
pelas condies em que o encontraram, e que no tiveram energia suficiente para contrastar, Artur Azevedo e os moos seus
contemporneos e companheiros no empenho de o reformarem (Valentim Magalhes, Urbano Duarte, Moreira Sampaio,
Figueiredo Coimbra, Orlando Texeira e outros) sem maior dificuldade trocaram as suas boas intenes de fazer literatura
dramtica (e alguns seriam capazes de faz-la) pela resoluo de fabricar com ingredientes prprios ou alheios, o teatro que
achava fregueses: revistas de ano, arreglos, adaptaes, pardias ou tambm tradues de peas estrangeiras. Intervindo o
amor do ganho, a que os romnticos tinham romanticamente ficado de todo estranhos, baixou o nosso teatro em propores
nunca vistas, e, por uma ironia das cousas, justamente no momento em que Artur Azevedo e os seus citados companheiros
lhe pregavam a regenerao nos jornais onde escreviam. Uma ou outra pea de valor literrio ou teatral que estes autores
fizeram no bastou para levant-lo. O pblico se desinteressava, e continuava a desinteressar-se, pelo que se chama teatro
nacional. E como s acudisse quele teatro de fancaria, de arreglos, revistas de ano e pardias, esses escritores pouco
escrupulosos tiveram de servir esse pblico consoante o seu grosseiro paladar.
Apesar da sua grande inferioridade relativamente fico novelstica e poesia, o nosso teatro e literatura dramtica
tm feies que no devem ser desconhecidas e desatendidas da crtica. Durante a poca romntica, foi intencional e
manifestamente nacionalista, e o foi ingnua e naturalmente, de assuntos, temas, figuras e, o que mais , de sentimento.
Ainda imediatamente depois inspirou-o o mesmo sentimento. Assim, as principais questes que agitaram o esprito pblico
pelo fim do Romantismo e logo depois a guerra do Paraguai, a questo religiosa, a da escravido, repercutiram no nosso
teatro, quer da capital, quer das provncias. No so poucas as peas, comdias e dramas, a que estas questes forneceram
temas ou deram motivo. Com todos os seus defeitos, apresenta o teatro brasileiro de 1850-1880, certos caracteres ou simples
sinais que lhe so prprios, e at lhe do tal qual originalidade, tirada da sua mesma imperfeio. Canhestros embora, e por
via de regra imitadores do teatro francs, os seus autores no so sempre copistas servis, e sobrelevam o seu arremedo com
um ntimo sentimento do meio, que ainda no tinha sido de todo amesquinhado ou extraviado pelo estrangeirismo logo
depois triunfante. Na comdia, em que se mostravam mais capazes, talvez porque em Martins Pena se lhe deparou modelo
apropriado, h em geral boa observao, representao exata e dialogao conforme as situaes, personagens e fatos. Por
via de regra tudo isto falta ao drama brasileiro, que ofende sempre o nosso sentimento da verossimilhana, qual mais do
que nunca somos hoje sensveis, e nos deixa infalivelmente uma impresso de artificialidade. Seja defeito da mesma sociedade
dramatizada, seja falha do engenho dos nossos escritores de teatro, fato que nenhum nos deu j uma cabal impresso
artstica da nossa vida ou representao dela que no venha eivada de mal disfarados exotismos de inspirao, de sentimento
e de estilo. Demasiados modismos estrangeiros de costumes, de atos, de gestos e de linguagem a desfiguram como definio
que presumem ser dessa vida e lhe viciam a expresso literria. A nossa sociedade, quer a que se tem por superior, quer a
mdia, no tem seno uma sociabilidade ainda incoerente e canhestra, de relaes e interdependncias rudimentares e
limitadas. Poucos e apagados so por ora os conflitos de interesses e paixes que servem de tema ao drama moderno. Carece
tambm ainda de estilo prprio nas maneiras e na linguagem. Tendo perdido no arremedo contrafeito do estrangeiro, isto
do francs, o seu carter cmico, no adquiriu ainda feies peculiares que lhe facultem a expresso teatral. Quanto
literria, esta no nosso teatro, e foi sempre, ainda mais defeituosa e insuficiente do que no nosso romance.
Com crassa ignorncia ou estlido menosprezo da nossa histria literria, esto agora mesmo tentando criar um teatro
nacional ab ovo, como se nada houvesse feito antes. As amostras at agora apresentadas desta tentativa no autorizam
ainda, acho eu, alguma esperana no seu bom sucesso.
Captulo XVIII
PUBLICISTAS, ORADORES, CRTICOS
SEGUNDO TEMOS VERIFICADO, no perodo colonial compunha-se sobretudo a nossa literatura de poesia, lrica ou
pica, com alguma rara e insignificante amostra da dramtica, e mais de crnicas, notcias e informes do pas, histria, obras
de edificao e moral religiosa e sermes. Com o Romantismo, com que lhe iniciamos o perodo nacional, apareceram
outros e mais variados gneros literrios, a filosofia, a crtica e a histria literria, o teatro, a oratria poltica e parlamentar,
a fico em prosa e as vernaculamente chamadas questes pblicas, ou publicstica, segundo o barbarismo em voga.
Esta como aquelas duas variedades novas de oratria, no podiam alis existir seno num regime de livre opinio e
publicao de pensamento que s com a Independncia tivemos. O estabelecimento da imprensa conseqente ao da sede da
monarquia portuguesa aqui, em 1808, sobre haver servido para estimular o sentimento nacional excitado por essa mudana
poltica, veio favorecer o advento de novas expresses da nossa atividade mental, naturalmente influda por esse mesmo
alvoroo. No foram poucas, embora sejam na maioria somenos, as publicaes de assuntos econmicos, polticos e sociais
feitas pela Imprensa Rgia, depois Imprensa Nacional, desde o ano da sua fundao at o da Independncia, j originais, j
tradues.
O movimento poltico que antecedeu e seguiu a Independncia suscitou vocaes de estudo e discusso das questes
pblicas de imediato interesse do pas. Aparece ento o mais clebre dos nossos publicistas, o criador dos estudos econmicos
e sociolgicos no Brasil, Jos da Silva Lisboa, visconde de Cairu, de quem j dissemos. Vm logo depois ou simultaneamente
com ele, os jornalistas cujos nomes acaso impertinentes na histria da nossa literatura, qual a concebemos, pertencem da
nossa formao poltica, e to notveis se tornaram que ainda hoje, no obstante nunca mais lidos, nos so familiares:
Hiplito da Costa (tinha o comprido nome de Hiplito Jos da Costa Pereira Furtado de Mendona), o fundador e redator do
Correio Brasiliense (1808-1822); Janurio da Cunha Barbosa, ento muito apreciado orador sagrado e poeta, e Joaquim
Gonalves Ledo, redatores do Revrbero Constitucional Fluminense (1821-1822); Jos Bonifcio, o padrinho e o mais
eminente estadista da Independncia, com o seu Tamoio (1823), e por fim, j ao cabo do perodo, Evaristo Ferreira da Veiga,
da Aurora Fluminense (1828-1835), jornal grandemente influente no seu tempo, sem falar dos escritores ou simples foliculrios
dos numerosos e efmeros jornais dessa poca agitada. J vimos que uma revista de exguo formato, mas de nome expressivo
e de inteno claramente nacionalista, o Patriota (1813-1814), fundada e dirigida pelo prestante polgrafo Manuel Ferreira
de Arajo Guimares, atuou utilmente na literatura imediatamente anterior ao Romantismo, agrupando como seus
colaboradores os homens de melhores letras do tempo.
Abundaram no momento da fundao do Imprio os jornais e panfletos polticos ou simplesmente facciosos que mais
que idias representavam as paixes de momento e lhes traziam no estilo os ardores e violncias. A literatura, porm, no
recolheu nenhum deles. Ainda os que com esses, ou posteriormente com a Aurora, mais doutrinais e mais bem escritos, se
tornaram relevantes pela ao que acaso tiveram, ou somente pela impresso que porventura fizeram, redigidos alguns por
indivduos considerveis, esses mesmos carecem de virtudes literrias que os faam viver seno como documentos para a
nossa histria poltica ou testemunhos do nosso pensamento poltico contemporneo. Entre tais opsculos e panfletos,
citam-se como mais notveis, isto , como tendo tido mais repercusso no seu tempo, Carta aos eleitores, de Bernardo de
Vasconcelos (1828); Faco aulica, por Firmino Rodrigues Silva (1847); Libelo do povo, por Timandro Sales Torres Homem
(1849); Ao, reao, transao, de Justiniano Rosa da Rocha (1855); Conferncia dos divinos, por Antnio Ferreira Viana
(1867); e, mais notavelmente, as Cartas de Erasmo, de Jos de Alencar (1865-66), s quais o grande nome literrio do autor
emprestou merecimento que talvez no tivessem.
Contemporneos destes, de uma atividade literria dispersiva e passada quase toda na provncia, a de Pernambuco,
donde ambos eram, foram dois escritores cujos nomes tiveram certa popularidade, no de todo extinta, Miguel do Sacramento
Lopes Gama (1791-1852) e Jos Incio de Abreu e Lima (1796-1869). O primeiro, alm de numerosas tradues do francs
e do italiano, de obras de filosofia, religio, economia poltica, educao, nenhuma importante, deixou poemas heri-
cmicos e satricos, e prosas tambm satricas, mas sobretudo conhecido pelo seu jornal da mesma natureza O carapuceiro
(Pernambuco, 1832-1847). Foi autor didtico e um dos escritores mais corretos do seu tempo. Abreu e Lima deixou na sua
terra natal, e ainda no Brasil ilustrado, o renome de um polgrafo notvel. Escreveu com efeito compndios de histria do
Brasil, polmica literria e religiosa, o primeiro livro sobre socialismo aqui publicado (O socialismo, Recife, 1855, 352
pgs.), obras de direito ou sobre questes pblicas, estudos diplomticos e mdicos, etc., tudo com certo vigor de estilo, mas
com graves falhas sob o aspecto da linguagem.
Quando o Imprio sai vitorioso das dificuldades dos seus primeiros vinte e cinco anos, e o Romantismo triunfara
inteiramente com esta literatura quase somente poltica, entram a aparecer escritos de outro e mais alto interesse e valor
sobre questes pblicas, problemas de administrao e economia nacional. Versaram-nos principalmente jornalistas muito
apreciados no seu tempo e cujos nomes chegaram at ns ainda celebrados, como Justiniano da Rocha, Saldanha Marinho,
Quintino Bocaiva (que fez tambm literatura escrevendo teatro e crtica e dirigindo revistas e empresas editoriais), Ferreira
Viana, Trres Homem, Jos Maria do Amaral (tambm bom poeta), Jos de Alencar, Otaviano de Almeida Rosa, Silva
Paranhos. Alguns destes e outros cujos nomes se lhes poderia razoavelmente juntar, se haviam ensaiado como publicistas
nas suas provncias, onde tambm floresceu esta literatura poltica. Como dentre essas o Maranho aquela cujo concurso
foi mais considervel e precioso para o nosso movimento literrio do Romantismo, foi tambm essa provncia que
principalmente contribuiu com alguns nomes, dos quais o maior o de Joo Lisboa, para aumentar a lista dos publicistas
brasileiros dessa poca. Em todo o pas, porm, nomeadamente em Pernambuco, Bahia, S. Paulo e Minas, foi ento notvel
a obra da imprensa jornalstica, que produziu alguns escritores de mrito, cujos nomes, apesar da forosa caduquez da sua
literatura, no esto ainda de todo esquecidos.
O publicista de livros de maior capacidade e de obra mais considervel desde o Romantismo ao Modernismo foi, alm
de Joo Lisboa, cujo Jornal de Timon literariamente o sobreleva a todos, Tavares Bastos (Aureliano Cndido, 1839-1875).
Consta a sua obra de Cartas do solitrio, estudo sobre vrias questes pblicas (1863), O Vale do Amazonas, estudos de
economia poltica, social e estatstica (1866), A Provncia (1870), estudo da mesma natureza sobre a descentralizao
poltica da nao, e mais meia dzia de obras menores. Distingue-as a todas a quase novidade de tais estudos aqui, onde
apenas se depararia algum feito com a mesma objetividade, a mesma sincera e desinteressada aplicao, a mesma seriedade
de intuitos e de pensamento, estreme de paixes partidrias ou tendncias egosticas. Se Tavares Bastos se no distingue por
notveis qualidades de escritor, o seu estmulo todavia fcil e corrente, e a sinceridade dos seus estmulos e a sua ntima
convico lhe do no raro vigor e brilho. Mais do que um simples penteador de frases, foi um disseminador de idias, que
germinaram e que a esto em parte realizadas. Foi em suma um precursor, de fato mais eficaz do que muitos cujos nomes
andam injustamente mais celebrados que o seu.
Mas obras como as suas, quando porventura no as salvam qualidades excepcionais de pensamento e expresso, perdem,
com a oportunidade que as motivou, o melhor do seu interesse. Se a histria literria pode lembr-las como um documento
a mais da atividade mental de uma poca, que ajuda a lhe completar a feio e relevar a importncia, a literatura qual
no se incorpora de fato se no o que por virtudes de ideao e de forma tem um interesse permanente as deixa de lado.
Quando Tavares Bastos publicava o seu ltimo livro, em 1870, iniciava-se j o movimento geral que ia modificar a
mente brasileira e as suas manifestaes escritas, e simultaneamente a feio poltica da nao. Dele era importante a
questo que aqui se chamou do elemento servil e que no seu mais saliente aspecto, a emancipao dos escravos, tanto
interessou e to intensamente alvoroou o pas. Dela h impresses notveis, e at fortes, na literatura nacional, no romance,
no teatro, na poesia, na oratria e nos estudos econmicos e sociais. Um poeta que acaso poderia vir a ser grande, Castro
Alves, celebrizou-se ento como cantor dos Escravos, ttulo do poema em que lhes idealizava a misria da condio e os
sofrimentos. A publicstica com este objeto foi abundante, e nela a declamao, a retrica, a oratria presumidamente
eloqente porque retumbante e ruidosa, deram-se largas. Alm de livros como os de Perdigo Malheiros, A escravido no
Brasil, ensaio histrico, jurdico, social (Rio de Janeiro, 1866-67), alis de distinto merecimento, e que antecedeu e preparou
a fase decisiva do movimento abolicionista, destacam-se outros de propaganda direta como os de Joaquim Nabuco, e os que
procuravam servir servindo causa do desenvolvimento econmico do pas, mediante outros fatores e processos que no o
escravo e a escravido, pelos seus autores condenados e combatidos. So exemplo dessa literatura subsidiria da propaganda
abolicionista Trabalhadores asiticos, de Salvador de Mendona, e Garantia de juros e Agricultura nacional, de Andr
Rebouas. , porm, o Abolicionismo, de Joaquim Nabuco (1833), a melhor manifestao literria do gnero e momento.
Tambm a questo religiosa, como aqui impropriamente se chamou ao conflito de dois bispos com o governo imperial
por motivo de interdio por aqueles, sem beneplcito deste, de irmandades religiosas, deu lugar ao aparecimento de livros
e folhetos discutindo a questo. ao cabo somenos o valor doutrinal e literrio dessa literatura. O mrito principal da
discusso acesamente travada entre regalistas defensores do poder temporal, ultramontanos propugnadores do pleno direito
da Igreja e livres-pensadores hostis a ambos, foi ter despertado aqui o eco de controvrsias histrico-poltico-religiosas
travadas na Europa e atingindo mesma religio oficial, desde ento mais desenganadamente posta em debate pblico, no
s no seu privilgio, mas na sua essncia. Como principais documentos da contenda ficaram: A Igreja e o Estado e vrios
opsculos com o mesmo motivo por Ganganeli (Joaquim Saldanha Marinho, 1873-1876), Direito contra o Direito, pelo
bispo do Par, D. Antnio de Macedo Costa (1874), A Igreja no Estado, por Tito Franco de Almeida (1874), Misso
especial a Roma em 1873 (1881) e o Bispo do Par ou a misso a Roma (1887), pelo Baro de Penedo (Francisco Incio de
Carvalho Moreira), e a longa, exaustiva e sbia Introduo posta pelo Sr. Rui Barbosa sua traduo do famoso panfleto de
Janus (o cnego Suo-Alemo Doellinger), O Papa e o Conclio (1877). Tambm o interesse e sabor destes e de muitos
outros escritos do mesmo motivo e ocasio, dos quais apenas poucos tero algum mrito intrnseco, desapareceram com as
circunstncias que os produziram.
Cabe aqui a interessantssima figura de Joaquim Nabuco. Historiador, crtico, socilogo, economista, orador parlamentar
ou tribuno popular e moralista, em tudo foi essencialmente um publicista, se por publicista podemos tambm entender o
escritor que escreve por amor e interesse da causa pblica e cuja ntima inspirao poltica. Temperamento de raiz poltico,
esprito curioso e interessado pela causa pblica e nimiamente sensvel aos seus movimentos e manifestaes, incapaz de
satisfazer-se de temas puramente literrios, Joaquim Nabuco, na maioria e no melhor do que escreveu, um escritor poltico
no mais alto significado da expresso. Nele, porm, exemplo talvez nico entre os nossos publicistas, o talento literrio
realou de tal maneira a feio poltica, que era a principal do seu esprito, que f-lo um verdadeiro, um grande escritor.
Constitua-lhe o talento literrio, alm da imaginao, que uma das suas faculdades dominantes, grande riqueza de ideao,
aumentada da facilidade de apropriar idias e afeio-las consoante o seu prprio esprito. Tinha mais peregrina distino de
pensamento e notvel capacidade de idias gerais. E os seus dons naturais de expresso graciosa e elegante, eloqente e
comovida, eram tais que no alcanaram mingu-las as suas insuficincias na lngua. Se no , como Macedo, Alencar ou
Machado de Assis, um literato, esses dons e mais as suas faculdades estticas, o seu fino sentimento artstico, fizeram dele
um dos mais completos e insignes homens de letras que temos tido.
Ao contrrio da mxima parte do escritores brasileiros, que quase todos tiveram origens medocres seno nfimas,
Joaquim Aurlio Nabuco de Arajo procedia de estirpe fidalga, da antiga nobreza territorial de Pernambuco, e era de uma
famlia senatorial. Seu av e seu pai foram senadores do Imprio e ocuparam nele altas situaes de administrao pblica.
Nasceu na capital daquela Provncia em 19 de agosto de 1849. Na respectiva faculdade formou-se em Direito. Diplomata no
princpio da sua vida pblica, como tal acabou embaixador em Washington, em 17 de janeiro de 1910. Entrementes foi
jornalista, parlamentar, propagandista da abolio da escravido, escreveu versos e ensaios, fez crtica e conferncias literrias
e polticas, publicou folhetos e livros, propugnou a Confederao das provncias sob o Imprio. Cado este, Joaquim Nabuco
fez-se por alguns anos o seu mais caloroso e brilhante paladino. A sua viva imaginao, a sua ativa inteligncia, o seu
profundo gosto de ao pblica e de notoriedade no lhe consentiam, ainda mau grado seu, deixar sem emprego um talento
em toda a sua fora e um esprito pouco feito para a absteno, o isolamento ou a intransigncia teimosa. Arrastado por estas
foras, procurou reconciliar-se com os nobres destinos da nossa ptria e, religiosamente, segundo a sua bela imagem,
envolveu a sua f monrquica na mortalha de prpura em que dormem as grandes dinastias fundadoras.
Apenas a trama do esprito de Nabuco seria brasileira, pelas heranas de raa onde haveria acaso uma gota de sangue
indgena, pela ao do meio rstico onde lhe passou a primeira infncia recontada por ele numa pgina imortal,
147
pela
influncia do ambiente em que se criou e fez homem, pelas suas afinidades de orgulho de estirpe com a gente consular de que
procedia. Mas o lavor e recamo posto nessa delgada trama nacional era todo estrangeiro, metade francs, metade ingls, e
pontos escassos mais firmes da cultura greco-romana. De formao, de ndole, de sociabilidade, mais um europeu que um
brasileiro. Nem era isso privilgio seu. Crescido nmero dos nossos intelectuais o compartilham com ele. Ele, porm, o foi
mais e mais distintamente que todos. A sua vida literria comeou (excetuadas as produes menores da adolescncia) por
um livro de versos em francs e acabou por um livro de pensamentos tambm nessa lngua, que porventura escrevia to bem
quanto a prpria. Nela ainda escreveu Le droit au meurtre, carta a Ernesto Renan sobre o LHomme Femme, de Dumas
Filho, e um drama em verso LOption, postumamente publicado.
Da literatura da sua lngua, a figura que melhor conheceu, quem sabe se no a nica que conheceu, e amou foi Cames.
Consagrou-lhe um livro, o primeiro que publicou em portugus, Cames e os Lusadas (Rio, 1872, in-8, 294 pgs.), e para
o cabo da sua vida, j embaixador nos Estados Unidos, trs conferncias em universidades americanas.
148
Nesse livro, do
qual ultimamente desdenhava, havia, com a marca indelvel de quem o escreveu, vistas certas e originais da nossa literatura.
Era, mesmo para o tempo, falha a sua erudio camonianna, e sua crtica, e ele prprio o reconhece, demasiado objetiva e
ainda muito escolstica. Atenuavam-lhe os defeitos essenciais, o belo dizer e os rasgos de talento que foram sempre, em
todos os assuntos, apangio seu.
Antes que o tomasse quase exclusivamente a poltica, fez conferncias, folhetins e artigos literrios ou artsticos, discursos
acadmicos, jornalismo poltico. Quando, por volta de 1880, comeou a maior campanha contra a escravido, de que todos
os brasileiros, pode dizer-se, se sentiam envergonhados, Nabuco entrou nela com todo o ardor de um corao desejoso de
servir uma nobre causa e ansioso da glria que da lhe resultaria. Entre os nossos abolicionistas da vanguarda foi ele talvez
o mais intelectual. Exteriorizou-se numa ao pblica a que o seu engenho literrio, os seus dotes de orador, o brilho da sua
personalidade e at a beleza do seu fsico e a elegncia do seu porte e maneiras emprestaram lustre singular. Alm de
discursos, conferncias, artigos de jornais, escreveu o livro O Abolicionismo, acaso o mais excelente produto, sob o aspecto
literrio, desse movimento. No era, como a maioria daqueles a que o assunto deu ensejo, obra de retrica propagandista,
declamatria ou altiloqente, seno livro de raciocnio e argumentao, em suma uma obra de pensador e escritor.
O melhor, porm, da sua obra literria, a que lhe assegura um eminente posto nas nossas letras, a faz nos quinze ltimos
anos, entre os 46 e os 61, de sua vida. So desse perodo os seus livros Balmaceda e a Guerra civil do Chile (1895), A
interveno estrangeira durante a revolta (1896) e, a maior e mais importante de todas, Um estadista do Imprio, J. F.
Nabuco de Arajo, sua vida e opinies: sua poca (1898), em que, com a vida de seu pai, poltico e jurisconsulto eminente,
historia uma fase importante do segundo imprio.
Embora inspirados todos de esprito poltico, mas do seu esprito poltico, muito diferente pela elevao e pela cultura
do que costuma ser aqui esse esprito, esses livros so eminentemente obra de escritor distintssimo, e encerram algumas das
mais belas pginas da prosa brasileira. Por este aspecto valem como argumento contra o preconceito do casticismo, provando
que um autor brasileiro de real talento literrio, isto , com as qualidades essenciais de pensamento, imaginao e expresso,
pode, a despeito do portugus estreme, ser em todo o vigor da expresso um grande escritor. Tal o foi sem dvida Joaquim
Nabuco. Tal fora tambm, embora com menor vigor e elegncia, Jos de Alencar. Estes exemplos, porm, so muito poucos,
e de forma alguma autorizam, mxime a quem no tenha as qualidades destes dous excepcionais escritores, o descuido da
lngua.
Outro publicista de talento, muito esprito, boa linguagem e estilo elegante, ensasta fecundo e original, polemista
vigoroso e agudo, um verdadeiro escritor em suma pelas peregrinas qualidades da sua ideao e expresso, Eduardo
Prado. Chamava-se com todo o seu nome Eduardo Paulo da Silva Prado. Nasceu na capital de S. Paulo de uma velha,
importante e opulenta famlia, ali vinculada, em 27 de fevereiro de 1860, e na mesma cidade formou-se em Direito e veio a
falecer em 30 de agosto de 1901.
A sua obra copiosa e foi toda feita em jornais e revistas, um pouco ao acaso das circunstncias e ocasies. Hoje acha-
se toda reunida em nove volumes e compe-se de artigos literrios, viagens, ensaios, discursos, crtica literria, social ou
poltica, polmica, etc. Na literatura brasileira, Eduardo Prado tem duas singularidades: ser um dos poucos seno o nico
homem rico e certamente o de mais valor que aqui se deu, sequer como diletante, s letras, e ser talvez em a nossa literatura
o nico escritor reacionrio. Refiro-me a escritor e no a polticos que ocasionalmente tenham escrito, nem a jornalistas,
cuja obra efmera no considero aqui. Joaquim Nabuco, conquanto catlico praticante e monarquista convicto, no pode ser
tudo por um reacionrio, porque achou jeito de conciliar com o seu catolicismo, porventura mais de imaginao que de
sentimento, o seu profundo liberalismo, e foi sempre, conquanto aristocrata de raa e temperamento, irredutivelmente um
liberal, um democrata em poltica. Eduardo Prado, que em tudo, em costumes, em opinies e gostos, parece ter sido um
diletante, um esprito cosmopolita, pode ser que fosse tambm em crena religiosa e poltica. A sua curiosidade intelectual,
o seu gosto do novo e do extico, diga-se, a dose de esnobismo que havia nele, e certo senso de elegncia e mudanismo hostil
nossa baixa democracia, e mais a sua freqentao de meios monrquicos e reacionrios de Paris, explicam talvez o seu
reacionarismo catlico e monrquico, em oposio com a sua natural independncia mental e irreverncia espiritual. o
nosso mais acabado tipo de diletante intelectual, do amador das coisas de esprito. E amador e diletante o foi em tudo, com
bom humor, muito esprito e inconseqentemente. Com pontos de contato com Nabuco, no tem o seu talento, e menos a sua
seriedade espiritual. O brilho mundano da sua existncia de moo rico e prdigo, as suas longas viagens, a sua existncia
europia, o seu ntimo comrcio com homens de letras europeus, deram-lhe um prestgio que a sua s obra literria, alis
documento de talento literrio pouco vulgar, acaso no lhe teria s por si dado. Aumentou-lho a perseguio tolamente feita
pelo Governo Provisrio da Repblica ao seu brilhante panfleto A ditadura militar no Brasil e a atitude por ele tomada em
face no s da Repblica mas do geral sentimento liberal do pas.
Como escritor, Eduardo Prado foi, em suma, um jornalista, porm com mais talento, mais esprito, mais cultura e mais
experincia do mundo que o comum deles. Da causa pblica teve menos o interesse que a curiosidade do seu elemento
dramtico. A poltica foi-lhe apenas um tema literrio, que tratou com a desenvoltura de um esprito no fundo ctico e
paradoxal.
A publicstica, no seu mais exato sentido de literatura das questes pblicas, nunca de fato se incorporou aqui literatura
propriamente dita ou a enriqueceu com exemplares de maior valor que o ocasional e de emoo menos efmera que a do
momento. Salvo em um ou outro jornalista de mais vigoroso pensamento e de mais perfeita expresso, como Justiniano da
Rocha, Otaviano Rosa, Quintino Bocaiva e os j atrs citados Tito Franco de Almeida, Saldanha Marinho, Ferreira Viana,
Jos de Alencar e outros, e mais perto de ns Salvador de Mendona, Ferreira de Arajo, Ferreira de Meneses, Leo Veloso,
Rodolfo Dantas, Belarmino Barreto, Jos do Patrocnio, cujos nomes, acaso por outros motivos que os puramente literrios,
sobrevivem, careceu sempre a nossa publicstica de qualidades com que se pudesse legitimamente incorporar na nossa
literatura e viver nela por obras sempre estimveis. Joaquim Nabuco e Eduardo Prado apenas so publicistas por parte de
sua obra e pela inteno poltica de quase toda ela.
Mais ainda do que a publicstica, a oratria poltica no podia existir antes de um regime de livre discusso, qual o aqui
inaugurado com a Independncia. Os sucessos que imediatamente a precederam, bem como os que se lhe seguiram, deram
justamente lugar ao aparecimento de sociedades e clubes patriticos, juntas de governo e assemblias polticas por amor
dela convocadas, donde resultou essa espcie de eloqncia num pas que at ento outra no conhecera que a sagrada ou,
em importncia e escala muito menor, a acadmica.
A primeira teria alis nesta fase da nossa histria um brilho que ainda se no apagou de todo da tradio. Foram seus
mais eminentes cultores e deixaram alguns documentos que at certo ponto lhes justificam a fama contempornea, Sousa
Caldas, o vigoroso poeta lrico do qual alis como pregador apenas resta a memria do apreo em que o tiveram os seus
ouvintes; Fr. Francisco de S. Carlos, o secundrio poeta da Assuno da Virgem; Fr. Francisco de Sampaio e o cnego
Janurio Barbosa, ambos jornalistas e agitadores polticos, e o ltimo medocre poeta e estimvel literato, e, finalmente, o
maior de todos, Monte Alverne.
Este com S. Carlos e Sampaio formaram um trio de oradores sacros que no seu tempo, em que ainda se apreciava o
gnero, e ir ao sermo era um dos poucos divertimentos da populao e dos raros recreios da gente culta, se disputavam a
preferncia do pblico e a primazia do plpito. Deu-lhes principalmente relevo oratria, sobretudo a de Monte Alverne,
que decididamente os sobreleva a todos, o terem-na exercitado no momento de comoo poltica e alvoroo patritico, que
lhes atuou na facndia e lhes deu ao estro uma emoo nova e renovadora da cansada eloqncia sagrada aqui em antes
praticada. Pode dizer-se que neles, que no foram somente pregadores mas oradores patriticos e ainda polticos, preludia a
oratria poltica de 1823.
Francisco de Monte Alverne nasceu no Rio de Janeiro em 9 de agosto de 1784 e faleceu em Niteri a 2 de janeiro de
1858. A sua atividade oratria vai de 1819 a 1856, isto , passa-se na poca climatrica que imediatamente precedeu e
seguiu a da Independncia e fundao do Imprio, cujo extremo propugnador foi. Aparece como uma das vozes do sentimento
nacional nesse momento exuberante de entusiasmo. Segundo as notcias, umas ainda pessoais, outras tradicionais e algumas
escritas que dele temos, e que a sua obra confirma, foi uma bela figura de frade soberbo, personalssimo, ingenuamente
desvanecido do seu saber e facndia. Este manifesto, mas no antiptico, contraste entre a humildade reclamada pelo seu
instituto e o seu orgulho intelectual, e mais as circunstncias do tempo, lhe fizeram a fisionomia particular e distinta que tem
na nossa vida mental. Professor de filosofia, mestre sem alguma originalidade, mas eloqente e dominador, teve por discpulos,
dos quais se soube fazer admiradores e devotos, boa poro dos homens que vieram a intelectualmente florescer nos anos
subseqentes e o melhor da mocidade do tempo. Exerceu grande influncia talvez a primeira de ordem mental que aponte
a nossa histria literria nas jovens geraes que com ele aprenderam ou o ouviram. Durante todo o perodo romntico,
poetas e prosadores o celebraram em biografias e notcias, em poemas que lhe dedicam ou lhe comemoram o engenho. No
demais dizer que, para as geraes suas contemporneas ou imediatamente posteriores ele foi o primeiro dos nossos heris
intelectuais. No os enganava a intuio dos romnticos. Pelo seu arrogante pessoalismo, pela sua exuberante individualidade,
pela mistura na sua oratria de emoes patriticas e religiosas; e pela sua indisciplina, sem quebra alis da sua austeridade
monstica, espiritual, e mais pelo tom e estilo pitoresco dos seus sermes, onde sentimos estes vrios impulsos, foi Monte
Alverne o verdadeiro precursor do Romantismo aqui.
A primeira eloqncia poltica brasileira, inaugurada na Assemblia Constituinte de 1823, tem uma dupla feio. Por
mais de um rasgo lembra a oratria da Revoluo Francesa, em cuja histria eram lidos os principais de seus membros, e
ressuma algo tambm da oratria sagrada da nossa lngua, que era o modelo mais presente aos iniciadores dessa eloqncia
aqui. Alguns deles j o haviam alis ensaiado nas juntas e sesses polticas de antes da Independncia ou a tinham praticado
como deputados do Brasil nas Cortes de Lisboa, em 1821. Mas os mesmos oradores portugueses destas seriam bisonhos
parlamentares, cuja educao oratria, feita sob o duplo influxo da eloqncia revolucionria francesa e do sermo nacional,
no podia ser aos nossos de grande exemplo.
Como o sermo, o discurso poltico, salvo casos sempre raros de peregrinas excelncias de fundo e forma, por sua
mesma efemeridade e contingncia, como pelo ocasional dos seus motivos e inspirao, s muito excepcionalmente conserva
o interesse da emoo original. Nem sequer concorria aqui para prolong-lo alm da sua hora, o livro que os recolhesse.
Apenas o Anais das assemblias onde foram proferidos lhes guardaria o eco, de todo extinto alis nesses cartapcios nunca
lidos.
Teve a Constituinte alguns oradores notveis, dos quais se pode dizer que o eram mais de nascena que de feitura. O
maior deles, ao menos o mais clebre, foi Antnio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (1775-1845), cuja fama
vinha das Cortes portuguesas de 1821, e devia confirm-la a sua ulterior carreira de orador em assemblias posteriores
Constituinte.
Nestas, os nomes cuja reputao excedeu ao seu tempo so os de Rebouas, Maciel Monteiro, Rodrigues dos Santos,
Bernardo de Vasconcelos, Sousa Franco, Alves Branco, Nabuco de Arajo, Rio Branco, Silveira Martins, talvez o maior de
todos nas qualidades propriamente oratrias, Torres Homem, Jos de Alencar, Jos Bonifcio, o Moo, cujos discursos lidos
hoje lhe no abonam a fama contempornea, Joaquim Nabuco, Fernandes da Cunha. Destes, bem poucos, fora dos Anais
parlamentares, deixaram documento escrito por onde possamos avaliar-lhes, quanto um orador pode ser julgado pelo discurso
no ouvido, o fundamento da celebridade. Temos, pois, que contentar-nos com a tradio. Segundo esta, foram estes, com
alguns mais, e muito antes bons parlamentares, bons discutidores, que oradores, os melhores exemplares da nossa oratria
poltica. Literariamente, salvo as excees de um Rebouas, um Maciel Monteiro, um Nabuco pai e filho, um Torres Homem
e um Jos de Alencar, pouco valem. Rarssimos sero os seus discursos cuja leitura no nos seja agora displicente. que
sobretudo oradores de negcios, segundo a expresso francesa, isto de questes polticas ou partidrias de ocasio, o
interesse das suas arengas passou com o dos seus motivos, e tanto mais completamente quando por via de regra eles no lhes
souberam dar qualidades de pensamento e de expresso que as fizessem viver.
A crtica no Brasil nasceu com as academias literrias do sculo XVIII. Os seus primeiros ensaios foram os pareceres ou
juzos nelas apresentados sobre os trabalhos sujeitos sua apreciao. Continuavam esses pareceres o costume portugus,
tambm oriundo das academias, de que as nossas foram um arremedo. Eram por via de regra inchados de pensamento e de
expresso, grvidos de erudio literria contempornea e, como estalo de estima, usavam rigorosamente a pauta da retrica
clssica consoante Horcio e Quintiliano, e aferiram das obras conforme elas lhes pareciam ou no acordes com essas
pautas. A inspirao geral desses primeiros ensaios de crtica, no s aqui mas em Portugal aos quais cumpre juntar os
juzos dos censores oficiais, que s vezes se desmandavam em crticos, era de regra exageradamente benvola, e facilmente
escorregava para os mais desmarcados encmios e excessivos louvores, em linguagem, como era a literria da poca,
trgida e hiperblica. Dizendo, por exemplo, de um ruim poema feito Virgem Maria pelo poeta Jos Pires de Carvalho e
Albuquerque, hoje absolutamente ilegvel, os crticos chamavam-se ento censores da Academia dos Renascidos,
asseveravam que o livro do seu confrade continha em si matrias to sublimes e cantos to suaves, que aparece ser todo
inspirado do cu, ainda que organizado na terra, favor na verdade particular de que foi dotado o autor, no s como devoto,
mas como poeta. E no satisfeitos, acrescentaram: to sublime a musa do nosso acadmico que a sair do eminente cume
do Parnaso s passaria como passou ao mais elevado pice do Olimpo.
149
149
Apud Fernandes Pinheiro, Rev. do Inst. Hist., XXXII, 59.
No fora impossvel ou sequer difcil mostrar ainda agora ressaibos deste estilo de crtica em quejandos documentos das
nossas sociedades literrias e nos mesmos crticos de ofcio. Com poucas excees permaneceu este estilo essencialmente o
mesmo at o advento do modernismo, cujo esprito foi notavelmente crtico, sem que entretanto lograsse refug-lo de todo
da crtica indgena. No raro aquele tom empolado da velha crtica portuguesa para aqui transplantada foi apenas substitudo
por mal assimiladas novidades pseudofilosficas por pseudocientficas expressas em nova forma de gongorismo, que, como
o outro, nos vinha tambm de Portugal.
A crtica como um ramo independente da literatura, o estudo das obras com um critrio mais largo que as regras da
retrica clssica, e j acompanhado de indagaes psicolgicas e referncias mesolgicas, histricas e outras, buscando
compreender-lhes e explicar-lhes a formao e a essncia, essa crtica derivada alis imediatamente daquela, pelo que lhe
conservou alguma das feies mais antipticas, nasceu com o Romantismo. Precedeu-o mesmo, nos estudos biogrficos e
literrios do Patriota, de Arajo Guimares, do Parnaso Brasileiro, de Cunha Barbosa, de Niteri, de Gonalves de Magalhes
e Porto Alegre. Era, porm, sobretudo louvaminheira e derramada em impertinentes consideraes gerais, e acreditava
ingenuamente que preconizar a produo literria nacional era o mesmo que valoriz-la e que o louvor, ainda indiscreto,
seria estmulo bastante ao fomento das nossas letras. Esse estmulo imprudente achou-o que fartasse o Romantismo na
crtica, que com ele surgiu em jornais e revistas como a citada Niteri, a Minerva Brasiliense, a Guanabara, a Revista do
Instituto e mais tarde a Revista Popular e outras publicaes semelhantes. E no se pode dizer que esta crtica ainda
nimiamente encomistica, e que convencidamente atestava de primas obras cuja leitura nos hoje insuportvel, no tenha,
em suma, tido uma ao benfica. falta de outro qualquer prmio do seu esforo, encontravam nela os autores o favor
com que mais se acende o engenho. Apenas a maioria delas no teria o que acender.
Iludindo-os sobre o seu prprio merecimento, essa crtica no s os desvairava, mas desservia os que acaso tinham e
cujos defeitos ela se abstinha, por mal entendida caridade, de apontar, faltando assim sua tarefa de educar o pblico, que
mui confiadamente a seguia. Com essa crtica que se traduzia em louvores indiscretos acompanhados de divagaes a mais
das vezes ociosas e at impertinentes, crtica ainda em suma retrica, surgiu pela mesma poca a crtica erudita e mais a
histria literria, seu natural suporte. Desprezadas, como de razo, umas primeiras malogradas tentativas de Cunha Barbosa,
Magalhes, Ferreira da Silva, o criador dessa espcie de crtica aqui, e simultaneamente da histria da nossa literatura, foi
Varnhagen. ele, com efeito, o primeiro que pesquisa e assenta, com dados seguros, fatos e datas literrias, e os correlaciona
com a nossa evoluo poltica, o primeiro que estuda diretamente os autores, descobre alguns apenas vagamente conhecidos,
publica-lhes ou revela-lhes as obras, identifica-os ou comprova-lhes a existncia e atividade. Foi com efeito o primeiro que
investigou com capacidade de erudito e um critrio que essencialmente o mesmo da nossa posterior histria literria, as
nossas origens literrias, e fez das nossas letras a exposio mais cabal e exata que at ento se fez. Foi igualmente o
primeiro que as viu no seu conjunto e no s na sua poesia, como mais ou menos o fizeram os seus predecesores, e, embora
de relance, ocupou-se de todos os autores nacionais que pode conhecer, e ainda de portugueses abrasileirados pela sua
estadia no Brasil e preocupaes brasileiras, fossem poetas ou historiadores, moralistas, viajantes, cronistas, economistas,
etc. Alguns descobriu e desencavou e divulgou de escusos repertrios portugueses, corrigindo datas, aventando informaes
ignoradas, emendando outras, publicando antologias e edies crticas dos nossos poetas e de escritores de cousas brasileiras.
Este trabalho, grandssimo e importantssimo para o tempo, f-lo ele na edio dos picos Brasileiros (1845), no Florilgio
da poesia brasileira (1850) e na Histria geral do Brasil (1854-57), em memrias, monografias e artigos da Revista do
Instituto e outras publicaes. No Florilgio assentou, em bases que no foram ainda sensivelmente modificadas, a histria
da nossa literatura. Nas 54 pginas do Ensaio histrico sobre as letras no Brasil, que vem como introduo desse precioso
livrinho, acham-se pelo menos indicados o critrio etnolgico como elemento das investigaes da nossa literatura e da sua
mesma inspirao, o elemento indgena americano como concorrente nela, as origens imediatas ou o primeiro impulso da
poesia e do teatro no Brasil, a necessidade de serem os nossos poetas sobretudo americanos, o interesse da poesia popular,
a correlao dos fenmenos mentais com os sucessos histricos e outros que muito posteriormente seriam trazidos luz
como novidade da ltima hora.
Neste gosto e trabalho de investigao da histria da nossa literatura o seguiu, com menor cabedal de conhecimentos e
menor capacidade, mas com igual boa vontade e no sem sucesso, Norberto Silva. Devemos-lhe principalmente um mais
exato conhecimento dos poetas mineiros, vrios estudos biogrficos literrios e alguns ensaios de uma histria da nossa
literatura, que no chegou a escrever. Tambm Porto Alegre fez crtica literria e foi aqui o criador da crtica artstica. Como
tal devem-se-lhe os primeiros estudos sobre a nossa pintura e arquitetura e da iconografia e msica brasileira, publicados no
Ostensor, na revista Guanabara, no ris, na Revista Brasileira e na Revista do Instituto, entre 1845 e 1856. O entusiasmo
patritico dos da sua gerao levou-o inveno indiscreta de uma escola fluminense de pintura. Outros romnticos da
primeira hora, Magalhes, Macedo, Ferreira da Silva, Gonalves Dias, fizeram igualmente crtica literria. Pelo tempo
adiante, com certa assiduidade e algum mrito, Paula Menezes, Dutra e Melo, Paranhos Schutel, Jaci Monteiro; e alguns
estrangeiros que aqui colaboraram com os nossos na constituio da nossa literatura nacional, tais os franceses Burgain e
Adet, o espanhol Pascoal, o chileno Santiago Nunes Ribeiro, os portugueses Zaluar e Montoro distinguiram-se como crticos.
Essa crtica, porm, foi sempre feita dispersamente em jornais e revistas, e nunca se sistematizou. Raro era outra cousa que
um artigo de ocasio a favor de um livro ou autor. Toda ela tendia exaltao freqentemente inconsiderada da mente
nacional e dos seus produtos. patritica como a literatura que lhe servia de assunto. Mais tarde e serodiamente, o mau
exemplo das brigas literrias da guerra dos poetas e das arcdias portuguesas produziu aqui os seus efeitos na acrimnia,
na diatribe, nos doestos e at na arrogncia doutrinria, que muitas vezes substituram a longanimidade e complacncia da
nossa primitiva crtica.
Na segunda gerao romntica, lvares de Azevedo escreveu alguns ensaios de crtica, que por lampejos de talento,
novidade de idias gerais e qualidades da expresso literria sobrelevam o que aqui se fazia no gnero, e mostravam ainda
uma vez a compassibilidade da crtica e da criao esttica. Junqueira Freire, outro poeta dessa gerao, tambm se ensaiou
na crtica, com menos romantismo e acaso mais agudeza que lvares de Azevedo, mas tambm mais de passagem ainda que
este. Fizeram-na igualmente em jornais, outros poetas e prosadores desta fase, nomeadamente Bernardo Guimares e Jos
de Alencar, que reuniu em livro a sua crtica da Confederao dos Tamoios, de Magalhes (1856).
Feita assim dispersamente, ao acaso dos ensejos, sem seqncia nem sistema, como uma manifestao pessoal de
impresses recebidas dos livros lidos, mas talvez por amor dos autores que da literatura, como um estmulo ou um reclamo,
e tambm s vezes, mas raras, como um antema, no chegou essa crtica a ser um gnero literrio separadamente cultivado.
E os seus produtos havemos de ir busc-los em jornais e revistas, prefcios de livros ou reproduzidos e citados em pginas
posteriores. Quem mais sistematicamente a fez depois das duas primeiras geraes romnticas, pelo menos como professor
oficial de literatura, foi o cnego Fernandes Pinheiro, que deixou dois livros considerveis de matria cujo docente era no
Colgio de Pedro II, Curso elementar de literatura nacional (1862) e Resumo da histria literria (1873). De fundo
prprio, quer de erudio, quer de pensamento, pouco havia do autor destes livros, onde se continuavam extemporaneamente
sistemas crticos j ao tempo obsoletos. Demais, apesar do ttulo, o seu Curso era sobretudo de literatura portuguesa, para o
qual o autor achava o trabalho j feito. A brasileira, mormente no seu mais importante perodo, o nacional, apenas ocupava
algumas pginas. Com melhor sentimento literrio, com mais fina percepo esttica, e sobretudo com muito melhor estilo,
mas apenas acidental e esporadicamente, tambm fez crtica Machado de Assis.
Ao tempo em que o cnego Pinheiro professava aqui as lies, que depois tirou em livro, um outro professor de
literatura no Maranho, Sotero dos Reis, fazia o Curso de literatura brasileira e portuguesa, publicado depois em quatro
tomos, de 1866 a 1868. Com o seu desenvolvimento e propores, no s a primeira obra de estudo histrico literrio e
crtico da nossa literatura, mas ainda da portuguesa, e era na nossa lngua uma novidade. Transplantava Sotero dos Reis para
ela, como ainda no seu tempo foi notado, a renovao da crtica operada em Frana por Villemain. Abalizado conhecedor
por um comrcio mais direto do que o tinha o cnego Pinheiro das letras portuguesas e do seu desenvolvimento aqui, fez
delas mais cabal exposio que se podia ento querer. O processo histrico, que era o daquele seu principal modelo, levou-
o ao estudo, acaso por demais particularizado, da literatura portuguesa, de suas origens at ao fim do sculo XVIII. No
estudo da literatura brasileira, que ocupa parte menor do seu Curso, Sotero dos Reis no lhe remontou s origens nem lhe
acompanhou a evoluo. Exp-la por alguns dos seus tipos mais preeminentes como o fazia Taine com a literatura inglesa
comeando em Santa Rita Duro e vindo at Gonalves Dias. Nunca, porm, se fizera estudo to completo e com to boa
arte de composio literria, e em suma to bem feito como no livro de Sotero dos Reis.
Menos ainda do que qualquer dos gneros literrios aqui versados, no se constituiu a crtica em aplicao particular da
atividade literria. E como no tivesse outra doutrina que o gosto pessoal dos que eventualmente a faziam, fosse pura
externao de impresses individuais, mais no intuito de louvor ou censura, que no de exame e explicao da obra, afetasse
um tom retrico e ordinariamente se excedesse em divagaes escusadas de trivialidades literrias ou em banalidades
conceituosas, essa crtica, afora o que propriamente histria literria feita por um Varnhagen, um Norberto, um Sotero e
ainda um Fernandes Pinheiro, apenas deixou de si um outro documento estimvel. Nada obstante foi til e, ainda com as
suas falhas e defeitos, serviu ao desenvolvimento das nossas letras.
O movimento que tenho chamado de modernismo e cujo mais evidente sinal foi, como o europeu de que se originou, o
esprito crtico, deu aqui crtica outra direo e outros critrios.
A revolta da escola coimbr, em Portugal, contra o que um dos seus chefes chamou as teocracias literrias do velho
Reino, o resto de pseudoclssicos, de anacrnicos rcades ou de serdios romnticos que, com Antnio de Castilho testa,
entorpeciam a evoluo literria portuguesa, no s ecoou aqui, mas influiu, acaso mais poderosamente que o coevo pensamento
europeu, no motim que aqui tambm se levantou contra os nossos escritores consagrados. A este alvoroto brasileiro faltou,
porm, a coeso que teve o portugus, e ficou longe da importncia daquele. A sua inspirao ou antes os seus inspiradores
estrangeiros foram diversos: Sainte-Beuve, Taine, Scherer, Renan, Spencer e at Comte, no obstante a sua averso sistemtica
crtica, e tambm os muito proclamados mas de fato pouco sabidos crticos alemes de nomes estranhos aos nossos
ouvidos. Se a reao pela cultura germnica em Portugal, atuadora da nossa, fez ali uma dzia de germanistas capazes, aqui
no conseguiu formar sequer a metade, o que prova a inconscincia do arremedo e a inconsistncia do movimento e
concomitantemente a nossa madraaria nacional. Salvo Tobias Barreto, que foi o mais distinto prcer do movimento e cuja
cultura germnica parece ter sido cabal, os nossos outros germanistas seus discpulos ou seguidores a fizeram superficialmente
e atravs do francs.
Como quer que seja, operou-se um salutar movimento de reao e houve manifesto alargamento do nosso esprito
literrio e do nosso esprito em geral. Comeou-se a compreender que a crtica tinha um papel distinto e uma funo
necessria na literatura e a abandonar os seus processos puramente retricos por outros em que entravam novos elementos
de considerao na apreciao das obras literrias, a histria, a psicologia, a etnografia, a sociologia, a poltica, enfim
quanto atuava os escritores e os podia explicar e s suas obras. Em 1873, em um artigo em que lcito enxergar o influxo das
idias que iam dar nova direo ao nosso pensamento literrio e crtica, Machado de Assis, verificando a carncia aqui da
crtica como ofcio literrio, lastimava-lhe a falta e reclamava-a como uma necessidade da nossa literatura.
150
De 1875 em
diante entram a aparecer livros propriamente de crtica, os Ensaios e estudos de filosofia e crtica, desse ano, e os Estudos
alemes, de 1883, de Tobias Barreto, a Crtica e literatura, do malogrado escritor do grupo literrio formado no Cear por
esse tempo, Raimundo Antnio da Rocha Lima (1878). Outro escritor desse grupo, Araripe Jnior (Tristo de Alencar 27
de julho de 1848 29 de outubro de 1911, Fortaleza, Cear), conquanto se houvesse ensaiado, alis sem nenhum sucesso,
na fico, foi principalmente um crtico, j em jornais e revistas da sua terra natal, de Pernambuco e do Rio, j em livros,
Jos de Alencar (1882), Gregrio de Matos, Movimento literrio e outros. Seguindo muito de perto as doutrinas crticas de
Taine, esforou-se por pratic-las e divulg-las aqui, temperando-as entretanto com a sua fantasia, incongruente com o
esprito geomtrico do seu apregoado mestre, e fazendo da complacncia imoderado uso. Entre os nossos livros de crtica
desse momento, destacam-se pelo seu volume e importncia os Estudos sobre a literatura brasileira; O lirismo brasileiro
(1877), do escritor maranhense domiciliado em Portugal, Sr. Jos Antnio de Freitas discpulo muito fiel do Sr. T. Braga; o
Cames e os Lusadas (1872), de Joaquim Nabuco, mais explanao entusistica, feita alis com talento, que apreciao
crtica; os Estudos crticos, por Slvio Dinarte (Escragnolce Taunay, 1881-1883, 3 vols.). Mas o primeiro dos escritores
brasileiros que, de parte um breve e malogrado excurso pela poesia, fez obra copiosa de crtica geral e particular, o Sr.
Slvio Romero, simultaneamente discpulo, por Tobias Barreto, dos alemes e, muito mais diretamente, dos franceses por
Taine e Scherer, pelo que da literatura propriamente dita, e de Spencer, Haeckel, Noir e Iehring, pelo que filosofia e
pensamento geral.
singular que o maior e mais universal dos crticos franceses do sculo passado, o que mais influncia exerceu no seu
tempo, mesmo fora da Frana, Sainte-Beuve, tenha muito pouco infludo, ao menos de modo direto e claro, na constituio
definitiva da nossa crtica, como atividade literria distinta. S talvez em Machado de Assis se lobriga algo do seu exemplo.
Captulo XIX
MACHADO DE ASSIS
CHEGAMOS AGORA AO escritor que a mais alta expresso do nosso gnio literrio, a mais eminente figura da nossa
literatura, Joaquim Maria Machado de Assis. No bairro popular, pobre e excntrico do Livramento, no Rio de Janeiro,
nasceu ele, de pais de mesquinha condio, a 21 de junho de 1839. Nesta mesma cidade, donde nunca saiu, faleceu, com
pouco mais de 69 anos, em 29 de setembro de 1908. A data do seu nascimento e do seu aparecimento na literatura o fazem
da ltima gerao romntica. Mas a sua ndole literria avessa a escolas, a sua singular personalidade, que lhe no consentiu
jamais matricular-se em alguma, quase desde os seus princpios fizeram dele um escritor parte, que tendo atravessado
vrios momentos e correntes literrios, a nenhuma realmente aderiu seno mui parcialmente, guardando sempre a sua iseno.
So obscuros e incertos os seus comeos, os informes que deles h, duvidoso ou suspeitos. Ningum na literatura brasileira
foi mais, ou sequer tanto como ele, estranho a toda a espcie de cabotinagem, de vaidade, de exibicionismo. De raiz odiava
toda a publicidade, toda a vulgarizao que no fosse puramente a dos seus livros publicados. Do seu mesmo trabalho
literrio, como de tudo o que lhe dizia respeito, tinha um exagerado recato. Refugia absolutamente s confidncias tanto
pessoais como literrias. Por cousa alguma quisera que as humildes condies em que nascera servissem para exalar-lhe a
situao que alcanara. Ao seu recatadssimo orgulho repugnava, como um expediente vulgar, fazer entrar no lustre que
conquistara esse elemento de estima. A sua biografia eram os seus livros, a sua arte era a sua prospia. No lhes quis misturar
nada que pudesse parecer um apelo benevolncia dos seus contemporneos em prol da exaltao do seu nome. Fazer
reclamo da mesquinhez das suas origens, como to vulgar, lhe era profundamente antiptico. S a incapacidade de
compreender natureza to finamente aristrocrtica como Machado de Assis e a esquisita nobreza destes sentimentos poderia
reprochar-lhos.
Era dos engenhos privilegiados que, sentindo fortemente a vocao literria, com a clara conscincia da necessidade de
ajud-la pela aplicao e trabalho, a si mesmo se educam. Fez-se ele prprio. Teria apenas freqentado a nfima escola
primria da sua meninice, aprendido ao acaso das oportunidades algo mais do que ali lhe ensinaram, e lido assdua e
atentamente. Precisando cuidar muito cedo de si, pois os pais, sobre pauprrimos, lhe morreram quando lhe comeava a
puberdade, trabalhou ento, ao que parece, como sacristo da Igreja da Lampadosa, e depois caixeiro da pequena Livraria
e Tipografia de Paula Brito, prazo dado dos escritores feitos ou por fazer da poca. Talvez ali se iniciasse na arte tipogrfica,
que mais tarde parece exerceu como compositor na Imprensa Nacional. Desde 1856 pelo menos se encontram na Marmota
Fluminense, jornal de modas e variedades, editado e redigido por aquele singular, estimvel e prestimoso amador das
nossas letras que foi Paula Brito, e colaborado por nomes depois nela notveis, alguns poemas seus. Tem o tom
melancolicamente sentimental, a religiosidade romntica e tambm laivos de descrena, da poesia daquele decnio.
151
de
crer que Machado de Assis houvesse versejado desde antes dessas datas. Depois da Marmota, encontram-se-lhe versos na
Revista Popular e Jornal das Famlias, de Garnier, na Biblioteca Brasileira, de Quintino Bocaiva, e no Dirio do Rio de
Janeiro, de 1862. Da redao deste jornal, em lugar subalterno, fez parte com Saldanha Marinho, Quintino Bocaiva e
outros j ento ou depois conhecidos jornalistas. Entrementes aprendera o ingls, lngua pouco vulgar aos nossos literatos e
cuja literatura no teria concorrido pouco para ajudar a tendncia natural de Machado de Assis ao humor, de que foi aqui o
nico mestre insigne. Tambm lhe daria o esquisito sentimento de decoro que distingue a sua obra, e o defendeu das
influncias do naturalismo francs. Em 1863, da tipografia daquele jornal saiu o seu primeiro livro, um folheto, Teatro de
Machado de Assis. Constava de duas comdias em um ato, representadas ambas no ano anterior e prefaciadas por Quintino
Bocaiva, que parece ter sido, com Paula Brito, o seu introdutor na vida literria. Desde ento Machado de Assis mostrava-
se a figura extraordinria e, em toda a significao do termo, distinta que viria a ser nas nossas letras, tanto pelo seu engenho
como pela sua elevao moral. Estreante, publicava uma obra j notvel pelas qualidades de esprito e composio, para a
qual o seu prefaciador desenganadamente declarava que lhe no achava jeito, e a publicava sem apelar desse juzo, acaso
rigoroso. Fizera teatro no s porque o momento, o de maior florescimento do nosso, lho acorooava, mas por confessada
ambio juvenil de ensaiar as foras nesse gnero que o atraa, cuidando que nas qualidades para ele se apurariam com o
tempo e trabalho. Mas s em 1864, com as Crislidas, que verdadeiramente comea a sua vida literria, no mais como
tentativa, seno como atividade nunca descontinuada. Vinte e dous poemas, escritos entre 1858 e 64, compunham essa
coleo. Distinguiam-se pela emoo menos desbordante que o nosso comum lirismo e por um apuro de forma inslito na
nossa poesia. perfeio com que j manejava o alexandrino, verso ainda mal-aclimado na nossa lngua, o pechoso cuidado
que punha nos ritmos e rimas dos seus, para os fazer menos triviais e mais tersos sem perda da sonoridade, juntava-se o
polido da lngua e o escolhido da frase potica: Aspirao, que de 1862, mormente Versos Corina, de 1864, documentam
este juzo. Tanto pelo valor do sentimento como da sua expresso, este ltimo uma das mais belas amostras do nosso
lirismo. Como as obras verdadeiramente clssicas, isto , que no so de ocasio ou de moda, to vivo e novo hoje como
data da sua composio, h quase meio sculo. Estava-se ainda em pleno vio do subjetivismo e do sentimentalismo potico
de lvares de Azevedo e dos seus companheiros de gerao, poesia de descrena e desconsolo, de desengano e tristeza,
dominada pela idia da morte. De todos esses poetas eram os versos, como dos seus dizia exatamente aquele, flores da sua
alma, murchas flores que s orvalha o pranto. Machado de Assis, que, pela mesquinha condio em que viera ao mundo,
no devia ter sofrido e lutado menos do que eles, tem desde ento o altivo pudor de no pr a sua alma em pblico, de no
fazer estendal da sua desgraa. A musa para ele a consoladora em cujo seio amigo e sossegado respira o poeta o suave
sono, quando a mo do tempo e o hlito dos homens lhe tenham murchado a flor das iluses e da vida. Este sentimento
revigora-se no Preldio das Falenas, a sua segunda edio das poesias:
O poeta assim: tem, para a dor e o tdio,
Um refgio tranqilo, um suave remdio:
s tu, casta poesia, terra pura e santa!
Quando a alma padece, a lira exorta e canta;
E a musa que, sorrindo, os seus blsamos verte,
Cada lgrima nossa em prola converte.
No era das falazes costumeiras profisses de f de poetas. Toda a sua vida literria, de um to alevantado e peregrino
no decoro, a confirma.
Vrios so os motivos de inspirao nas Crislidas desde as mais intensas emoes de poeta amoroso ou antes preocupado
j, como nenhum outro aqui, do eterno feminino, e rasgos de pensamento que nos formosos tercetos de No Limiar, como nos
belos alexandrinos de Aspirao, pressagiam o poeta perfeito das Ocidentais, at os temas subjetivos sentidamente idealizados
do Epitfio do Mxico, de Polnia, de Monte Alverne. Mas nem naqueles havia o comum excesso de sentimentalismo, nem
nestes algum exagero de idealismo, e uns e outros vinham estremes da molstia constitucional da nossa poesia, a oratria.
Trazem certamente o cunho do tempo, porm com tal medida e acerto que, no seu encantador lirismo, muito nosso, nos
so contemporneos. dos poucos de ento que no envelheceram, isto , que no precisam que nos ponhamos no diapaso
do seu tempo para os sentirmos e estimarmos. Digam-no estas estrofes de Visio, que so de 64:
Eras plida. E os cabelos,
Areos, soltos novelos,
Sobre as espduas* caam...
Os olhos meio cerrados
De volpia e de ternura
Entre lgrimas luziam...
E os braos entrelaados,
Como cingindo a ventura,
Ao teu seio me cingiam...
Depois, naquele delrio,
Suave, doce martrio
De pouqussimos instantes,
Os teus lbios sequiosos,
Frios, trmulos, trocavam
Os beijos mais delirantes,
E no supremo dos gozos
Antes os anjos se casavam
Nossas almas palpitantes...
Depois... depois a verdade,
A fria realidade,
A solido, a tristeza;
Daquele sonho desperto,
Olhei... silncio de morte
Respirava a natureza,
Era a terra, era o deserto,
Fora-se o doce transporte,
Restava a fria certeza.
Desfizera-se a mentira:
Tudo aos meus olhos fugira;
Tu e o teu olhar ardente,
Lbios trmulos e frios,
O abrao longo e apertado,
O beijo doce e veemente;
Restavam meus desvarios,
E o incessante cuidado,
E a fantasia doente.
E agora te vejo. E fria
To outra ests da que eu via
Naquele sonho encantado!
s outra, calma, discreta,
Com o olhar indiferente,
To outro o olhar sonhado,
Que a minha alma de poeta
No ver se a imagem presente
Foi a viso do passado.
Foi, sim, mas viso apenas;
Daquelas vises amenas
Que mente dos infelizes
Descem vivas e animadas,
Cheias de luz e esperana
E de celestes matizes:
Mas, apenas dissipadas,
Fica uma leve lembrana,
No ficam outras razes.
Inda assim, embora sonho,
Mas, sonho doce e risonho,
Desse-me Deus que fingida
Tivesse aquela ventura
Noite por noite, hora a hora,
No que me resta de vida,
Que, j livre da amargura,
Alma, que em dores me chora,
Chorara de agradecida!
H neles certamente o toque do tempo, e algo de garrettiano, mas tambm uma alma de verdadeiro poeta, que sobrevive
poca.
Atividade potica de Machado de Assis se continuou com as Falenas em 1869, as Americanas em 1875 e as Ocidentais
em 1902. Quer em verso, quer em prosa, a sua produo outra singularidade deste singular escritor sem ser nunca de
improviso ou apressada, contnua, sempre trabalhada e aperfeioada. Modesto por ndole e por civilidade, tmido de
temperamento, modstia e timidez que encobriam grande energia moral e ntima conscincia de sua capacidade, Machado
de Assis, estranho a toda a petulncia da juventude, estuda, observa, medita, l e rel os clssicos da lngua e as obras-primas
das principais literaturas. Ao contrrio de alguns notveis escritores nossos que comearam pelas suas melhores obras e
como que nelas se esgotaram, tem Machado de Assis uma marcha ascendente. Cada obra sua um progresso sobre a
anterior. Ou de prpria intuio do seu claro gnio, ou por influncia do particular meio literrio em que se achou, fosse
porque fosse, foi ele um dos raros seno o nico escritor brasileiro do seu tempo que voluntariamente se entregou ao estudo
da lngua pela leitura atenta dos seus melhores modelos. Foram seus amigos e companheiros alguns portugueses escritores
ou amadores das boas letras, como Jos de Castilho, Emlio Zaluar, Xavier de Novais, Manuel de Melo, o esclarecido
fillogo de cuja casa e rica livraria foi habituado, Reinaldo Montoro, o biblifilo Ramos Paz e outros. Nesta roda a lngua se
teria conservado mais estreme das corrupes americanas, seria melhor falada e mais estudada. Considerando-se, porm,
que outros brasileiros que viveram e at se educaram em Portugal, nem por isso lucraram no seu portugus, mais que
influncia dessa roda, ao seu ntimo sentimento literrio e sua intuio da importncia da expresso na literatura, deveu
Machado de Assis a excelncia incomparvel da sua. Sabia-se por confidncia sua que, escasseando-lhe recursos para
adquirir os clssicos, associou-se no Gabinete Portugus de Leitura para os ter consigo e extrat-los. Confirmando esta sua
confisso, acharam-se-lhe no esplio literrio numerosas notas e extratos dessas leituras. Sobretudo foi o nico que soube
ler os clssicos, mestres dobres e equvocos, com discernimento e finssimo tato de escritor nato. No aprendeu deles mais
que a propriedade do dizer, o boleio castio da frase, a ldima expresso verncula, sem lhes tomar as frmulas brbaras
repugnantes ao nosso gosto moderno, nem trasladar-lhes indiscretamente para os seus escritos como impertinentemente
fizeram Camilo Castelo Branco e Castilho o vocabulrio ou fraseado obsoleto. As Falenas justificam o seu ttulo simblico,
nelas se desenvolvem as qualidades j manifestadas nas Crislidas, notadamente as da forma potica, mtrica, lngua, estilo,
esquisito dom de expresso, em que geralmente sobrelevam a poesia do tempo. Vinte anos antes do parnasianismo tinham j
rasgos deste no sbrio e requintado da emoo, no menor individualismo do poeta, que, ao contrrio dos ltimos romnticos,
seus contemporneos, se escondia e se esquivava. Os temas pura ou demasiadamente subjetivos, as confisses impudentes
do mais recndito da sua alma, to do gosto deles, cediam o passo a temas mais gerais, menos pessoais ou, quando o eram,
tratados mais discretamente, com mais refinada sensibilidade. Algumas peas desta coleo, como as da Lira chinesa e Uma
ode de Anacreonte, poemeto dramtico em que finura da imaginao pede meas rara formosura de expresso, descobrem
um poeta em toda a fora do seu talento. Musset e Lamartine, e tambm Andr Chenier, e mais Antnio de Castilho e Garrett,
so ento os seus principais mestres de potica. Nenhum, porm, com tal prestgio que lhe ofusque a originalidade prpria.
Outros mestres seus, dous poetas nossos por quem era grande a sua admirao, foram Baslio da Gama e Gonalves Dias.
Este, no obstante a diferena dos seus gnios, o impressionou grandemente. Porventura a essa impresso devemos atribuir
a inspirao das Americanas, que, com o Evangelho das selvas, de Fagundes Varela, do mesmo ano, so a derradeira
manifestao aprecivel do indianismo da nossa poesia.
Escritor desde os seus princpios consciente e reflexivo, que nunca se deixou arrastar pelas modas literrias, e menos
correu aps a voga do dia, Machado de Assis, ainda cedendo influncia da inspirao americana, f-lo com to discreto
sentimento e em forma to pessoal e to nova, que o seu indianismo, certamente inferior ao de Gonalves Dias como emoo
e expresso tocante, tem um sainete particular e uma generalidade maior, o que acaso lhe assegura um melhor futuro.
Algum tempo, escreveu ele na advertncia das Americanas explicando o seu novo livro, foi de opinio que a poesia
brasileira devia estar toda, ou quase toda, no elemento indgena. Veio a reao, e adversrios no menos competentes que
sinceros, absolutamente o excluram do programa da literatura nacional. So opinies extremas que, pelo menos, me parecem
discutveis. E no as querendo discutir, limita-se a esta observao que dirimia definitivamente a questo, se, como me
parece certo, o s critrio da obra darte o talento com que realizada: Direi somente que, em meu entender, tudo pertence
inveno potica, uma vez que traga os caracteres do belo e possa satisfazer as condies da arte. Ora, a ndole dos
costumes dos nossos aborgines esto muita vez neste caso; no preciso mais para que o poeta lhes d a vida da inspirao.
A generosidade, a constncia, o valor, a piedada, ho de ser sempre elementos da arte, ou brilhem nas margens do Scamandro
ou nas do Tocantins. O exterior muda: o capacete de Ajax mais clssico e polido que o canitar de Itajuba; a sandlia de
Calipso um primor de arte que no achamos na planta nua de Lindia. Esta , porm, a parte inferior da poesia, a parte
acessria. O essencial a alma do homem.
Este final compendia a esttica de Machado de Assis. Poeta ou prosador, ele se no preocupa seno da alma humana.
Entre os nossos escritores, todos mais ou menos atentos ao pitoresco, aos aspectos exteriores das cousas, todos principalmente
descritivos ou emotivos, e muitos resumindo na descrio toda a sua arte, s por isso secundria, apenas ele vai alm e mais
fundo, procurando, sob as aparncias de fcil contemplao e igualmente fcil relato, descobrir a mesma essncia das
cousas. outra das suas distines e talvez a mais relevante.
Da impresso que o indianismo havia feito na nossa mente, d testemunho o fato deste mesmo arguto e desabusado
esprito ter-se ainda deixado enganar por ele, e lhe haver tambm sacrificado. Mas ainda assim o seu sentimento no o
mesmo de Gonalves Dias ou de Alencar. Tinha Machado de Assis mais esprito crtico que estes e menos sentimento
romntico, e era de todo estranho a quaisquer influncias ancestrais ou mesolgicas que porventura atuaram nos dous, para
que casse completamente no engano do indianismo, como ainda sucedeu a Varela. Dos costumes, figuras, manhas e feies
do ndio e da sua vida que pe em poema, procura sobretudo descobrir a essncia sob as exterioridades exticas, e por ela
revelar-lhe a alma. Ainda assim esta poro da sua obra a menos estimvel. Releva-a, porm, a sua interpretao potica
dos temas e a formosura da expresso, nele singular. Dous ao menos desses poemas, e justamente aqueles que mais se
afastam da frmula indianista, nos quais a trivial descrio ou exposio de feitos e gestos indianos substituda pela sua
interpretao psicolgica, Niani e ltima jornada, so de superior beleza potica e de rara feitura artstica.
As Ocidentais, publicadas na edio das suas Poesias completas (1901), revem a influncia em Machado de Assis do
modernismo, do qual, desde o seu citado artigo sobre a nova gerao de poetas que se estrearam depois de 1870, ele dera to
exata definio. So, infelizmente, poucos os poemas cuja inspirao vem dessa nova corrente. O desfecho, Crculo vicioso,
Uma criatura, Mundo interior, Suavi Mari Magnum, A mosca azul, No alto, mais os distintos quilates dessa poesia lhe
ressarcem sobradamente a quantidade. Com todas as suas brilhantes e no raro tocantes qualidades de emoo, faltou
sempre poesia brasileira profundeza de sentimento. Viva, eloqente at facndia, exuberante, colorida e vistosa, carece
por via de regra de intensidade na sensao e de sobriedade na expresso. No quero dizer que estas virtudes lhe faltem de
todo, mas apenas que no so propriamente as suas. Machado de Assis um dos poucos poetas nossos que as teve, e
distintamente, e as manifestou, como j ficou notado, desde a sua estria. Elas, principalmente sob o aspecto da profundeza,
se lhes aperfeioaram nos citados poemas das Ocidentais. ainda que a ele no cedeu moda do momento, nem acompanhou
inconsideradamente, como fizeram tantos outros, a onda modernista. Apenas desenvolveu-se no sentido dela, que era o
mesmo sentido que trazia o seu pensamento, o do ceticismo sem desespero e do pessimismo benevolente, ambos de raiz.
Mais que sinais, amostras de ambos encontram-se j nas suas colees anteriores. O que, distino rarssima, acaso nica, se
no encontra em nenhum destes poemas a indiscreta transplantao para a poesia de cousas cientficas ou filosficas ou
algo da respectiva gria. Tudo nele, como no verdadeiro poeta, se faz sentimento e sensao e como tal se exprime, e em
forma que , sem o rebuscado do Parnasianismo, porventura a mais perfeita alcanada pela nossa poesia.
Poeta dos mais importantes da literatura brasileira, Machado de Assis o mais insigne dos seus prosadores e, no
domnio que lhe prprio, a fico romanesca, o maior dos nossos escritores. No somente um escritor vernculo, numeroso,
disserto e elegantssimo. s qualidades de expresso que possui como nenhum outro, junta as de pensamento, uma filosofia
pessoal e virtudes literria muito particulares, que fazem dele um clssico, no mais nobre sentido da palavra, o nico
talvez da nossa literatura.
Como prosador compreende a sua obra, alm de numerosos livros de conto, romances, teatro, crtica e crnicas
jornalsticas. Do conto foi ele, se no o iniciador, um dos primeiros cultores e porventura o primacial escritor na lngua
portuguesa.
Efetivamente ningum jamais nesta contou com to leve graa, to fino esprito, tamanha naturalidade, to frtil e
graciosa imaginao, psicologia to arguta, maneira to interessante e expresso to cabal, historietas, casos, anedotas de
pura fantasia ou de perfeita verossimilhana, tudo recoberto e realado de emoo muito particular, que varia entre amarga
e prazenteira, mas infalivelmente discreta. Histrias de amor, estados dalma, rasgos de costumes, tipos, fices da histria
ou da vida, casos de conscincia, caracteres, gente e hbitos de toda a casta, feies do nosso viver, nossos mais ntimos
sentimentos e mais peculiares idiossincrasias, acha-se tudo superior e excelentemente representado, por um milagre de
transposio artstica, nos seus contos. E sem vestgio de esforo, naturalmente, num estilo maravilhoso de vernaculidade,
de preciso, de elegncia.
No romance estreou Machado de Assis, em 1872, com o j citado Ressurreio. A grande novidade deste romance era
no ser seno o primeiro de anlise de caracteres e temperamentos, o primeiro ao menos que com este s propsito aqui se
escrevia. No trazia vislumbre de intencional brasileirismo vigente. Ao invs declaradamente apontava a outra cousa que o
romance de costumes. O interesse do livro era deliberadamente procurado no esboo de uma situao e no contraste de dois
caracteres. Alencar com Cinco minutos, A viuvinha (1856), alis simples novelas, Lucola (1862) e Diva (1864), e o
mesmo Manoel de Almeida com o Sargento de milcias (1857) podem em rigor cronolgico ser considerados os precursores
do nosso romance da vida urbana ou mundana, da pintura de caracteres e situaes e que estes se encontram e definem, ou
mesmo do romance que ao tempo ainda se chamava de fisiolgico e que depois se chamaria de psicolgico. Mas o seu
criador, pela arte consciente e engenho com que j o fez em Ressurreio, e o ensaiara com bom sucesso nos contos e
novelas que precederam este livro, foi Machado de Assis. Neste mesmo romance, como naquelas fices menores, embora
refugissem ao particularismo nativista, havia j uma notao exata, ou antes uma clara intuio das nossas ntimas
peculiaridades nacionais. O sempre progressivo exerccio desta faculdade de anlise do ambiente, estreme das suas fceis
representaes pitorescas, fariam de Machado de Assis no obstante o seu desprendimento do brasileirismo, qual o entendiam
aqui, porventura o mais intimamente nacional dos nossos romancistas, se no procurarmos o nacionalismo somente nas
exterioridades pitorescas da vida ou nos traos mais notrios do indivduo ou do meio. Como o que sobretudo lhe interessa
a alma das cousas e dos homens, ela que ele procura exprimir e que geralmente exprime com insigne engenho e arte.
Ainda em algum tipo, episdio, ou cena de pura fantasia, nunca a fico de Machado de Assis afronta o nosso senso da
ntima realidade. Assim, por exemplo, nesse conto magnfico O Alienista ou nessoutra jia Conto alexandrino, como na
admirvel inveno de Brs Cubas, e todas as vezes que a sua rica imaginao se deu largas para fora da realidade vulgar,
sob os artifcios e os mesmos desmandos da fantasia, sentimos a verdade essencial e profunda das cousas, poderamos
chamar-lhe um realista superior, se em literatura o realismo no tivesse sentido definido.
Havia entretanto no primeiro romance de Machado de Assis e ainda mais talvez nos que mais de perto o seguiram, A
mo e a luva (1874), Helena (1876), visveis ressaibos de romantismo seno do Romantismo. Temperava-os, porm, j,
diluindo-os num sabor mais pessoal e menos de escola, e sua nativa ironia e a sua desabusada viso das cousas, que o
forravam ao romanesco, sentimentalidade amaneirada que tanto viciou e desluziu a nossa fico. E, mais dons de expresso
em que ficou at agora nico e que, sob este aspecto ao menos, o sobrelevam a todos os nossos escritores, e, no receio diz-
lo, ainda aos portugueses seus contemporneos.
Em 1881, com as Memrias pstumas de Brs Cubas atingia Machado de Assis o apogeu do seu engenho literrio, num
romance de rara originalidade, uma obra, a despeito do seu tom ligeiro de fantasia humorstica, fundamente meditada e
fortemente travada em todas as suas partes, porventura a mais excelente que a nossa imaginao j produziu. As Memrias
pstumas de Brs Cubas so a epopia da irremedivel tolice humana, a stira da nossa incurvel iluso, feita por um
defunto completamente desenganado de tudo. Desde a sua cova conta-nos Brs Cubas, numa lngua primorosa de simplicidade,
a sua vida do nascimento morte, a sua famlia, a sua educao, o seu meio, os seus primeiros namoros de rapaz e amores
de homem, as suas ambies, os seus amores adulterinos com certa Virglia, enfim, quanto na vida sequer um momento o
interessou ou ocupou de modo a impressionar-lhe a memria e o entendimento. E s estas faculdades se deixaram nele tocar
por tais sucessos. Viu Brs Cubas, ainda pressentiu a vaidade de tudo, e como ao cabo todas as cousas so naturais, necessrias,
determinadas por um conjunto de condies que no so essencialmente nem boas, nem ms, e pelas quais sbio no nos
abalarmos, no se deixou jamais comover. No fundo de tudo h sempre um todo nada de ridculo, de comdia, de falsidade,
de fingimento, de clculo. Tolo quem se deixa enganar com as aparncias, empulhar, segundo o verbo muito do gosto de
escritor. Mas a humanidade, a sociedade, assim feita e no h revoltar-nos contra ela e menos quer-la outra. A vida boa,
mas com a condio de no a tomarmos muito a srio. Tal a filosofia de Brs Cubas, decididamente homem de muitssimo
esprito. Ele viveu quanto pode, segundo este seu pensar, e se com o seu pessimismo conformado e indulgente no se achou
logrado ao chegar ao outro lado do mistrio, foi porque verificou um pequeno saldo no balano final da sua existncia.
No tive filhos, escreveu na ltima pgina das suas Memrias, no transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa
misria.
Desta arriscada repetio do velho tema da vaidade de tudo e do engano da vida, a que o Eclesiaste bblico deu a
consagrao algumas vezes secular, saiu-se galhardamente Machado de Assis. Transportando-o para o nosso meio,
incorporando-o no nosso pensamento, ajustando-o s nossas mais ntimas feies, soube renov-lo pela aplicao particular,
pelos novos efeitos que dele tirou, pelas novas faces que lhe descobriu e expresso pessoal que lhe deu.
As Memrias pstumas de Brs Cubas eram o rompimento tcito, mais completo e definitivo de Machado de Assis,
com o Romantismo sob o qual nascera, crescera e se fizera escritor. Alis conquanto necessariamente lhe sofresse a influncia,
nunca jamais se lhe entregara totalmente nem lhe sacrificara o que de pessoal e original havia no seu engenho, e acharia em
Brs Cubas a sua cabal expresso. A sua primeira obra de contador, Histrias da meia-noite (1869), Contos fluminenses
(1873), com os seus primeiros livros de romancista, o j nomeado Ressurreio, A mo e a luva (1874), Helena (1876), Iai
Garcia (1878), traziam ressaibos romnticos, embora atenuados pelo congnito pessimismo e nativa ironia do autor. Ora o
Romantismo no comportava nem a ironia nem o pessimismo, na forma desenganada, risonha e resignada de Machado de
Assis. Mas os contos que sucederam imediatamente queles, Papis avulsos (1882), Histrias sem data (1884), Vrias
histrias (1905), muitos deles anteriores a Brs Cubas, trazem j evidente o tom deste. Desde, portanto, os anos de 70,
renunciando ao escasso Romantismo que nele havia, criava-se Machado de Assis uma maneira nova, muito sua, muito
particular e muito distinta e por igual estreme daquela escola e das novas modas literrias. Nessa maneira, particularmente
em Brs Cubas e em Quincas Borba (1891), que se lhe seguiu e que a certos respeitos o continua, vislumbra-se mais do que
se percebe, o remoto influxo dos humoristas ingleses, e antes dos seus processos formais que do fundo, que este de raiz do
autor. Com a escrupulosa probidade literria que foi uma das suas virtudes, ele prprio o publicou no prefcio do primeiro.
Em Dom Casmurro (1899), em Esa e Jac (1904) e sobretudo em Memorial de Aires (1908), o seu ltimo livro, desaparecem
esses laivos de influncia peregrina. Como correspondessem perfeitamente sua prpria ndole literria, transubstanciaram-
se-lhe no engenho e estilo.
Com a variedade de temas, de enredos de aes, de episdios, que distinguem cada romance de Machado de Assis no
conjunto de sua obra, h em todos uma rara unidade de inspirao, de pensamento e de expresso. Todos, porm, representam,
talvez com demasiado propsito, mas sem excesso de demonstrao, a tolice e a malcia humanas. este o tema geral, e ao
mesmo tempo o duende, o espantalho do escritor. Ele descobriu esses estigmas e os exps sob todas as suas faces e modalidades,
at ao amor paterno ou na ternura materna, nas aes mais sublimes e nos atos mais corriqueiros, e no por um propsito
tambm malicioso ou simplesmente literrio, mas porque os seus olhos de artista o que pode ser uma inferioridade ou um
defeito no os viam seno assim, e a sua ntima sinceridade lhe no permita modificar a prpria viso por comprazer com
o gosto vulgar. Mas como a sua faculdade mestra a imaginao humorstica, isto , a viso pessimista das cousas, atravs
da inteligncia da sua necessidade e contingncia e do sentimento da nossa importncia contra elas, as viu com risonho
desdm ou com irnica benevolncia. Essa viso ele a tem agudssima, e a sua anlise das almas sem alguma presuno de
psicolgica, antes desdenhosa do epteto, tem uma rara percepo dos seus mais ntimos segredos. Dom Casmurro exemplo
desta sua superior faculdade de romancista, comprovada alis em toda a sua obra. o caso de um homem inteligente, sem
dvida, mas simples, que desde rapazinho se deixa iludir pela moa que ainda menina amara, que o enfeitiara com a sua
faceirice calculada, com a sua profunda cincia congnita de dissimulao, a quem ele se dera com todo ardor compatvel
com o seu temperamento pacato. Ela o enganara com o seu melhor amigo, tambm um velho amigo de infncia, tambm um
dissimulado, sem que ele jamais o percebesse ou desconfiasse. Somente o veio a descobrir quando lhe morre num desastre
o amigo querido e deplorado. Um olhar lanado pela mulher ao cadver, aquele mesmo olhar que trazia no sei que fluido
misterioso e enrgico, uma fora que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca, o
mesmo olhar que outrora o arrastara e prendera a ele e que ela agora lana ao morto, lhe revela a infidelidade dos dois. Era
impossvel em histria de um adultrio levar mais longe a arte de apenas insinuar, advertir o fato sem jamais indic-lo.
Machado de Assis , com a justa dose de sensualismo esttico indispensvel, um autor extremamente decente. No por
afetao de moralidade, ou por vulgar pudiccia, mas em respeito da sua arte. Bastava-lhe saber que a obscenidade, a
pornografia, seriam um chamariz aos seus livros, para evitar esse baixo recurso de sucesso, ainda que a fidalguia nativa dos
seus sentimentos no repulsasse tais processos.
Porque este sujeito tmido, apagado, pequenino, modesto, que parecia deslizar na vida com a preocupao de no
incomodar a ningum, de no ser molesto a pessoa alguma, era, de fato, um homem com energias ntimas, caladas, recnditas,
mas invencveis. Assim como fazer-se uma posio social, nunca transigiu com a sociedade e suas mazelas, tambm nunca,
como escritor, condescendeu com as modas literrias que no dissessem com o seu temperamento artstico, ou seguiu por
amor da voga as correntes mais no gosto do pblico. A este pode afirmar-se que no fez em toda a sua obra a menor
concesso.
J velho, com sessenta e oito anos, e no foi jamais robusto, escreveu ainda um livro admirvel, o Memorial de Aires,
inspirado na saudade da esposa e companheira muito amada, j chorada no sublime soneto que antepusera s Relquias de
casa velha, o primeiro que deu luz depois da morte dela. Memorial de Aires talvez o nico livro comovido, de uma
comoo que se no procura esconder ou disfarar e de emoo cordial e no somente esttica, que escreveu Machado de
Assis. Com a peregrina arte de transposio que possua e que s revelaria plenamente a histria de seus livros, mas que
podemos avaliar pelo pouco que dela sabemos, idealizou Machado de Assis, num suave romance contado por terceiro, um
velho diplomata espirituoso e desenganado, o Conselheiro Aires, o seu palcio e feliz viver domstico. No que o indicasse
ou sequer o insinuasse. Descobriram-no os que lhe conheceram a vida, e eram bem poucos, pois nunca se derramou e
odiava os derramados, na emoo nova que discretamente, sobriamente, recatadamente, como que receosa de profanar na
publicidade cousas ntimas e sagradas, aparecia nesse delicioso livro, um dos mais tocantes da nossa literatura.
As estrias literrias de Machado de Assis coincidiram com o melhor momento do nosso teatro em toda a evoluo da
nossa literatura, entre os anos de 50 e 70, particularmente o decnio intermdio. Os melhores dos nossos literatos de ento
escreveram para o teatro e acharam quem os representasse e quem os fosse ouvir, o que nunca mais aconteceu depois. A
nossa bibliografia teatral dessa poca a mais copiosa de toda a nossa literatura, e havia pelo teatro nacional interesse e
curiosidade que depois desapareceu de todo, com a concorrncia do teatro estrangeiro importado por companhias aliengenas.
A influncia do momento e o gosto que pessoalmente tinha pelo teatro, mais que decidida vocao, levaram Machado de
Assis a trat-lo.
152
Com a segura conscincia que do seu prprio engenho tinha, ele prprio mal se iludira sobre a sua aptido
para o teatro. Numa carta-prefcio de suas peas publicadas em 1863, O caminho da porta e O protocolo, confessava,
podemos crer que sinceramente: Tenho o teatro por cousa muito sria e as minhas foras por cousa insuficiente; penso que
as qualidades necessrias ao autor dramtico desenvolvem-se e apuram-se com o tempo e o trabalho... Sem dvida, mas as
qualidades, sobretudo as inferiores, as habilidades do ofcio de autor dramtico, a acomodao ao gosto pblico e perspectiva
particular da rampa, uma poro de dons somenos, mas essenciais ao bom sucesso na arte inferior que o teatro, faltavam
a Machado de Assis. No teatro nunca pode ele passar de composies ligeiras, ao gosto de provrbios franceses, sainetes,
contos porventura espirituosamente dialogados, algumas encantadoras de graa fina e elegante estilo, mas sem grande valor
teatral. Tais so os Deuses de casaca, comdia levemente satrica da nossa vida social e poltica, em formosos alexandrinos,
em que se rev a influncia de Castilho; Tu, s tu, puro amor, pequena obra-prima, alguma cousa como uma deliciosa
figurinha de Tnagra no meio das esculturas de Fdias; No consultes mdico, sainete digno de Musset. Tudo, porm, no
passava de um ano, excelente como literatura amena para deleitar-nos uma hora, mas sem a ao, a fora, a emoo que deve
trazer a obra teatral. Basta que esta por sua mesma natureza se enderece a uma platia, que ser sempre em maioria composta
de ignaros ou simples, para que lhe no bastem as qualidades propriamente literrias.
Como crtico, Machado de Assis foi sobretudo impressionista. Mas um impressionista que, alm da cultura e do bom
gosto literrio inato e desenvolvido por ela, tinha peregrinos dons de psiclogo e rara sensibilidade esttica. Conhecimento
do melhor das literaturas modernas, inteligncia perspicaz desabusada de modas literrias e hostil a todo pedantismo e
dogmatismo, comprazia-lhe principalmente na crtica a anlise da obra literria segundo a impresso desta recebida. Nessa
anlise revelava-se-lhe a rara finura e o apurado gosto. Que no era incapaz de outra espcie de crtica em que entrasse o
estudo das condies mesolgicas em que se produziu a obra literria, deu mais de uma prova. Com o fino tato literrio e
reflexivo juzo, que o assinalam entre os nossos escritores, no ensaio crtico atrs citado sobre o Instituto da nacionalidade,
na nossa literatura ajuizou com acerto, embora com a benevolncia que as mesmas condies da sua vida literria lhe
impunham, os seus fundadores e apontou com segurana os pontos fracos ou duvidosos de certos conceitos literrios aqui
vigentes, emendando o que neles lhe parecia errado e aventando opinies que ento, em 1873, eram de todo novas. Ningum,
nem antes nem depois, estabeleceu mais exata e mais simplesmente a questo do indigenismo da nossa literatura, nem disse
cousas mais justas do indianismo e da sua prtica.
Em suma Machado de Assis, sem ter feito ofcio de crtico, como tal um dos mais capazes e mais sinceros que temos
tido. Respeitador do trabalho alheio, como todo o trabalhador honesto, mas sem confundir esse respeito com a condescendncia
camaradeira, estreme de animosidades pessoais ou de emulaes profissionais, com o mnimo dos infalveis preconceitos
literrios ou com a fora de os dominar, desconfiado de sistemas e assertos categricos, suficientemente instrudo nas cousas
literrias e uma viso prpria, talvez demasiadamente pessoal, mas por isso mesmo interessante da vida, ningum mais do
que ele podia ter sido o crtico cuja falta lastimou como um dos maiores males da nossa literatura. Em compensao deixou-
lhe um incomparvel modelo numa obra de criao que ficar como o mais perfeito exemplar do nosso engenho nesse
domnio.
A
Abreu, Capistrano de, 45, 51, 57, 67, 72, 73, 362
Abreu, Casimiro de, 18, 304, 315, 319, 320, 321, 322, 326
Abreu, Casimiro Jos Marques de, v. Abreu, Casimiro de
Acosta, Padre Jos de, 65
Adet, Emile, 28, 423
Aires, Matias, 125-6, 196
Albuquerque, Duarte de, 87
Albuquerque, Gonalo Ravasco Cavalcanti de, 93
Albuquerque, Jernimo de, 48
Albuquerque, Jorge de, 52, 53, 54, 57
Albuquerque, Jos Pires de Carvalho e, 419
Alencar, Jos de, 20, 205, 222, 253, 261, 281, 282, 283-4, 286, 287, 288-9, 290-1, 292, 293, 294-5, 296, 298, 300, 303, 305, 306, 307,
329, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 366, 372, 390, 395, 396, 398, 405, 406, 410, 413, 415, 418, 423, 439, 442
Alencar, Jos Martiniano de, v. Alencar, Jos de
Alencar, Padre Jos Martiniano de, 282
Ali, Said, 268
Almeida, Cndido Mendes de, 77
Almeida, Manoel Antnio de, 289, 296, 297, 302, 305, 334, 394, 442
Almeida, Tito Franco de, 409, 415
Alpoim, 164
Alvarenga, Manoel Incio da Silva, v. Alvarenga, Silva
Alvarenga, Silva, 125, 131, 139, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 175, 192, 194
Alvarenga, Teresa Ribeiro de, 41
Alvarez, Antnio, 51
Alverne, Fr. Francisco de Monte, v. Monte Alverne
Alves, Antnio de Castro, v. Alves Castro
Alves, Castro, 24, 309, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 350-1, 408
Amaral, Jos Maria do, 254
Amoedo, Germano, 399
Anchieta, Padre Jos de, 59, 388
Andrade, Gomes Freire de, 121
Andrade, Sousa, 280
quila, Benjamim, 411
Aranda, 162
Aranha, Bento de Figueiredo Tenreiro, 132, 213
Aranha, Graa, 284, 356, 363
Aranha, Guedes, 269
Araripe Jnior, 104, 362, 427
Araripe Jnior, Tristo de Alencar, v. Araripe Jnior
Arajo, Ferreira de, 67, 415
Arajo, Joaquim Aurlio Nabuco de, v. Nabuco, Joaquim
Arajo, Jos de Sousa de Azevedo Pizarro e, 192
Arajo, Nabuco de (Ministro), 234
Assis, Joaquim Maria Machado de, v. Assis, Machado de
Assis, Machado de, 20, 24, 288-9, 294, 330, 332, 336, 339, 341, 347, 353, 366, 368, 369, 374, 376, 378, 410, 424, 427, 428, 429, 430,
431, 432, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449-50
Augusto, Joaquim, 340, 399
Azara, 66
Azevedo, Alusio de, 368, 369, 370, 373
Azevedo, lvares de, 85, 299, 304, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 319, 327, 342, 349, 381, 423, 431, 432
Azevedo, Artur, 399
Azevedo, Manoel Antnio lvares de, v. Azevedo, lvares de
Azevedo, Moreira de, 286
B
Baa, Xisto, 340, 399
Balzac, 288
Bandeira, Francisco Gregrio Pires Monteiro, 139
Banville, Teodoro de, 374
Barbosa, Cunha, 34, 142, 152, 179, 188, 200, 243, 404, 420, 421
Barbosa, Domingos Caldas, 93, 131-2, 133, 188
Barbosa, Domingos Vidal de, 131, 139
Barbosa, Francisco Vilela, 139, 179, 188
Barbosa, Cnego Janurio da Cunha, v. Barbosa, Cunha
Barbosa, Rui, 363, 409
Barreto, Belarmino, 415
Barreto, Francisco Moniz, 254
Barreto, Lus Pereira, 362
Barreto, Tobias, 24, 341, 342, 344, 345, 346, 349, 351, 356, 357, 359, 360, 364, 366, 383, 426, 428
Barreto Filho, 160
Barros, 138
Barros, Domingos Borges de, 179
Barros, Joo de, 48, 51, 167, 376
Barros, Jos Borges de, 93
Bastos, Aureliano Cndido Tavares, v. Bastos Tavares
Bastos, Tavares, 407, 408
Baudelaire, 323, 374, 375, 380
Benedito XIV, papa, 166
Bequimo, 269
Bernardes, padre Manoel, 78
Berredo, 264, 269, 270
Bilac, Olavo, 284, 348, 377, 380, 381
Blake, Sacramento, 126, 247
Bobadela, Conde de, v. Andrade, Gomes Freire de
Bocaiva, Quintino, 297, 340, 395, 397, 406, 415, 431
Boehmer, H., 86
Boileau, 109
Bomilcar, Artur, 411
Bonifcio, Jos, 179, 184, 185, 188, 192, 208, 404
Bonifcio (o Moo), Jos, 325, 326, 342, 348, 418
Bordalo, Antnio Mendes, 131
Bossuet, 81, 82-3, 138
Botelho, Antnio lvares, 94
Botelho, Pereira, 100
Bourdaloue, 81
Bourgain, Louis, v. Burgain, Lus
Bouterwek, 34
Braga, Flvio Reimar Almeida, 280
Braga, Simo de Alvarenga, 150
Braga, Tefilo, 158, 360, 375, 385, 427
Branco, Manoel Alves, 179, 418
Brando, Joaquim Incio de Seixas, 139
Brandes, 218
Brandnio, 46, 69
Brito, Francisco Paula, 231, 232, 233, 234, 236, 315, 431, 448
Brito, Paulo Jos de Melo Azevedo e, 179
Brito, Pedro Francisco Xavier de, 192
Brochado, Belchior da Cunha, 100
Brunetire, F., 367, 373, 375
Bchner, 21
Buckle, 362
Burgain, Lus, 28, 395, 423
Byron, 21, 201, 305, 311, 325
C
Cabral, Alfredo do Vale, 46, 73, 98, 191, 194
Caetano, Joo, 247, 390, 391, 393, 399
Cairu, Visconde de, v. Lisboa, Jos da Silva
Calado, Fr. Manoel, 87
Caldas, Padre Antnio Pereira de Sousa, v. Caldas, Sousa
Caldas, Sousa, 179, 181, 182, 184, 189, 208, 209, 213, 415
Caldern, Ventura Garca, 23
Camacho, Diogo, 15, 109
Cmara, Eugnia, 340, 399
Cmara, Francisco Lopes de, 66
Caminha, Pro Vaz de, 243
Cames, Lus de, 39, 52, 53-4, 92, 117, 135, 162, 167, 168, 169, 222, 233, 234, 261, 308, 411
Cndido, Antnio, 160
Caramuru, v. Correia, Diogo lvares
Caravelas, Visconde de, v. Branco, Manuel Alves
Cardim, Padre Ferno, 59, 67, 89, 90, 91, 244
Carlos, Antnio, 418
Carlyle, 193
Carneiro, Dias, 280
Carvalho, Silvrio Ribeiro de, 139
Carvalho, Trajano Galvo de, 280
Casal, Aires de, 63, 193
Castelo Branco, Camilo, 99, 295, 437
Castilho, Antnio de, 338, 426, 437, 449
Castilho, Jos Feliciano de, 293, 337, 375, 436
Castro, Antnio de, 54
Castro, Augusto de, 397
Castro, Gabriel Pereira de, 92
Castro, Lus de, 89
Castro, Martinho de Melo e, 173
Castro, Serro de, 15, 109
Cavendish, 245
Celso, Afonso, 376
Cenculo, Fr. Manoel do, 165
Csar, 272
Chagas, Pinheiro, 306
Chateaubriand, 208, 236, 247, 284, 287, 306
Chenier, Andr, 438
Cipio, 54
Coelho, Adolfo, 360
Coelho, Duarte, 47, 48, 51
Coelho, Furtado, 340, 399
Coelho, Jorge de Albuquerque, v. Albuquerque, Jorge de
Coelho, Jos Maria Vaz Pinto, 325
Coelho Neto, 298
Coimbra, Figueiredo, 400
Colin, Augusto, 280
Comte, Augusto, 357, 363, 426
Condillac, 138
Cooper, 287
Coppe, 375
Cordeiro, Carlos, 395
Cordeiro, Luciano, 360
Cordovil, Bartolomeu Antnio, 131-2, 188
Corneille, 138
Correia, Diogo lvares, 167, 168-9,
Correia, Frederico, 280
Correia Raimundo, 377, 380, 381, 382, 383
Costa, 399
Costa, D. Antnio de Macedo, 409
Costa, Cludio da, v. Costa, Cludio Manoel da
Costa, Cludio Manoel da, 131, 139, 141, 142, 143, 147, 150, 151, 152, 156, 165, 170, 172, 174-5, 222, 389
Costa, Hiplito da, 191, 404
Costa, Joo Gonalves da, 141
Costa, Manoel Fernandes da, 123
Costa, Manoel Francisco da, 123
Costa, M. M. da, 123
Cousin, 220
Coutinho, 160
Coutinho, Antnio Lus Gonalves de Cmara, 109-10, 111
Couto, 138
Couto, Padre Loreto, 54, 55, 57
Couty, 361
Crbillon, 138
Crspo, Gonalves, 376
Critilo, 170
Cunha, ngela Micaela da, 150
Cunha, Fernandes da, 418
D
Dantas, Rodolfo, 415
Darwin, 364
Davi, 180
Davray, 80
Debret, 226
Delavigne, 247
Delfino, Lus, 378, 379
Denis, Ferdinand, 34, 63
Derby, Orville, 361
Descartes, 138
Deus, Joo de, 375
Dias, Gonalves, 97, 200, 205, 223, 224, 228, 233, 237, 255, 256, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 272, 281, 283, 303, 304, 305, 307,
308, 309, 310, 312, 313, 318, 319, 320, 326, 348, 351, 352, 377, 381, 390, 395, 399, 423, 425, 438, 439
Dias, Tefilo, 380, 381, 382
Dinarte, Slvio, v. Taunay, Alfredo dEscragnolle
Dinis, Antnio, 15, 159
Dioscrides, 65
Doellinger, Cnego, 363, 409
Doroteo, 170
Duarte, Urbano, 400
Ducis, 221, 247, 391
Du Devant, mme, v. Sand, George
Duguay-Trouin, 245
Dumas (pai), Alexandre, 247, 288
Dumas Filho, Alexandre, 396, 411
Duro, Fr. Jos de Santa Rita, v. Duro, Santa Rita
Duro, Paulo Rodrigues, 164
Duro, Santa rita, 96, 118, 131, 135, 139, 147, 160, 164, 165, 168, 170, 174, 183, 222, 223, 243, 259, 425
E
Ea, Matias Aires da Silva de, v. Aires, Matias
Espronceda, 201, 311, 342
F
Fbio, 54
Faguet, Emile, 375
Faria, Alberto, 150, 174
Faria, Manoel Severim de, 71
Fernandes, Vasco, 73
Ferro, Fr. Custdio, 280
Ferreira, 391
Ferreira, Silvestre Pinheiro, 192
Fdias, 449
Figueira, Padre Lus, 76, 77
Figueiredo, Fidelino de, 15
Florindo, 340, 399
Fonseca, Antnio Jos Vitorino Borges da, 134
Fonseca, Mariano Jos Pereira de, 158, 192, 194, 195
Frana, Gonalo Soares de, 93
Frana, Lus Paulino Pinto da, 179
Frana, Jnior, 398
Franco, Francisco de Melo, 179
Franco, Sousa, 418
Freire, Ezequiel, 376
Freire, Lus Jos Junqueira, 304, 315, 317, 318, 423
Freitas, Jos Antnio de, 427
Freitas, Toms de Aquino Belo e, 191
Froger, 91
G
Galhardo, Antnio Rodrigues, 149
Galvo, Ramiz, 142, 143
Gama, Antnio Caetano Vilas Boas da, 139, 150
Gama, Baslio da, 131, 139, 147, 150, 154, 155-6, 158, 160, 161, 162, 164, 167, 170, 174, 175, 222, 223, 243, 260, 438
Gama, Miguel do Sacramento Lopes, 405
Gama, Quitria, Incia da, 160
Gandavo, Pro Magalhes de, 89
Ganganeli, v. Benedito XIV, Papa
Ganganeli, v. Marinho, Joaquim Saldanha
Garo, 157, 181
Garnier, 431
Garrett, Almeida, 141, 206, 221, 239, 261, 263, 308, 314, 390, 438
Germano, 399
Godin, Joo Velho, 127
Gomes, Eugnio, 160
Gongora, 92
Gonzaga, v. Gonzaga, Toms Antnio
Gonzaga, Toms Antnio, 28, 131, 139, 147, 148-9, 150, 151, 156, 170, 171, 172, 175, 263, 321
Gorceix, 361
Guerra, Gregrio de Matos, v. Matos, Gregrio de
Guerreiro, Padre Bartolomeu, 87
Guerreiro, Padre Ferno, 77
Guignet, 361
Guimares, Bernardo, 288, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 325, 326, 327, 328, 334, 366, 343, 366, 369, 423
Guimares, Bernardo Joaquim da Silva, v. Guimares, Bernardo
Guimares, Joaquim da Silva, 299
Guimares, Manuel Ferreira de Arajo, 191, 195, 404, 420
Guimares, Pinheiro, 340, 395, 397
Guimares Jnior, Lus, 321, 341, 353, 376
Gusmo, Alexandre de, 28, 134
Gusmo, Bartolomeu Loureno de, 134
H
Haeckel, 21, 428
Hartt, 361
Hegel, 208
Henriarte, 269
Henrique II, 167
Herculano, Alexandre, 43, 46, 260, 274, 295, 365
Heredia, Jos Maria, 375
Hippeau, 361
Homem, Sales Torres, 209, 227, 405, 406, 418
Homero, 157, 271
Horcio, 109, 180, 419
Horta, Catarina de, 125
Hugo, Victor, 21, 217, 247, 288, 331, 343, 345, 346, 349, 380, 385, 391
I
Ibsen, 290
Ihering, 428
Inhomirim, Visconde de, v. Homem, Sales Trres
Iniaoba, v. Albuquerque, Jorge de
Inocncio, 126, 183
Itaparica, Fr. Manuel de Santa Maria, 96, 116, 117, 118
Itaparicano, o Annimo, v. Itaparica, Fr. Manuel de Santa Maria
J
Jaboato, 54, 63, 116, 134
Jaboato, Fr. Antnio de Santa Maria, v. Jaboato
Janus, v. Doellinger
Jesus, Fr. Rafael de, 87
Joo, Prncipe D., v. Joo VI, D.
Joo III, D., 74
Joo VI, D., 176, 199, 226
Jos, Antnio, 15, 28, 115, 388
Jos I, D., 150, 155, 161
Junqueiro, Guerra, 375
K
Kant, 194, 208, 357
Klopstock, 183
L
Lacerda, 361
Ladislau Neto, 361
Lafes, Duque de, 184
Lage, Camilo Martins, 192
Lamartine, 247, 437
Lambert, Louis, 250
Lamego, Alberto, 142
Lanson, G., 26, 367, 375
La Rochefoucauld, 195, 273, 345
Lavradio, Marqus de, 152, 158
Leal, Antnio Henriques, 237, 262, 270, 280, 284
Leal, Mendes, 306, 308
Ledo, Joaquim Gonalves, 404
Leite, Solidnio, 126
Leme, Pedro Taques de Almeida Pais, 134
Lemos, D. Francisco de, 166
Lemos, Joo de, 308
Lessa, Aureliano Jos, 299, 325, 326, 327
Lima, Augusto de, 377, 380, 381
Lima, Joo de Brito, 93
Lima, Jos Incio de Abreu e, 405
Lima, Oliveira, 48, 142
Lima, Raimundo Antnio da Rocha, 362, 427
Lisboa, Baltasar da Silva, 192
Lisboa, Joo Francisco, 205, 245, 265, 267, 270, 272, 273-4, 276, 278, 305, 406
Lisboa, Joaquim Jos, 139, 179, 184, 188
Lisboa, Jos da Silva, 192, 193, 194, 404
Lisle, Leconte de, 375
Litr, 360
Lbo, Costa, 47
Lopes, Castro, 395
Lopes, Pro, 242
Luci, Manuela, 340, 399
Lus, Afonso, 54
Lus, Pedro, 326, 342, 348
M
Macedo, v. Macedo, Joaquim Manuel de
Macedo, lvaro Teixeira de, 179
Macedo, Joaquim Manuel de, 205, 236, 250, 251, 252, 253, 255, 283, 285, 286, 288, 290, 295, 296, 298, 300, 301, 305, 334, 336, 340,
366, 372, 390, 395, 396, 398, 410, 423
Macedo Jnior, Jos Joaquim Cndido de, 325
Machado, Diogo Barbosa, 56, 57, 79, 80
Madre de Deus, Fr. Gaspar da, 134
Maffei, 152, 388
Magalhes, v. Magalhes, Domingos Jos Gonalves de
Magalhes, Celso de, 280
Magalhes, Domingos Jos Gonalves de, 34, 199, 200, 208, 210, 211, 214, 218, 219, 221-4, 227-9, 233, 235, 243, 247, 249, 250, 255,
259, 262, 272, 281, 291, 297, 298, 303, 305, 310, 312, 342, 390, 391, 392, 393, 395, 420, 421, 423
Magalhes, Valentim, 400
Maistre, De, 305
Malheiros, Perdigo, 408
Mallarm, 23
Manzoni, 216
Maria I, Rainha D., 152, 155, 388
Maric, Marqus de, v. Fonseca, Mariano Jos Pereira da
Marinho, Joaquim Saldanha, 406, 409, 415, 431
Marini, 92
Mariz, Pedro de, 63
Marques, Jos Pereira, 173
Martins, Antnio Flix, 221
Martins, Silveira, 418
Martins Jnior, Jos Isidoro, 384, 386
Martius, 63
Mascarenhas, Miguel Eugnio da Silva, 139
Massillon, 81
Matos, Belarmino de, 271
Matos, Fr. Eusbio de, 40, 93
Matos, Gregrio de, 15, 16, 40, 90, 91, 93, 97, 98-114, 120, 133, 387
Matos, Jos Verssimo Dias de, v. Jos Verssimo
Medeiros, J. W. de, 337
Mdicis, Catarina de, 168
Melo, Dutra e, 250, 423
Melo, D. Francisco Manuel de, 272, 436
Melo, Jos Alexandre Teixeira de, v. Melo, Teixeira de
Melo, D. Nuno lvares Pereira de, 94
Melo, Teixeira de, 59, 320, 325, 326
Mendes, Cndido, 77
Mendes, Manuel Odorico, v. Mendes, Odorico
Mendes, Odorico, 205, 265, 270, 271, 272, 274
Mendona, Hiplito Jos da Costa Pereira Furtado de, v. Costa, Hiplito da
Mendona, Lcio de, 321, 376
Mendona, Salvador de, 408, 415
Menescal, Miguel, 94
Menezes, Agrrio de, 305, 340, 395, 397
Menezes, D. Lus da Cunha, 151, 170, 172, 173
Menezes, D. Rodrigo de, 154
Menezes, Sousa de, 110
Menezes, Tobias Barreto de, v. Barreto, Tobias
Menezes, Paula, 423
Mesquita, Tefilo Dias de, v. Dias, Tefilo
Metastsio, 138, 389
Michelet, 21
Milton, 138, 174, 183
Minas, Marqus das, 101
Mirales, Jos de, 123
Mireu, 164
Moleschott, 21
Molire, 247
Mono, G., 86
Monte Alegre, Marqus de, 234
Monte Alverne, 20, 193, 200, 208, 210, 223, 416, 417
Monteiro, Antnio Peregrino Maciel, 254, 418
Monteiro, Clvis, 160
Monteiro, Jaci, 423
Montesquieu, 138, 182
Montmor, Jorge de, 92
Montoro, Reinaldo Carlos, 320, 324, 423, 436
Morais, D. Ana Garcs de, 165
Morais, Cristvo de, 15, 109
Morais, Padre Jos de, 77
Morais Filho, Melo, 377, 395
Moreira, Francisco Incio de Carvalho, 409
Morley, 180
Moura, D. Cristvo de, 64
Mller, Fritz, 361-2
Murat, Lus, 377
Musset, 21, 201, 305, 311, 342, 437, 449
N
Nabuco, Joaquim, 24, 293, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 427
Nestor, 54
Nbrega, Padre Manuel da, 66
Nogueira, Batista Caetano de Almeida, 66, 362
Noir, 428
Norberto, v. Silva, Norberto
Noronha, D. Toms de, 15, 109
Novais, Faustino Xavier de, 28, 436
O
Olmpio, Domingos, 362
Oliveira, Alberto de, 149, 377, 381
Oliveira, Botelho de, 19, 40, 57, 93, 94, 95, 97, 115, 117, 118, 143
Oliveira, D. Joo Franco de, 111
Oliveira, Manuel Botelho de, v. Oliveira, Botelho de
Oliveira, Matias Alves de, 139
Oliveira, Vicente de, 340, 399
Ortigo, Ramalho, 360
Ossian, 187, 247
Otaviano, Francisco, 276, 325, 326, 335
Otni, Jos Eli, 179, 182, 209
Oviedo, Gonalo Fernandez de, 66
P
Pacheco, Duarte, 53
Pailleron, 233
Palhares, Vitorino, 342
Palma, Conde de, 241
Paraguau, 168, 169
Paranagu, Marqus de, v. Barbosa, Francisco Vilela
Paranhos, Silva, 406
Parny, 247
Pascoal, 28, 424
Passos, Soares de, 308
Patrocnio, Jos do, 415
Paz, Ramos, 436
Pedra Branca, Visconde de, v. Barros, Domingos Borges de
Pedro I, Imperador D., 185, 194
Pedro II, Imperador D., 24, 31, 127, 202, 222
Peixoto, Alvarenga, 131, 138, 139, 150, 151, 154, 170, 172, 175, 388
Peixoto, Jos Incio de Alvarenga, v. Peixoto, Alvarenga
Peixoto, Rodrigues, 261
Pena, Ferreira, 361
Pena, v. Pena, Martins
Pena, Lus Carlos Martins, v. Pena, Martins
Pena, Martins, 219, 222, 229, 253, 290, 298, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 398, 401
Penedo, Baro de, v. Moreira, Francisco Incio de Carvalho
Pereira, Hiplito Jos da Costa, v. Costa, Hiplito da
Pereira, Jos Saturnino da Costa, 191
Pereira, Nuno Marques, 123, 235
Pricles, 267
Pimentel, 65
Pimentel, Serpa, 308
Pinheiro, Fernandes, 119, 128, 192, 196, 419, 424, 425
Pinheiro, Cnego Jos Feliciano Fernandes, v. Pinheiro, Fernandes
Pinto, Bento Teixeira, v. Teixeira, Bento
Pinto, Padre Francisco, 76, 77
Pinto, Joo Marques, 194
Pita, Brites da Rocha, 128
Pita, Sebastio da Rocha, v. Rocha Pita
Plato, 157
Plnio, 65
Plutarco, 273
Pombal, Marqus de, 137, 148, 154, 159, 161, 166
Pompia, Raul, 284, 368, 373
Pompia, Raul dvila, v. Pompia, Raul
Pompeu, Toms, 362
Ponsard, 391
Porto Alegre, 34, 200, 206, 212, 227, 228, 229, 230, 255, 259, 297, 304, 312, 391, 395, 420, 422
Porto Alegre, Manuel de Arajo, v. Porto Alegre
Porto Seguro, Visconde de, v. Varhangen, Francisco Adolfo de
Prado, Eduardo, 24, 413, 414, 415
Proudhon, 21
Pblio, 54
Q
Queiroga, Antnio Augusto de, 179, 254
Queirs, Ea de, 360, 366, 368, 370
Quental, Antero de, 338, 360, 375
Quevedo, 15, 107, 109, 138
Quevedo y Villegas, Don Francisco de, v. Quevedo
Quinet, Edgard, 21, 360, 382
Quintiliano, 419
R
Rabelo, Laurindo, 304, 314, 316
Rabelo, Laurindo Jos da Silva, v. Rabelo, Laurindo
Racine, 138, 391
Ravasco, Bernardo Vieira, 40, 79, 93,
Reblo, Manuel Pereira, 99
Rebouas, Andr, 408, 418
Reis, Francisco Sotero dos, v. Reis, Sotero dos
Reis, Joo Gualberto Ferreira dos Santos, 179
Reis, Sotero dos, 205, 265, 270, 272, 273, 274, 424
Renan, 21, 23, 354, 360, 411, 426
Resende, Conde de, 159, 194
Ribeiro, Francisco Bernardino, 179
Ribeiro, Francisco das Chagas, 171
Ribeiro, Joo, 143
Ribeiro, Jos de Arajo, 361
Ribeiro, Jlio, 368, 371, 372, 373
Ribeiro, Jlio Csar, v. Ribeiro, Jlio
Ribeiro, Santiago Nunes, 27, 171, 423
Rio Branco, 418
Rocha, Justiniano Jos da, 405, 406, 415
Rocha Pita, 19, 119, 120, 123, 127, 128, 129, 134, 167
Rodrigues, J. C., 123
Rodrigues, Marques, 280
Rodrigues, Miguel, 82
Romero, Slvio, 34, 160, 293, 344, 359, 360, 363, 366, 386, 395, 428
Rosa, Francisco Otaviano de Almeida, v. Otaviano, Francisco
Rousseau, 182, 266, 284
Roussin, 65
Rueda, Lope de, 247
S
S, Padre Antnio de, 40, 82
S, Antnio Joaquim Franco de, 280
S, Manuel Tavares de Sequeira e, 121
S, Mem de, 59
Sainte-Beuve, 426, 428
Saldanha, Natividade, 180, 188
Salvador, Fr. Vicente do, 40, 45, 63, 71, 72, 77, 78, 127, 128, 134, 244
Sampaio, Fr. Francisco de, 210, 416
Sampaio, Moreira, 400
Sand, George, 247, 311
Santo Eustquio, 116
Santos, Ismnia dos, 340, 399
Santos, Lus Delfino dos, v. Delfino, Lus
Santos, Lus Gonalves dos, 192
Santos, Rodrigues dos, 418
So Carlos, Fr. Francisco de, 179, 183, 188, 210, 416
So Leopoldo, Visconde de, v. Pinheiro, Jos Feliciano Fernandes
So Jos, Fr. Joo de, 99
Scherer, 426, 428
Schiller, 220, 391
Schutel, D. Paranhos, 85, 423
Scott, Walter, 238, 287
Sebastio, Dom, 56
Seixas, Joaquim Incio de, 150
Semprnio, v. Tvora, Franklin
Sneca, 92
Snio, v. Alencar, Jos de
Serra, Joo Duarte Lisboa, 279
Sezefreda, Estela, 399
Shakespeare, 247, 391
Silva, Antnio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e, v. Carlos, Antnio
Silva, Antnio Jos da, v. Jos, Antnio
Silva, A. Vicente da, 123
Silva, Costa e, 164
Silva, Ferreira da, 421, 423
Silva, Firmino Rodrigues, 209, 254, 405
Silva, Incio Cardoso da, 231
Silva, Jacinto Jos da, 194
Silva, Joo Manuel Pereira da, v. Silva, Pereira da
Silva, Joaquim Jos da, 179
Silva, Joaquim Norberto de Sousa e, v. Silva, Norberto
Silva, Jos Bonifcio de Andrada e, v. Bonifcio, Jos
Silva, Jos Maria Velho da, 254
Silva, Jos Ramos da, 125
Silva, Cnego Lus Vieira da, 138
Silva, Norberto, 34, 85, 125, 150, 151, 158, 195, 200, 206, 233, 236, 243, 246, 247, 248, 250, 255, 305, 395, 422, 425
Silva, Pereira da, 26, 34, 200, 237, 238, 243, 286, 305
Silva, Vieira da, 280
Sismondi, Sismonde de, 34
Smith, Adam, 142, 193
Soares, Gabriel, 27, 40, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 79, 90, 91, 130, 242, 244
Soares, Martins, 77
Soares, Padre Mateus, 72
Solano, Manoel Alvares, 121
Sousa, Antnio Gonalves Teixeira e, v. Sousa, Teixeira e
Sousa, Fr. Borges de, 123
Sousa, Gabriel Soares de, v. Soares, Gabriel
Sousa, Joaquim Gomes de, 266, 279
Sousa, Lus de Vasconcelos e, v. Vasconcelos, Lus, Pedro
Sousa, Teixeira e, 200, 219, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 248, 249, 250, 266, 285, 286, 297, 298, 301, 302, 395
Sousa, Tom de, 48
Southey, Roberto, 63, 91
Souza, Padre Francisco de, 116, 130
Spencer, 357, 362, 426, 428
Stowe, Beecher, 277
Strauss, 21
Sucarelo, Joo, 15, 109
Sudermann, 290
Sue, Eugnio, 372
T
Taine, 21, 354, 360, 362, 425, 426, 427
Tasso, 92, 138
Taunay, 284, 288, 299, 332, 333, 334, 340, 366, 368, 427
Taunay, Alfredo dEscragnolle, v. Taunay
Taunay, Visconde de, v. Taunay, Alfredo dEscragnolle
Tvora, Franklin, 293, 336, 337, 338, 340, 341, 366, 368
Tvora, Joaquim Franklin da Silveira, v. Tvora, Franklin
Teixeira, Bento, 6, 40, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 67, 93, 95, 117, 222, 244
Teixeira, Joaquim Jos, 254
Teixeira, Orlando, 400
Teyxeyra, Bento, v. Teixeira, Bento
Timandro, v. Homem, Sales Trres
Tiraboschi, 26
Tiradentes, 139
Titara, Gualberto, 179
Titara, Ladislau dos Santos, 179
Tolsti, 290
Tristo de Athayde v. Lima, Alceu Amoroso
Trent, William, 80
V
Vaa, Frei, 109
Varejo, Aquiles, 397
Varela, Fagundes, 20, 342, 348, 352, 353, 438, 439
Varela, Lus Nicolau Fagundes, v. Varela, Fagundes
Varnhagen, 20, 26, 34, 57, 63, 65, 66, 70, 72, 109, 116, 162, 168, 170, 200, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 273, 277, 278, 284, 286, 305,
362, 388, 421, 425
Varnhagen, Francisco Adolfo de, v. Varnhagen
Vasconcelos, Bernardo de, 405, 418
Vasconcelos, Diogo Pereira Ribeiro de, 139
Vasconcelos, Joaquim de, 360
Vasconcelos, Lus de, 158, 194
Vasconcelos, Padre Simo de, 59, 63
Vasques, Correia, 340, 399
Vega, Lope de, 92
Veiga, Evaristo Ferreira da, 393
Veiga, Lus Francisco da, 170, 393
Veiga, Saturnino da, 170, 171
Veloso, Leo, 415
Viana, 51
Viana, Antnio Ferreira, 393, 405, 415
Viana, Cndido Jos de Arajo, 254
Vicente, Gil, 388, 389
Vieira, Padre Antnio, 17, 40, 67, 77, 78, 79, 81, 82, 89, 92, 99, 265, 268
Vieira, Fr. Francisco, 141
Vigny, A. de, 247, 288
Vilas Boas, Manuel da Costa, 160
Villemain, 425
Virglio, 271
Vtor, Nestor, 126
Voltaire, 138, 164, 174, 191, 272
W
Wolf, Fernando, 26, 35, 218, 297
Z
Zaluar, Emlio, 423, 436
Zola, mile, 368
Você também pode gostar
- No país do presente: Ficção brasileira do início do século XXINo EverandNo país do presente: Ficção brasileira do início do século XXIAinda não há avaliações
- Realismo e Realidade na Literatura: um modo de ver o BrasilNo EverandRealismo e Realidade na Literatura: um modo de ver o BrasilAinda não há avaliações
- Intertextualidade: A Nomeada nas Personagens de Machado de AssisNo EverandIntertextualidade: A Nomeada nas Personagens de Machado de AssisAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira - José Aderaldo CastelloDocumento490 páginasLiteratura Brasileira - José Aderaldo CastelloLucas Matheus100% (3)
- Coutinho, Afrânio. A Ficção Naturalista PDFDocumento20 páginasCoutinho, Afrânio. A Ficção Naturalista PDFNena Borba100% (1)
- A Literatura Portuguesa. MOISES, Massaud PDFDocumento47 páginasA Literatura Portuguesa. MOISES, Massaud PDFBruno Gervásio100% (2)
- As Raizes Do Romantismo PDFDocumento39 páginasAs Raizes Do Romantismo PDFJana Paim100% (4)
- Machado e Borges: e outros ensaios sobre Machado de AssisNo EverandMachado e Borges: e outros ensaios sobre Machado de AssisAinda não há avaliações
- Santo Alberto Magno - de Natura Logicae PDFDocumento30 páginasSanto Alberto Magno - de Natura Logicae PDFErich CaputoAinda não há avaliações
- A crônica de Graciliano Ramos: de laboratório literário a instrumento de dissidênciaNo EverandA crônica de Graciliano Ramos: de laboratório literário a instrumento de dissidênciaAinda não há avaliações
- A literatura no Brasil - Era Barroca e Era Neoclássica: Volume IINo EverandA literatura no Brasil - Era Barroca e Era Neoclássica: Volume IIAinda não há avaliações
- O fauno nos trópicos: Um panorama da poesia decadente e simbolista em PernambucoNo EverandO fauno nos trópicos: Um panorama da poesia decadente e simbolista em PernambucoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Candido A - A Literatura e A Formação Do HomemDocumento10 páginasCandido A - A Literatura e A Formação Do HomemRhuana LimaAinda não há avaliações
- Bras Bexiga e Barra Funda PDFDocumento40 páginasBras Bexiga e Barra Funda PDFJARDEL LEITEAinda não há avaliações
- Letramento Literario Por Vielas e AlamedasDocumento9 páginasLetramento Literario Por Vielas e AlamedasPaulo André CorreiaAinda não há avaliações
- Literatura Comparada OnlineDocumento204 páginasLiteratura Comparada OnlineFernandoRocha100% (1)
- Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos - O Romance Como Gênero Planetário PDFDocumento9 páginasSandra Guardini Teixeira Vasconcelos - O Romance Como Gênero Planetário PDFLucas AlvesAinda não há avaliações
- A Literatura MaranhenseDocumento67 páginasA Literatura MaranhenseAne Beatriz DuailibeAinda não há avaliações
- Teles - Vanguarda ModernismoDocumento40 páginasTeles - Vanguarda ModernismoLucas AgostinhoAinda não há avaliações
- PAZ. A Outra VozDocumento35 páginasPAZ. A Outra Vozfrancine ricieriAinda não há avaliações
- Roteiro Da Poesia Brasileira - Pré-ModernismoDocumento6 páginasRoteiro Da Poesia Brasileira - Pré-ModernismotioneurasAinda não há avaliações
- Cult 239 - Graciliano RamosDocumento61 páginasCult 239 - Graciliano RamosMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Panorama Contemporâneo Das Pesquisas em Ensino de Literatura - UfcgDocumento96 páginasPanorama Contemporâneo Das Pesquisas em Ensino de Literatura - UfcgIvon Rabêlo100% (1)
- Literatura e Sociedade 2019Documento263 páginasLiteratura e Sociedade 2019alamedaitu100% (1)
- Texto Lívia Natália UfbaDocumento20 páginasTexto Lívia Natália UfbaRimbaud32Ainda não há avaliações
- Octavio Paz - O Arco e A Lira - (Introduca0)Documento9 páginasOctavio Paz - O Arco e A Lira - (Introduca0)Patrick DansaAinda não há avaliações
- Historiografia Da Literatura Brasileira Volume 2 Final Abv6pbDocumento490 páginasHistoriografia Da Literatura Brasileira Volume 2 Final Abv6pbLuiz Costa LimaAinda não há avaliações
- A História Concisa Da Literatura Brasileira - Alfredo BosiDocumento460 páginasA História Concisa Da Literatura Brasileira - Alfredo BosiESC2010100% (7)
- 1930 - A Crítica e o ModernismoDocumento288 páginas1930 - A Crítica e o ModernismoShirley Aires100% (1)
- A Prosa Brasileira Contemporânea - PellegriniTania PDFDocumento230 páginasA Prosa Brasileira Contemporânea - PellegriniTania PDFMidiã EllenAinda não há avaliações
- Res - 01 - 15 Lukács A Teoria Do Ramance ResumoDocumento7 páginasRes - 01 - 15 Lukács A Teoria Do Ramance ResumoSarita Da Silva SantosAinda não há avaliações
- LAFETÁ, João Luiz. A Representação Do Lírico Na Paulicéia Desvairada in A Dimensão Da Noite PDFDocumento13 páginasLAFETÁ, João Luiz. A Representação Do Lírico Na Paulicéia Desvairada in A Dimensão Da Noite PDFLeandro AndressaAinda não há avaliações
- Literatura Historia e PoliticaDocumento9 páginasLiteratura Historia e PoliticaAnonymous 0Y3E2O5mAAinda não há avaliações
- PERRONE MOISES Leyla Que Fim Levou A Critica Literaria in Inutil Poesia e Outros Ensaios Breves Companhia Das Letras 2000Documento6 páginasPERRONE MOISES Leyla Que Fim Levou A Critica Literaria in Inutil Poesia e Outros Ensaios Breves Companhia Das Letras 2000TatianeCostaSousaAinda não há avaliações
- Lima Luiz Costa Mimesis e ModernidadeDocumento154 páginasLima Luiz Costa Mimesis e ModernidadeAugusto NunezAinda não há avaliações
- O Sequestro Do BarrocoDocumento61 páginasO Sequestro Do BarrocoCris Pagoto100% (1)
- Literatura e Filosofia CompletoDocumento184 páginasLiteratura e Filosofia CompletoErick Camilo100% (1)
- Cleonice Berardinelli - Cinco Séculos de Sonetos Portugueses - de Camões A Fernando PessoaDocumento755 páginasCleonice Berardinelli - Cinco Séculos de Sonetos Portugueses - de Camões A Fernando PessoaDebora Duarte Costa100% (4)
- Criação Literária Prosa IDocumento23 páginasCriação Literária Prosa ILeo Soares100% (1)
- Modernismo Na Literatura Brasileira 07Documento42 páginasModernismo Na Literatura Brasileira 07luceliadisousaAinda não há avaliações
- DENIS, B. Literatura e EngajamentoDocumento10 páginasDENIS, B. Literatura e EngajamentoDezwith BarrosAinda não há avaliações
- O Narrador Na Literatura ContemporaneaDocumento24 páginasO Narrador Na Literatura ContemporaneaCamila CarvalhoAinda não há avaliações
- Apropriações de O Ateneu Na Educação Brasileira PDFDocumento160 páginasApropriações de O Ateneu Na Educação Brasileira PDFValnikson VianaAinda não há avaliações
- Um Mestre Na Periferia Do Capitalismo, Roberto SchwarzDocumento22 páginasUm Mestre Na Periferia Do Capitalismo, Roberto SchwarzBeatriz Ribeiro Faria Rigueira100% (1)
- Leyla Perrone-Moisés - Orientalismo e Orientação Num Conto de Guimarães RosaDocumento10 páginasLeyla Perrone-Moisés - Orientalismo e Orientação Num Conto de Guimarães RosaDarcio RundvaltAinda não há avaliações
- STEINER, George - Extraterritorial - A Literatura e A Revolução Da LinguagemDocumento92 páginasSTEINER, George - Extraterritorial - A Literatura e A Revolução Da LinguagemAdna Paula100% (1)
- F5 Literatura CearenseDocumento16 páginasF5 Literatura CearenseBertany PascoalAinda não há avaliações
- Principios e questões de philosophia politica (Vol. II)No EverandPrincipios e questões de philosophia politica (Vol. II)Ainda não há avaliações
- Produção Literária Juvenil e Infantil Contemporânea: Reflexões acerca da pós-modernidadeNo EverandProdução Literária Juvenil e Infantil Contemporânea: Reflexões acerca da pós-modernidadeAinda não há avaliações
- Letramento Literário na Escola: A Poesia na Sala de AulaNo EverandLetramento Literário na Escola: A Poesia na Sala de AulaNota: 2 de 5 estrelas2/5 (1)
- Literatura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)No EverandLiteratura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)Ainda não há avaliações
- Agora sou eu que falo, eu, o leitor: uma poética da leitura em PepetelaNo EverandAgora sou eu que falo, eu, o leitor: uma poética da leitura em PepetelaAinda não há avaliações
- Para além das palavras: Representação e realidade em Antonio CandidoNo EverandPara além das palavras: Representação e realidade em Antonio CandidoAinda não há avaliações
- 921 - Soc Etnocentrismo 1emDocumento5 páginas921 - Soc Etnocentrismo 1emmfatimadlopesAinda não há avaliações
- Mario Vargas Llosa A Linguagem Da PaixãoDocumento142 páginasMario Vargas Llosa A Linguagem Da PaixãoFelipe Prestes BatistaAinda não há avaliações
- Delgado de Carvalho - A Excursão GeográficaDocumento434 páginasDelgado de Carvalho - A Excursão GeográficaLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- TeseFinalizadaCDWagberVinhas PDFDocumento279 páginasTeseFinalizadaCDWagberVinhas PDFAnonymous f1V2oXJwAinda não há avaliações
- Formação Inicial, História e Cultura Africana e AfrobrasileiraDocumento538 páginasFormação Inicial, História e Cultura Africana e AfrobrasileiraAlexandrenavarone100% (1)
- Utopias Urbanas CymbalistaDocumento28 páginasUtopias Urbanas CymbalistaJulia da Costa AguiarAinda não há avaliações
- BOURDIEU, PIERRE - Esboço de Auto-AnaliseDocumento9 páginasBOURDIEU, PIERRE - Esboço de Auto-AnaliseLucas MartinezAinda não há avaliações
- Rumos Da Antropologia em MocambiqueDocumento119 páginasRumos Da Antropologia em MocambiqueFilipe Nhambo FaylaxyAinda não há avaliações
- A Revolução Silenciosa Do Ensino SuperiorDocumento18 páginasA Revolução Silenciosa Do Ensino SuperiorEveline GomesAinda não há avaliações
- 2° Ano - CulturaDocumento6 páginas2° Ano - CulturaJonas BatistaAinda não há avaliações
- O - Nietzsche - de - Wittgenstein - Marco BrusottiDocumento27 páginasO - Nietzsche - de - Wittgenstein - Marco BrusottiDaniana de CostaAinda não há avaliações
- Christofe Lilian D PDFDocumento193 páginasChristofe Lilian D PDFAraújo JúniorAinda não há avaliações
- Docência Do Ensino Superior 2Documento42 páginasDocência Do Ensino Superior 2Ivison TorresAinda não há avaliações
- Document - Onl - Baralho Cigano NovoDocumento162 páginasDocument - Onl - Baralho Cigano NovoRafael Monteiro Moyses CanavezziAinda não há avaliações
- Nacionalismo 27-06 A 15-07 2 Série SociologiaDocumento3 páginasNacionalismo 27-06 A 15-07 2 Série SociologiaGISELE DE CASSIA IANKOSKIAinda não há avaliações
- O Continente e A Ilha Duas Vias Da FilosDocumento6 páginasO Continente e A Ilha Duas Vias Da FilosFernando fuãoAinda não há avaliações
- lepidus,+Páginas+de+Ed+5+jun 2008+-+COMPLETA18Documento6 páginaslepidus,+Páginas+de+Ed+5+jun 2008+-+COMPLETA18Tia das plantasAinda não há avaliações
- Gomezdavilianas I - 210 Aforismos Sobre Livros e EscritoresDocumento14 páginasGomezdavilianas I - 210 Aforismos Sobre Livros e EscritoresSCRIBD.SMLAinda não há avaliações
- Educação em Direitos Humanos Vera e Susana PDFDocumento20 páginasEducação em Direitos Humanos Vera e Susana PDFChristhofe VouglanAinda não há avaliações
- Maria Pinn - Beatriz Nascimento e A Invisibilidade Negra Na Historiografia Brasileira PDFDocumento17 páginasMaria Pinn - Beatriz Nascimento e A Invisibilidade Negra Na Historiografia Brasileira PDFRenato FreireAinda não há avaliações
- Malu04, Artigo 05Documento17 páginasMalu04, Artigo 05Victor ProcopioAinda não há avaliações
- Tradução Do Texto Complementar - The New Cultural Politics of Difference - CORNEL WESTDocumento11 páginasTradução Do Texto Complementar - The New Cultural Politics of Difference - CORNEL WESTJuLanzariniAinda não há avaliações
- As 12 Camadas Da PersonalidadeDocumento14 páginasAs 12 Camadas Da PersonalidadeRenato MacharetAinda não há avaliações
- Mário Ferreira Dos Santos - Igor Machado Correia e Lucas Emmanuel Rodrigues Plaça MargueiroDocumento18 páginasMário Ferreira Dos Santos - Igor Machado Correia e Lucas Emmanuel Rodrigues Plaça MargueiroArthur ChagasAinda não há avaliações
- ClausewitzDocumento77 páginasClausewitzEAR EarAinda não há avaliações
- Lukács Leitor de DostoiévskiDocumento12 páginasLukács Leitor de DostoiévskiRafael BedoiaAinda não há avaliações
- Afredo Wagner Berno de Almeida. Amazônia - A Dimensão Política Dos Conhecimentos TradicionaisDocumento192 páginasAfredo Wagner Berno de Almeida. Amazônia - A Dimensão Política Dos Conhecimentos TradicionaisoliveiraluceAinda não há avaliações
- 2628 1320 PBDocumento137 páginas2628 1320 PBhelbertsfcostaAinda não há avaliações