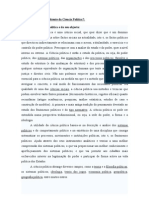Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Donatella Della Porta Introducao A Ciencia Politica
Donatella Della Porta Introducao A Ciencia Politica
Enviado por
jamirdd0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
38 visualizações35 páginasTítulo original
42801621 Donatella Della Porta Introducao a Ciencia Politica
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
38 visualizações35 páginasDonatella Della Porta Introducao A Ciencia Politica
Donatella Della Porta Introducao A Ciencia Politica
Enviado por
jamirddDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 35
I.
ENTRE 0 EST ADO E 0 PODER: 0 QUE E A POLfTICA
No presente capftulo, discutiremos os principais elementos de uma
da eiencia polftica, obscrvando 0 que sc entende por po-
litiea e porciencia. Analisaremos as principais abordagens prescn-
tes na ciencia politica e introduzircmos assim conceitos para analise
da politica, como 0 Estado, 0 poder, 0 sistema poHtico, a escolha
racional e as instituh;oes. Concluiremos com uma breve resenha dos
metodos de pesquisa em ciencia polftica.
1. A ciencia polftica: para uma detinh,;ao
Embora em Italia, como no resto do continente europeu, se tenda
a situar 0 nascimento da ciencia politica no final do seculo XIX, ob-
servou-se que, logo apos a Segunda Guerra Mundial, tanto em Italia
como na Europa em geral, os pais fundadores da ciencia politica
tinham uma formac;ao juridica, historica ou filosOfica: ou seja, nin-
guem daquela gerac;ao tinha "nascido" cicntista politico [Morlino
1989, 6]. Ainda em 1975, urn dos manuais de cicncia politica mais
difundidos definia a discipJina como mal delineada, amorfa e hete-
rogenea [Greensteine Polsby, 1975, 1]. So muito mais recentemente
se observou que a ciencia politica, como disciplina, se tomou cada
vezmais maduraeprofissionalizada [GoodineKlingemann 1996,
AS DELIMITA\=OES
A propria definic;ao das delimitac;ocs da disciplina em relac;ao a
materias afins e na verdade uma tarefa que comec;a aenfrentarmaior
sistematicidade no segundo pos-guerra. Com base numa formulac;ao
13
IIII1
que se evidencia em meados dos anos 50 do seculo xx [Finer 1954, parece ser urn dos caracteres - porque figura entre os mais contesta-
dos e menos atraentes - da contemporaneidade [Beligni 1991, 11].
Nao e por acaso que urn dos seus expoentes mais influentes revelou
que se M urn elemento distintivo da ciencia politica ocidental, esse
consiste ainda na falta de urn acordo sobre a forma de descrever 0 seu
objectivo da maneira mais exaustiva [Easton 1985, 95].
A HISTORIA DA CrENCIA POLITICA
A historia da ciencia polltica e, com efeito, muito longa ou, pelo
contrado, breve, consoante se coloca as suas origens no debate filo-
sofico sobre a polftica ou se centra na ciencia polftica como disciplina
baseada na busca empfrica. Segundo as palavras de urn politologo
influente:
se tivessemos de modelar a hist6ria da ciencia politica sob a forma de
uma curva do progresso no tempo dos estudos sobre a politica, iniciar-
-se-ia com a ciencia politica grega, daria alguns passos modestos nos
seculos de Roma, nao faria grandes progressos na Idade Media, cresceria
urn pouco com 0 Renascimento e 0 Iluminismo, efectuaria algumas
conquistas substanciais no seculo xx e depois explodiria em bases s6lidas
no seculo xx, quando a ciencia po[{tica adquire caracterlsticas autenti-
camente profissionais [Almond 1996, 50, 0 italico emeu].
Se e nesta ciencia polftica profissional do seculo xx que nos vamos
concentrar neste volume, 0 emergir da concep<;ao moderna da polftica
e, porem, urn processo lento, cujas origens se situam muito atras no
tempo.
DA POLIS
De urn modo geral, muitas discussoes sobre 0 conceito de polftica,
que partem da sua raiz etimologica, recordam a polis grega. Para os
Gregos, a experiencia da polis estava ligada ao aumento de potencia
de capacidades unicas da especie humana, como 0 raciocfnio e 0 uso
da linguagem. A polis grega foi, porem, urn fenomeno peculiar, di-
ficilmente relaciom'ivel com as caracterfsticas que a polftica assu-
miu posteriormente. Com efeito, se a reflexao sobre a polftica recorre
insistentemente a concep<;ao grega, acerta com frequencia (para bern
ou para mal) a sua nao aplica<;ao as circunstancias actuais [Poggi
1996, 1].
15
r
...
~ i
I
27; cfr. tambem Cotta, Della Porta e Morlino 2001, 73-74]:
1) a ciencia politic a distingue-se da JilosoJia po/{tica, quando ex-
c1ui do seu ambito jufzos morais, prestando aten<;ao a recolha
e analise dos dados empfricos;
2) a ciencia polftica distingue-se do dire ito publico, quando a pes-
quisa se concentra em processos reais, de preferencia aos for-
mais-Iegais;
3) a ciencia polftica distingue-se da hist6ria, quando a analise dos
dados empfricos visa mais uma generaliza<;ao do que conheci-
mentos circunscritos a uma realidade especffica no espa<;o e no
tempo.
UMA DEFINI<;AO
Sintetizando, a ciencia polftica ocupa-se da polftica como ela e
e nao como deveria ser, concentra-se em processos reais e nao nos
formais-Iegais; visa conhecer generalizaveis e nao especfficos. Na
verdade, a ciencia polftica foi definida como 0 estudo ou pesquisa,
com a metodologia das ciencias emplricas, de diversos aspectos da
realidade po/{tica, a Jim de a explicar 0 mais completamente POSSI-
vel [Morlino 1989, 6].
o metodo da disciplina e, portanto, 0 das ciencias empiricas e 0
seu objectivo a realidade polftica. Mas 0 que e a polftica? Equal
e 0 metodo das ciencias empfricas? Tentarei oferecer alguns ele-
mentos de resposta a estas perguntas no presente capitulo.
2. 0 que ea politica?
Como acontece com muitos conceitos centrais das ciencias sociais,
o de poUtica tambem assurniu vados significados, alterando conota<;oes
no tempo e no espa<;o, adaptando-se a varias abordagens teoricas e
enchendo-se de diversos conteudos empiricos. Como se observou,
hoje, mais do que ontem, a resposta ao quesito canonico "0 que e a
polftica" apresenta-se problematica e incerta, porque nenhum ambito
da vida associada parece subtrair-se a politiza<;ao e essa tendencia
14
ENTRE LIBERDADE E DlREITOS: 0 QUE E
A DEMOCRACIA
Urn tema central para a ciimcia politica refere-se aos
regimes politicos, com uma fundamental entre
democracias e nao-democracias. Ao longo do presente capi-
tulo, abordaremos as decisoes dos dois tipos de regime; 0
modo como os regimes democraticos se afirmaram em al-
guns partidos do mundo; a de cidadania. Trataremos
da das democracias, das Iiberdades individuais e
dos direitos colectivos. Paralelamente, tentaremos compre-
ender a razao pela qual regimes nao-democraticos domina-
ram em grande parte do mundo.
1. Democracias e nao-democracias
grande parte da ciencia politica concentrou-se no estudo das
democracias, que serao igualmente 0 centro da atens;ao do presente
capftulo. A pesquisa nao s6 se referiu de preferencia aos regimes
democTClticos - onde quer os recursos materiais disponiveis quer a
presens;a de liberdade de pensamento permitiram desenvolver refle-
x6es teoricas e pesquisas empfricas -,mas tamMm, quando se tratou
dos regimes nao-democniticos, recorreu-se a conceitos e hip6teses
construfdos na analise das democracias. Enquanto a propria definis;ao
de regimes niio-democraticos contrasta com a de democracias, algu-
mas das principais abordagens ao estudo dos paises nao-democraticos
tomaram como modelo os regimes democniticos. Em particular nos
anos. 50 do seculo xx, v:lrias teorias sabre 0 desenvolvimento poUtico
sugeriram a aplicas;ao aescala mundial do modelo de modernizas;3.o
49
politica e economia experimentado no mundo ocidental. A guerra
Vietname, que evidenciou as consequencias dramaticas das tentativag
de exportar 0 modelo ocidental de moderniza9ao aos pafses em
de desenvolvimento, provocou urn declfnio definitivo na tentativa de
elaborar teorias gerais do desenvolvimento, acusadas de reflectir 0
c1ima da guerra fria [Wiarda, 1991, 2]]. Embora os estudos mais
recentesserefiram,todavia, ao modocomoorganismosinternacionais,
governativos ou nao, podem ajudar a afirmac;ao da democracia nos
pafses emvias dedesenvolvimento do chamado suI do mundo (sobre-
tudo em Africa, e America Latina), reproduzindo algumas con-
di90es culturais e associativas jaexperimentadas no mais rico Norte
[Schmitter e Brouwer, 2000].
Segrandeparte daaten9ao dos politologos seconcentrounademo-
cracia, istonao significaqueexistaumadefinic;ao univocamenteaceite
do conceito. As defini90es classicas de democracia salientam 0 papel
legitimante dos cidadaos.
o QUE E A DEMOCRACIA?
A democraciae0 poderpelo povo, do povoe para 0 povo: deriva
do povo, pertence ao povo e deve ser usado pelo povo. Portanto, 0
poder dos governantes resulta da investidura popular.
Urn dos cientistas politicos mais influentes sobre 0 tema, Robert
Dahl, definiu a caracterfstica fundamental da democracia como a
capacidade dos governos para satisfazer, de forma continuada, as
preferencias dos cidadaos, num cenario de igualdade polftica [1971,
trad. it. 1980, 279]. Esta defini9ao salienta urn c1emento normativo:
isto e, afirma-se 0 que a democracia deve ser - em particular, a
correspondencia necessaria entre decisoes dos politicos e desejos da
popula<;ao. Este tipo de defini<;ao apresenta problemas de aplica9ao a
pesquisa empfrica:
comodeterrninar ate que ponto alguns problemas reais se aproximam,
au afastarn, da real, ou responsiveness, considerada
necessaria? ... Como epossivel deterrninar as desejos ou as preferen-
cias dos cidadaos? Quem tern 0 direito de os exprimir sem os trair Oll
modificar? Valem apenas as preferencias da maioria? Mas urn regime
democnitico nao deve proteger igualmente as rninorias? Como medir,
pois, a correspondencia, ou a responsiveness, ou a congruencia?
[Morlino, 1986, 84]
50
os PROCESSOS DEMOcRATlCOS
oproprio Dahl sugeriu que nagarantia da capacidade de resposta
das democracias ba uma serie de processos - daqui a no<;ao de defi-
ni9ao processual - que devem permitir aos cidadaos formular e fazer
pesar as suas preferencias. Urn governo em condi90es de responder
aoS cidadaos deve garantir que cada urn possa:
1) formular as suas preferencias;
2) apresenta-Ias aos cidadaos atraves do recurso a uma aC9ao in-
dividual e colectiva;
3) providenciar para que tenham 0 mesmo peso na conduta do
governo ou, por outras palavras, nao haja discrimina90es con-
soanteosconteudosouorigemdessaspreferencias lDahl, 1971;
trad. it. 1980, 28-29].
Paraque estas tres condic;oes se verifiquem,ba necessidade de oito
garantias institucionais:
1) liberdade de constituir organiza90es e aderir as mesmas;
2) liberdade de expressao;
3) direito de voto;
4) direito de competir pelo apoio e pelos votos;
5) elegibilidade dos cargos polfticos;
6) fontes de infonna93.0 alternativas;
elei90es livres e correctas;
8) institui90es que tornem 0 governo dependente do voto e das
outras formas de expressao de preferencias politicas.
o PAPEL DAS ELEIC;:OES
As eleit;;oes tern urn papel central nadifusao da democracia repre-
sentativa emparticular, napassagemdas defini90es normativas para
as processuais dademocracia. Elei90es livres e correctas e institui90es
Constitufdas por eleitos sao garantias indispensaveis a democracia:
urn sistema representativo nao pode existir sem elei90es peri6dicas
aptas para tornar os governantes responsaveis nos confrontos com os
governados [ ...Jurn sistema politico qualifica-se como representativo
no caso em que praticas eleitorais honestas garantam urn grau de
correspondencia razoavel dos governantes nos confrontos com os
governados [Sartori, 1990, 230].
51
Urn elemento indispensavel paraque haja democracia e a existen-
cia de eleic;oes competitivas, correctas e recorrentes. Com efeito, nao
esuficiente que se realizem: deve tratar-se de eleigoes em que haja
uma competi(,;ao real entre os candidatos, que seja tambem correcta e
quese repetiramaurn ritmoregular(de modo que quemceleito saiba
que deve prestar contas aos eleitores dos seus actos dentro de urn
determinado periodo de tempo). As elei(,;oes devem funcionar como
elementos de responsabilizac;ao, vinculando os principais actores do
governo - uma vez que a democraciacomportaurn sistemainstitucio-
nalizado de representa(,;ao, realizada atraves da designa(,;ao eleitoral
livre de certos organismos fundamentais (sobretudo os parlamentos)>>
[Cotta, 1990, 933j.
A CONSTlTUCIONALIZAI;AO DOS DIRElTOS
Assim, a propria concepC;ao de urn poder constitucional salienta a
necessidade de lirnitar todo 0 tipo de poder, inclusive 0 dos orgaos
representativos, submetendo-o ao direito. Na verdade, a democracia
sujeita 0 poder damaioriaaurn controlojurisdicional de respeito pela
lei e pela Constituic;ao IKelsen, 1998, 123]. Ern democracia, a obten-
(,;ao damaioriaparlamentarda direito a decidiremmuitas coisas, mas
nao ern tudo. Os direitos das maiorias sao tutelados alraves daquilo
que foi definido como constitucionaliza(,;ao de alguns direitos, ou
seja, fazem depender 0 arbftrio da maioria de alguns elementos fun-
damentais para 0 pacto social em que as democracias se baseiam.
Ao contnirio, pode dizer-se, numa primcira aproximac;ao, que os
regimes nao-democraticos se earacterizam pela ausencia de eleigoes
competitivas e instituigoes responsliveis. Nao e poracaso, nas fases
passagem de urn nao-democn:itico para urn democra-
tico, que as e\ei(,;oes sao corn frequencia orientadas por organismos
internacionais, que controlam a sua reclidao e aprovac;ao, elementos
que representam urn momenta fundamental.
2. A primeira dcmocratizac;ao
o EMERGIR DA DEMOCRACIA
As democracias evolufram atraves nao so de urn alargamento do
direito do voto, mas tambem do reconhecimento de uma serie de
direitos civis. politicos e sociais, hoje considerados fundamentais.
52
III. ENTRE INTERESSES E IDENTIDADE:
o QUE 13 A PARTICIPA<;AO POLlTICA
Na reaIidade das democracias ocidentais, a
e selectiva: nao s6 0 numero dos cidadaos que participam
politicamente elimitado, como alguns grupos participam
menos do que outros. No entanto, como veremos no presente
capitulo, 0 repert6rio da ampliou-se no tempo
em formas de nao convencionais, que envoI vern gru-
pos mais amplos da AICm disso, observaremos
como a de identidades colectivas e a emergencia
. de valores p6s-materialistas se ligaram as novas formas de
Ocupar-nos-emos, a seguir, do tema sobre as
vantagens e desvantagens da em particular nas
suas formas menos convencionais, e falaremos do Iugar
particular de que ea esfera publica.
s
uma premissa
)
)
o tema da e central para a polftica e para a democra-
0 proprio conceito de politica, referindo-se na sua etimologica
S
grega, exige uma imagem de no agora, intervem
l-
do raciocfnio para das decisoes. A chamada de-
i-
a
. dos antigos mantem esse elemento de intervens;ao directa.
disse-se com frequcncia que as democracias dos moder-
).
tern pouco que ver com a polis grega: trata-se, na verdade, como
1.
de democracias representativas, onde as decisoes sao toma-
pelo povo e, por isso, delegados para governar
85
DEMOCRACIA E PARTICIPA';;AO
Aparda concepc;iio representativa dademocracia existe outraqUe
salienta a necessidade que os cidadaos, naturalmente interessados na
politica, tern de assumir directamente a tarefa de intervirnas decisoes
referentes acausapublica. Enquanto a democraciarepresentativapre-
a constituis;ao de urn corpo de representantcs especializados, a
democracia directa, pelocontririo, atribui fortes vfnculos ao principio
dadelegaS;ao, encaradacomo instrumentode urn poderoligarquico. Se
a democracia representativa se baseia numa igualdade formal - uma
cabes;a, urnvoto-,adirectaeparticipativa, porquereconhece0 direito
dc decidir somente a quem revela dedicaS;ao pela causa publica. En-
quanta a democracia representativa ecom frequencia burocratizada,
com uma centralizaS;3o das decisoes no vertice, a directa insiste na
necessidade de levar as decisoes 0 mais perto possfvel das pessoas.
Se a tensao entre representac;iio e participac;iio esta sempre pre-
sente nas concep<,;oes da democracia, com uma clara prevalencia da
primeiranaevolu<,;ao concretadas instituis;oes democraticas, etodavia
necessario urn certo nfvel de participa<,;ao para legitimar os represen-
tantes. A pr6pria ideia da soberaniapopular pressupoe a participas;ao
quenaverdade se desenvolveu, naEuropa, emmeados do seculoXVIII
de urn espas;o publico que permitiu a acs;ao recfproca entre os
cidadaos eosrepresentantes dasinstituis;oes [Mayere Perrineau, 1992,
Por conseguinte, esta estendeu-se atraves das virias etapas
alargamento do sufragio eleitoral, principal instrumento da participa-
S;ao dos cidadaos [efr. cap. 2]. Cadavez mais presentes nas democra-
cias contemporaneas sao, por outro lado, correctivos do principio da
delegas;1io, emparticularsob aformadoreferendo, ou daconsulta
directa aos eleitores sobre tematicas singulares e a participaS;ao, de
varias formas, dos cidadaos na activas;ao de politicas publicas.
o QUE E A PARTICIPA';;AO
Mas que significa participa<,;ao polftica? Foi definida como 0
envolvimento do individuo no sistema politico a vdrios niveis de ac-
tividade, do desinteresse total a titularidade de um cargo polftico
[Rush, 1992; trad. it. 1998]. Numa concep<,;ao mais limitada, com-
preendequaisoscomportamentosdos cidadaosorientadosparainfluen-
ciar 0 processo politico [Axford et al., 1997, 109].
86
Nas formas minimas, considera-se participa<,;ao aexposi<,;ao volun-
a mensagens politicas [leitura de jornais, ver 0 telejornal, etc.).
caso, fala-se de simples presenS;a, diferente da activa<,;ao, que
quando urn indivfduo se empenha em actos politicos.
nressaoparticipas;aopoliticacompreendecomportamentosmuito
do votoamilitancianumpartido, dadiscussao sobrepolitica
organizada [parauma informa<,;ao, Sani 1991l. A decisao de
urn certo comportamento como forma de participas;ao po-
nem sempre efacil. Assim, perguntou-se se fazem parte da
cipas;ao politica os actos que se efectuam por motivaS;ao politica
s que exercem cfeitos politicos - se urn individuo participa, por
numa manifestac;;iio contra 0 encerramento de uma fabrica
uma ac<,;ao polftica, mesmo que as suas motivas;oes sejam
dominantemente econ6micas [Lagroye, 1993, 324]7 E quem exc-
actos terroristas para alterar uma decisao do govemo participa
icamente? E quem paga para ser incumbido de uma empreitada
sobre os problemas de definis;ao 0 debate se mantem
a pesquisa empirica tentou determinar quem, quanto, como e
participa.
selectividade da
PARTICIPA';;AO CONVENCIONAL
numerosasaspesquisas sobre 0 envolvimentodos cidadaosnas
formas de participas;ao. Durante muito tempo, os estudiosos
traram-se nas convencionais, comexclusiioexplfcita das ac<,;oes
nao-convencionais. Numa das primeiras investiga<,;oes sobre 0
Lester Milbrath [1965, 18] definiu, por cxempl0, os seguintcs
Irtamentos nivelados em relac;;ao ao empenho exigido:
Expor-se a solicita<,;oes politicas.
Votar.
Entabular uma discussao politica.
Tentar convencer alguem a votar de determinado modo.
Usar urn distintivo politico.
Ter contactos com urn funciolll:trio ou dirigente politico.
Fazer ofertas em dinheiro a urn partido ou candidato.
Assistir a urn comfcio ou assembleia politica.
87
9) Dedicar tempo a uma campanha politica.
10) Tornar-se membro activo de urn partido politico.
11) Participar em reunioes onde se tomam decisoes politicas.
12) Solicitar contribui<;oes em dinheiro para causas politicas.
13) Candidatar-se a urn cargo e1ectivo.
14) Ocupar cargos politicos ou de partido.
Vma quesUio a qual os estudiosos prestaram muita aten<;ao foi a
selectividade da participa<;ao de varios grupos da popula<;ao. Em al-
gumas pesquisas, tentou-se, assim, salientaredepois explicar0 quan-
to e 0 quem da participa<;ao.
2.1. Quanta participaf;iio?
Se as teorias norrnativas afirrnaram que a participa<;ao legitima a
democracia e os estudos comparados se debru<;aram sobre as ac<;6es
reciprocas entre participa<;ao e desenvolvimento das institui<;oes de-
mocraticas, as pesquisas sobre comportamentos individuais apresenta-
ram uma imagem diferente das democracias contemporaneas. Inves-
tiga<;oes conduzidasprincipalmentecombaseemsondagensde opiniao
revelaram que a democracia convive com ta:xas de participal;iio muito
baixas.
BAIXAS TAXAS DE PARTICIPAyAO
Vma das primeiras pesquisas sistematicas sobre participa<;ao polf-
tica, efectuada nos Estados Vnidos, Gra-Bretanha, Alemanha, Italia e
Mexico, no inicio dos anos 60 do seculo xx, revela urn interesse pela
politica limitado e uma taxa de participa<;ao ainda mais baixa. Como
Gabriel Almond e Sidney Verba escrevem, teoricamente uma demo-
cracia em funcionamento necessita de cidadaos informados sabre
tematicas politicas, empenhados activamente nelas e capazes de exer-
cerem influencia nas decisoes pUblicas. Infelizmente, porem, as suas
indaga<;oes sobre 0 comportamento politico poem em duvida este
modelo activistaeracional, pois tcirna-se evidenteque os cidadaosdos
sistemas democraticos s6 muito raramente respondem a este madel
o
.
Nao estao bern informados, nem empenhados profundamente ou par-
ticularrnente activos [Almond e Verba, 1963, 474].
88
Tarnbem outras investiga<;oes no mesmo periodo confirrnaram que
democracias funcionam com uma taxa de participa<;ao muito mais
. do que a ventiladanas teorias norrnativas como condi<;ao neces-
de urn born governo. Na verdade, salientaram que as actividades
se referiam a urn numero reduzido de cidadaos [Lagroye,
312].
No seufamoso estudo, LesterMilbrath [1965] observou, porexem-
que, nos Estados Vnidos, os gladiadores , muito activos em
eram apenas 7% dos cidadaos; os espectadores, empenha-
num nivel minimo, 60%; e os apaticos totalmente desinteres-
30%. Verificaram-seresultados similares, no mesmo pais, numa
(:tllPesquisa de Verba e Nie [1972], que, distinguindo tambem 0 nivel
da participa<;ao, apuraram 22% de cidadaos totalmente pas-
l:iivos, a que se juntavam 21% que se limitavam a votar; quanta aos
': :6utros, 20% eram localistas que s6 se interessavam pelas questoes
4?cms e4% paroquianos que apenas se ocupavamdo que lhes dizia
,iespeito directamente; 15% contendentes, que se mobilizavam em
.' campanhas especificas; e somente 18% activistas globais , envolvi-
80s por todo 0 arco das quest6es politicas.
. A quantidade de pessoas activas reduzia-se, alem disso, amedida
se subia no grau de empenhamento: por exemplo, de ir votar a
linteressar-se pelapolitica, participarem actividades de partido, inscre-
;ver-senumaorganiza<;ao politicaepreenchercargospUblicos. Aumen-
portanto, em cada passagem, 0 grau de selectividade da partici-
lP.a<;ao.
Participariio e desigualdade
oproblemada selectividade aumentoupelofacto de apercentagem
que participam tender a nao ser representativa da popula<;ao
conjunto. Ou seja, ha desigualdades na medida da participa<;ao
por conseguinte, na influencia pof[tica, dos diferentes grupos. Se-
a investiga<;ao de Milbrath [Milbrath e Goel, 1977], os niveis
- mais elevados referem-se, em igualdade de condi<;oes:
aos que tern niveis de instru<;ao mais elevados;
aos provenientes das classes medias em rela<;ao a quem faz
Parte da operaria;
89
c) aos homens em rela<;ao as mulheres;
d) as pessoas em fases de idade intermedias (nem muito jovens
nem demasiado idosas);
e) aos casados em rela<;ao aos solteiros;
1) aos que residem na cidade em rela<;ao aos que vivem em areas
mrais;
g) a quem vive ba muito tempo num Iugar em rela<;ao a quem
acaba de se transferir para hi;
h) aqueles que pertencem a maiorias etnicas;
i) aqueles que estao empenhados socialmente e/ou em organiza-
<;oes de varios tipos.
pesquisa sobre a participa<;ao nos Estados Unidos, VerbaeNie
(1972) observaram que, quanta mais alto 0 estatuto social (riqueza,
prestigio) de urn individuo, maior a sua tendencia para participar.
omesmo resultado foi confmnado seguidamente noutro estudo
Participa<;ao e Iguaidade Polftica [Verba, Nie e Kim, 1978), quecom-
parava sete na<;oes. Os autores escrevem que, apesar de os sistemas
democratieos serem, em principio, igualitarios (baseando-se no sufra-
gio universal e, portanto, no princfpio de uma cabe<;a, urn voto), na
pnitiea a influencia polftica exercida pelos cidadaos varia de forma
consideravel. Com efeito, as desigualdades e economicas
reflectem-se em desigualdades polltieas: Assim que os cidadaos
convertem estes recursos em influencia politica, a desigualdade poH-
tiea torna-se evidente. A vantagem politica dos cidadaos maiorita-
riamentefavorecidos emtermossocioeconomicosencontra-seemtodas
as na<;oes [ibidem, 37). Hierarquias de estratifica<;ao politica e hie-
rarquias de estratifica<;ao socioecon6mica andam a par- embora com
algumas diferen<;as de pais para pais.
Na verdade, quem tern urn estatuto mais elevado dispoe de
recursos materiais (em primeiro lugar, dinheiro) e simb6licos
gio) para investir na participa<;ao. No que se ref ere aos primeiro
s
,
quem dispoe de mais dinheiro e tempo livre pode utiliz3.-los, com
menores custosmarginais,emactividadespoliticas. Alem disso, quem
tern prestigio disp5e tambem de maior influencia: a sua
tern mais possibilidades de exito, porque 0 estatuto social ele
vado
comportamelhores oportunidades de acesso aquemtoma as deciso
es
.
90
ainda, quem dispoe de urn estatuto mais elevado sabe como se
participar, pois com ele aumenta a instm<;ao, e qucm e mais
sabe melhor0 que deve fazer quando se tratade defender os
interesses. Se quem tern urn estatuto social elevado compreende
dos politicos e julga saber como influenchi-Ios, quem nlio
esses recursos aceita a sua incompetencia e delega a interven-
politica noutros. E, pois, este sentimento de incompetencia e nao
lusencia de opinioes (evocada noutras explica<;oes) que estes
afastar-se da participa<;ao.
que se colocam numa posi<;ao central do"ponto de vista
tern igualmente uma vantagem psicologica: a instru<;ao e pres-
incutem confian<;a em si proprios e, portanto, na sua capacidade
mudarascoisas. 0 estatuto socioeconomicoaumentaos niveis de
porque incrementa a confian9a na efidtcia polftica. 0
frances Pierre Bourdieu falou a esse respeito do scntimento
ter 0 direito apalavra, sentimento esse intimamente ligado a
social [Bourdieu, 1979, 180].
A DESIGUALDADE POLITICA
'A igualdade polfticae, portanto, pelo menos emparte, umautopia,
como se revelou utopica a esperan<;a difusa que a democracia,
poder aos menos privilegiados atraves de urn direito de voto
para todos, teria levado a abolir os privilegios. Esta esperan<;a
no poder do numero: sendo mais numerosos que os privi-
os menos privilegiados poderiam desfmtar dos direitos po-
comvantagens pr6prias. As capacidadesdesiguaisde utilizaros
de participa<;ao explicam 0 malogro parcial na utiliza<;ao do
do numero para superar as desigualdades economicas e sociais.
que os cidadaos sao diferentes uns dos outros nas capacidades
>lltilizar as oportunidades de participa<;ao politica, a vantagem do
pode sercontrabalan9adapelo uso desigual das oportunidades
Participa<;ao por parte de quem e economicamente mais forte
Nie e Kim, 1978, 43).
mindo, nas democracias, as oportunidades formais de igual
sao utilizadas desigualmente por varios grupos sociais. Se a
corresponde a procurade igualdade, pode, porem, repro-
as desigualdades. Ampliando-se a participa9ao, admite-se que
influencia nas decisoes publicas individuos cuja dota9ao de
91
recursos economicos ou de estatuto e profundamente diferente. Como
Alessandro Pizzorno sintetizou:
todo 0 indivfduo participa, pelo menos potencialmente, com 0 coefi_
ciente de diferenciac;ao e desigualdade (para nao empregar 0 tenno
privilegio, que teria demasiado sabor a ancien regime) que carac-
teriza a sua posic;ao no sistema dos interesses privados [1966, 90].
3. As novas formas da participac;ao
A PARTICIPA<;AO NAO-CONVENCIONAL
Se a analise da selectividade da participa<;ao considerou principal-
mente as suas formas mais convencionais (sobre a participa<;ao elei-
toral, cfr. cap. 5), a partir dos anos 70 do seculo xx os estudiosos
come<;aram a observar urn crescimento rapido de formas novas, nao-
-convencionais (ou directas) de participa<;ao politica. Entre elas, hil
[por exemplo, Dalton, 1988]:
1) Escrever a urn jornal.
2) Aderir a urn boicote.
3) Auto-reduzir impostos ou rendas.
4) Ocupar ediffcios.
5) Bloquear 0 transito.
6) Assinar uma peti<;ao.
7) Fazer urn sit-in.
8) Participar numa greve selvagem.
9) Tomar parte em manifesta<;6es pacfficas.
10) Danificar bens materiais.
11) Utilizar a contra pessoas.
Isto leva ainterrogarmo-nos sobreos varios estilos de participa(Jiio
proprios de diferentes grupos sociais, gera<;6es ou na<;6es e as condi-
<;6es para 0 desenvolvimento de novas formas de participa<;ao.
Numa importante investiga<;ao comparada efectuada nos anos 70
do seculo xx sobre varias democracias ocidentais, Samuel Barnes e
Max Kaase observaram que, arespeito de leis edecis6es
injustas ou ilegais, grupos cadavez mais numerosos de cidadaos esta
O
disponiveis para recorrer a formas de ac<;ao caracterizadas pela sua
nao-convencionalidade: Nas sociedades industriais avan<;adas, as
92
de ac<;ao politica directa nao ostentam 0 estigma do desvio.
sao encaradas como anti-sistema na sua orienta<;ao [Barnes et
1979, 157]. Por exemplo, entre 1960 e 1974, a percentagem dos
respondem ac<;6es politicas nao convencionais, como manifesta-
apergunta Que pode urn cidadao fazer quanto a urn regula-
local considerado injusto ou prejudicial? aumentou na Gra-
iTeta.!lha, Estados Unidos e Republica Federal Alema de menos de
para mais de 7%.
observa<;ao adicional diz respeito a combina<;ao de interesses e
ac<;6es convencionais e ac<;6es nao-convencionais. Inicial-
pensou-se que os indicadores de participa<;ao politica tendiam
ou seja, quem lia mais tendia a empenhar-se mais nas
mais tradicionais. Depressa se descobriu que, ao contrario,
haver varios estilos de participa<;ao, pelo que alguns indivi-
ou grupos tendiam a escolher umas formas de ac<;ao e outros
WIlliam outras.
$egundo os resultados da investiga<;ao, nao se pode, contudo, falar
verdadeira e propria rotura entre os que utilizam tacticas
de participa<;ao e os que, por outro lado, recorrem as
tacticasde ac<;ao directa. Comefeito, aparticipa<;ao conven-
esta com frequencia relacionada com a nao-convencional, indi-
que pessoas interessadas na politica e competentesno campo
a utilizar simultaneamente varios instrumentos possiveis para
os governos. Se M individuos que preferem urn ou outro
de estrategia, existem muitos que os combinam entre si.
untando participa<;ao em actividades convencionais e actividades
podemos distinguir:
Inactivos, que, quando muito, leem politica ou assinam uma
peti<;ao.
Conjormistas, que se empenham urn pouco mais nas activida-
des convencionais.
Rejormistas, que participam de modo convencional, mas
ampliam 0 repertorio politico ate abra<;ar formas legais de
t protesto, manifesta<;6es ou mesmo boicotes.
lV. Activistas, que ampIiam 0 repertorio no seu nivel maximo,
em alguns casos ate incluir formas de protesto nao legais.
Contestatarios, que adoptam todas as formas nao-convencio-
nais, mas recusam as convencionais de participa<;ao.
93
A REvOLm;AO PARTIClPATIVA
Segundo os resultados dainvestiga<;:ao, 0 numero etos que
pamde umamaneira oudeoutraeamplo, comumapercentagem
oscilaentre 25%(na Austria)e 56% (nos EstadosUnidos)decidadao
s
que utilizam todo 0 Ieque das formas de participa<;:ao, quer conVen.
cionais quer nao-convencionais (v. tab. 3.1.). AMm disso, os que par.
mais sao os mais competentes.
A conclusao eque a participa<;:ao crescente, embora nao-convenci.
onal, naoconstitui urn indicadordedeclfnio de legitimac;.:ao das demo
cracias, onde se observa, tambem, urn crescimento das competencias
polfticas, emparticularentreosjovens. Representa, antes, umaexpres-
sao de uma amplia<;:ao duradoura das potencialidades de
dos cidadaos. Pensamos que a recente vaga alargou 0 repertorio das
ac<;:6es polfticas daqueles que a viveram, e esperamos que este reper-
torio de ac<;:ao alargadafa<;:a parte dorepertoriopotencial daquelesque
adquiriram estes recursos, escrevemos investigadores [ibidem,
A par destas previsoes, urn projecto de investiga<;:ao comparada
grandes dimens6es- que utilizou dados provenientes de varias
gens conduzidas em diferentes periodos, em numerosas democracias
ocidentais- salientouque,pelomenosate 1990, a participa<;:ao polftica
naEuropaOcidental cresceuconsideravelmente, comumaredll(;aoda
percentagem das pessoas totalmente inactivas (de 85% em 1959 para
44% em 1990) e urn crescimento paralel0 das pessoas com alguma
actividadepolitica(de 15%em 1959para 66% em 1990) [Topf, 1995,
68] (v. tab. 3.2.). Se a participac;.:ao politicade tipo tradicional perma-
Tabela 3.1. Tipo de participac;ao politica por pals
lnactivos .......................
Conformistas................
Reformistas...................
Activistas ......................
Contestatanos...............
Numero entrevistados
Rolanda I
17,9
11,1
19,8
19,3
31,9
1203
Reino
Unido
Estados
Unidos
Alemanha
Austria
30,1
15,4
21,9
10,2
22,4
12,3
17,5
36,0
14,4
19,8
26,6
13,5
24,6
8,0
27,3
34,9
19.2
20,9
5.9
19,1
1483 1719 2307
Fonte: Barnes et al. [1979, 155].
94
no tempo da percentagem da populac;ao que declara
participar politicamente (participac;ao eleitoral exclufda)
1959 1974 1981 1990
10
18
16
15
34
31
34
31
50
66
48
45
56
77
57
56
3.3.- Percentagem de participac;ao em acc;oes de protesto em
Gra-Bretanha e Alemanha
1974 1981 1990
uma peti<;1io
'p"rti";n,,r num boicote.....................................
17
2
19
5
42
6
27
6
48
11
36
8
1974 1981 1990
23
6
6
63
7
10
3
75
14
14
2
1974 1981 1990
31
4
9
0
47
8
15
2
57
11
21
95
neceu estaveI, ao contnirio cresceu enorrnemente a nao institucional
tab. 3.3.). Nao so esse crescimento abrangeu todos os paises ana-
lisados, como, no interiordecadaurn, se reduziu adiferen<;a nas taxas
de participa<;ao ligada a especie, idade e niveis educativos ao ponto
de fazer falar de uma revolu<;ao participativa [ibidem,
A investiga<;ao mais recente confirrna que as forrnas de panicipa-
<;ao nao-convencionais sao complementares, e nao alternativas, em
rela<;ao as convencionais.
4. e identidade
UM PROCESSO DE'IDENTIFICAGAO
odebate sobre 0 crescimento da participa<;ao em formas nao-
-institucionais perrnitiu voltar ao tema da selectividadee evidenciaras
condi<;6es que podem perrnitir aos grupos nao-centrais na defini<;ao
de Milbrath - participar politicamente. Segundo Alessandro Pizzomo
[1966], e caracteristica a sua referencia a sistemas de solidariedade
queseencontramnabasedapropriadefini<;aodeinteresse(cfr.cap. 1).
Se quem se mobiliza defende alguns interesses, so sao individuais a
de um certo sistema de valores. Por excmplo, 0 interesse no
proprio bem-estar material nao eabsoluto ou inato, mas esta antes
ligado a umacertaconcep<;ao do mundo. As op<;6es de valores
a identificar-se com grupos mais amp]os, aos quais uma pessoasente
quepertenceeno interessedos quais estadispostaaagir. Nestaoptica,
a participa<;ao politica euma ac<;ao solidaria com outras, que visa
conservar ou transformar a estrutura (e os valores) do sistema de
interesses dominante. 0 processo da participa<;Qo pois, a cons-
trn<;Qo de colectividades soliddrias em cujo interior os indivfduos se
considerem reciprocamente iguais.
Umaboaparte daactividadepo1iticae orientadaparaconstruiress
a
solidariedadc atraves da de identidades colectivas (cfr. tam-
bem cap. 4), que se encontram na base da participa<;ao. Para me
mobilizar como operano e exigir maiores direitos para os
tenho, acima de tudo, de me identificar como um deles. Como indI-
viduo, devoescolherquale0 meu papel social comofactorfundarnen-
para a minha vida, identificar-me com os outros individuos
dividem aquelaminha posi<;ao. Encher deconteudo estaidentidade
grupo e um requisito previo da minha capacidade de definir os rn
eus
96
como operario. A identidade, como da perten<;a
nos colectivoou a umaclasse,facilita aparticipar;;ao po}ftica: que
realidade quanta maior (mais intensa, mais clara, mais
for a consciencia de c1asse [Pizzorno, 1966, 109].
a centralidade em geral, de que Milbrath falara, mas em re-
a uma classe (ou grupo), ao colocar-se de forma inequivoca em
a ela, favorece a panicipa<;ao e acentua 0 sentido de
se explica por que razao alguns grupos dotados de baixo nivel
ursosdeestatutoemalgumascondir;;6es saomais capazesdo que
de se organizar, pelo que participam mais do que outros.
o caso da classe operaria das grandes fabricas, com
mais capaz de se organizar e participar em rela<;ao aos
lhadores rurais ou das pequenas empresas e ate a muitas catego-
de trabalhadores nao manuais (efr. cap.
E IDENTIDADE
a constru<;ao da identidade euma condi<;ao previa da ac<;ao
a, constitui ao mesmo tempo urn seu produto. Com efeito, a
participa<;ao transforma as identidades dos indivfduos, robus-
o sentimento de perten<;a a alguns grupos e enfraquecendo a
ltificagao noutros papeis. Naevolu<;ao da acc;ao colectiva, a iden-
produz-se e reproduz-se IDella Porta e Diani, 1997, 104]. As
para os movimentos revolucionarios, as greves para 0
openirio, as ocupa<;6es nas mobiliza<;6es estudantis sao a
de ac<;6es orientadas para influenciar as decis6es publicas, mas
tambem um efeito no interior que cria solidariedade entre os
Ilcipantes e os faz sentirem-se parte de um esfon;;o colectivo. Ea
ac<;ao - a participa<;ao que depois refor<;a 0 sentido de per-
numa especie de circulo vicioso.
. a ac<;ao contribui para construir e consolidar a identidade
da defini<;ao dos !imites entre os actores empenhados num
Para que haja ac<;ao colectiva, e necessario que aqueles que
estejam em condi<;6es de elaborar uma defini<;ao de si pro-
dos outros actores sociais e do conteudo das rela<;6es que os
Devem identificarumnos comque se solidarizar, mas tambem
eles, ao qual atribuir as culpas paraa condi<;ao que se pretende
A constru<;ao da identidade comporta uma defini<;ao positiva
faz parte de um certo grupo, mas tambem necessariarnente
ueP"l'lti"" de quem e exclufdo [Della Porta e Diani, 1997,
97
Para que haja reciproca, e, pois, necessario que as identidades
dos varios actores sejam reconhecidas igualmente do exterior, de
formaqueumaparte da estejaorientadaparaessapesqui_
sa de reconhecimento, inseparavel da propria identidade [Pizzo
mo
Della Porta, Greco e Szakolezai, 2000]. '
5. Valores p6s-materialistas e nova
Se a identidade facilita, em geral, a participa<;ao, 0 desenvolvi-
mento de novas formas de participa<;ao tern estado ligado a
na cultura politica. No inicio dos anos 70 do seculo xx, urn estudo
comparadosobreaArgentina,0 Chile,Israel,aNigeriae0 Bangladesh
[Inkeles e Smith, 1974"1 concIuiu que, em cada urn desses paises, a
ocupac;ao na industria, instru<;ao e exposi<;ao aos meios de comunica-
c;ao levavam a desenvolver atitudes individuais de modernidade.
oindividuo modemo e, segundo aquela investiga<;ao, urn cidadao
infOlmado e participante, tern uma no<;ao notavel de efic.kiapessoa\,
e muito independente e autonomo nas suas rela<;oes com as fontes de
influencia tradicionais [ ...] disponfvel para experiencias e ideias
novas, ou seja, encontra-se relativamente aberto mentalmente e
cognitivamenteflexfvel [Inkeles e Smith, 1974,
te, a modernizac;ao social deviaconterescolariza<;aocultural, corn uma
maior confianc;a na capacidade de influenciar 0 ambiente atraves de
opc;5es polfticas e 0 sistema dos valores orientar-se em tomo do in-
teresse pessoaJ.
NOVOS VALORES
mesmo perfodo, no mundo ocidental, pesquisas atraves de
sondagens sobre participa<;ao emvarios paises salientavama
de uma mudanc;a profunda no sistema de valores que tinha caracten-
zado a mudan<;a essa que teria favorecido sobretudo a
difusao das formas de participa<;ao mais inovadoras.
Emparticular, segundo Ronald lnglehart, a vagade protesto
s
anos 60 do seculo xx esta ligada aemergencia de valores pas-
mate
-
rialistas, ou seja, ao distanciar-se do interesse material de urn nurn
ero
crescente de indivfduos. A tese de Inglehart parte de dois ternas de
fundo. Em primeiro lugar, sustenta que ha umahierarquia das nec
es
-
sidades, segundo a qual as necessidades de ordem elevada /_".,.,n 0
98
llCllllvlllV intelectual e artisticodapessoa) so saoconcebiveisdepois
as de nivel mais baixo (em particuhu', a sobrevivencia
osegundo assunto e que 0 momento decisivo para a sociali-
politica - quando se formam valores e cren<;as destinados a
: ..0 .. notempo- se situe napassagemdajuventudeparaaidade
e, portanto, os prindpios e prioridades adquiridos naqllele
tendam a manter-se sucessivamente.
gera<;ao que chegou aidade adulta entre iinais dos anos 60 e os
seculo xx diferencia-se profundamente da precedente. Nas de-
ocidentais, os nascidos no segundo pas-guerra cresceram
de bem-estar economico, acesso facil a instru<;ao supe-
e exposi911o reduzida ao risco de urn conflito mundial. Estas
teriam descambado para urn enfraquecimento gradual dos
de tipo materialista (reflexos de preocupa90es relativas ao
economico e a seguran<;a pessoal e colectiva) e emergencia
p6s-materialistas, orientados paranecessidades de natureza
lominantemente expressiva, como a auto-realiza<;ao na esfera pri-
expansao das liberdades de opiniao e democracia participativa.
lstrumento utilizado para medir 0 nivel de materialismo-pos-ma-
eonsistia numa bateria de quatro objectivos para ordenar
arquicamente: manter a ordem publica, combater o.aumento dos
darmaiorpesoaoscidadaosnasdecisoesde govemoe garantir
ooruade de expressao. Os dois primeiros sao considerados materia-
eos restantes p6s-materialistas. Querainvestiga<;ao de lnglehart
varias outras posteriores revelaram 0 crescimento dos grupos
;rerizados por valores pos-materialistas, que atingiram tendencial-
em numero os representantes dos valores materialistas, no ini-
longe dominantes.
PARTICIPA{:OES
transfOlma<;oes explicam as novas caracteristicas da partici-
polftica desenvolvida a partir dos anos 60 do scculo xx em
o facto de que as exigencias de mudan<;a social provinham
da classe media do que da operaria: a relevi'mcia da gera<;iio
elementode identifica9aocoleetiva; 0 realce dos temas niio-eco-
Naverdade, a longafase de crescimento econornico chamou
para os temas do bem-estar material relativos ao estilo de
obediencia a uma logica de lltilidade marginal decrescente,
99
econ6micas tornavam-se relativamente menos import an-
tes, ern particular para os segmentos da sociedade que nunca
conhecido economlcas
-286). Teria derivado dai urn desvio para valores
Para os grupos mais j ovens , economicamente seguros,
novos temas na agenda. Os esfon;os para combater as tendencias
desumanizantes do industrialismo adquiriram alta prioridade [ibidem).
A tendencia para 0 crescimento dos val ores p6s-materialistas pare-
cia manter-se no tempo; corn efeito, nao s6 pennaneciam fieis aos
val ores materialistas os jovens socializados nos anos 60 do seculo xx,
mas valores p6s-materialistas tamMm se defendiam nos novos grupos
de idade, a confinnar a existencia de uma desioca',;ao de valores de
fundo. Os anOS sessenta podem, pois, definir-se como urn dos raros
momentos na Hist6ria ern que se produziu uma mudan<;a radical de
na maneira de conceber a sociedade e a politica, A gera93.o
essas mudan<;as nos anOS cruciais para a socializa9ao trans-
os novos valores as gera<;oes mais jovens [Della Porta e Diani,
1997, 79-80]. Os indivfduos corn valores p6s-materialistas ainda
se encontram particularmente presentes entre os
exigencias politicas, que, como se disse, cortam
distin',;oes tradicionais entre direita e esquerda, em
ecologistas e os Verdes [Inglehart, 1990; efr. tamMm cap.
6. A faz bern a democracia?
Se algumas formas de participa9ao parecem aumentar, esHio, po-
rem, em contraste as opinioes sobre as consequencias da revoluqao
participativa nos regimes democniticos. 0 jufzo sobre a participa9
ao
em geral, consoante 0 valor atribufdo ao cankter representativO
ou de delega9ao aos eleitos - das democracias contemporan
eas
.
6.1. Democracia, confianfa e apatia
CRISES DE SOBRECARGA
Num estudo publicado ern 1960, intitulado The Political
Seymour M. Lipset afirmara que urn celio nfvel de apatia fazia be:l11
a uma democracia. A nao-palticipa9ao pode constituir urn sinal de
100
positivo corn quem governa e, ao contnirio, urn crescimento
uvlpa9ao pode indicar descontentamento polltico e des integra-
social. Sobretudo depois da vaga de protestos do final dos anos
seculo xx, alguns cientistas politicos advertiram para os possi-
riscos do crescimento da participa<;ao, em particular na sequencia
mobilizac;;oes estudantis dos anos 60 e 70. Dir-se-ia mesmo que 0
icipa9ao aumentava 0 mimcro de exigencias ao
o que criava riscos de sobrecarga. Urn sistema submetido
continua tenderia a satisfazer as exigencias dos singulares e
de vista 0 bern Sobretudo em condi90es de recessao
as reivindica90es prementes dos cidadaos reduzem a ca-
de resposta dos governantes, corn 0 que reflectem e contri-
para a expansao da perda de credibilidade das autoridades.
Segundo urn estudo muito discutido, nos anos 70 0 crescimento da
teria levado a uma crise da democracia, caracterizada
desintegra9ao da ordem civil, quebra da disciplina social, enfra-
lecimento do lfder e dos cidadaos [Crozier, Huntington e
1975, 21. Os governos dos Estados Unidos e das democra-
europeias foram descritos como sujeitos a um stress excessivo,
txlSamente como causa da participa9ao politica encarada como urn
Como Huntington escreve [1975, 37-38], 0
governos ocidentais derivava de urn excesso de demo-
ofuncionamento efectivo de urn sistema politico democnitico
nonnalmente, uma certa medida de apatia e desempenho pOl' da
A vulnerabilidade do governo democnitico nos Estados
Unidos deriva das dinfunicas intemas da democracia Duma sociedade
altamentc instruida, mobilizada e participativa.
a verdade, 0 paradoxo consistia ern que os pr6prios grupos mais
... uidos pareciam representar 0 maior perigo para a democracia
estes os que faziam mais exigencias ao sistema.
Segundo outros estudiosos, porem, a maior utiliza9ao de fonnas
nao-institucionais testemunha nao uma crise da democracia,
a sua Os cidadaos utilizam formas de nao
ionais_ porque essas fonnas oferecem a sua possibilidade de
vvIfticas e nao por estarem .as fonnas de
e Kingerman, 1995, 432:]_
101
A CONFIAN<;:A NA DEMOCRACIA
OS efeitos positivos da participa<;ao foram, portanto, salientados
comfrequencia e, emparticularnos anos 90 do seculo xx, falou-se de
urn risco inverso ao da sobrecarga: do aJastamento dos cidadaos da
politica. Mesmo quando 0 ruir do socialismo real parecia indicar a
superioridade do modelo democnitico, os cientistas politicos come<;a_
ram a interrogar -se sobre as razoes da difusao, mesmo nas democra_
cias ocidentais, de uma insatisfa<;ao substancial com as institui<;oes
politicas. Comofoi sintetizado, e umanotavel ironiaque, no momen-
to exacto em que a democracia liberal derrotou os seus inimigos nos
campos de batalha da ideologia e da politica, muitos cidadaos das
democracias avan<;adas sustentem que as suas institui<;oes politicas
estaoadecairedemodoalgumaflorescer [PharrePutman,2000,XV].
Uma investiga<;ao numa longa serie de sondagens em numerosos
pafses concluiu que 0 declfnio de confian<;a em algumas institui<;oes
politicas nao comporta urn declfnio de confian<;a na democraciacomo
principio- aqual, ao inves,eemgeral, cresceu [Dalton, 2000].Mesmo
nos anos 90, ademocraciacontinuaaserconsideradapelaesmagadora
maioria(cercade tres quartos) dos seus cidadaos como amelhorfOTIlla
de govemo [ibidem].
Lan<;ou-se assim a hip6tese de que - terrninada a guerra fria ea
afirrna<;ao, com 0 derrube dos pafses do socialismo real, da supre-
macia em rela<;ao a outras forrnas de govemo- os cidadaos democni-
ticos se tomaram mais exigentes, ainda que mais pragmaticos. 0 fun-
cionamento das democracias singulares e avaliado com base nas suas
actua<;oes. Assim, alguns conclufram: Em primeiro lugar, nao houve
qualquer problema de legitima<;ao nas democracias representativas da
Europa Ocidental a partir de meados dos anos 70 do seculo xx. Em
segundo, nao existe actualmente qualquer problema de legitimac;ao
nos sistemas politicos da Europa Ocidental. E, em terceiro, M uma
grande probabilidade de que nao surgirao crises de legitima<;ao no
futuro previsfvel [Fuchs, Guidorossi e Svenson, 1995, 151].
6.2. Exit ou voice?
Umaperora<;ao das vantagens da para0 sistemaveio,
em particular, do economista Albert C. Hirschman. Comparando as
reac<;oes dos cidadaos de urn sistemapolitico com as dos consumid
o
-
102
mercado, Hirschmandiscutiu vdrias estrategiasparaexprimir
Urn cidadao, tal como urn consumidor, pode reagir
utilizando estrategias de safda (exit) ou de voz
RENUNCIA
Asa{da refere-se ao abandonode umprodutoporoutro eetfpica
sistema econ6mico onde, norrnalmente, 0 cliente insatisfeito com
.__ rl... de uma empresa passa ao de outra. Nesse sentido, a safda
op<;ao considerada negativa e utilizada comoestrategia para
o bem-estar ou melhorar a posi<;ao. Este mecanismo e
(ou se sai ou se fica), impessoal (dado que se evita todo
directo entre cliente e empresa) e indirecto: as contra-
do neg6cio em crise sao obra da Mao Invisfvel, uma
. nao intencional da decisao do cliente de desertar
1970; trad. it. 1982, 21].
PROTESTO
A reac<;ao politica tfpica e a voz definida como uma tentativa
de mudar, em vez de evitar, um estado de coisas reprovdvel,
solicitando individual ou colectivamente 0 management respon-
quer recorrendo a uma autoridade superior, com a inten<;ao de
uma altera<;ao no management, quer mediante varios tipos de
e protestos, incluindo os destinados a mobilizar a opiniao
[ibidem, 31]. A voz compreende 0 vasto arco de comporta-
que vao de um tfmido queixume a urn protesto violento, que
uma expressao aberta das pr6prias criticas, mais do que de
voto privado", "secreto", no anonimato de urn supermercado; e,
1ll11ente, e directa e clara em vez de tortuosa [ibidem].
a voz como a safda, em doses excessivas, podem danificar
remnresa: por esse motivo, verifica-se tamMm uma certa dose de
afectivo, ou lealdade - oumesmo de apatiapoUtica. Convem,
entanto, quehajaumacertaquantidade de op<;ao-voz: porexemplo,
uma empresa, enquanto a safda pode ter um efeito deleterio,
baixar as vendas, a voz revela vantagens. Com efeito, pode
a safda, apresentando-se ao cliente-cidadao como uma altema-
a ela: portanto, em algumas situa<;oes, a safda e uma reac<;ao
que se verifica quando a voz falta [ibidem, 36]. Deriva daf
as empresas devem ter interesse em favorecer a voz em rela<;ao
103
a saida. Para1clamente, os sistemas politicos que facilitam 0 protesto
estimulando a participa<,;iio, funcionam melhor do que aqueles em
o descontentamento so pode desembocar na saida. Permitindo 0 pro-
testo dos cidadaos, esses sistemas podem ser melhorados, para recon_
qui star a confian<,;a dos proprios cidadaos.
6.3. Capital social e democracia
A participa<,;iio, como capacidade da sociedade civil de organizar e
realizar directamente alguns tern sido encarada em algu-
mas abordagens, efectuadas recentemente, como particularmente favo-
ravel ademocracia. Segundo Alexis de Tocqueville, a for<,;a da
cracia americana residia na descentraliza<,;ao das comunas e associa<;5es
dos poderes concentrados, na Europa, no Estado nacional. Nas associa-
<;oes, desenvolve-se 0 prazer de estarmos juntos e aprende-se a interac-
tuar com os outros: Para que os homens permane<;am, ou se tornem,
cidadaos civis, e necessario que entre eles a arte de se associarem se
desenvolva e aperfei<;oe, na mesma medida em que aumenta a igual-
dade das condi<;oes [1953, 601].
o CAPITAL SOCIAL COMO CAPITAL RELACIONAL
As teorias de Tocqueville foram retomadas recentemente pel a
ratura sobre 0 capital social, desenvolvidas a cavalo entre sociologia
econ6nrica e ciencia polftica. Analogamente as no<,;oes de capitalfisico
(como 0 dinheiro) ou de capital humano (como for<;a de trabalho
qualificada), instrumentos que aumentam a produtividade, a no<;i'io de
capital social e utilizada para indicar caracteristicas da organizaf
iio
social - redes de reiafoes, normas de reciprocidade, confianr;:a nos
outros - que facilitam a cooperar;:iio para a obtenr;:iio de beneficio
s
comuns.
A presen<;a do capital social facilitaria 0 born governo. No seu La
tradizione civica neUe regioni italiane, 0 politologo americano Robert
Putman [1993] explicou 0 diferente rendimento institucional dos go-
vernos regionais a partir da quanti dade de capital social presenre nas
vadas regioes. Bem-estar economico e born governo caracterizariarn
as regi6es com taxas de civismo mais elevadas, on de os cidadaos se
respeitam e estimam uns aos outros, sao solidarios e cooperam ern
104
formas associativas. As associa<,;oes, em particular, segundo
[ibidem, 105], desempenham um papel fundamental no desen-
das virtudes clvicas, de interesse e respeito pela comuni-
As associa<;6es civis difundem entre os participantes 0 senti-
de coopera<;ao da solidariedade e do empenhamento socia1.
o CAPITAL SOCIAL MELHORA AS INSTITUIC;::OES
Nas regioes dvicas, a voluntaria - e, portanto, 0
seria favorecida pela presenliia quer de urn controlo social,
penaliza a viola<,;ao dos acordos, quer de mccanismos informais
solu<;ao dos conflitos. As redes de empenhamento dvico aumen-
as sanliioes aos transgressores, reforliiam as normas de reciprocida-
facilitam a de informaliioes e representam momentos
colaboraliiao com saldos positivos. 0 capital melhora a aCliiao do
porque suscita confianliia nos outros, inc1uindo a administra-
publica, alem de aumentar a capacidade de autogoverno dos cida-
Nestas sociedades, experie,ncias positivas de cooperac;ao levam a
a cooperar: 0 capital social cresce em si proprio [ibidem,
. Generalizando da investigac;ao do caso italiano, Putnam [1995,
observou que a qualidade da vida publica e 0 rendimento das
l...] sao influenciados poderosamente pelas normas e redes
empenhamento clvico. Na verdade, muitas pesquisas indicaram
a de instituiliioes voluntarias e redes de participaliiao
as probabilidades de exito nos mais divers os sectores de
da instru<,;ao ao desemprego e a seguranliia na saude.
de redes socia is foi definida como uma das
fundamentais para 0 desenvolvimento econ6mico local, que as
politicas sao, pois, chamadas a incentivar e cultivar [Trigilia,
. Deste ponto de vista, se 0 associativismo melhora 0 governo, urn
governo pode ser importante para facilitar a capacidade dos cida-
para se associarem e cooperarem entre si e com as instituiliioes.
opiniao publica entre esfera publica e videocracia
uma forma ulterior de participaliiaO politica, que nao comporta
UUUente acs;oes verdadeiras e pr6prias. Os cidadaos contribuem
formar a opiniiio publica: exprimem juizos sobre 0 sistema polf-
105
tico, fazem eXlgencias, propoem solm;oes. Fazem parte da esfera
publica: urn espa<;:o aberto a todos e visfvel, onde se formam as opi-
nioes.
7.1. A esfera publica
A ESFERA PUBLICA BURGUESA
Ja nos anos 60 do seculo xx, Jurgen Habermas [1988] tinha ana-
lisado a emergencia e aiirrna'!(ao da esfera publica como lugar aberto
ao publico, onde se discutem coisas publicas (ou seja, respeitantes 11
co1ectividade]. 0 conceito de esfera publica nasce corn a possibilidade
- inexistente na Idade Media de distinguir entre publico, isto e,
ligado ao Estado, e privado, exc1ufdo do ambito de interven<;:ao
Estado. 0 seria igualmente 0 destinaUirio das decisoes
poder estadual. Posteriormente, 0 conceito de esfera publica
-ia a uma esfera visfvel do exterior, ern contraposi,!(ao corn a
privada, mantida invisivel dos estranhos. 0 conceito de
tende assim a afirmar-se para designar um ambito de
- nao estatal, mas publicamente relevante -, onde se travam discus
siJes vublicas. vislveis do sobre questiJes de relevancia
o desenvolvimento da esfera publica e considerado urn processo
tfpico da forma<;:ao da sociedade moderna. 0 capitalismo financeiro e
comercial levou a uma circula<;:ao internacional, tanto das mercadorias
como das notfcias. A partir do seculo XIV, a troca tradicional de cartas
comerciais aperfei'!(oou-se atraves de urn sistema profissional de cor-
respondencia. No seculo XVII, desenvolver-se-ia a imprensa, no sentido
de que uma informa'!(ao regular se tornaria por sua vez publica, isto
e, acessfvel ao publico ern gerah> [Habermas, 1988, 89].
A esfera publica, que Habermas define como burguesa, na
realidade a par da burguesia, a qual assumiria, a pouco e pouco, uma
posi'!(ao hegem6nica na sociedade civiL A burguesia mercantil, inte-
ressada nas decisoes do poder publico, come'!(ou a tomar-se
interlocutor consciente para a autoridade. Corn efeito, a pubhca
afirmou-se no sentido de que 0 interesse publico na esfera privada da
sociedade civil ja nao e objecto do cuidado exc1usivamente do go'
verno, mas tomada ern por todos os subditos como seU
proprio interesse [Habermas, 1988, 37].
106
PUBLICO RACIOCINANTE
publica coIoca-se assim entre ambito estatal e ambito
Peculiar dela e 0 instrumento utilizado para a confrontac;:ao
a argumenta);ao publica e racional [ibidem]. 0 cafe, as salas
as sociedades lingufsticas e as lojas sao os lugares
onde essa esfera publica se elabora e exercita 0 gosto pela
rgurnental;ao. A partir desses Iugares e dentro deles, desenvolvem-se
jnstituis;oes que levam a alargar fisicamente 0 espa'!(o do
primeiro lugar, a imprensa, mas tambem os encontros
ciedades de leitura, as vallas associas;oes. Ao mesmo tempo, esten-
o papel politico da esfera publica, ou seja, a sua capacidade de
do poder estatal e, portanto, de controlo do governo. 0 efeito
oposis;ao do uso da viol{!ncia para 0 recurso
berrnas refere-se de facto a publico raciocinante.
encara-se a esfera publica corn esperanc;:a, mas tam-
corn apreensao. Ja no seculo XIX se tinha observado que a auto-
da esfera publica fora posta ern discussao pelo desenvolvimento
partidos polfticos e, cada vez mais, pela comercializac;:ao dos meios
, MANIPULA<;:AO
a opiniao publica foi apresentada, ern particular no pensamento
como instancia intermedia entre 0 eleitorado e as
que permite 0 controlo dos governantes entre dua.'>
alteucci. 1991], foram tambem definidos os riscos potenciais da
da opiniao publica. Ern particular, 0 conformismo das
e despotismo da maio ria teriam aumentado com a nova con-
da esfera publica, caracterizada pelo dec1fnio dos lugares
vorecido 0 desenvolvimento do pensamento raciocinante
dos mass media, manipulados pelos partidos e/ou po-
manipuladores.
ja tinha referido que partir de meados do seculo XIX,
que haviam garantido a existencia de urn publico como
raciocinante foram abaladas violentamente [1988, 194].
pUblico continua entiio noutros lugares: radio, casas editoras
organizam a discussao e favorecem a sua difusao. Ao
tempo, porem, transformam-no ern bern de consumo,
lizam-nn' mercado dos bens culturais assume novas fun-
107
goes na sua indumentaria alargada de mercado do tempo livre [ibidem
197]. Por conseguinte, a esfera publica alarga-se, mas perde a
capacidade de controlo do poder publico. Se a esfera publica burguesa
baseava a sua fungao politiea precisamente na autonomia do poder
publico, a compenetragao entre esfera publica e esfera privada eom-
porta uma da primeira.
7.2. Videocracia?
A DA pOLIncA
A expressao mediatizagao da polftica tern sido cada vez mais
usada recentemente para indicar urn processo de autonomizar;iio dos
progressiva para todo 0 controlo politico e crescimento da sua
capacidade de controlara poiftica. Se os politicos podem influenciar
os meios de comunicagao de massas, quer atraves da sua capacidade
de regulamentar 0 campo da eomunicagao polftica quer dispondo de
infonnagoes importantes para os proprios meios de comunicagao, estes
ultimos disporiam sempre de maiores recursos aut6nomos. Seguindo
a sua propria 16gica de funcionamento, transfonnariam as regras da
politica e do jogo democr:Hico.
Nas hip6teses mais pessimistas, 0 enfraquecimento dos
teria favorecido a transfonnagao das democracias contemporaneas em
videocracias, reforgando 0 poder dos meios de de massa
- em particular da TV e de quem pode exercer int1uencia neles. De
facto, a era da televisao teria submetido a uma prova dura 0 pluralism
o
de opinioes, que a imprensa conseguira de algum modo fazer sobre-
viver. Mesmo no campo do papel impresso, tendencias similares se-
riam favorecidas pelo desenvolvimento da imprensa popular, com
objectivos puramente lucrativos, mais interessada nos escandalos do
que nos discursos politicos.
A POLiTICA-ESPECTACULO
Os efeitos negativos potenciais da videocracia nos sistemas demo-
cnlticos sao multiplos. Acima de tudo, a televisao encoraja uma ima-
gem da politica como espectaculo, entertainment, mais do que coma
A espectacularizar;iio da polftica esta ligada as carad
e
-
ristieas da procura do luero, que leva a uma exigencia de
108
sobre politica que realce os seus aspectos atraentes, di-
sensaeionalistas lMazzoleni, 1998, 117; cfr. tambem Amoretti,
A espectacularizagao quer, pois, dizer supeificialidade na in-
transmitida cada vez mais por imagens e cada vez menos
da palavra, com 0 do visivel sobre 0 inteligfvel,
leva aver sem compreender [Sartori, 1999, XV].
Para responder aexigencia dos comunicagao, os propnos
tenderiam a encenar a politica de modo a toma-Ia apete-
do publico aprocura de divertimento, atraves de uma adaptagao
registos comunicativos dos partidos asintaxe dos meios de comu-
de massa [Mazzoleni, J998, 68]. Nao os politicos confiam
publicitarios para cuidar da sua imagem, como os tempos da
seguem cada vez mais os da televisao: os eventos politicos sao
nos momentos mais propicios para serem tratados nos
dos horanos mais nobres; 0 comunicado polftico aparece
gmentado em sound bites, ou seja, passados em poucos segundos,
a coverage televisiva, que tende para simplificar e drama-
a mensagem.
televisao encorajou assim a personaliza<;iio da politica, refor-
as situa<;oes monocraticas (0 presidente dos Estados Unidos, 0
presidente de camara em Italia), mas tambem fazendo erescer
uequencia 0 numero de eleitores que votam com base na ima-
e nao com base nas posigoes polfticas. Acontece muitas vezes
aetos da vida privada de urn politico contarem mais do que 0 seu
; 0 visual torna-se uma qualidade mais importante do que a
o appeal pessoal sobre os conteudos. A pr6pria
do meio televisivo alimenta a impressao de poder julgar urn
melhor pela sua personalidade do que pelos seus programas.
,ulpanha eleitoral e assim programada como urn concurso de be-
em que vence quem consegue seduzir 0 publico. Como veremos,
aumenta a fungao do dinheiro na polftica e transfonna
e classes poli'ticas [entre outros, Me1chionda, 1997; cfr. tam-
cap_ 5].
DE E
tipo de efeitos dos meios de comunicar;iio nas consciencias dos
suas atitudes e comportamentos continua a ser uma questao
Enquanto, de urn modo geral, pennanece limitada a capaci-
109
dadedos meiosde paraconverter urn eleitor, fazendo_
o mudar de preferencias eleitorais, observou-se, porem, que esta ea-
pacidade, embora estatisticamente sem interesse, pode exercer efeitos
politicos relevantes nos resultados eleitorais. Se 0 proprio Paul
Lazarsfeld, que salientou numa investigaC;;ao pioneira [cfr. cap. 6J os
escassos efeitos das campanhas eleitorais, admitia que podiam deslo-
car ate 10% dos votos, e hieil de eompreenderque essapereentagem,
embora absolutamente pouco signifieativa, pode, todavia, tomar-se
decisiva na vitoria de urn ou outro partido [Baristone, 2001, 35; efr.
tambem Sani, 200I].
Nao so os meios de se revelam muito etieazes na
definic;;ao da agenda- ou seja, eminfluenciara escolha das tenuiticas
consideradas importantes para 0 publico (a ehamada deagen-
da setting e, referida as campanhas eleitorais, de priming) -,como 0
seu pape1 de activac;;ao e parece nao desprezavel em
eularparaos eleitoresquemanifestampouca(emboraalguma)
pela poiftica, informac;;iio escassa e ausencia de
ria, potencialmenteinfluenciaveispormensagens breves, repetidas, de
alto conteudo simb6lico (como os spot eleitorais). Assim, 0 impaete
dos meios de comunicac;;ao tende a favorecer uma parte sobretudo
onde eforte 0 equiHbrio nos meios de e csta
tendencialmente one-sided [ibidem,
7.3. Mews de comunicafiio e cidadania
Se os riscos de videocracia foram abalizadamente ilustrados na
dencia poiftica, a politica, porem, tern sido enearada
com urn certo optimismo. Em particular os meios de comunicayao
apareceram como urn f6rum onde representantes de interesses emer-
gentesaindanaoinstaladosnosistemapolfticosepodemfiarnaopinliio
publica e tentar conquistar consensos.
NOTICIAS E PROTESTOS
Acima de tudo, 0 acesso aos meios de e fundamental
nas aq;oes de protesto, encarado como urn recurso politico para OS
grupos sem poden>, ou seja, sem recursos para tratar directam
ente
com quem toma as decisoes publicas. 0 protesto activa urn pro
cesso
de influencia indirecta, mediata atraves dos meios de e
110
grupos dotados de capacidadede influenciapolftica. Paraobter
os grupos mais fracos devem conquistar atenc;;ao e apoio da
publica. 0 protesto e urn instrumento atraves do qual os gru-
IS. 1" .....tivamente sem poder podem criar recursos para investir nas
e conquistar aliados [Lipsky, 1965, 2]. Para que a sua
possa chegar aopiniao publica, os representantes de inte-
emergentes devem utilizar urn filtro: os meios de
Para lhes conquistara atenc;;ao, procuram aumentar0 poten-
de notoriedade das suas acc;;oes atraves de comportamentos e
Portae Diani, 1997, cap. 7]. Como se dizia com enfase
nrotestosdo movimento estudantildos anos 60, a dos
ligadaaofacto deque the whole world is watching:
o munao esta aver.
ais emgeral, foi observado que os meios de podem
,mpenhar urn papel de advocacy - ou seja, de patrocinio dos in-
mais fracos ou mesmo do interesse colectivo. Informando os
os meios de podem ser instrumento de urn
de baixo sobre as actividades dos governantes.
desenvolvimento tecnologico parece permitir hoje urn maior
""",allsmo das fontes de Se a televisao, exigindo inves-
elevados, aumenta 0 grau do monop6lio, os recentes meios
comunicac;;ao telematica podem exercer efeitos de reequilfbrio.
tecnoiogias por cabo reduzem os custos, ao mesmo tempo
ltt'aumentam as frequencias e permitem0 desenvolvimentodecanais
eofertasorientadasparapequenosredutosdeutentes.Desen-
sistemas de transmissao bidireccionais interactivos, que
falar de nova Babel electronica [Olivi e Somalvico, 1997].
meios da era contemporanea aumentam a capacidade dos
de intervir directamente no debate politico, alem de que a
da prac;;a virtual aumenta0 poderda elitecapazde
instrumentos da comunicac;;ao. A presenc;;a de meios
comoossitesnaInternet,tambemreduz afunc;;ao defiltro
JDrnalistas.Naverdade,falou-sedeumaciberdemocracia construfda
da World Wide Web, em parte tambem estimulada pelas
lIlJ.stracoe!': publicas, em busca canais de comunicac;;ao directa
111
Quandose abriu 0 debate sobre a capacidade das redes telematicas
e comunidades virtuais de consolida9aO de rela90es reais de solida_
riedade, refon;;ando0 interessepelacomunidade, naobaduvidadeque
as novas tecnologias tornaram disponiveis a uma parte crescente
popula9aO informa90es sobre a poHtica e urn tempo reservado aos
adeptos dos trabalhos, aumentando, por outro lado, os canais depar-
ticipa9ao. Se os pessimistas receiam que a participa9ao virtual pOssa
substituir a participa9ao real, as primeiras investiga90es parecem in-
dicar que os novos meios - esobretudo a Internet - reduziram Os
custos da comunica9ao, 0 que permitiu 0 desenvolvimento de
liza90es globais. Estas nao substitufram os outros canais de comu-
nica9ao - e ainda menos os contactos pessoais directos - e, pelo
contrano, integraram-se neles.
o papel da esfera publica pode assim retomar importancia em
resposta acrisedospartidos [efr. cap. 5]. Emface doenfraquecimento
do debate nos parlamentos enos governos, os processos de comuni-
ca9ao que se desenvolvem na esfera publica podem adquirir peso
istoe,
dentro de um drculo mais ou menos restrito, onde as suas
actuam, se exprimemeinteragem, queros membros da elassepolitica
no sentido proprio quer os intelectuais elideres de opinHio,jomalistas
e outros, empreendedores de movimentos e aetivistas,
peritos das instituic;oes e das regras da representac;ao (juristas, advo-
gados, etc.). Sao os que se interessam pela politica, de que falam,
eserevem eelaboram os sfmbolos,ju]gam-na, eneontram-se em cfrcu-
jomais, revistas, manifestac;oes publieas para fornwr
e rebater esses jufzos [Pizzomo, 1998, 28-29].
E, com efeito, cada vez mais na esfera publ1ca que se
movimentos de opiniao de vanos generos atraves dos quais se pro-
poem reformas da sociedade. Alem disso, formam-se vocm;;6es de
militilncia colectiva [ibidem, 31].
112
V. ENTRE MILITANCIA E BUROCRATIZA<;AO:
o QUE sAo os P ARTIDOS POLITICOS
o presente capitulo ocupa-se dos partidos, a longo prazo
considerados os principais actores das democracias moder-
nas. Depois de os definir e referir as suas principais fum;oes,
analisaremos as nas estruturas organizativas
hi e no seu funcionamento, mas tambem as continuidades nos
"l!1 sistemas de partido e nas chamadas famflias ideologicas.
I
Estudaremos 0 tema da burocratizac;ao e veremos como,
com vista aconquista dos eleitores, um papel crescente com-
it;
pete a e aos mass media. Se a func;ao dos par-
tidos parece ter-se reduzido na sociedade, por outro lado
aumentou no seio das instituic;oes publicas. Aludiremos de-
",
pois alogica da no seio dos sistemas de partidos.
'11",
partidos: uma
"ilh
partidos foram considerados a longo
ao tema da definifiio do conceito de partido, conceito esse
referencias empfricas, como veremos, mudaram notavelmente ao
do tempo.
das definic;oes mais conhecidas do conceito de partido deve-
Max Weber, segundo 0 qual
por partidos devem entender-se as associa'toes baseadas numa
adesao (formalmente) livre, constituidas com 0 objectivo de
atribuir aos seus chefes uma de poder no seio de um
glUpo social e aos seus militantes activos possibilidades (ideais
das democracias representativas. Assim, consagrou-se muita
149
ou materiais) para a consecu<;ao de fins objectivos ou de van_
tagens pessoais, ou ambos juntos [Weber, 1922; trad. it 1974
vol. I, 282]. '
o partido caracteriza-se portanto por ser uma associQ(;;iio orientada
para influenciar 0 poder.
o partido e, acima de tudo, uma associaqiio, no sentido oe um
grupo organizado formalmente e baseado em formas voluntanas de
participas;iio. A propria esfera da sua acs;ao, como organizas;ao volun-
mria, e a do poder, contraposta a economica (tfpica das classes) e a
social (tfpica das camadas). Segundo Weber, enquanto as "classes"
tem sede na "ordena<;ao economical' e as "camadas" no "ordenamento
social", ou seja, na esfera da distribuis;ao da "homa" [ ... ] os "partidos"
pertencem em primeira linha a esfera do "poder". A sua acs;iio visa 0
"poder" social, isto e, influenciar uma ac<;ao de comunidade de qual-
quer conteudo; como principio, pode haver partidos tanto num cfrculo
social como num "Estado" [Weber, 1922; trad. it. 1974, vol.
Por poden>, ele entende a possibilidade que um hom em ou uma
pluralidade de homens possui de impor a sua vontade numa acs;ao de
comunidade, mesmo contra a resistencia de outros individuos partici-
panles nessa acS;ao [ibidem, 230].
Em particular nas democracias ocidentais, 0 termo partidos estll
reservado, mesmo na linguagem corrente, as associas;6es que preten-
dem influenciar as decisOes publicas atraves, principal mente nao
exclusivamente), da participaqiio nas eleiqiJes. Embora possaro utili-
zar varios tipos de acs;iio para a1cans;ar os seus objectivos, a sua prin-
cipal estrategia e a ocupas;ao de cargos electivos. A participas;ao nas
elei<;oes e a conquista de lug ares no govemo encontram-se de facto.no
centro da defini<;1io proposta por Anthony Downs, ha ll1uito acelte,
segundo a qual 0 partido politico e um conJunto de qu:
procura obter 0 controlo do aparelho governativo na sequenCIO d
eleit;;iJes regulares [Downs, 1957, 25]. Nas democracias, ea
tiS;1io pelos votos que distingue os partidos de outras assoc1aS;Qes.
quaisquer que sejam as restantes possibilidades que tenham em
O
mum com outras organiza90es, somente os partidos actuam no cenart
eleitoral em competh;.:ao pelos votos [Panebianco, 1982, 30]. arti-
Aprofundaremos, a seguir, estes elementos de defini9ao dos P
com vista as suas funs;6es fundamentais.
150
dos partidos
PARTIDOS COMO MEDIADORE."i
partidos definem-se em relas;ao as suas funs;6es e, portanto, a
esfera precisa da acs;ao humana.
. Os partidos apresentam-se, sobretudo, como mediadores entre as
publicas e a sociedade civil, entre 0 Estado e os cidadaos.
lmen:sao polltica, organizam as divisoes presentes na sociedade
Os partidos sao indispensaveis para organizar a vontade
uma simplifica<;ao da complexidade dos interesses indivi-
Enquanto os grupos de pressiio representam interesses relativa-
especificos, os partidos tendem a agrega-Ios: agrupam pessoas
atitudes e valores similares, representando, portanto, mais de um
interesse, definido de forma limitada. Na verdade, urn partido
nonnalmente, consiste em mais de urn interesse na socieda-
'portanto, numa certa medida, tende a agregar interesses [Ware,
partidos estruturam 0 voto. Num texto classico sobre a demo-
Lorde James Bryce observou:
nenhum grande pais livre esta privado deles. Ninguem demonstrou
como urn govemo representativo pode funcionar sem des. Os partidos
1921, II
dito que os partidos sao motores de urn plebiscito continuo,
os eleitores a escolher pelo menos 0 menor de dois
limitando assim as diferencias;oes politic as a poucos canais
[Neumann, 1956, 144]. Nao so os candidatos sao predo-
Iltemente membros de partido, como, sobretudo, este ea entidade
qual os eleitores se identificam, proporcionando estabilidade a
prazo aos comportamentos de voto individuais.
E SOCIALIZA(,;AO
medida variavel, mas sempre coerente, os partidos organi-
outras formas de participas;ao politica, com 0 que desen-
lUOa importante fum;;iio de socializat;;iio polftica.
151
Com efeito, os partidos transformam 0 cidadao em animal polftico
ao integni-lo no grupo. Todo 0 partido deve apresentar a cada eleitor
e aos seus grupos de interesse especificos uma imagem de comunidade
como entidade. Deve recordar constantemente ao cidadao esta reali-
dade colectiva, adaptar as suas exigcncias as da comunidade e, se
sacriffcios em nome da comunidade [Neumann
Atraves da sua acc;ao, os partidos educam os eleitores
a democracia: concentrando a atenc;ao em algumas
relevantes, permitem que os cidadaos exprimam a sua opiniao InQ.llllt:v
1954, 12].
PARTlDOS E CONTROLO
Grac;as aos partidos, pode tambem realizar-se 0 controlo dos
govemados sobre os govemantes. Deste ponto de vista, representam
um importante instrumento de ligac;ao entre 0 governo e a opiniao
como as democracias sao piramides construidas de baixo, a
ligac;ao entre govemantes e govemados toma-se uma necessidade na
circulac;ao em duplo sentido da democracia. A principal funcao do
partido emanter livres e abertas essas linhas de comunicac;ao.
os partidos tomam-se, se nao os governados, pelo menos os instrumen-
tos de controlo do govemo numa democracia representativa [Neumann,
1956, 145].
A apresentac;ao dos candidatos aos cargos publicos no seio de listas
de partidos toma mais reconhecfvel a sua proposta e mais facilmente
punfvel uma eventual rotura do pacto de confianc;a com os eleitores.
A responsabilizac;ao dos governantes singulares em rela<;ao aos elei-
tores verifica-se principalmente atravcs da estrutura<;ao dos candidato
s
em equipas de competi<;ao reciproca. De facto, so assim os deten-
tores de cargos publicos, normal mente pouco conhecidos dos eleitores
singulares, podem pelo menos ser associados a urn grupo
por sua vez ligado a uma actua<;ao especifica no govemo e detentores
de posi<;6es precisas em rela<;ao ao futuro [Budge e Kernan, 1990,
Os partidos podem assumir esta tarefa no sentido em que repres
en
-
tam nao so os principais canais de se1ec<;ao da classe de govemo,
com frequencia, tambcm os principais actores na das po
ticas publicas. Com efeito, elaboram programas, aprcsentam-nos aO
eleitores e, se resultarem vitoriosos nas elei<;6es, devedio aplica-I
OS
,
152
)
UMA ORGANJZA<;AO DA QUAL TUDO PENDE
modernas democracias de massas, 0 partido desenvolve uma
de integrat;iio social; ou seja, e urn partido capaz nao s6 de
mas tambem de oferecer bases de identifica<;ao aos seus
Esses partidos sao fundados em torno de uma institui(;iio
portanto destinados a servir para a actua<;ao de ideais de
polftico [Weber, 1922; trad. it. 1974, voL II, 710]. Para os
socialistas, a ac<;ao de socializa<;iio acontecia no interior das
, tomada rede associativa: Pertencer a este mundo signi-
viver grande parte do tempo de trabalho dentro de uma "area
, onde todos se tratavam por tu e eram, portanto, iniime-
lSopotunidades de novas rela<;oes pessoais [Pizzomo, 1996,
rede de associa<;oes proximas do partido, longe de se limitar
eleitoral, encarrega-se dos mais
aspectos da vida quotidiana. 0 partido exerce uma influencia
em todas as esferas da vida quotidiana do indivfduo - a sua
mzacao estende-se do ber<;o a sepultura, das associa<;oes de as-
a infancia dos trabalhadores as sociedades crematorias dos
o partido pode contar com os seus aderentes; assumiu para si
parte da sua existencia social [Neumann, 1956, 153].
os partidos socialistas ofereceram recursos de identidade
,,,,-,w.dos: propunham a quem entrava naquele "mundo verme-
nao apenas esperan<;as politicas, solidariedade e
tambem uma identidade que os "companheiros" reconheciam uns
e 0 resto da sociedade reconhecia e, modo, era levada
1996, 1019].
E IDEOLOGJA
eologia assume aqui uma fun<;ao fundamental para a organi-
porque constitui os interesses de longa data e, assim, a propria
dos actores. Esta permite refon,;ar a solidariedade entre os
do partido e contribui para formar e solidificar a convic<;ao
fins comuns. Toma-se, alem disso, urn guia para a ac-
.uoHldo as escolhas estrategicas e tacticas do partido lPizzorno,
]. A esse respeito, Pizzorno escreve: No seu tipo puro, 0
de ma,>sas organizado caracteriza-se porque introduz a ideolo-
principio de identifica<;ao. Ou seja, tende a apresentar exi-
e, em geral, inspirar a sua ac<;ao, com vista a projectos rela-
159
tivos a urn estado de coisas futuras a realizar por meio da aC<;:ao
politica (e com frequencia elaborando esses projectos sobre 0 funda_
mento de uma interpreta'tao global do estado de coisas presentes)>>
[ibidem, 237]. Finalmente, aideologiarefor'ta0 poderdos lideres, qUe
se tomam cadavez mais aqueles que conhecem e estao em condi<;:oes
de aplicar a doutrina do partido.
5. Fracturas sociais e partidos politicos
Ate aqui descrevemos tipos gerais de partido e procunimos definir
as passagens historicas de urn tipo para outro. Todavia, na analise
politologica, sao com frequencia distintas as caracteristicas dos parti-
dos contemponlneos apartirdasuabasesocialeideologica.Mas como
nasceram esses diferentes tipos de partidos? E como se explica que
alguns se encontrem presentes nuns paises e noutros nao? Respondem
a estas perguntas as analises que se referem aevolu'tao de alguns
conflitos - ou Jracturas - centrais em certos paises, procurando as
origens dos partidos que existiram ate hoje.
Os partidos politicos presentes em cada pais reflectem algumas
fracturas sociais que se apresentaram historicainente. Duas fracturas,
ou conflitos (cleavages), principais verificaram-se durante 0 processo
Figura 5.2.- Fracturas sociais politicamente relevantes segundo
Stein Rokkan
ORIGENS FRACTURA
TIPO
DE PARTIDOS
OBJECTOS
DOS
do
Estado nacional
Centro/periferia Regionalistas Lingua
RevolUl;;ao
industrial
Estadollgreja Religiosos
e liberais
Cidade/campo
Camponeses
Barreiras
alfandegan
as
Capitalltrabalho
Conservadores
e socialistas
Estado social
160
do capitalismo industrial [v. fig. 5.2]. Como Rokkan
TRO FRACTURAS
Duas destas cleavages sao 0 produto directo da que podemos
chamar revolu'tao nacional; 0 conflito entre a cultura central da
constrw:;iio da nar:;iio e a resistencia crescente das popular:;i5es
submetidas, etnica, linguistica ou religiosamente diferenciadas,
nas provincias e nas periferias; 0 conflito entre 0 Estado-nar:;iio
centralizador, uniformizador e mobilizador e os privilegios
corporativos consolidados historicamente pela Jgreja.
Duas destas cleavages sao produtos da revolu'tao industrial: 0
conflito entre os interesses agrarios e a classe nascente dos
empresarios industriais, entre proprietarios e dadores de traba-
, lho por urn lado, e arrendatarios, assalariados e operarios, por
outro. Muita historia da Europa, a partir do seculo XIX, pode ser
descrita nos termos da ac'tao recfproca entre estes dois processos
de mudan'ta revolucionaria [1970; trad. it. 1982, 176].
A fractura centro-peri feria
PERIFERIAS
conseguinte, aprimeirafractura ocorreuentre centro eperiferia
ao conflito entre urn centro politico, cultural e economico
perifericas a pouco e pouco incorporadas no govemo central.
conflito, exprime-se a oposi'tao aconcentra'tao territorial do
em particular simbolizado atraves da afirma'tao de uma tinica
oficial. A essencia da rela'tao entre centro e periferia tern sido
de vez em quando cultural, ligada atransmissao de va-
do centro para a periferia, economica, baseada na dependencia
wrriferia dos recursos provenientes do centro, epolitica, dependente
de aparelhos burocraticos que impoem aperiferia as
tomadas no centro [Tarrow, 1979]. Tendo em conta estas
dimensoes, 0 centro foi definido como a area privilegiada
. onde os detentores dos principais recursos politicos,
eculturais se retinem em institui'toes opostas para exercer
decisorio [Urwin, 1991, 709]. A periferia e definida de
161
mane ira especular como territorio distante dos lugares onde se tomam
as decisoes, culturalmente diferente e economicamente dependente
[Rokkan e Urwin, 1983, 3].
OS PARTIDOS ETNO-REGIONALISTAS
Se a existencia de tensoes entre centro e periferia e com freguencia
con stante, so em alguns Estados elas se politizaram. Sao varios os
catalisadores da rebeliao da periferia com 0 centro - que assumiu por
vezes a fonna de urn conflito etnico, ou seja, concentrado em lomo
de uma defini<;;ao dos habitantes da periferia como pertencentes a uma
etnia diferente da dominante. Se recursos economicos e politicos
papel na mobiliza<;:ao da periferia em geral, na
conflito territorial, a cultura e 0 elemento mais
a presen<;:a de uma lfngua propria, diferente
.... : .. que facilita a constru9ao
para politizar 0 conflito
partidos etno-regionalistas, como partidos cuja principal
caracterfstica resulta da tentativa de representar grupos territoriais
etnicos e/ou concentrados regionalmente, com uma identidade
especffica, baseada numa comunhao de
toria, para reivindicar um nivel
1998]. Com vista a uma politiza<;:ao dos conflitos com base etno-
-territorial, esses partidos foram definidos como empresarios
cos, ou seja, actores orientados para uma politiza<;:ao da etnia como
base de identidade e reivindica90es colectivas [Tursan, 1998].
5.2. A fractura Estado-Igreja
Assume uma dinamica similar 0 cont1ito entre Estado e 19reja.
A constru98.o do Estado-na9ao pas sou na verdade atraves de um serio
embate entre a Igreja de Roma, que defendia as suas esferas de coIll-
P
etencia na formarao das almas e 0 Estado que tendia a afirrn
lif
11 , , .-0
o seu poder em alguns campos delicados, entre os quais a .
Em volta do conflito entre os laicos, que pediam uma
da instru<;:ao, e os religiosos, que defendiam os espa<;:os de
da 19reja, formaram-se por vezes partidos polfticos, apoiado
s
poo
associa<;:oes de varios tipos. Poi ainda Rokkan que observou que
162
contrapunha as aspira<;:oes mobilizadoras do Estado-na9ao as
corporativas da Igreja.
ao status
actividades
o no central foi 0 controlo da moral e das normas da comuni-
No centro da discordancia situavam-se a celebra<;:ao do matri-
e a concessao do di vorcio, a organiza9ao de obras de caridade
lGUldado com a propensao para des vios, as fun90es dos medicos em
as dos religiosos e os preparati vos dos funerais. 0 conflito
aceso consistiu, pois, no contr% da instrw;iio. Com efeito,
llcionalmente, a 19reja, quer a catolica-romana quer a luterana ou
tinha proclamado 0 seu direito de representar a "condh;:ao
(spiritual state) do homem e controlar a eduea9ao das eri-
na fe religiosa [1970; trad. it. 1982, 176]. Com a forma9ao do
'na<;:ao, 0 poder temporal come<;:ou a pretender para si esse
Assim, se onde a igreja luterana se tinha afirmado ate ao seculo
igrejas nacionais participaram na educa<;:ao das crian<;:as na
local, nos outros paises a afirma9ao da instru9ao obrigatoria sob
do Estado originou os protestos da Igreja ate ao nascimento
'nn..<-;dos, alem de vastos movirnentos de massas, em defesa da
E, por exemplo, 0 caso da Italia, onde 0 Partido Popular,
e depois a Democracia Crista exprimiram as exigencias de
parte imnortante dos eatolicos.
fractura cidade-campo
da revolu<;:ao industrial,
o poder polftico se concen-
com frequen-
de;l1f..,Uld. Em particular, sobre 0 tema
aduaneiras e os pre<;:os dos produtos geraram-
dissidencias, por vezes sufocadas com a cria'5ao de
para defesa dos interesses dos campos. 0 crescimento do
mundial e da produ<;:ao industrial aumentou a tensao entre os
do sector primario e os comerciantes e empresarios das
163
OS PARTIDOS AGR.ARIOS
Tradicionalmente, na Europa, os interesses em contraste das areas
rurais e urbanas exprimiram-se, desde aIdadeMedia, na
separadaparaos Estados dos parlamentos pre-modemos. Com arevo_
luc;ao, esses contrastes aprofundaram-se, dando origem a
urbano-agrarias expressas nos parlamentos pelos conflitos entre par-
tidos conservadores-agrarios e partidos liberais-radicais. Tambem
nestas tens6es havia urn foco de conflito econ6mico, mas 0 que as
tomou asperas e profundas foi a luta para a manutenc;ao do status
alcanc;ado e 0 reconhecimento dapossibilidade de 0 atingir [Rokkan,
1970; trad. it. 1982, 183]. Em muitos pafses, porem, as
ligadas aos campos encontraramexpressao empartidos conservadores,
nao especializados nisso.
5.4. A fractura capital-trabalho
o EIXO DIREITA-ESQUERDA
Enquanto os reflexos destas tres fracturas em termos de sistemas
de partidos produziram diversidades entre os pafses europeus - dado
que em muitos (a Italia entre eles) alguns desses conflitos se entre-
cruzavam com outros, sem dar origem a express6es partidarias espe-
cificas -,foram mais similares os efeitos de umaqUarta fractura: entre
empresarios e classe operaria. Com efeito, a revoluc;ao industrial nao
produziu apenas urn embate entre campo e cidade, mas tambem, e
sobretudo, urn conflito intemo no mundo da industria, que contrapU-
nha os capitalistas aos assalariados.
Em todas as democracias europeias, os trabalhadores tentavam
superar a suadesvantagem no mercado do trabalho fundando partido
s
que exigiam maior igualdade. Mesmo em tomo do tema da interven-
c;ao do Estado para reduzir as desigualdades sociais 0
principio do eixo de conflito nos sistemas de partido: 0 eixo direzta-
-esquerda, onde a primeira se caracterizava pela exigencia de
intervenc;ao do Estado e menos tributac;ao e a segunda por exigenclas
de maior intervenc;ao do Estado em servic;os sociais. Na verdade,
S1S
todos os pafses europeus, as primeiras fases da industrializac;ao aS -
tiram ao nascimento de partidos da classe operana: As crescentes
olas
massas de assalariados, quer nas actividades agrfcolas e silv{c ,
164
nas industrias de grandes dimens6es, ressentiam-se das condic;6es
\4-rabalho e dainseguranc;a dos contratos, e muitos deles afastavam-
social e culturalmente, dos proprietarios e industriais. 0 resultado
-se numa serie de sindicatos operanos e no desenvolvimento
L __...;rlM socialistas aescalanacional [Rokkan, 1970; trad. it. 1982,
evoluc;ao desses partidos foi, porem, em grande medida influen-
pelas reacc;6es das elites as reivindicac;6es operarias. Uma ten-
inclusiva das classes dirigentes levou a partidos de esquerda
pragmaticos e moderados; ao contrario, uma atitude repressiva
. a urn predomfnio na esquerda das ideologias mais radicais.
Gra-Bretanhaenospafses escandinavos elites abertas e pragma-
embora opondo-se as reivindicac;6es dos operarios, evitaram as
de repressao extremas, na Alemanha, Austria, Franc;a, Italia e
recorreram a violenciaparaexcluiros novos grupos darepre-
politica.
resultado foi que, enquanto no primeiro grupo de pafses se de-
partidos trabalhistas grandes, embora moderados, no se-
as organizac;6es operarias tenderam para se isolar da cultura
e desenvolver urn soziale Ghettopartei e movimentos com
ideologias paraisolar os seus membros e apoiantes das influen-
dos ambientes sociais circunstantes [ibidem, 187-188]. Emgeral,
mais radicais estiveram presentes em pafses de baixa
grandes obstaculos no sistema representativo e
politico do movimento operario - pelo que, portanto, 0
a reformas graduais parecia menos crlvel [Bartolini, 2000, 565-
. A esquerda aparece historicamente dividida nos contextos de
izac;ao retardadaeincompletae baixaintegrac;ao institucional
566-567].
fami1ias dos partidos
FAMILIAS DOS PARTIDOS
a analise genetica de Lipsen eRokkancoma reconstru-
da emergencia dos varios tipos de partido, Klaus von
[1985] propos 0 conceito de <1amflias espirituais de partidos
conjuntosdepartidosintegradosnumaconcepc;aodomundo
165
Por um lado, e dado observar que, comum aos partidos COn,
temporaneos, aparece um dec1fnio qualitativo do ml'mht7rC
inscritos mais velhos e motiva<;:oes mais oportunistas
Por outro, falou-se em muitos partidos contemporaneos de uma mu,
dan<;:a na fun9ao da base, que, por motivo de ser 0 ponto de referencia
do partido, se transformou em mera fonte de financiamento [por exem-
pIo, Crouch, 2000], Enquanto os congressos assumem cada vez mais
o papel de momentos de propaganda voltados para 0 exterior, as
decisoes relevantes para a vida de partido - como as candidaturas nas
listas eleitorais - sao tomadas de uma maneira cada vez menos
transparente pela direc9ao nadonal: os partidos esrno a tomar-se
vez mais maquinas pessoais ao servi<;:o deste ou daquele lfder poli[lco)}
[Calise, 2000,5].
7. 0 partido come-tudo e 0 eleitorado votatil
o QUE E UM PARTIDO COME-TUDO?
A hipatese de urn enfraquecimento dos partidos politIcos como
expressao de grupos sociais especfficos ja fora apresentada nas inves-
sobre partidos no pas-guerra. Meio seculo depois de Michels,
Otto Kirchheimer analisou as transforma90es do partido de massas e
elaborou 0 conceito de partido come-tudo para descrever 0 novo tipo
de partido que a afirmar-se no segundo pas-guerra. Para
empregar as suas palavras, 0 partido emerl!ente caracteriza-se
a) uma redUl;iio drastica da sua bagagem idealogica;
b) um robustecimento ulterior dos grupos dirigentes de vertic
e
,
cujas aC90es e omissoes sao agora consideradas do ponto de
vista do seu contributo para a eficiencia de todo 0 sistema so-
do que para a identifica<;:iio com os objectivos da sua
c) uma diminuic;iio do papel membra
papel esse considerado uma relfquia histarica,
de obscurecer a nova imagem do partido come-tudo;
176
uma menor acentuar;iio da referencia a uma classe social espe-
cifica ou a uma clientela confessional para recrutar eleitores
entre a popula<;:ao em geral;
assegurar 0 acesso a varias grupos de interesse [1966, 191 J.
Michels ja colocara 0 acento tanico suficientemente nas trans-
das rela<;;oes de no seio do partido - com 0
dos vertices e a redu9aO das capacidades de controlo da base
:onceito de partido come-tudo salienta outro elemento: para arre-
votos, os partidos estao dispostos a tudo. Assim, apresentam-se
moderados na Iinguagem, tentam pescar apoio eleitoral fora da
de referencia, interactuam, de um modo mais ou menos
com varios grupos de interesse.
principal caracterfstica partido consistiria em concentrar
as suas energias na competit;iio eleitoral. Esta
o enfraquecimento da reJa<;:ao com a classe privilegiada de refe-
. e uma busca de apoio mesmo noutros grupos sociais dotados
L\;;resses compatfveis. Segundo Kirchheimer, 0 partido come-tudo
pandir 0 seu eleitorado procurando eneontrar mais votantes
que nao tenham entre si conflitos de interesses
Atraves da escolha de temas consensuais -
encontrariam resistencia na comunidade -, 0
pode alargar ao maximo 0 raio de dos eleitores poten-
SE TORNAM os PARTIDOS COME-TUDO?
do partido come-tudo constituiria 0 resultado de uma
sjormac;oes socia is e culturais que levam ao enfraqueci-
dos sentimentos de de classe assim como das cren9as
o desenvolvimento econ6mico e 0 estado do
a dureza dos conflitos sociais, enquanto os mass media per-
entrar em contacto com as grandes massas de eleitores.
imer eScreve:
opartido de integrac;;ao de massas, produto de uma epoca em que
divis5es de c1asse e estruturas confessionais rfgidas mais
vUl.li1das, esta a convelter-sc num partido do povo come-tudo.
,u<1.ndonando as tentativas de formacao intelectual e moral das mas-
177
sas, desloca-se cada vez rnais claramente para a ribalta e
quanto renuncia a agir em profundidade e prefere urn consenso
vasto e urn exito eleitoral irnediato [ibidem, 185]. s
o ELEITORADO DE PERTENCA
A ideia de partidos orientados para a9ambarcar votos faz-se aCom_
panhar da ideia de votos em safda livre. As amilises do comportamento
eleitoral salientaram longamente a radicaliza15ao dos partidos em al-
guns grupos sociais e, ao mesmo tempo, a sua capacidade para criar
fortes rela<.;:oes de com 0 eleitorado. Estas teses
mantidas em primeiro lugar pelas duas principais escolas que se de-
senvolveram nos Estados Unidos, por volta dos anos 40 do seculo xx,
numa tentativa para explicar 0 comportamento eleitoral: uma, dita
Escola da Columbia, salientou 0 papel do grupo socioecon6mico de
perten<.;:a, enquanto a outra, a Escola de Michigan, mais
sobre as caracterfsticas psicol6gicas individuais. Em ambos os casos,
observou-se a durabilidade do assedio aos partidos atraves de urn tipo
de voto a que se pode chamar de perten15a.
Segundo a Escola da Columbia, nascida em torno
de Paul Lazarsfeld junto do Bureau of Applied Social Research da
Universidade da Columbia de Nova Iorque, 0 voto, embora se trate de
urn comportamento individual, e influenciado profundamente pelas
nonnas e valores dominantes nos diversos grupos socials. Acontece
com muita frequencia a escolha do voto poder ser remontada asocia-
liza15ao polftica em familia, dado que os filhos votam (em 77% dos
casos estudados por Lazarsfeld) no mesmo partido dos pais. A conc1u-
sao dele consiste em que uma pessoa pensa politicamente como e
socialmente. As caracterfsticas sociais determinam as
politicas [Lazarsfeld et al., 1944, 27]. Status socioeconomico, reli-
giao e local de residencia sao os principais produtores da decisao de
voto, que depois tende a manter-se no tempo.
Os investigadores da chamada Escola de Michigan que analisar
aJ1l
uma serie historica de sondagens em campos muito vastos,
algumas caracterfsticas de psicoiogia individual que
em rela<.;:ao a perten<.;:a social na determina<.;:3o da op<.;:ao eleiwral. e
gundo essa escola, 0 comportamento de voto seria influenciad
l
_
uma serie de atitudes individuals sobre tematicas, candidatos e progra
178
e pela intensidade das mesmas. Ainda segundo aquela escola,
a adesao a uma serie de valores e interactua com a
com urn partido, que tende a ser precoce e coerente com
pais. Esta tende a manter-se estdvel (para dois
em cada tres e con stante nas elei<.;:oes) e refon;a-se com
do tempo (a medida que 0 eleitor envelhece, a intensidade de
o partido aumenta, pelo que a probabiHdade de
ELEITORADO DE OPINIAO E 0 ELEITORADO DE MUDANCA
observaram-se uma redu<.;:ao do eleitorado de per-
ligado a uma identifica<;ao de longo prazo com os partidos -
outro lado, um crescimenlo dos eleitores
para se deixarem convencer a mudar de partido. Os
.gadores da Escola de Michigan ja haviam observado que, se a
iIlifica<;:ao com os partidos se mantem forte em algumas
nota-se urn enfraquecimento da fidelidade dos eleitores: ou
posi<.;:ao sobre uma tematica especffica prevalece em rela<.;:ao a
com urn partido. A investiga<.;:ao contemporilnea indica
0 e1eitorado de - 0 nueleo duro dos partidos
afirmar-se, 0 eleitorado de opiniiio aumentou e vota na base
especfficas pelos prograrmts dos partidos em temas
mudando de partido de uma para outra, enquanto
urn eleitorado de interdimbio, isto e, de eleitores que mudam
com favores [efr. Cartocci, 1994].
:J!,'-LlNIO DA ADERENC'IA AOS PARTIDOS
investiga<.;:oes sobre 0 comportamento eleitoral salientam certa-
urn enfraquecimento nos la90s identificm;:iio partiddria. So-
a partir dos anos 70 do seculo xx, foi observada na
,Partidaria uma componente de gera15ao: os jovens eleitores
nos anos sessenta tendiam a ter uma menor afectiva
partido, preferindo votar em conformidade com a posi<.;:ao dos
sobre tematicas que estavam mais proximas do seu cOra1530
erba e Petrocik, 1976]. TamMm na Europa se reduziu a iden-
com os partidos polfticos. Segundo os dados do Eurobarometro
5.2], a percentagem dos que declaravam uma forte adesao aos
179
-----------
Tabela 5.2. da aderencia aos partidos em 12 parses europeus entre
1975 e 1992. Percentagern de entrevistados que se dec1arararn rnuito pr6ximos
e mesmo pr6ximos de urn partido
Media.
J:;'r GB Lu Ir Ir A 0 Ho Bel Gr E P Euro-
peia
- 22 - 25 29 31 31 - 1975 -
46 28 40 27 27 - - 1978 36 40 35 29 37
1980 29 39 19 32 39 33 37 35 19 32
1985 25 37 18 34 31 31 30 26 22 32 11 13 30
1990 32 22 27 20 31 17 28 29 30 41 13 10 27
1992 31 16 28 28 41 17 24 22 31 29 13 10 29
1
Fonte: Eurobar6metro, v:irios numeros. Adapta9ao de Schmitt e Holmberg [1995, 126-]27).
partidosbaixou,entre 1975 e 1992,emquase todosos paises europeus.
o declfnio apresenta-se particularmente sensivel em Wilia (onde a
percentagemdeentrevistadosquesedeclararamproximosdeurnpartido
se reduz de 46%, em 1978, para 31%, em 1992), (28% para
16%), Paises-Baixos (de 40% para 28%). Na media europeia, a per-
centagemdos cidadaosproximosdospartidosbaixade 37%para
nos mesmos anos. Em conformidade com uma recente
sobre as democracias apercentagem daqueles que se
tificam fortemente com os partidos esHi em declfnio em todos os 21
paises analisados [Dalton, 2000, cfr. tambem Della Porta, 2001, e
Dalton e Watemberg, 2000].
Varias investigagoes, por oUlro lado, evidenciaram urn drastico
dec1fnio do voto de classe, em que tinham insistido Lazarsfeld e a
daColumbia. Se0 peso da social sobre0 voto naofoi
totalmente superado por exemplo, os parlidos de centro-esquerda
continuam a ter os seus principais bastioes entre os eleitores das ca-
madas medias e altas, entre quem vive no campo ou em comunas de
pequenasdimensoes, eentreoseleitoresmaisreligiosos
247] -, muitas investigagoes indicam, porem, que a influencia da
classe social de no comportamento eleitoral esta emdeclfnio
no mundo ocidental. Convern acrescentar que ja nao sao apenas os
menos interessados pelapolfticaque mudam de opiniao. ComoDalton
[1996, 119] salientou, reduziu-se a aderencia aos partidos, quer entre
180
que nao se interessam pela polftica quer entre quem mantem esse
o CRESCIMENTO DA VOLATILII>ADE ELEITORAL
Poder-se-ia, pois, pensar que, juntamente com a e a
cultural, aumentararnos eleitores criticos que ponderarn
de votar. Comefeito, tern sido apresentados pelas mais recentes
racionais dapoifticacomocapazes deavaliaras
polfticos e actuar nessa conformidade. 0 eleitor racional sabe
os partidos e escolher aqueles que the maximizam os dcsejos.
Em geral, avalia com base nas suas preferencias 0 rendimento do
partido no votando nele se acha que a melhorou no
periodo em que exerceu 0 poder ou optando pela no caso
. contrario. Na verdade, urn certo numero de eleitores tende a pronun-
ciar-se nas urnas de uma forma retrospectiva e atribuir ao govemo
vigente a responsabilidade do nivel de bem-estar desfrutado no
sado proximo, premiando-o no caso de uma melhoria e punindo-o na
eventualidade de urn agravamento [Pappi, 1998, 261]. Diz-se assim
eleitoral (%) em algumas democracias europeias
Tabela 5.3.
(ntimas
Diferem;a
Primeiras I (ntimas
entre os anos I
eleit;Oes do
l eleic;oes dos
eleh;Oes dos
60 e90
anos 90
anos 60
-4,4
(1999) 86,4
(1949) 86,4
(1966) 86,4
Austria ....................
+0,6
(1999) 90,3
(1968) 90,3
(1946) 90,3
Belgica....................
-3,3
(1998) 86,3 l
(1968) 86,3
(1945) 86,3
Dinamarca...............
78,2
(1966) 78,2
(1948) 78,2
FinHl.ndia.................
-0,2
(1997) 715 \ (1968) 71,5
(J 946) 71,5
.....................
-4,4
(1997) 78,5 '
(1969) 78,5
(1949) 78,5
Alemanha................
-11,0
(1997) 74,2
(1969) 74,2
(1948) 74,2
Irlanda.....................
-9,9
(1996) 89,1
(1968) 89,1
ltalia.....................". I (1946) 89,1
-0,3
(1994) 91,9
(1968) 91,9
(1949) 91,9
-9,8
(1997) 76,4 I
(1969) 76,4
(1945) 76,4
-22,2
(1998) 93,1 \ (1967) 93,1
(1946) 93,1
Parses Baixos ...,.....
(1997) 75,8
-- 4,2
(1966) 75,8
(1945) 75,8
Reino Unido...........
82,7 -2,5
(1968) 82,7
(1948) 82,7
Suecia......................
Fonte: Elaborm;ao mirtha com dados do Ministcrio do Interior, fomecidos por E Raniolo.
18]
os partloos no govemo. durante periodos de rccessao economica
tcndem a pcrder votos, e vlce-versa.
Por defini<;:ao, 0 cleitor nao identificado e mais volatil. Se Lipset
e Rokkan salientaram a continuidade nos sistemas de partido, muitos
estudos recentes puseram em discus sao ou, pclo mcnos, delimitaram,
a validade das hipoteses do congelamento das fracturas. Ja a Proposito
dos anos 80 do seculo xx, come<;:ou-se a falar de uma liberta<;:ao de
muitos sistemas de partido da camisa de fon;as das fracturas tradi-
cionais [Franklin et al. 1992, 404; Karvonen e Kuhnle, 2001], Des-
congelamento quer dizer, acima de tudo, enfraquecimento da fidelida-
de aos partidos tradicionais e aumento da volatilidade eleitoral.
investigas;ao sobre a Austria, a Alemanha, a Dinamarca, a
os Paises Baixos, a Noruega, a Suecia e 0 Reino Unido inOlca que a
percentagem de eleitores que mudam de partido aumentou entre
e 1954 [Lane e Ersson, 1999, 127]: a percentagem daqueles
fizeram entre duas elei<;:oes (no seio dos que votaram em
aumentou de fonna constante, passando de 11%, em 1950-1954 para
26%, em 1990-1994.
Estas tendencias pareeem ter sido particularmente visfveis nos anos
90 do secuIo xx, sobretudo na sequencia da queda dos regimes do
socialismo real e da de escandalos politicos que atingiu nume-
rosas democracias ocidentais [Pennings eLane, 1998]. No caso da
a situa<;:ao das entidades corruptas veio a descoberto a partir de
1992, e nenhum dos partidos presentes no parlamento em 1985 sobre-
vi via 10 anos mais tarde sem altera<;oes profundas, nao so no nome,
mas tambem na estrutura organizativa [Morlino, 1996].
o AUMENTO DO ABSTENCIONISMO
Como efeito do descongelamento, parece haver aumentadO 0
abstencionismo eleitoral. Se observarmos 0 andamento da partiCip
a
9
ao
nas elei<;:5es nos paises europeus entre 0 periodo imediato ao p6s-
-guerra eo final dos anos 90 do seculo xx [v. tab. 5.3J, notalllOS uma
redu<;:ao tendencial, que se acentua se compararmos 0 final dos anos
60 f
.. I d 90 d 'I A' d -l:JOo,,"pt1ca
com 0 "ma os anos 0 secu 0 xx. ill a se nota uma
notavel entre paises. A urn grupo daqueles em que a
eleitoral e tendencialmente estavel (como a Belgica,
Luxemburgo), contrapoem-se outros caracterizados
182
das percentagens de voto: entre estes, a Noruega (-';/,1:$), a
(-9,9), a Irlanda (-11), a FinHl.ndia (-16,9) e os Paises Baixos
Em geral, as taxas de absten9ao sao extremamente variaveis
pontos muito baixos em Fran9a, FinHindia, Irlanda e Reino
se juntam Espanha, Grecia e Portugal) rcfr. RanioIo,
mudan9
a
do tipo de voto e a do relacionado com a estrutura
tiveram efeitos rclevantes na estrutura dos partidos.
o partido profissional-eIeitoral
. QUE It 0 PARTIDO PROFISSIONAL-ELEITORAL
nos anos 80 do seculo xx, Panebianco, ao salientar 0 papel dos
media e das sondagens, definiu a emergencia de urn partido
. As caracteristicas expostas pelo partido come-
ele junta outra: a substituiQO da burocracia de partido, a que
rtelegada a relaQo com a base de referenda, por tecnicos e
especializados nas relaoes com os eleitores Iv. fig 5.3J.
tipo de partido, 0 papel dos activistas como canal de medi-
entre representantes e representados reduz-se a extin9ao.
As infonna<;6es sobre as exigencias dos cidadaos, outrora recolhidas
atraves do eficiente terminal que, no partido de massas,
eram as sessoes, sao agora procuradas por meio de uma
. maci<;a das sondagens. No sentido inverso, dos vertices a base, a
de transmissao das mensagens, que anterionnente passava atra-
Yes da propaganda porta a porta ou dos comfcios, desenvolve-se cada
vez mais pelos meios de comunicafiio de massas particular, a
\ Peritos em sondagens e em marketing convertem-se, pois,
profissionais, cada vez mais procurados pelos partidos.
transfonna<;ao do partido burocratico de massas no partido pro-
estaria ligada as mudans;as socioeconomicas e a
Enquanto a primeira transforma quer a estrutura social
atitudes culturais, 0 desenvolvimento de novas tecnologias de
183
de partido representam mais do que a soma da sua I.Uuuaue, poi,
tambcm incluem 0 tipo de acqoes reciprocas - coopera'iiao e
ti'iiao - que ocorrem entre os seus membros.
9.1. 0 numero dos partidos
NUMERO DE PARTIDOS E LEIS ELEITORAIS
Uma divisao classica dos
base no numero de unidades, em
dcirios e multipartiddrios [Duverger, 1951].
osistema monopartiddrio caracteriza alguns regimes autoritanos,
tidos com frequencia de partido unico.
VANTAGENS DOS SISTEMAS BIPARTIDAruos
o sistema britfmico e 0 dos Estados Unidos (segundo alguns, jun-
tamente apenas com mais paises: ColOmbia, Costa Rica e Malta,
efr. Ware [1996, 154] sao referidos como exemplos classicos de sis-
tema bipartiddrio, com uma alternancia de poder entre
No tocante as suas consequencias, normalmente, os sistemas
dariosforamconsideradosparticularmente eficientes: 0 eleitoradoelege
o governo directamente, nao se perde tempo em negocia<;6es para
formar governos de coliga'iiao, 0 governo e estavel e a responsabili-
dade de um bom ou mau governo efacilmente atribufvel e a expec-
tativa de uma alternancia modera tanto as for<;as no poder como a
oposi'iiao.
DE.'WANTAGENS DOS SISTEMAS MULTlPARTIDARIOS
No entanto, a maior parte das democracias ve sistemas multipar-
tidarios nascidos, comoRokkan
de conflitos sociais. Em paises como a
Fran'iia, Alemanha, IsHl.ndia, lrlanda, Luxemburgo, Paises
Noruega e Suecia, 0 numero de partidos varia entre tres e cinco.
ABelgica, Dinamarca, FinHindia, Israel, SU1'iia e Italia sao exemplo
s
de democracias com um mlmero de partidos superior a cinco [Wa;-e,
1996,159]. Um sistema multipartidario contem, em geral,
heterogeneas e instdveis, comconsequentes dificuldades paraa
em atribuir tanto meritos como demeritos e radicalismo ideolog
lCO
.
188
Duverger, as diferen'iias entre os sistema') de partido de-
das caracterfsticas de algumas institui<;oes, em particular do
eleitoral. Enquanto 0 monopartidarioedeterminado pelaproi-
de construir outros partidos, os bipartidarios e multipartidarios
influenciados, nesta hipotese, pela lei com 0 sistema
a um ponto que favorece 0 bipartidarismo e 0 oroDorcio-
que leva ao multipartidarismo.
subdivisao foi, porem considerada excessivamente simplifi-
Tendeu-se, em particular, a generalizar os poucos casos em
rela<;ao entre bipartidarismo e estabilidade governativa e, vice-
multipartidarismo e ingovernabilidade era extremamente evi-
sem considerar casos mais ambivalentes em rela<;ao aquelas
de fundo. Observou-se tambem que, para alem do mero
conta a dimensiio dos varios
SE CONTAM os PARTIDOS
chegar a uma tipologia efectivamente capaz de definir tipos
por se caracterizarem por dinamicas especfficas
sugeriu dua') correcqoes a teoria de Duverger.
primeirarefere-se a maneira de contar. 0 criterio numerico-
dos partidos - pode revestir-se de importancia para com-
algumas dinfunicas dos sistemas politicos: trata-se de um
muito estavel, que indica 0 grau de fragmenta<;ao de urn
de partidos e int1uencia 0 tipo de competi<;ao entre partidos.
todavia, adverte Sartori, saber contar.
uma contagem inteligente, 0 importante nao etanto a di-
de um partido como 0 seu peso estrategico. Na verdade, s6
se tem:
coligaqiio, que e, embora nem sempre, necessario
coliga<;oes degovemo- urn partidomenordeveser
Contado, por pequeno que seja, se ele for necessario peIo menos
.. Urna vez no perfodo considerado, para determinar a maioria de
governo [Sartori, 1970, 325J.
lJntpncial de chantagem, que indica que a existencia do partido
um efeito sobre as tacticas adoptadas pelos outros um
189
partido e "suficientemente grande" para se considerar relevante
quando a sua existencia, ou aparencia, influencia as tacticas da
competic;ao entre partidos [ibidem, 325].
9.3. Numero de partidos e polariZQfiio ideoLOgica
Embora com estes esclarecimentos, 0 numero dos partidos nao e
suficiente para definir a variavel que interessa aos cientistas politicos
que se ocupam dos sistemas de partido: a maneira de estes se com-
portarem nas relac;oes entre si. 0 funcionamento do sistema de parti-
dos - as acc;oes reciprocas entreeles defacto influenciadopor
outra variavel: 0 nivel de ideologica, auseja, a coloca9iio
dos eleitores ao longo do eixo direita-esquerda.
Com base nestas correcc;oes, Sartori construiu uma tipologia de
sistemas de partido mais complexa que a de Duverger.
os SISTRMAS MONOPARTIDARIOS
Acima de tudo, distinguem-se tres tipos de sistemas monoparti-
darios:
partido singular, quando somente urn partido elegal;
partidohegemonico, quandoexistemoutrospartidos e sao iegais,
mas apenas como sateiites do principal - isto e, nao
realmente competir com ele para obter 0 poder;
partidopredominante, quandoexistemoutros e osmenores com-
petem efectivamente com 0 predominante ou seja, esmo legi-
timados para a"lcender ao poder em caso de vitoria eleitoral -,
mas nao se arriscam realmente a vencer. A maior parte dos
lugares vai sistematicamente para 0 partido predominante.
Ha, pois, urn sistema com dois partidos significativos que
contam segundo os criterios atras definidos - e uma moder.r
c;aoideologicaquepermiteumacompetic;aocentripeta.pode
-se aaui de:
OS SISTEMAS BIPARTIDARIOS ,
sistema bipartido, que acontece quando urn partido governa
- S-" d . as seg
u1n
-
mas naoparasempre. aocaractenstlcas esteSIstema
190
res: 1) dois partidos estao em condic;oes decompetirpela maio-
ria absoluta dos lugares; 2) pelo menos urn dos dois partidos
arrisca-se com efeito a obter a maioria; 3) esse partido quer
govemar so; 4) a altemativa, ou rotac;ao, ao poder, eesperada
crivel fibidem, 332]. A competic;ao epara 0 centro, onde se
presume que estilo os eleitores flutuantes os disponiveis para
mudar de partido.
SISTEMAS MULTIPARTIDARIOS
m1mero departidos e polarizac;ao ideologicapermitemdistinguir
tipos entreos sistemasmultipartidarios. A principaldistinC;ao
a:
multipartidarismo (ou pluralismo) moderado. Caracterizado por
urn numero de partidos (que contam) nao superior a cinco e
pela presenc;a de govemos de coligac;ao. A estmtura do sistema
e bipolar, comduas coligac;oes que competemumacoma outra,
situando-senocentroparaconquistar0 eleitoradoflutuante.Todos
os partidos estao orientados a ir para 0 govemo;
pluralismo polarizado. Em geral, com urn numero de partidos
superior a cinco, este tipo de sistema tern as seguintes caracte-
risticas:
de partidos anti-sistema - definidos como aqueles
que <<nao mudariam, se pudessem, 0 govemo, mas 0 sistema
degovemo.Umaoposic;aoanti-sistemicaobedeceaoutrotipo
de crenc;ae naopartilhaosvalores daordempoliticaemcujo
seioopera. Porconseguinte, os partidos anti-sistemicos repre-
sentam uma ideologia totalmente "diferente" - e e por isso
queindicam0 maximodedistanciaideologica [ibidem, 337J;
2) de duas bilaterais, que sao mutuamente
3)
exclusivas e nunca se poderiam aliar uma com a outra;
0 centro esta ocupado - ou seja, 0 sistema tern a base no
centro;
4)
,
0 sistema esta ideologicamentepolarizado istoe, 0 espec-
tro das opini5es polfticas eextremamente amplo, com dois
polos (ll direita e aesquerda) caracterizados por posic;oes
extremas;
191
5) existe uma tendencia centrifuga - dado que 0 centro ja esta
ocupado, os partidos adireita e aesquerda, se conflufssem no
centro, correriam 0 risco de perder eleitores nos extremos Seat
conquistar apoio entre os moderados;
6) nao s6 M distancia ideol6gica, como a lUeuW15
fortemente a mentalidade dos cidadiios, levando-os a
a polftica com dogmatismo;
7) emergem oposiqiJes irresponsaveis, Como nao podem esperar
ascender ao govemo, as sabem que nunca serao
chamadas a por os seus program as em pnltica;
8) existe, pois, uma tendencia para fazer promessas que nunea
poderiam cumprir. Por outras palavras, a politica e extremista.
Pode acrescentar-se que
9) obrigado a pennanecer no govemo, 0 partido no centro
tambem niio tera uma grande responsabilidade democnitica,
Nao podendo ser afastado por falta de uma altemativa, 0
maior partido nao se preocupa muito com a opiniao dos elei-
tores sobre a sua
Posterionnente, Sartori [1976] introduziu urn novo tipo de sistema
multipartidario:
0 multipartidarismo segmentado, caracterizado por urn nlimero de
partidos superior a cinco, mas com baixa polariza<;ao ideo16gica.
9.4. Pluralismo polanzado e 0 caso italiano
polarizado, caraeterizou, segundo Sartori, 0 caso ita-
menos ate aos anos 70 do seculo xx, inclusive), 0 Movi-
Italiano (MSI) e 0 Partido Comunista Italiano (PCl)
duas anti-sistema situados respeetivamente na extrema di-
reita e extrema esquerda; a Democracia Crista (DC) ocupou ,.. --
te 0 centro, com parciais de com os varios
laicos (liberais, republieanos, sociais-democratas e socialistas
, d 'd I " y-",<;p,oca
o numero os partI os re evantes era supenor a cmeo, como a '" .
192
Você também pode gostar
- Morfologia Diplomatica PDFDocumento18 páginasMorfologia Diplomatica PDFesmeraldoadelino95Ainda não há avaliações
- Fichamento Completo Cap. Iii - FDP, SundfeldDocumento3 páginasFichamento Completo Cap. Iii - FDP, SundfeldIsabela MalulyAinda não há avaliações
- Ciencias Politicas 1anoDocumento5 páginasCiencias Politicas 1anosamuellmeque100% (3)
- 1 - As Características Da Nova HistóriaDocumento3 páginas1 - As Características Da Nova HistóriaMikas Cabral50% (6)
- Resenha Crítica - Tudo Começou Com MaquiavelDocumento6 páginasResenha Crítica - Tudo Começou Com MaquiavelLuciano Nery Ferreira100% (1)
- A Historiografia RomanaDocumento4 páginasA Historiografia RomanaZünëÿdÿ Jülïäö Dös Müchängä100% (1)
- Resoluções II Congresso FrelimoDocumento18 páginasResoluções II Congresso FrelimoRafael Rocha Novais80% (5)
- Questionarios Tópicos 3Documento30 páginasQuestionarios Tópicos 3sheila laete80% (5)
- 1 Ementa - EP073 - Política e Planejamento Da Educação BrasileiraDocumento4 páginas1 Ementa - EP073 - Política e Planejamento Da Educação BrasileiradorivaldemellojuniorAinda não há avaliações
- Quais São Os Principais Tipos de Regimes Políticos - PolitiquêDocumento4 páginasQuais São Os Principais Tipos de Regimes Políticos - Politiquêpaulinhohilario01Ainda não há avaliações
- Geografia Do UrbanismoDocumento19 páginasGeografia Do UrbanismoCastigo Benjamim100% (1)
- Politica Externa e Diplomacia Da Africa Do SulDocumento21 páginasPolitica Externa e Diplomacia Da Africa Do SulSergio Alfredo MacoreAinda não há avaliações
- (Resenha) O Estado Como Problema e Solução - BasílioDocumento2 páginas(Resenha) O Estado Como Problema e Solução - BasílioEvely VidalAinda não há avaliações
- Canhanga, Nobre DesafiosDescentralizacaoDocumento33 páginasCanhanga, Nobre DesafiosDescentralizacaoNordito MarcelinoAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre Conceito e Metodos de Analise em Ciencias Politicas Versao Final VI GRUPO HIPOGEPDocumento26 páginasTrabalho Sobre Conceito e Metodos de Analise em Ciencias Politicas Versao Final VI GRUPO HIPOGEPInacio Manuel Winny Nhatsave0% (1)
- Avaliação de Ricos Indústrias Na Cidade Da Matola-Zebedeu SiquelaDocumento10 páginasAvaliação de Ricos Indústrias Na Cidade Da Matola-Zebedeu SiquelaZebedeu SiquelaAinda não há avaliações
- Ciencia Poitica e Boa GovernacaoDocumento13 páginasCiencia Poitica e Boa GovernacaoNeto LourencoAinda não há avaliações
- Resenha A Globalização Popular e o Sistema Mundial Não HegemônicoDocumento7 páginasResenha A Globalização Popular e o Sistema Mundial Não HegemônicoAna Montandon100% (1)
- Nacionalismo Europeu e AfricanoDocumento5 páginasNacionalismo Europeu e AfricanoDino Teodoro MoisésAinda não há avaliações
- O Surgimento Do Nacionalismo em ÁfricaDocumento30 páginasO Surgimento Do Nacionalismo em ÁfricaSimão Paia100% (2)
- Geografia RadialDocumento24 páginasGeografia RadialGildo J GilAinda não há avaliações
- Freq Ciencia PoliticaDocumento25 páginasFreq Ciencia PoliticaIsabel Furtado50% (2)
- Conferencia de BerlimDocumento12 páginasConferencia de BerlimTMac Ps100% (1)
- Gestao de Autarquias LocaisDocumento13 páginasGestao de Autarquias Locaissardio dos santosAinda não há avaliações
- Transformação Agrícola e Desenvolvimento RuralDocumento18 páginasTransformação Agrícola e Desenvolvimento RuralDois KilometrosAinda não há avaliações
- Trabalho Do 3 Grupo de Direito AdministratoDocumento13 páginasTrabalho Do 3 Grupo de Direito AdministratoJunior CassimoAinda não há avaliações
- Administração Pública Por AbrucioDocumento50 páginasAdministração Pública Por AbrucioValdi Craveiro BezerraAinda não há avaliações
- Teoria Realista Do ConflitoDocumento9 páginasTeoria Realista Do ConflitoNelda VilanculoAinda não há avaliações
- Divisão Da EconomiaDocumento6 páginasDivisão Da Economiacayookino100% (1)
- Gestao de Terra-2Documento6 páginasGestao de Terra-2silvacuinicaAinda não há avaliações
- História de MoçambiqueDocumento20 páginasHistória de MoçambiqueJosevich Muchanga100% (1)
- Trabalho Sobre Negritude. Gupo 5 HIPOGEPDocumento17 páginasTrabalho Sobre Negritude. Gupo 5 HIPOGEPInacio Manuel Winny Nhatsave0% (1)
- Opinião PublicaDocumento56 páginasOpinião PublicaBruno Maspoli100% (1)
- Terrorismo em Cabo Delgado - Alimentaçao de Um Futuro Conflito NacionalDocumento26 páginasTerrorismo em Cabo Delgado - Alimentaçao de Um Futuro Conflito NacionalVíKtorRinoCandieiro100% (1)
- Governacao Municipal NGUENHADocumento32 páginasGovernacao Municipal NGUENHAYuren MapileleAinda não há avaliações
- Guerra Fria e A Independencia de MocambiqueDocumento17 páginasGuerra Fria e A Independencia de MocambiqueArmando Afonso100% (1)
- "Nova Gestão Pública" (NGP) - A Teoria de Administração Pública Do Estado UltraliberalDocumento27 páginas"Nova Gestão Pública" (NGP) - A Teoria de Administração Pública Do Estado UltraliberalYuren Mapilele100% (2)
- Estado, Governo e PartidoDocumento12 páginasEstado, Governo e PartidoAlbertoAinda não há avaliações
- GOvernação Local PerpuDocumento16 páginasGOvernação Local PerpuAnonymous jar5HnHAinda não há avaliações
- Comportamento Eleitoral em MuedaDocumento108 páginasComportamento Eleitoral em MuedaFidel Terenciano FilhoAinda não há avaliações
- Linchamento Na Província de Sofala: Causas, Consequências e Tipo de CrimeDocumento10 páginasLinchamento Na Província de Sofala: Causas, Consequências e Tipo de CrimeComito JorgeAinda não há avaliações
- Projecto de PesquisaDocumento14 páginasProjecto de PesquisaSamuel Milton Mueche A100% (1)
- mOÇAMBQUE MOVIMENTOS SOCIAISDocumento7 páginasmOÇAMBQUE MOVIMENTOS SOCIAISedmilsonAinda não há avaliações
- Teoria Geral de AdministraçãoDocumento24 páginasTeoria Geral de AdministraçãoZarino Abdala Júlio Mussa100% (1)
- Apontamentos de Conflitos 3 AnoDocumento9 páginasApontamentos de Conflitos 3 AnoForex Moçambique OnlineAinda não há avaliações
- Projecto AnastaciaDocumento21 páginasProjecto AnastaciaDaio Daniel Da Silva AlmeidaAinda não há avaliações
- Inconstitucionalidade MocambicanaDocumento2 páginasInconstitucionalidade MocambicanaAlberto Sebastião AsinpAinda não há avaliações
- Violencia D - AnaliseDocumento18 páginasViolencia D - AnaliseMoisesAinda não há avaliações
- Órgãos Das Sociedades ComerciaisDocumento2 páginasÓrgãos Das Sociedades Comerciaisney joel100% (1)
- Desenvolvimento RuralDocumento15 páginasDesenvolvimento RuralDario MoianeAinda não há avaliações
- O Papel Dos Transportes No Desenvolvimento Do PaisDocumento11 páginasO Papel Dos Transportes No Desenvolvimento Do PaisJonasAinda não há avaliações
- Trabalho Politicas Publicas Final M05Documento17 páginasTrabalho Politicas Publicas Final M05alfeu rube100% (2)
- FP-Orcamento Participativo - MoçambiqueDocumento21 páginasFP-Orcamento Participativo - MoçambiqueHermenegildo valor100% (1)
- Controle Social Do Poder Politico em MocambiqueDocumento92 páginasControle Social Do Poder Politico em MocambiqueInacio Manuel Winny Nhatsave100% (1)
- Historia Das Instituicoes Politicas IIDocumento15 páginasHistoria Das Instituicoes Politicas IICrisEnginheiroAinda não há avaliações
- Integracao Regional Vs Blocos EconomicosDocumento20 páginasIntegracao Regional Vs Blocos EconomicosSergio Alfredo MacoreAinda não há avaliações
- Análise Da Estratégia Global Da Reforma Do Sector Público - Egrsp (2001-2011) em MoçabiqueDocumento12 páginasAnálise Da Estratégia Global Da Reforma Do Sector Público - Egrsp (2001-2011) em MoçabiqueVirgilio Reis80% (5)
- Economia Política de um Estado Pós-ColonialNo EverandEconomia Política de um Estado Pós-ColonialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- As autoridades tradicionais na administração pública local em MoçambiqueNo EverandAs autoridades tradicionais na administração pública local em MoçambiqueAinda não há avaliações
- Formação de Professores Primários e Identidade Nacional: Moçambique em Tempos de MudançaNo EverandFormação de Professores Primários e Identidade Nacional: Moçambique em Tempos de MudançaAinda não há avaliações
- Acumulação de cargo público por militar estadual da ativa: possibilidades, vedações e as consequências jurídicas em caso de acumulação ilícitaNo EverandAcumulação de cargo público por militar estadual da ativa: possibilidades, vedações e as consequências jurídicas em caso de acumulação ilícitaAinda não há avaliações
- TEMOS PRONTO (32 991948972) A Participação Do Idoso Na Concretização Da DemocraciaDocumento12 páginasTEMOS PRONTO (32 991948972) A Participação Do Idoso Na Concretização Da DemocraciaPortfólios Unopar unoparAinda não há avaliações
- O Brasil Rumo À Sociedade Justa - Dalmo DallariDocumento24 páginasO Brasil Rumo À Sociedade Justa - Dalmo DallariHenry Roque100% (1)
- Brincadeira de Roda PDFDocumento74 páginasBrincadeira de Roda PDFAnonymous i1bmESc8100% (1)
- Horizonte Da Historia 10Documento99 páginasHorizonte Da Historia 10isaggAinda não há avaliações
- Roteiro de Atividade para Alunos (Cidadania) Antiguidade ClássicaDocumento14 páginasRoteiro de Atividade para Alunos (Cidadania) Antiguidade Clássicayarasilvarodrigues26Ainda não há avaliações
- SlideDocumento17 páginasSlidealcantaradudysAinda não há avaliações
- LYNCH O Discurso Político Monarquiano e A Recepção Do Conceito de Poder ModeradorDocumento44 páginasLYNCH O Discurso Político Monarquiano e A Recepção Do Conceito de Poder ModeradorThales HérculesAinda não há avaliações
- Modulo 5Documento25 páginasModulo 5charada123Ainda não há avaliações
- Relátório de Desenvolvimento Humano PNUD - Racismo, Pobreza e ViolênciaDocumento78 páginasRelátório de Desenvolvimento Humano PNUD - Racismo, Pobreza e ViolênciaRichardVitaldaSilvaAinda não há avaliações
- Sebenta de Direito ConstitucionalDocumento72 páginasSebenta de Direito Constitucionalkailaynevarela100% (1)
- Sistema Eleitoral Angolano Vantagens e DDocumento10 páginasSistema Eleitoral Angolano Vantagens e DJoaquim Jaime JoséAinda não há avaliações
- Prof Danilo - Cultura de Paz e Convivência Democrática - Imprimir Caça PalavrasDocumento2 páginasProf Danilo - Cultura de Paz e Convivência Democrática - Imprimir Caça PalavrasDanillo ZuriagaAinda não há avaliações
- Denise Goulart - o Dever de Prestar ContasDocumento11 páginasDenise Goulart - o Dever de Prestar ContasGabriel PintoAinda não há avaliações
- Anarquismo No Seculo 21 David GraeberDocumento92 páginasAnarquismo No Seculo 21 David Graeberstephanie100% (1)
- 35 Anos CRFB - Direitos Sociais, Econômicos e Desenvolvimento SustentávelDocumento189 páginas35 Anos CRFB - Direitos Sociais, Econômicos e Desenvolvimento SustentávelAlexandre Henrique dos SantosAinda não há avaliações
- Ciência Política - Poder e EstablishmentDocumento40 páginasCiência Política - Poder e EstablishmentFlávio Bezerra de SousaAinda não há avaliações
- Nova Gestao PublicaDocumento26 páginasNova Gestao Publicampmozine89% (9)
- A Oficial PDFDocumento413 páginasA Oficial PDFMarcia S. R. CarneiroAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Módulo IIIDocumento5 páginasExercícios de Fixação - Módulo IIIamanda almeidaAinda não há avaliações
- Debates DecoloniasDocumento159 páginasDebates Decoloniaspaulo vitor palma navasconi100% (1)
- Adm 02Documento12 páginasAdm 02Puyol_ThiagoAinda não há avaliações
- História Aula 01 8º TermoDocumento2 páginasHistória Aula 01 8º TermoLuiz MacielAinda não há avaliações
- 202 - Caderno de Atividade - ManhãDocumento19 páginas202 - Caderno de Atividade - ManhãMayara BritoAinda não há avaliações
- 140 576 1 PBDocumento25 páginas140 576 1 PBJaneson Vidal de OliveiraAinda não há avaliações
- Desobediencia CivilDocumento47 páginasDesobediencia CivilchrisencAinda não há avaliações
- REIS. Percepções Da Elite Sobre Pobreza e DesigualdadeDocumento10 páginasREIS. Percepções Da Elite Sobre Pobreza e DesigualdadeGabriela FritzAinda não há avaliações