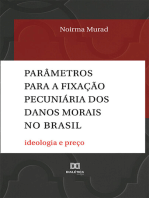Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Desobediencia Civil
Enviado por
chrisencDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Desobediencia Civil
Enviado por
chrisencDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Jus Societas – ISSN 1981-4550
9
CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESOBEDIÊNCIA CIVIL
1
Celito De Bona
Resumo: A Desobediência Civil vista como uma das várias espécies de resistência
do homem frente a uma ordem jurídica injusta, sua conceituação, requisitos e várias
passagens históricas. É este o intento do trabalho apresentado que também conta
com uma apreciação de sua não utilização e impedimentos pelo povo brasileiro, a-
lém de uma análise do Movimento Sem Terra e sua possibilidade de aplicação. Di-
reito fundamental a uma ordem jurídica justa, o cidadão pode utilizar e propagar o
instituto em sua finalidade de forma responsável, exigindo da maioria ou de seus
governantes o respeito a direitos individuais e sociais. Cada vez mais, se torna impe-
rioso o conhecimento de tal instituto.
Palavras-Chaves: Direitos Fundamentais. Resistência. Desobediência Civil.
ABSTRACT: Civil disobedience seen as one of several species of human resistance
against an unjust legal system, its conceptualization, requirements, and several
historical passages. Is this the intent of the presented work that also includes an
assessment of its non-use and impediments by the Brazilian people, as well as an
analysis of the Landless Movement and its applicability. Fundamental right a fair legal
order, the citizen can use and propagate the Institute in its purpose responsibly,
requiring the majority or of their rulers to respect the individual and social rights.
Increasingly, becomes imperative knowledge of such an Institute.
Keywords: Fundamental Rights. Resistance. Civil Disobedience.
INTRODUÇÃO
É cediço que o Direito, assim como as demais ciências, passa por um perío-
do de crise de identidade. Boaventura de Souza Santos formula, com lucidez e bri-
lhantismo, a crítica questão:
Como é que a ciência moderna, em vez de erradicar os riscos, as opacida-
des, as violências e as ignorâncias, que dantes eram associados à pré-
1
Graduado pela Universidade Paranaense, UNIPAR-Toledo; especialista lato sensu em Direito Civil e
Processo Civil pela Universidade Paranaense, UNIPAR-Toledo; especialista em Filosofia do Direito
pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE; mestre em Direito Negocial, na área de
concentração em Direito Civil pela Universidade Estadual de Londrina - UEL; ex-bolsista da CAPES;
professor e coordenador de pesquisa do curso de graduação em Direito no CEULJI - Ulbra (Ji-
paraná/RO). Membro do IBDFam - Instituto Brasileiro de Direito de Família. Advogado. E-mail para
contato: celitodebona@hotmail.com
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 119 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
modernidade, está de facto a recriá-los numa forma hiper-moderna? O risco
é actualmente o da destruição maciça através da guerra ou do desastre
ecológico; a opacidade é actualmente a opacidade dos nexos de causalida-
de entre as acções e as suas conseqüências; a violência continua a ser a
velha violência da guerra, da fome e da injustiça, agora associada à nova
violência da hubris industrial relativamente aos sistemas ecológicos e à vio-
lência simbólica que as redes mundiais da comunicação de massa exercem
sobre as suas audiências cativas (SANTOS, 2001, p. 58).
Hoje se faz a mesma pergunta que fez Jean-Jacques Rousseau, há mais de
duzentos anos atrás: “o progresso das ciências e das artes contribuirá para purificar
ou para corromper os nossos costumes?” Como resposta o pensador francês havia
dado, àquela época, um redondo não à purificação dos costumes. Hoje, ao se verifi-
car os relatórios do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
– de 1996 em diante constatar-se-á que a pobreza e as desigualdades sociais, num
âmbito internacional e geral, aumentaram.
Nos países em desenvolvimento, o crescimento sem a geração de empre-
gos traduz-se por longas horas de trabalho combinadas com uma remune-
ração muito baixa, para centenas de milhões de pessoas que têm um em-
prego de pouca produtividade na agricultura ou no setor informal (Relatório
do PNUD, 1996, 3).
James Gustave Speth, administrador do PNUD afirmou que:
Na realidade, em mais de uma centena de países, a renda por habitante é
atualmente mais baixa do que era há quinze anos. Falando claramente,
mais de 1,6 bilhões de indivíduos vivem pior do que viviam no início dos a-
nos 80 (Le Monde, 11 de outubro de 1996).
Como conclusão dos relatórios do PNUD, François Polet diz – inspirado em
Rousseau – que “nunca a humanidade dispôs de tantos recursos e meios técnicos
para resolver seus problemas de sobrevivência e bem-estar” (HOUTART e POLET,
2002, p. 15).
Já Boaventura afirma que:
Estamos de novo perplexos, perdemos a confiança epistemológica; instalou-
se em nós uma sensação de perda irreparável tanto mais estranha quanto
não sabemos ao certo o que estamos em vias de perder; admitimos mesmo,
noutros momentos, que essa sensação de perda seja apenas o medo que
sempre precede os últimos ganhos do progresso científico. No entanto, exis-
te sempre a perplexidade de não sabermos o que haverá, de facto, a ga-
nhar (SANTOS, 2001, p. 59).
Sobre o fundamento subjetivo da desobediência civil nem mesmo Hans Kel-
sen obteve um total êxito conceitual. Partindo-se do entendimento de que “Direito”
seja o direito positivado – nacional ou internacional – e de que “validade” seja a força
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 120 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
obrigatória de lei – a idéia de que ela deve ser obedecida pelas pessoas cuja condu-
ta regulamenta, Hans Kelsen (2001, p. 251) formula a seguinte questão: Qual é a
validade do Direito, isto é, por que as pessoas devem obedecer à lei?
Kelsen refuta uma resposta jusnaturalista, que diz ser válido o Direito se de
acordo com a Justiça, com as seguintes palavras:
Dizer, portanto, que o Direito positivo é válido porque é justo não é uma res-
posta para a nossa pergunta. Se o Direito positivo deriva sua validade do Di-
reito natural, então o Direito positivo em si não tem nenhuma validade. É
simplesmente às normas do Direito natural que os homens devem obede-
cer. A doutrina do Direito natural não responde à questão de por que o Di-
reito positivo é válido, mas sim à questão, totalmente diferente, de por que o
Direito natural é válido. E a resposta a essa questão é uma hipótese. É a
norma pressuposta de que os homens devem obedecer aos comandos da
natureza. É a sua norma fundamental (KELSEN, 2001, p. 254).
Segundo ele, há outra doutrina – a teologia cristã – que oferece uma respos-
ta para a questão. São Paulo diz que:
Cada qual seja submisso às autoridades constituídas. Porque não há auto-
ridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus.
Assim, aquele que resiste à autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por
Deus; e os que a ela se opõe, atraem sobre si a condenação. Em verdade,
as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a
quem faz o mal! Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e te-
2
rás o seu louvor.
Tais expressões são justificativas de qualquer ordem jurídica emanada por
uma autoridade estabelecida e, em última análise significa que a obediência do ho-
mem é devida a Deus e não ao direito positivo como tal. Da mesma forma Kelsen
afasta esta resposta, neste sentido:
Contudo, a afirmação de que os homens devem obedecer ao Direito positi-
vo porque Deus assim ordena não é uma resposta final à questão de por-
que o Direito positivo é válido. Pois, mesmo se for tido como certo o fato de
que,Deus emite esse mandamento, surge a questão de por que os homens
devem obedecer aos mandamentos de Deus. Como a validade de uma
norma pode ser derivada apenas de uma norma superior, o verdadeiro sig-
nificado da resposta de Paulo à nossa questão é: os homens devem obede-
cer ao Direito positivo porque os homens devem obedecer aos mandamen-
tos de Deus, que ordenou a obediência ao Direito positivo. Que os homens
devem obedecer aos mandamento de Deus é uma norma que não pode ser
apresentada como emitida por Deus. Pois, se uma autoridade emite uma
norma prescrevendo que um indivíduo deve obedecer à ordem de outro in-
divíduo, essa ordem implicar autorizar o outro indivíduo a emitir a ordem,e o
indivíduo autorizado por essa norma está sujeito a ela exatamente como o
indivíduo obrigado a obedecer. Portanto, uma autoridade que emite tal nor-
ma teria de ser considerada superior a ambos. Deus não pode autorizar
2
Romanos, 13. 1-4.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 121 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
uma norma autorizando Deusa emitir ordens, porque Deus é autoridade su-
prema. Conseqüentemente, a norma de que os homens devem obedecer
aos mandamentos de Deus não pode ser uma norma emitida por uma auto-
ridade; pode ser apenas uma norma pressuposta pela teologia, sua hipóte-
se metafísica, sua norma fundamental. É – segundo essa doutrina teológica
– o motivo para a validade do Direito (KELSEN, 2001, p. 254/5).
Tal hipótese metafísica é aceitável apenas do ponto de vista de uma religião,
e o fato de que Deus ordenou aos homens que obedecessem ao Direito positivo só
pode ser considerado como certo do ponto de vista da religião cristã, tal como esta-
belecida por São Paulo; e, mesmo desse ponto de vista, é contestável porque não é
compatível com o ensinamento original de Cristo. A hipótese, assim como o fato, não
pode ser aceita do ponto de vista da ciência do Direito em particular. A ciência não
opera e não pode operar com base em pressuposições metafísicas – pressuposi-
ções de uma entidade ou de um fato além de qualquer experiência humana possível
e, especialmente, além da razão do homem.
Corroborando este entendimento, o cristianismo não é unânime perante a
humanidade e tais pressupostos não podem ser exigidos em detrimento de outras
pessoas que professam outras religiões, tais como budismo, hinduísmo, judaísmo ou
até mesmo o ateísmo, pois do contrário estar-se-ia cometendo as mesmas barbáries
praticadas até bem pouco tempo atrás, além de representar um regresso da huma-
nidade em se almejar acabar com a intolerância que, diga-se de passagem, ainda é
cometida em alguns lugares do mundo.
Por sua vez, o positivismo jurídico, preconizado por Kelsen, vê na norma
fundamental a razão final para a validade do Direito. Eis suas palavras:
A norma de que devemos obedecer às estipulações da primeira constituição
histórica só deve ser pressuposta como hipótese se a ordem coercitiva, es-
tabelecida com fundamento nela e efetivamente obedecida e aplicada por
aqueles cuja conduta regulamenta, for considerada uma ordem válida, obri-
gatória para esses indivíduos, se as relações entre esses indivíduos forem
interpretadas como deveres, direitos e responsabilidades legais, não como
meras relações de poder; e se for possível distinguir o que é legalmente cer-
to e legalmente errado, em especial o uso legítimo e ilegítimo da força [...] É
a razão conclusiva para a validade do Direito positivo porque, a partir desse
prisma, é impossível supor que a natureza ou Deus ordenem a obediência à
primeira constituição histórica, que os pais da constituição foram autoriza-
dos a estabelece-la pela natureza ou por Deus. A norma fundamental [...] é
uma norma que pressupomos como hipótese quando consideramos a or-
dem coercitiva que regulamenta efetivamente a conduta humana no territó-
rio de um Estado como uma ordem normativa obrigatória para seus habitan-
tes (KELSEN, 2001, p. 257).
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 122 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Como se pôde perceber, Hans Kelsen não dá a resposta para a questão que
ele mesmo elabora. Sua resposta é tão incompleta como as respostas, segundo ele,
do jusnaturalismo e da teologia. A resposta pode ser considerada completa e aceitá-
vel do ponto de vista apenas objetivo, mas não numa perspectiva subjetiva.
Assim, pode-se dizer que o objetivo do presente trabalho é demonstrar quais
são os fundamentos da desobediência civil, para que serve, como ela foi empregada
na história da humanidade, desenvolvida – principalmente pelos americanos – e
quais são as dificuldades para empregá-la no Brasil.
1 CIDADÃOS OU SERVOS?
Em toda a história da humanidade houveram povos dominados e dominan-
tes. Num mesmo povo, sempre houve pessoas dominadas e dominantes. Tal domi-
nação se dava principalmente pela escravidão tanto que há pouco mais de um sécu-
lo passado no Brasil a escravidão ainda era legalizada e só houve sua abolição mui-
to mais devido a pressões internacionais do que por questões humanitárias.
Aristóteles acreditava em seu tempo que havia, além de prisioneiros de guer-
ra reduzidos à escravidão, ou seja, escravos convencionais em virtude da lei de
guerra da época, homens que seriam escravos naturais , isto é, destinados pela na-
tureza a ser uma posse animada de outros; e o justificava escrevendo coisas tais
como: “Se as lançadeiras tecessem sozinhas e os plectros tocassem sozinhos a cí-
tara, os mestres não necessitariam de ajudantes nem escravos os amos.” (apud
CAPELLA, 2002, p. 15).
Sobre esta base não se pode estranhar que Estráton, um de seus sucesso-
res na direção do Liceu, elaborara uma teoria sobre gases e construíra má-
quinas a vapor que só empregaram para obrar milagres nos templos e ela-
borar jogos luxuosos, e não mais para que „as lançadeiras tecessem sozi-
nhas‟ em vez de serem acionadas por uma mão de obra escravizada. Dito
deste modo: a sociedade grega teve acesso a um conhecimento científico
cuja possível aplicação técnica à produção tropeçou nas relações sociais e-
xistentes. As classes escravistas não contemplaram ... a possibilidade de
aplicar seu saber científico para substituir em parte aos trabalhadores. Sua
ideologia foi um obstáculo à penetração de uma verdade que não contava
com agentes para sustenta-la, de modo que um conhecimento tão valioso
como o mencionado se perdeu mais uma vez (CAPELLA, 2002, p. 21).
Todavia até mesmo a Igreja católica manteve seus escravos – e muitos ain-
da dizem que a Igreja foi revolucionária! – e durante muito tempo dói compassiva
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 123 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
com a situação escravista e omissa em relação a outras barbáries provocadas por
quem estava do seu lado, geralmente detentores do poder.3
Mister é ressaltar também o período feudal da humanidade em que os ser-
vos e vassalos detinham poucos direitos e muitas obrigações além de inúmeros tri-
butos pagos ao suserano – aliás neste período a concepção de indivíduo era a
mesma a de cristão e não a de cidadão, que começa a ser inserida num ontexto his-
tórico a partir das teses contratualistas - e que não necessitam de maiores conside-
rações neste trabalho monográfico.
Já nos tempos contemporâneos o brilhante professor Juan Ramón Capella
retrata com maestria o que é ser, hoje, um cidadão servo das elites que dominam o
poder legitimado do Estado e sua conduta, desta forma:
Os cidadãos não decidem já as políticas que presidem sua vida. O valor ou
perda de valor de suas economias, as condições em que serão tratados
como anciães ou as que reunirão seu leito de morte, seus salários, o alcan-
ce de suas pensões de aposentadoria, a viabilidade das empresas em que
trabalham, a qualidade dos serviços da cidade em que habitam, o funcio-
namento do correio, as comunicações e os transportes estatais, o ensino
que recebem seus filhos, os impostos que suportam ou seu destino... Tudo
isso é produto de decisões, nas quais não contam, sobre as não pesam,
adotadas por poderes inexeqüíveis e com freqüência ilocalizáveis. Que gol-
peiam com a inevitabilidade de uma força da Natureza. E os cidadãos vo-
tam. Mas seu voto não determina nenhum “programa de governo”. (Deter-
mina se acaso, quando o estado de ânimo coletivo se condensa periodica-
mente em rechaço, que uma das equipes ou clãs de profissionais da política
fique em minoria, padeça seu turno de vacas magras, desgarre-se e se re-
componha na oposição) – (CAPELLA, 1998, p. 132).
Atualmente se segue o que a política neoliberal determina, ou seja, alimenta-
se uma deriva perigosa para o que se poderia qualificar de “democracia de baixa
intensidade”, a alternância sem alternativa, uma vez que, independentemente em
quem se vota:
Sua sorte não depende mais do governo que você escolheu, mas das vicis-
situdes do mercado, das estratégias (secretas) dos oligopólios, das deci-
sões de um banco central “independente” (dos cidadãos mas não dos mer-
cados financeiros). Em outros países, mais frágeis, as esperanças deposi-
tadas pelas populações nas virtudes do pluripartidarismo são sistematica-
mente uma decepção. As vitórias obtidas por esses povos, ao preço de lu-
tas obstinadas e de alto custo, muitas vezes de vidas humanas, tornam-se
precárias. Um pluripartidarismo de pacotilha, manipulável e manipulado, cor-
re o risco de vir a ser a única imagem que a „democracia de mercado‟ ofere-
ce a essas populações. Democracia e mercado (este entendido como o é
pelo neoliberalismo) não são, então, convergentes, mas antinômicos
3
Quanto a este assunto ver artigo de Mário Maestri intitulado O cristianismo foi alguma vez revo-
lucionário? Disponível em http://www.zonanon.org/plural/doc93.html, Aceso em 03.03.2003.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 124 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
(ANDERSON, Perry. A degradação da economia. Apud HOUTART e
POLET, 2002, p. 35.)
No Brasil, tais críticas, outrora elegíveis contra o Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, se podem tecer aos seus sucessores, que seguem/seguiram escor-
reitamente a cartilha do FMI, sendo a única diferença para com aquele um maior
investimento na área social.
2 O DIREITO À RESISTÊNCIA E SUAS MODALIDADES
Em grosso modo poder-se-á dizer que o direito de resistência nada mais é
do que o indivíduo se opor frente ao Estado pelos mais variado motivos. Para tanto,
existem várias maneiras de exercer este “direito” que no decorrer da história, como
se verificou en passant anteriormente, vários pensadores não o admitiam. Tais ma-
neiras podem ser classificadas da seguinte forma:
2.1 Objeção de Consciência
A objeção de consciência não implica uma base política, embora possa se
fundar em princípios religiosos ou outros não previstos na ordem constitucional e
possa ter essa base política, se bem que esta não seja um critério de exigência.
Questão difícil de resolver é a omissão de um comportamento conforme a princípios
políticos com base em argumentos teológicos. Exemplo dado é a existência ou não
do direito à objeção de consciência numa guerra considerada justa.4
Muitos ordenamentos jurídicos, tal como o espanhol, prevêem a objeção de
consciência como mera escusa ao serviço militar obrigatório. Isto se deve ao fato de
inúmeras pessoas não quererem prestar tal serviço, a ponto de inúmeros pensado-
res e intelectuais defenderem tal prática, como Albert Einstein o fez publicamente:
Se os povos quiserem escapar da escravidão abjeta do serviço militar, têm
de se pronunciar categoricamente pelo desarmamento geral. Enquanto exis-
tirem exércitos, cada conflito delicado se arrisca a levar à guerra. Um paci-
fismo que só ataque as políticas de armas dos Estados é impotente e per-
manece impotente (EINSTEIN, 1981, p. 71/2).
4
Sobre a questão “guerra justa” é interessante verificar HUGO GROCIO (Del derecho de la guerra y
de la paz, Madri: Centro de estúdios Constitucionales, 1987) e JOHN RAWLS (O direito dos povos,
São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001).
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 125 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Com a devida vênia, a objeção de consciência não se limita a apenas isto,
muito embora seja este o melhor exemplo de objeção de consciência, pois não se
pretende alterar a legislação que comete injustiça a avulta direitos fundamentais co-
letivamente. A objeção se dá individualmente, pessoalmente, de acordo com os prin-
cípios de cada cidadão, ao contrário da desobediência civil que necessita ser coleti-
va.
2.2 Anarquismo
O anarquismo pode ser designado como uma teoria ou doutrina política fun-
dada na convicção de que todas as formas de governo interferem injustamente na
liberdade individual, e que preconiza a substituição do Estado pela cooperação de
grupos associados.
Utopicamente poder-se-ia dizer que anarquismo seria uma expressão de luta
contra a opressão e a exploração, uma generalização das experiências do povo tra-
balhador e uma análise daquilo que está errado com o corrente sistema e uma ex-
pressão de nossas esperanças e sonhos de um futuro melhor. Todavia, o movimento
anarquista histórico (i.e. grupos de pessoas que deram às suas idéias o nome de
anarquismo e anelando por uma sociedade anarquista) é essencialmente um produ-
to da luta da classe trabalhadora contra o capitalismo e o Estado, contra a opressão
e a exploração, e por uma sociedade livre e de indivíduos iguais.
2.3 Revolução
Segundo o Dicionário Aurélio, existem dez significados para o verbete revo-
lução, desta forma descrita: 1) Ato ou efeito de revolver(-se) ou revolucionar(-se); 2)
Rebelião armada; revolta, conflagração, sublevação; 3) Transformação radical e, por
via de regra, violenta, de uma estrutura política, econômica e social; 4) P. ext. Qual-
quer transformação violenta da forma de um governo; 5) Transformação radical dos
conceitos artísticos ou científicos dominantes numa determinada época; 6) Volta,
rotação, giro; 7) Fig. Perturbação, agitação; 8) Rotação em torno de um eixo imóvel;
9) Transformação natural da superfície do globo;10) Astr. Movimento de um astro em
redor de outro.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 126 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Obviamente, nenhum destes conceitos são satisfatórios, além do que exis-
tem muitos movimentos históricos e astrológicos que também são atribuídos o nome
de revolução, como a revolução industrial, a sinódica, a sinódica dos nodos, draco-
nídica, anomalística, etc.
O que interessa perceber neste momento é que a revolução vem a ser uma
transformação radical dos conceitos políticos dominantes numa determinada época
e num determinado local e que tanto pode ser via desobediência civil ou não, como
de forma violenta, por exemplo, na tentativa, ou não, da implantação de outro con-
ceito. Como conceito entende-se forma ou sistema de governo, política sócio-
econômica implantada – muito embora este último motivo pode ser considerado co-
mo mera deposição do então presidente ou primeiro-ministro, o que não se daria
realmente uma revolução.
2.4 Terrorismo
Modo de coagir, ameaçar ou influenciar outras pessoas, ou de impor-lhes a
vontade pelo uso sistemático do terror.
Forma de ação política que combate o poder estabelecido mediante coação,
ameaça ou influência de outras pessoas, ou a imposição de sua vontade pelo uso
sistemático da violência, gerando o terror, ou seja, o medo, o pavor ou apreensão
entre os seus não correligionários.
2.5 Conspiração
Conspiração pode ser considerada como uma tentativa secreta, contra um
governante ou alguém que possui o poder, público ou privado, individual ou coletivo,
de forma violenta ou pacífica, feita por um grupo de pessoas pela busca da aquisi-
ção do poder.
2.6 Greve
No Direito do Trabalho se encontra a resistência dos trabalhadores frente a
situações de injustiça em condições de labor com a forma de greve, consistente na
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 127 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
paralização e/ou das atividades funcionais dos setores de produção. Ela pode ser
geral ou parcial, por tempo determinado ou indeterminado, sempre aberto a negoci-
ações durante seu período. Nesta modalidade ocorre sua regulamentação pelo or-
denamento jurídico e também com previsão constitucional (art. 9º da Constituição
Federal e sua regulamentação pela Lei 7783/89).
3 A DESOBEDIENCIA CIVIL NA HISTÓRIA
3.1 Antígona
Filha incestuosa de Édipo e Jocasta, Antígona é a mais corajosa e elevada
encarnação do amor filial e fraterno. Nascida para amar e não para odiar, enfrenta a
tirania com indomável firmeza, opondo os ditames da consciência à razão de Estado
e à lei política, embora sabendo que tal atitude lhe vai trazer uma condenação terrí-
vel.
Na literatura grega, o diálogo de Antígona com o rei Creonte, na terceira tra-
gédia da trilogia de Sófocles (494-406 a.C.) expressa, de forma inequívoca, a crença
no Direito Natural e a sua superioridade em relação ao Direito temporal. Creonte ha-
via determinado que Polinice, morto numa batalha, não fosse sepultado, devendo
seu corpo apodrecer para dar exemplo aos demais, com o que Antígona, sua irmã,
rebelando-se contra a ordem do tirano, disse-lhe – aproximadamente – que suas
ordens não valem mais do que as leis não-escritas e imutáveis dos deuses, que não
são de hoje e nem de ontem e ninguém sabe quando nasceram.
Assim agindo, Antígona cumpre o que sua consciência lhe dita, cuidando
dos despojos do seu irmão. Como condenação, o tirano manda encerrá-la viva num
sepulcro rochoso.
A superioridade do direito natural, procedendo a uma teatralização grega dos
temas tratados e do drama vivenciado pela personagem principal, cuja coragem e
ousadia ainda é tida como referencial, hoje, para todo e qualquer processo de luta
em defesa da vida e da dignidade humana.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 128 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
3.2 A Subida ao Monte Sacro
Na Roma antiga eram constantes as divergências entre direitos e deveres
entre patrícios e plebeus. Estes, socialmente inferiores, para almejarem concessões
de direitos apenas detinham a desobediência civil para efetivar seus interesses, tan-
to que foi a partir daí que os patrícios romanos alcançaram a fama por causa de su-
as hábeis transações.
Assustados com a cisão, que já recebera começo de execução, transferin-
do-se os plebeus para o Monte Sacro a 6 léguas e meia de Roma, os patrí-
cios esboçaram uma das hábeis transações políticas em que é tão fértil a
história da península itálica e da qual proveio verdadeiramente a democra-
cia romana, até então estando em desacordo o regime adotado com a reali-
dade social (493 a.C.) – (LIMA, 1998, p. 100/1).
E, posteriormente, em busca de novas concessões:
Uma nova demonstração dos plebeus, retirando-se como da outra vez para
o Monte Sacro, arrancou aos patrícios novas concessões. Não somente foi
restabelecida a legalidade, que andava anulada com a instituição dos de-
cenviros, e com ela repostos os tribunos, como foi reconhecida a assem-
bléia plebéia das tribos (concilium tributum plebis), cuja origem confessam
os historiadores ser obscura, sendo dada às resoluções destes comitia tribu-
ta força de lei para toda a comunidade igual à das resoluções dos comitia
centuriata (449 a.C.) – (LIMA, 1998, p. 102).
3.3 Mahatma Gandhi e o Princípio da Não-Cooperação
O nome e o rosto de Gandhi tornaram-se familiares na cultura ocidental, mas
sua filosofia ainda permanece, infelizmente, desconhecida para a sua maior parte.
Para libertar a Índia e seu povo do império britânico utilizou a não coopera-
ção e a desobediência civil como uma proposta alternativa não violenta 5. A não coo-
peração é um método político que visa neutralizar o adversário antes mesmo que ele
renuncie voluntariamente à injustiça que comete.
5
Para evidenciar a exeqüibilidade da não violência enquanto “método político destinado a resolver
problemas políticos”, o melhor é analisar a campanha de não-cooperação organizada por Gandhi em
1930. À meia-noite de 31 de dezembro de 1929, o Congresso Nacional da Índia pronunciara-se sole-
nemente a favor da independência e decidira organizar uma campanha de desobediência civil para
conseguir este objetivo. Gandhi decide então desafiar o governo britânico pedindo aos indianos que
desobedeçam abertamente à lei que os obrigava a pagar um imposto sobre o sal (MULLER, 1996, p.
274), o que culminou na Marcha do Sal e na declaração de Gandhi: “Hoje, toda a honra da Índia é
simbolizada por um punhado de sal na mão dos resistentes não violentos. O punho que agarra esse
sal pode ser pode ser quebrado, mas o sal não será devolvido voluntariamente” (ibidem, p. 250).
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 129 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Ao longo de toda a sua luta pela independência da Índia, uma das principais
preocupações de Gandhi foi não só combater a tutela do império britânico, mas per-
mitir ao povo indiano governar-se a si próprio, sem recorrer aos mecanismos de co-
ação violenta que caracterizam o método do governo do Estado. Segundo ele, o me-
lhor meio oferecido aos indianos para resistirem ao governo britânico e retirar-lhe
todo o poder é aprenderem a se governar sozinhos, isto é, a se tornarem autôno-
mos. É também uma das principais razões pelas quais ele preconiza a desobediên-
cia não violenta como meio de resistência.
Com efeito, estava convicto de que aqueles que aconselham a violência para
combater os ingleses não poderiam fazer outra coisa, se conseguissem vencê-los,
que não fosse governar a Índia também pela violência. Tomar o poder pela espin-
garda é se condenar a exercê-lo pela espingarda, da mesma forma. É por isso que o
movimento de Gandhi tem mais como objetivo final organizar o poder dos indianos
do que tomar o poder dos ingleses. Não é visado tomar o poder para o povo e sim
pelo povo.
Para ele, é preciso que os indianos aprendam a não querer nenhuma tirania;
nem a tirania inglesa nem a tirania indiana.
Os indianos não ganharão nada em trocar a dominação do Estado britânico
pela de um Estado indiano. “Decididamente, escreve Gandhi, se a única
mudança esperada apenas diz respeito à cor do uniforme militar, não temos
necessidade de todas essas histórias. De qualquer forma, nesse caso, não
estamos a ter em conta o povo. Explorá-lo-ão tanto, ou mais, do que no es-
tado atual das coisas" (MULLER, 1996, p. 258).
Gandhi tem uma profunda convicção de que a verdade do homem está ins-
crita no próprio homem e de que ele não deve procurá-la no exterior. “O que é a ver-
dade?, interroga-se ele, É uma pergunta difícil. Resolvi-a por mim mesmo dizendo
que é aquilo que a via interior nos diz” (Apud MULLER, 1996, p. 224.). Para encon-
trar a verdade é necessário utilizar-se da não-violência, pois esta é o meio e aquela
o fim.
Sem a não-violência, escreve ele, não é possível procurar e encontrar a
verdade. A não-violência e a verdade estão tão estreitamente enlaçadas
que é praticamente impossível separa-las uma da outra. Elas são como as
duas faces de uma mesma medalha ou, antes, de um disco metálico liso e
sem nenhuma marca. Quem poderá dizer qual é o verso e o reverso? Con-
tudo, a não violência é o meio e a verdade é o fim. Os meios, para serem
meios, devem estar sempre ao nosso alcance, de forma que a não-violência
é o nosso dever supremo (Apud MULLER, 1996, p. 227).
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 130 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Com certeza Gandhi não ignora que existe no homem um instinto que o leva
a violentar o outro para satisfazer as suas necessidades e desejos e defender os
seus interesses. Mas esse instinto de violência corresponde à parte animal da natu-
reza do homem e existe igualmente no homem uma exigência de não-violência que
corresponde à sua parte espiritual da sua natureza, e que deve ser buscada de to-
das as maneiras. Para isso, deve se buscar ser bom para com todos os seres vivos.
“É pelo amor eu se chega mais perto da verdade” (MULLER, 1996, p. 228).
A virtude da intrepidez também é apregoada por Gandhi:
Aquele que se livra do medo já não sentirá a necessidade de se proteger do
perigo, abrigando-se atrás das armas. Na realidade, o violento é um homem
que tem medo. “Os corajosos, escreve Gandhi, não são aqueles que estão
armados com espadas, espingardas, etc, e sim os intrépidos. Só se munem
de armas aqueles que estão possuídos pelo medo”. Aquele que quer a paz
deve ter a coragem de desafiar as armas daqueles que preparam a guerra.
“Eu sou um homem de paz, afirma Gandhi. [...] Quero a paz contida no peito
do homem que expõe às flechas do mundo inteiro, mas que protege o poder
do todo-poderoso de todo mal.” (MULLER, 1996, p. 230).
Superando o medo da morte, para Gandhi, o homem acede à liberdade, e
daí a riqueza de sua doutrina que por muitos é confundida com religião.
Viver livre é estar pronto a morrer, se for preciso às mãos do próximo, mas
nunca a matá-lo. Seja qual for a razão, qualquer homicídio ou outro ataque
à pessoa é um crime contra a humanidade (apud MULLER, 1996, p. 231).
Com isso se enaltece o poder o do sofrimento.
Ele vai ao ponto de afirmar que a vitória da não-violência sobre a injustiça é
possível se um só homem se devotar totalmente à verdade e manifestar um
amor perfeitamente puro em relação aos seus adversários. Assim, a deso-
bediência civil constitui uma rebelião pacífica mais eficaz que a revolta ar-
mada. Ela não pode ser quebrada se os resistentes estiverem determinados
a enfrentar as maiores provações, pois, “baseia-se na crença implícita na e-
ficácia absoluta do sofrimento inocente”. “A fibra mais coriácea”, afirma
Gandhi por fim, “deve amolecer no fogo do amor. Se não se derreter, é por-
que o fogo não é suficientemente forte” (MULLER, 1996, p. 237).
Uma das maneiras de enfraquecer o império britânico na Índia foi aplicar o
princípio de não-cooperação, pois aquilo que fazia o poder daquele império não era
tanto a capacidade de violência dos ingleses como a capacidade de resignação dos
indianos.
O governo, assegura GANDHI, não tem nenhum poder de fora da coopera-
ção voluntária ou forçada do povo. [...] A segurança que exerce é o nosso
povo que lhe dá. Aquilo que está em causa é, por conseguinte, opor a nos-
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 131 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
sa vontade à do governo ou, por outras palavras, retirar-lhe a nossa coope-
ração. Se nos mostrarmos firmes na nossa intenção, o governo será forçado
a vergar-se à nossa vontade ou a desaparecer (apud MULLER, 1996, p.
244).
3.4 Os Ambientalistas
Quando falamos de novas formas de poder, não se trata de “poder sobre”
ou de poder para dominar, aterrorizar ou oprimir. Quando falamos de não-
violência e de desobediência civil, nos referimos a abolir o poder tal e como
o conhecemos e redefini-lo como algo comum a todos, a ser utilizado por
todos e para todos. O poder patriarcal deve ser substituído pelo poder com-
partilhado, pelo descobrimento de nossa própria força em oposição a uma
recepção passiva de poder exercido por outros, em geral em nosso nome.
(Petra Kelly – Partido Verde Alemão)
Muitos são os casos, principalmente na Europa, de protestos de ambientalis-
tas contra as usinas nucleares. Tais protestos são constituídos em passeatas e ma-
nifestações não violentas, em locais públicos, na tentativa de inibir avanços tecnoló-
gicos e legislativos, sempre defrontes a câmeras de televisão e jornalistas, com o
intuito de chamar a atenção e adesão do maior número de pessoas até então consi-
deradas neutras ao problema. Com isto na Europa quase não existem mais projetos
de construções de usinas nucleares e a política nuclear em muitos países já fora
abandonada.
Atualmente o mundo todo se volta para o terremoto do Japão em 2011, que
abalou a estrutura da usina nuclear daquele país. Questiona-se, cada vez mais, a
utilização deste tipo de produção de energia.
Um fato interessante acontecido nos EUA em matéria ambiental fora uma
ONG – organização não governamental – ambiental fazer uma anti-propaganda vol-
tada contra a rede de fast food McDonald‟s, quando este estava adotando embala-
gens de isopor em seus produtos, com o intuito de deixar o queijo quente mais tem-
po. Sua ação consistiu em veicular na televisão e outros meios da mídia os seguin-
tes dizeres: “Não consuma os produtos McDonald‟s por que esta empresa não res-
peita o meio-ambiente”. Resultado: referida empresa teve grande prejuízo e reformu-
lou suas embalagens para biodegradáveis e agora faz publicidade dizendo que aju-
da o meio-ambiente. Como esta ONG conseguiu dinheiro para bancar tal publicida-
de? Buscou recursos na esfera privada: a concorrência do McDonald.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 132 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
3.5 Argentina: Obediência ou Desobediência Civil?
Dentro do período econômico-social conturbado de 2000 pelo qual passou a
Argentina, principalmente em dezembro daquele ano, se questiona se tais manifes-
tações foram ou não atos de desobediência civil, dentro do apregoado na proposta
deste trabalho.
Ao considerar que inúmeros foram os saques a lojas e supermercados e a
retaliação do governo tanto em sua conduta verbal e ativa na tentativa de reprimi-
los,a resposta da população foi no sentido de exigir a renúncia tanto dos membros
dos ministérios como do próprio então presidente De La Rúa.
Os poucos privilegiados que puderam acompanhar aquela manifestação pela
televisão, ao vivo pela CNN em espanhol, puderam perceber que nas manifestações
na capital Argentina inúmeros eram os cidadãos que levavam seus filhos no colo e
como “armas” apenas panelas e colheres para o “panelaço”, o que facilmente leva a
perceber a finalidade e/ou intenção pacífica6 do movimento.
Notadamente aquela manifestação, com fins políticos, feito de maneira cole-
tiva e pública, conscientemente ética, com o intuito de conseguir a adesão do maior
número de pessoas, e, principalmente, de maneira não-violenta, pacífica, é, sem
dúvida alguma, um exemplo de exercício democrático de Direito para toda a huma-
nidade, e, dentro de certo período de tempo, esta nação certamente terá sua condu-
ta seguida por outros países.
4 A CONTRIBUIÇÃO NORTE-AMERICANA
Os estados Unidos foram pródigos no estudo e análise da Desobediência
Civil enquanto instituto e espécie de resistência, desde sua formação histórica e de
povoamento. Muitos foram seus estudiosos e também a impregnação em sua cultu-
ra. Daí o motivo de se analisar pontualmente cada um dos ícones devidamente sele-
cionados para este trabalho e mencionados a seguir, não abrangendo, entretanto, a
todos em sua completude.
6
Recordo-me em ter assistido o programa Roda Viva, da TV Cultura no mês de janeiro/fevereiro de
2003, onde o argentino ESQUIVEL, prêmio Nobel da Paz, comentara que os atos de violência prati-
cados foram originados por uma ínfima minoria de vândalos travestidos de manifestantes, que macu-
laram um dos maiores movimentos democráticos da história daquele país e, quiçá, da humanidade.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 133 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
4.1 Henry David Thoreau
A idéia atual de desobediência civil foi desenvolvida a partir de Henry David
Thoureau, que propugnava a desobediência a determinadas leis nos Estados Uni-
dos, como forma de resistência pacífica.
Thoreau começou a escrever sobre a desobediência civil após ser preso por
se recusar a pagar impostos eleitorais, cuja arrecadação se destinava a manter a
escravidão nos Estados Unidos e a ajudar a guerra por questões de terras no Méxi-
co.
Ao questionar o critério da maioria eleitoral como legitimador da vontade
preponderante da nação, Thoreau preconizava o direito a manifestações de resis-
tência das minorias, como forma capaz de democratizar o estado liberal e implemen-
tar reformas periódicas e especializadas, capazes de vigorar efetivamente.
O que muito interessa neste pensador é que sua doutrina se desenvolveu
para e em função de regimes democráticos:
Nem sempre o ato de votar pelo que é certo implica fazer algo pelo que é
certo. Significa tão-somente uma maneira de expressar publicamente meu
desejo de que o certo venha a prevalecer. Já um homem sábio não deixará
o que é certo nas mãos incertas do acaso e nem esperará que sua vitória se
dê através da força da maioria (THOREAU, 2001, p. 20). [...] Jamais se dei-
xe confinar por um pedaço de papel. Só é indefesa uma minoria quando se
conforma à maioria (THOREAU, 2001, p. 26). [...] Será que a democracia,
da forma como a conhecemos, é o último aperfeiçoamento possível em ter-
mos de construir governos? Não será possível dar um passo a mais no sen-
tido de reconhecer e organizar os direitos do homem? Não poderá haver um
Estado de fato livre e esclarecido até que ele venha a reconhecer no indiví-
duo um poder maior e independente – do qual a organização política deriva
seu próprio poder e sua própria autoridade – e até que o indivíduo venha a
receber um tratamento correspondente (THOREAU, 2001, p. 39).
Em Thoreau, a desobediência civil tem um caráter individualista, por isso
mais se aproxima da objeção de consciência. É que, como visto, com a desobediên-
cia civil, o sujeito visa a demonstrar a injustiça de uma lei por intermédio de uma a-
ção cuja publicidade se volta para a mudança da norma; na objeção de consciência,
o cidadão exime-se do cumprimento de uma norma positiva em atenção a um impe-
rativo moral.
Quando o seu vizinho trapaceia e lhe subtrai um dólar que seja, você não se
satisfaz com a descoberta da trapaça, com a proclamação de que foi trapa-
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 134 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
ceado e nem mesmo com suas gestões no sentido de ser devidamente re-
embolsado. O que você faz é tomar medidas efetivas e imediatas para ter
seu dinheiro de volta e cuidar de nunca mais ser enganado (THOREAU,
2001, p. 22).
A influência jusnaturalista também é uma constante em seus pensamentos:
Leis injustas existem. Devemos submeter-nos a elas e cumpri-las, ou deve-
mos tentar emenda-las e obedecer a elas até sua reforma, ou devemos
transgredi-las de imediato? Em uma sociedade com o gênero que temos, os
homens em geral pensam que devem esperar até que tenham convencido a
maioria a alterar essas leis. A opinião é de que a hipótese da resistência
pode vir a ser um remédio pior do que o mal a ser combatido. E é exata-
mente o governo o culpado pela circunstância de o remédio ser de fato pior
do que o mal. O governo é que faz tudo ficar pior. Por que o governo não é
mais eficaz e se antecipa para lutar pela reforma? Por que o governo não
sabe valorizar sua sábia minoria? Por que chora e resiste antes de ser ata-
cado? Por que não estimula a participação ativa dos cidadãos para que es-
tes lhe mostrem suas falhas e para conseguir um desempenho melhor do
que eles lhe exigem? Por que eles lhe exigem? Por que o governo sempre
crucifica Jesus Cristo, e por que excomunga Copérnico e Lutero e qualifica
Washington e Franklin de rebeldes? (THOREAU, 2001, p. 23).
Importante também ressaltar a importância institucional em sua obra para a
consecução dos fins visados com o emprego da desobediência civil. “No momento
em que o súdito negou lealdade e o funcionário renunciou a seu cargo, considera-se
que a revolução se completou” (THOREAU, 2001, p. 27).
Noutra senda, o sentimento de liberdade é relativo:
Não pude deixar de perceber a idiotice de uma instituição que me tratava
como se eu fosse somente carne, sangue e ossos a serem trancafiados. Fi-
quei matutando que tal instituição devia ter concluído, em suma, que aquela
era a melhor forma de me usar e, também, que ela jamais cogitara de se a-
proveitar de meus serviços de nenhuma forma. Pude ver que apesar da
grossa parede de pedra entre mim e meus concidadãos, tinham eles uma
muralha muito mais difícil de transpor antes de almejarem serem livres
quanto eu. Jamais me senti confinado, nem por um momento, e as paredes
me pareceram um desperdício descomunal de pedras e argamassa [...] Per-
cebi que o Estado era um idiota, tímido como uma solteirona às voltas com
sua prataria, incapaz de distinguir seus amigos dos inimigos. Todo o respei-
to que ainda tinha perante o estado foi perdido e passei a considera-lo ape-
nas uma lamentável instituição (THOREAU, 2001, p. 30). A verdade de um
jurista não é a Verdade, mas a consistência, ou uma conveniência consis-
tente (THOREAU, 2001, p. 37).
E o problema dos maus políticos – também atual – é abordado por Thoreau:
A América do Norte não conseguiria manter por muito tempo sua posição de
destaque entre as nações se fôssemos abandonados à esperteza palavrosa
dos congressistas. Contamos, felizmente, com a experiência madura e com
os protestos reais de nosso povo (THOREAU, 2001, p. 38).
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 135 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
4.2 Martin Luther King Jr.
Martin Luther King Jr. conduziu muitos negros a desobedecer a Lei Jim Crow
que, um século após a abolição da escravidão, ainda fomentava a segregação raci-
al. Tal movimento evoluiu posteriormente a ponto de se protestar contra o envolvi-
mento norte-americano na guerra do Vietnã.
Em 28 de agosto de 1963, diante do Memorial de Abraham Lincoln e de a-
proximadamente 200 mil pessoas, na conclusão da Marcha sobre Washington D.C.
pelos Direitos Civis, Martin Luther King Jr. fez o discurso Eu tenho um sonho , o mais
conhecido e citado de todos os que realizou em sua vida. O discurso foi transmitido
pela TV, possibilitando a toda a nação norte-americana assistir ao extraordinário
pleito por liberdade e justiça, síntese dos valores mais altos da civilização.
John Kennedy, então presidente dos EUA demonstrou toda a sua preocupa-
ção com aquela marcha e as conturbações sociais que dela poderiam advir. Procu-
rou convencer Luther King a desistir ou postergá-la. Mas King insistiu que a manifes-
tação tinha de ser feita e teria um caráter pacífico.
A marcha teve grandes efeitos positivos, pois pouco tempo depois o Con-
gresso norte-americano aprovou e o presidente Lyndon Johnson sancionou a Lei de
Direito de Votação iguais para todos os americanos.
Martin Luther King Jr. foi um lutador incansável pela transformação da soci-
edade, de suas estruturas injustas, argumentando sempre que os movimen-
tos alcançariam maior sucesso pela ação ativa, porém não-violenta. O go-
verno dos Estados Unidos transformou em feriado nacional o dia de sua
morte. Mas nem sempre segue sua lição. Volta e meia os estados Unidos
têm acionado o seu extraordinário poderio bélico contra outras nações, co-
mo recentemente no caso da Iuguslávia e do Afeganistão. Mais e mais, em
vista das tragédias causadas pelas guerras, as lições de Luther King – que
tanto protestou contra a guerra do Vietnã – continuam válidas (SUPLICY
2002, p. 164).
Como se pode verificar, principalmente em sua Carta da prisão, Martin Lu-
ther King Jr. tem uma posição jus-naturalista muito facilmente percebida, com visível
influência de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, como se denota nas passa-
gens a seguir:
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 136 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
7
A injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares.
[...] Bem se poderia perguntar: “Como é possível defender que algumas leis
sejam acatadas e outras, desrespeitadas?” A resposta se encontra no fato
de existirem dois tipos de leis: as justas e as injustas. Eu seria o primeiro a
defender o respeito às leis justas. Inversamente, cabe a responsabilidade
moral de desobedecer às injustas. Concordo quando Santo Agostinho diz
que „lei injusta não é lei‟. [...] A lei justa é um código feito pelos homens em
harmonia com a lei moral ou a lei de Deus. A lei injusta é um código que es-
tá em desarmonia com a lei moral. [...] Qualquer lei que eleve a personali-
dade humana é justa. Qualquer lei que deprecie a personalidade humana é
injusta. [...] A lei injusta é um código que um grupo numericamente majoritá-
rio ou detentor de algum poder impõe sobre um grupo minoritário ou menos
poderoso mas ao qual não se obriga. Isso é legalização da diferença. Ade-
mais, a lei justa é um código que a maioria impõe sobre a minoria e no qual
se dispõe a acatar. Isso é legalização da igualdade. [...] Aqueles que deso-
bedecem uma lei injusta devem faze-lo abertamente, com dedicação e dis-
posição para aceitar a penalidade. Devo admitir que um indivíduo ao infringir
uma lei que sua consciência lhe diz ser injusta, dispõe-se inteiramente a a-
ceitar a condenação a fim de conscientizar a comunidade quanto a sua in-
justiça, está na realidade expressando o mais elevado respeito pelas leis.
[...] A questão não é se vamos ser extremistas, mas sim que tipo de extre-
mistas seremos. Seremos extremistas da preservação da injustiça ou do
prolongamento da justiça? (apud BENNETT, 1995, p. 172-5).
4.3 John Rawls
Em seu livro Uma teoria da Justiça (1997), John Rawls, no capítulo VI, tópico
53, intitulado O dever de obedecer a uma lei injusta, ao pressupor que uma Constitu-
ição é justa, o dever de obedecer a uma lei injusta é óbvio, dado que os princípios
de dever natural e de equidade prescrevem deveres e obrigações, sem prejuízo da-
quelas leis excessivamente injustas, e que muitas vezes acabam mesmo por ser
inconstitucionais, que justificam, por vezes, a recorrência à desobediência civil e a
qualquer outro meio de direito de resistência.
Para ele, tais condutas surgem em situações em que as leis e atos pratica-
dos pelo poder soberano se desviam das práticas estabelecidas e reconhecidas, em
que é possível, até certo ponto, um apelo ao sentido de justiça da sociedade como
um todo visando que esta se manifeste no sentido de apoiar referida conduta. Atra-
vés de uma posição original do dever de Justiça há a exigência do cumprimento da
lei.8 Então, porque é válido este princípio e não qualquer outro?
7
In Carta da Prisão, apud BENNETT, 1995, p. 172.
8
Para Hobbes, “a natureza da justiça consiste no cumprimento dos pactos válidos cuja validade tem
início apenas com a instituição de um poder civil suficientemente forte para obrigar os homens a
cumpri-los. Portanto, [...] „a justiça, isto é, o cumprimento dos pactos, é uma regra da razão pela qual
somos proibidos de fazer todas as coisas que destroem a nossa vida, e por conseguinte, é uma lei da
natureza‟” (PHILLIPI, 2001:236).
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 137 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Inicialmente, é evitar o princípio da utilidade, contraditório, pois os diferentes
interesses na sociedade exigem um princípio regulador superior. Depois, contornar
do problema que traria o princípio da moral: não era garantido que todos lhe obede-
cessem, até porque a moral não se legitima como o Direito, por não conferir direitos
mas, apenas, deveres.
Rawls coloca a questão do dever de obedecer a leis injustas e não, apenas,
a leis justas. Sua resposta é que se não existem exceções à regra torna-se possível
fazer da exceção uma regra. Para tanto, Rawls advoga pelo cumprimento da legali-
dade tout court.
Mas o que justifica a obediência a uma lei injusta? Para ele significa evitar in-
justiças maiores, juntamente com o fundamento indiscutível da Constituição e aos
conflitos de deveres.
Já no item 54 - A importância da regra da maioria – Rawls se afigura compa-
tível à igualdade de liberdade e dotada de naturalidade, bem como exigindo duas
condições que garantam o princípio da justiça – a liberdade política e a garantia das
liberdades fundamentais. Rawls diz que, apesar da certeza da vontade da maioria,
esta pode não estar completamente justificada e, por sua vez, a minoria pode apro-
veitar tal situação para preservar vantagens ilícitas ou ainda reivindicar determinados
direitos justificadamente. Um exemplo disto ocorre no Parque Nacional do Iguaçu, no
Paraná, onde a maioria da população quer a reabertura da “Estrada do Colono” e a
minoria, mais intelectualizada, era de posição contrária, exaltava por critérios ambi-
entais. Numa democracia “ao pé da letra” a vontade geral deveria ser acatada, mas
seus efeitos certamente seriam catastróficos, ainda que a longo prazo, e é a isso
que Rawls adverte.
Para John Rawls a noção de desobediência civil deve ser entendida como
pacífica, e por cidadãos que reconheçam e aceitem a legitimidade constitucional.
Sua justificação e função: a proximidade da justiça implica um regime demo-
crático e esta proximidade é essencial para a possibilidade da ocorrência de deso-
bediência civil ao abrigo da lei.
Rawls define um tipo específico de discordância e o separa de outras formas
de oposição à autoridade democrática, que podem ir de manifestações legais até à
resistência organizada.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 138 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Também especifica as bases da desobediência civil e as condições sob as
quais cada uma dessas ações se justifica num regime democrático e explica a fun-
ção da desobediência civil num sistema constitucional além da adequação destes
modos de protesto numa sociedade livre.
Sua definição de desobediência civil é então um
ato político público, pacífico e em consciência contrário à lei e normalmente
levado a cabo para pressionar modificações na lei ou nas políticas gover-
namentais. Ato político por duas razões: por ser dirigido à maioria que de-
tém o poder político e por se tratar de um ato guiado e justificado por princí-
pios políticos, ou seja, pelos princípios de justiça presentes na Constituição
9
e aplicáveis às instituições.
4.4 Ronald Dworkin10
Os Estados Unidos apresentam fatos históricos de resistência durante seu
meio século de existência, a começar por sua colonização de povoamento (ao con-
trário da América Latina cuja colonização era de exploração extrativista) por imigran-
tes europeus que vinham em busca de melhores condições de vida e fugindo das
perseguições religiosas em seus países de origem, especialmente Inglaterra e Irlan-
da.
Como destaques da desobediência civil se tem a Lei do Escravo Fugitivo
que punia aqueles considerados cidadãos que ajudassem escravos fugitivos. Por
uma questão de consciência, muitas pessoas não cumpriam tal lei, sendo mesmo
parecida com uma mera objeção de consciência; Outro exemplo foi Lei de homena-
gem à bandeira. Nos Estados Unidos, em muitos estados, as crianças eram obriga-
das a prestar homenagem à bandeira antes das atividades escolares; as testemu-
nhas de Jeová não prestam homenagem à nenhuma bandeira (credo religioso); lo-
go, não poderiam obedecer tal lei sendo que a desobediência civil acabou por se
tornar a única solução encontrada para o impasse.
9
MELO, Frederico Alcântara de. John Rawls: uma noção de Justiça. Paper apresentado para a Fa-
culdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Disponível em http://www.fd.unl.pt/pt/wps/wp009-
01.doc. Acesso em 04.03.2003.
10
Optou-se em fazer a transcrição da parte pertinente da resenha feita do livro Uma Questão de Prin-
cípio, de Ronald Dworkin.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 139 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
A desobediência civil é diferente da atividade criminosa comum e da guerra
civil. A desobediência civil envolve aqueles que não desafiam a autoridade de ma-
neira tão fundamental. Eles não vêem a si mesmos – nem pedem aos outros que os
vejam da mesma forma – como pessoas que estão buscando alguma ruptura ou re-
organização constitucional básicas. Aceitam a legitimidade fundamental do governo
e da comunidade; agem mais para confirmar que contestar seu dever de cidadãos.
Ronald Dworkin formula uma teoria operacional da desobediência civil no
sentido de que se deve ter como objetivo tornar os julgamentos dependentes dos
tipos de convicções que cada lado tem, não da solidez dessas convicções. Antes de
se decidir pela desobediência civil deve se indagar o seguinte:
1. O que é certo que as pessoas façam, dadas as suas convicções, isto é, o
que é a coisa certa para pessoas que acreditam que uma decisão política é, em cer-
to sentido, errada ou imoral?
2. Como o governo deve reagir se as pessoas violam a lei quando isso, da-
das as suas convicções, é a coisa certa a fazer, mas a maioria que o governo repre-
senta ainda acha que a lei é bem fundada?
Não se pode dizer que ele não deve ser punido como também não podemos
dizer o contrário.
Os juristas, mesmos os mais conservadores, já quase não repetem essa
máxima porque sabem que, na maioria dos países, pessoas que se sabe ter
cometido um crime, às vezes, não são levadas a julgamento, e acertada-
mente. A idéia da discricionariedade da ação legal – numa ampla série de
crimes devido a uma ampla variedade de razões para não instaurar ação le-
gal – é um elemento consagrado da teoria jurídica moderna (DWORKIN,
2000, p. 168).
Muitas vezes, prender e processar os transgressores provavelmente causará
mais mal do que bem. Entretanto “é exagero dizer que pessoas que fazem o que
consideram correto, dadas as suas convicções, nunca devem ser punidas por fazê-
lo” (DWORKIN, 2000, p. 169).
Para responder àquelas questões se deve questionar (sendo maioria e mino-
ria respectivamente):
A. O que para nós seria certo fazer se tivéssemos as crenças deles?
B. O que para nós seria certo fazer se tivéssemos o poder político e as cren-
ças da maioria?
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 140 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Ronald Dworkin apresenta em seu livro Uma questão de princípios (2000)
uma classificação dos tipos de desobediência civil:
Desobediência civil baseada na integridade: a integridade pessoal, a consci-
ência do sujeito, o proíbe de obedecer. É tipicamente uma questão de urgência. O
nortista a quem se pede que entregue um escravo ao proprietário, ou mesmo o es-
colar a quem se pede que saúde a bandeira, sofre uma perda definitiva ao obedecer
e não é de muita valia para ele que a lei se já modificada logo depois. Um exemplo
interessante é a desobediência à Lei do Escravo Fugitivo, que previa a punição de
quem ajudasse escravos fugitivos; por questão de consciência, muitas pessoas não
cumpriam tal lei. Outro exemplo foi a de Martin Luther King que conduziu muitos ne-
gros a desobedecer a Lei Jim Crow que, um século após a abolição da escravidão,
ainda fomentava a segregação racial. Tal movimento evoluiu posteriormente a ponto
de se protestar contra o envolvimento norte-americano na guerra do Vietnã.
É uma espécie defensiva: tem como objetivo apenas que o agente não faça
algo que sua consciência proíbe.
Desobediência civil baseada na justiça: tem por objetivo opor-se a uma polí-
tica que se considera injusta e fazer o possível para alterá-la, tal como uma política
de opressão de uma minoria pela maioria. Ex.: protestos pelos direitos civis.
Neste caso, quando as pessoas estariam certas em violar a lei para protestar
contra programas políticos que acreditam ser injustos? Quando esgotado o processo
político normal, buscando reverter o programa de que não gostam por meios consti-
tucionais; não devem violar a lei a menos que esses meios políticos normais não
ofereçam mais esperança de sucesso.
É uma espécie instrumental e estratégica: procura um objetivo geral – o
desmantelamento de um programa político imoral. Usa como estratégias: a) Persua-
são: espera obrigar a maioria a ouvir os argumentos contra se programa político, na
expectativa de que a maioria mude de idéia e rejeite o programa; b) Não persuasão:
Não procura mudar a opinião da maioria, mas elevar o custo de dar prosseguimento
ao programa que a maioria ainda prefere, na esperança de que esta julgue o novo
custo inaceitavelmente elevado.
Se alguém acredita que (a) um determinado programa oficial é profunda-
mente injusto, (b) se o processo político não oferece nenhuma esperança
realista de reverter o programa em breve, (c) se não existe nenhuma possi-
bilidade de desobediência civil eficaz, (d) se estão disponíveis técnicas não
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 141 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
persuasivas não violentas com razoável chance de sucesso, (e) se essas
técnicas não ameaçam ser contraproducentes, então, essa pessoa faz a
coisa certa, dada a sua convicção, quando usa esses meios não persuasi-
vos (DWORKIN, 2000, p. 162).
Desobediência civil baseada em política: violam a lei não porque acreditam
que a política a que se opõem é imoral ou injusta, tal como descrito, mas porque a-
cham que é insensata, estúpida e perigosa para a maioria, assim como para qual-
quer minoria. Um exemplo deste tipo de desobediência civil são os protestos contra
os mísseis nucleares, muito freqüentemente ocorridos na Alemanha.
Como se vê, os dois primeiros tipos são convicções de princípio enquanto
este terceiro envolve julgamento de política.
Para Dworkin, a desobediência civil baseada em política tem, geralmente,
uma estratégia persuasiva e, ainda que existisse uma política econômica ruim, não
seria justificada a estratégia não persuasiva e faz a seguinte questão, sem a devida
resposta:O fato de se acreditar no contrário justificaria atos ilegais cujo objetivo fosse
impor um preço tão alto, em inconveniência e segurança, que a maioria abandonas-
se sua política econômica, mesmo que continuasse convencida de que essa seria a
melhor política?
Acompanhando o pensamento de Habermas (1997), o filósofo norte-
americano crê que a legitimidade política é ameaçada quando se tomam decisões
de enorme conseqüência apoiadas apenas por uma maioria simples ou pequena.11
Como considerações finais de seu estudo sobre a desobediência civil, Dwor-
kin conclui que:
a) Se um ato de desobediência civil pode alcançar seu objetivo sem punição,
isso geralmente é melhor para todos os envolvidos. No entanto, a punição pode ser
parte da estratégia não persuasiva para demonstrar que tais atitudes da maioria irão
possuir um elevado custo com sua própria prisão e de outras.
b) Os atos considerados como desobediência civil são efetivamente protegi-
dos pela Constituição quando os tribunais determinam que esses atos não contam, a
11
Habermas justifica a desobediência civil da seguinte maneira: “A justificação da desobediência civil
apóia-se, além disso, numa compreensão dinâmica da constituição, que é vista como um projeto
inacabado. Nesta ótica de longo alcance, o Estado democrático de direito não se apresenta como
configuração pronta, e sim, como um empreendimento arriscado, delicado e, especialmente, falível e
carente de revisão, o qual tende a reatualizar, em circunstâncias precárias, o sistema dos direitos, o
que eqüivale a interpretá-los melhor e a institucionaliza-los de modo mais apropriado e a esgotar de
modo mais radical o seu conteúdo” (Habermas, 1997, vol. II, p. 118).
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 142 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
seu ver, com tal proteção? Há o costume com o aforismo de que o Direito é o que o
tribunal diz que ele é. Mas isto pode significar:
b.a) Os tribunais estão sempre certos quanto ao que é o Direito, que suas
decisões criam o Direito, de tal modo que, quando interpretam a Constituição de de-
terminada maneira, essa no futuro será necessariamente a maneira certa de inter-
pretá-la (modo de ver do positivismo jurídico).
b.b) Deve-se obedecer às decisões dos tribunais, pelo menos de maneira
geral, por razões práticas, embora os cidadãos se reservem no direito de sustentar
que o Direito não é o que eles disseram, ou seja, embora os tribunais possam ter a
última palavra, em qualquer caso específico, sobre o que é o Direito, a última palavra
não é, por essa razão apenas, a palavra certa.
4.5 Zé Colméia
Finalmente, para demonstrar a grande influência da desobediência civil na
vida norte-americana – e, conseqüentemente, através da propagação de sua cultura
por todo o mundo através da mídia – se percebe desde a infância a rotina e até
mesmo a publicidade que se dá a este instituto.
Um exemplo muito famoso é o personagem de Hanna Barbenna, Wogie
Bean, aqui no Brasil conhecido como Zé Colméia. Este personagem vive no parque
de Yellowstone e lá deve seguir as seguintes regras:
1. Não surrupiar cestas de piquenique dos turistas;
2. Não jogar papel no chão;
3. Não urrar depois do pôr do sol.
Tais normas são sempre descumpridas pelo amigo urso que é o herói das
histórias e cujo vilão é o Guarda Chico – aquele que é o defensor das regras – que
tenta impedir suas aventuras.
Estes regramentos são totalmente injustos para os seres da floresta, pois a
terceira proibição vai de encontro com sua natureza. A segunda é um contra-censo
pois ele não utiliza papel e, por fim, a primeira é uma hipocrisia pois se refere ao
consumismo e ao preconceito, pois uma vez oferecido e acostumado é impedido seu
acesso por ser diferente.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 143 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Referidas normas e desenho animado nada mais são do que uma metáfora
do cotidiano e a utilização da desobediência civil nele representa um incentivo à sua
prática quando o cidadão comum se deparar frente a normas injustas e autoritárias
que denigram seus direitos fundamentais como ser humano.
Felizmente este não é o único exemplo e a cultura daquele país está repleta
de excelentes trabalhos sobre a desobediência civil. Já no Brasil os exemplos de
desobediência civil são mais raros, todavia o direito de resistência é exercido de ou-
tras formas que não esta apresentada neste trabalho, como se verificará mais adian-
te.
5 DEFINIÇÃO E CONDIÇÕES DA DESOBEDIÊNCIA CIVIL
Muito embora haja uma pluralidade de análises existentes sobre a desobedi-
ência civil e das diferentes valorações que esta suscita, é possível dar a seguinte
definição mínima desde fenômeno político: É a forma particular de resistência ou
contraposição, ativa ou passiva do cidadão, à lei ou ao ato de autoridade, objetivan-
do a proteção das prerrogativas inerentes à cidadania, quando ofensivos à ordem
constitucional ou aos direitos e garantias fundamentais. Por isso, deve atender a
uma concepção de justiça que tenha como objetivo último o bem comum. Todavia,
se entende por desobediência civil um tipo especial de negação de certos conteúdos
da legalidade, que alcança sua máxima expressão em sociedades democráticas, por
parte de cidadãos ou de grupos de cidadãos, sendo tal legalidade, em princípio, me-
recedora da mais estrita obediência.
Esta definição exige uma série de aclarações:
1º) Afirma-se que a desobediência civil é um tipo especial de negação de
certos conteúdos de legalidade por parte de um cidadão ou um grupo de cidadãos.
Com isto se quer dizer que se bem todo ato de desobediência civil é um ato de de-
sobediência à lei, nem todo ato de desobediência à lei é um ato de desobediência
civil (DWORKIN, 2000, p. 160). Assim, a desobediência civil se caracteriza por cum-
prir as seguintes condições:
1. Em geral, é exercida por pessoas conscientes e comprometidas com a
sociedade – é o que Hannah Arendt denomina minorias qualitativamente importan-
tes – o qual as leva a ser tão ativas como críticas a respeito de certas decisões polí-
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 144 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
ticas que se transformaram em lei. A atividade desenvolvida por aqueles que exer-
cem a desobediência civil é tão intensa e de tal natureza que desborda as bases
tradicionais de formação e execução da vontade política. Os cidadãos que praticam
a desobediência civil são capazes de imaginar uma ordem social melhor e em sua
vital construção a desobediência civil se converte em um procedimento útil e neces-
sário.
2. Entende-se que o comportamento destes cidadãos não está movido por
egoísmo senão pelo desejo de universalizar propostas que objetivamente melhora-
rão a vida em sociedade. Esta condição não nega que em certas ocasiões podem
coincidir interesses pessoais ou corporativos com interesses de caráter geral. Sim-
plesmente, manifestam que seria impossível consolidar um movimento de desobedi-
ência civil que unicamente se limitasse a defender conveniências particulares.
3. Conseqüentemente, os cidadãos que a praticam se sentem orgulhosos.
Para eles, a desobediência civil é mais que um dever cívico, é uma exigência proce-
de de certas convicções às que é possível atribuir um valor objetivo e construtivo.
4. Por isso é fácil adivinhar que o exercício da desobediência civil tem de ser
público, ao qual contribui também a pretensão de quem a pratica de convencer o
resto dos cidadãos da justiça de suas demandas.
5. Seu exercício não vulnerará aqueles direitos que pertencem ao mesmo
bloco legal ou sobre os que se sustentam naquilo que se demanda. Em troca, sua
prática poderá negar direitos de genealogia não democrática ou que pretendam per-
petuar privilégios injustificáveis. Entre as muitas conseqüências que se deduzem
desta propriedade se encontra a de que a desobediência civil se exercerá sempre de
maneira pacífica. Por isto a desobediência civil se encontra nas antípodas das práti-
cas ligadas àquelas filosofias irracionais que vêem a violência na manifestação mais
pura do vital.
6. Com ela não se pretende transformar inteiramente a ordem política nem
solapar suas estruturas, mas sim promover a modificação daqueles aspectos da le-
gislação que entorpecem o desenvolvimento de grupos sociais marginalizados ou
lesionados ou, em todo caso, de toda a sociedade.
Esta meia dúzia de características permite distinguir a desobediência civil de
outras formas conflitivas de relação com a legalidade, como a seguir se constatará
mais aprofundadamente. Assim, a desobediência civil não é o meio para pretender
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 145 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
obter exclusivamente privilégios individuais ou corporativos, nem constitui uma mani-
festação de desobediência criminal – certas práticas ligadas a reivindicações do sin-
dicalismo profissional ou um simples ato delitivo não seriam bases para sustentar a
desobediência civil, visto que violam a primeira característica antes assinalada.
Tampouco é equiparável à conspiração – não se cumpriria a quarta característica –
nem ao terrorismo – não cumprindo a quinta. E, finalmente, não é a forma adoçada
referência à revolução – assim conculcaria a sexta propriedade da desobediência
civil.
2º) Afirma-se também que a definição outrora apresentada de que a deso-
bediência civil alcança sua máxima expressão em situações democráticas não impli-
ca negar que se podem dar casos de desobediência civil em situações não democrá-
ticas. E mais, os desobedientes civis clássicos combateram injustiças e diversas
formas de discriminação em situações pré-democráticas. Simplesmente o que esta
precisão vem a sublinhar é que a desobediência civil se mostra de maneira mais ge-
nuína em uma sociedade democrática. Assim, a desobediência civil seria a forma
mais responsável de não cumprir uma lei na democracia e sua existência seria uma
prova do grau de tolerância e de saúde de uma maneira avançada (Habermas,
1997, p. 117) e dinâmica. Esta distinção entre formas de negação segundo se pro-
duzam ou não em um “marco democrático” permite traçar uma útil diferenciação
conceitualmente entre a desobediência civil e outros aspectos semelhantes aconte-
cidos em contextos históricos muito diferentes tais como o desacato moral à lei posi-
tiva (o direito de resistência passivo ou ativo) ou a versão secularizada deste: o direi-
to à revolução.
3º) Afirma-se ainda que os cidadãos que participam em atos de desobediên-
cia civil deveriam observar em princípio uma estrita obediência da lei elaborada me-
diante procedimentos escrupulosamente democráticos. Esta regra, elementar para a
estabilidade democrática, pode ser transgredida lealmente quando se dão as seis
condições antes mencionadas. No fundo, a desobediência civil é um ato de lealdade
para com uma democracia dinâmica com pretensões integradoras que busca romper
os mecanismos oligopólicos de fabricação de consensos, e a disputa entre seus par-
tidários sobre si tem de ser passiva – não cumprimento da parte preceptiva da lei e
aceitação da pena que acarreta tal ato – ou ativa – não cumprimento das partes pre-
ceptiva e punitiva da lei – da boa prova dela.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 146 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Seria vão, em nome de um ideal abstrato de não-violência absoluta, conce-
ber uma sociedade em que a justiça e a ordem pudessem ser asseguradas pela livre
contribuição de cada um, sem que houvesse necessidade de recorrer às obrigações
impostas pela lei. Esta preenche uma função social que não se pode negar: a de
obrigar os cidadãos a um comportamento racional, de forma a que nem o arbitrário
nem a violência possam ter livre curso. Assim, não seria justo considerar as coações
exercidas pela lei apenas como entraves à liberdade, pois elas são também as suas
garantias.
Adotando a doutrina do pacto social na formação da sociedade, Jean-Marie
Muller apresenta o ponto de vista do direito natural que fundamenta a desobediência
civil:
O pacto social pelo qual os cidadãos se aliam para criar uma sociedade é a
constituição. Esta, em princípio, baseia-se no consentimento de todos os ci-
dadãos. A lei é a aplicação da constituição. Para isso, ela dá a conhecer a
conduta conforme ao bem comum e dá ao governo os meios de agir contra
as atuações daqueles que não respeitam as cláusulas do pacto social. Na
medida em que a lei preenche a sua função ao serviço da justiça, ela mere-
ce a obediência dos cidadãos. Mas quando encobre, cauciona ou cria ela
própria injustiças, merece a sua desobediência. A obediência á lei não liber-
ta os cidadãos da sua responsabilidade: aqueles que se submetem a uma
lei injusta são responsáveis por essa injustiça. Com efeito, o que se constitui
uma injustiça não é a lei injusta, mas a obediência à lei injusta (MULLER,
1996, p. 96).
E o pensador francês conclui que:
Enquanto acção política, a desobediência civil é uma iniciativa colectiva.
Não se trata apenas de definir o direito à objeção de consciência, baseado
na obrigação da consciência individual de recusar obedecer a uma lei injus-
ta, trata-se, para lá desse reconhecimento, de definir o direito dos cidadãos
desobedecerem à lei para afirmarem o seu poder e fazerem vingar as suas
reivindicações. Neste caso, a desobediência civil não exprime o protesto
moral do indivíduo face a uma lei injusta, ma a vontade política de uma co-
munidade de cidadãos que pretendem exercer o seu poder (MULLER, 1996,
p. 96/7).
6 A DESOBEDIÊNCIA CIVIL NO BRASIL
6.1 A Previsão Constitucional
A Constituição Federal Brasileira, ainda que não traga expresso o direito de
resistir à opressão, implicitamente o reconhece quando especifica, no § 2º do art. 5º,
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 147 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
que “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decor-
rentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do brasil seja parte”.
Por sua vez, o constituinte de 1988 ainda elencou como objetivos fundamen-
tais da República Federativa do Brasil: a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária (art. 3º, I); a garantia do desenvolvimento nacional (art. 3º, II); a erradicação
da pobreza e da marginalidade, além de da redução das desigualdades sociais e
regionais (art. 3º, II); e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).
Mas não é só. O Estado brasileiro se rege nas relações internacionais pelos
seguintes princípios: a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II); a autodetermi-
nação dos povos (art. 4º, III); solução pacífica dos conflitos (art. 4º, VII); e a coope-
ração entre os povos para o progresso da humanidade (art. 4º, IX).
De qualquer sorte, a história tem demonstrado que o direito de resistir às leis
injustas tem sido eleito pelos povos como um direito fundamental do homem, tanto
que em vários países expressam o direito de resistência em suas constituições, tais
como a belga, de 1852 e as portuguesas de 1911, 1933 e 1982.
6.2 A Previsão Criminal
O Código Penal Brasileiro em vigor estabelece como crime algumas condu-
tas que poderiam ser confundidas com a desobediência civil.
O art. 330 do Código Penal estabelece uma pena de detenção de 15 (quin-
ze) dias a 6 (seis) meses, e multa para quem “desobedecer a ordem legal de funcio-
nário público”. Já o art. 345 do codex estabelece uma pena de detenção de 15
(quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa, além da pena correspondente à violência em-
pregada para quem “fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão,
embora legítima, salvo quando a lei permite”.
Em relação ao art. 330:
O sujeito ativo do crime previsto no art. 330 é aquele que desobedece a or-
dem legal emanada de autoridade competente. Em regra, portanto, é o par-
ticular, mesmo porque a infração está entre os crimes praticados por este
contra a administração em geral (MIRABETE, 1999, p. 1769). [...] A conduta
típica é desobedecer, ou seja, não acatar, não aceitar, não cumprir a ordem
legal. Tanto pode ser praticada por omissão, não atuando o agente como
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 148 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
deve, quanto por omissão, agindo quando deve se abster (MIRABETE,
1999, p. 1771).
A priori, a desobediência civil se enquadraria, dependendo o caso, neste ar-
tigo pois, como já qualificou Dworkin, pode-se ter uma qualidade não persuasiva e a
detenção é muitas vezes visada.
Já em relação ao art. 345, o que se visa é a proibição da auto-tutela, o que
implica em confiar no poder de comando do estado. Todavia uma questão surge: e
quando o estado não consegue mais exercer sua função? Hegel (apud
ROSENFIELD, 2002, p. 35) já dizia que a finalidade da sociedade, pelo comando do
Estado, é evitar que seus membros morram de morte violenta. Ora, o que se assiste
nos noticiários e o que se apreende das ruas é, então, a falência do Estado? Se a
resposta for positiva, volta-se, destarte, a auto-tutela e se pode fazer justiça com as
próprias mãos.
6.3 O MST e a Desobediência Civil
Muitas são as críticas tecidas ao MST – Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra – no sentido de sua politização assentada numa plataforma política que enfati-
za o caráter socialista e revolucionário da luta campesina frente uma economia com-
petitiva de mercado capitalista.
Todavia o núcleo do discurso que procura estereotipar o MST reside em as-
pectos combinados de seus matizes ideológico-políticos, das suas formas de organi-
zação interna, de sua relação com outros setores da sociedade civil e das formas de
atuação por ele escolhidas, notadamente a ocupação de terras e a resistência às
desocupações.
Viu-se alhures que os critérios básicos definidores da desobediência civil são
a ilicitude aparente do ato de desobediência, sua publicidade e seu caráter não-
violento. Seria conveniente, portanto, indagar se o MST passaria no teste de identifi-
cação com a tradição da desobediência civil com base nesses critérios, e se, à luz
deles, pode ser tido como um movimento legítimo na ordem democrática, apesar das
versões públicas em sentido diverso.
É inegável a tensão institucional que o MST provoca sobre as arcaicas estru-
turas do poder rural (e nem tão rural assim) do Brasil contemporâneo. Sua conduta,
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 149 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
em especial as ocupações de terras e prédios públicos ou particulares abertos ao
público, já faz parte do cotidiano dos órgãos jornalísticos, e são comumente aponta-
dos como elementos indicadores do caráter antidemocrático do movimento.
A ocupação de terras está no cerne das alegações de ilegalidade. Sua efeti-
vação afrontaria o direito de propriedade reconhecido pela Constituição (art. 5º,
XXII), podendo caracterizar mesmo o crime de esbulho (art. 161, II, do
CP).Entretanto, evidencia-se de que não há, na atuação do MST, uma negação tout
court da propriedade rural – tanto que reivindicam seu acesso a ela. Há uma severa
crítica à propriedade privada e ao sistema capitalista em seus documentos, algo que
em si se encontra perfeitamente legitimado pela liberdade de consciência e expres-
são consagrada na Constituição (art. 5º, IV e VI). Essa crítica se traduz na forma de
organização de assentamentos por parte do MST, a qual prioriza a posse e utiliza-
ção coletiva da terra e dos insumos obtidos mediante financiamento, ou por outros
meios. A política de cooperativização que tem sido efeito desde 1989 é um bom de-
monstrativo disso, guardando ainda importante sintonia com as exigências de produ-
tividade agropecuária nos dias de hoje (a produção em áreas mais amplas favorece
certas culturas e o incremento da produtividade, bem como racionaliza gastos e utili-
zação de implementos agrícolas, facilitando ainda o acesso ao crédito rural; os preju-
ízos são igualmente divididos, tendendo a haver também um melhor aproveitamento
da mão-de-obra disponível, sem incremento de custos).
O alvo específico do MST, todavia, não é a propriedade privada da terra em
geral, tanto que o movimento defende sua aproximação e articulação política com os
pequenos proprietários rurais, os quais são mesmo considerados integrantes do mo-
vimento (Normas Gerais, art. 2). O objeto das críticas e da intervenção social do
MST é o latifúndio improdutivo, em um primeiro plano, e a propriedade rural especu-
lativa; o latifúndio em geral é o alvo principal dos documentos do movimento. A prio-
rização ao enfrentamento desse tipo de propriedade rural expressa-se claramente
nas “bandeiras de luta do movimento”.
O movimento nitidamente formula um questionamento de caráter moral à
propriedade da terra, identificando o direito a possui-la e o dever de nela trabalhar e
viver. Há um repúdio veemente à propriedade especulativa ou que explore mão-de-
obra assalariada no campo, propugnado-se pela extinção desse modelo de estrutura
fundiária. Constata-se, portanto, a presença evidente de um discurso moral sobre a
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 150 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
propriedade da terra, a qual poderia ser apresentada, nos termos propostos por
Dworkin, como o questionamento constitucional acerca da estrutura fundiária em
vigor. Programaticamente tais objetivos encontrariam fundamentabilidade na própria
Constituição (art. 5º, XXIII) que determina que a propriedade atenderá a sua função
social. Interpretando sistematicamente a Constituição, é importante ressaltar a pre-
sença de um capítulo inteiro sobre política agrícola e reforma agrária, no seu Título
VII, abrangendo os arts. 184 a 191. Nesses dispositivos constitucionais, atribui-se à
União Federal a competência para desapropriar imóvel rural que não esteja cum-
prindo sua função social para fins de reforma agrária, na forma prevista pela Consti-
tuição e pela legislação específica (art. 184, caput). Considera-se como não cum-
prindo sua função social aquelas propriedades rurais que desatenderem o estabele-
cido no art. 186, e seus incisos, da Constituição, segundo critérios estabelecidos em
lei: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regu-
lam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários
e dos trabalhadores.
Há, portanto, critérios razoáveis de interpretação da Constituição presentes
nos documentos e ações do MST, os quais remetem à exigência, em face dos pode-
res públicos, em especial da esfera federal, da plena implementação da política de
reforma agrária traçada pela Constituição de 1988. O que o movimento exige, por-
tanto, é a efetivação das diretrizes constitucionais, em atenção ainda aos princípios
da dignidade humana e da cidadania, fundamentos da República (art. 1º, II e III, da
Constituição), e aos seus objetivos fundamentais, tal como traçados no Texto Consti-
tucional: construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a
marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de
todos, sem discriminações (art. 3º, I, III e IV). Não se trata, portanto,de iniciativas
dependentes das inclinações de cada governo, mas de diretrizes institucionais para
o Estado Democrático de Direito no Brasil que foram agendadas pelos constituintes
e às quais os governantes não podem se furtar.
Em relação às ocupações de terras para fins de pressão pela reforma agrá-
ria. Há inúmeras decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, e mesmo de
tribunais superiores, reconhecendo a inexistência de crime. Pela sua relevância me-
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 151 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
rece destaque o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que traz a seguinte emen-
ta:
HC – CONSTITUCIONAL – HABEAS CORPUS – LIMINAR – FIANÇA –
REFORMA AGRÁRIA – MOVIMENTO SEM TERRA – Hábeas corpus é a-
ção constitucionalizada para preservar o direito de locomoção contra atual,
ou iminente ilegalidade, ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII). Admissível
a concessão de liminar. A provisional visa atacar, com a possível presteza,
conduta ilícita, a fim de resguardar o direito de liberdade. Fiança concedida
pelo Superior Tribunal de Justiça não pode ser cassada por Juiz de Direito,
ao fundamento de o Paciente haver praticado conduta incompatível som a
situação jurídica a que estava submetido. Como executor do acórdão, deve-
rá comunicar o fato ao Tribunal para os efeitos legais. Não o fazendo, prefe-
rindo expedir mandado de prisão, comete ilegalidade. Despacho do relator,
no Tribunal de Justiça, não fazendo cessar esta coação, por omissão, a rati-
fica. Caso de concessão de medida liminar. Movimento popular visando im-
plantar a reforma agrária não caracteriza crise contra o Patrimônio. Configu-
ra direito coletivo, expressão da cidadania, visando a implantar programa
constante da Constituição da república. A pressão popular é própria do Es-
tado de Direito Democrático. (HC 5.574/SP, Rel. Ministro William Patterson,
Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em
08/04/1997, DJ 18/08/1997, p. 37916).
Não é relevante, no caso, se a presença de um elemento da sociedade civil
foi a única causa para a decisão, ou se havia outras que poderiam levar o órgão ju-
risdicional a toma-la. O que é relevante, em se tratando de exame da antijuridicidade
do ato de desobediência civil, é que tal circunstância seja levada em conta, como se
deu no caso referido. Não se trata de revogação do Código Penal para os desobedi-
entes, e sim processo de ponderação que envolve a consideração de que os moti-
vos determinantes para a violação da norma podem se referir a um questionamento
de sua legitimidade social, o que pode ser interpretado em termos de questionamen-
to de sua constitucionalidade, ou da legalidade da política governamental em exame,
ou ainda como exercício de um direito fundamental (como o direito à vida, à dignida-
de, à alimentação, ao trabalho).
Noutra senda, a ocupação de prédios e áreas públicas ou privadas de aces-
so público são tradição na história da desobediência civil, sendo de amplo conheci-
mento as que tiveram lugar por ocasião da campanha pelos direitos civis, liderada
por Martin Luther King Jr., ou de resistência às leis de recrutamento para a Guerra
do Vietnã, nos EUA. Todos os dias os telejornais nos mostram “sentadas” diante de
bases militares, fábricas ou aeroportos em vários países do mundo, quando manifes-
tantes civis protestam ativamente contra a política nuclear, ou a poluição do meio
ambiente.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 152 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Assim, a ocupação de uma agência bancária como forma de protesto contra
a ausência de políticas oficiais mais ousadas para o financiamento à pequena pro-
priedade rural e aos assentamentos é forma legítima de uma conduta cidadã que se
utiliza da desobediência civil como instrumento para se alcançar seus objetivos.
As atividades dos Sem-Terra possuem ainda características usuais tais co-
mo a ampla publicidade que dão de suas ocupações a manifestações públicas.
Sempre que as lideranças do MST definem uma nova onda de ocupações de terras,
prédios públicos ou agências bancárias, há ampla divulgação de tais iniciativas, o
que parece ser mesmo essencial para que funcione como elemento de pressão junto
às autoridades. Não é em nada usual que as lideranças procurem ocultar sua identi-
dade ou permaneçam escondidas com vistas a dificultar ou inviabilizar a atuação do
Poder Judiciário.
Por fim ainda resta o polêmico tema da não-violência. É cediço que nos noti-
ciários televisivos sempre aparecem confrontos entre o MST e a polícia em cenas de
resistência ou mesmo de confrontos com jagunços das fazendas ocupadas ou por
ocupar. Diante disso cabe a indagação de que se tal conduta implica mesmo assim
na prática da desobediência civil ou numa outra forma de resistência.
Dentro de seus estatutos e regimentos, o MST estabelece a ocupação de
terras como uma de suas principais estratégias de luta. Já se viu que pode ser pos-
sível se defender que não há prática criminosa nesta conduta, mas que uma ação
seja aceita moralmente não basta que não seja considerada como crime. Na deso-
bediência civil mister se faz que essa ação encontre fundamentos morais razoáveis,
e uma das vias para sua justificação moral é a não-violência, como já dito alhures.
Entretanto, nos documentos do MST não apenas é defendida a ocupação de terras,
mas também a resistência aos “despejos”, situações estas de grande tensão nas
quais normalmente observam-se os maiores conflitos, não raro redundando em víti-
mas até mesmo fatais.
As ocupações de terras originam-se devido à acentuada descrença dos
Sem-Terra na determinação dos governantes em realizar os assentamentos livres da
pressão das invasões e a história do movimento justifica tal descrença.
Inúmeras são as indicações de que os assentamentos só acontecem após
suscessivas ocupações da área pretendida, o que é realidade mesmo quando as
áreas já estão desapropriadas.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 153 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Noutra senda, a disposição dos Sem-Terra em resistir nas ocupações pren-
de-se à utilização da violência por parte dos fazendeiros proprietários das terras o-
cupadas.
Significativo ainda é que os confrontos entre Sem-Terra e a polícia e/ou ja-
gunços de fazendas ocupadas ou por ocupar deixem sempre grande saldo de feri-
dos ou mesmo morto entre os primeiros e registre número ínfimo entre os últi-
mos.Somente este fato já seria suficiente para indicar senão em todas as circuns-
tâncias quem inicia a prática de atos de violência, ao menos quem dela se serve de
modo desproporcional, podendo caracterizar excesso punível. Outro elemento deci-
sivo para a análise da desproporção entre mortos e feridos de ambos os lados refe-
re-se ao tipo de “arma” utilizado por cada um: enquanto a imprensa reiteradamente
registra que os Sem-Terra estavam armados de foices, enxadas e facões (de fato
instrumentos de trabalho no campo, mas que poderiam ser utilizados como arma
branca), as forças repressivas do Estado ou dos proprietários rurais utilizam armas
de fogo de grosso calibre. O resultado não poderia ser muito distinto de Corumbiara
ou Eldorado dos Carajás.
Nestes termos, tem-se que os Sem-Terra não tomam a iniciativa do confron-
to violento e de que, quando agredidos, limitam sua eventual reação de forma pro-
porcional e moderada, o que exige sempre uma atividade de ponderação por parte
do intérprete não diferente daquela sempre necessária par caracterizar ou não o e-
xercício da legítima defesa, embora isto não seja uma regra, havendo, claro, exce-
ções em todo e qualquer movimento social.
Particularmente, a opinião deste intérprete é no sentido de que o MST perde
uma oportunidade única em exercer a desobediência civil de forma mais do que pa-
cífica – quase martirizada – desde que haja publicidade de tal conduta quando da
ocorrência de filmagens da desocupação por parte da imprensa e que não haja a
adoção de uma contra-violência, pois a violência machuca mais a quem pratica do
que a quem sofre.
Mesmo a violência do outro não justifica a minha violência, a minha contra-
violência. Que o outro seja violento para comigo não me dá nenhum direito
de recorrer à violência para com ele. Talvez pudesse invocar a necessidade,
ms o direito certamente que não. A exigência do „amor pelo inimigo‟ formu-
lada por Jesus de Nazaré exprime com clareza que a exigência de não-
violência continua em vigor em relação ao violento, ao agressor, ao homici-
da”. [...] “Aquele que opta pela não-violência expõe-se ao risco de sofrer a
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 154 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
violência de outrem. Um dos fundamentos filosóficos da não-violência é que
exercer a violência é uma infelicidade muito maior para o homem do que so-
frê-la. A derradeira conseqüência deste princípio é que, do ponto de vista é-
tico, mais vale ser assassinado do que assassino, ser vítima do que carras-
co, ser morto do que matar, e que é preciso recear mais o homicídio do que
a morte (MULLER, 1996, p. 66-7).
7 ÓBICES À ADOÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA CIVIL PELOS BRASILEIROS
Muito embora adotar uma teoria reducionista para a razão do por quê o insti-
tuto da desobediência civil é pouco utilizado ou mesmo nem o é pelos brasileiros
não seja o mais indicado, acredita-se que com as exposições dos seguintes motivos
sejam altamente aptos ao esclarecimento proposto para este tópico. É claro que ou-
tras razões existem, todavia não se dará tanta importância devido à necessidade de
se utilizar todo um contexto histórico e sociológico, o que certamente inviabilizaria a
escolha e manutenção deste tema.
7.1 A Influência Católica e a Interpretação Bíblica Evangélica
No decorrer deste trabalho muito já foi relatado sobre a conduta histórica da
Igreja Católica Romana, inclusive com passagens bíblicas e interpretações das mais
“desaconselháveis” e, atualmente, não sustentadas como num passado próximo.
Tal como a Igreja Católica, muitas seitas e religiões protestantes – diga-se
de passagem as mais clássicas – tinham uma interpretação dos textos sagrados
muito literal. Aliado a isto, deve-se salientar que não foram raras as vezes em que a
religião se aliou ao Estado – como a igreja anglicana, onde o hierarquicamente mais
alto membro é o rei ou a rainha britânica e criada apenas para não contrariar a von-
tade deste soberano – apenas para que o povo estivesse “sob controle”.
Este “pensamento medieval” de controle do povo ainda, infelizmente, se faz
presente nos dias de hoje. O pensamento religioso e o político ainda não foram efe-
tivamente separados. Inúmeros são os exemplos de padres católicos que seus ser-
mões ao verdadeiros discursos políticos de esquerda e muitos pastores evangélicos
pregam o liberalismo, quando possuem alguma noção do que estão falando. No en-
tanto, na maior parte das vezes seus discursos são vazios e se defrontam com as
opiniões pessoais dos membros de seu “rebanho”, momento este em que tais mem-
bros deixam sua congregação e procuram outra com maior afinidade ideológica.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 155 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Para a maior parte da população é muito mais fácil e cômodo ouvir e seguir
um caminho de conformismo e resignação do que a pregação em favor da mudança
de uma (des)ordem social, afinal, “quem desobedece ao seu governante desobede-
ce a Deus pois se aquele está onde está e com os poderes que possui é porque as-
sim Deus o quer e uma afronta àquele é uma afronta a este” além de também ser
um “castigo por sermos um povo pecador e que suportar tal penitência é o caminho
para se chegar ao paraíso”.
7.2 A Educação Patriótica
Lamentavelmente, numa parte essencial e freqüentemente decisiva, a edu-
cação assente no dever de obediência à autoridade e condicione assim a criança de
tal forma que ela se torna um cidadão submisso e irresponsável em relação ao de-
senvolvimento da Pátria, pois é ducado a sempre obedecer as autoridades em forma
de professores, mestres, catequistas, padres, pastores, pais, avós, enfim, os “mais
velhos”.
As escolas ensinam às crianças a considerar a obediência ao Estado como
superior à obediência à sua consciência e onde são corrompidas pelas falsas doutri-
nas relativas ao patriotismo12, ao dever de obediência aos superiores, de forma que
caiam facilmente sob o sortilégio do governo.
O cidadão dá provas de covardia quando troca a sua segurança e tranqüili-
dade pessoais contra a sua submissão incondicional ao Estado. Ele deve ter a cora-
gem de lhe desobedecer cada vez que lhe ordena que participe uma injustiça e isto
não lhe é ensinado nas escolas – nem nas universidades. Pelo contrário, a desobe-
diência é ensinada como algo “errado”, contrário ao Direito.
A desobediência civil é uma revolta, mas sem nenhuma violência. Aquele
que se empenha a fundo na resistência civil não tem simplesmente em conta a auto-
ridade do Estado. Torna-se um “fora-da-lei” que se arroga o direito de ignorar qual-
quer lei do Estado contrária à moral.
12
Brasil: ame-o ou deixe-o!
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 156 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
7.3 O Jeitinho e a Malandragem do Brasileiro
O motivo principal pelo qual o brasileiro não atinge sua plena cidadania - via
utilização da desobediência civil como instrumento - é um dado peculiar, em que pe-
se sua cultura e história, muito embora seja temeroso adotar uma concepção redu-
cionista para tanto, é, sem dúvida alguma, o jeitinho e malandragem própria da gen-
te brasileira e injustamente tecida como inconseqüente.
No Brasil o cidadão comum ouve a toda hora “não pode”, pois a legislação é
desligada da prática comum e a burocracia é feita para não funcionar para os po-
bres, pois lhe colocam mil exigências que não podem ou não sabem cumprir. Nos
conflitos, em vez de valer a lei, vale o “mandonismo” de quem grita: “sabe com quem
está falando?” Como sair desse impasse que atravanca a vida? Ir para o confronto
ou desobedecer só piora a situação. Conformar-se e obedecer a propaga. Roberto
Da Matta com sapiência diz:
Assim, entre o “pode” e o “não pode”, escolhemos, de modo chocantemente
antilógico, mas singularmente brasileiro, a junção do “pode” com o “não po-
de” Pois bem, é essa junção que produz todos os tipos de „jeitinhos‟ e arran-
jos que fazem com que possamos operar um sistema legal que quase sem-
pre nada tem a ver com a realidade social (DAMATTA, 2001, p. 99).
O jeitinho é a forma sábia e pacífica de combinar os interesses com a rigidez
da norma; é o modo de contrabalancear a correlação desigual de forças, tirando
vantagens da fraqueza; é a maneira de conciliar todos os interesses sem que nin-
guém saia prejudicado; junta-se lei com a realidade social; permite-se uma navega-
ção social tortuosa, mas pacífica.
O malandro é o especialista no jeitinho, pois sabe utilizar estórias, artifícios e
uma boa conversa para almejar seus objetivos. Como defende Roberto Da Matta:
a malandragem é um modo, jeito ou estilo profundamente original e brasilei-
ro de viver, e, às vezes, de sobreviver num sistema que ... as leis formais da
vida pública nada têm a ver com as boas regras da moralidade costumeira
que governam a honra, o respeito e, sobretudo, a lealdade que devemos
aos amigos, aos parentes e aos compadres. Num mundo tão profundamen-
te dividido, a malandragem e o jeitinho promovem uma esperança de tudo
juntar numa totalidade harmoniosa e concreta (DAMATTA, 2001, p. 104-5).
Já Leonardo Boff apregoa que:
novamente essa qualidade nacional é extremamente útil e até imprescindí-
vel na globalização na qual tantos interesses se sobrepõem, opõem e con-
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 157 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
trapõem. Pelo jeitinho eles se compõem e se articulam numa totalidade
maior que deve incluir a todos. Sem o jeitinho, a dialogação permanente, a
busca da junção entre o „não pode‟ e o „pode‟ dificilmente se chegará a uma
ordem social dinâmica e humanizada. Não bastam leis justas e norma que
visem a eqüidade. Elas contemplam sempre o universal. O ser humano, en-
tretanto, é pessoa, nó-de-relações, sempre complexa, cheia de propósitos e
singular. O jeitinho é a forma de conciliar o universal som o singular em be-
nefício da fluidez e da leveza da vida social e pessoal (BOFF, 2000, p. 115-
6).
Por último, mister é expor algumas características da “filosofia” malandra do
brasileiro:
a) Cultura multiétnica e multirreligiosa: com a miscigenação entre o bran-
co, o negro e o índio surgiu o brasileiro que representa a lógica prevalente da menta-
lidade deste país que é a busca eqüidistante dos extremos, a associação ao inter-
mediário e conciliador;
b) Criatividade: supõe a capacidade de improvisação, descoberta de saí-
das surpreendentes e espontaneidade na ruptura de tabus ligados à tradição ou ao
senso comum dominante;
c) Aura mística da cultura brasileira: crer e embeber as práticas, as artes
e a cultura com tal mística significa romper com o modo da pura razão, da funciona-
lidade das instituições e da lógica linear para a qual não há e não deve haver sur-
presas;
d) Ludicidade: Há alegria no meio do sofrimento e sentido de festa no
meio das tribulações. Isso porque vigora a crença de que a vida vale mais que todas
as coisas particulares e que essa vida se inscreve sob o arco-íris da benevolência
divina. Ela, por pior que seja, vale a pena ser assumida, amada e celebrada. Por
isso, tudo é motivo para a gozação, o humor e a festa;
e) Esperançoso: a esperança é a última que morre; projeta continuamente
visões otimistas; permite relativizar e tornar suportáveis os dramas que milhões pa-
decem.
7.4 A Decadência Fática da Cidadania
Juan Ramón Capella argumenta que
O conceito de “cidadão” tem um crescente caráter ambíguo e problemático.
Tal yuppie, sem dúvida “cidadão”, prolonga desmedidamente a jornada de
trabalho sindicalmente acordada – pois a empresa, o Deus novo, tudo vê.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 158 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
Tal campesino, “cidadão” com liberdade de expressão, oculta suas convic-
ções ao servidor público que há de dar-lhe subvenções. Tal “cidadão” con-
tribuinte evade ingressos ao fisco do governo em que votou, sem rubor. Tal
“cidadão” roubado “o deixa estar”: não denuncia o pequeno roubo ante a i-
nutilidade da polícia. Tal “cidadão” objetor de consciência se vê insultado,
depreciado, na picota, suspeito publicamente pelas autoridades. Tal “cida-
dão” fica despedido do trabalho na sua idade madura, desempregado e sem
subsídio, mas com direitos sociais que lhe garantem trabalho ou subsídio
temporário. Tal “cidadã” agredida dentro de seu lar sofre solitária sua tragé-
dia: que mais vão fazer os policiais, os juízes, os repórteres? Tal “cidadão”
(em idade de serviço militar) se vê implicado em uma guerra que legalmente
não existe, da qual seu país não participa. Tal “cidadão”, cujo objeto de de-
sejo sexual ou cuja língua não é o majoritário, aparenta normalizar-se para
não ser discriminado. Tal “cidadã” se esteriliza por temor de perder seu em-
prego. Tal “cidadão” ancião aguarda durante anos o reconhecimento de
uma pensão, de uma obrigação do estado, a revisão de um juízo...
(CAPELLA, 1998, p. 131)
Mas há mais:
Hordas de cidadãos celebram o triunfo desportivo de um pentacampeonato
mundial de futebol ou do clube-empresa adotado emocionalmente com ala-
ridos e buzinaços e não se detém ante os hospitais, onde partidários da
mesma “equipe” estão morrendo. Multidões de “cidadãos” entram em tran-
ses garantidos, ritmicamente programados e às vezes publicamente sub-
vencionados, com duas guitarras multiplicadas por milhões de decibéis. As
“audiências” de “cidadãos” se disparam quanto mais vulgar é o programa da
televisão. Entram, atropeladamente, nos hipermercados para levarem todos
o mesmo produto, a mesma roupa, comercialmente distinta, isso sim, da
comprada da vez anterior. Todos os “cidadãos” viram as fotos, reproduzidas
bilhões de vezes, dos mesmos ídolos: um homem musculoso fora de toda
medida, uma mulher meio nua e de gestos obscenos fora de toda medida:
ambos cotidianizados, banalizados, normalizados, portanto. Milhões de “ci-
dadãos” desfrutam o privilégio de chaves-mestra personalizadas: cartões de
crédito, de clube, de hipermercados, “individuais”. Multidões imensas de “ci-
dadãos” consomem drogas, cujo tráfico denuncia seu jornal favorito, o qual
se alarma pelo “fracasso escolar” dos futuros cidadãos, que abrem com te-
levisor e música de moda o livro de texto. Os “cidadãos” se integram aos
anúncios publicitários das roupas que vestem, dos motores que lhes trans-
portam. Extasiam-se com os espetáculos de Estado: panis et circenses,
com controle remoto (CAPELLA, 1998:132).
E o que é mais interessante é que este fenômeno da decadência da cidada-
nia não é apenas brasileiro, está inserido num contexto global, de Sumatra aos Es-
tados Unidos da América.
Diante disto convém perguntar: estes “cidadãos” estão aptos civicamente a
exigirem alguma coisa?
Na música de Gilberto Gil, intitulada Rep,13 se demonstra muito claramente o
problema de se deixar nas mãos do povo a direção de suas vidas:
13
CD: O Sol de Oslo.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 159 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
o povo sabe o que quer
mas o povo também quer o que não sabe
o que não sabe o que não saberia
porque morreria sem poder provar
como provar a pílula com a ponta da língua
receber o choque elétrico e saber
poder matar a fome é pra quem come
é claro
não apenas pra que vê comer
assim feito a criança pobre esfarrapada
come a feijoada que vê na tv
essa criança quer o que não come
quer o que não sabe
quer poder viver
assim como viveu um galileu um newton
e outros muitos pais do amanhã
esses eu provam que a terra é redonda
e a gravidade é a simples queda da maçã
que dão ao povo os frutos da ciência
sabores sem os quais a vida é vã
o povo sabe o que quer
mas o povo também quer o que não sabe
CONCLUSÃO
O direito deve acima de tudo atuar como instrumento da reforma social. Os
fatos criam o Direito. Portanto não pode nossa ciência ficar à margem do processo
social que estamos passando. Analisando a história se verá que os fatos sociais
sempre precederam o Direito. Assim, o que antes era antijurídico passou a ter uma
previsão legal.
A revolução francesa é um marco neste aspecto. Quem conceberia a igual-
dade entre as pessoas antes da revolução francesa?
Infelizmente não pudemos estudá-la muito neste trabalho, mas Immanuel
Kant, em 1784 publicou uma breve exposição de sua teoria política, sob o título O
Princípio Natural da Ordem Política Considerado em Conexão com a Idéia de Uma
História Cosmopolita Universal. Ele começa reconhecendo, na luta de cada um con-
tra todos – que tanto choca Hobbes –, o método usado pela natureza para desen-
volver as capacidades ocultas da vida; a luta é o indispensável acompanhamento do
progresso. Se os homens fossem inteiramente sociais, o homem estagnaria; uma
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 160 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
certa liga de individualismo e competição é necessária para fazer com que a espécie
humana progrida – do contrário não haveria o porque evoluir!
O homem deseja a concórdia; mas a natureza é quem sabe o que é bom
para a sua espécie; e ela deseja a discórdia, a fim de que o homem possa
ser impelido a um novo emprego de seus poderes e a um maior desenvol-
vimento de suas capacidades naturais (WILL DURANT, 1998, p. 29).
A Idéia de Kant vem reforçar a "Teoria dos Opostos" de Anaximandro, que
afirmava que os elementos antagônicos voltam ao ilimitado para reparar suas trans-
gressões mútuas. E Heráclito para quem o mundo real consiste de um ajuste equili-
brado de tendências opostas.
O homem busca a harmonia que é o ajuste equilibrado de tendências opos-
tas. Assim, a luta é o motivo principal que mantém vivo o mundo. Neste sentido lógi-
co é que devemos tomar a afirmação de que a guerra é a origem de tudo.
A priori o tema explorado poderia ser entendido como uma prédica à insu-
bordinação social, mas na verdade se pode mostrar que é ele um clamor de mudan-
ça que deve ser reconhecido pelo Direito.
Durante muito tempo a Igreja Católica dominou o mundo, seja por uma coer-
ção moral ou mesmo pela força, e buscou embasamento nas epístolas de São Pau-
lo, principalmente. Esse foi o pensamento da Idade Média até então – e porque não
insistir até mesmo hoje? – onde a obediência às autoridades era a obediência a
Deus e só então se conseguiria o Paraíso.
Ilações à parte, durante muito tempo se questionou se o valor moral da obe-
diência predominava sobre a imoralidade da ordem. A partir de Kant e de sua doutri-
na da moralidade e dignidade da pessoa como valor absoluto os pensamentos da
desobediência tomam outro rumo. Pensadores como Thoreau inspiraram, por exem-
plo, Gandhi a fazer sua revolução não violenta pela desobediência civil e conseguiu
a independência de seu país do imperialismo britânico.
De acordo com Gandhi,
Ninguém é obrigado a cooperar em sua própria perda ou em sua própria es-
cravidão...A Desobediência Civil é um direito imprescritível de todo cidadão.
Não pode renunciar a ela sem deixar de ser homem. A democracia não é
para os que se portam como cordeiros. Em um regime democrático, cada
indivíduo mantém zelosamente sua liberdade de opinião e de ação. Cada
cidadão é a si mesmo responsável por tudo que faz o seu governo; ele tem
que lhe emprestar todo seu apoio enquanto aquele governo vá tomar deci-
sões aceitáveis. Mas o dia dentro que a equipe que está no poder faça dano
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 161 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
à nação, cada um dos cidadãos tem a obrigação do se retirar seu apoio
(MULLER, 1996, p. 240).
Hans Kelsen fracassou em sua tentativa de demonstrar os pressupostos da
desobediência civil em seu artigo “Por que os homens devem obedecer a lei” porque
partiu apenas da ótica positivista. Sua crítica ao jusnaturalismo de certa forma é bem
fundamentada, mas não totalmente. Os homens não desobedecem às leis por serem
consideradas como injustas; apenas por serem contrárias à justiça “natural”. Os ho-
mens desobedecem estas leis porque não se sentem bem, porque lhes angustia um
ordenamento que não garantem determinados direitos adquiridos no passado ou
adquiridos por outros povos.
Toda lei que ferir os direitos fundamentais do homem poderá e deverá ser
desobedecida, pacificamente, não apenas pelo fato de seus direitos estarem real-
mente garantidos, mas pelo fato de que tal conduta vem corroborar e fazer jus ao
caráter e à integridade física e moral do homem. Tal prática demonstra que os direi-
tos fundamentais do homem se fazem merecer por ele próprio, tendo em vista que
os homens não são objetos e sim sujeitos de direitos.
O direito à desobediência civil demonstra a capacidade coletiva do homem
em resistir a ordens emanadas de um poder não legitimado ou em desconformidade
com a vontade soberana do povo.
Com ela o homem consegue resgatar a mais pura essência de sua existên-
cia no mundo. Tem um motivo para viver e para morrer que é a construção de um
mundo melhor.
Assim, chega-se à filosofia existencialista. Ao se deparar com o Direito a
doutrina existencialista sofre por uma falta de campo de atuação.
A composição entre ambos não se opera notadamente, por três razões: a)
incapacidade de o Direito captar a verdade existencial que se desenrola na
consciência individual; b) a característica de generalidade dos preceitos ju-
rídicos; c) a subordinação dos juízes a esquemas normativos fechados
(NADER, 2000, p. 236).
A doutrina existencialista se manifesta no panorama jurídico pela adoção de
teses historicistas e positivistas.
Cada ser humano possui as suas peculiaridades, seu modo de ser, sua e-
xistência própria. Em lugar de submeter os indivíduos a uma camisa de for-
ça, mediante padrões uniformes, o Direito deve abrir espaço para as prefe-
rências e personalizar os métodos jurídicos. Esse amoldamento do fenôme-
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 162 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
no jurídico às condições individuais constitui propriamente a eqüidade, que
significa uma adaptação da norma ao figurino do caso concreto, à justiça do
fato real (NADER, 2000, p.235).
Assim, conduta e existência complementam-se mutuamente no sentido de
não haver vida humana sem conduta, como não há conduta humana sem vida vivi-
da.
Todavia para um grupo de pessoas, de subordinados, de cidadãos de de-
terminada região ou nação deve conseguir ter em mente todos os fundamentos sub-
jetivos acima citados. Além disso, também se opina que a resistência seja pela for-
ma da desobediência civil, a melhor forma de resistência até então empregada pela
humanidade e que a história pode confirmar.
Em relação ao povo brasileiro, que convive com inúmeras mazelas sociais e
figura dentre os países mais desiguais socialmente, está aí a proposta para um ins-
trumento de mudança. Mas uma advertência: da mesma maneira que uma faca não
deve ser manuseada por uma criança, pois pode muito facilmente se ferir, um povo
despreparado não poderá empregar a desobediência civil com êxito na busca pela
construção de uma melhor nação.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOFF, Leonardo. Depois de 500 anos Que Brasil Queremos? Petrópolis/RJ: Edi-
tora Vozes, 2000.
BENNETT, William J. O Livro das Virtudes. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira,
1995.
CAPELLA, Juan Ramón. Os cidadãos servos. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris
Editor, 1998.
________. Fruto Proibido – uma aproximação histórico-teórica ao estudo do
Direito e do Estado. Porto Alegre: Editora livraria do Advogado, 2002.
DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Editora Rocco,
2001.
DURANT, Will. A História da Filosofia. São Paulo: Editora Record, 1998.
DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. São Paulo: Editora Martins Fontes,
2000 – (Justiça e Direito).
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 163 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
EINSTEIN, Albert. Como vejo o mundo. 22ª edição. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, 1981.
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, volu-
mes I e II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
HOUTART, François & POLET, François. O Outro Davos – Mundialização de re-
sistências e lutas. São Paulo: Editora Cortez, 2002.
KELSEN, Hans. O que é Justiça? São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001 – (Justi-
ça e Direito).
LIMA, Oliveira. História da Civilização. São Paulo: Melhoramentos, 1998.
MAESTRI, Mário. O cristianismo foi alguma vez revolucionário? Disponível em
http://www.zonanon.org/plural/doc93.html, Aceso em 03.03.2003.
MELO, Frederico Alcântara de. John Rawls: uma noção de Justiça. Paper apre-
sentado para a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Disponível
em <http://www.fd.unl.pt/pt/wps/wp009-01.doc>. Acesso em 04.03.2003.
MIRABETE, Julio Fabrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Editora Atlas,
1999.
MULLER, Jean-Marie. O Princípio de Não-Violência - percurso filosófico. Lisboa:
Instituto Piaget, 1996.
NADER, Paulo. Filosofia do Direito. 8ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2000.
NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falou Zaratustra. São Paulo: Editora Martin Claret,
2001.
NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Manual da Monografia Jurídica. São Paulo: Editora
Saraiva, 2001.
PHILIPPI, Jeanine Nicolazzi. A lei: uma abordagem a partir da leitura cruzada
entre direito e psicanálise. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.
RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1997 –
(Justiça e Direito).
ROSENFIELD, Denis L. Hegel. Rio de Janeiro: Jorge Zaar Editor, 2002. (coleção
Filosofia Passo a Passo).
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social – Princípios do Direito Político.
Tradução e notas de Edson Bini; Bauru/SP: Edipro, 2000.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 164 Jul.-Dez./2010
Jus Societas – ISSN 1981-4550
SANTOS, Boaventura de Souza. A Crítica da Razão Indolente – contra o desper-
dício da experiência – para um novo senso comum: a ciência, o direito e a polí-
tica na transação paradigmática. São Paulo: Editora Cortez: 2001.
SÉGUIN, Elida (coordenadora). Direito das Minorias. Rio de Janeiro: Editora Fo-
rense: 2001.
SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Renda de cidadania: a saída é pela porta. São
Paulo: Editora Cortez: Fundação Perseu Abramo, 2002.
THOREAU, Henry David. A Desobediência Civil e outros escritos. São Paulo: Edi-
tora Martin Claret, 2001.
Jus Societas Ji-Paraná – RO – CEULJI/ULBRA Vol. 3 - n. 5 p. 165 Jul.-Dez./2010
Você também pode gostar
- STJ Revista Eletronica 2016 - 241 - Capdoutrina PDFDocumento240 páginasSTJ Revista Eletronica 2016 - 241 - Capdoutrina PDFAngelo PauloAinda não há avaliações
- Direito Constitucional à Gestão por Resultados: Mentalidade Jurídica (Legal Mindset), Ciclo da Política Pública (PDCA) e controle judicial por meio do processo estruturalNo EverandDireito Constitucional à Gestão por Resultados: Mentalidade Jurídica (Legal Mindset), Ciclo da Política Pública (PDCA) e controle judicial por meio do processo estruturalAinda não há avaliações
- CCJ0058 WL B REV Direitos Humanos Revisão AV1 PDFDocumento10 páginasCCJ0058 WL B REV Direitos Humanos Revisão AV1 PDFWallace RibeiroAinda não há avaliações
- Tema 6-Ied-Parte 2 - Tít II-cap V (Fundamento Do Direito) - Dtavares 2018-19Documento28 páginasTema 6-Ied-Parte 2 - Tít II-cap V (Fundamento Do Direito) - Dtavares 2018-19ManuelaAinda não há avaliações
- Juventude transgênera: um contemplar ético-jurídico a partir da utilização de bloqueadores hormonais na puberdadeNo EverandJuventude transgênera: um contemplar ético-jurídico a partir da utilização de bloqueadores hormonais na puberdadeAinda não há avaliações
- Calmon de Passos - 2009 - Há Um Novo Moderno Processo Civil Brasileiro - Revista Eletrônica Sobre A Reforma Do EstadoDocumento9 páginasCalmon de Passos - 2009 - Há Um Novo Moderno Processo Civil Brasileiro - Revista Eletrônica Sobre A Reforma Do EstadoMax WormAinda não há avaliações
- O Backlash e a Legitimação Democrática do Judiciário: análise exemplificada pela Prisão em Segunda InstânciaNo EverandO Backlash e a Legitimação Democrática do Judiciário: análise exemplificada pela Prisão em Segunda InstânciaAinda não há avaliações
- Resumo 2775420 Thiago Silva Medeiros 295625070 Direitos Humanos Exclusivo para Carreira 1684352002Documento4 páginasResumo 2775420 Thiago Silva Medeiros 295625070 Direitos Humanos Exclusivo para Carreira 1684352002Bodybuilder AnônimoAinda não há avaliações
- Parâmetros para a fixação pecuniária dos danos morais no Brasil: ideologia e preçoNo EverandParâmetros para a fixação pecuniária dos danos morais no Brasil: ideologia e preçoAinda não há avaliações
- Aritgo Joseli - Do Livro Pandemia e Direitos FundamentaisDocumento36 páginasAritgo Joseli - Do Livro Pandemia e Direitos FundamentaisNicolas MendesAinda não há avaliações
- Dos Direitos Naturais Aos Direitos Positivos - Uma Abordagem Epistemológica Da Fundamentação Dos Direitos SociaisDocumento20 páginasDos Direitos Naturais Aos Direitos Positivos - Uma Abordagem Epistemológica Da Fundamentação Dos Direitos SociaisWagner BertonAinda não há avaliações
- CA - 131 Jusnaturalismo Joao Emilio e OutrosDocumento13 páginasCA - 131 Jusnaturalismo Joao Emilio e OutrosHugo Dias FerrazAinda não há avaliações
- A Relativização Dos Direitos e Garantias FundamentaisDocumento12 páginasA Relativização Dos Direitos e Garantias FundamentaisWanessa CalixtoAinda não há avaliações
- Poderá Ser o Direito Um Espaço de EmancipaçãoDocumento3 páginasPoderá Ser o Direito Um Espaço de EmancipaçãojoaoAinda não há avaliações
- 97-Texto Do Artigo-1209-1-10-20190221Documento11 páginas97-Texto Do Artigo-1209-1-10-20190221Ana Clara VasconcelosAinda não há avaliações
- 1 Semestre - IFPCDocumento362 páginas1 Semestre - IFPCThaixe EvangelistaAinda não há avaliações
- Resumo Do Livro Era Dos Direitos - Passei DiretoDocumento20 páginasResumo Do Livro Era Dos Direitos - Passei DiretoThaissaAinda não há avaliações
- 3812 11551 1 PBDocumento16 páginas3812 11551 1 PBRodrigo SartotiAinda não há avaliações
- Filosofia JurídicaDocumento15 páginasFilosofia JurídicaClairton RochaAinda não há avaliações
- Artigo. Rabenhorst - O Que São DHDocumento9 páginasArtigo. Rabenhorst - O Que São DHchico323Ainda não há avaliações
- 1 Poder Constituinte Carreiras Jurídicas CEI Direito ConstitucionalDocumento26 páginas1 Poder Constituinte Carreiras Jurídicas CEI Direito ConstitucionalDouglasAinda não há avaliações
- Revista Latino Americana Derecho ReligionDocumento43 páginasRevista Latino Americana Derecho ReligionAna Paula SequeiraAinda não há avaliações
- Apostila de Introdução Ao Estudo Do DireitoDocumento58 páginasApostila de Introdução Ao Estudo Do DireitoMaira ReginaAinda não há avaliações
- Jusnaturlista Grupo 1Documento11 páginasJusnaturlista Grupo 1quessongoantonio7Ainda não há avaliações
- A Ideia de Justiça No Conceito Pós-Positivista E Sob A Ótica Da Teoria Estruturante Do Direito de Friedrich MüllerDocumento25 páginasA Ideia de Justiça No Conceito Pós-Positivista E Sob A Ótica Da Teoria Estruturante Do Direito de Friedrich MüllerFernanda MesquitaAinda não há avaliações
- Uma Visão Sobre A Adoção Após A Constituição de 1988Documento3 páginasUma Visão Sobre A Adoção Após A Constituição de 1988GR510630Ainda não há avaliações
- 01-09 Teoria Da ConstituiçãoDocumento59 páginas01-09 Teoria Da ConstituiçãoJunior LopesAinda não há avaliações
- Redução Da Maioridade PenalDocumento286 páginasRedução Da Maioridade PenalAltecir Bertuol JuniorAinda não há avaliações
- Revista Pergunte e Responderemos - ANO III - No. 035 - NOVEMBRO DE 1960Documento46 páginasRevista Pergunte e Responderemos - ANO III - No. 035 - NOVEMBRO DE 1960Apostolado Veritatis Splendor100% (1)
- Jusnaturalismo e Juspositivismo PDFDocumento6 páginasJusnaturalismo e Juspositivismo PDFRobertoSantosAinda não há avaliações
- Resumo - Direitos HumanosDocumento47 páginasResumo - Direitos HumanosMARCIO GONAAinda não há avaliações
- GT7 ReligiaoemoralDocumento10 páginasGT7 ReligiaoemoralElton Julião nhanombeAinda não há avaliações
- SILVA, Denival Francisco Da e Outros (Org) - Sistema - Punitivo - Direitos - e - Humanos - 2012Documento228 páginasSILVA, Denival Francisco Da e Outros (Org) - Sistema - Punitivo - Direitos - e - Humanos - 2012Denival SilvaAinda não há avaliações
- Pensar Direito02Documento90 páginasPensar Direito02AnaCarolina1992Ainda não há avaliações
- A Política Da Pena MínimaDocumento11 páginasA Política Da Pena MínimafilomarcosaduarteAinda não há avaliações
- Introdução Ao Estudo Do DireitoDocumento70 páginasIntrodução Ao Estudo Do DireitoVanessa OliveiraAinda não há avaliações
- Responsabilidade Penal Da Pessoa Juridica PDFDocumento31 páginasResponsabilidade Penal Da Pessoa Juridica PDFLarissa Sant'AnnaAinda não há avaliações
- Apostila de Introdução Ao Estudo Do Direito CintiaDocumento48 páginasApostila de Introdução Ao Estudo Do Direito CintiaLaryssa PinheiroAinda não há avaliações
- Ojsadmin, Artigo Forest & Vial 62-76Documento15 páginasOjsadmin, Artigo Forest & Vial 62-76Waldemar NetoAinda não há avaliações
- Fiorelli e Mangini - DH e Cidadania (P. 497-520)Documento26 páginasFiorelli e Mangini - DH e Cidadania (P. 497-520)FrancianeAinda não há avaliações
- 01 Rabenhorst Oqs DHDocumento9 páginas01 Rabenhorst Oqs DHBrian AlexanderAinda não há avaliações
- A Dignidade Da Pessoa Humana e Os Direitos FundamentaisDocumento9 páginasA Dignidade Da Pessoa Humana e Os Direitos FundamentaisEsdras ArthurAinda não há avaliações
- TCC Direito - Direito Fundamental InternetDocumento14 páginasTCC Direito - Direito Fundamental InternetEdioseffer Lobão de SousaAinda não há avaliações
- O Que É Direito Alternativo?Documento21 páginasO Que É Direito Alternativo?Karen de Souza LimaAinda não há avaliações
- Curso de Direito AmbientalDocumento68 páginasCurso de Direito AmbientalAntonio Leandro Fagundes SarnoAinda não há avaliações
- Direito Natural e JusnaturalismoDocumento6 páginasDireito Natural e JusnaturalismoJoana BarbosaAinda não há avaliações
- Direitos HumanosDocumento59 páginasDireitos Humanosnatalia alvesAinda não há avaliações
- Hugo Grotius Direito Natural e DignidadeDocumento6 páginasHugo Grotius Direito Natural e DignidadeAntonio Glauton Varela RochaAinda não há avaliações
- E Book Como Estudar para ProvasDocumento14 páginasE Book Como Estudar para ProvasThiagoMelo JuridicoAinda não há avaliações
- Fil DireitoDocumento8 páginasFil DireitoGervásio André PedroAinda não há avaliações
- Art PUC SP Direito Natural e Jusnaturalismo BibliotecaDocumento19 páginasArt PUC SP Direito Natural e Jusnaturalismo BibliotecaJosé Alberto MartinsAinda não há avaliações
- 1980 Lyra Filho O Direito Que Se Ensina ErradoDocumento32 páginas1980 Lyra Filho O Direito Que Se Ensina ErradoBrunoAinda não há avaliações
- CAMBI, Neoconstitucionalismo e NeoprocessualismoDocumento44 páginasCAMBI, Neoconstitucionalismo e NeoprocessualismoFilipe AlcântaraAinda não há avaliações
- Exercicio Fixação 3 Doutrina Politica Liberalismo ILBDocumento5 páginasExercicio Fixação 3 Doutrina Politica Liberalismo ILBNicolas SantosAinda não há avaliações
- A Doutrina Jusnaturalista Ou Do Direito NaturalDocumento7 páginasA Doutrina Jusnaturalista Ou Do Direito NaturalElaine DiasAinda não há avaliações
- Trabalho Avaliativo CELSODocumento2 páginasTrabalho Avaliativo CELSOSandro Fortes100% (1)
- Deveres ConstitucionaisDocumento47 páginasDeveres ConstitucionaiscibanezcibanezAinda não há avaliações
- Direito ConstitucionalDocumento11 páginasDireito ConstitucionalN_MendizabalAinda não há avaliações
- Texto 1 - Unidade 2Documento3 páginasTexto 1 - Unidade 2chrisencAinda não há avaliações
- Rosemiro Pereira Leal - Direitos Fundamentais Do Processo Na Desnaturalização Dos Direitos Humanos PDFDocumento17 páginasRosemiro Pereira Leal - Direitos Fundamentais Do Processo Na Desnaturalização Dos Direitos Humanos PDFchrisencAinda não há avaliações
- VenireDocumento6 páginasVenirechrisencAinda não há avaliações
- Giambatista VicoDocumento10 páginasGiambatista Vicovj_almeida9392Ainda não há avaliações
- HABERMAS - 3 Modelos Normativos de Democracia PDFDocumento158 páginasHABERMAS - 3 Modelos Normativos de Democracia PDFchrisenc100% (1)
- LEAL, Rosemiro Pereira - Due Process e o Devir Processual Democrático PDFDocumento17 páginasLEAL, Rosemiro Pereira - Due Process e o Devir Processual Democrático PDFchrisencAinda não há avaliações
- 03 - Ana - Paula - Sottomayor. o Anonimago Dos Bravos de Salamina Nos Persas de EsquiloDocumento7 páginas03 - Ana - Paula - Sottomayor. o Anonimago Dos Bravos de Salamina Nos Persas de EsquilochrisencAinda não há avaliações
- Giambatista VicoDocumento10 páginasGiambatista Vicovj_almeida9392Ainda não há avaliações
- Novos Olhares para Os Antigos PDFDocumento464 páginasNovos Olhares para Os Antigos PDFsilasrm100% (1)
- Triunfo Das Nulidades PDFDocumento1 páginaTriunfo Das Nulidades PDFchrisencAinda não há avaliações
- Aristoteles - Metafisica Etica A Nicomaco Politica 1 PDFDocumento15 páginasAristoteles - Metafisica Etica A Nicomaco Politica 1 PDFchrisencAinda não há avaliações
- Weber - Parlamento e Governo Na Alemanha Reordenada (Prefácio, 1,2,3,5)Documento192 páginasWeber - Parlamento e Governo Na Alemanha Reordenada (Prefácio, 1,2,3,5)Aline Sales100% (1)
- Ricardo Tie Ride BritoDocumento102 páginasRicardo Tie Ride BritochrisencAinda não há avaliações
- Evangelista, Roberto. Educacao e Virtude Na Republica de Platao (1) - Notas - Paisagem f09 p3Documento2 páginasEvangelista, Roberto. Educacao e Virtude Na Republica de Platao (1) - Notas - Paisagem f09 p3chrisencAinda não há avaliações
- Revista Cult Jean Pierre Vernant, Um Helenista Nas BarricadasDocumento1 páginaRevista Cult Jean Pierre Vernant, Um Helenista Nas BarricadaschrisencAinda não há avaliações
- ARQUIVO Asvinhasdaira, oepicodaGrandeDepressaoDocumento8 páginasARQUIVO Asvinhasdaira, oepicodaGrandeDepressaochrisencAinda não há avaliações
- Guias para Investidores Estrangeiros PDFDocumento1 páginaGuias para Investidores Estrangeiros PDFchrisencAinda não há avaliações
- Mayer Arno J A Forca Da Tradicao A Persistencia Do Antigo RegimeDocumento8 páginasMayer Arno J A Forca Da Tradicao A Persistencia Do Antigo RegimechrisencAinda não há avaliações
- Filosofia Contemporânea Miller Igualdade ComplexaDocumento3 páginasFilosofia Contemporânea Miller Igualdade ComplexachrisencAinda não há avaliações
- InteiroTeor 10105041233310001Documento4 páginasInteiroTeor 10105041233310001chrisencAinda não há avaliações
- A Intervenção Do Estado Na Economia Por Meio Das Políticas Fiscal e Monetária - Uma Abordagem Keynesiana - Revista Jus Navigand BDocumento7 páginasA Intervenção Do Estado Na Economia Por Meio Das Políticas Fiscal e Monetária - Uma Abordagem Keynesiana - Revista Jus Navigand BchrisencAinda não há avaliações
- InteiroTeor 10105041233310001Documento4 páginasInteiroTeor 10105041233310001chrisencAinda não há avaliações
- Síria - Intervenção Estrangeira Philippe Bacelete DemetrioDocumento25 páginasSíria - Intervenção Estrangeira Philippe Bacelete DemetrioPhilippe BaceleteAinda não há avaliações
- Histria 2ano 2B ComcdigoDocumento13 páginasHistria 2ano 2B ComcdigoGleison GomesAinda não há avaliações
- AS PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DA HISTORIOGRAFIA AFRICANA Um Olhar Sobre A História MoçambicanaDocumento19 páginasAS PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DA HISTORIOGRAFIA AFRICANA Um Olhar Sobre A História MoçambicanaCoroa FernandesAinda não há avaliações
- Direito Adminisrativo, Aula 1 A 3Documento20 páginasDireito Adminisrativo, Aula 1 A 3AGER FiscalizaçãoAinda não há avaliações
- Dieta Do GuerreiroDocumento14 páginasDieta Do GuerreiropeterbragaAinda não há avaliações
- Transporte Mecânico de CargasDocumento18 páginasTransporte Mecânico de Cargasschultes_s8084Ainda não há avaliações
- Kit de Personagens - D&D 5eDocumento11 páginasKit de Personagens - D&D 5eVinicius Ribeiro Botelho DrummondAinda não há avaliações
- Assistir HD Cronicas de Natal 2021 Dublado Filme Online Gratis em PortugueseDocumento6 páginasAssistir HD Cronicas de Natal 2021 Dublado Filme Online Gratis em PortuguesexzsAinda não há avaliações
- Descobrimentos e As Marcas Da GlobalizaçãoDocumento24 páginasDescobrimentos e As Marcas Da GlobalizaçãoEcfAinda não há avaliações
- Recuperação de História 9º Ano.Documento8 páginasRecuperação de História 9º Ano.Daniel Honorato HonoratoAinda não há avaliações
- Formação Econômica, Histórica e Política Do BrasilDocumento97 páginasFormação Econômica, Histórica e Política Do BrasilSuzi Marinho100% (1)
- Dragon Age - Guia Do JogadorDocumento66 páginasDragon Age - Guia Do JogadorSolon Macedonia SoaresAinda não há avaliações
- IlíadaDocumento41 páginasIlíadacamilamataveigaAinda não há avaliações
- CURSINHO-Aula 4 - América Pré-Colombiana-2024Documento2 páginasCURSINHO-Aula 4 - América Pré-Colombiana-2024Ely Carlos SantosAinda não há avaliações
- Batalhão AzovDocumento3 páginasBatalhão AzovajgrelhaAinda não há avaliações
- Livro - Indigenas e Espaços 2023Documento249 páginasLivro - Indigenas e Espaços 2023Lenin CamposAinda não há avaliações
- A Aplicação Da Psicanálise À EducaçãoDocumento10 páginasA Aplicação Da Psicanálise À EducaçãoMarcia LopesAinda não há avaliações
- Edital CATE 2014Documento11 páginasEdital CATE 2014ribeirolucAinda não há avaliações
- Ernst Junger  A Guerra Como Experiencia InteriorÂDocumento2 páginasErnst Junger  A Guerra Como Experiencia InteriorÂ777788880% (1)
- O Castelo de Faria, de Alexandre HerculanoDocumento4 páginasO Castelo de Faria, de Alexandre HerculanoMarylightGoisAinda não há avaliações
- Resultado EE - C-FSG-MU2020Documento13 páginasResultado EE - C-FSG-MU2020Lukas MouraAinda não há avaliações
- Studart 1965 AboriginesDoCearaDocumento186 páginasStudart 1965 AboriginesDoCearaAlexsandro Wagner de Araújo100% (3)
- Banco de Questões PASDocumento3 páginasBanco de Questões PASHayane KimuraAinda não há avaliações
- Ciencias Humanas e Suas TecnologiasDocumento24 páginasCiencias Humanas e Suas TecnologiasOSÉIAS CASTROAinda não há avaliações
- Plano Estrategico Do Exercito 2020-2023Documento64 páginasPlano Estrategico Do Exercito 2020-2023Vania Semedo SoaresAinda não há avaliações
- Conhecer Aristides de Sousa MendesDocumento8 páginasConhecer Aristides de Sousa MendesAstter TemponiAinda não há avaliações
- GILL, Stephen. Globalização, Civilização de Mercado e Neoliberalismo Disciplinar. (PDF)Documento25 páginasGILL, Stephen. Globalização, Civilização de Mercado e Neoliberalismo Disciplinar. (PDF)RodrigoAinda não há avaliações
- Relações Internacionais (Apostila)Documento138 páginasRelações Internacionais (Apostila)Wendell AndradeAinda não há avaliações
- Relcon - CrisedopetroleoDocumento60 páginasRelcon - CrisedopetroleoGabriel FernandesAinda não há avaliações
- AULA01 - ErgonomiaDocumento6 páginasAULA01 - Ergonomiaapi-3704990Ainda não há avaliações