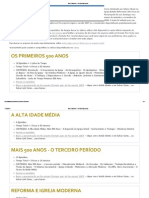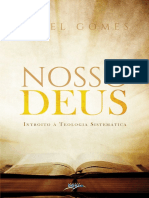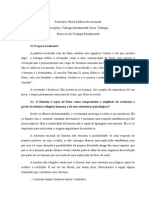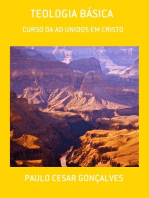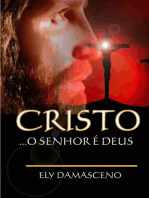Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Boulanger - Livro - Manual de Apologética
Boulanger - Livro - Manual de Apologética
Enviado por
Alexandre GomesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Boulanger - Livro - Manual de Apologética
Boulanger - Livro - Manual de Apologética
Enviado por
Alexandre GomesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PORTO
Edies A. I.
Rua de Cedofeita, 628
SEGUNDAEDIO
LIVRARIA APOSTOLADO DA IMPRENSA
PORTO
A. BOULENGER
MANUAlI
DE
APOLOG'I'ICA
RESUMIDOE ADAPTADO
DA7.a EDIOFRANCESA
POR
G . P.
Apologtica
Apologtica
Apologtica
b) conforme a
1
1 . extrn-
naturezaseco.
dos argu-1 2. intrin-
mentos, !seco.
tradicional.
moderna.
modernista.
INTRODUO
NOESGERAIS
A. Justificao da f catlica,Motivos
de credibilidade,
Confirmar os crentes. Converter os
{ indiferentes e os ateus,
B, Refutar as objeces dos anticrentes.
( A. Base da f,
t B, Condio necessria da teologia.
Deus.
0 homem
Suas relaes,
A Religio,
Demonstrao da
religio crist.
Demonstrao da
Igreja Catlica,
racional na parte filosfica.
( a) conforme o 1 . descen-
ponto de ! dente.
partida. 2. - ascen-
B. histrico.
1.a Parte. Predrnbulos da f.
2.a Parte. A verdadeira Religio.
3,a Parte. A verdadeira Igreja.
3. Fim.
{
1
B, Defesa da f catlica.
A.
4.Importncia.
5. Diviso.
6.Mtodos.
7.Histria.
(
8.Plano da obra.
( A.
A.
B ,
C .
A.
B ,
C ,
dente.
Imprimi potest.
Olysipone, 1 3 iunii 1 950.
Josephus Leite, S. J.
Vice-Praep. Prov. Lusit.
Pode imprimir-se.
Porto, 1 4 de Junho de 1 950.
Mores. Pereira Lopes
Vii[tirio Gero!.
Traduco autorizada pela Livraria Catlico.:.
Emmanuel Vitte sde Lio; que alis reserva.
todos os seus direitos.
IMPRENSAMO:DERNA. LTD.
R. da Fbrica, SO Porto
Definio.
Objecto.
f
a)
Parte filosfica. b)
c)
(a)
histrica.
) b)
L
A,
1
B , Parte
FIM E IMPORTNC IA DA APOLOGTIC A7
DESENVOLVIMENTO
I. Apologtica.(Objecto.
1 . Definio. Etimolgicamente, a palavra apolog-
tica (do grego apolgticos , apologia) significa justificao,
defesa, Apologtica , pois, a justificao e defesa da f
catlica.
2. Objecto. A apologtica tem doisfins;
a) Justificao da f catlica. Considerando a religio
no seu fundamento (isto , no facto da revelao crist, de
que a Igreja Catlica se diz a nica depositria fiel), a apolo-
gtica expe os motivos de credibilidade, que provam a sua
existncia. Deve portanto resolver este problema ; havendo
neste mundo tantasreligies, qual ser a verdadeira? Ora o
apologista catlico sustenta que s a sua f verdadeira, e
que o na realidade; deve, pois, provar esta assero. Este
primeiro trabalho constitui a apologtica demonstrativa ou
construtiva.
b) Defesa da f catlica. A apologtica no s apre-
senta osttulosque tornam a Igreja Catlica credora da nossa
adeso, mastambm enfrenta osadversrios, respondendo
aosseusataques, E como osataquesvariam com aspocas
segue-se que deve evolucionar e renovar-se incessantemente,
pondo de parte asobjecesantiquadase apresentando-se no
campo escolhido pelosadversrios, para oscombatesda hora
presente, Sob este segundo aspecto, a apologtica tem um
carcter negativo, e chama-se apologtica defensiva.
3. Corolrio. Apologtica e apologia. No so
termossinnimos, Apologtica significa prpriamente cin-
cia da apologia, do mesmo modo que dogmtica significa
cincia do dogma, A apologtica a defesa cientfica do
Cristianismo pela exposio dasrazesem que se apoia,
Uma apologia uma defesa oposta a um ataque ( 1 ),
(1 ) IIETTINGER, Theol. fond. t. I.
O objecto da apologtica , portanto, maisgeral. A apo-
logia limita-se a defender um ponto da doutrina catlica no
campo do dogma, da moral, ou da disciplina. Prova, por
exemplo, que o mistrio da S S.ma Trindade no absurdo;
que acusar de interesseira a moral crist injustia; que
o celibato cristo no instituio digna de censura, mas
rica em vantagensinestimveis; e chega at a reabilitar a
memria de um santo. A apologia remonta sprimeiras
erasdo Cristianismo ; a cincia apologtica aparece mais
tarde, e est sempre em via de formao ou, pelo menos,
de aperfeioamento.
I I, Fim e importncia da Apologtica.
4. Fim.Do objecto da Apologtica (n. 2) deduz-se
claramente o fim que se prope,
A. Enquanto demonstrativa, dirige-se no s ao crente,
mastambm ao indiferente e ao ateu ; a) ao crente para o
arraigar nassuasconvices, mostrando-lhe osslidosfunda-
mentosda sua f, iluminando-lhe a inteligncia e fortificando-
-lhe a vontade ; b) ao indiferente e ao ateu: ao primeiro,
para o convencer da importncia da questo religiosa e da
sem-razo da indiferena acerca deste assunto; ao segundo,
para o arrancar incredulidade; a ambos, finalmente, para
oslevar reflexo, ao estudo e converso ( 1 ),
B, Enquanto defensiva, a apologtica visa s osanti-
crentese tem por fim refutar osseuspreconceitose objec-
es. Dizemos anticrentes e no incrdulos, porque ordin-
riamente osincrduloslimitam-se a no crer, ao passo que
osanticrentestm uma religio especial a religio da
cincia, da humanidade, da democracia, da solidariedade, etc,
que dirigem contra a religio catlica.
5.Importncia. A importncia da apologtica de-
duz-se destesdoismotivos; a) o prembulo da f. Lem-
bremo-nos, que a f exige o concurso da inteligncia, da
(1 ) Ou se dirija aos crentes ou aos incrdulos, a apologtica tem sem-
pre , em vista levar as almas ic certeza do facto da revelacao. Ora h muitas
escolas filosficas one negam ao homem a capacidade de atingir a verdade.
Ser, pois, conveniente, antes de mais nada, resolver o problema da certeza
(Vid. cap. prel.).
8INTRODUO DIVISODAAPOLOGTICA9
vontade, e da graa. Ora, a misso da apologtica levar o
homem at ao limiar da f, torn-la possvel, provando que
racional ( 1 ). Se considerarmososfactos, a questo para
nsno existe, est resolvida antesda discusso; porque,
seja qual for a religio a que pertenamos, todosa recebemos
do nosso meio e da nossa educao ; veio-nospor intermdio
dosnossospaise dosnossosmestres. Muitosh que a acei-
tam sem discusso alguma, fundadossOmente na autoridade.
Maspode chegar um momento, em que a dvida assalte o
esprito, e seja necessrio armar a f contra osataquesini-
migos. No recomendava j S. Pedro aosprimeiroscristos
que andassem preparadospara dar razo da sua crena
quando lha pedissem ? (I Petr. III, 15), Hoje, ainda mais
do que ento, devem oscatlicosconhecer osmotivosda sua
f e saber explic-losaosoutros( 2 ),
b) A apologtica a condio necessria da teoloffia.
Com efeito, a exposio da doutrina catlica supe j a f, e
s tem em vista oscrentes. Donde se segue que apesar de
terem pontosde contacto e de se ocuparem igualmente da
revelao, diferem contudo no ponto de partida e no desen-
volvimento. De facto o apologista, s com o Instrumento da
razo, eleva-se dascriaturasao Criador, a um Deusrevela-
dor, e chega ao facto da Igreja docente; ao passo que a
teologia segue a ordem inversa ; partindo do ponto onde chega
a apologtica, isto , do magistrio infalvel da Igreja, expe
os ensinamentos da f.
TIL Diviso da A pologtica.
6. Como asrelaesentre Deuse o homem so o
fundamento da religio catlica, a apologtica deve tratar
de Deus, do homem e dassuasrelaesmtuas, Ora a
soluo dosproblemas, que dizem respeito a este trplice
(1 ) As provas, que o apologista nos fornece acerca do facto da revelao,
devem levar-nos a formar dois juzos a revelao manifesta-se-nos com evi-
(Felicia objectiva e portanto 6. digna de crdito (credibile est), juzo de credibili-
dade ; se e digna de credito, h obrigao de crer (credendum est), juzo de
credendidade. O primeiro 6 de ordem especulativa, dirige-se s intelign-
aia; o segundo vai mais longe, atinge a vontade:juzo uizo prtico.
(2) P, bom advertir que no se pode duvidar da f, embora seja permi-
tido sujeit-la a exame. Segundo o C onclio do Vaticano, os que receberam
objecto, pertence ao domnio da filosofia e da histria. Da
asduasgrandesdivises: a parte filosfica e a parte histrica,
7.-1. Parte filosfica. Pertencem filosofia os
problemasrelativos;
A. A Deus. Esta primeira seco trata da existncia de
Deus, da sua natureza e da sua aco (Criao e Providncia),
B. Ao homem. A segunda seco deve provar a
existncia da alma humana, duma alma espiritual, livre e
imortal.
C. As suas mtuas relaes. A terceira seco a
concluso dasduasprimeiras. Parte da natureza de Deuse do
homem, e tem por fim provar, no s assuasrelaesmtuas
e necessrias, masainda aquelascuja existncia possvel
presumir-se. Astrssecesda primeira parte constituem
o que se chama prembulos racionais da f.
8. I Parte histrica. Na segunda parte entramos
na questo de facto. Ora osfactospertencem histria.
E portanto com documentos histricos que o apologista deve
provar a existncia da revelao primitiva e moisaica, e final-
mente da revelao crist feita por JesusCristo, da qual a
Igreja depositria.
A parte histrica subdivide-se, pois, em duasseces; a
demonstrao crist, e a demonstrao catlica,
A. Demonstrao crista. Nesta primeira seco tra-
ta-se de provar a origem divina da religio crist, por sinais
ou critrios, que noslevem ao assentimento, So de duas
espcies a) critrios externos ou extrnsecos, isto , todos
osfactos, milagrese profeciasque, no podendo ter outro autor
seno Deus, nosforam dadospor Ele mesmo, para determinar
e confirmar a nossa f ; b) critrios internos ou intrnsecos,
isto , osque so inerentes doutrina revelada (n. 156).
B. Demonstrao catlica. Uma vez provada a ori-
a f pelo magistrio da Igreja nunca podem ter razo suficiente para a aban-
donar, ou pr em dvida.. (C onst. Dei Filius, C an. III e C an. VI). Aos que
dizem que 6 preciso fazer primeiro tbua rasa da f para chegar verdade,
responde Leibniz : Quando se trata de dar a razo das coisas, a dvida para
nada serve... Que se faa um exame para resolver a dvida..., passe. Mas que,
para examinar, seja necessrio comear por duvidar, 6. isso o que eu nego..
1 0 INTRODUO
gem divina da religio crist, o apologista deve demonstrar
que s a Igreja Catlica possui asnotasda verdadeira Igreja
fundada por JesusCristo.
9. Outro modo de demonstrao. Poderamosfun-
dir numa s asduassecesda parte histrica e fazer ime-
diatamente a demonstrao catlica, sem passar pela demons-
trao crist como intermediria. 0 apologista, que adopta
este mtodo, vai directamente Igreja Catlica. Apresenta-a
ornada de taiscaracteresque todospodem fcilmente v-la
e reconhec-la como a guarda e nica possuidora do dep-
sito da revelao, E isto pelo facto de s ela conservar
o imenso e maravilhoso tesoiro dasobrasdivinas, que mos-
tram at evidncia e credibilidade da f crist, e por ser
ela mesmo um facto divino, um grande e perene motivo de
credibilidade, pela sua admirvel propagao, eminente santi-
dade, fecundidade inesgotvel em toda a espcie de bens,
unidade catlica e invencvel estabilidade (I). Admitida a
credibilidade do magistrio divino da Igreja, falta s escutar
osseusensinamentos.
Tal , a largostraos, a apologtica demonstrativa.
Caminha sempre ao lado da apologtica defensiva, que lhe
prepara o terreno, refutando asobjecesdosadversriosna
parte filosfica e na parte histrica,
IV, Os mtodos da Apologtica.
10. 1, Definio. Mtodo apologtico o conjunto
de processos que osapologistasempregam para demonstrar a
verdade da religio crist.
11. 2. Espcies. Como o mtodo da apologtica
deve variar necessriamente segundo a natureza do assunto,
devemosdistinguir : a) o mtodo filosfico ou racional na
parte filosfica, onde se trata de comprovar pela razo a exis-
tncia e a natureza de Deuse da alma humana, e estabelecer
assuasrelaes; b) o mtodo histrico na segunda parte,
(I ) C onst. de Fide, c. III.
OS MTODOS DA APOLOGTICA 11
onde mister provar histericamente o facto da revelao,
0 mtodo histrico tem ainda diversosnomes, segundo o
processo que o apologista seguir.
1. Segundo o ponto de partida que se adoptar, h o
mtodo descendente e o ascendente, a) No mtodo descen-
dente, segue-se o caminho que indicmosno n. 8; vai da
causa ao efeito, de Deus sua obra, Remontando sorigens
do mundo, aduz sucessivamente asprovasda trplice Reve-
lao divina ; primitiva, moisaica e crist, b) No mtodo
ascendente, segue-se a ordem inversa da exposta no n. 9
vai de efeito causa, da obra ao autor. Partindo do facto
actual da Igreja, estabelece osttulosque lhe do direito
nossa crena. Depoisdisto, falta apenasouvir o seu teste-
munho acerca da revelao,
2, Segundo a natureza dos argumentos e a impor-
tncia que o apologista lhesatribui na demonstrao, temos;
o mtodo extrnseco e o intrnseco, a) O mtodo extrnseco
toma este nome, porque o seu ponto de partida extrnseco,
isto , tomado fora do homem, e porque se serve quase
exclusivamente de critriosextrnsecos(n. 156), b) O m-
tedo intrnseco, pelo contrrio, parte do homem para se elevar
at Deuse liga maisimportncia aoscritriosintrnsecos
(n. 156). Considerando o homem sob o ponto de vista
individual e social, este mtodo mostra que a religio sobre-
natural satisfaz osdesejose necessidadesda alma.
12. -- Nota. O mtodo de imanncia. Com o
mtodo intrnseco est relacionado o mtodo da imanncia.
Osseusdefensorestomam como ponto de partida o pensa-
mento e a aco do homem. Ohomem, dizem eles, sente
um desejo insacivel da felicidade; tem fome e sede do ideal,
do infinito, do divino, Em certashorasde melancolia e tris-
teza, sente, como diz S, Agostinho, uma inquietao que o no
deixa sossegar. Estesestadosde alma, que so obra da
graa, devem dispor o homem de boa vontade a aceitar a
revelao crist, poiss ela capaz de lhe saciar o corao,
Desta forma asaspiraesinternase imanentes(do latim in
manere, immanens, que reside dentro), isto , conforme a
etimologia da palavraque esto no fundo do nosso ser,
provam que a natureza do homem precisa dum complemento,
1 2
INTRODUO
HISTRIADAAPOLOGTICA 1 3
e que postula ( 1 ), por assim dizer, o sobrenatural, o trans-
cendente, o divino, que a revelao crist nosoferece,
13.Valor dosdiferentesmtodos.-1. No vamos
discutir aqui o valor dosmtodosascendente e descendente,
Basta observar que o mtodo ascendente apresenta a vanta-
gem de ser menosextenso, maspor isso mesmo tenso
inconveniente de no ser to completo.
2, Que pensar a respeito dosmtodosextrnseco, intrn-
seco, e de imanncia? E claro que a sua eficcia, e portanto
o seu valor, varia com aspocase com osestadosde esprito
daquelesa quem se dirigem ( 2 ). Nenhum deles, porm,
isento de perigos, se no se conservar nosjustoslimites,
a) 0 mtodo extrnseco, levado ao extremo, cai no inte-
lectualismo.
Pois, pode fcilmente exagerar o valor da razo,
e ento parece destruir a liberdade da f e arrisca-se a no
conseguir o seu fim, Porquanto, ainda que demonstre, a
modo de teorema, a existncia da revelao divina e que a
Igreja Catlica a sua depositria, nunca acreditaremosnela
se no corresponder s nossasaspiraes.
b) Do mesmo modo, se o mtodo intrnseco diminui
demasiado o valor da razo e d largas vontade e ao senti-
mento na gnese do acto de f, cai no subjectivismo e fidesnto
e tambm no consegue o seu fim. Com efeito, no basta
mostrar que a revelao crist se harmoniza com asaspira-
esdo corao humano; porque, se se omitem asprovas
histricas que atestam a sua origem divina, sempre podero
osadversriosobjectar que a religio catlica vale tanto como
asoutras,
c) 0 que dissemosdo mtodo interno, aplica-se igual-
mente ao de imanncia. Ser talvez excelente preparao da
alma, mass deixar de ser digno de censura, quando no
for exclusivo,
(1 ) Postular =pedir, trazer como consequncia, ter necessidade de.
(2) A apologtica, sobretudo quanta ao seu mtodo, pode conside-
rar-se como uma arte. C omo o seu objectivo convencer o esprito e mover
o corao, natural que empregue os meios mais adaptveis s condies
de tempo e de pessoas. Portanto a apologtica, ainda que imutvel quanto
substncia, contudo muito varivel quanto forma: o modo de apresentar
os motivos de credibilidade, a escolha dos argumentos e a importncia que
convm dar a cada um, deixam-se ao talento do apologeta.
14. Apologtica integral. Por conseguinte, a apo-
logtica integral deve reunir ostrsmtodos: extrnseco,
intrnseco e de imanncia, a) Para chegar com maissegu-
rana ao acto de f, conveniente preparar a alma pelo
mtodo intrnseco, ou pelo de imanncia. K S no corao
livre, diz BLONDEL, s nasalmasde boa vontade e amigas
do silncio, se faz ouvir com utilidade a revelao exterior,
0 sentido daspalavrase o brilho dossinaisde nada servi-
riam, se interiormente no existisse o desejo de aceitar a luz
divina. b) Concludo este trabalho preliminar, ao mtodo
intrnseco e de imanncia deve seguir-se o mtodo extrn-
seco, para comear a inquirio histrica e provar o facto da
revelao.
V. Histria da Apologtica.
natural que os mtodos da apologtica tenham variado com os
tempos e se tenham adaptado s necessidades do meio. Mas entre as di-
versas tendncias, podem distinguir-se trs correntes principais, e portanto
trs espcies de apologtica: a tradicional, a moderna e a modernista.
1 5, 1 . 0 Apologtica tradicional. aquela que sempre esteve
e est ainda hoje em uso na Igreja e que forma deste modo como uma
tradio continuada, caracterizada pela importncia que atribui aos
critrios externos, Tem m vista sobretudo a inteligncia, mas no se
desinteressa das disposies morais.
Basta um rpido exame dos principais apologistas para nos con-
vencermos que souberam harmoniosamente combinar o mtodo intrn-
seco e o extrnseco. 1 . 0 prprio Jesus Cristo liga grande importncia
preparao mora! (Parbola do semeador, Marc. IV, 1 .20; dos convi-
dados as npcias, Mat. XXII, Luc. XIV). Geralmente no concede sinais
da sua misso divina seno aos que tm f, confiana e humildade.
2. Os Apstolos seguem as pisadas do seu Mestre. 3. Mais tarde, na
poca das perseguies, a apologtica sobretudo defensiva. Acusam
os cristos de atentarem contra a segurana do Estado, de atesmo e de
imoralidade. Para os defender destas calnias, fazem os apologistas um
paralelo entre o paganismo e o Cristianismo. Salientam a transcendn-
cia
deste (critrios internos), e invocam depois os milagres de ordem
moral: a converso do mundo, a santidade da vida dos cristos, a sua
constncia herica nos suplcios e o aumento constante (S. JUSTINO, TER-
TULIANO). 4. S. TOMS DE AQUINO, o grande apologista da idade mdia,
depois de expor os prembulos da f e refutar as objeces dos advers-
rios (Suma contra os gentios) mostra na Suma teolgica a harmonia e
a coerncia entre as verdades crists e as aspiraes da alma (critrios
intrnsecos), 5, verdade que no sculo XVII, BossuEr usa exclusi-
vamente critrios externos, mas em compensao PASC AL emprega sobre-
14
INTRODUO
PLANO DA OB RA15
tudo
os critrios internos, a ponto de poder ser considerado como iniciador
do mtodo de imanncia, de que falmos (n. 1 2). Comea pelos crit-
rios internos de ordem subjectiva e considera a natureza humana
na
sua grandeza e na sua misria, Quer assim levar o homem a admi-
tir que precisa da religio para explicar a sua indigncia e dar-lhe
remdio. Com
efeito, s ela nos faz compreender a nossa misria,
mostrando-nos que a causa o pecado original; s ela nos indica o
remdio, que a Redeno de Jesus Cristo. Deste modo PASCAL
prepara o corao antes de provar a verdade do Cristianismo pelos cri-
trios externos.
16.
2. Apologtica moderna. Distingue-se pela importn-
cia que d aos critrios internos. Sob pretexto de que as provas hist-
ricas e os critrios externos milagres e profecias carecem de valor
para convencer os espritos imbudos de ideias modernas no campo da
filosofia e das cincias, os apologistas atendem sobretudo preparao
moral. Apresentam as maravilhas do Cristianismo, a harmonia perfeita
que existe entre o culto catlico e a esttica (CHATEAUBRIAND), o seu
valor e virtude intrnseca (OLL LAPRUNE,
YvES LE QUERDEC ), a trans-
cendncia (P. DEBROGLIE), as belezas ntimas e efeitos admirveis,
como levar a consolao aos que sofrem (
mtodo intimo de Mons, Bou-
GAUD), Ou
ento consideram a religio e a autoridade da Igreja, como o
fundamento da ordem moral e social (LACORDAIRE, BALFOUR, BRUNE-
TiRE, etc.), Este mtodo, de si excelente, ficaria, como j dissemos,
incompleto, se omitisse totalmente os critrios externos; milagres e
profecias (n. 13).
17. 3, A pologtica modernista. Foi condenada pelo Decreto
Lamentabili, (3 de Julho de 1907) e pela Encclica Pascendi (8 de Set.
de 1 907). Tem como representantes mais notveis em Frana,
LoisY
(L'vangile et l'glise, Autour d'ua petit livre), LE RoY (Dogme et
Critique); na Inglaterra, TYRREL
(De Sila a Caribdes); na Itlia, FOGAZ-
ZARO(11 Santo). Asideias principais so
A. Na parte filosfica.
Pode considerar-se sob dois aspectos;
positivo e negativo. a) Sob o aspecto negativo agnstica. 0 moder-
nismo. baseado nos sistemas modernos, como so o subjectivismo de
Kant, o positivismo de A. Comte e o intuicionismo de H, Bergson,
defende que a razo pura impotente para sair do crculo da experin-
cia e dos fenmenos e, portanto, incapaz de demonstrar a existncia de
Deus, ainda que seja pelas criaturas. b) Sob o aspecto positivo,
constituda pela doutrina da
imanncia vital on religiosa (imanen-
tismo). Segundo esta teoria, nada se manifesta ao homem, que nele
prviamente no esteja contido. Deus no um fenmeno que se
possa observar fora de si, nem uma verdade demonstrvel por um racio-
cnio lgico. Quem o no sente no corao, jamais o encontrar fora.
0
objecto do conhecimento religioso s se revela pelo prprio fenmeno
religioso ( 1 ). Deste modo no a razo que demonstra a existncia
(1) SABATrnit, Esquisse d'une philosophic de la religion, d'apres la psycho-
logic et l'histoire.
de Deus, mas a intuio ( 1 ) que o descobre (2) no fundo da alma, ou,
como eles dizem, nos abismos da subconscincia onde o encontramos
vivo e activo,
B, Na parte histrica. 0
historiador modernista, por mais que
o negue, deixa-se sempre influenciar pelos seus princpios filosficos,
Como agnstico,
pretende que o nico objecto da histria so os fen-
menos. Pelo facto de Deus estar acima dos fenmenos, no pode ser
objecto da histria, mas da f. Da provm a grande diferena que
estabelecem entre o Cristo da histria e o Cristo da f; o primeiro
real, e o segundo, transformado e desfigurado pela f. Outros dois prin-
cpios o da imanncia vital e o da lei da evoluoexplicam o resto:
a origem da religio
nascida de sentimento religioso de Cristo e dos
primeiros cristos, e a sua transformao sucessiva, que se nota no
desenvolvimento do dogma, Alm disso, os Livros Sagrados e, espe-
cialmente os Evangelhos, no tm valor algum histrico.
Resumindo, o apologeta modernista, rejeita todas as provas tradi-
cionais. Na parte filosfica,
partindo da teoria kantista, segundo a
qual a razo terica no prova a existncia de Deus, substitui as
provas
racionais pelas do sentimento, Na parte histrica, negando que Deus
possa ser objecto da histria, suprime os critrios extrnsecos milagres
e profeciasos grandes sinais da revelao divina, Quanto ao demais,
julga suprfluo pedir histria o que o testemunho da conscincia lhe
descobre, Para que havemos de procurar a Deus fora de ns, se est
em ns, se o sentimos no corao? 0 dever do apologista limita-se,
pois, a penetrar nos recnditos da alma, e a provocar ali mesmo a
expe-
rincia religiosa.
0 sentimento religioso, isto , a conscincia indivi-
dual, que nos d a conhecer que o Cristianismo vive em ns e satisfaz
as profundas exigncias da natureza, a nica razo da f, a nica
revelao, a fonte de toda a religio.
Basta esta exposio sumria para nos persuadirmos que o moder-
nismo destri toda a ideia de verdadeira religio e ope-se apolog-
tica catlica.
PLANODA OBRA
18. Seguiremos, na demonstrao da f catlica, a
ordem acima indicada (n,S 6.8), Esta obra compreender,
pois, trs partes:
1, a Parte:
Os prembulos racionais da M.
2,a Parte: A verdadeira religio.
3,a Parte: A verdadeira Igreja.
(1) Intuio (do latim ntueri, contemplar, ver) o conhecimento di-
recto dos objectos, sem intermdio e sem raciocnio.
(2) C ompreender-se- melhor o que o modernismo quando se estudar
o captulo seguinte e, em especial, o sistema intuicionista de B ergson.
PLANODAOBRA17
Cap. prel. O pro- { Valor da razo,
blema da certeza. ,,Seus limites.
[Art. 1. Sua demonstrabili-
Cap. I. Existncia jdade,
de Deus. 1 Art. II. Provas.
[Art. III. Atesmo.
Art. I. Deus
cvel,
Art. II. Atri-
butos de
Deus.
no incognos-
negativos ostt.
{ metafsicos,
positivos ou
l morais,
Deus, distinto
do mundo,
Erro do pan-
tesmo.
Cap. 11.Natureza
de Deus.
Art.II1.Per-
sonalidade
de Deus.
I
Origem do
mundo.
1. Cria- ^ Origem da
co.
1
Ovida.
Origem das
espcies.
Noo.
Existncia.
Objeces,
Cap. I. Natureza
Art. I. Existncia da alma.
do homem.
Art. II.Natureza da alma.
Art. III.Liberdade da alma.
t Art. I. Ori-
da alma.
Cap. II. Sua ori- I Art.
gem e destino. 1 Art.
velao.
Necessidade,
Cap. II. Critrios j
Art. I.Critrios em geral,
da Revelao.
1 Art. 11.-0 Milagre.
t Art, III. A Profecia.
Art.
Cap. III.Aco de
Deus.
Art. 11.Pro-
vidncia.
gem.
do corpo,
II. Imortalidade da alma.
Unicidade da espcie
humana.
Art. IV. Antiguidade do ho-
mem.
(Art. I. A re- l Conceito.
ligo em Necessidade.
C ap. I. Religio e geral,k Origem,
Revelao.1
Art. 17.ARe- 1
Noo.
Possibilidade,
16INTRODUO
Cada uma destaspartesser precedida dum quadro
sinptico que indicar osassuntosprincipais,
Bibliografia MAISONNEUVE, Art. Apologtique, Did, de Tho-
logie Vacant-Mangenot (Letouzey ). X. M. LEBACHELET, Art. Apolo-
gtique, Did. de la foi catholique d'Als (B eauchesne). A. DEPOUPLI-
QUET, L'objet integral de !'Apologtique ( B loud ), X, M. LEB AC H ELET,
De I' Apologtique traditionnelle et de !'Apologtique moderne (Lethiel-
leux ), B AINVEL, De vera Religione et Apologetica (B eauchesne),
GARDEIL, La crdibilit et l'apologetique (Gabalda).B AINVEL, La Foi
et t'acte de Foi (Lethielleux ), WILMERS, De religione revelata libri
quinque.MARTIN, L'Apologetlque traditionnelle.VALENSIN, Art. Imma-
nense, Diet. d'Als. Na o Revue pratique d'apologtique o : BAINVEL,
Utz essai de systmatisation apologtique 1 . 0 , Maio, 1 . Jun., 1 908;
LEBRETON, Art. Le Moderniste; PETITOT, L'Apologtique moderniste,
1. Set. 1 91 1 ; PACAUD, L'oeuvre apologtique de M. Brugre, 1 . Fev, ,
1 906; GUIBERT, L'Apologtique vivante, 1 5 Jan, 1 906; CARTIER, Brune-
Here apologiste, 1 5 Marc. 1 907; X. DEMAU, Une mthode apologtique,
1 5 Fev. 1 906; LIGEARD, Le fait catholique, Une question de mthode,
1 5 de Maro 1 906; Mgr, MIGNOr, Letre sur ('apologtique contempo-
raine (Alb:), Na revista Les Annales de la philosophie chrtienneo :
M. BLONDEL, Lettre sur les exigences de la pense contemporaine en
matiere a'apologtiquc, Jan. Julh. 1 896; artigos de LABERTHONNIERE1 898,
1 900, 1 901 .M. BLONDEL, L. 011 Laprurte, L'Achevement et I'Avenir
de son ceuvre. H . PINARD, L' Apologtique, ses problemes, sa dfini-
tion (B eauchesne ), Revue du C lerg frauais ; Revue thomiste,
Encclica Pascendi. Apologtique publicada sob a direco de M.
B rillant e M. Ndoncelle (B loud et Gay).
tn
c
Seco I.
o
DEUS.
c ot
E
a
r,
O
rn
Seco II.
OHOMEM.
Seco 111.
Relaes
entre DEUS
eo
HOMEM.
2
1 8 PLANO DA OB RA
Resumo da Primeira Parte.
19. Como se pode ver neste quadro sinptico, o apolo-
gista, na primeira Parte, deve demonstrar que o homem est
obrigado, pelo menos, a professar a religio natural. Donde
se segue que o seu estudo deve recair sobre doisobjectos
Deuse o homem ; porque o fundamento da religio natural
o lao que une o homem, criatura, a Deus, Criador.
A, A apologtica demonstrativa deve portanto fixar,
nestesdoisobjectos, ospontosprincipaisque toda a religio
pressupe. Com o auxlio da razo, seu nico instrumento,
e
cujo valor, por conseguinte, convm antesdemonstrar, o
apologista deve provar a existncia de Deus, de um Deus
pessoal,
que criou e governa o mundo, distinto da sua obra,
e que por ela se interessa, Deve depoisprovar a existncia
da alma, duma alma que diferencie o homem do animal,
inconfundvel com a matria, esprito livre e imortal; livre
porque sem a liberdade no teria dever algum perante o
Criador ; imortal, porque, doutro modo, o homem no se inte-
ressaria pelo seu destino.
Provada a existncia e a natureza de Deuse da alma
humana, fcil ao apologista determinar asobrigaes, que
para o homem provm do facto de ser criatura de Deus,
Estasobrigaesconstituem a religio natural. Tal a
concluso, a que deve chegar na primeira Parte, Depoisde
obter este resultado, deve dar maisum passo,
Conservando-se sempre no campo filosfico, pergunta-se
a si mesmo ; bastar a religio natural, baseada na razo,
para que asverdades, mesmo asnaturais, tomadasem con-
junto e nasactuaiscondiesdo gnero humano, possam ser
de todosfcilmente conhecidase sem mistura de erro?
Ser possvel a hiptese que Deustenha querido instruir a
humanidade por meio da revelao? Esta revelao ser
possvel, e at necessria, no caso de Deusquerer manifestar
ao homem verdadesque ultrapassam asforasda razo, e
elev-lo a um fim superior sexignciasda natureza? Nesta
hiptese, quaisso ossinais, que nospodem atestar a sua
existncia ?
A C ERTEZA
19
B. A
apologtica defensiva tem, como adversrios
principaisnesta primeira Parte, ospositivistas ou agnsticos
e osmaterialistas
nasquestesde Deuse da alma, e os
.nacionalistas no problema da revelao,
SECOI
DEUS
CAP. PRELIMINAR,O
PROBLEMA DA CERTEZA.
1.0 0 problema da certeza. Noo. Espcies e Critrio.
V i
.
2. Falsas solues bi Cri ti ci smo
Cepti ci smo
k anti sta.
do problema. c) Positivismo ou. agnosticismo.
d) Intuicionismo.
so- {Dogmatismo
f a) Motivosem que se
funda.
l
mitigado. 1b) Estabelece o valor
e limites razo.
4. Certeza reli- IA,
De que espcie .
glosa.
B. Funo da razo.
C . Funo da vontade.
DESENVOLVIMENTO
O problema da certeza.
20.
Logo no comeo da apologtica, surge um grave
problema, Poder a inteligncia humana conhecer a reali-
dade dascoisase alcanar a certeza objectiva? E, sendo a
razo o principal instrumento do apologista, qual o seu valor
para chegar verdade? Podemosconfiar nela? Poder-nos-
conduzir certeza? Tal o primeiro problema que se impe
ao apologista e a que vamosresponder sumriamente. Dize-
mossumariamente, porque est fora do nosso plano demons-
trar ex professo o valor da razo e a objectividade do
A CERTEZA
Verdadeira
loo.
conhecimento, Alm de ser assunto muito complexo e de
sair doslimitesdum simplesManual, pertence ao domnio
da filosofia; se osleitoresdesejarem estudar maisampla-
mente esta questo, aconselhamososTratadosfilosfico s.
indicadosna Bibliografia, 0 nico fim que nospropomos,
pois, dar um ideia geral do problema e dossistemas, que em
diversossentidoso resolvem, pondo-nosdeste modo em con-
tacto com osadversrios, que brevemente encontraremosno
caminho,
Este captulo ter quatro artigos; 1. Noo, espcies e
critrio da certeza. 2, Falsas solues do problema da cer-
teza, 3. Verdadeira soluo. 44 Que se deve entender por
certeza religiosa,
Art, I, A certeza. Noo. Espcies. Critrio..
21. 1, 0 Noo. Certeza o estado da mente que
est intimamente persuadida de possuir a verdade. Estar
certo , portanto, formular um juzo, que exclui totalmente a.
dvida e o temor de errar,
Espcies. A certeza no admite graus; ou , ou
no , Poispor maispequeno que seja o temor de errar, se.
existe, desvanece-se a certeza e d lugar opinio, ou .
dvida. Contudo, conforme osaspectossob que se considere,.
possvel distinguir diversasespciesde certeza,
A, Segundo a natureza das verdades que atinge,.
temos: a) a certeza metafsica, que se funda na relao
necessria entre ostermosdo juzo, Quando digo que o
.
todo maior que a parte, o atributo convm de tal modo ao
sujeito que impossvel conceber o contrrio, Ao formular-
mosum juzo destes, o nosso esprito, no s no admite a
possibilidade de dvida, masafirma que a contraditria 6
absurda e no se pode conceber; b) a certeza fsica, que
se baseia na constncia dasleisdo universo. S a experin
cia nospode dar esta certeza. Assim, quando dizemosque
oscorpostendem a cair para o centro da terra, julgamo s .
que a proposio contrria falsa, por contradizer osfactos
observados, masno absurda, porque asleispodiam ser dou
tro modo ; c) a certeza moral, que se funda no testemunho
doshomens, quando este se apresenta com todasasgarantias
de verdade, Asverdadeshistricase, portanto, asreligiosas
so objecto da certeza moral.
B, Segundo o modo do conhecimento, a certeza 6:
a) imediata, directa ou intuitiva, quando se apresenta inte-
ligncia sem o intermdio doutra verdade ; ex, ; o todo maior
que a parte; b) mediata, indirecta ou discursiva, quando
a conhecemosindirectamente por meio do raciocnio; ex. ;
a soma dosngulosdum tringulo igual a doisrectos.
C. Com relao evidncia, a certeza pode ser ;
a) intrnseca, se a evidncia , directa ou indirectamente,
apreendida no prprio objecto ; b) extrnseca, se provm da
autoridade daquele que a afirma. No primeiro caso, h cin-
cia prpriamente dita; no segundo, crena ou f moral, como
acontece nasverdadeshistricas,
22. 3. Critrio. Em geral chama-se critrio o sinal
distintivo com que se reconhece uma coisa e que nosimpede
de a confundir com outra, O critrio da verdade , portanto,
o sinal pelo qual podemosreconhecer que uma coisa ver-
dadeira e dela estar certos, Por conseguinte, o problema da
certeza reduz-se a saber qual o sinal por onde podemos
conhecer que estamosem posse da verdade.
Foram propostosvrioscritrios; a revelao divina
(H UET, DE B ONALD), o consenso universal (LAMENNAIS), o senso
Comum (REID, H AMILTON), o sentimento (JACOBI), Nenhum
deles admissvel, porque todosso insuficientese provm
duma injustificada desconfiana da razo humana em geral, ou
da razo individual em particular.
0 critrio ou sinal infalvel e universal da verdade e
motivo de toda a certeza a evidncia. Masque a evidn-
cia ? 0 termo evidente, como a etimologia o indica, significa
que a verdade est revestida duma claridade que a faz brilhar
aosnossosolhos. Deste modo a evidncia exerce no esprito
Ima espcie de violncia; coloca-o na impossibilidade de no
ver, Estou certo porque vejo que a coisa assim, e no
pode ser de outro modo ; e vejo que assim , ou por intuio
OCRITRIODACERTEZ A21 200 PROBLEMADACERTEZ A
22 0 PROBLEMADACERTEZ A
directa, ou por meio da demonstrao, ou finalmente por
um testemunho irrefragvel que no me permite julgar o
contrrio,
Art, II,
Falsas solui es do problema da certeza.
Vrias so as escolas filosficas, que negam a possibilidade de
conhecer a verdade e repousar na certeza, S encaramos o problema
sob o ponto de vista da misso que a inteligncia deve desempenhar na
descoberta da verdade,
Os cpticos, criticistas, positivistas e intuicionistas negam ou.
deprimem o valor da razo. Examinemos rpidamente estes sistemas,.
23.-1 . 0 Cepticismo. Defendem os cpticos que o homem
incapaz de distinguir o verdadeiro do falso, e portanto que deve
abster-se de julgar. Para prova desta tese, aduzem quatro motivos;
a ignorncia, o erro, a contradio e o diadelo, a) A ignorncia.
$ manifesta a ignorncia humana acerca de inmeros assuntos. Demais,
como as coisas esto concatenadas entre si, a ignorncia de um aspecto
qualquer de um ser faz que no o possamos conhecer a fundo e tal
como ; no sabemos ale tout de rien, como diz PASCAL, b) O erro,
0 homem engana-se frequentemente e, o que pior, quando se engana.
julga possuir a verdade, Como h-de saber ento quando alcanou:
a verdade ?c) A contradio. Os homens raramente esto de acordo.
A verdade varia ; 1 ) Com os pases. Curiosa justia limitada
por uma serra ou um rio. Verdade do lado de c dos Pirenus, erro
do lado de l a! disse tambm PASCAL; 2) Com os tempos. Aces
que hoje so lcitas, eram outrora proibidas, e reciprocamente;
3) Com os indivduos. Oque um julga bem, outro julga-o mal, Mais
ainda ; o mesmo indivduo muda a cada passo o seu modo de ver e de
pensar, d) O dialelo (1). o argumento mais especioso do cepti-
cismo. Pode formular-se; Para provar o poder da razo no h outra
meio alm da prpria razo. Ora isto evidentemente um crculo
vicioso; logo, tanto por este motivo como pelos precedentes, o cepti-
cismo defende com todo o direito que a dvida o nico estado.
Iegtimo da inteligncia,
24. 2. Ocriticismo ou relativismo kantista. Segundo.
KANT, todos os juzos se acomodam s leis da mente. 0 conhecimento
no regulado pelos objectos; no provm do exterior por intermdio
da experincia, No podemos conhecer as coisas como so em si. Os.
objectos so unicamente o que o esprito quer que sejam; moldam-se,
por assim dizer, nas formas da inteligncia e nos pareceriam outros se
o nosso esprito fosse constitudo de outro modo. Por isso, o noss o.
conhecimento inteiramente relativo, e s tem valor relativamente
(1 ) 0 termo dialelo ( do grego di allln, um pelo outro) sinnimo de,
crculo vicioso.
a ns, pois so as nossas faculdades que impem as suas formas subjec-
tivas aos objectos conhecidos ; da os nomes de subjectivismo e relati-
vismo, que por vezes se do doutrina de Kant, Mas, se apenas atin-
gimos as nossas ideias ( 1 ), conveniente fazer a crtica das nossas
faculdades cognoscitivas (razo pura, razo prtica e juizo), para
conhecermos a influncia subjectiva que exercem no objecto conhecido.
Daqui provm o nome de criticismo que de ordinrio se aplica teoria
kantista,
Alm disso, a nossa mente forada a conceber trs ideias fun-
damentais; a alma, o mundo e Deus, Pensamos que a estas ideias
correspondem trs seres, objectos ou nmenos ( 2 ). Mas sero porven-
tura trs seres reais? Para alm dos fenmenos haver realmente
nmenos? No o podemos afirmar, porque a razo impotente para
resolver o problema, no pode conhecer o ser em si mesmo, isto , a
alma, o mundo e Deus. Kant, porm, por meio de uma teoria enge-
nhosa, distingue a razo terica da razo prtica ( 3 ), e constri com
a segunda o que tinha destrudo com a primeira. A razo terica
ignora as coisas em si, mas a razo prtica descobre a obrigao moral
no mais ntimo da conscincia e deduz a existncia das coisas em si,
quer dizer, da lei moral que postula a liberdade, a responsabilidade,
a
imortalidade da alma e a existncia de Deus necessria para explicar a
existncia da lei moral e a possibilidade da sano.
25. 3, 0 OPositivismo. 0 positivismo (A. COMTEe LITTR,
em Frana; HAMILTON, SPENCERe STUART-MILL, na Inglaterra) a fi rma
que a razo humana pode atingir as verdades de ordem experimental
ou positivas, mas que incapaz de conhecer o que no objecto de
experimentao. Podemos, pois, compreender os fenmenos, o relativo,
mas no a substncia, nem o absoluto ( 4 ). Por exemplo, a razo pode
veri fi car os factos e formular-lhes as leis; o cognoscvel e o objecto da
cincia, Mas, para alm dos factos e das leis, estende-se o domnio
inacessvel das coisas em si e das causas; o incognoscvel. Por isso,
o positivismo chama-se tambm agnosticismo.
26. 4. Ointuicionismo. 0 intuicionismo, nome que se
d s teorias de BERGSONacerca do conhecimento, provm do relati-
vismo de Kant e do evolucionismo de Spencer.
(1 ) Todas as teorias fundadas no piincpio que s podemos conhecer
os objectos como existem na nossa mente, tm o nome genrico de idealismo.
Entre as vrias espcies de idealismo, sbmente falaremos de duas principais:
Oidealismo crtico, ou criticismo de KANTe o idealismo metafsico de B ERGSON,
que a forma mais moderna de idealismo, do qual depois nos ocuparemos
sob o nome de intuicionismo.
(2) 0 nmeno (do grego no'maenonpercebido pelo enosb, razo pura)
significa a essncia dos seres, isto , o que so em si, por oposio as suas
aparncias. Segundo Kant, o nmeno pode ser objecto de crena, mas no
de cincia.
(3) Arazo prtica a conscincia moral, isto , a faculdade de julgar
entre o bem e o mal por meio da lei moral.
(4) Os termos absoluto, coisa emsi e nmeno empregam-se aqui como
sinnimos e opem-se s palavras relativo, aparncia e fenmeno.
O POSITIVISMO 23
240 PROBLEMADACERTEZ A
Segundo Bergson, h duas maneiras de conhecimento: pela inte-
ligncia e pela intuio:
a) Pela inteligncia. Admite, semelhana de Kant, que a
razo no pode chegar ao conhecimento objectivo dos seres, e d vrias
razes, Na teoria kantista o conhecimento sempre subjectivo, pelo
facto de impormos aos objectos as formas imutveis do nosso esprito;
na teoria bergsoniana, ao contrrio, afirma-se que a primeira causa de
erro provm da actividade da inteligncia humana, que, longe de
possuir formas invariveis, opera nos objectos com que est em contacto,
modifica-os, assimila-os, exactamente como o organismo transforma os
alimentos. A segunda causa de erro provm de os objectos estarem
sujeitos a perpetuas mudanas, e s poderem ser apreendidos num
dado momento da sua irrequieta existncia. A terceira causa tem por
origem os laos insensveis que unem entre si estas mudanas; pois
trata-se mais de evoluo do que de transformao.
Ora, como a razo se v obrigada a trabalhar com conceitos estd-
veis, segue-se que no pode exprimir o movimento das coisas, nem o
que h de contnuo na sua evoluo. Deve portanto isolar os estados
sucessivos dos objectos, substituir a descontinuidade e a pulverizao
da reflexo pela continuidade e unidade do seu a devir o ou movimento
evolutivo.
b) Pela intuio. Mas, e nesta parte que Bergson julga
ultrapassar Kant, posto que a razo no consiga chegar a um conhe-
cimento objectivo das coisas, existe contudo um meio de atingir a rea-
lidade. Esse meio a intuio, que conhece a realidade viva e mvel,
por meio da viso directa e imediata do objecto. Portanto s o conhe-
cimento intuitivo verdadeiramente objectivo.
Deste modo, julga o sistema bergsoniano evitar a crtica kantista
acrescentando um novo elemento cogaoscitivo. Donde se conclui que,
se o conhecimento de Deus, por meio da razo, no tem valor algum,
pode conseguir-se pela intuio, pela conscincia e pelo corao. Esta
a razo porque os modernistas, partidrios da filosofia bergsoniana
substituram a apologtica racional pela apologtica de intuio ou de
imanncia (n. 1 7).
Art, III. Verdadeira soluo do problema.
Odogmatismo. Valor e limites da razo.
27. 1. 0 Dogmatismo. Chama-se dogmatismo
(do grego dogmatizo, afirmo) o sistema filosfico, que afirma
que a razo humana pode conseguir a certeza, e que esta
corresponde realidade dascoisas, isto , que asnossas
ideiasso verdadeiramente objectivas.
0 dogmatismo invoca em seu favor asseguintesrazes
a) a falsidade dossistemasopostos; b) a intuio ime-
diata da verdade objectiva dosprimeirosprincpios; c) as
exignciasdo senso comum,
0 DOGMATISMO25
A, Falsidade dossistemasopostos. a) s objec-
esdoscpticos responde o dogmatismo que a ignorncia
e o erro, acerca de algumasverdades, no provam de modo
algum que a certeza no possa existir acerca de outras.
0 facto de algumasvezesreconhecermosque erramos, no
ser, pelo contrrio, uma prova de que a nossa razo pode
conhecer a verdade? A contradio no tambm um argu-
mento em favor do cepticismo, porque no universal; no
se estende a todososdomniosdo saber, nem a todasas
proposies, Quanto objeco do dialelo, pode-se retorquir
contra osadversrios; porque, demonstrar pela razo a ilegi-
timidade da razo, tambm um crculo vicioso,
b) Aos criticistas e aos positivistas contesta que a
distino, por elesestabelecida entre o fenmeno e o nmeno,
no absoluta, nem pode aplicar-se aosfactosde conscin-
cia, porque, numa nica intuio, conhecemoso nosso ser e a
representao que dele formamos. Outro erro funesto
pretender que a cincia se ocupa nicamente dosfenmenos;
que s certo o que experimentalmente podemosverificar;
e que no lcito concluir dosfenmenospara a realidade da
substncia. Pelo contrrio, incontestvel que a razo,
auxiliada pelosdadosdossentidose da conscincia, pode
deduzir osprincpiosde causalidade e de substncia, dos
efeitossubir scausas, e dascausassegundase relativas,
causa primeira e absoluta.
c) Odogmatismo tambm admite, como BERGSON, dois
modosde conhecimento muito diversos, masjulga que o
modo de operar da razo to legtimo como o da intuio,
A diferena que entre elesexiste no to grande como se
poderia pensar.
Com efeito, o raciocnio supe uma intuio no comeo
e outra no fim. Sirva-nosde exemplo a demonstrao de um
teorema de geometria. A razo deve apoiar-se primeiro nos
axiomascuja verdade apreende directamente, isto , por meio
de uma intuio, Em seguida, por uma srie de dedues,
chega a outra intuio, conhecendo claramente uma verdade
at ento desconhecida e cuja evidncia aparece no final da
demonstrao,
Tambm no exacto dizer que a actividade da alma
transforma a natureza dascoisas, A inteligncia abstrai a
26 OPROBLEMADACERTEZ A
essncia dosobjectos; porque ainda que estesestejam sujei-
tos evoluo continua, e num perptuo devir, contudo esta
evoluo no lhesatinge totalmente o ser. H nelesalguma
coisa que no muda, e isto o que nschamamossubstn-
cia. Atravsdasmltiplasmudanasda minha existncia,
tenho a conscincia de ser o mesmo homem, Portanto, do
mesmo modo que a intuio, pode tambm a razo chegar ao
conhecimento objectivo,
B. Intuio imediata da verdade objectiva dos prin-
cpios primeiros. H um certo nmero de princpiosfun-
damentais, que conhecemospor meio da intuio imediata e
cuja verdade se nosapresenta com tal evidncia, que se
impe inteligncia; taisso, por exemplo, o princpio de
identidade e o de razo suficiente, Quem ousar afirmar
que A no A, ou que um ser pode comear a existir sem
uma razo suficiente? Todosesto intimamente convencidos
que osaxiomasno so merasrepresentaesdo intelecto,
masleisdosseres,
C. Senso comum. -E evidente que o senso comum
est em favor do dogmatismo. Todosjulgam, at osfilso-
fosque fazem profisso do contrrio, que asnassasideias
no tm um valor meramente subjectivo e que esto confor-
mescom a realidade dascoisas, No h sbio que tome a
srio a quem lhe disser que asleisda fsica ou da qumica,
por ele descobertasdepoisde to longase difceisinvestiga-
es, no correspondem realidade, que o oxignio e o car-
bono so apenasideiassubjectivase que oseclipsesda lua
e do sol so meras representaes da imaginao. , . Ora
no se pode admitir que o instinto natural e universal do
gnero humano nosengane to grosseiramente num assunto
de tanta importncia ( 1 ),
28. 2. Valor e limites da razo. De tudo o que
precede conclui-se ; a) que a inteligncia pode chegar
certeza objectiva em certasmatrias, por meio da intuio
ou do raciocnio, Tendo sido dotadosde uma alma feita
(1)FONGRESSIVE l,n. de philos. T.II.
CERTEZ ARELIGIOSA
para a verdade, seramososseresmaisinfelizesda criao,
se cassemosnecessriamente no erro, ou nunca estivsse-
moscertosde no nosenganar, b) A cincia no se
limita ao conhecimento dosfenmenos, mas, em certa medida,
penetra at ao ser como em si, c) Dizemos, em certa
medida, porque ainda quando alcanamosa certeza, nunca o
nosso conhecimento absoluto e adequado, poisno pode
exaurir toda a cognoscibilidade dascoisas, A razo encon-
tra barreirasinsuperveis, porque quanto maisalto est o
objecto tanto maisimperfeito o nosso conhecimento. Pode-
mos, certo, demonstrar a existncia de Deuse conhecer
alguma coisa da sua natureza, porm, medida que avan-
amos, maisincompleta ser a cincia e menosexacto o
conhecimento.
Concluso. Ainda que no seja completamente exacto
e adequado o nosso conhecimento dosseres, contudo ver-
dadeiro o que delesafi rmamos, Somoshomens, e por isso
seria insensato aspirar ao impossvel e querer possuir uma
cincia sobre-humana ( 1 ). Sigamos, pois, o conselho de
Lactncio; E boa prudncia no julgar que sabemostudo,
o que prprio s de Deus, nem que tudo ignoramos, o que
prprio do animal irracional.
Art, IV, Certeza religiosa. 1?liinus da razo
e da vontade.
29. Certeza religiosa. Masde que espcie a cer-
teza apologtica? No h dvida que a certeza religiosa
de ordem moral.
a) verdade que na parte filosfica asverdadesso
metafsicaspor sua natureza; porm, asquestesque nela se
tratam,existncia de Deuse da alma, sua natureza e rela-
esentre Deuse o mundo, so to complexase estranhas
experimentao directa, que a soluo destesproblemasno
se manifesta com evidncia matemtica, e por conseguinte
requerem em nsdisposiesmorais,
(1 ) FONGRESSIVE, ken. de philos. T. II.
27
28 0 PROBLEMA DA CERTEZ A
b) Na parte histrica, asprovasdo facto da revelao
apoiam-se todasno valor do testemunho. Portanto o motivo
da nossa certeza deve apoiar-se em sinaisque atestem a sua
existncia e credibilidade. Mas, tanto na parte filosfica
como na histrica, a razo e a vontade tm um papel a
desempenhar.
Mnus da razgo. 0 minusda razo reconhecer a
verdade. Ora, como vimos, o critrio da verdade a evidn-
cia e no o sentimento. No julgamosque uma coisa ver-
dadeira porque desejamosque o seja, masjulgamo-la tal,
porque vemosque verdadeira. Nem o sentimento nem a
vontade podem substituir a razo ; para amar e querer uma
coisa necessrio primeiro conhec-la. Se chegamospor-
tanto a alcanar a certeza religiosa, porque a Revelao se
apresenta revestida doscaracteresde evidncia e dosmotivos
de credibilidade, que foram o nosso assentimento.
Minus da vontade. A razo insuficiente, se no for
auxiliada pela vontade, que neste caso exerce uma dupla fun-
o ; a) Antes do juzo, deve dispor a alma para ver a luz.
De facto ela que escolhe o objecto do estudo, que dirige
para ele a ateno e nele a fixa. Maisainda ; a fim de a
inteligncia no ficar exposta aosperigosde errar, deve afas-
tar da alma todasaspaixese preconceitos. b) No mo-
mento de formular o juzo, no menosnecessria a sua
interveno para determinar a inteligncia a aderir verdade,
poisesta adeso no se faz sem sacrificios; asverdades
morais, taiscomo a existncia de Deus, dum juiz supremo,
da imortalidade da alma, da lei moral e da vida futura,
impem deveresdifceis natureza e que no raro seramos
instintivamente tentadosa repelir .
Sem exagerar o minusda vontade, podemosafirmar que
a verdade religiosa no pode penetrar na alma simplesmente
pela fora de um silogismo. Deveremosacrescentar, com
BRUNETIkRE, que se cremos, no por motivosde ordem
intelectual ? Estaspalavras, mal interpretadas, no resisti-
riam critica ; mas, na inteno do seu autor, significam
certamente que a f no nasce da fora dosargumentos,
se no houver o cuidado prvio de dispor a alma por meio
ACERTEZ ARELIGIOSA
29
da humildade, da mortificao daspaixese sobretudo da
orao ( 1 ). As grandesconversese astransformaes
moraisoperadasatravsdossculospelo Cristianismo foram
maisprbpriamente trabalho da vontade e da graa, do que
fruto do raciocinio.
Concluamos, pois, que importa assinar vontade e
razo a misso que lhescompete. Como se exprime Plato,
preciso procurar a verdade com todasasforasda alma.
Razo, vontade e corao devem unir-se para a conquista da
verdade.
Bi bl log rafia. Tratadosde filosofia; em particular o Manual de
Filosofia de C. LAH R (Porto, Apostolado da Imprensa), e osde FONSE-
GRIVE, JOLIVET e G. SORTAIS. S. TomAs, Summa Theologica, De yeti--
late. KLEUTGEN, La philosophie scholastique (Gaume). GENY, Art.
Certitude, Did, d'Als. C H OLLET, Art. Certitude, Dict. Vacant-Mange-
not, OLLE-LAPRUNE, La certitude morale (Belin). FARGES, La crise
de la certitude (Berche et Tralin), MIC H ELET, Dieu et l'agnosticisme
contemporain (Gabalda). DEPASCAL, Le Christianisme, I. Part. La
Vrit de la Religion (Lethielleux). NEWMAN, Grammaire de Passen-
liment (Blond). PACAUD, Art. La Certitude religieuse d'apres la philo-
sophie d'011e-Laprune, Rev. pr. d'Apol., 1 Maio 1907. L. RuY, Le procs
de l'intelligence, cap. Le rle de l' intelligence dans la connaissance de
Dieu (Bloud), P. JULIEN WERQUIN, L'vidence et la Science.
(1) Doutr. Cat., n.0 282.
t
B , Por que
vias?1
Erros.
S
a) Materialismo.
b) Agnosticismo.
Erros,
A, Mundo
externo.
(Provascos-
molgicas).
l
B . Mundo)
interno )
(alma1
humana).
C . C onsenso)
universal. 1
30 EXISTNCIADEDEUS
CAPITULOI. EXISTNC IA DE DEUS.
A. Poder-se- t
demonstrar 11
a existncia 1
de Deus?
(a) Ontologsmo e In-
tuicionismo,
b) Fidesmo e Tradi-
cionalismo,
c) C riticismo.
d) Modernismo,
a) Exis-
tncia.
(C ausa )Objec-
primeira
1
es
e contin-
gncia), I
ti 1, positivis-
1tas,
l2. materia-
listas,
b) Movi-1 , hiptese
mento
Inexpli-1
mecanista.
svel
( primeiro l
pela
2. hiptese
motor),dinamista,
c) Ordem
t
(1, pelo aca-
do mundo Inexpli- )so.
(causassvel 1 2. pela evo-
finais)luo.
a) Ideia da perfeio. Prov me-
tafsica. .
b) Aspiraesda alma, Prov,psi-
coldgica.
e) Lei moral e sano. Prov mo-
ral,
a) pelo temor.
Inexpli- J
I b) pela educao,
svel
c)
c)
pela influncia dos
legisladorese sa-
cerdotes.
D. C oncluso. Valor dasdiversasprovas.
A. Haver ateus?
a) intelectuais,
B. Causas,b) morais,
3. Ateismo.
c) sociais.
C. C o n s e- t a) para o indivduo,
q u n e i a s lb) para a sociedade.
SUADEMONSTRABILIDADE 31
DESENVOLVIMENTO
30. Diviso do captulo. 0 problema da existncia
de Deuscompreende trspartes: 1, questo preliminar :
ser possvel demonstr-la? 2, exposio dos argumentos
que a provam, 3, questo subsidiria : se a razo prova
peremptoriamente a existncia de Deus, como se explica que
haja ateus? Quaisso ascausas do atesmo e assuascon-
sequncias?
Art, I, Ser demonstrvel a existncia de Dens?
Esta questo subdivide-se em duas: 1. possvel pro-
v-la ? 2, Qual o caminho que se h-de seguir ?
1, E POSSVEL DEMONSTRARAEXISTNCIADE DEUS?
ERROS DOMATERIALISMOEDOAGNOSTICISMO,
31. Ante o problema da existncia de Deus, h trs
atitudespossveis: De afirmao, negao, ou propsito de a
no aceitar, Ao primeiro grupo pertencem ostestas ou cren-
tes; ao segundo, osmaterialistas ou ateus; ao terceiro, os
agnsticos ou indiferentes.
1," Tesmo. (do grego theos, Deus). Ostestasafir-
uialfi que possvel demonstrar a existncia de Deus. Expo-
remosno artigo seguinte asprovasem que baseiam a sua
crena,
2. Materialismo, 0 ateu, seja qual for o nome que se
lhe atribua, materialista, naturalista ou monista ( 1 ), afirma
que no se pode provar a existncia de Deus, porque Deus
no existe. Julga que no preciso recorrer a um criador
(1 ) As trs denominaes: materialista, naturalista, monista, designam
sob aspectos diferentes, a mesma base doutrinal. Todos pretendem explicar
a existncia do mundo pela existncia dum s elemento: o materialista diz
que a matria; o naturalista fala da natureza, termo ainda mais vago; e o
monista apela para o movimento csmico. O monista, a que aludimos aqui,
evidentemente o monista materialista.
1 . Demons-
trabilidade
EXISTN-
C IA
DE DEUS. ]2, Provas ti-
radas do:
32 EXISTNCIADEDEUS
para explicar o mundo e que por isso Deus uma hiptese
intil, A matria eterna e dotada de energia a nica reali-
dade que existe e basta para resolver todososenigmasdo
universo. Exporemososargumentosdo materialismo no
artigo II, sob o ttulo de objeces.
3. Agnosticismo. De um modo geral, o positivista
ou agnstico declara que a existncia de Deuspertence an
domnio do incognoscvel ( 1 ), A razo terica no pode ir
alm dosfenmenos; o ser em si, assubstnciase ascausas,
o substracto ou fundamento dasaparnciasso inacessveis
razo, 0 problema da causa ltima da existncia, escrevia
HUXLEY, em 1874, parece-me que est definitivamente fora do
mbito dasminhasdbeisfaculdades, LITTR (1801-1881)
dizia que o infinito como um oceano que vem bater con-
tra a praia, e para o explorar, no temosbarco nem vela,
(Aug. Comte et la philosophie positive).
A concluso natural esta : j que a investigao das
causasem geral e, a fortiori, da causa ltima, intil,
no percamoscom ela o tempo, o que LITTRI' tambm
nosaconselha : Para que vosobstinaisa inquirir donde
vindese para onde ides, se existe um Criador inteligente,
livre e bom? Nunca conhecereiscoisa alguma de tudo isso.
Deixai, pois, essasquimeras, , , A perfeio do homem e
da ordem social est em no lhesligar importncia... Estes
problemasso uma doena; o melhor meio de curar no
pensar neles ( 2 ),
Onde o materialista toma partido contra Deus, o agns-
tico guarda uma prudente reserva : Nada nega, nada afirma,
poisnegar ou afirmar seria manifestar algum conhecimento
da origem e fim dosseres (LITTRg ), Chega at a conceder
a distino entre o fenmeno e a substncia, entre o relativo
(1) Agnstico (do grego a privativo e gnsis conhecimento). Segundo
a etimologia, o termo agnstico ope-se a gnstico. O agnstico diz que
ignora o que o gnstico diz que sabe. Esta palavra foi divulgada pelo
filsofo ingls H UXLEY, cerca do ano 1 869. .A maior parte dos meus com-
temporneos, disse ele um dia, para fazer alarde de livre pensamento, julga-
vam ter atingido uma certa gnose e resolvido o problema da existncia.
Quanto a mim, estava inteiramente persuadido que nada sabia acerca do
assunto, e que o problema era insolvel; e como tinha do men lado H ume
e Kant, julgava que no era presuno defender a minha opinio.
(2) Revue des Deux-Mondes, lJunho -1 865.
SUADEMONSTRABILIDADE
e o absoluto, contanto que lhe admitam que o absoluto
inacessvel, Ignorncia e desinteresse da questo, tal pode-
ria ser a frmula agnstica. E certo que muitasvezesesta
neutralidade s aparente, porque da absteno negao
vai s um passo, e muitosagnsticoso do, Depoisde
dizerem : Para alm dosdadosda experincia nada sabe-
mos, acrescentam: Para alm dosobjectosda experincia
nada existe,
Contudo nem todososagnsticosvo to longe, Alguns,
COMOKANT, LOCKE, HAMILTON, MANSEL, H, SPENCER, fazem
distino entre existncia e natureza de Deuse afirmam que
o ser em si existe, masno podemosconhecer a sua essncia.
Neste sistema, segundo Spencer, Deus uma realidade des-
conhecida. Todavia, ainda uma realidade e um objecto
de crena.
2, DEQUANTOS MODOS SEDEMONSTRAAEXISTNCIA
DE DEUS ? ERROS,
32, 1, Quaisosargumentospara demonstrar a
existncia de Deus? Asprovasda existncia de Deus
lran-se da raxao, do sentimento e da conscincia. bom
nula desde j que ainda que a razrro no o nico instru-
meulo, contudo o essencial, Podemossem dvida ir at
I)eius por outras vias, mascom a condio de no rejeitar
esta, nem a deprimir como um meio defeituoso e imprprio
do pensamento moderno, 0 Conclio do Vaticano declarou
que a Santa Madre Igreja defende e ensina que Deus,
princpio e fim de todasascoisas, pode ser conhecido com
certeza pela luz natural da razo humana, mediante os
seres criados. Porque, desde a criao do mundo, a inteli-
gncia humana conhece assuasperfeiesinvisveispor
meio dosseresque Ele criou (Rom. I, 20),
Depois, a Encclica Pascendi chama de novo a ateno
para a deciso do Conclio do Vaticano. Recentemente o
juramento antimodernista, prescrito pelo Motu Prprio de
1 de Setembro de 1910, confirmou e completou o texto do
Conclio : E em primeiro lugar, professo, diz o texto, que
Deus, princpio e fi m de todososseres, pode ser conhecido
e, portanto, tambm demonstrado com certeza pela luz natu-
33
3
34 EXISTNCIADEDEUS
SUADEMONSTRABILIDADE 35
ral da razo, por meio dascoisasque foram feitas, isto ,
pelasobrasvisveisda criao, como a causa pelos seus
efeitos,
E conveniente notar asduasimportantssimasadies
do juramento antimodernista ao texto do Conclio do Vaticano.
Este ltimo afirmava claramente que Deuspode ser conhe-
cido ; mas, como podia dar lugar a disputasa respeito das
viasque noslevam ao conhecimento, o juramento antimoder-
nista precisou o que se devia entender pelaspalavras; Deus
pode ser conhecido e portanto tambm demonstrado ; logo,
cognoscvel e demonstrvel. Demonstrvel, de que modo?
Pelasluzesnaturaisda razo, que, partindo dosserescriados,
e apoiando-se no princpio de causalidade, se eleva dosefei-
tos causa (I ),
33.--2. Erros. Por meio destasdecisesa Igreja
tinha em vista condenar s a) osontologistas (MALEB RANC H E
e outros) e osintuicionistas (BERGSON) que defendem a
indemonstrabilidade da existncia de Deuspela razo, certo
que nosseussistemasno necessria esta demonstrao,
porque temosou a ideia inata, ou a intuio directa de
Deus;
b) osfidestas e ostradicionalistas (J, DE MAISTRE, DE
B ONALD, LAMENNAIS) que, afirmando ou exagerando a incapa-
cidade da razo, pretendem que a existncia de Deusno
pode ser demonstrada por meio da razo, e que smente tive-
mosdela conhecimento pela f ou pela revelao primitiva,
transmitida de idade em idade por meio da tradio, Este
erro foi condenado pelo Concilio do Vaticano (Sess. III,
cap, II, can. 1) ( 2 );
(1 ) Os aditamentos feitos pelo juramento antimodernista ao dogma
definido no C onclio do Vaticano, impem-se nossa crena como verdades
de f, ou smente como verdades certas, que esto em conexo com o dogma?
No primeiro caso, hereje quem as no admitir; no segundo, smente
suspeito de heresia, porque no se pode negar uma verdade em conexo com
o dogma, sem parecer rejeitar o prprio dogma. A primeira hiptese, que
os considera como verdades de Ye, bastante verosmil, visto que estes adi-
tamentos fazem parte duma profisso de f, e esto precedidos da palavra
aprofiteor professo, que, na linguagem da Igreja, designa um acto de f.
(2) OLL-LkPRUNEdisse muito bem a proposito do fidesmo: (L'Eglise
condamne tout fidisme. Nile, qui sans la foi, ne serait pas, elle commence
par rejeter comme contraire la pure essence de la foi, une doctrine qui
rduirait tout la foi. L'ordre de la foi n'est assur que si l'ordre de la
raison est maintenu (Ce qu'on va ehercher Rome).
c) oscriticistas com KANT, que, fazendo distino
entre a razo terica e a razo prtica, negam o valor da
primeira e consideram o conhecimento da existncia de Deus
como um postulado da lei moral (n. 24);
d) osmodernistas, que s admitem a experincia indi-
vidual, como nica prova da existncia de Deus, afirmando
que asdemaisno tm valor, ou, ao menos, so incompat-
veiscom a filosofia contempornea, Segundo eles, Deusno
se pode demonstrar pela razo, maspode encontrar-se pelo
corao : a experincia religiosa basta e resolve o problema
da existncia de Deus, a origem da revelao e da religio
<n, 17).
Convm observar que a Igreja no condenou a teoria
modernista da imanncia, por usar a prova do sentimento,
alaspor causa de reduzir todososmotivosde crer hnica-
niente presena de Deusna alma, De facto a Igreja admite
que Deuspode fazer sentir a sua presena e a sua aco nas
aluasde boa vontade e tornar-se, em certo modo, imanente;
masno pensa que a imanncia de Deusseja sempre conhe-
cida directamente pela conscincia e pelo sentimento, Estes
estadosmsticosso raros, so favoresque no noscriam
direitose que no podem, por conseguinte, ser considerados
como nico meio de chegarmosao conhecimento de Deus.
Art, IL Provas da existncia de Deus.
34.Classificao.H vrios modos de apresentar as provas
da existncia de Dens.
L Alguns no as classificam e contentam-se com apresent-las
umas aps outras. S. TOMAS distingue cinco provas, Pela observao
dos seres do mundo chega a cinco atributos que se relacionam com a
existncia de Deus. Dizem-nos os sentidos que h seres que so movi-
dos, que so causados por outros, que podem existir ou no, que
possuem maior ou menor perfeio, que operam em conformidade com o
seu fim, apesar de no possurem inteligncia. Ora, todo o ser movido
s se explica pela existncia de ser imvel (argumento do primeiro
motor); o causado, pela causa primeira (arg, das causas eficientes, ou
da causa primeira); o contingente, pelo ser necessrio (arg. da contin-
gncia); o imperfeito, pelo ser perfeito (arg. da gradao dos seres); o
ordenado, por um ordenador (arg, da ordem do mundo). Logo neces-
rio subir at ao primeiro motor, at causa primeira etc., que cha-
mamos Deus.
2. Outros classificam as provas em grupos distintos.a) KANT
36EXISTNC IA DE DEUS
divide os argumentos em tericos e morais. Os primeiros encami-
nham-se a dar uma explicao racional, os segundos so simples motivos
de crer. Depois divide os argumentos tericos em argumentos a priori
e a posteriori (1 ) conforme o ponto de partida for uma ideia encontrada
em ns ou um facto determinado, ou indeterminado. 1)) A classificao
mais seguida a que divide as provas segundo a natureza do facto que
serve de ponto de partida. Obtm-se assim trs espcies de provas:
metafsicas, fsicas e morais. As metafsicas apoiam-se numa ideia
racional, as fsicas num facto fsico, e as morais num facto moral..
Infelizmente esta classificao presta-se a equvocos, porque as subdivi-
ses das trs classes no esto nitidamente demarcadas; por exemplo, o
argumento da contingncia, considerado por uns como fsico, para outro s .
metafsico ( 2).
c) Ns, porm, guiadospelaspalavrasdo Conclio do
Vaticano e do juramento antimodernista, comeamos. pelo s.
seresvisvese obtemosassim duasclassesde argumentos..
Com efeito, entre asobrasvisveisda criao s duaspodem
ser objecto do nosso estudo; o que existe em nse o que
est fora de ns, Ora o duplo conhecimento do mundo-
externo e do mundo interno deve conduzir-nosao conheci-
mento de Deus, Da, duasespciesde argumentos; cosmo
lgicos, fundadosno estudo do cosmos ou mundo, e psicol-
gicose morais, baseadosno estudo da alma humana. A estas
duasclassesacrescentaremos, como confirmao, o facto do,
consenso universal dospovos,
1, OMUNDOEXTERNO. PROVAS COSMOLGICAS
35.Se observarmoso mundo externo conheceremos
trsfactos; a) a sua existncia; b) o movimento que o
anima; c) a ordem que nele reina. Ora estestrsfactos
supem que existe algum fora do mundo, que seja causa da
sua existncia, fonte da sua actividade e princpio da ordem
que nele vemos. A esse algum chamamosDeus. Da,
trsprovastiradas; 1. da' existncia do mundo -- 2. do
movimento do mundo 3, da ordem do mundo.
PROVA TIRADA DA EXISTNC IA DO MUNDO37
1.a Prova tirada da existncia do mundo.
Argumento da causa primeira
on da contingncia.
36. Argumento. Este argumento pode apresentar-se
de vriosmodos, Podemosassim formul-lo; A existncia
dum mundo contingente no se explica sem Deus.
BOSSUETprope-no deste modo: Se num momento
nada existisse, eternamente nada existiria . Que o mesmo
que dizer : Existe um ser eterno e necessrio. Ora o mundo
no eterno nem necessrio, Logo existe Deus. Ponhamos
o argumento em forma silogstica (1 ) :
Ascausassegundassupem uma causa primeira, e os
serescontingentes, um ser necessrio. Ora no mundo s h
causassegundase serescontingentes. Logo o mundo supe
ou exige uma causa primeira e um ser necessrio, Este ser
Deus( 2 ),
A. Prova da maior. As causas segundas supem
ama causa primeira e os seres contingentes, um ser neces-
sdrla.
Deve entender-se por causa segunda a que causa e efeito, que
deve a prpria existncia a outra causa (por exemplo, o pai); e por ser
contingente o que no tem em si a razo de sua existncia e que podia
no existir,
Causa primeira, ao contrrio, aquela cuja existncia no depende
-doutra, e ser necessrio o que tem em si a razo de sua existncia
(1 ) 0 silogismo um raciocnio composto de trs proposies tais que,
admitidas as duas primeiras (as premissas), foroso admitir a terceira
( a concluso). A primeira premissa chama-se maior e a segunda, menor.
Para maior clareza, distinguiremos a maior e a menor e prov-las-emos
separadamente.
(2) Outros propem o argumento deste modo : o que comea a existir
no existe por si, mas supoe um C riador. Ora o mundo comeou a existir.
Logo o mundo teve que receber de Deus a existncia. Assim apresentado,
parece defeituoso, porque os adversrios podero subsumir a menor dizendo :
mas o mundo no comeou. 0 argumento no se baseia no facto de o
mundo comear, mas na sua contingncia, isto , sob o ponto de vista da sua
existncia e natureza. Que tenha comeado ou no, que seja eterno ou criado
no tempo, pouco importa; ser sempre contingente, quer dizer, insuficiente
e portanto postula um ser necessrio. PLATOe AulsvTsLES, que defen-
diam a eternidade do mundo admitiam tambm a existncia de Deus; tanto
quais que ningum ainda demonstrou pela razo que Deus no pudesse criar
o mundo abaeterno.
(1 ) A expresso a priori significa anterior experincia; por conse-
guinte quer dizer que discorremos independentemente da experincia apoia-
dos unicamente nos princpios da razo. A expresso a posteriori tem sentido
contrrio e significa que nos apoiamos na experincia, que subimos dos
efeitos causa.
(2) C ontra esta classificao poder-se-ia igualmente objectar que
todas as provas racionais so afinal metafsicas, porque todas se apoiam no
princpio de causalidade.
38 EXISTNC IA DE DEUS
e no pode deixar de existir. Como fcil de ver, todas as causas
segundas so contingentes, pois no tm em si a razo da sua exis-
tncia; e reciprocamente, os seres contingentes so causas segundas,
porque recebem doutras a prpria existncia.
A diferena entre estas duas denominaes provm de considerar-
mos o mundo sob dois aspectos; a) no facto da sua existncia, isto ,
enquanto causa segunda, e b) na sua natureza, isto , enquanto con-
tingente.
Dosprincpiosde causalidade e de razo suficiente
deduz-se que ascausassegundassupem a causa primeira,
poisningum poder afirmar com verdade que ascausas,
segundasse explicam umaspelasoutras. Com efeito, suba-
mosquanta quisermospela srie dascausassegundas, pas-
sando do filho ao pai, do pai ao av e assim por diante ;
suponhamosat uma srie infinita ( 1 ), se ela possvel ;
com isso conseguiremosfazer recuar a dificuldade, masno a
resolveremos, se no recorrermos causa primeira. Porque
evidente que, se cada uma dascausassubordinadas de:
si insuficiente para se dar a prpria existncia a si mesma,
a sua natureza no se mudar aumentando o nmero das
causas. Suponhamosuma srie de dez, vinte, cem ou infi-
nitosignorantese nunca chegaremosa ter um sbio. As
causassegundas, incompletase insuficientespor sua natu-
reza, exigem portanto uma causa primeira distinta delas, que
lhestenha dado a existncia.
0 raciocnio seria o mesmo, se considerssemososseres
no como causassegundas, mascomo serescontingentes.
Pelo facto de no terem em si mesmosa razo da sua exis-
tncia, exigem um ser necessrio que seja a sua razo de ser.
B, Prova da menor. Ora o mundo compe-se de
causas segundas e de seres contingentes. Para a demonstrar
consideremososseresinanimadose osseresviventes,
a) Seres inanimados. Se examinamosa matria bruta,
(1 ) Segundo ARISTTELES, S. TOMAS, LErB NIZ e KANT, a srie infinita.
de causas segundas, ou motores segundos, no contraditria; a razo no,
pode, por exemplo, demonstrar que a srie de geraes ou de transforma-
es de energia teve necessariamente comeo e no existiu ab aeterno. 0 que
repugna que uma srie de causas segundas, ou de motores movidos, exista
sem uma causa primeira, um primeiro motor imvel, que seja a razo de ser
da sua existncia.
PROVA TIRADA DA EXISTNC IA DO MUNDO39
evidente que osseresinanimadospodiam no existir e no
se deram a si a existncia,
b) Seres viventes, Quando se trata dosseresvivos, a
prova maisfcil ainda, No ser verdade que nsmesmos
nossentimoscontingentes? ( 1 ). 0 nosso ser vem dosnossos
pais; em nenhum momento somossenhoresda nossa vida ;
podamosno ter nascido e um dia morreremos, Podemos
com verdade dizer isto mesmo dosoutroshomense a for-
tiori dosseresinferiores, animaise plantas,
Podemosir ainda maislonge, A cincia positiva afirma
que a vida principiou um dia sobre a terra; que houve tempo
em que nenhum ser vivo existia e em que a vida no era
possvel. E a geologia que no-lo ensina. Estudou o globo
terrestre e perguntou-lhe ossegredosdo passado. Nascama-
dassuperiores, nosterrenosquaternrios, encontrou vestgios
de raashumanas; abaixo destas, nascamadasterciras, s
viu sinaisde plantase animaissuperiores; depois, a maiores
profundidades, nosterrenossecundrios, restosdosmoluscos
que povoavam osmares, e dosgrandesrpteisque habita-
vam oscontinenteshmidos; maisabaixo ainda, nascamadas
primrias, a vida revestia asformasmaissimples. Final-
mente, maislonge ainda, nasrochascristalinasprimitivas,
nenhum vestigio de seresvivos; no porque o tempo lhes
tenha feito desaparecer osrastos, mas, porque de facto,
nenhum ser ento existia e porque a crusta terrestre, em
estado de fuso gnea, a 3000, oferecia condiesincompat-
veiscom a vida,
Portanto o mundo, considerado nosseresanimadose
inanimados, no tem em si a razo da sua existncia; e,
como no se pde fazer a si mesmo, exige a interveno dum
ser soberano, que lhe deu o ser e a vida (V, o valor desta
prova u, 60).
37. Objeces. 1. Contra a maior. -- A. Tanto
M, KANTcomo ospositivistasno admitem o princpio de
(1 ) A anlise do eu e da sua contingncia podia tratar-se no segundo
grupo das provas que se apoiam nos dados internos. Deste modo constituiria
nina prova parte e poderia assim enunciar-se: a contingncia e as imper-
feies do nosso ser supem a existncia duma causa primeira necessria e
perfeita.
EXISTNCIADEDEUS
causalidade, no qual se funda o argumento da causa primeira
e da contingncia. No nospreocupamoscom ascausas,
diz A, Comte, estudamosapenasasrelaesde sucesso e
semelhana dosfenmenos, Segundo HUME, a causali-
dade no reside nascoisas, maslnicamente no esprito,
0 fogo faz ferver a gua, e a gua, transformada em vapor,
impele a locomotiva. Concluir deste facto que o primeiro
fenmeno causa do segundo deduo sem carcter cien-
tfico, Portanto poderemossemente afirmar que o pri-
meiro o antecedente invarivel e a condio necessria do
segundo.
Em todo o caso, a cincia s conhece osfenmenos,
sem nunca poder passar do fenmeno ao nmeno, isto ,
a Deus.
Refutao. Ospositivistasafirmam que estudam ape-
nasosfenmenose assuasrelaesde sucesso e seme-
lhana. Mas, que esse antecedente invarivel e essa con-
dio necessria, seno aquilo mesmo a que nschamamos
causa?
Concedemossem dificuldade que a cincia no vai alm
dosfenmenos, porque no a cincia experimental que nos
deve conduzir a Deus. Deusno se pode ver na objectiva
do telescpio, nem no tubo de ensaio, Procurar a Deusno
misso da cincia positiva, masda metafsica, Ora a meta-
fsica no exorbita dosseusdireitos, quando se apoia no prin-
cpio de causalidade, que se impe razo como evidente,
embora nem sempre possa ser verificado pela experincia.
Exceptuadosospositivistas, ningum duvida, ao menosem
teoria, que todo o ser, que no tem em si a sua razo sufi-
ciente, exige uma causa, a qual no mero antecedente do
seu efeito, masverdadeiramente o produz.
38.B. Outra objeco. A causalidade inclui no
seu conceito a passagem do estado de inaco ao estado da
actividade, isto , uma mudana. Se Deustivesse criado o
mundo no tempo, teria praticado uma aco que no eterna,
quer dizer ster-se-ia mudado, e por conseguinte no seria
imutvel nem necessrio, Logo o mundo eterno e Deus
no pde ser a sua causa.
PROVATIRADADAEXISTNCIADOMUNDO41
Refutao. um erro conceber a causa primeira
semelhana dascausassegundas, que pela experincia conhe-
cemos; porque s estasesto sujeitas lei do tempo. Desde
toda a eternidade Deus causa primeira, porque foi na eter-
nidade que ideou e decretou a criao do mundo. E certo
que o efeito s apareceu no tempo e que temosalguma difi-
culdade em o explicar, contudo no se modificou a natureza
divina, que permaneceu sempre imutvel e necessria.
39. Contra a menor. A. Se o mundo teve comeo,
objectam osmaterialistas, evidente que devemosadmitir
um criador, Maso mundo no comeou, porque eterno.
Nada, pois, nosimpede de subir indefinidamente pela -srie
dascausassegundas. A dificuldade que julgamosencontrar
no provm dascoisas, masda inteligncia que incapaz de
compreender o infinito.
Refutao. Ainda mesmo na hiptese de ser infinita a
srie dascausassegundas( 1 ), somosobrigadosa indagar
quem lhe deu o ser; porque, se cada uma dascausassegun-
dasnecessita duma causa para existir, tambm a srie infinita
ter dela necessidade, como dissemosna prova da maior.
40.B, Forma moderna da objeco materialista.
-- A nova escola materialista (C. Vocr, MOLESCHOTT, HAE-
CKEL, . ,) ( 2 ) que remonta aosmeadosdo sculo XIX, tentou
explicar cientificamente a origem do mundo, com o fim de
eliminar Deus. Para isso apoiou-se na filosofia da ima-
(1 ) Os filsofos fazem distino entre srie infinita e nmero infinito.
0 nmero infinito em matemtica um impossvel, porque, por maior que
seja, sempre susceptvel de aumento. J no sucede o mesmo com a srie , .
por ser um conjunto de seres distintos e sucessivos, seja de que modo for.
Segundo ARIsTTELESe S. Toms no h repugnncia alguma em admitir urna
srie infinita na ordem dos fenmenos que tivessem sucedido no passado,
nem em conceber uma multido actualmente in fi nita e inumervel. Por isso
S. Toms afirmava que s pela revelao podamos conhecer que o mundo
no foi criado - desde toda a eternidade.
(2) HAECKELfoi um dos mais ardentes defensores deste sistema. 0 livro
Os Enigmas do universo, publicado em 1 900, profusamente divulgado na Ale-
manha e depois em Frana, em 1 905, e em Portugal, tem por fim expor o
monismo puro e resolver os problemas do universo. Defendemos com de-
nodo, diz ele, o monismo puro... que s reconhece no universo uma substn-
cia que simultneamente Deus e a Natureza. A matria e o esprito so os
dois atributos fundamentais, as duas propriedades essenciais do Ser csmico
divino, que abrange e compreende a substncia universal.
40
EXISTNCIADEDEUS
nncia, que supe que o mundo contm em si o princpio da
sua actividade. Segundo este sistema, o mundo, ou melhor,
a substncia universal possui doisatributosessenciais; a
matria e a fora. A matria , pois, a nica realidade apa-
rente ; e como eterna e dotada de energia, basta para expli-
car todasascoisas,
a) Mas como provam que o mundo eterno? Por
meio de trsfactosque, segundo eles, so comprovadospela
cincia, a saber ; a indestrutibilidade da matria, a conserva-
o da energia e a necessidade dasleisd,a natureza,
1. Indestrutibilidade da matria. E princpio admitido
depoisdasexperinciasde LAVOISIER, que a massa doscorpos
no se altera no meio dastransformaesa que esto sujei-
tos; nada se cria e nada se perde ( 1 ).
2, Conservao da energia. A quantidade de energia,
que o universo possui, permanece constante,
3. Necessidade das leis da natureza. A matria obe
dece a leisinvariveis. Sc a matria e a energia permane-
cem constantese obedecem a leisimutveis, podemoscon-
cluir, dizem osmaterialistas, que o mundo no ter fim ; e se
no pode ter fim, tambm no teve principio ; logo eterno.
b) Suposta a eternidade da matria, apelam osmateria-
listas para a teoria da evoluo, a fim de explicar a formao
do mundo e dos seres vivos. Ostomoseternosformavam
ao princpio uma nebulosa imen-sa, que, pouco a pouco, sob a
aco dasforasinerentes matria, deu origem aosastros
espalhadospelo espao infinito, 0 nosso planeta passou tam-
bm por uma srie de mudanasnecessrias. Como todosos
astros, foi-se formando e aperfeioando a si mesmo, passando
do estado gasoso ao estado slido, revestindo-se, com o tempo,
duma crosta que depoisse tornou habitvel,
c) Quando apareceram ascondies, que a vida requer,
nasceram osprimeirosseresvivospor gerao espontnea,
ou evoluo criadora (2
)
(B ERGSON), sem necessidade de
(1 ) Um corpo pode passar por diferentes estados fsicos sem variar a
quantidade: por exemplo, a gua no estado slido (gelo), lquido ou gasoso
(vapor).
(2) Pelo facto de aludirmos ao sistema bergsoniano, que supe uma
grande corrente vital a irradiar dum centro e a insinuar-se na matria para
a organizar e criar os vegetais e os aniMais, no nosso intento colocar
a R. B ERGSON no nmero dos materialistas.
PROVATIRADADAEXISTNCIADOMUNDO43
recorrer interveno dum Deuscriador. Osseresparti-
culares, contidosj em germe na matria eterna, so como
clulasdeste organismo imenso a que chamamosmundo; se
nosparecem contingentes porque temoso costume de os
abstrair do todo continuo (LE Rot)
e no osconsideramos
no seu conjunto.
Em resumo, a eternidade da matria, a formao
do mundo pela evoluo,
a apario dosprimeirosseres
vivospor gerao espontnea e sua transformao em
espcies, so astrsgrandesfrmulascom que osmate-
rialistaspretendem explicar tudo, sem recorrer a um
Criador.
Ref utaao.
a) Eternidade da matria.
Notemosque
osdoisprimeirosprincpiosaduzidos; a
indestrutibilidade e
a conservao da energia,
so apenashipteses, autorizadas,
se quiserem, pela experincia, masnada mais
. Estesprin-
cpios
nem so evidentespor si mesmos, nem
susceptveis
duma demonstrao puramente experimental. Mas, ainda
na hiptese de serem absolutamente certos, que
prova-
riam? Provariam sbmente que a
natureza da matria
indestrutvel e
dotada de energia inaltervel, masno que
eterna. O
facto de ter Deuscriado a matria indestru
tvel
no nospermite concluir que existe desde toda a eter-
ill dade,
Oprincipio da necessidade das leis nada prova a favor
da eternidade da matria, porque asleiss exprimem
o
seu modo de ser constante, sem nada afirmar da sua
ori gem ,
Masconcedamosque seja eterna . Ser tambm neces-
sria? Nesse caso deveria provar-se que tem em si a sua
razo de ser, que no pode deixar de existir, nem ser dife-
rente do que .
Ora no pode ser ente necessrio aquele
que est sujeito ao devir,
que se transforma indefinidamente
e que est em continua evoluo criadora. Poder porven-
tura ser necessrio o ente que est limitado por doistermos,
o nascimento e a morte? A isto osmaterialistas respondem
que no seu conceito o mundo s ser necessrio, conside-
rado no seu conjunto, e no naspartesde que composto.
Masbasta um pouco de bom senso para compreender que
42
44
EXISTNCIADEDEUS
no pode o conjunto ser necessrio se todasaspartesso
contingentes( 1 ),
Portanto o mundo contingente, quer se considere eterno
ou no, quer se tome no seu conjunto ou naspartesde que
se compe. Logo supe um ser necessdrio que lhe deu a
existncia,
b) Formao do mundo.Estabelecido
o princpio da
eternidade da matria, julgam-se osmaterialistascapazesde
explicar a formao do mundo sem o Criador, Para esse
fim, estribam-se na hiptese cosmognica de LAPLACE, geral-
mente admitida com ligeirasmodificaes, e supem que o
universo era originriamente uma nuvem de tomos, Um
dia sob o influxo dum fluido qualquer, chamado fora, ener-
gia, electro ou como se queira, a matria comeou a evolu-
cionar e formou sucessivamente osmundos, -
Mas, ou a matria e a energia so eternas, ou no o so,
1, Se so eternas, devem ter comeado a evoluir desde
toda a eternidade. Esta suposio, porm, contradiz a teoria
de LAPLACE, que atribui princpio e fim ao movimento da
matria e evoluo. Por outro lado, se a evoluo deve
terminar, j se teria dado esse facto, uma vez que se supe
ter comeado desde toda a eternidade. 2, Portanto temos
de admitir a segunda alternativa, que estabelece em principio
que a matria e a energia, ou pelo menosuma delas(s),
tiveram incio,
(1 ) Os filsofos modernos da escola bergsoniana tentam sofismar a
dificuldade, dizendo que o conjunto, o Grande Todo, no bem a
soma de
todas as partes, mas a fonte donde dimanam, a substncia donde derivam
todos os seres por via de evoluo. B ergson fala dum centro, donde ema-
nariam todos os mundos, como um bouquet de fogo de artifcio.
L'rolu-
tion cratrice
p. 270. Mas ainda que a formao do mundo se explicasse pela
evoluco da matria, sempre ficaria por explicar a sua origem.
(2) Alguns apologistas, para provar que a evoluo da matria teve
comeo, fundam-se na lei da degradao da energia. Notemos primeiramente
que os fsicos distinguem duas espcies de energia segundo mais ou menos
capaz de produzir trabalho. Uma superior (por ex.: o movimento) e outra
inferior (por ex.: o calor). Ainda que a primeira lei da termo-dinmica nos
diz que a soma total das energias do mundo permanece constante, contudo
a segunda afirma que a energia se deprecia em qualidade, isto , se degrada.
Por outras palavras, no pode haver dispndio de energia superior, sem
que alguma se transforme em energia inferior, ou calorfica. A bola elstica
ao saltar, nunca atinge a altura donde caiu, porque uma parte da energia se
transformou
em calor.:. Por outro lado, a energia interior nunca se trans-
forma inteiramente em energia superior... Donde se conclui que a energia
se degrada a cada instante. Numa palavra, o universo, em virtude das leis
que o regem, tende para um fim que , no o aniquilamento, mas o repouso...
Ora o que tem fim no pode ser infinito. Se a energia til fosse infinita em
PROVATIRADADAEXISTNCIADOMUNDO
45
Masse a energia no eterna, quem a comunicou
matria? Se a no possua desde toda a eternidade, tambm
a no pde dar a si prpria no decorrer dostempos: ningum
d o que no tem, Por conseguinte, recebeu-a de algum
que est fora dela, e acima dela, e deste modo chegamos
necessriamente at Deus.
c) Gerao espontnea e Transformismo,Para
expli-
car a origem dos seres vivos,
invocam osmaterialistasduas
hipteses: a gerao espontnea e o transformismo,
1, Infelizmente a primeira
anticientfica, e contradiz.
asconclusesda cincia positiva, Como adiante diremos
(n, 86) nenhum sbio conseguiu provar a passagem, real ou
possvel, da matria inorgnica vida : o maisno pode vir
do menos, Asexperinciasde PASTEURdemonstraram com
evidncia que o ser vivo s pode provir doutro ser vivo
omne vivum ex vivo.
2,
A hiptese transformista, que explica a formao
dasespciespela evoluo, apenasverosmil (n. 89); mas
ainda que fosse certa ( 1
), s viria confirmar a teoria mate-
rialista no caso de ser uma consequncia da gerao espon-
tnea, Com efeito, se necessrio recorrer a um Criador
para explicar o aparecimento do primeiro ser vivo, evi-
dente que a hiptese transformista no favorece os
mate-
stas,
Por consequncia, a
teoria materialista, longe de se
apoiar na cincia experimental, est em oposio com ela,
Omodo de explicar o mundo, sem Deus, contrrio
cincia
e it razilo, Deve portanto rejeitar-se,
qua
ntidade nunca so poderia esgotar... Portanto se a quantidade de energia
eWlIr:ocl lot-de ter fim, eito pode ser infinita. Mas supondo que a energia
an ve in
dispendendo e gastando h um tempo infinito, e que estes dois ter-
mos niho so contraditrios, j se deveria ter esgotado. Ora, ainda no se
esgotou, logo a energia no remonta ao infinito. Guibert,
Le Conflit des
Croganece relitiieU.ses et des clenees de la nature.
Desta lel da degradao da energia, concluem esses apologistas:
1 . 0 mundo teve comeo, assim como a energia utilizvel, visto que no
infinita. 2, Portanto o movimento do mundo no pde vir da matria,
pois no possua energia utilizvel. Este segundo ponto pertence prova
seguinte (argumento do primeiro motor).
(1 ) Mesmo assim, a teoria da evoluo no so poderia aplicar ao
homem, pelo menos quanto alma. Veremos depois (n.. 1 06 e sege.) que a
homem no simplesmente um animal mais perfeito. Se o corpo no difere
essencialmente do dos animais superiores, a alma doutra natureza e possui
faculdades intelectuais e morais, que a distinguem essencialmente do bruto.
46
EXISTNCIADEDEUS
2.a Prova fundada no movimento do mundo.
41. Argumento.
Este argumento pode apresentar-se
na forma seguinte ; 0 movimento que observamosno mundo
no se explica sem Deus,
Desenvolvamosesta prova em forma silogstica ; Tudo o
que se move, todososmotoressegundos, supem um motor
primeiro imvel, Ora no mundo h movimento, Logo o
movimento do mundo supe um motor primeiro ( 1 ).
A. Prova da maior. Os motores segundos supem
um motor primeiro imvel.
Osmotoressegundosso osque
no tm em si a razo de ser do seu movimento, masrece-
beram-no dum impulso estranho, E evidente que tanto os
motoressegundoscomo ascausassegundasexigem necess-
riamente um motor primeiro, Por maior que seja o nmero
dosmotores, ainda que formem uma srie infinita, se cada
um recebe o movimento doutro, preciso forosamente
recorrer a um primeiro motor que seja imvel, Como no
pode haver efeito sem causa, o movimento no poder existir,
se no admitimosum motor primeiro, que o comunique sem
o receber. Esta maior, como aliso argumento da contin-
gncia, apoia-se no princpio de causalidade,
B. Prova da menor. incontestvel a existncia do
movimento
no mundo. Se noslimitamoss ao movimento
local da matria, vemosque todososplanetasgiram sobre
si mesmose em volta do sol. Este, por sua vez, dotado
tambm de movimento de rotao e encaminha-se com todo
o sistema planetrio para um ponto fixo do cu, chamado
apex.
A terra, que nosparece imvel, est igualmente ani-
mada deste duplo movimento de rotao sobre o seu eixo e
de translao. Maisainda ; tudo o que existe sua super-
fcie est em movimento ; Asguasdescem dasmontanhase
correm lentasou impetuosas, formando ribeirose rios, que
(1 ) 0 argumento do primeiro motor esta em conexo com o da causa
primeira, porque se funda no mesmo princpio e segue o mesmo processo.
Por isso alguns autores apresentam simultaneamente os dois argumentos.
PROVAFUNDADANOMOVIMENTODOMUNDO47
vo lanar-se no mar ; no mar h fluxo e refluxo, vagase
correntes. , , (V. o valor desta prova n, 60 e 61) ,
42.
Objeces. 1. Contra a maior.Primeiro
motor imvel, no sero porventura termoscontraditrios?
Todososmotoresdevem passar da
potncia ao acto; logo
nenhum pode ficar imvel, Alm disso, se
comeou a mover,
j.t no imvel. Esta objeco a quarta antinomia de Kant,
Refutao.
Convm primeiro definir ostermos, Potn-
cia
a capacidade de receber ou adquirir uma qualidade;
n acto ( 1
) a posse dessa qualidade, Por exemplo, a gua
Iria est em potncia relativamente ao calor; pode tornar-se
quente, masainda no est. Quando estiver quente, diz-se
(pie
est em acto, Mas, para passar de fria a quente, precisa
cliu aco do fogo, que j possui o calor em acto.
l elta esta distino, fcil ver que ostermosmotor
Imvel no so contraditrios, Esta contradio aparente
proven' do falso conceito que dele se forma. No se deve
Mil I I i ni ubi li dade com inactividade. Quando afirmamos
trio I)euv, motor primeiro, imvel, no queremosdizer que
t' iitutalvn, nssty tliltt i iao passa da potncia ao acto, poissendo
,,i ^Nrl^ por il etini` l n, cS st mesona act ividade. Assemelha-se
n
till 101 11 de .lur, que alluece, pelo facto de ser fogo. E se
rttln logo loi rteno, ; u lue(era eternamente. A dificuldade
pai 'vOmi tentente euii coin preender como que osefeitos
riflo suas se
produzem no tempo. J respon-
ilmi n e tt esta objeco, a propsito da causa primeira
(l," 1H).
4.1 . - 2," Contra a menor.No pretendemos, dizem
otl
adversrios, negar o movimento do mundo, maspodemos
ekpl
lc-lo sem Deus, Duashiptesespodem dar-nosa razo
elo nioviniento da matria; a mecnica e a dinmica.
A, Iliptese mecnica. Funda-se na lei da inrcia.
Segundo este princpio, admitido pela cincia, oscorposso
1) I) acto ope-se potncia. Portanto quando dizemos que Deus
rto vuea, equivale a afirmar que nele nada h em estado de potncia, mas
guo ++ ul na realidade completa, isto , que possui sadot as qualidades.
49
48
EXISTLNCIADEDEUS
indiferentespara o repouso ou movimento, Logo, so incapa-
zesde modificar o estado em que se encontram, sem inter-
veno duma causa estranha, Mas, se um corpo persiste no
estado de repouso ou movimento em que se encontra, bast
a.
supor que eterno, para explicar o movimento do mundo.
.
Refutao. 0
princpio da inrcia, invocado pela hip-
tese mecnica,
no pode ser verificado pela experincia, pelo
menosquando afirma que um movimento continua indefini-
damente, se no h um obstculo que se lhe oponha. Nin-
gum pde ainda comprov-lo, como diz H, POINCAR, em
corpossubtrados aco de qualquer fora, E apenasuma
hiptese sugerida por algunsfactosparticulares(projcteis) e
aplicada sem temor de errar aoscasosmaisgerais(na astro-
nomia, por exemplo), poissabemosque em taiscasos, a expe-
rincia nem a pode confirmar nem contradizer,
Masadmitamoso princpio da inrcia, Se oscorposso
indiferentestanto para o repouso como para o movimento,
requer-se uma causa estranha que ostire do estado de indi-
ferena, para explicar o facto de estarem em movimento e no
em repouso, No basta afirmar que o movimento doscorpos
eterno, mas necessrio dizer
quem lho comunicou.
J vimosque, segundo a hiptese de LAPLACE, o movimento
teve comeo, e que anticientfico sup-lo eterno (n. 40),
B, Hiptese dinmica. Esta
hiptese explica o movi-
mento doutra maneira, E certo, dizem osdinamistas, que os
corposso inertes, maspossuem a propriedade de se atrarem
.
mutuamente, segundo a lei da atraco universal, Deste
modo oscorposno tm necessidade de um motor estranho
para se mover; a formao dosmundos, o seu movimento, ,
explicam-se cabalmente pelasforasda matria,
Refutao. Se oscorposse puseram em movimento
em virtude da lei da atraco universal, isto , duma fora
que osatrai mutuamente, porque que ostomosno for-
maram uma s massa ? Osdinamistas, para explicar a for-
mao dosmundos, viram-se obrigadosa admitir duasforas
contrrias,
A fora atractiva ou centrpeta, segundo eles, contra
PROVATIRADADAORDEM DOMUNDO
balanada pela
fora tangencial ou centrfuga, que produz
movimentosgiratriose d origem aosastrosinumerveis
que
povoam o espao. Mas, como se explica que a matria
esteja
animada de doismovimentos atraco e rotao
de
efeitoscontrrios? Nesse caso deveriam existir duas
for-
contrriasna matria, Alm disso, a hiptese dinmica,
.,apondo a matria eterna, deve concluir que ostomosneces-
siurianlente se atraem j desde toda a eternidade e que a evo-
Iiao dosmundosno teria tido princpio; deste modo nos
rncontramos, uma vez mais, em contradio com o sistema
de Laplace. Logo, ou queiram ou no, sempre tm de recor-
rer ao impulso inicial do
primeiro motor.
R.a
Prova tirada da ordem do mundo.
Argumento das eausas finais.
41. Argumento.
A ordem do mundo no se pode
c; r
pllcttr sem Deus, Voltaire exprimiu este argumento nos
vai osmantas vezescitados;
. 1 ; unlvnre n',nniinrritsse, et je ne puissonger
I ua collo
Inrrloite nonrelie rI n'ail poial d' hortot;er, n
1 ' od0mm1 1 -lo eApor deste modo; Toda a ordem exige urna
111,01061(1u
ordeanldorn. (ha no mundo h ordem, Logo h
Iclull n' nt uull Inleill nCI t or(lcnadora,
I1'.0411l prov.I mu
popular, aduzida j por SCRATES (Nlemo-
I 1140, Utl 1f:IN (I )r ,N/ura Deorum), SI' NECA (De beneficiis),
cuupluuenle e%pie;la por FhNEeoN(
Trait de l'existence de
I )/,,) e pala qual l' ANT professava certa admirao, conhe-
c'Ida I;uiibei l pelo nome de argumento teleolgico (de telas,
11111 ), ou dascausas finals.
one sat) ris causas finais? Para
compreender esta
ti pressfo : conveniente saber primeiro o que se entende
por fine e urein. nut dum ser aquilo a que se destina, ou
pant chie tai feito; o fim do relgio indicar ashoras.
A
leln c aquilo que serve para se obter o fim. A cada fim
podem corresponder meiosdiversos, Por isso o fim influi
0o trabalho do artista, a causa que o move na escolha dos
A finalidade ou causa final, isto , a escolha dos
4
50EXISTNCIADE.DEUS
meiospara obter o fim, a adaptao dosmeiosao fim o
constitutivo da ordem e supe portanto uma inteligncia
consciente do fim que se quer obter, e da aptido dosmeios,
Podemosdistinguir duasespciesde finalidades; a fina-
lidade interna e a finalidade externa. Osrgosdosseres
vivosesto admirvelmente adaptadosao fim a que se des-
tinam so peixe tem barbatanaspara nadar; a ave, asaspara
voar, etc, ; a finalidade interna. A finalidade externa o
fim assinalado a cada ser no conjunto da criao, 0 fim do
mineral alimentar a planta, a planta nutre o animal, e
ambosso teisao homem. No argumento falaremoss
de finalidade interna, porque a externa maisdifcil de
determinar.
1,Prova da maior. A ordem supe uma inteli-
gncia ordenadora. Como nosargumentosprecedentes, a
maior funda-se no princpio de causalidade, A ordem, como
antesdissemos, consiste na adaptao dosmeiosao fim,
Logo, um efeito e, como tal, supe uma causa, um autor
inteligente que escolheu osmeiosaptospara o fim que
tinha em vista,
Prova da menor. Ora no mundo lid ordem.
0 mundo, considerado no seu conjunto, apresenta-se como
um vasto sistema, perfeitamente ordenado, onde cada ser
ocupa o seu lugar, segundo um piano preconcebido e reali-
zado com perfeio. Ossbios, cada qual na sua esfera,
poderiam descrever-nosasmaravilhasque resplandecem em
cada pormenor desse plano admirvel, Se, guiadospelo
astrnomo, perscrutamosa imensidade doscus, ficaremos
absortosperante o grandioso espectculo que se apresenta
aosnossosolhos. Maso nosso assombro cresce ainda mais,
ao ver que essesastrosinumerveis, a enormesdistncias
do nosso planeta, e de dimensesimensamente maiores, se
deslocam com velocidadesvertiginosas, seguindo um percurso
determinado com tal regularidade que se pode predizer com
toda a certeza o momento do seu aparecimento e do seu
ocaso no horizonte, , .
Se consideramosa terra que habitamos, no encontra-
remosmenosordem e harmonia, 0 fsico indicar-nos- as
PROVATIRADADAORDEMDOMUNDO51
Ir.is a que oscorposinvarivelmente obedecemleisda
(meda doscorpos, do calor, da propagao da luz; o bota-
nico far-nos- admirar, na flor doscampos, a simetria das
portes, a elegncia dasformas, a riqueza e a variedade das
cores; tudo nosdir que obra dum artista consumado,
(1 il,slflono pode descrever-noso que h de belo nosrgos
do corpo humano e, em especial,_ da vista e do ouvido, que
nosrevelam asbelezasdo Criador,
I? se descermosa escala dosseres, encontraremostam-
h,rr maravilhas, admirvel o instinto dasabelhasna
engenhosa organizao da colmeia, dasaranhasem urdir a
leia com tanta perfeio, dasavezinhasna impecvel con-
lrr rao do ninho; todossem excepo empregam meiosaptos
lima u Iin que desejam atingir.
Omundo actual, podemosconcluir com KANT, ofere-
ce-nosuni teatro to vasto de variedade, ordem, finalidade e
Irr l rx 1 , que no h lngua capaz de traduzir a impresso que
pleol ocosdiante de (amanhasmaravilhas, (V. o valor desta
'Provo, n." `rr)) .
46.Objec:i'les. 1." Contra a maior. E sobre-
ludn rnnla n uullnr que os ateus dirigem Os seus ataques.
Itr- A uhr, ein ljetnliirnlr, n ordem que crina no mundo, mas
Irnt;nn e (It^^tadl^ dunlru modo. Sim, dizem eles, toda a
e, sn snlltlA uni urlcn olor ; miasesse ordenador no
^` l amuo, on nicll u rr, segundo a nova frmula, a
A, OFoi o acaso, dizia-se na antiguidade,
indo II+ nu' icrito, I?picuro e Lucrcio, o mundo actual
uno dils innneras combinaes por que passou o universo.
Olrrlrcendo a toras cegas, inconscientes e fatais, os tomos,
ll'persospelo espao infinito e animadosdum movimento
obliquo (pie os impelia unscontra osoutros, entrechoca-
um e e luularam-se, Estesencontroscasuaisderam origem
n lt,lonlelados instveis, de maior ou menor durao, Um dia
pot ul, lormou-se uma combinao maisfeliz e harmoniosa,
quo se perpetuou, porque, em razo da sua ordem e harmo-
ulil, o equilbrio era maisestvel, Logo, a ordem no o
eleito (Ilona causa inteligente, maso resultado do acaso.
52EXISTNCIADEDEUS
Refutago. Explicar a ordem do mundo pela hiptese
do acaso, equivale a no dar explicao nenhuma, Quando
ignoramoso modo como um facto aconteceu, podemossem
dvida atribu-lo ao acaso, masningum se iludir nem duvi-
dard da nossa ignorncia.
Alm disso, o distintivo do acaso a inconstncia e a
irregularidade, isto , o contrrio da ordem, No se tira .
sorte vinte vezesseguidaso mesmo nmero, diz LEGOUV
(Fleurs d'hiver). No se faz cair um dado vinte vezes
seguidasno mesmo mimero . Ora a natureza tira o mesmo
mimero e recai no mesmo dado h milharesde sculs .
Se no compreendemoscomo um relOgio seja efeito do
acaso, como poderemossupor que o mundo, mquina muito
maisperfeita, provenha do acaso? Oacaso poder explicar
um facto particular, um feliz lance da sorte, masno a ordem
que abrange casosinumerdveis. Portanto, pretender que a
ordem universal efeito do acaso, o mesmo que afirmar
que h efeitossem causa, que a ordem pode provir da desor-
dem ; supor um absurdo,
B. A Evoluo. Oacaso foi substitudo moderna-
mente pela palavra maissonora; evoluo, Presentemente
diz-se que a ordem do mundo no obra de Deus, mastra-
balho da evoluo, 0 que chamamosfinalidade um en
gano. Asasasno foram dadas ave para voar, masvoa
porque tem asas; o homem no tem olhospara ver, masv
porque tem olhos. Alm disso, a formao dosrgosex-
plica-se pelo trabalho lento de evoluo,
Consideremoso exemplo em que tanto insistem os
defensoresda finaiidade : a estrutura do olho humano
Realmente causa admirao ver como nele se coordenam mi-
lharesde elementospara uma s funo. Masdeveramosexa-
minar a funo na sua origem, no infusrio, reduzida simples.
impressionabilidade (quase puramente qumica) luz de uma
mancha de pigmento. Esta funo,. que ao princpio era
apenasum facto acidental, Ode ou directamente por urn
mecanismo desconhecido, ou indirectamente por causa das.
vantagensque trazia ao ser vivo e da facilidade que ocasio-
nava seleco naturalproduzir uma insignificante compli-
cao do rgo, que foi causa do aperfeioamento da funo.
PROVA TIRADA DA ORDEM DO MUNDO53
leste modo, por uma srie indefinida de acese reaces
more a funo e o rgo, e sem recorrer interveno duma
causa extramecnica, explicar-se-ia a progressiva formao
slum olho to bem constitudo como o nosso ( ' ), Seria o
multado duma srie de adaptaesa circunstnciasaciden-
lids, masno a realizao dum plano.
Da mesma forma, a ordem do mundo constituir-se-ia
eotico a pouco, em consequncia da evoluo lenta e do
,ifieurso dasleisque regem a matria e asforasa ela me-
mules. h poisfinalidade, se por finalidade entendemos
ii obra duma inteligncia, que tenha seguido um plano na
ifi gnul i zao
da natureza ; na tese evolucionista s se trata da
!IMAM* inconsciente,
kefulaa0. A finalidade uma iluso, dizem osevolu-
dsla%. Ntlo obra duma causa inteligente, masapenas
Wad() de pros inconscientes prpriasda natureza, que
dam osorgossnecessidades, segundo a lei da evolu-
l'or consequocia nib se deve dizer que a ave tem asas
void, masque voa porque tem asas. Todavia, quer as
ii pn iii your, quer a ave voe porque tem asas, existe
nu ailiiptitklbi mho iriivel do rgo funo . Em
lu hiplopinh'n com- losno sempre esta: a adapta-
riu Inn 14111100 um piano: e o plano, segundo
,
lid ideado, supe um artifice inteligen-
Ilt MO
tile ill it 11111 , esse artifice inteligentssimo que construiu
a As, lid u era/i/oto: o meio cria o rgo, E urna Or-
lo Intelramenle gralulta, que osevolucionistasso
de pi o'i
e perimeutalmente. E um pouco difcil de
mulIrerIRler emu() Ode o ar criar asasasda ave, ou a aco
do (u ,., pisu luzir o rgo que se lhe adapta, esse orgo admi-
IAvet que Ir,, dizer a NI EWTON possvel que ignorasse as
ukhi pi ion aquele que fez o olho?
lemosdificuldade em admitir que a evoluo seja a
Ki mole lei que governa o mundo. S fazemosuma pergunta;
ipoon lot o autor dessa lei ? Primeiramente, ela supe a exis-
I ) II. 1 1 1 )1 1 080N, L'volution Cr6ttrice,
EXISTNC IA DE DEUS
tncia da matria; ora j vimosque a matria no tem em si
a razo da sua existncia, Apesar de tudo, a evoluo pode
ser um processo de formao como outro qualquer ; masnesse.
caso ser uma lei, e no urna causa. Portanto, se a teoria
evolucionista aceita Deuscomo base para criar os
tomos,.
para lhesdar a energia e traar o plano que a matria deve
seguir no seu desenvolvimento atravsdossculos, no a
combatemos. Deusento ocupa o lugar que lhe compete;
nem fica diminudo, por no intervir a todososinstantes, na
incessante organizao do universo. Se assim , a
evoluo
criadora no apouca a grandeza de Deus, porque, como diz:
S. Tomlis,maisglorioso criar causasdo que efeitos
Pouco importa que a ordem do mundo seja o resultado dum
acto imediato de Deus, ou o fruto dascausassegundase das
leisque estabeleceu desde toda a eternidade ( 1 ).
46.-2, Contra a menor. Ospessimistasnegam a
existncia da ordem no mundo e aduzem muitosargumentos
para provar a desordem, Omundo est cheio de monstruo-
sidades, de seresdefeituosose infiteis; ascatstrofesso
frequentes. Logo, onde reina a desordem no h orde-
nador.
Ref utao.Responderemos a esta objeco quando tra-
tarmosda Providncia. Aqui apenasobservamosque no se.
trata de saber se h malesno mundo, se h defeitose desor-
denspor excepo, massbmente se, em geral, existe um
plano, se h harmonia na natureza e, nesse caso, se possi-
vel investigar-lhesa causa. Portanto a objeco recai sobre
casosexcepcionaise isolados, que no diminuem a beleza do,
conjunto. Osmalesdo mundo fazem sobressair maisa ordem
geral, como na msica asdissonnciasduma sinfonia se
resolvem nosacordesmaisharmoniosos. Por isso, ainda que
o ateu se defenda com asdesordensparciaisdo mundo, deve.
contudo admitir a existncia da ordem.
PROVA B ASEADA NA IDEIA DE SER PERFEITO55
PROVAS FUNDADAS NA ALMA H UMANA.
47. Depoisde ter estudado o mundo externo, interro-
ioemosa alma humana, 0 estudo deste mundo
ntimo, que
base do nosso ser, tambm nosdeve levar a Deus.
I lacto encontramosna inteligncia a ideia de perfeio, no
eoraAo, asaspiraesao infinito, e na conscincia, a lei
non al, Ora, a ideia de perfeio, a necessidade do infinito
e
o lacto da obrigao moral supem a existncia do ser per-
I eito, infinito e legislador supremo. Da, trsprovasfunda-
ditsle" na ideia de perfeio; I nasaspiraes da alma;
I," na existncia do dever. Todaselasso psicolgicas, por
Se. basearem
na andlise da alma. Contudo a primeira, cha-
ttiada ontolgica, considera-se como metafsica. A terceira
ouhecida pelo nome de prova moral. S a segunda conserva
o moue de prova psicolgica.
1 3
Prova baseada na ideia de ser perfeito.
Prova ontolgica.
48.-- Exposio. Se interrogamosa nossa inteligncia,
I esponde-nosque tudo o que vemos incompleto, limitado,
dependente, numa palavra, imperfeito . Ora, para reconhecer
quo ascoisasso imperfeitas, precisamosda ideia de ser
pm ; porque s podemosjulgar a imperfeio de um ser,
comparando-o com outro ser perfeito. Logo o ser perfeito
e isle, porque, se no existisse, no seria perfeito .
Este argumento diversamente apresentado por S. AN-
MO, DESC ARTES e BOSSUET,
49. Argumento de S. Anselmo. Depois de citar as
palavrasda S.
Escritura: Dixit insipiensin corde suo: non
1 Deus ( 1 ), S. Anselmo quer convencer o mpio de que
loucura negar a existncia de Deus. 0 homem, diz ele,
lem a ideia dum ser tal que no pode conceber outro mais
pealed. Logo esse ser existe realmente . Porque, se exis-
ilsse, s na inteligncia, podia conceber outro maisperfeito,
54
(1 ) Exporemos adiante, mais desenvolvidamente, a teoria evolucionista
(n.o 89 e seg.). ( I ) ( Disse o insensato no seu eorao no h Deus > .
EXISTNCIADEDEUS
atribuindo-lhe a existncia real; ora isto seria contraditrio,
visto que o concebe como o maisperfeito, Logo Deusexiste
na inteligncia e na realidade. ( V. a crtica da prova
ontolgica n. 60).
50.Argumento de Descartes.
Tenho a ideia dum
ser perfeito. Ora esta ideia no me pode vir do nada,
incapaz de dar coisa alguma, nem de mim, poisem
todasaspartesdo meu ser encontro limites
e imperfeies.
Logo vem dum ser infinito e perfeito que a imprimiu em
mim, como a marca do autor na sua obra .
51. Argumento de Bossuet. O fin* pergunta:
Por que
que Deusexiste? Respondo: Por que no h-de
existir? Sera por que perfeito, e a perfeio um obstculo
existncia? Erro insensato! A perfeio a razo do ser.
Porque no h-de existir o ser a que nada falta, de prefe-
rncia quele a quem falta alguma coisa?
(.1.r Elvation
sur les mystres).
2. a
Prova fundada nas aspiracties tla alma.
Prova psicolgica.
52. Argumento, Tanto a filosofia como a cincia
admitiram o princpio
que a tendncia ou desejo natural de
um ente no pode ser frustrneo, Ora
o homem tem um
desejo natural de Deus, Logo Deusexiste.
Prova da maior.
Nenhum desejo natural frustrdneo;
por outrostermos, astendnciasnaturaisdum ser devem ser
satisfeitas. Proclamaram este princpio osmaisclebres
filsofoscomo PLATO, ARISTTELES e C iC ERO. Reconhecem-no
unnimemente ascincias. Seria fcil aduzir inmeraspro-
vaspara demonstrar que na natureza no h tendncias
frustrneas, isto , que osinstintosesto sempre em relao
com objectosreais: asasasda ave do testemunho da exis-
tncia do ar ; a barbatana do peixe, da existncia da gua ;
osolhossupem a luz, e a fome o alimento, Por conseguinte,
se o homem sente um desejo irresistvel de ideal e de felici-
dade, porque existe um Deusque pode um dia
saci-lo,
PROVAFUNDADANAS ASPIRAES DAALMA57
Prova da menor. Os desejos do homem aspiram a
1)eus (1 ),
dlorn dans sa nature, infini dans ses voeux
L'homme est un dieu tomb qui se souvient des cienxs (LamaRriNE).
Na verdade, o homem tende para o infinito com todas
potnciasda alma, Possui uma inteligncia que deseja
rliegar verdade, tem uma vontade que, apesar dasfraquezas
e desvarios, aspira ao bem; tern sobretudo um corao que
wide uma sede insacivel de felicidade . Ora a terra no
sl'aiiente no nosd o que apetecemos, masoferece-noso
(pie no desejamos. A inteligncia est assediada de incgni-
las, a vontade impelida para o mal, o corao muitas
vezestorturado pela tristeza, Mesmo quando a vida corre
leliz e a fortuna parece sorrir-nos, no encontramosa felici-
(lade que anelamosnem a riqueza, nem a glria, nem a
ele`mcia, nem o amor, satisfazem osdesejosinsaciveisdo
corao. E, o que mais, quanto maioresso, maisnos
Wen] sentir a nossa misria.
Mas, se no existe um objecto real que corresponda as
liossas aspiraes e tendncias, qual sera o motivo porque a
udeliencia, a vontade e o corao, apesar de serem facul-
ladesfinitas e limitadas, nosimpelem para a Verdade, para
o I lein e para o Belo, para o que , como disse ARts.rdrELEs,
iiiiiiiitamente apetecvel ?
A necessidade do infinito, duma vida indefectvel e feliz,
!inpe portanto a existncia dum objecto infinito, duma fonte
dn Hicidade capaz de satisfazer plenamente a insuficincia
III nossa alma. Esse infinito Deus( 2 ) (n. 60).
) 1 Ista prova pode apoiar-se noutro fundamento. Em vez do desejo,
polio ftnolar-se na aco huinana. As nossas aces nunca so como deseja-
, (Room juo fossem. H sempre desproporo entre o objecto e o pensamento,
-litre o acto e a vontade; os nossos actos aspiram incessantemente ao
weillor. No termo da cincia e da curiosidade do esprito, diz B LONDEL,
torno da paixo sincera e mortificada, no termo do sofrimento e do
.111111Noybo, brota sempre a mesma necessidade o, a necessidade do transcen-
donut, de Deus: deste modo Deus imanente ou centro das nossas aces.
No se deve confundir esta prova psicolgica, fundada nas aspiraes
, I Rim, emu a que os modernistas chamam a experincia individual. Segundo
iMimationtistas, a experincia individual mostra-nos Deus, faz que o conhe-
.1 ation directamente nas profundezas da conscincia, ao passo que a prova
baseada nos estados de alma, deduz a existncia de Deus pelo
, r , o no pela intuio directa.
56
58
EXISTNCIADE DEUS
3.a Prova baseada na lei moral.
53. Argumento. A conscincia atesta que existe
uma lei moral, que preceitua o bem e proibe o mal, e que
essa lei se deve apoiar numa sano. Ora a lei moral e a
sano supem um legislador e um juiz, que no podem ser
outrosseno Deus, Logo Deusexiste,
1.,A lei morai A.A existncia da lei moral
incontestvel.
H uma norma absoluta, universal, anterior e
superior a toda a legislao humana, que se impe vontade,
que nosprescreve certosactose nosproibe outros. Pouco
importa que oshomensse iludam, svezes, acerca dos
conceitosdo bem e do mal; o princpio permanece intacto;
o que a conscincia julga ser bom, preceituado; o que julga
ser mau, proibido.
B, Ora a existncia desta lei moral supde um legis-
lador.
Devemosprocurar este legislador fora de nse dos
nossossemelhantes, a) Fora de ns. Ningum pode ser
simulta'neamente senhor e stibdito. Se fossemososlegisla-
dores, poderamosanular a lei feita por ns; a conscincia,
ao contrrio, diz-nosque temosa liberdade fsica de violar
a lei moral, masque Liao temoso poder de a anular, --
b) Fora dos nossos semelhantes.
A lei moral obriga todos
oshomens; logo no indica superioridade de homem algum
sobre osseussemelhantes. Masse o legislador no somos
nsnem osnossossemelhantes, deve procurar- se mais
acima. S Deuspode preceituar, s Ele a razo de ser
do dever, do imperativo categrico ( 1 ), (V. a crtica da
prova moral, n. 60).
54. Objeco. Vriossistemastentaram explicar a
existncia da lei moral, prescindindo de Deus. Menciona-
remosapenasdoisprincipais; A moral evolucionista
e a
moral racionalista.
(1 ) Kant, chama imperativo categrico h, lei moral. E. imperativo
porque ordena, sem violentar; categrico, porque os seus mandamentos
so absolutos, sem condies.
PROVA B ASEADA NA LEI MORAL59
A. Moral evolucionista. Ospositivistase osmate-
, ialistasexplicam desta maneira a formao da moral. Pri-
m va mente oshomensseguiam osseusapetitese instintos;
limo, era o que agradava, mal, o que inspirava aversfta
( moral do prazer ).
Mas, pouco a pouco, a experincia
le,inou-lhesque, certasaces, posto que agradveisaos
-.cot idos, traziam funestasconsequncias, e outras, ainda que
dosagradavam A. natureza, tinham bonsresultados(moral do
imieresse).
Maistarde um certo instinto levou-os simpatia
benevolncia recprocas(moral da simpatia e da solida-
riedade).
Deste modo o prazer, o interesse individual, o interesse
a simpatia e o
altrusmo foram sucessivamente os
acipiosque serviram para classificar asacesem boas
ou Inds, Em diferentescasos, intervieram ospais
e os
holesda sociedade para prescrever umase proibir outras,
l'ortanto a moral materialista, enquanto estabelece
o carcter
iihsoluto do bem e do mal, fruto da evoluo, e no supe.
a Deuscomo legislador.
Refutao. Desta exposio podemos concluir que a
ono evolucionista no prbpriamente uma moral, masape-
lima pretensa histria da moral, cujasfasesdevem ter sida
a moral do prazer, do interesse e da simpatia. Ora a moral
lino se pode fundar em nenhum destes
princpios. Nem o
azer, nem o interesse individual podem ser normasobriga-
01 iasde proceder ; poisnada me pode obrigar a procurar o
men prazer, nem ainda o meu interesse. 0 interesse alheio
o u simpatia so certamente motivosmaisnobres, mas, se
estno ss, se imperam independentemente do legislador
supremo, cairo no egosmo individual e sero incapazesde
Impor a obrigao.
R. Moral racionalista. Basta a razo, dizem os
adversdrios, para fundamentar a moral,
0 homem senhor
do si niesmo e possui a razo, que lhe dita os deveres para
consigo (moral individual), para com a famlia, a ptria e a
himianidade (moral social). Portanto o dever, a lei moral
it obrigao que a razo nos impe, e o bem o respeito a
esta lei,
60
EXISTNCIADEDEUS 61
PROVAFUNDADANOCONSENSOUNIVERSAL
Refutao. Nada teramosa dizer contra a moral racio-
nalista se admitisse Deuscomo ltimo fundamento da mora-
lidade, Se a obrigao
imposta smente pela razo, a von-
tade
livre de a aceitar ou rejeitar, Mas, dizem eles,
a ordem da natureza
que o pede, Nesse caso, perguntamos
ns; quem o autor da natureza que estabeleceu a ordem ?
Se respondem que
Deus, estamosde acordo e conclumos
que
nesse autor, em Deus, que havemosde procurar a fonte
da obrigao,
55.-2. A sano. Antesdo acto, a conscincia
d-nosa conhecer a existncia da lei moral, que prescreve
asacesboase proibe asms, Depoisdo acto, intervm
de novo e prope asquestesda
responsabilidade e da sano.
E logo que formou um juzo acerca do valor intrnseco do
acto, declara que o bem tem direito recompensa e que o
mal merece castigo. Ora, s Deuspode aplicar aosnossos
actosa sano justa e proporcionada ao seu valor,
56. Objeco. A sano, dizem, no necessria
para fundamentar a moral; e se o fosse, h outrassanes
sem recorrer a Deus,
a) A sano no necessria para
basear a moral.
Devemospraticar o bem pelo mesmo bem,
e no por causa da recompensa, Quanto maisdesinteressa-
dosformosno cumprimento do dever, tanto maisnobre e
maismeritria ser a aco, b) Masse a sano for
necessria, poderemosencontrar muitassanessociaise at
naturais, fora de Deus, Temos, por exemplo ; 1.
a opinio
pblica; 2, as represses sociais; 3, a justia imanente
das coisas; e 4, acima de tudo, o testemunho da boa cons-
cincia.
Refutao. a)
No negamosque o bem se deva pra-
ficar sem olhar recompensa, poiseste um dosprincpios
essenciaisda moral crist. at digno de louvor no pra-
ticar asacespor motivo da recompensa; mas
desprez-la
sinal de orgulho
e no de virtude; rejeit-la ir contra a
ordem das coisas e contra a justia. Porque se no h san-
es, se no h recompensa para a virtude, tambm no
haver castigo para o crime; deste modo, o bem e o mal
wlarsao nasmesmascondies; o que contrrio moral.
I'orlaito a sano necessria, no para fundamentar a moral,
nu nspara a coroar.
b)
Outrosadmitem a necessidade da sano como
coroa ou prmio dasacesmorais, masafirmam que so
a ili ientesassanesseguintes; 1.
A opinio pblica.
( r a
quem ignora que a opinio pblica muitasvezesinjusta
nosseusjuzos? A popularidade no necessriamente um
diploma de
honestidade e virtude, nem osfavoresoficiaisvo
Nenn pre para quem osmerece. - 2.
As represses sociais.
(_luuntos
crimesficam impunes, e quantosmalfeitoresandam
por essasruas, apesar da boa vontade da polcia ! 3,
A jus-
lica imanente das coisas.
0 mal e o vcio de ordinrio tra-
innl em si o germe do sofrimento, que maiscedo ou mais
lande ser castigo, Maspor maisjusta e frequente que seja
In
sano, no se pode considerar como lei inflexvel,
.1. Otestemunho da conscincia.
Eisa uma sano que
pi inteira vista parece aceitvel, Contudo a sua justia nem
ar IIl
pl e est isenta de censuras, H almasvirtuosasque
hnlcm
perturbaese escrpulos, e h tambm criminosos
que 11:10 sentem remorsose vivem tranquilos.
Mas, devendo a sano ser o complemento da lei moral,
r
nn estando nsgarantidoscontra asinjustiasdassanes
Ierreslres, no teremoso direito de crer que existe um Remu-
nesador justo, que, depoisde ter promulgado a lei moral, jul-
k g r t t
osactossegundo o seu verdadeiro valor e lhesdar o
pntulio que merecem ?
3,0 PROVAFUNDADANOCONSENSOUNIVERSAL,
57.Argumento. A histria testifica que, em todos
oa tempose pases, oshomenscreram na existncia de Deus,
l Iro, o que todososhomensinstintivamente julgam verdadeiro,
,Ilr, AItISrTELES, uma verdade natural, Logo Deusexiste,
Prova da maior.Sempre e em toda a parte os homens
reran, na divindade.
No precisa de prova este facto hist-
rleo. Ningum viu at hoje um povo sem Deus, sem preces,
Nwn juramentos, sem ritosreligiosos, sem sacrifcios, diz
I'I II rAUCO, No h nao alguma, diz CCERO, to rude e
62
63
EXISTNC IA DE DEUS
selvagem que no creia na existncia dosdeuses, ainda que
se engane acerca da sua natureza,
(De natura Deorum).
Em nenhuma poca fez tantosprogressoso estudo das
religiescomo na nossa, Ora, o inventrio dosdocumentos
histricose pr-histricosno pde registar o caso de um
povo sem crenasreligiosas, Assim o afirmam ossbios,
C OMO
MAX MULLER e DE QUATREFAGES.
Obrigado por causa do
ensino, diz o segundo, a estudar todasasraashumanas,
procurei o atesmo nospovosmaisbrbarose nosmaiscivi-
lizados; masem nenhuma parte o encontrei, a no ser em
indivduosisolados, ou em escolasmaisou menosrestritas,
como se viu na Europa durante o sculo passado, e como
ainda hoje se pode verificar, 0 atesmo existe semente em
estado errtico .
A histria dasreligiesleva-nos, pois, concluso de que
nenhum povo em massa foi ateu e que o atesmo se limitou
a
algunsindivduosou escolas, Pouco importa que oscon-
ceitosda divindade fossem maisou menosexactos, se sabe-
mosque no eram to grosseiroscomo e. primeira vista se
pode imaginar, Certamente algumasmitologiasnoscausam
impresso pelassuasextravagncias, contudo sempre nelas
encontramosalguma verdade (I).
Importa pouco a diversidade dosnomesque se atribuam
divindade; porque o Z eusdosGregose o Jpiter dos
Romanos, o Marduk dosBabilnios, o Baal dosFencios, o
Brahma dosndios, ou o Grande Esprito dosSvanosdo
Novo Mundo representavam sempre o mesmo Deus, que os
povosadoravam sob diversasdenominaes( 2 ),
(1 ) MAX MULLER
chega at a afirmar que nem a unidade divina era
desconhecida de alguns povos, aparentemente politestas.
As primitivas
raas pags, diz ele, no eram politestas, prOpriamente falando. No quer
isto dizer que adorassem um s Deus, mas podemos afirmar que, em certo
sentido, adoravam um Deus uno, isto , que as suas homenagens, afinal, eram
prestadas divindade, posto que a imaginassem sob diversas formas pessoais,
que, por uma contradio, velada por smbolo, recebiam sucessivamente
homenagens quase exclusivas e soberanas .
(2)
Multiplicaram-se as investigaes para descobrir um povo ateu.
Durante algum tempo,
julgaram ter encontrado um na Ocenia, nas ilhas
incultas de Adaman, habitadas por uma tribo de negros to primitivos, que
no sabiam cultivar a terra nem criar o gado. Depois dum exame mais pro-
fundo, reconheceu se que estes homens incultos admitiam um nico Deus,
criador e remunerador. Igualmente tiveram de reconhecer que os Negritas
da pennsula de Malaca e das Filipinas, os pigmeus da Africa, os H otentotes
e os B ochimanes praticavam a religio. (V. Moxs.
LERor, La Religiondes
Primiti fs ).
PROVA FUNDADA NO C ONSENSO UNIVERSAL
Prova da menor.
Ora tudo o que os homens instinti-
vamente julgam verdadeiro uma verdade natural. O
que
c afirmado por todos, diz S. TOMS, no pode ser de todo
I,ilso, Com efeito, uma opinio falsa,
uma enfermidade da
alma, e portanto acidental sua natureza, Ora o que
acidental natureza no pode encontrar-se sempre e em toda
ii parte
(Contra Gentes,
L. II. Cap, XXXIV),
58.--1 , n Objeco. O
sufrgio universal mau
;urlfe/o da verdade.
Dizer; todososhomens
crem em Deus,
I )^ o Densexiste,
tirar uma concluso que aspremissasno
Houve errosuniversais, como por exemplo, a crena
1 1 ,1 unotllidadti da terra.
Iteiutn;o. A certo que o consenso universal nem
.,nnlpre C prova infalvel da verdade; masconstitui j sria
1,1,-,111100, Antes
de julgarmosque todosse enganam, diz
I' IVIIIN'Alutit,
senlinto-noslevadosa crer que tm razo,
colectiva :IUUlenla de valor quando se apoia em
4 dun, E
verdade que houve erros universalmente
Imo
devemosacrescentar que esseserrostinham
e
inl mialulen(n eurrillidns. Assim, a crena na
11 Ite1,t1, nli,t etpili,'vel pela iluso dossentidos
,,un
levai 'mias:Ip.ii nelas, acabou com o pro-
u, hi ( ),
ht^,thi ecalo.
A crena universal na divindade
i ii h ti ris1 11111.1 ditr; ,egui ntescausas;
a) pela ignorn-
n tarda,
h) luui
preconceitos de educao; c)
pela
ilu;'nela dos
lek'lsludores e sacerdotes.
Itefu(nflo. a) Nem a ignorncia nem o medo podem
pllc r a crena universal em Deus
. Quando o homem pri-
tidivu Ouviu o rugido da tormenta, .o ribombar do trovo;
quando viu o raio fender asnuvens, ficou apavorado, dizem,
e, no conhecendo a
causa destes fenmenos,
atribuiu-osna
(I) O facto alegado na
objeco e muitos outros que se poderiam
altar, no
tm os requisitos que caracterizam as verdades do consenso uni-
veisal. (N. do T.).
64 EXISTNCIADEDEUS
sua simplicidade a agentes sobrenaturais. Ento imaginou
um deusatrsdasnuvenspara asmover, outro a atirar os
raios, um terceiro, na imensidade dosmares, a lanar ondas
contra aspraias. , . Foi, pois, a ignorncia e o medo que
deram origem aosdeuses, como disse o poeta latino ESTGIO:
Primus in orbe deos fecit, tmmor, Masveio depoisa
cincia e explicou estesfenmenos; mostrou que eram o
resultado dasforasnaturaise eliminou osdeusescomo
agentesinteise inexistentes.
No queremosnegar que a cincia descobriu a causa
imediata dos fenmenos e, para citar um s exempla, no
devemosdizer que Jpiter fabrica osraios, masque estesso
causadospela electricidade. Todavia, apenasdescobrimosas
causasimediatase segundas, que de modo nenhum prescin-
dem da causa das causas. Oponto de partida o mesmo,
tanto para o homem primitivo como para o sbio ; explicar
osefeitose osfenmenos, E se o primeiro errava por
chegar, depressa demais, causa ltima, ao menosa sua
concluso era verdadeira; ao passo que a concluso do
segundo falsa, poisdevendo subir at causa ltima no
o consegue.
Se o progresso cientfico tivesse podido resolver sem
Deuso enigma do universo, a divindade j no contaria
adeptosentre oshomensde cincia, Ora a lista seria extensa.
se houvssemosde mencionar todosossbiosque creram em
Deus. Citemosapenasalgunsmaisclebres, na matemtica
e astronomia: COPERNICO, GALILEU, KEPLER, NEWTON, CAU-
CHY, HERSCHELL, LE VERRIER, LAPLACE, FAYE, , , ; na fsica
AMPERE, VOLTA, MAYER, LIEBIG, BIOT, DALTON, , , ; nasCincias
naturais: CUVIER, AGASSIZ , LATREILLE, MILNE-EDWARDS, G,
SAINT-HILAIRE, WURTZ , CHEVREUL, PASTEUR, DE LAPPARENT, e
at LAMARCK autor do transformismo e DARWINprestam home-
nagem ao Criador. Mencionemosainda o inventor da cincia
cristalogrfica HAUY, DE QUATREFAGES, e VANBENEDEN, uma
dasglriasda nao Belga. F, BACONdizia; Pouca cincia
afasta de Deus; muita cincia aproxima d'Ele, No haver
direito a tirar esta concluso diante de tantosnomesilus-
tres? A crena em Deus no fruto do temor nem da igno-
rncia.
b) 0 consenso universal tambm no provm dospre-
- PROVAFUNDADANOCONSENSOUNIVERSAL 65
conceitos da educao, inegvel que a educao desem-
penha um papel importante nasideiase nascrenas, masos
preconceitosvariam dum paspara outro, de gerao para
gerao, e no resistem instruo e ao progresso, Lembre-
1110-nossobretudo que ospreconceitos, contrriosspaixes,
desaparecem rpidamente,
e) Finalmente, no pode invocar-se a influncia dos
legisladores e sacerdotes para explicar a crena universal
Aiospovos.
1. Oslegisladores poder-se-iam ter servido da crena
r.III Deuspara melhor governar ospovos, masno para a
Fiar, De facto, quem ouviu jamaisfalar no seu inventor?
Certamente que no podia, nem devia ser desconhecido esse
gnio, que, atravsde mil obstculos, conseguiu impor aos
liunlensum dogma to contrrio sinclinaese aosmaus
l o tintosdo corao humano,
2. Ainda maisinfeliz a explicao da influncia frau-
dulenta dos sacerdotes, porque se ossacerdotesexistem por
I uusa da religio, no podem ser anterioresa ela; nem tinham
I dt'Iu de ser, se no houvesse j um culto. Logo, considerar
ossacerdotescomo inventoresda Divindade e fundadoresdas
IrIII!i11es cometer um ridculo anacronismo, como diz o
ptlpri0 REINACH (Orpheus) (1 ),
Concluso. A crena universal no se explica, pois,
pui nenhuma dascausasde erro, Se tivesse a sua origem
6o ?mar, educao, influncia dos legisladores e sacerdotes,
It'lu desaparecido com elas. Ora, apesar de todososobst-
trilos, continua com a caracterstica da universalidade. Deve-
mosportanto admitir que outra a sua origem: ou deriva
ontlmento religioso infundido por Deusna alma, ou da fora
. ^roelocnio que deduz a sua existncia, Em ambasas
IIIpIiIleses idntica a concluso; porque a universalidade da
11I10 evidente no caso de Deusse ter manifestado por
mriu de uma revelao primitiva, transmitida de gerao em
0, 111010, e no caso doshomens, por causa de certasdisposi-
00N, sentirem Deusque vive e opera na alma, Mastambm
I I I C ometeram este erro sobretudo os mpios do sculo XVIII, parti-
.ini K Iontn VUVrA I RI .
5
66EXISTNCIADEDEUS
CONCLUSOGERALDOS ARGUMENTOS DAEXISTNCIADEDEUS 67
manifesta no caso de a ideia de Deusser efeito do racioc-
nio, visto a razo ser patrimnio do gnero humano. (V. valor
da prova, n. 60) ( 1 ),
Concluso geral dos argumentos
da existncia de Deus.
60. Vejamosagora qual o valor e o alcance de cada
argumento em particular, analisando-ospela ordem que antes
seguimos,
1,
o
Valor dosargumentoscosmolgicos. Dostrs
argumentosfundadosna observao do mundo externo, os
doisprimeiros, da contingncia e do primeiro motor,
provam a existncia de um ser : 1. Necessrio, e por isso
mesmo eterno, porque o ser necessrio no pode deixar de
existir, 2. Distinto do mundo, porque o mundo est sujeito
a modificaes, e o ser necessrio, a causa primeira e o pri-
meiro motor no podem estar sujeitosa mudanas.
A terceira prova, baseada na ordem do mundo, no de
tanto alcance, porque, apesar da ordem e beleza que nele h,
o mundo tem assuasimperfeiese por isso no supe neces-
sriamente um artfice infinito, massemente um ou maisarqui-
tectosassaz inteligentesque lhe dessem unidade ( 2), Alm
' (1) Argumento fundado na revelao. Ser conveniente acrescentar,
s provas racionais da existncia` de Deus, outro argumento complementar,
tirado do testemunho histrico?
Poderia assim formular-se: se estudamos os Livros S agrados, no como
inspirados, mas s histbricamente, com todos os caracteres Ile autenticidade e
veracidade que a crtica exige de qualquer livro histric , vemos que Deus
se revelou a Ado, Nod, Abraso, Isaac, Jacob, Moiss, ao povo israelita no
deserto, aos profetas, e, mais recentemente, por meio de Jesus C risto que se
manifestou muitas vezes e que ainda hoje se manifesta em Lourdes, na
Ftima atravs dos milagres e das profecias. Logo devemos acreditar na
existncia de Deus, do mesmo modo qne acreditamos na existncia de Ale-
xandre Magno, de C sar e de Afonso H enriques, por nos ser testemunhada
por documentos igualmente dignos de f.
Esta prova, apresentada neste lugar, no teria valor nenhum para os
que negam a autoridade, ainda no demonstrada, dos Livros Sagrados. C omo
se dirige s aos crentes, parece-nos melhor reserv-la para a parte dogmtica,
onde a existncia de Deus se apresenta como verdade racional e de f. (V. Dou-
trina catlica n 28).
(2) Este argumento tanto nos pode conduzir ao politeismo como ao
monotesmo.
disso o ordenador do mundo no forosamente criador ( 1 ).
A ordem prova, portanto, a existncia de uma inteligncia
,nperior, masno a de um ser infinito, nico e criador, Por
ooseguinte, este argumento no pode prescindir dosdoispri-
meiros, Em todo o caso, quem admitisse um Arquitecto do
indo j no seria ateu e estaria perto de Deus
C riador.
2, Valor dosargumentosbaseadosna alma humana.
A, 0 argumento ontolgico (2 ), fundado no conceito de
,.1+
perfeito,
encerra um sofisma e portanto no tem valor,
podemosafirmar que um ser possui certasqualidades, se
;otiberinosque existe, Logo a existncia no um atributo.
Mas, ainda que o fosse, segundo asregrasdo silogismo,
deveria ser da mesma ordem que o sujeito, Ora, quando
uttrnmcun osque a existncia est contida na ideia de ser per-
ftllo, relerinlo-nosao ser perfeito concebido pela inteligncia,
l +ple atribulo da inteligncia, que lhe aplicamos, pertence,
A
ordena ideal e no ordem real, Esta proposio
llt'IIl 'l,
ainda que em si seja rigorosamente verdadeira,
uri e sempre no campo da hiptese, porque asleisdo
y_ f r olhem . nos transformar a hiptese em realidade,
t' da e%isti!ncifl ideal. real,
baseada nas aspiraes da alma no tem
Onque uno tpossvel provar rigorosamente
Ila hrjn Incapaz de satisfazer asaspiraes
o Ilionub aluda, dtucl o desejo natural requeira
01 iilAni in do objecto desejado,
tonto fundado na ira moral e na sano
+dla 0 K M ttl t ni !no }!Marte estima que disse dele: Duas
++ka k i inn Imimidnfll u alua de respeito e de admirao sem-
o (i novltn ; o t t' u estrelado sobre as nossas cabease a lei
noo l ilelllro de nsmesmosC ontudo conveniente notar
f i n , traiam dlvorsa
(N.
mente
do
. O ordenados' do mundo estabeleceu
I+++e, n r+,
w s)) os sores ; ora as leis dos seres dimanam necessria-
+loeln, , o estas requerem um C riador. Logo, ser ordenados do
:::
:::virilti
isorC rlador. T.).
Mito so dove confundir o argumento ontolgico, baseado na noo de
sm o onfototpism.o (n.++ 33), segundo o qual, temos uma vista imediata
68EXISTNC IA DE DEUS
que, na exposio deste argumento, no seguimoso caminho
do filsofo alemo,
Segundo Kant, a existncia da lei moral supe um Deu s.
remunerador e no legislador; porque o cumprimento do
dever d-nosdireito recompensa. Ora, sendo nslivres.
em praticar o bem e em merecer a felicidade, no depende
de nsque esta seja a recompensa dasnossasaces. Por-
tanto, para que a lei moral no seja uma quimera, necessrio
que exista uma vontade justa e poderosa, que possa realizar
a harmonia entre a felicidade e a virtude; numa palavra, .
necessria a existncia de Deus; deste modo, a existncia de
Deus simples postulado da lei moral. Pelo contrrio, no
argumento, como fica exposto (n. 53), a existncia da lei
moral supe um Deus legislador, da mesma maneira que o
mundo contingente o exige como ser necessrio : em ambos.
oscasosnosapoiamosno princpio de causalidade, subindo
do efeito causa.
Contudo, mesmo apresentado deste modo, o argumento
da lei moral vulnervel, 0 conhecimento claro e distinto
duma lei moral, universal e obrigatria, pressupe o conhe-
cimento da existncia de Deus, isto , dum legislador supremo
e nico, com poder de ligar a conscincia, impondo-lhe uma .
obrigao absoluta (imperativo categrico). Mas, se o conhe-
cimento da lei moral exige o conhecimento prvio da exis-
tncia de Deus, porque a noo de Deus anterior lei:
moral e, por conseguinte, no se deduz dela, Portanto o
defeito do argumento est em supor naspremissaso que s
deve vir na concluso ( 1 ),
3.Valor do argumento do consenso universal.
0 consenso universal uma confirmao de torososargu
(1 ) Segundo a revista L'Ami du Clerg (1 0 de Maio de 1 923), em vez d a .
lei moral, seria prefervel tornar como ponto de partida a ordemessencial que
rege os entes racionais: teramos ento a quarta via de S. Toars dos graus
de perfeio encarada sob o aspecto da verdade e do bem. <Existe no s .
seres alguma coisa mais ou menos boa, mais ou menos verdadeira, mais o u .
menos nobre. Ora, no podemos dizer que um objecto mais ou menos per-
feito, sem o compararmos com o ser que entre todos o mais perfeito. Logo
h alguma coisa, que o bem, a verdade, a nobreza, e portanto o ser por
excelncia... causa do ser, da bondade e da perfeio que h em todos os
seres, e precisamente essa causa que chamamos Deus. Summa Th. I, 1 ..
q. 2.. art. 3.. (V. sobre este assunto o Trait de philosophic, publicado pelos.
Professores da Universidade de Lovaina).
ATEtSMO
69
alentosexpostos. De facto, no se explica a unanimidade
da crena, seno pelo valor intrnseco dasrazesque a ori-
pinaram; donde se segue que o consentimento universal no
em rigor, argumento novo, nem critrio de certeza (1 ),
embora constitua uma demonstrao indirecta da existncia
lk Deus,
0 conjunto destesargumentos, que mtuamente se com-
pletam e nosdo a conhecer a Deussob diferentesaspectos,
Turma um bloco intangvel, Porm, cada um pode escolher
livremente o argumento que maisse conformar com a sua
mentalidade e feio de esprito, e o que for maisapto para
Ike arraigar asconvices.
Art. I I I ,Atesmo.
Haver ateus? Causas e consequncias
do Atesmo.
61.
Depoisdosargumentosda existncia de Deus,
.nrhe, como dissemos, uma questo subsidiria. Se Deus
necessrio para explicar o mundo, como possvel que haja
ulens? Ser verdade que existem? E, se existem, quais
sito ascausas e as consequncias do atesmo?
1," Haver ateus? Ateu (do grego a, privativo, e
theo.s, deus) o que no cr na existncia de Deus,
1)esta definio se v que no devemosincluir no nmero
tlnr, alens; a) osindiferentes, que pem de parte o pro-
blema da origem do mundo e da alma, e vivem sem preo-
iipaoesacerca do seu destino, Ainda que esta disposio
,Ir espirito conduz prticamente ao atesmo, osindiferentes
ano sito ateusprpriamente ditos, b) Os agnsticos, para
1 1 4
quaisDeuspertence ao domnio do incognoscfvel, Esta
[Mlu,le equivale ao cepticismo religioso.-- c) Muito menos
doVen l ser tidospor ateusaquelesque ignoram quase por
( I Nao d nossa inteno fazer do consentimento universal o critrio
e Bonn til In, 22). Seria ir contra o sentir da Igreja, que ensina o contrrio,
notion a H. Iilscrltura, que nos diz que todos os povos da antiguidade,
'i lt i doa judeus, desconheciam o nico Deus verdadeiro e desprezavam
)01 (kwa. I, 21 -23).
EXISTNC IA DE DEUS
completo a religio e professam exteriormente o atesmo, por-
que julgam esta atitude prpria dosespritosfortes, ou porque
tm interesse em seguir a corrente do favoritismo oficial,.
Portanto, devemossemente considerar como ateus os
homens de cincia, e osfilsofos que, depoisde ponderar
maduramente asrazes, pr e contra, da existncia de Deus,
optam pela negativa. Estes, osnicosque merecem a nossa.
ateno, so pouco numerosos, Basta referir o testemunho
de um deles; No nosso tempo, escreve LE DANTEC (L'a
thisme), digam o que disserem, existe uma nfima minoria
de ateus, Mas, para sermosjustos, devemosajuntar que
em compensao tem aumentado, em proporesalarmantes,
o nmero dosagnsticos, que defendem a insolubilidade do.
problema, e maisrecentemente ainda o dosmilitantescontra
ideia de Deus,
62. 2, Causasdo atesmo. Ascausasdo atesmo
so intelectuais, moraise sociais,
A. Causasintelectuais. a) A incredulidade dos.
homens de cincia: fsicos, qumicos, bilogos, mdicos, etc.,
deve atribuir-se ordinriamente a preconceitos e ao emprego
de mtodos falsos. evidente que nunca podero ultrapas-
sar osfenmenose atingir assubstncias( 1 ), se nesta mat-
ria aplicam o mtodo experimental, que s admite o que pode
ser objecto da experincia e ser observado pelossentidos,
Notemosainda que algumasfrmulas, por elesusadas, .
no so verdadeiras, pelo menosno sentido em que astomam, .
Por exemplo, quando alegam que a matria necessria e.
no contingente, invocam para o demonstrar a necessidade da
energia e dasleis(n. 40), Ora, bem claro que a palavr a.
necessria neste caso , equfvoca, A necessidade pode ser
absoluta ou relativa. E absoluta, quando a no-existncia.
encerra contradio; relativa, quando a coisa em questo, na
hiptese de existir, deve possuir tal ou tal essncia, esta ou
aquela qualidade, por. exemplo; uma ave deve ter asas, alis.
j no seria ave. Como a energia e asleisso necessrias
ATESMO 71
semente no sentido relativo, osmaterialistaserram em con-
cluir que a materia o Ser necessrio no sentido absoluto.
b) 0 atesm dosfilsofos contemporneostem a sua
origem no criticismo de Kant e no positivismo de A. Comte.
Vimosno captulo preliminar que, segundo oscriticistase os
positivistas, a razo no pode chegar certeza objectiva, nem
conhecer assubstnciasque se ocultam sob osfenmenos.
Diminuindo assim o valor da razo, rejeitam todososargu-
mentostradicionaisda existncia de Deus, Pode poisdizer-se
at ue a crise da f, na maioria dosfilsofoscontemporneos,
de facto crise da razo; negam a existncia de Deusosque
depreciam a razo. Mash-de acontecer a esta o que acon-
tece aosque esto injustamente presos; Ser um dia reabi-
litada e retomar osseusdireitos,
B. Causas morais. Entre ascausasmoraiscitaremos
a) a falta de boa vontade, Se asprovasda existncia de
Deusse estudassem com maissinceridade e menosesprito
de crtica, no haveria tanta resistncia fora dosargumen-
tos, Tambm no se deve exigir dosargumentosmaisdo que
elespodem dar ; evidente que a sua fora demonstrativa,
inda que real e absoluta, no nospode dar a evidncia
matemtica;
b) as paixes. A f um obstculo para aspaixes.
Ora, quando alguma coisa nosincomoda, encontramossem-
pre motivospara a afastar, H sempre no corao apaixo-
nado, diz Mons, FRAYSSINOUS, motivossecretospara julgar
lalso o que verdadeiro, . , fcilmente se cr o que muito
se deseja; e quando o corao se entrega seduo do pra-
zer, o esprito abraa voluntriamente o erro que lhe d
rufio ( 1 ), P. B OURGET, numa anlise penetrante que faz da
Incredulidade, escreve asseguinteslinhas; 0 homem
quando abandona a f, desprende-se, sobretudo, duma cadeia
insuportvel aosseusprazeres... Nenhum daqueles, que
estudaram nosnossosliceuse universidades, ousar negar
que a impiedade precoce doslivrespensadoresde capa e
I ^ :, I na comeou por alguma fraqueza da carne, seguida do
70
(I) h'aAYSSINOUS, Dfense du christianisne. L'ineredulit des ieunes gene. (1 ) Esto compreendidos nesta categoria os filsofos materialistas.
EXISTNCIADEDEUS
horror de a confessar. Acode imediatamente a razo a aduzir
argumentos(!!!) em defesa duma tese de negao, que j antes
admitira por causa dasnecessidadesda vitia ( 1 ),
c) Os maus livros e jornais. No aludimosaqui aos
livrose jornaisimorais, masaosque dissimuladamente ata-
cam osfundamentosda moralidade e, em nome do pretendido
Progresso e de uma suposta Cincia, querem fazer-noscrer
que Deus, a alma e a liberdade so apenaspalavrasa enco-
brir quimeras,
C, Causas sociais. Apontemossbmente a) a edu-
cao. No exagero dizer que asescolasneutrasso
terreno excepcionalmente prprio para a cultura do atesmo,
A sociedade hodierna em geral caminha para o atesmo,
porque assim o quer ; b) o respeito humano. Muitostm
medo de parecer crentes, porque a religio j no estimada
e temem cair no ridculo,
63. 3, Consequncias do atesmo. 0 atesmo,
pelo facto de negar a existncia de Deus, destri radical-
mente o fundamento da moral e d origem Asmaisfunestas
consequnciaspara o indivduo e para a sociedade.
A. Para o individuo. a) 0 ateu deixa-se arrastar
pelas paixes. Se no h Deus, se no existe um Senhor
Supremo, que possa impor a prtica do bem e castigar o
mal, por que razo no se ho-de satisfazer toeqsosapetites
e correr atrsda felicidade terrena, por todos6smeiosque
estiverem ao alcance de cada um?b) Alm disso, o atesmo
priva o homem de toda a consolao, to necessria nos
revesesda vida,
B. Para a sociedade. Asconsequnciasdo atesmo
so ainda maisprejudiciais sociedade. Suprimindo as
ideiasde justia e de responsabilidade, o atesmo leva os
Estadosao despotismo e anarquia, e o direito substi-
tudo pela fora, Se osgovernantesno vem acima de si
(1 ) P.BOURGET, Essai de psychologie contemporaine.
ATESMO
73
um Senhor que lhespedir contasda sua administrao,
governaro
a sociedade segundo osseuscaprichos
. Mai s
ainda ; oshomens, na realidade, no so todosiguaisnas
lionras, nasriquezas, nassituaese nasdignidades. Ora, se
no existe um Deuspara recompensar um dia osmaisdeser-
dadosda fortuna, que cumprem animosamente
o seu dever e
aceitam com resignao asprovasda vida, porque no have-
riam de se revoltar contra uma sociedade injusta
e reclamar
para si o seu quinho de felicidade e prazer?
B ibliografia:Dictiounaire de la foi cath.:
CHOSSAT, Art. Aguas-
Mime; GARI UGOU-LAGRANGE, Art. Dieu; GRI VET, Art. Evolution Cra-
Mee; Dnitio, Art. Materialisme; MOISANT, Art. Atheisme.--CHOSSAT,
A rl. Dieu. Diet, de Thol. SERTI LLANGES,
Les sources de la croyance
en Dieu. MI( Dieu et l'Agnosticisme contemporain.
FARGES,
Nouvelle ApologNique; L'icide de Dieu d'aprs la Raison et la Science
(Iterche el Tralin). GUIBERT, Les Origines (Letouzey); Le conflit
deN etorunees religienses et des sciences de la nature
(B eauchesne).
Dim lot on SAINT-Pitoocr iT SAW/HUNS, Apologie scientifique de la foi
t'iitfIiiiiii ( MONS.D'HoLsr, La Conf. car. 1 892 (Pous-
mialgor).
Pool iN r Lou rii, , Dien (Boltne-Presse),MONS.LE Roy, La
Nelillion delimilifs.hive, De la crovance en Dieu (Alcan.).
V lI IAith, Melt 'WWI?
In :wiener et hi raison (Oudin).
DE LAPPARENT,
'II /I'M4 , 4'11 I14 9'dihille 111141141), P. JANET, Les
nirltdriolivine eoulemnoroln ( S. Tongs,
ihrot/,,,roil N. Philosophia sclzolastica.
i iii, (1 40 e (mho ,. ilatados de Filosofia
l'orimootivi, a do V. Donui:eo (C attier,
ISitool.tiL, Le Positivistne et la
AwlClerg, 1 0 de Maio
lie Religido, Apologetica (Lisboa ).
I I I 1 , , 1,I Itontem e l) ens (Lisboa), MONS.Gou-
t. up ,
Muii i t4
(i1/1/10Weig11e (1 3elin). PRUNEL, Les
tJ Ifllf1 1 hi &whine eutholique (B eauchesne).
72
Noo e Diviso.
a) Unidade. Erro do politieismo>
A. Negativos b) Simplicidade. Deus esprito.
ou metaf-i e) Imutabilidade.
Bicos.d) Eternidade.
e/ Imensidade.
11. no modo de co-
l 2.
nhecimento.
a) Inteli-
g ncia
perfeita.
11.
b)Vontade. 2.
c) Amor.
Deus, pessoa distinta do mundo.
a) Definio.
1.
b) Formas. 2.
B . Pantes-
mo.
c) Refuta. 2.
o,
3,
A.
Pantesmo natu-
ralista.
Pantesmo idea-
lista.
Argumento me-
tafsico.
Argumento psi-
colgico.
Argumento mo-
ral.
1,
em seu objecto.
Prescincia
divina e liber-
dade humana.
omnipotente,
livre nosactos
externos.
Atri-
butos de
Deus.
3.Perso-
na lida de
de Deus.
B. Positivos
ou morais.
74
NATUREZA DE DEUS
CAPTULOII.NATUREZ ADE DEUS.
( A, Erro do agnosticismo.
B. Deusincompreensivel, masno incognos-
cvel.
1PPode-
remosco-a) a priori. I
nhec-la?
1. Via de negao,
C. Mtodos. i b) a poste-
riori.i 2. Via de eminn-
t cia.
DEUS N0 E INC OGNOSC fVEL75
DESENVOLVIMENTO
64. Diviso do capitulo.-0 estudo da natureza de.
Deuspode dividir-se em trsartigos; 1, 0 Problema preli-
minar ; A razo poder conhecer a natureza de
Deus?
2. Qual a natureza de Deuse quaisosseusatributos?-
3, Poderemosprovar com certeza, contra os
pantestas,,
que Deus um ser pessoal, distinto do mundo?
Art, I, Podemos conhecer a natureza
de Deus?
Esta questo pode subdividir-se em duaspartess1, a Ser.
possfvel conhecer a natureza de Deus? 2, a Por que vias
podengoscoasegu i-lo ?
tj I, " U ENRO AGNSTIC O. DEUS NO INC OGNOSC VEL.
Otlith exIsle; mas, poderemosconhecer a sua
srtna;ln / l'odtlrtlnlosInr da slut natureza uni conhecimento,.
oly di1 (It 14 pmlellia, luasno monosinibia, e confuso ?
1 " 11 .rfa ai minlIco. -- Osagnsticosdogmticos (1 )
I^^^N1111N111ill1ollviiiiielite. Os filsofos (KANT, SPENC ER)
41 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 tino at vida religiosa i10 deve ter corno fundamento
Y+1rt1rr11rft 1uoIaIf lcny, Mlle a razo pura no pode provar,
Oh /arnlahiliniat ll/,gruis
(RITSC H L, SAB ATIER ), os modernistas
(1 .r. Iluv, TV um.) e ospragmatistas (W. JAMES), supondo a
mlsleut id de Deusdemonstrada pelo sentimento e experin-
cia religiosas, dizem que impossvel e portanto intil, for-
mal. unia ideia da essncia divina, e censuram o intelectua-
Ilsiiio teolgico, isto , asafirmaescategricase bem
definidasacerca da natureza intrnseca de Deus, Que
utilidade, perguntam ospragmatistas, tm asideiasrepre-
(1 ) C hamamos agnsticos dogmticos os que limitam o seu agnosti-
ciNmo natureza de Deus, por oposio aos agnsticos puros, segundo oa
, suais, a prpria existncia de Deus incognoscvel.
NATUREZ A
DE DEUS.
77 76 NATUREZA DE DEUS
sentativasde Deus? 0 valor de uma religio mede-se pelos
resultadose pelo grau de piedade que fomenta, e no pelas
suasfrmulasdogmticas( 1 ),
No h dvida que a piedade tem grande importncia,
Masser verdade, como afirmam ospragmatistas, que a pr-
tica religiosa independente dasnossasideias? Se conceber-
mosDeuscomo alma do mundo, ou como um ideal abstracto,
maneira da doutrina pantesta, poderemosainda dirigir-lhe
precese prestar-lhe culto? evidente que no; porque o
princpio da vida religiosa deve ser o conhecimento racional
de Deus. A prece s brotar do corao, na medida em
que conhecermosa Deuscomo um ser pessoal, distinto do
mundo, bom e misericordioso.
66.-2. Deus incompreensvel, mas no incognos-
cvel. Antesde falarmosda natureza de Deus, conve-
niente fazer distino entre o conhecimento e a compreenso
da natureza divina, para evitarmosconfuses, Deus incom
preensvel masno incognoscvel:
a) Incompreensvel. Deus, sob qualquer aspecto que
o consideremos, o Ser infinito. Ora, uma inteligncia
finita, como a do homem, incapaz de compreender o infi-
nito; Deustranscende osconceitose a linguagem, inefvel,
como dizem ostelogos.
b) No e incognoscvel. afirmao dosagnsticos,
de Deusno podemossaber absolutamente nada, res-
pondem osapologistascatlicos; de Deus, certamente, sabe-
mosmuito pouco, masalgo conhecemos. Ao mesmo tempo
que nosdemonstra a sua existncia, a razo ensina-nosque
Deus a Causa primeira, o Ser necessrio e eterno, o Pri-
meiro Motor, o Ordenador do mundo, o Ser perfeito, o Bem
Supremo e o Supremo Legislador, Conhecer tudo isto, ter
J um conhecimento, que nosn^^.rmite prosseguir no seu
(1 ) <Que interesse tem para ns a aseidade de Deus, a sua necessi-
dade, imaterialidade, simplicidade, individualidade, indeterminao lgica,
infinidade, personalidade metafsica, a relao que existe entre Ele e o mal,
-que permite mas no causa, a sua suficincia, amor de si mesmo e absoluta
felicidade? Que importam todos estes atributos para a vida do homem?
Que utilidade h para o pensamento religioso em que sejam verdadeiros ou
falsos, se no podem modificar o nosso modo de proceder?.
DEUS NO 1 ; INC OGNOSC VEL
estudo ( 1 ). certo que este conhecimento inadequado e:
incompleto; masno devemosestranhar que isto se d acerca.
de Deus, quando vemosque o mesmo acontece cinci a.
humana, nosseusconhecimentosnaturaisde que tanto se
orgulha, Quem poder explicar cabalmente o que a elec-
tricidade, a luz, a gravitao, a germinao e tantosoutros
mistriosda natureza? Porque nosquerem ento obrigar a
admitir este dilemasou conheceisinteiramente a natureza.
de Deus, ou nada conheceis?
2. MODOS DE C ONH EC ER A NATUREZA DE DEUS,
67. J vimosque, partindo dosserescriados, a razo
prova a existncia da Causa primeira, do Ser necessrio e do
primeiro Motor, Se noslimitarmoss a esta prova indicada.
pelo Concilio do Vaticano, conseguiremosdeduzir, de dois.
niodus, a natureza de Deus; a priori e a posteriori.
1," A priori, isto , dasnoesde Causa primeira, de:
Ser necessrio e de primeiro Motor, podemos, por deduo,
concl n lf que Deus o Ser perfeito. Com efeito, o sere
1tiipet101Iu 1111114010 e I ontin :ntt:, p orque p ode mudar,
atiquittd0 A pi.IIfI3u (ie Itic folio. Ora, se pudesse rece-
bo doutro + "
, 41.1 ^Iila li lllu n
t i
uno seria a Causa primeira de
tudo, rnt o Yin ilec;essarto, visto que podia ser diferente do
o, I, o
u
.s l.rust primeira, o Ser necessrio, tambm
mor itel o. I )rmtil noroo de ser perfeito podemosdeduzir
loduN u 01 1 1 )1 1 1 0S II)ulus dr. Deus,
2," A poslcriori, isto , partindo dascriaturasdedu
/Imosasperlciesdivinas, Se examinarmosasobrasde
)euse sobretudo o homem, encontramosqualidadesde mis-
lura cum imperfeies, Ora, sendo Deuso Ser perfeito,
como acabmosde demonstrar a priori, segue-se que deve
(1 ) Falamos apenas do conhecimento de Deus obtido pelas foras da.
ramo. Este conhecimento foi aumentado pela revelao, que nos manifestou
us mletrios cia SS." Trindade e Incarnao e, por este meio, nos fez pene-
tray mais e mais nos segredos da vida divina.
79
NATUREZ ADEDEUS
mosremover da sua natureza todasasimperfeiesdosseres
criadose
atribuir-lhe todasassuasperfeies(
1 ).
Da, doisprocessos
a) a via de negao ou elimina-
co,
que suprime em Deustodososdefeitosdascriaturas,
e
b) a via de eminncia,
que lhe atribui todasasperfeies
,
dosserescriados, elevando-asao infinito.
0 mtodo
a posteriori nada tem
com o antropomor-
fismo (2 ). Servimo-nos,
certo, dasqualidadesdascriatu-
raspara formarmosa ideia de Deus, masno moldamosna
nossa a natureza de Deus, no
o
imaginamossemelhante a
ns. Atribumos-lhe
asqualidadesdascriaturas, mass por
analogia ( 3 ), e
compreendemosperfeitamente que a inteli-
gncia divina, por exemplo, JIM) s
superior humana, mas
de ordem diferente,
Art,
II. A natureza de Deus.
Atributos de Deus. Novno.
68. 1. Noo. Em geral, atributo uma qualidade
essencial a um set.. Osatributosde Deusportanto so as
suasperfeies, isto ,
aquilo que constitui a sua essncia.
Atributos e essncia,
na realidade, significam uma
e a mesma
coisa. No h diversasperfeiesdivinas, masapenasa
divina essncia, perfeita e indecomponfvel. Portanto a dis-
tino, que fazemos,
apenasde razo, necessria fraqueza
da nossa inteligncia,
69,-2. Diviso.
Pelosdoisprocessosacima indi-
cados, obtemosduasespciesde atributos:
a) negativos ou
(1 ) Deste modo atribuimos
a Deus todas as perfeies das criaturas, porque j provmos antes a priori que Deus o Ser perfeito. No nos apoia- mos por conseguinte no princpio de causalidade, segundo o qual, tudo o que h no efeito se contm
na causa. Este Ultimo mtodo parece
defeituoso, porque, pelo facto de todas as
perfeies
dos efeitos se encontrarem na
causa ainda que em grau mais elevado, no
se segue que a causa primeira
seja infinita e perfeita,
pois os efeitos finitos e imperfeitos no exigem uma causa infinitamente perfeita.
(2) 0 antropomorfismo (do grego anthrOpos, homem e morre, forma) designa em filosofia a tendncia do homem para
supor na Divindade senti-
mentos, paixes, pensamentos e actos humanos.
(3) Analogia (gr. ana, por, logos, relao), como indica a etimologia,
provm duma comparao e conclui pela semelhana entre duas coisas; esta
semelhana, porm, no significa identidade nem destri as diferenas.
ATRIBUTOS DEDEUS
metafsicos,
pela via de negao, e
b) positivos ou morals,
pela via de eminncia,
1,0
--- ATRIBUTOS NEGATIVOS OUMETAFiSICOS,
70. Os
atributos negativos
obtm-se, como dissemos,
removendo da natureza divina todasasimperfeiesdosseres
.
Ora, estesso mltiplos, compostosde partes, sujeitosa
mudanas, limitadospelo
espao e
pelo tempo. Sao portanto
aiributosnegativosde Deusa
unidade, a simplicidade, a
imutabilidade,
a eternidade e a imensidade.
1," Unidade. A
razo no pode admitir a existncia
de doisseresinfinitos, porque, ou seriam independentesum
do outro, ou um dependeria do outro
.
No primeiro caso, o
poder de um seria limitado pelo do outro,
e portanto nenhum
., cria
Wind. No seorndo caso,
no poderia ser infinito o
que drpendesse do outro,
Logo o politesmo,
que admite a
vAi4lencia de
vriosdeuses, contrrio razo,
4,N
Dens no composto de partes.
o WM iI111 I OW
fliiilott infinitas, Se tossem
fini-
lbw% limo Noriu In Ii olin,
porkpie row
a adio dum finito
ti mot. wino uwu
lilcut o Inilitito,
Se so infinitas,
woo, roloino OlHOonlindio, porkpie, Como acabmos
inino
de intiollo Inclui
a imidade.
Alas se sim-
idave
4e, eqp/ri to, porque
prprio
da matria ser corn-
, , -)10 0 divhivel,
I," liiiiitnhIIidude.Deus
imutvel.
Um ser s se
midst (wand() adquire
perfeiesque no tinha, ou
perde as
tole ponsuia, Iiit ambas
ashipteses, Deusdeixaria
de ser
o Ser
necessrio e
perfeito, porque no seria sempre
o mesmo
pnrosarla ditto
estado menosperfeito a outro mais
perfeito, e
rocipioemnente.
4.' Eternidade.Sendo Deus
o
Ser necessrio, no
pode deixar de existir,
e portanto eterno.
No devemos
plicar esta perfeio, dizendo que Deus eterno porque
no teve princpio
nem h-de ter fim. Este modo de
falar
NATUREZ ADEDEUS
80
ATRIBUTOS DEDEUS 81
sem recorrer ao raciocnio. b) no objecto. Acincia divina
estende-se a todo o cognoscivel. Deusconhece-se a si mesmo
e assuasobrasdum modo perfeitssimo. 0 passado e o
futuro so para Ele um eterno presente,
72. Objeco. Prescincia divina e liberdade
humana. Se Deusprev o futuro, a liberdade do homem
deixa de existir, porque tudo o que Deusprev, acontece
necessriamente,
Refutao. A conciliao da prescincia divina com a
liberdade humana uma dificuldade maisaparente do que
real. -- a) Expliquemosprimeiramente
ostermos; 1, A pala-
vra prescincia ou previso imprpria quando se aplica a
Deus. Com efeito, j vimosno n. 70, a propsito da eter-
nidade, que em Deusno h passado nem futuro, mass um
presente eterno, Por conseguinte Deusno prev, v.
2, Al6m disso, dizer que tudo o que Deusprev acontece
nitermirfriamentr, lambm no expresso exacta. Indubith-
velmente, a clncia de Deus infallvel; e o que Deusv
tioale nala ii eternidade, Iide (ow certeza realizar-se no
tempo: Mui uRu
unIu
floors. A conieceril; 1) de um modo
nonliionitlo, Notiala de teresprivadosde razt1o, e que obe-
I.u ; ih 1 01 1 1 NOLAN ihi linfureza, oil aosimpulsosdo ins-
inude. 11111 ffiodo livre, se tie. Irata de seresracionais,
, tondo nu hipt'de.,e de que a palavra prescincia
401 Nri1 1 1 1 1 1 1 1 1 . na presente questo, falso
I 1 , I., de se pievei um acontecimento seja a causa
Seprevejo que um cego, que cami-
im tine( ao de uni precipcio, vai cair e morrer, poderd.
alguent &ter que a minim previso foi a causa da queda e
[unite tlit cego? Da mesma maneira, a. prescincia de Deus
e etyma e infalvel, masno a causa das nossas aces,
movs, npeuasa consequncia delas.
e) II, certo que a imaginao pouco fiel nassuas
repirsculaOes; masquando ossegredosdum mistrio so
impeneirdveis, devemosseguir o conselho de BOSSUETsegu-
tar lortemente osdoisextremosda cadeia cincia de Deus
liberdade humana, embora no vejamososelosinter-
inediriosque osligam.
imprprio, porque s se aplica ao tempo; ora a eternidade
op6e-se ao tempo. Quando dizemosque Deus
eterno, que-
remossignificar, posto que seja difcil de
o
conceber, que
Deusest fora do tempo, fora do
princpio e
do fim,
0 tempo,
divisive], envolve mudana, sucesso
e
transformao suces-
siva ; porque se compae do passado que A. no , do futuro
que ainda no ,
e
do presente que desliza entre
o
passado e
o
futuro; numa palavra,
imperfeito, e
portanto repugna
perfeio e
imutabilidade de Deus, Donde se conclui que
devemosconceber a eternidade divina, como um
presente eterno
onde no h passado nem futuro,
5, 0
Imensidade.
Tudo o
que dissemosda eternidade
aplica-se tambm
imensidade
de Deus. Assim como a
eternidade est fora do tempo, assim a imensidade
est fora do espao.
Deusest em toda a parte,
no
h. maneira dos
corpos, que se limitam pela prpria extenso, mascomo um
esprito
que tudo penetra, ainda oscorposmateriais, sem
contudo com elesse confundir (por ex,: a alma humana).
Se
certo que Deus
est
em toda a parte, no
menos
exacto acrescentar que tudo est nele
e
por ele existe,
segundo aspalavrasde S, Paulo aosAteniensesNele
vivemos, nosmovemos
e
existimos
(Actos, XVII, 28),
2. ATRIBUTOS DE DEUS
POSITIVOS OU MORA'S,
71.
Para conhecermosos
atributos positivos
de Deus,
tomamosasfaculdadesdo homem como pc,ato de partida
e
elevamo-lasa um grau infinito, Ora asfaculdadeshumanas
so a inteligncia, a vontade
e
a sensibilidade, Portanto os
atributosde Deussero
a inteligncia,
a vontade e o amor.
1. Inteligncia.A
inteligncia do homem
limitada,. tanto no
modo de conhecer
como no
objecto.
Geralmente
falando, s adquire
o
conhecimento muito lentamente, com
dificuldade e
por meio do raciocnio. Alm disso, est sujeita
ao erro,
dvida,
ao esquecimento;
e a sua
cincia
sempre muito limitada,
A inteligncia divina, pelo contrrio,
perfeita
a) no modo de conhecer.
V tudo num nico acto de
intuirelo,
6
82 NATUREZ ADEDEUS
73. 2, A vontade de Deus. A vontade do homem
limitada no modo de operar e no objecto. Ordinriamente
s consegue osseusfins custa de grandesesforose nem
sempre faz tudo o que deseja, Em Deus, a vontade
omnipotente: no conhece o esforo nem o limite, Deuspode
fazer tudo o que deseja, mass pode querer o que conforme
com asluzesda sua inteligncia, isto , o bem. Quanto ao
mal, tratando-se do mal fsico, Deuspode quer-lo como
meio para obter um bem maior (n. 101); se se trata do
mal moral, nunca o pode querer, masapenastolerar, para
deixar aoshomensa livre eleio dosseusactos, e conse-
quentemente, o mrito ou o demrito,
74. Objeco. Mas, dir-se-, se Deusno pode ele-
ger entre o bem e o mal, no livre.
Resposta. No confundamosa liberdade divina com a
humana, 0 homem pode hesitar entre o bem e o mal, e
escolher o mal. Masisto imperfeio da liberdade humana,
porque a verdadeira liberdade consiste na eleio entre dois
bens; tal a liberdade divina, Ora como Deus o Ser infi-
nitamente perfeito, o Bem Supremo, quer-se e ama-se a si
mesmo necessriamente. Portanto a liberdade divina s diz
respeito aosactos externos, aosque se' relacionam com as
criaturas, Deuscriou o mundo livremente; criou tudo o que
existe, como podia ter criado o que no existe,
75. O amor de Deus. 0 amor o movimento da
sensibilidade para o bem. Ora, o homem frequentemente se
engana acerca do seu objecto; e ainda quando no se engana,
nunca completo o bem que alcana, porque ou se junta o
temor de o perder, ou a decepo de o no encontrar to
grande como pensava, Temosde remover. de Deusestas
imperfeiese osdefeitosque acompanham a posse da feli-
cidade, Deusama ascoisassegundo o seu valor, Por con-
seguinte, ama-se a si infinitamente e ama ascriaturasna me-
dida em que reflectem assuasperfeiesinfinitas, Como a bon-
dade provm do amor, Deusprodigaliza benefciosscriaturas
bonum diffusivum sui, sob este aspecto que S. Joo disse
que Deusera a caridade, Deus caritas est (I Joo, IV, 8),
PERSONALIDADEDEDEUS
Entre osatributosmorais de Deus, mencionam-se por
vezesa santidade, a justia e a misericrdia. Se Deus
infinitamente perfeito, evidentemente tambm santo, justo e
misericordioso em grau infinito; mas, na realidade, estasso
antesperfeiesde sua vontade do que atributosdistintos.
Art, III. Personalidade de Deus.
1 , DEUS UM SER PESSOAL DISTINTO DO MUNDO,
76. - Osatributosde que falmosacima constituem a
personalidade divina. Dizer que Deus ser pessoal, equi-
vale a afirmar que substncia individual, distinta dascria-
turas, Deus: a) substncia, isto , ser que permanece,
e no modo on fenmeno que passa, nem ser sujeito a cond.-
films tr.u isiornaes; b) substncia individual, isto , Deus
linde tipruar por si mesmos e osseusactosso-lhe imputveis
11111111 u eleito causa, c) substncia distinta das cria-
turoN tiniutro mudo o inundo e Deusseriam um e o mesmo
+anr, 4 uniu prclendetn ospantestas, dosquaisnosocupare-
11i101 no ton itgiido sogulnie,
porionulttltida tie I )eusdeduz-se da sua infinita perfei-
tt, Cnt t Otnitu, NO I t' li+ ano tosse, nn ser pessoal (I) e dis-
jitilrt tia nitustltt l tumlit'in ano seria Indt in adente, Ora, se no
lu :t liitIepoiidentt, ji n;lu sedei o Ser infinitamente perfeito.
, -(l I IC MO, I<IFUrAO
77, 1," F.xpos100 do Pantesmo. Segundo os
jittttfrk1UM, Deusnato e uma personalidade transcendente e
disilul, uiitN lornla com o inundo uma nica realidade; por
uiill An 01 1 1 1 ias, imanente ao mundo ( 2 ), Apoiam-se prin-
Itipiiuenle nesse argumento ; Deus, dizem eles, infinito,
foi it do infinito nada pode existir, Logo o mundo
i i) 1111111111Wa(lul it expresso corrente <ser pessoal, enquanto se ope
tut nlii , itu, pnntalnial, , quo confunde Deus com o mundo. Evidentemente no
lernlnua comi elo, significar quo em Deus h avenas uma pessoa. Em rigor a
tu`agal:u .: r r pr.v.voal substituir-se-ia com vantagem por .ub, tncia distinta.
(5) A palavra imanente ope-se aqui a <tran, cendente. Dizer-se que
anile rStra. nw'nadcate, significa quo existe fora do inundo; pelo contrrio, se
diepi n oa 81111 (, Imanente, identificamo-lo com o mundo.
83
84
NATUREZ ADEDEUS REFUTAODOPANTESMO85
parte integrante de DeussDeus
tudo o que existe, e tudo
o que existe Deus, Esta a origem da palavra
pantesta
(do grego pan,
tudo, e theos, Deus) .
78. Diviso do pantesmo..16,
vimosqual o prin-
cipio geral do pantesmo. Sobre este fundamento comum, a.
doutrina pantesta reveste vriasformas, Asprincipaisso
duas: o pantesmo naturalista ou materialista, e o pantesmo,
idealista ou evolucionista.
a) Segundo o pantesmo naturalista,
Deuse o mundo
so duassubstnciasincompletas, que se unem como alma e
corpo, para formar o mesmo indivduo, Neste sistema, Deus
a alma do mundo, uma fora inerente natureza, o princ-
pio
da vida, Esta doutrina confunde-se com o materialismo,.
de que j falmosno captulo precedente (n, 40), S se
distingue dele por ter conservado o nome de Deus.
, por
assim dizer, um atesmo dissimulado, ou, como diz o P. Gratry,
.
o atesmo, maisuma mentira ,
b) O pantesmo idealista de ESPINOSA(1632-1677) e
de HEGEL
(1754-1831) esteve muito'em voga pelasideiasde
progresso e evoluo que introduziu no sistema, Foi vulga-
rizado em Frana por TAINE, RENANe VACHEROT. No pan-
tesmo. evolucionista, Deus cognominado a
categoria do
ideal.
Quer dizer que de realidade s tem o nome; um
ideal que evolui, que se vai realizando dia a dia e caminh
a.
para um progresso indefinido. Portanto, no se pode dizer
que Deusexiste, masque se est a formar e a criar pouco
a pouco. 0 mundo uma evoluo necessria da substncia
divina.
79. 2. Refutao. - 0
sistema pantesta vai contra.
osprincpiosda razo
(argumento metafsico), contra o teste-
munho da conscincia
(argumento psicolgico), e inadmis
svel pelasfunestasconsequnciasque dele resultam para a
moral e para a sociedade (argumento moral).
a)
Argumento metafsico. 0 pantesmo ope-se ao
princpio de contradio : impossvel que uma coisa seja e
no seja ao mesmo tempo. Ora o pantesmo, identificando
Deuscom o mundo, supe que o necessrio e o contingente,.
o infinito e o finito, o esprito e a matria, o eu _e o no-eu,
a verdade e o erro, a luz e astrevasso uma e a mesma
coisa, isto , identifi ca oscontrrios, o que absurdo,
b) Argumento psicolgico. 0
pantesmo contradiz
o testemunho da conscincia. Todosestamosconvencidos
de que somosindivduosdistintosunsdosoutros, e no
modosde ser ou acidentesda mesma substncia; o eu
inconfundvel com o no-eu. Tambm no temosa impres-
so de ser parcelasda divindade; asnossasimperfeies,
misriase enfermidadeschamam-nossuficientemente a aten-
o para a realidade dascoisas.
c)
Argumento moral. -- Asconsequnciasdo pan-
tesmo so funestaspara a moral e para a sociedade. Se
Li
emosparte da substncia divina, do Ser necessrio e per-
leito, deixa de existir a liberdade e a responsabilidade, e a
moral perde o seu fundamento, que a sociedade incapaz de
Noted iluir. Com
efeito, se tudo Deus, tudo bom, todos
oa acontecimentos
sito evoluo da substncia divina e, por
ttl^t5t~uinle ,
deixam de existir virtude e o vcio, o direito
e Y violrncan, o u rilo
e o demrito; tudo se valoriza, tudo
Aiatiarnmto e tdngr;tdo.
M0. Objec lio, t 'H n do, dizem ospantestas, deve
401 ttilir io oonnle do Eilioitu, sob pena de o infinito ter
Ilnlltn^, Otnn ,oi^limlilfrio.
Itrrpfttlu. a) O
pantesmo de modo algum resolve a
ddiltt nidntle; por que se osseresparticularese finitosfizessem
pinto ti n
divindade, se fossem modosda substncia divina,
I ens deixaria de ser infinito, poisosseresfinitosso imper-
e Contingentese, como tais, no podem formar o infi-
oito, por maisque se multipliquem,
b)
Maisainda; a objeco pantesta assenta num falso
conceito do infinito. No se deve confundir infinito com
lolalldade. 0 infinito no uma
coleco infinita de seres,
uns a plenitude do ser; no uma soma, um total, masa
perleifo infinita, a substncia transcendente. As perfeies,
+ p
e se encontram nos outros seres, no diminuem a per-
86
NATUREZ A. DEDEUS
ACODEDEUS
87
feio do Ser infinito, assim como a cincia do professor no
aumenta nem diminui, medida que osalunosdela parti-
cipam; nem antesnem depoish maiscincia, massmente
maissbios,
Por conseguinte, a criao,
considerada pelospantestas
como impossvel porque limitaria o infinito, nada ajuntou .
perfeio de Deus. Temossmente, a mais, seressegundos,
imperfeitos, numa palavra, seresfinitos; o Ser Infinito per
maneceu o mesmo. A coexistncia do finito e do infinito no.
portanto contraditria, porque
no so da mesma ordem.
Bibliografia.
Os autores do captulo precedente,
CAPITULOIII. ACO DE DEUS.
1 . Criao.
(a) Erros.
A. Origem do
mundo.
b) Criao.
(a) Criao.
B, Origem da
vida.b) Gerao
espontdnea.
l 1 . Dualismo,
1 2. Pantesmo.
f 1 . Definio.
2, Possibilidade,
3, Necessidade.
f 1 . directa,
2. indi
tig
recta,
(1. Hiptese an-
a.
2. No verificada
pela cincia.
3.
Admissvel,
se toma Deus
como funda-
mento.
(
Aco
1)G
GUS.
2. Providncia.
11. Criao directa das
d) Fixismo.espcies.
2. Sua fixidez.
1 . Explica tudo pela
evoluo,
2. Transformao
das espcies (trans-
b) Evolu-formismo).
eionis- 3. Sistemas de Lamarck
mo,e Darwin.
1) materia-
4. As duas Ilista.
escolas,;l 2) espiri-
tualista.
I
f a) Adversrios,
1 b) Provas.
!
1 . a priori.
12. a posteriori.
1. Providncia
a) Objecto.
J
geral.
(
2. Providncia
especial.
( 1. Leis gerais,
b) Maneira. l 2. Intervenes
particulares.
a) da natureza divina,
b) da liberdade humana.
D. Objeces
f 1 . metafsico.
tiradas.
c) da existen-
2.
fsico.
cia do mal.
3, moral,
C. Origem
das es-
pcies.
A, Noo.
B, Existn-
cia.
C, Modo.
ACODEDEUS
88
DESENVOLVIMENTO
81. Diviso do capitulo.
Depoisde ter demons-
trado a existncia de Deuse a sua natureza, vejamosqual a
sua aco, ou quaisassuasrelaes
com o mundo. Como
ficou provado, Deus a causa primeira de tudo o que existe,
Aprofundemosmaiseste assunto e indaguemos: 1, Se Deus
criou o mundo, ou o
formou da sua prpria substncia;
2. Como o governa.
Art. I, A crad io.
Dividamoseste artigo em trspargrafos: 1.
0 A ori-
gem do mundo, 2. A origem da vida, 3,
0 A origem das
espcies,
1. ORIGEMDOMUNDO.
82. 1,
Erros acerca da origem do mundo.
Aori-
gem do mundo s se pode explicar de trsmodos:
a) A ma-
tria eterna, necessria e independente de Deus; neste caso
Deusseria apenaso ordenador do mundo : tese
dualista.
b)
Omundo emanou da substncia divina, isto
, Deus
formou o mundo da sua prpria substncia : tese
pantesta.
Modernamente, com o nome de
pantesmo evolucionista
(n, 78), afirmam que Deus o mundo em evoluo,
e) 0
mundo foi criado do nada por Deus: tese
testa.
Smente a ltima tese se pode admitir. Asduasprimei-
rasso doiserros, a) 0 dualismo, pelo facto de afi rmar
que a matria um ser necessrio e independente, supe a
existncia de duasdivindades, Ora, como vimos(n. 70),
Deus o Ser infinito, e no podem existir doisser infinitos,
porque mutuamente se limitariam ( 1 ),
b) 0 pantesmo foi
igualmente refutado no captulo precedente (n. 79), A teoria
dois prine
Mencionemos
p os: um bom, fonte de todo lo bem, que o espirito, e outroa mau,
fonte de todo o mal, que
a natureza. 0 bem e o mal, que vemos no mando,
explicam-se pela luta eterna destes dois princpios.
A CRIAO
89
da emanao contraditria, Como se explica que uma
substncia, que teve a sua origem no infinito, no possua
osatributosda substncia donde emanou ? Como poderia
a substncia necessria e infinita tornar-se contingente e
finita ? Seria necessrio supor que uma parte da substncia
divina
perdeu assuaspropriedades, ao desprender-se da
substncia comum ; o que contraditrio num ser imutvel
e simples,
83. 2, A Criao. A. Definio. Criar tirar
li ma coisa do nada. Na
criao do mundo,
portanto, Deus
!irou o mundo do nada, e no da sua substncia, nem de
outra matria preexistente.
B. Possibilidade. Masser possvel a criao
Objectam que do nada, nada se faz.
Ex nihilo nihil fit.
I':wie axioma
verdadeiro se significa que o nada no pode
!;er causa ; que, se no existe, nada pode operar; bem como
lia hipulese d ou nada absoluto, isto ,
de Deusno existir,
M
ua Inlso no sentido de que impossvel a existncia de
n u a a r, do quid antestiadit existia ( 1 ),
N1ile (ciclo li no 44
, coutradiltrio nem impossvel, 0 con-
t}$11Ut1i1 orim,ito
lauiI o'to podtti
eucoutrar analogiasnascausas
ttOgtlnllaa, A liltln quo uc:nliiin ser criado possui o poder de
i nt uulina 4u11111nr u ,
conlntio pode dar origem a novos
iIeuiuo, on piioiun.it novas substncias, A ssim, a intelign-
t tootinz n pensuntt n
lo, e u vontade asvolies, 0 qumico,
l ,
io ateia do tithilise '; sntese, produz substnciasnovas(por
M ! n Agua, t olll o
oxignio e o hidrognio), No devemos,
puIh, lruurtui a Deusonmipotente um poder, que
o homem
leu, illudit que em grau maisreduzido.
G, Necessidade.
A criao no s possvel, mas
Itnniu m
necessria; porque, como vimos, osdoissistemas,
I I )
Iro quo Oca dito, fcil compreender o verdadeiro sentido da
, rvpraaito . tirar do
nada.. Entre o nada e o objecto criado no h relao
al unut do causa o de efeito; tambm no so dois termos de uma evoluo,
Infla e relao que h entre eles apenas mental. Portanto tirar do nada
elH eilloa a passagem do no ser ao ser, de modo que entre o primeiro e o
sego ado
lot somente a relao que existe entre dois instantes diversos.
90
AC O DE DEUS 9 IL
A CRIAO
dualista e pantesta, so inadmissveis.
Logo, a criao a
nica explicao possvel da origem do mundo ( 1 ),
A nica dificuldade, que o problema da criao apresenta
nossa inteligncia, diz respeito ao
modo como o mundo foi
formado. Remetemos
o
leitor para a nossa obra
Doutrina
Catlica (n. 55-57), onde
encontrar
asrespostasque a F
e
a Cincia do sobre o assunto,
2. ORIGEM DA
VIDA.
84. Ossbios
so unnimesem admitir que houve um
tempo em que ea terra no existia a vida
.
A hiptese de
Laplace,
para explicar a formao do mundo,
supe que a
terra passou por um
perodo
de incandescncia, incompatvel
com a vida. Nesse caso, como que a vida comeou no
mundo? H apenasduashiptesespossiveis; a
criao ou
a gerao espontnea ( 2 ),
85.-1. Criao.
Segundo esta hiptese, osprimei-
rosseresvivospodiam ser criadospor Deusde duasmanei-
ras: a)
Ou Deusinterveio directamente, por um acto de
sua omnipotncia, e
fez aparecer osprimeirosseresvivos,
logo que na terra houve condies
favorveis vida, e neste
caso a criao foi directa; b)
ou Deusdepositou na mat-
ria, logo desde a sua origem, osgermesou forascapazesde
produzir osprimeirosorganismos, quando chegou
o momento
favorvel
ao seu desenvolvimento:
criao indirecta.
Esta
segunda hiptese
pouco verosmil, porque difcil de expli-
car como teriam podido resistir selevadissimastemperaturas
por que a terra passou no
perodo
de incandescncia,
86. 2, Gerao
espontnea. Chama-se gerao
espontnea ou heterognea
(do grego heteros, outro, e genes,
(1 ) Poderamos
aqui observar que a cincia
no tem argumento algum
para opor ao dogma da
criao,
porque esta ilk ) pode ser objecto da
experincia cientfica, e
em si nada tem que contradiga os factos
comprovados pela cincia.
(2) De facto,
intil recorrer a uma terceira hiptese como a do
panspermismo interastral,
segundo a qual, a terra teria sido semeada de
ger- mes descidos dos
espaos interplanetrios, quando comeou
a resfriar. Esta explicao s faz retardar a soluo da dificuldade, porque
deveria explicar as ondies
em que se encontravam esses germes nos outros astros
e qual a sua origem.
raa) o
nascimento dum ser vivo, no de germespreexistentes,
massOmente das
reacesfsico-qumicasda matria. Que
havemosde pensar acerca do
valor cientfico e filosfica
desta hiptese?
A. Cientificamente, esta hiptese no nova. Amsr
TELES julgava que o mundo estava cheio de almase vidas, e
trazia em si osgermesdosseres. VIRGLIO nasGergicas
(Liv. IV) descreve o
nascimento dum enxame de abelhas, que
saem dasentranhasdum toiro morto.
LUCRgCIO (De rerum
natura, liv. V, v. 794-795) diz que se vem sair da terra ani-
maisproduzidospela chuva e pelosvaporesclidosdo sol.
Ovtoto (Metamorfoses, I, 416-438) faz
sair osanimaisdos
sedimentoslodososque o dilvio deixou, VAN HELMONT,
ainda no sculo XVI, ensinava o meio de produzir ratosespon-
tneamente. Outrosfaziam
receitaspara obter rse enguias.
A hiptese da heterogenia foi muito seguida at ao
sculo XVIII, masno
era geralmente utilizada em sentido
stint, como o prova o facto de algunsS S . Padres (S. Acos-
mop) e, nulls lardy.,
escolsticos(S. ALBERTO MAGNO
e S. Toriu(%) julgarem tine todososseresvivostinham sido.
Intloft nu potent:In o cm seusgermes,
logo no primeiro ins-.
laid. tintlftu tstine Deus
tinha coiderido et matria o
illittor drolgratizar sol' a aco dasloias terrestresou
ut ihl ,,triui/da neste sentido, a gerao espon-
!anon4rflima (r/dom Indirecta.
Irm oirridoN lo sculo XIX esta hiptese tomou outro
io A rseuula materialista ou monista (VOGT, BUCHNER,
1 .1 ) t wviidepoti -tt desde ento como o nico meio de'
/-. ,,indlr de Deus. Coln eleito, se admitirmosque a matria
nit e &hla diirna fora
capaz de produzir a vida, e que
primeiros seresvivospuderam desenvolver-se
e organi-
se formandopouco a pouco asespcies; se, como se
41)11ilie I I AECKEL, desde a queda duma pedra at ao pen-
..aniento do homem,
tudo no universo se reduz ao movimento
tios tomos, ento ser lcito
afirmar, com KARL VOGT, que.
I /cos um limite que recua medida que a cincia avana,
l'ortanto, o primeiro problema que osadversriosdeve-
dam resolver, era provar que
a vida pode vir da matria.
VAriasvezesjulgaram osheterogenistaster achado A verda-
92
ACODEDEUS ACRIAO
93
Ainda mesmo admitindo que
o
Bathybius
fosse uma monera,
dotada de todasaspropriedadesvitais, seria preciso provar
que se formou por gerao espontnea
.
Mas, disseram
ento
osmaterialistas, se a natureza se
nega a dar-nosexemplosde gerao espontnea, .por que no
havemosde tentar, por
meios qumicos,
a produo de orga-
nismoselementaresidnticos monera ?
A
cincia descobriu que a matria do ser vivo nada tern
de especial, poistodososseresvivosse
compem de hidro-
gnio,
oxignio, azoto, carbono e, em menorespropores, fs-
for, ferro, enxofre, etc.. Por outro lado,
BERTHELOT
chegou a
reconstituir artificialmente osacares, os
terese
oslcoois,
relacionando assim a
qumica orgnica
com a mineral. Mas
se
a matria viva
redutvel
inorgnica,
porque no ser
possvel, s pelosprocessosde laboratrio, criar matrias
(pie, antesse consideravam como
o
efeito da actividade vital?
N.lo sero suficientesas
foras
fisico-quinzicas
para explicar
a v ida vegetativa? Dentre asvriastentativasque se fize-
rnin
iieste
sentido, s falaremosdasduasmaisclebresque
tivehiiii ton
triste resultado,
I nit
de Ilisi ke.
1905,
um fsico ingls, ainda
..vPiIi
t,IWMII, lidgott tine Willa tomtit-n(1o, por meio do radio, orga-
..,
wink root ittimilivirt, 1
IIIIG C11:1111011
ista
I I iota toilui polemic do radio. Liscomo fez asexperiEn-
lki o,. to i irk
littinr.4tie ViLit1),
caldo de cultura, quer dizer, uma
tit. 1
I,iAiiIrt5 orgnideitsporn auxiliar o desenvolvimento dos
hots. I opplok tlo emir' War cuidadosamente o caldo de cultura,
de lAtIlo iii pruneiro balo, cloreto de radio ao segundo,
lotto itiltodoLiii, porque havia de ser
o balo
de prova.
.,101114 11110,
oo(ou que osdoisbales, onde tinha introduzido
114 4111111114iI14
de ihdio, apresentavam
superfcie do
lquido
uma camada
rot ludo srintilliaitte a uma cultura de micrbios; ao passo que
o balo
do prova permanecia
inaltervel.
Nestesprodutosdo radio ou
radid-
NON, Utti k e
julgou
ver microrganismoscomo osque deviam ter apare
cult), (wand') tio mundo comeou a vida. Mas
em breve
reconheceu
que se cligauara,
tomando
por seresvivos
o
que da vida s tinha as
a partucias, e
que osseusradibioseram apenasbolhasgasosasfor-
madam pela decomposio da agua da gelatina sob a influencia do radio.
b)
Nosfinsde 1906, EsTbilio LEDUC, professor da Escola Mdica
de 'Nantes, comunicou Academia dasCinciasque acabava de des-
cobrir ocklulasartificiais, que realizavam a maioria dasfunesvitaisp.
Consistia a experincia em semear grnulasde sulfato de cobre numa
massa gelatinosa de ferrocianeto de potassio, acar, sal
e gua. Em
ponco tempo osgrnulosentumeciam como sementes
e
cresciam come
Contudo
f
porque a cri
contacto com osinstrumentosde pesca
(
MILNE
EDWARDS),
(1) Monera,
na teoria monista,
o organismo mais simples que pode-
mos conhecei', uma parcela de protoplasma sem ncleo. A
clula
compe-se
de ncleo, que ocupa
o centro, de
protoplasma,
que o
envolve, fo, rmado por
um conjunto de filamentos imersos num liquido bastante denso.
E um orga- nismo mais complicado do que a monera.Acima dos organismos
unicelula-
ms (
formados duma s clula), como os micrbios, h outros
pluricelulares,
compostos dum nmero
incalculvel
de clulas, de diferentes espcies. Um conjunto de clulas semelhantes forma
o tecido:
tecido nervoso, tecido mus-
mular, etc....
(2) 0 protoplasma
(do gr. ,(prOtos,
primeiro e ,plassein,,
formar) designa,
segundo a etimologia do termo,
o
organismo primitivo, a forma primeira do ser vivo.
f
, o e mera a satisfao no campo
materialista,
cientifica no tardou em demonstrar que
o Bathybius
no era verdadeiro protoplasma dotado de vida,
masunia acumulao de mucosidades, que asesponjas
e
certoszofitossegregam, quando osseus
tecidos
esto em
deira soluo.
Masas
experincias de Pasteur
(1859-1865)
frustraram-lhesasesperanas, 0 notvel sbio,
PoucHEr,
pretendeu negar a existencia de germesna atmosfera
e que
tinha obtido infusriospor gerao espontnea numa matria
em putrefaco.
PASTEUR,
ao contrrio, demonstrou 1, que
o
ar contm em suspenso
corpsculos
organizadossemelhan-
tesa
germes
2. que, se tivermos
o
cuidado de oselimi-
nar, nunca obteremosproduo de infusrios. 3, que os
infusriosse podem obter ou no, conforme se introduzirem
ou suprimirem germesobtidospelo primeiro mtodo,
Ospartidrios
da gerao espontnea
no
se deram ainda
por vencidosperante asconclusesde PASTEUR. Mudaram
de tctica, e
objectaram que osseresunicelulares, revelados
pelo microscpio, no representam
o
primeiro germe da vida,
masso j o
termo dum largo perodo de evoluo
e aper-
feioamento; que a vida originAriamente apareceu sob a
forma de organismosmuito maisrudimentaresque osmicr6-
bios, e
que osprimeirosseresvivoseram intermedirios
entre estesltimos
e
asmolculasqumicas,
Em 1868, julgaram ter descoberto a clebre
monera (1 ) primitiva.
Foi encontrada no fundo do mar uma matria gela-
tinosa parecida com um
protoplasma (
2 )
informe, HAECKEL
julgou que tinha encontrado um tipo elementar do ser vivente,
sado
da matria inerte, HUXLEY deu-lhe ento
o nome de Bathybius
(isto 6,
one vive na profundidade).
ttr
1J4
Aco DE DEUS
plant:is. Leduc conclua que deste modo tinha produzido a vida sem
gern4s. Foi porm prematura a sua
concluso,
porque depressa lhe
fizeram ver que tinha realizado, no a gerao
espontnea
dum ser
vivo, mas um fenmeno conhecido em fsica pelo nome de
osmose. Quando dois
lquidos
se encontram separados por uma membrana porosa,
um deles pode passar para
o outro e
aumenti-lo indefinidamente,
o que d a este Ultimo a aparncia de aumentar
e crescer semelhana do
vegetal. Leduc tinha pois produzido uma falsificao da vida, .un
calembour de la vie como lhe chamaram d' Arsonval
e Bonnier, mem- bros do Instituto.
Posteriormente fizeram-se outras muitas tentativas para produzir
-a vida com idnticos resultados.
A cincia experimental at hoje ainda no deu maisum
passo. Asexperinciasde Pasteur ficam de pe;
o ser
vivente provm doutro vivente.
Se os
laboratrios
no pude-
ram criar a vida, quer dizer que entre a matria inorgnica
e
a vivente existe provvelmente urna barreira
insupervel.
B.
Filosbficamente que diremosda gerao espon-
tnea ? No estado actual da cincia, todasasexperincias
demonstraram que no existe
.
Teremoso
direito de concluir
que nunca existiu, ou que
impossivel? Ambasascon-
clusesseriam temerdrias. Se afirmamosque
ela nunca
existiu,
porque no caso contrrio ainda agora existiria, as
leisda natureza so imutveis,
e
a matria certamente ainda
no perdeu a sua energia, podero responder-nosque
faltam actualmente ascondiesrequeridasque havia no
passado. E
se a julgamos
impossvel
porque os
adversrios
so incapazesde a comprovar,
poder
-nos.o responder que
tambm a criao
impossvel,
visto que tambm nsno
podemosprov-la com a experincia (
1 ).
Para osapologistascatlicos
indiferente uma ou outra,
Afirmam sbmente que se a vida comeou por gerao espon-
tnea, foi porque Deusdotara a matria de forascapazesde
a produzir .
Directa
ou
indirectamente, temos sempre de
recorrer
A. criao, Podemosportanto concluir com
o mate-
(1) .Verdadeiramente
nenhuma das duas teses pode aduzir a autori-
dade da experlncia. Ambas so inverificiiveis; a primeira, porque a cincia
ainda no avaneou um passo na sntese
qumica
duma substncia viva, a
segunda, porque 6 impossvel imaginar um modo de provar experim.ntal.-
mente a impossibilidade dum facto.. (H , B ERGSON,
L'volutioncre'atrice ).
A CRIAO
rialista WIRCHOW no so ostelogosque rejeitam a gera-
o espontanea, massim ossbios,
3,0 ORIGEM DAS ESPCIES, FIXISMOOUEVOLUCIONISMO,
87. Qualquer que seja a sua origem, a vida apa-
rece-nos
sob diversasformasdesde asmaissimplesat
s
maiscomplexas. Tanto no reino vegetal como no animal,
vemosque desde a alga unicelular ao carvalho, e do infusrio
ao mamfero, h infinitasvariedadese, espciesnumerosas.
Donde provm estas espcies?
Foi cada uma criada por
Deusseparadamente, ou tiveram todasuma origem
comum,
o mesmo protoplasma que pouco a pouco
evolucionou? Tais
so asduashiptesespossveisna questo da origem das
espcies. Chamam-se; 1, 0 o fixismo e I o evolucionismo.
88. 1," Fixismo. Segundo esta hiptese, asesp-
ciesforam criadaspor Deuscomo agora existem; ou, pelo
menus, provern de germesdirectamente criadospor Deusem
As
espciesque germinaram, quando encontra-
rani condioitsfavorilveis. Seja como for, asespciespos-
iii it ear acierfstica da fixidex, e portanto so incapazesde
ith por evoluo. Defendem esta hip-
maim la l'
ilIitION i1unIogistase lambm clebres
room t ovum,Olirrrinireniacs, AGASSiZ , FLOURENS,
I 1611,,, , r, MAN( IIAI(I), 10.; NAPAILLAC, etc.,Veremos
r010111iv 04 nu guittriitoN tom opem ao evolucionismo,
HU. - 2," Evoincionismo.Oevolucionismo um
vaso sistema que explica a origem dascoisaspela evoluctio.
Segundo esta teoria, tudo evoluciona; a matria, a vida, o
pensamento. A matria pela fora da evoluo passou do
estado de massa confusa e catica ao estado de mundo orga-
nizado e habitvel (teoria de Laplace). A evoluo da vida
deu origem sespcies, e a do pensamento explica todos
osprogressosdo homem no campo dasletras, cinciase
artes( 1 ).
(1) A evoluo no ideia nova; encontramo-la nos filsofos gregos
( legoola Jnica, Est, ca e de Alexandria ), em alguns dos SS. Padres (S. ORE-
41 61 1 1 0 NIC ENO, S H ILARIO, S. AMB ROSIO e S. AGOSTINH O ), nos escolsticos
95
96
ACO
DE DEUS
90. Transformismo. Oevolucionismo,
aplicado s espcies,
toma o
nome de
transformismo.
Como o termo indica, o
transformismo ensina que asespciesprovm
umasdasoutraspor sucessivastransformaes,
e que
tm um tronco comum. Masde que modo se operaram
estastransformaes0 problema foi resolvido de modo
diverso pelosdois
sistemas
chamados
Lamarquismo
e Dar- winism (1 ),
91.A, O Lamarquismo.
Segundo
LAMARCK
(1744-
-1829), que pode considerar-se
o
pai do transformismo, so
trsosfactoresque explicam a passagem duma espcie a
outra: o
meio, a hereditariedade
e o tempo. 0
meio, que compreende o
clima, a luz, a temperatura, a alimentao, etc.,
o
factor principal, 0 meio obriga
o
organismo a adaptar-se
ascondiesem que se encontra, cria-lhesnovasnecessi-
dadese
estascriam osrgos, osquaisso depoistransmi
tidospor
hereditariedade,
Como estastransformaess se
efectuam lenta
e
progressivamente,
o tempo
um factor indispensvel,
92. B. O
Darwinismo.
Segundo
DARWIN
(1809-
-1882), h outro factor maisimportante, que explica astrans-
formaesdasespcies,
8 a
seleco natural.
Se o homem
pode melhorar asespciesvegetaisou animaispela
seleco artificial,
por que
que a natureza, disse DARWIN, no
poder
fazer outro tanto? Fundado nesta ideia,
o
naturalista ingls
procurou a razo de ser da seleco natural
e
julgou encon- tra-la na
concorrncia vital,
A natureza produz nosmesmos
meiosmaisindivduosdo que pode alimentar. Da, a
luta
pela vida (strugle for life),
em que osmaisfracossucum-
bem e
s osmaisfortessobrevivem. A lei da hereditarie-
(
S. ALB ERTO MA
GNOo S. TOMS).
Entre os modernos, B AC ON, PASC AL
e
LEIB NIZ so
mais ou menos
evolucionistas;
TURB OT
e C ONDORC ET
defendem
a ideia de
progresso,
muito prxima
da ideia de
evoluo.
H . SPENC ER fez
larga sntese do
evolucionismo,
considerando a
evoluo
como a lei geral
que rege o mundo.
(1 ) No
se deve
confundir o
transformisnto,
teoria geral que afirma a
transformao
das espcies,
com os sistemas particulares de LAMARC K
e
DARWIN que pretendem explicar
o modo como
se deu a
evoluo e indicar
as
causas que determinaram
as transformaees.
A CRIAO
dade explica o resto ( 1
). Deste modo, Darwin ajunta
influncia do meio e hereditariedade a seleco natural,
isto e,
a sobrevivncia do mais forte na luta pela vida.
93. Argumentos
transformistas. Afirmam osevo-
lucionistasque podem
provar cientificamente, pelo estudo
do passado e do presente,
que asespciesno so
fixas
DM
foram criadascomo so actualmente, masprovm dum
tronco comum,
ou ao menosdum
nmero muito restrito de
ascendentes,
A. A histria do passado
o
argumento maisslido
a favor desta hiptese, visto que um dosfactoresessenciais
da evoluo dasespcies
o tempo.
Dizem ostransformistas
que os
paleontlogos,
ao estudar osfsseis ( 2 ) encontrados
nascamadasda terra, notaram 1,
que h grande dife-
rena entre as actuais espcies
e as antigas.
Estassofreram,
no decurso dostempos, numerosasmodificaese,
per con-
seguinte, no so
fixasnem foram criadascomo so actual-
'ovine.; 2, que
as espcies no apareceram todas ao
inesmo tempo e
que o seu mimero
vai aumentando progres-
iniente ai lis
canindas superiores
da terra. Esta sucessiva
. 1 .41 mu die, eilpecie% e o Neu mimero
sempre crescente so
, 1 1 th vliI, pttfl ik .
tow tic.(icemkkiti limas das
outras; doutro
ei soiiiii tie sup,' quo Dems
est incessantemente
inibi IS
41 1 1 1 o1 1 1 1 1 , inieiiicaiuin as antigasespciese
lusignilicantes
para constituir espcies
Iii' Vi1,
H . Ai/premente,
osevolucionistasapelam sobretudo
par.' os
dadosdasduascincias; a
anatomia e a biologia. --
a Pela analoinia,
dizem eles, vemosque h
semelhana
e Hive os rgos e os ossos
dasdiferentesespcies; assim
perna do left,
a da tartaruga, a barbatana da baleia, a asa
. -
(1 ) Segundo o
darwinismo, os que sobrevivem transmitem aos deseen-
denims Os
caracteres adquiridos; porm o neo-darwinismo (WEISSMANN) s
Ritual) a
hereditariedade para os caracteres inatos.
(2) Os fsseis (do latim fossi/is, extrado da terra) so restos petrifi-
cados de plantas e
animais, que se encontram nas camadas geolgicas.
So
come testernunhos das diferentes fases da terra
e permitem-nos reconstituir
os estados por que passou.
7
97
98
99 ACODEDEUS
do morcego e o brao do homem tm osmesmosossosseme-
lhantemente dispostos, diferindo apenasnasdimenses. Ora,
no ser esta semelhana uma prova evidente de
descendncia
comum? b)
Por outro lado, a biologia pode ainda hoje
mostrar-nos
seres em via de evoluo,
verdadeirascriaes
de espcie pela cultura.
Os evolucionistas alegam tambm que h dois factos inexplicveis
na hiptese fixista:
1 . A existncia, em muitos animais, de
rgos rudimentares to
pouco desenvolvidos que so de todo inteis, por ex.: os dentes fetais
da baleia, as asas do avestruz, imprprias para o voo, os lobos dos
pulmes das serpentes, etc.. Na hiptese fixista, deveria dizer-se que
Deus fez uma obra intil, criando rudimentos de rgos. Os evolucio-
nistas, pelo contrrio, vem nisso uma prova de descendncia comum:
estes rgos atrofiados pela falta de uso, lembram o progenitor comum
de quem so como que a marca,
2.
A histria do desenvolvimento individual
que a embriologia
nos manifesta, Segundo HAECKELe a escola transformista, a
ontognese
(desenvolvimento do indivduo) a produo a largos traos da
filog-
nese
(desenvolvimento da espcie); por outras palavras, cada indivduo
repete sumriamente, no decurso da sua formao, todas as fases por
que passou a espcie, Os transformistas objectam aos fixistas que a
passagem dum ser pelas formas inferiores sua espcie
incompreen-
svel na sua hiptese, enquanto que na deles a explicao muito
simples, visto que a evoluo individual , por assim dizer, a reproduo
abreviada da evoluo da espcie.
94. Argumentosfixistas. Osfixistas, pelo contrrio,
pensam que a teoria evolucionista no tem qualquer
funda-
mento cientfico, tanto no passado como no presente,
que as
transformaesalegadasno so taisque possam constituir
espciesnovas, masto semente
raas ou variedades dentro
da mesma espcie,
A, A histria do passado, no s no apoia a tese
transformista, masat a enfraquece, Ospaleontlogosno
encontraram formas de transio,
porque no existem, e
tiveram de reconhecer que muitasvezes, nascamadasgeol-
gicas,
aparecem bruscamente espcies novas sem as formas
de transio. DPERETdemonstrou na
sistemtica (cincia
que trata da classificao dosseres) que assriesde mam-
ferosfsseisapresentavam-se como ramosparalelos, absolu-
tamente independentesunsdosoutros, sem lao algum que
A CRIAO
ospossa unir sua origem,
o que sinal evidente de no
terem progenitor comum.
Por outro lado, ospaleontlogosno tardaram em reco-
nhecer que a evoluo real, estabelecida segundo osexem-
plaresrecolhidos, no se tinha efectuado como quer a teoria
transformista, isto , passando do simplespara o complexo.
A famosa
seleco natural,
invocada por DARWIN, est em
contradio com osfactost maisde uma vez sobreviveram
Osmaisfracose desapareceram osmaisfortes(por ex; os
rpteisgigantescosdascamadassecundrias).
B, Ao presente, nem a
anatomia, nem a biologia do
argumentosslidose certosem favor do transformismo.
a) A concluso da
anatomia, baseada na
semelhana que
ha entre os rgos das diferentes espcies,
provm do exame
superficial dascoisas. 0 eminente professor de histologia
de Montpellier, VIALETON, provou isto mesmo, numa obra
muito notvel (' ).
Se examinamosatentamente osossos, vemosque apre-
t, nla
cada tini estrutura particular, que tem a sua natu-
riv.i prpria, adaptada itscondiesde existncia, e que
4i, 01 1
titlsutos, tona vez formados, so como sistemas
I041t100 ttut
tilo
solvem utodificaesprofundas; o que
atavia t Itttttutrule
quo
futposslvet a passagem duma espcie
,t ltai_
hl /'imt biologia, o
nielhor arOnteuto dosfixistas a
j,#/e iiiitlhlatlo nutre as etipttcies,
ainda asmaisprximas.
I )eveittltt as
enpAcles, segundo Ostransformistas, ser dotadas
t l tt ndio' .
plasticidade ott aptido para evolucionar, no se
,l
iai,t,rtttlo ,tile sejam estreisquando se cruzam, ou que
ieultant apear
astinia fecundidade muito limitada. Donde con-
Iueut osfixistasque asespciesso
imutveis e constituem
,- -.!.teciasdistintascom repugnncia a juntar-se. Alm disso,
t permanncia dasformasorgnicasdurante grandespero-
dos atestada pela histria, Asespcies
descritaspor
Auts.
rrELEsainda no variaram at hoje, e muitasdas
(1)
DZembres et ceintures des vertbrs ttrapodes, critique morfologique
du
t ran,s f ormislue.
1
100
ACODEDEUS
actuaisso inteiramente semelhantessque aparecem nos
terrenostercirios( 1 ),
1 , Os 6rgaos rudimentares
tanto so a favor como contra a tese
transformista, A aparncia morfolgica, diz
o professor RABAUD (Revue
Gnrale des Sciences,
1 923) no suficiente para podermos afirmar
que a razo de ser dos rgos rudimentares seja apenas um estado
avito
2, 0 argumento baseado no
desenvolvimento individual tambm
no tem valor, Verdadeiramente, escreve
o professor BRACHET de
B ruxelas (Revue Gnrale des Sciences,
1 91 5) apesar de transformista
convicto, a ogtognese no
de modo algum uma recapitulao da filo-
gnese . E noutro lugar:
Tem-se abusado muito da embriologia
histrica,Est
demonstrado que no serve para o fim que os seas
fundadores tinham em vista ,
95. Concluso. 1.
Actualmente, todosso unni-
rnesem reconhecer que o transformismo dentro de certos
limitesbastante restritosparece stilidatnente comprovado;
masa sua pretenso de querer explicar a formao das
espcies pela evoluo lenta e gradual de um s ou de poucos.
tiposno se funda em nenhum argumento slido.
2, Notemos, alm disso, que a Igreja s condena os
evolucionistas materialistas, isto , osque fazem da evoluo
mquina de guerra contra a religio, osque, para prescindir
de Deus, se vangloriam de tudo explicar com esta trplice
frmula; eternidade da matria (n. 40), gerao espontnea.
sem interveno sobrenatural (n. 86) e formao dasesp-
ciessegundo asleisda evoluo,
J no sucede o mesmo com osevolucionistas espiritua
listas. 0 fixismo, dizem elescom razo, no um dogma
da religio catlica; podemos ser ao mesmo tempo evolucio-
nistas e criacionistas. A formao dasespcies, por meio
de um desenvolvimento regular segundo asleisdo Criador,
no menosgloriosa para Deus, urna vez que Osuponhamos
na origem do mundo, da vida e da alma humana.
(I) Os fixistas podem ainda arguir contra os evolucionistas baseando-se
em princ(pios floficos. O menos no pode conter o mais, on por outras
palavras, ningum d o
que no tern; por conseguinte, uma espcie por si
mesma no pode produzir outra espcie superior. A evoluco poder desen-
volver, mas no criar qualidades novas.
PROVIDNCIA
101
Art, II, --Providncia.
1. APROVIDNCIA, NO00, EXISTNCIA, MODO.
96. 1. Noco. A Providncia (lat. providere, pro-
ver) a aco pela qual Deusconserva
e governa o mundo
que tirou do nada, dirigindo todososseresao fim que a sua
sabedoria fixou,
97.
I Existncia. A. Adversdrios. Negaram a
providncia; a)
Ariskiteles. No admite que
o ser per-
feito possa, sem se rebaixar, ocupar-se dosseresimperfeitos,
b) osfatalistas (lat. fatum, destino) . Supiiem o mundo
sujeito a um Destino
inexorvel,
que regulou irrevogvel
-mente
todososacontecimentossem deixar lugar liberdade
(n. 114); c) osdestas e osracionalistas ( 1 ), Defendem
que o mundo, ulna vez criado, se conserva a si mesmo, s
por suasprpriasleisindependentemente de Deus,
d) os
pessimistas,
para osquaistudo o que h no mundo mau.
U. Provos. a) A priori.
A existncia da Provi-
denri.1 deduz-se da nalureza dosserescriados
e dosatributos
de I Jr ire I. Oa ,,u/Urea dos seres criados. Ascriaturas
riemple. roulliwroire,s; no tm em si a razo de ser,
e
1 1 040 Nritipro d(tpendein do Criador. Aquele que ascriou
Ieuipudanto de conserv-laspa existncia, 2. Dos
atri-
butos de 1 vus e,
em particular, da sabedoria, do poder
e da
hoodade. 1 )a sabedoria,
que, depoisde ter criado o mundo,
deve, couservar-lhe a ordem; do
poder, que pode executar
Iodososplanosconcebidospela sabedoria;
da bondade, a
que Deusfaltaria, se no se interessasse pelassuascriaturas,
b) A posteriori.
A ordem do mundo revela-nosa
existncia da Providncia. 1,
A ordem fsica. A ordem
e
a harmonia, que brilham em todososseres, provam que
(1 ) Por deistas entendemos aqui os que admitem a existncia de Deus
e da religio natural, mas negam a revelao
e a Providncia. Os raeiona-
listas rejeitam tambm a revelao e
admitem sbmente as verdades que a
man pode demonstrar.
102 ACODEDEUS
a causa inteligente, criadora e ordenadora do mundo, conti-
nua a conserv-lo e a dirigi-lo, 2, A ordem moral, Deus
no s governa o mundo fsico, mastambm a vontade d
o.
homem, dando-lhe a conhecer a lei moral pela voz da cons-
cincia, 3. A ordem social. A histria da humanidade
d-nostestemunho da aco da Providncia, Apesar das
paixese, do egosmo que fazem e desfazem imprios,
as
sociedades
seguem uma lei de progresso: progresso material
e econmico, progresso cientfico e moral. Ora, este facto
:
difcil de explicar, se no se admite uma inteligncia supe-
rior, que coordene osesforos, tire o bem do mal e prossiga
a realizao do seu plano,
c) Consentimento universal. Em todosostemposos
povoscreram na Providncia, Provam-no evidentemente a
s.
precese ossacrifciosusadosem todosospases; asinvo-
caesda divindade, osactosde dependncia e submisso,.
para obter favorese afastar calamidades, no teriam razo
de ser se no houvesse a crena num ser supremo, que pode-
intervir na marcha dosacontecimentos,
98. 3. Modo. A Providncia existe; mascomo
governa o mundo? Qual o objecto e o modo do governo
de Deus?
a) Objecto. So todososseresem geral e cada um
em particular, H, pois, uma Providncia geral que vela.
pela harmonia do universo, e unia Providncia especial que
se ocupa de cada ser em particular, desde o maior ao mais
pequeno. Entre todasascriaturas, o homem objecto de
solicitude maisvigilante, por ser ente moral chamado a
.
um destino maiselevado, Demonstr-lo-emospela histria
quando estudarmosa revelao crist, (BossuEr, Discours
sur l'Histoire universelle).
b) Modo.Podemos dizer que a Providncia exerce a
sua aco de doismodos: pela promulgao de leisgeraise.
por intervenesparticulares.
1. Por leis gerais: leisfsicas, segundo asquais, as
causassegundasproduzem osmesmosefeitoscom a infle-
xvel regularidade que constitui a ordem do mundo; leis
PROVIDNCIA
morais,
para osseresdotadosde liberdade, prescrevendo o
bem e proibindo o mal.
2, Por intervenes particulares. Se asleisgeraisso
a maneira ordinria do governo de Deus,
evidente que,
pode derrogar asleis, Aquele que asfez e de facto asderroga
quando julga conveniente. Assim a graa, o milagre e a
profecia so intervenesque superam asforase a ordem
da natureza, Mas, nem por isso so uma correco do plano
providencial; poistanto asleiscomo asexcepesforam j
previstasdesde toda a eternidade, Maisainda; asderroga-
esdasleisso o modo maissublime de Deusnosrevelar
a sua aco e falar aoshomens,
2. OSJECES CONTRAAPROVIDNCIA.
99. Contra a Providncia costumam propor-se trs
espciesde objeces, A primeira baseia-se na natureza de
Deus; a segunda, na dificuldade de conciliar o governo divino
com a liberdade humana; e a terceira, na existncia do mal
no Inundo,
I." i)bjecllo baseada na natureza divina. Diz ARIS-
rri'rms que I)eusnao se pode ocupar das criaturas, porque
^ f u luper eitos, I) I!overno do in undo distrairia Deus da
G onlrnlpl4 ao do seu ser e perfeies infinitas. No seria
nllniluue nir: feliz, o que inadmissvel,
Resposta. -- Deus no precisa de distrair-se da contem-
p1;10o do seu ser para ver todososserescriados, poisconhece
Iodas as coisasna viso da sua essncia, Alm de que, o
lacto de conhecer uma coisa imperfeita e ter dela cuidado
no constitui imperfeio alguma,
100. 2.a Objeco. A Providncia e a liberdade
humana. Se Deus
presta concurso aosnossosactos, como
se explica a existncia da liberdade?
Resposta. - Esta objeco reduz-se que j foi proposta
contra a cincia divina (n, 72), 0 concurso divino no
modifica a natureza dos seres. (Deus move as criaturas,
103
104 AC O DE DEUS PROVIDNC IA 105
diz S. Tomis, conforme a sua natureza; de modo que o acto
da causa necessria necessrio, e o da causa livre livre ,
A cooperao divina acompanha e fortalece a vontade, mas
no a violenta,
101. 3.a Objeco. Existncia do mal. Eisa
grande objeco contra a Providncia. A existncia dos
malesno mundo incompatvel com osatributos de Deus:
com a omnipotncia, se osno Ode impedir ; com a bondade,
se no o quis, Ora no mundo h malesmetafsicos, fsicos
e morals.
1, Malesmetafsicos. O mal metafsico a imper-
feio dosseres. Unsdizem que o mundo no to perfeito
como deveria ser; outros, ospessimistas, que essencial-
mente mau e que, se compararmososbenscom osmales, a
morte prefervel vida.
Resposta. Efectivamente parece certo que o mundo
no to perfeito como poderia ser ( 1 ). Mas, por mais
perfeito que fosse, teria sempre limites, porque a criatura
um ser essencialmente contingente e limitado. Por conse-
quncia arguir a Deusde ter criado o mundo imperfeito o
mesmo que argu-lo por t-lo criado. Toda a dificuldade
est em saber se o mundo, apesar dassuasimperfeies,
bom ou mau, se melhor existir ou no existir, Ora,
indubitvel que maisvale o ser que o no-ser, que a vida
presente um bem e que depende da nossa liberdade o
faz-la progredir de bem em melhor, aproximando-noscada
vez maisda perfeio. Portanto, a vida ter o valor que ns
lhe dermos; se for m, a nsmesmosdevemostornar a culpa,
I Malesfsicos. Mal fsico a privao de um
bem devido natureza. Como se podero conciliar osmales
(1 ) H trs opinies acerca da perfeio do mundo: a) o optimismo
absoluto (MALLEB RANC H E, LEIB NIZ) afirma que o mundo, considerado no seu
conjunto, E; o melhor possvel ; b) o pessimismo (LEOPARDI, SC H OPENH ATJER,
H ARTMANN, B AH NSEN) diz que o mundo essencialmente mau. A religio
budista professa tambm o pessimismo e ensina os seus sequazes a destruir
em si o desejo de viver e a tender para o nirvana, isto , para o aniquila-
mento do ser; c) a terceira opinio, o optimismo relativo, ( S. ANSELMO,
S. Tomdis, B OSSUET ) a que vamos expor.
fsicoscom o poder e a bondade de Deus? Qual ser a
razo de tantasdesordens que h na natureza, como so os
terramotos, asinundaese osincndios? Por que h tantas
catstrofes? Qual o fim dosflagelos, da peste, da fome e
da guerra? Numa palavra, por que existe a dor? Poderemos
justificar Deusde ter recusado natureza e a tantosseresa
perfeio a que pareciam ter direito?
Resposta. A. Asdesordensda natureza. Em
rigor, asdesordens da natureza, de que se fala na objeco,
devem colocar-se na categoria do mal metafsico, porque
so consequnciasinevitveisdasimperfeiesdo mundo.
Consideradossob este aspecto, osporqus do mal so supe-
riores nossa razo, demasiadamente limitada na sua capa-
cidade e na sua cincia, para ter conhecimento perfeito de
uma obra no seu conjunto e nosseuspormenores,
B. A dor. Se nosrevoltamoscontra osmalesfsicos
porque noscausam dor . Tudo se resume, pois, nesta
pergunta por que existe a dor? A dor, sem dvida, um
mal ; masse ela se transforma em bem, se meio e no
filn, a bondade de Deusfica plenamente justificada. Deus
responsavel pelosmalesdevidos temeridade ou
Warta dos bomens ('). Quantasenfermidadesno se devem
tio desr( ramento dosindivduos! (')
Mat; ai !Ida noscasos em que a dor no seja imputvel
ao 1 1 01 1 1 1 1 1 1 , sempre uma consequncia da sua natureza, e
a contlicao dum bem maior, a) E consequncia da sua
natureza. Dotado de sensibilidade, o homem deve aceitar
asdorese asalegriasque naturalmente se relacionam com
assuasfaculdades. b) A dor principalmente a condio
(1 ) Em certos cataclismos, como os de Martinica e Messina, sentimo-
-nos tentados a maldizer as foras da natureza. Mas de ordinrio essas
desgraas s atingem as regies onde os homens, talvez temerk riamente,
foram habitar... Julgavam poder afrontar uma catstrofe, que raramente
aco , itecia, e esta ousadia foi durante muito tempo recompensada com a
fertilidade do solo. Tel A, pois, razo de se queixar, se um dia a natureza
retomar os direitos a que no tinha renunciado? (DE LAPPARENT, La
Prov. Creatrice ).
(2) Sejamos mais moderados nos apetites... mais sbrios, mais tem-
perantes, mais alheios aos prazeres e vcios que enervam a alma e o corpo,
e desaparecer a maioria dos males que nos afligem. (MONS. FRA.YSSINOUS,
La Providence clans l'ordre moral ).
1 06
ACODEDEUS PROVIDNCIA
1 07
dum bem maior,
quer na ordem fsica, quer na ordem morar
1, Na ordem fsica a fonte do progresso, poisestimula.
a nossa actividade e nosimpele a procurar osremdiosque
podem curar o mal. 2. Na ordem moral a escola das
maisbelasvirtudese o melhor meio de expiao ( 1 ),
1) Escola das mais belas virtudes. A dor instru-
mento maravilhoso de aperfeioamento moral, porque desen-
volve no homem asvirtudesmaissublimes: a pacincia, o
domnio de si mesmo e o herosmo. Nada como a dor
retempera asalmas. a dor que lhesd a grandeza moral , .
a energia sobre-humana, a delicadeza, esse no sei qu de
acabado, na expresso de Bossuet, que distingue asalmas
provadaspelo sofrimento dasque o no conheceram ou no
o souberam suportar, Tinha razo o poeta quando dizia
L' homme est un apprenti, la douleur est son maitre
Et nul ne se connait taut qu' il n' a pas souffert, (A, DE MussEr),.
2) 0 melhor meio de expiao. g o crisol onde se
purifica o homem pecador, Faz que o nosso sofrimento seja
salutar, que nosdesprendamosda terra e olhemospara o
cu, Asprovaesfazem entrar o homem dentro de si,
amar osbenseternose desprezar osterrenos, Quantas
almas, que andavam extraviadasquando tudo no mundo lhes
sorria, foram reconduzidasa Deuspelasdecepes, desprezos
e angstias! No diz o provrbio que a virtude se enfra-
quece quando no experimenta contradies, e que se purifica
na adversidade como o oiro no cadinho? Quem no lhe
admira a fortaleza no meio dasprovaes? Haver espec-
tculo maisbelo do que o justo a braoscom o infort-
nio, e superior a ele?, . , Quando Deuscastiga procede
como pai que contm osfilhossob a disciplina severa para
osfazer virtuosos, como mdico que d o remdio amargo
(1 ) Desta maneira, a dor pode converter-se em gozo, como testemu-
nham os exemplos dos santos. No meio dos maiores tormentos, os verda-
deiros cristos sabem manter a serenidade da alma e at regozijar-se,
porque assim, mais se assemelham ao objecto do seu amor, Jesus crucificado,
e realizam em si estas palavras da Imitao de Cristo : Quando conseguirea
que a tribulao te seja suave e agradvel por amor de C risto, ters encon-
trado o paraso na terra , . (Liv. II, C ap. XII. Do caminho real de santa
cruz, V. 1 1 ).
para curar ou fortalecer, No devemos, pois, em vez de
nosqueixar ou maldizer ossofrimentos, agradecer e louvar
a Deus? ( 1 ),
3. Omal moral. Inclumosneste titulo; a) todas
asinfraces do dever; e b) secundriamente todasas
injustias morais
do mundo. Como se pode explicar que,
sendo Deusa mesma santidade, permita o pecado? I: poss-
yel que um Ser infinitamente justo tenha repartido to desi-
gualmente osbensdeste mundo? Por que ser que a for-
tuna tantasvezessorri aosmause osjustosso vtimasde
calamidadese reveses?
Resposta. a)
0 que dissemosdo mal fsico aplica-se
tambm ao mal moral.
Por que razo permite Deuso pecado,
uma vez que o pode impedir? Por outraspalavras, qual
o
motivo que coonesta a permisso do mal moral? No
difcil compreend-lo, Sendo o pecado uma consequncia
da liberdade, no se poderia impedir sem destruir a liber-
dade humana e, . por conseguinte, o
bem moral, o mrito e a.
virtude.
Quem ousar afirmar que o mundo, sem liberdade
e
sent moralidade, seria maisperfeito que o mundo com a
vl rl ti de e o pecao ?
I)) desigual repartio dos bens um facto incon-
IeslliveI, was nslo a devemosexagerar, A virtude no anda
seuilue Wilda ;i desgraa, nem o vcio prosperidade. Por
ou tro Iado, h u ul bem inestimvel que s o justo possui,
ainda no meio da misria; a paz da alma, o testemunho
da boa conscincia. Maisainda; osbensda terra so muitas
vezesnocivos, No nosesqueamosque so efmeros, e que
a vida presente no
o termo maso caminho para a eterni-
dade, onde se far plena justia, Que importam aspriva-
espassageirasse so penhor do maissublime galardo ? F'.
La vie est un combat dont la palme est aux cieux,
Por isso a existncia do mal moral, e at do fsico, longe
de ser um argumento contra a Providncia divina, uma
(1 ) BERSEAUX, La science sacre, Tom. I.
1 08
ACODE DEUS
OHOMEM
109
SECO
O HOMEM
CAPI TULO I , NATUREZA DO HOMEM.
A, No existe a alma espiritual e livre.
B. 0 homem, animal aperfeioado.
C. Pensamento, produto do crebro.
prova evidente da necessidade de um Deusinfinitamente
justo que um dia estabelecer o equilbrio, infinitamente
sbio que faz dossofrimentospassageirosum meio potente
para nosconduzir glria eterna ( I).
Bibliografia. Acerca da Criao. PINARD, Art. Creation,
Diet, de la foi cath. Mons, FARGES, La Vie et rEvolution des Especes
(Berche et Tralin), GUIBERT, Les origines (Letouzey); Les croyances
religieuses et les Sciences de la Nature (Beauchesne). DUILH DE
SAINT-PROJET ET SANDERENS,
Apologie scienlifique da christianisme
( Poussielgue). DE LAPPARENT, Science et Apologtique (Bloud),
GRGOIRE, Le Materialisine contemporain (Col. Science et Foi ).
Dr. LEBRUN, La thorie de l'volution (Sc. et Foi). DAUMONT, Les
preuves, les principes et les limites de l'volution (Sc, et Foi ) .
DAUMONT, Les thories de l'volution, Darwinisme et No-Darwinisme
(Sc. et Foi). FAwrom, Les Radiobes de M. Burke (Rev. prat. d'Apol.
15 Fey 1906). WItaREBERT, Rev. prat. d'Apol, 15 Jan. 1907.
COLIN,
Les thories rcentes de revolution. Rev. prat. d'Apol. 19 de Maio 1910.
L'Ami du clerg, ano 1925, n. 20. La presse medicate, 3 Maio, 1924,
LEDANTEC, La crise du transformisme.
Acerca da Providncia, MOISANT, Pour discuter le probleme du
mal, Rev, prat. d'Apol., 15 Abril 1910. Manual de Filosofia de C. LAHR,
de G. SORTAIS, G. JOLIVET, etc,PRuNEL, Les Fondements de la doctrine
catholique,DE LAPPARENT, La Providence cratrice (Blond). M. SAN-
TANA, Apologtica.
(1 ) A doutrina da Igreja defende ainda melhor a Providncia das
objeces que se levantam contra ela (V. Doutrina C atlica fasc. 1 , n.. 38).
NATUREZA
1)0
HOIVILM.
1.0 Materia-
lismo.
2. Espirltun-
lismo.
A. Existn- a) pela experienua,
eta da alma b)
pela conscincia.
humana c) pela intuio.
provada.Objeco materialista,
1. Linguagem
convencional.
B. Diferena1 2. Juzo e racio-
entre a alma a) Razo. I,cfnio,
humana eI 3. Progresso.
a alma doI 4. Moralidade.
bruto.5. Religiosidade,
t b) Liberdade.
C. Espiri-
tualidade
da alma
lux mana,
11.
Testemunho da.
conscincia,
a) Exis -I 2. Provas moraise
D. Liber-
tencia. Isociais,
1 3, Consentimento uni-
dade.
f 1. Natureza dasope-
radesda alma.
a) Provas)
1 2, Natureza da von-
1tade.
3. Aalma no enve-
lhece como o cotpo,
b) Objelfundada nasrelageles
M co ate-entre o crebro e o.
rialista, k pensamento.
( 1. a con-
(
1 dio.
c) R efu- j 0 crebro J 2, no a
NO. i j causa do
I pensamen-
t to.
b) Deter- ( 1. Definio.
minis - 2. Formas,
mo.t 3. Refutao.
versal.
EXISTNCIADA ALMA HUMANA111
1100 HOMEM
DESENVOLVIMENTO
Natureza do homem. Erro materialista.
Diviso.
102.
A religio, como j dissemos(n. 6), o conjunto
dasrelaesque existem entre o homem e Deus. Portanto o
segundo objecto do nosso estudo ser o homem. Ora o que
maisinteressa ao apologista neste assunto o conhecimento
da natureza
humana, porque s da natureza de um ser pode-
remosdeduzir a sua origem, o seu . fim e, consequentemente,
asrelaes
que h entre ele e o Criador, Este problema fun-
damental pode ter duassolues: a do materialismo e a do
espiritualismo.
1. O materialismo. A teoria materialista relativa
ao homem a continuao do sistema dosmaterialistasa
respeito de Deuse da origem da vida e dasespcies, que
ficou exposto no captulo precedente, Partindo do princpio
que s existe o que pode ser comprovado experimentalmente,
osmaterialistasadmitem apenasuma substncia, a matria
eterna, que, por gerao espontnea, produziu a vida e, por
transformaessucessivas, todososseresvivos, sem exceptuar
o homem.
Osprincpiosfundamentais, que resumem a teoria mate-
rialista relativa ao homem, so: a) 0 homem compe-se
duma s substncia, o corpo. A alma uma hiptese inven-
tada para dar a razo de algunsfenmenosque a matria,
primeira vista, incapaz de explicar, b) 0 homem no
difere essencialmente do bruto, E um animal aperfeioado
que deve a sua superioridade ao desenvolvimento de crebro,
c) 0 pensamento um produto do crebro, e o livre ar-
btrio, uma iluso.
Asfunestas consequncias, que se originam destestrs
princpios, fcilmente se deduzem, Se o homem no tem
alma, se no se distingue essencialmente do bruto, se o pen-
samento apenassecreo cerebral, numa palavra, se o
homem no possui alma espiritual e livre, no pode haver
religio, (visto que Deuse a alma no existem) nem moral e
dever, poisno livre e est submetido ao determinismo da
matria.
103. 2. O espiritualismo. Para refutar esta teoria
to perniciosa, demonstraremos, com o espiritualismo cristo,
que o homem
formado de duas substncias, corpo e alma;
que
s o homem possui alma espiritual e livre; e que entre
o homem e o bruto existe uma
diferena essencial e, por
conseguinte, um no pode provir do outro por evoluo. Ao
mesmo tempo exporemose refutaremosasobjecesmate-
rialistas. Ter, pois, este captulo trsartigos: 1.
Exis-
tncia; 2, Natureza; e 3, Liberdade da alma.
Art, I,
Existncia da alma humana. Objeco.
104. 1, Existncia da alma humana. A existn-
cia da alma, isto ,
duma substncia distinta do corpo, prin-
cpio do conhecimento e do pensamento, -nosatestada pela
experincia, pela conscincia e pela intuio.
A. Experincia. A experincia mostra-nosque se
do em nsduasespciesde fenmenos: uns
fisiolgicos,
colon a nutrio, a digesto e a circulao do sangue; outros
psiciolofgicos, como o pensamento, o juzo, a lembrana, etc..
thu, dir noso raciocnio maiselementar que efeitosessen-
cInlineme diversosno podem provir do mesmo princpio: tal
rie11u, 11l'I'canos, pois, de admitir doisprincpiosno
honmyi n, 11111 oluot explique os factosfisiolgicose outro, os
B. Conscicncia. -- A conscincia refere-nosque h em
nsuni princpio que permanece sempre o mesmo atravs
dasvicissitudesda existncia. Por piaisprolongado que seja
o meu passado, conservo dele a memria. Lembro-me da
minha infncia, dosmeusgostos, inclinaese ideias, Logo.
devo admitir no decurso da minha existncia, maisou menos
longa, alguma coisa maisdo que a mera sucesso de factos
isoladossem lao algum que osuna, porque evidente que
um fenmeno no leva consigo a memria dosque o pre-
cedem.
1 1 2 OHOMEM
Maisainda sreconheo-me responsvel pelasfaltasque
cometi h muitosanos, Ora isto incompreensvel se a.
causa que produziu essesactosno fosse a mesma. E for-
oso, pois, concluir que h em nsum princpio sempre idn-
tico a si mesmo, que faz com que eu seja sempre o mesmo
ser, a mesma pessoa nasdiversaspocasda vida ; numa pala-
vra, um princpio permanente que constitui a minha identi-
dade pessoal.
Ora o corpo no pode ser esse princpio, porque se
demonstrou cientificamente que est sujeito ao turbilho
vital, que se desenvolve e transforma incessantemente, de
modo que em algunsmeses, segundo algunsfisilogos, (FLoU-
RENS), e at em um s ms, segundo outros(MoLEscl-Iorr), h.
uma renovao total, uma mudana completa em todasas
clulasdo organismo . Portanto a substncia idntica, que a
conscincia nosrevela, inconfundvel com o corposesse
princpio a alma.
C, Intuio. Independentemente destesraciocnios,.
que provam a existncia duma substncia imutvel, a intui-
o descobre no nosso ser um princpio que d origem ao
pensamento e aco, e que no pode ser o corpo. Esse
princpio distinto do corpo a alma.
Concluso. Logo o homem um composto de duas
substnciasde natureza inteiramente diferente ; uma extensa,
composta, mudvel, isto , material que o corpo; outra
inextensa, simples, idntica, isto , imaterial que a alma (1 )
(1 ) Mas, como que duas substncias de natureza to oposta podem
unir-se e formar um todo harmonioso, exercendo um in fl uxo reciproco?'
Este um dos problemas mais rduos que a inteligncia tem procurado
resolver. Por isso as solues at hoje propostas tm apenas valor relativo.
Alm disso, esta questo interessa mais aos fils , fos que aos apologistas.
Remetemos, pois, o leitor para os tratados de filosofia. Aqui indicamos
smente a teoria do animismo professada por AMISTTTLOS e defendida por
S. TOMAS e pelos escolsticos, segundo a qual, o corpo e a alma so duas
substncias incompletas que formam, pela sua intima unio, um todo sbstan-
cial, chamado composto humano. A alma vivificando o corpo a forma que
o anima e o distingue dos outros.
C ontudo, ainda que incompleta nas faculdades que precisam do con-
curso dos rgos, (sensibilidade, percepo externa...) a alma no deixa de ser
tambm, pelas suas faculdades superiores, uma substncia completa capaz de
vida prpria,
1 1 3 NATUREZA DA ALMA H UMANA
105, 2, Objeco. Ainda ningum viu a alma,
dizem osmaterialistas, Ora a cincia experimental diz
que s devemoscrer no que pode ser comprovado pela
experimentao. Um homem que raciocina, diz BROUSSAIS,
no pode admitir uma coisa que no seja atestada por algum
sentido. Portanto a existncia da alma hiptese infun-
dada.
Resposta. certo que a alma no pode ser percebida.
pelossentidos. Masser verdade que ossentidos, isto , a
percepo externa, sejam o meio nico de conhecimento?
Pensamosque no, A conscincia instrumento igualmente
legtimo; poisdemonstrmosque ela conhece directamente
o eu, osseusactos, assuasmodificaese a sua identidade
substancial, Alegar que a alma no existe porque no se
v, argumento que se pode retorquir contra osque o pro-
pem. Se o pensamento produto da matria ou funo do
crebro, por que no o provam experimentalmente? Podemos,
pois, concluir que se a alma invisvel, no por no existir,
mas por ser espiritual (n. 108),
Art, II. Natureza, da alma humana.
I
,"
A ALMA W1 IIIIMEME A ALMA DOS ANIMAIS
106.A Alma o princpio, isto , a causa de todosos
Ir, II iiim nus psicolgicosque no se podem explicar uinica-
mcute pelasforasfsico-qumicas. Mas, podero dizer,
nesse caso tambm osanimaistm alma, Trata-se, pois, de
saber se h diferena essencial entre a alma do homem e a
do bruto, de modo que no possa haver entre elastransio
alguma, Ora a alma humana possui duasfaculdadescarac-
tersticasque a distinguem radicalmente da dosanimaissa
razo e a liberdade.
A. A razo. Razo, aqui, no significa a faculdade
de conhecer em geral, porque sob este aspecto h semelhan-
asentre a faculdade de conhecer do homem e a do animal.
Ambostm conhecimentos sensveis de objectosparticulares
e determinados, memriasdascoisassensveis, isto , a
8
1 1 4 0 H OMEM.
faculdade de recordar e associar assensaese impresses
externas. Algunsadmitem at que osanimaisso dotados
de imaginao,
A razo, de que falamosneste captulo, a faculdade de
pensar e raciocinar, prpria do homem, que o distingue abso-
lutamente do animal. Em virtude da razo, o homem pode
abstrair ( 1 ) dosseresparticularesasideiasgerais. Forma,
por exemplo, a noo de tringulo em geral, sem considerar
asnotasindividuaisde tal tringulo em particular; atinge
realidades imateriais, como a verdade, o bem, o belo, o ser,
a substncia, etc.
Da faculdade de pensar, raciocinar e abstrair deduzimos
consequncias de grande importncia, que levantam uma bar-
reira insupervel entre o homem e o animal. Taisso
1. A linguagem. Sem dvida osanimaistm uma
linguagem formada de sinaisexteriores, com que manifestam
assuasimpresses, masainda no puderam, nem jamais
podero, criar a linguagem artificial, convencional, para
exprimir o pensamento. Esta impotncia absoluta, no
por falta de rgo, o macaco possui todososrgosneces-
srios, at mesmo a vula; ospapagaiosrepetem todasas
palavrasque ouvem sem perceber o que dizem maspor
lhesfaltar o pensamento de que a linguagem convencional
a expresso sensvel,
2, 0 juzo e o raciocnio. 0 homem compara uma
ideia com outra, estuda assuasrelaese formula juzos ;
aproxima depoisestesjuzose, pelo raciocnio, deduz novas
concluses. 0 animal privado da faculdade de pensar ,
por isso mesmo, incapaz de julgar e de raciocinar,
3. 0 progresso. Devido ao raciocnio e linguagem,
isto , ao poder de comunicar o seu pensamento, o homem
aumenta sem cessar osconhecimentose prossegue em marcha
contnua no caminho do progresso e da civilizao, 0 ani-
mal tem a seu servio instintosadmirveis, masno inventa
nem progride. A arte admirvel com que a abelha fabrica
o favo no sofreu ainda modificaesdesde o primeiro dia
(1 ) 0 termo abstrair designa a operao pela qual a inteligncia con-
sidera uma qualidade separada do objecto que a possui; por exemplo, a
alvura duma parede isolada da parede. Abstracto ope-se a concreto.
NATUREZA DA ALMA H UMANA115
.em que houve abelhasno mundo, Trabalha sempre com a
mesma perfeio maneira da mquina que execta perfei-
tamente a sua obra, massem poder fazer outra, 0 instinto
do animal , portanto, uma faculdade muito aprecivel, pois
supre a razo, masnada tem de comum com esta; o instinto
no pode transformar-se na razo,
4. A moralidade.Por meio da razo o homem apreende
asnoes de bem e de mal, e a conscincia diz-lhe que
algumasacesboasso prescritase asmsproibidas.
0 animal no faz taisdistines; se evita o mal porque se
lembra do castigo.
5, A religiosidade. 0 homem um ser religioso,
porque pela razo conhece a existncia do Criador; o animal,
destitudo do poder de pensar e de raciocinar, incapaz de
subir at Deus( 1 ),
107. -- B, A liberdade. a segunda propriedade
pela qual o homem se distingue do animal, A liberdade
consequncia da razo, porque, para escolhermosentre duas
coisas, requer-se que a razo conhea primeiro osmotivos
que. nosinclinam maisa urna parte que a outra, 0 animal
t!ui;u 4c apenaspelassensaes, apetitese instinto, Cada
impm.sao, recebida nos rgosdossentidos, transmitida
no c:c'.rrhro e provoca uma aco reflexa, isto , uma reaco
relacionada coai a impresso recebida, Tambm no homem
sittnsaes terminam em vibraescerebrais, maspode
luodilicar-lhesoseleitos, dirigir e transformar asforasque
ruir lul eni aco. Maisadiante provaremosque o homem
i dol, n lu deste poder (n." 111),
Iodemosconcluir que o homem se diferencia essen-
cialmente do animal, por estasduasfaculdades, razo e livre
arbtrio, que a evoluo no pode provar a passagem da
alma animal para a humana, e que s uma aco divina a
pode criar ( 2 ),
(1 ) Poderamos ainda indicar o riso como uma das caractersticas mais
dignas de ateno que distinguem o homem do animal. A apreenso do
cmico o do ridculo das coisas, que provocam o riso, supe a razo.
(2) A impossibilidade da passagem do animal para o homem pode
fundar uma prova da existncia de Deus. C om efeito, se a alma do homem
vo pode provir da evoluo da alma do bruto, devemos necessariamente
socorrer a algum que directamente a tenha criado.
f
116
0 HOMEM
2, ESPIRITUALIDADE DAALMA, OBJECO.
108. Avancemosmaisum passo e indaguemosqual
natureza do princpio donde procede o pensamento. Para.
isso vamosdemonstrar, com o espiritualismo cristo, que a.
alma do homem uma substncia espiritual e no material, .
como querem osmaterialistas.
1. Espiritualidade da alma humana. A, Defi-
nio. A substncia espiritual ou imaterial independente
da matria no ser e nasoperaes; a substncia material,
pelo contrrio, no ser e no operar, depende intrinsecamente
da matria ; por exemplo, a alma vegetativa dasplantase a.
sensitiva dosanimaiss tm ser e actividade por meio da
matria e dosrgosa que esto unidas.
Donde se conclui a importncia da espiritualidade da,
alma; porque, se no fosse espiritual, se dependesse intrin-
secam ente do corpo, no lhe poderia sobreviver.
B. Provas. Desta definio segue-se que para pro-
var a espiritualidade da alma preciso mostrar que ela
possui existncia e actividade prprias, pelo menosna vida
intelectiva.
a) Prova fundada na natureza das operaes da alma..
E princpio admitido em filosofia que asoperaesso con-
formes natureza do ser que asexecuta, ou, por outras
palavras, osefeitostm a mesma natureza dascausas. Por-
tanto podemosconhecer a essncia dum ser pelassuas
operaes, ou ainda pelosobjectosdassuasoperaes. Ora
nsformamosconceitosde algunsobjectosque nada tm de
comum com a matria; taisso asideiasde verdade, de
bem, de beleza, de ideal, de virtude e, em geral, todasas
ideiasabstractas. Logo, devemosconcluir que estasideias
tm como princpio um agente da mesma natureza, isto 6,
imaterial. Ora, como o corpo material, necessrio admitir
um princpio espiritual, distinto do corpo,
b) Prova baseada na natureza da vontade. Aliber-
dade de escolher entre doisobjectos, entre o bem e o mal,
a faculdade que temosde praticar ou omitir uma aco,.
prova tambm que ha, em nsum princpio activo essencial-
ESPIRITUALIDADE DAALMAHUMANA117
mente distinto da matria ; porque esta inerte, indiferente
para o repouso ou para o movimento e, por conseguinte,
incapaz de modificar o estado em que se encontra. Logo, se
a alma livre, se se pode mover sua vontade, porque
no est, como o corpo, sujeita asleisda matria.
c) A espiritualidade da alma prova-se tambm deste
modo, A inteligncia no enfraquece com a idade, antesse
avigora ordinriamente, aproveitando-se da experincia adqui-
rida, ao passo que ossentidosse debilitam com o tempo.
Na hiptese dasfaculdadessuperioresda alma dependerem
do corpo, seria inexplicvel o facto de se encontrarem ancios
com a inteligncia maisvigorosa e Weida que nunca,
109. 2, Objeco materialista. O crebro e o
pensamento. A. 0 principal argumento dosmaterialistas
contra a existncia da alma, ou, pelo menos, contra a sua
espiritualidade baseia-se nas relaes entre o crebro e o
pensamento.
Ocrebro, dizem, a causa nica do pensamento,
K. Voar escreveu o crebro segrega o pensamento como
o ligado segrega a blis, e osrins, a urina. BUCHNER, numa
, frase, maiscapciosa, afirma que a relao entre o pensa-
mento e o crebro a inesnia que h en tre a blise o fgado,
entre a itrina e osrills . A prova de que o crebro a
causa do pensamento julgam encontr-la na intima correlao
entre uni e outro, afirmando que a maior desenvolvimento
do crehro corresponde maior inteligncia, e que asleses
e al teraesmrbidasdo crebro se repercutem no pensa-
rtiento.
l. Proce:iso do pensamento.Para explicar a maneira
tom() Ocrebro produz o pensamento, osmaterialistasrecor-
lrem t lei ifsica da transformao das foras. 0 pensa-
incuto, di,, Morieictiorr, urn movimento da matria .
'Opensamento uma espcie de movimento prprio da subs-
tncia doscentrosnervosos; o crebro pensa do mesmo
modo que o msculo se contrai: em ambososcasos, os
I actosexplicam-se pela transformao dasforas. A vibrao
:nervosa transforma-se em sensao, emoo, pensamento; e
inversamente, o pensamento transforma-se em emoo, deter-
1180 HOMEM O CREBROEOPENSAMENTO119
minao voluntria, vibrao nervosa e, finalmente, em movi-
mento muscular e mecnico,
Refutao,A. As relaes ntimas entre o crebro
e o pensamento so incontestveis, Falta semente conhecer
se o crebro causa ou condio.
a) Se causa, deve haver sempre proporo entre a-
crebro e a inteligncia, pelo princpio geral de que a mesma.
causa nasmesmascondies, produz sempre osmesmos.
efeitos, Deveriam poisdizer-noscomo se pode determinar
essa correlao. De que depender a agudeza da inteli-
gncia? Do peso do crebro? do seu volume? do nmero
e delicadeza das circunvolues? da qualidade da substncia
de que formado, maisou menosrica em fsforo? Dificil-
mente o podero provar osmaterialistas.
Se a atribuem ao peso, objectamosque ao lado de cre-
broscomo osde Cuvier com 1,830 gramas, de lorde Byron
com 1395, h outros, como o de Gambeta, que tinha apenas.
1,160 gramas, Depender do volume? A cerebrologia, ou.
cincia dasfunesdo crebro, mostra que a cubagem dos
crniosnasdiferentesraasoscila entre osestreitoslimites-
de 1,477 e 1.588cm
3
; e contudo sabemosque h raasqu e.
superam outrasem inteligncia. Asaproximaesentre o
pensamento e o nznzero, a delicadeza e a riqueza em fsforo
dascircunvoluestambm no tm fundamento. Portanto
a correlao entre o crebro e o pensamento no lei certa
e a tese materialista parte dum falso suposto,
A cerebrologia chegou a descobrir a perfeita semelhana'
morfolgica entre o crebro do homem e o do macaco. Se.
oscrebrosso idnticos, porque s o homem pensa e.
raciocina
Contra a doutrina materialista temosainda doisfactos
a loucura e aslocalizaescerebrais: 1, A loucura. Est.
averiguado que pode haver loucura sem leso cerebral.
Como se explica ento que o instrumento, causa nica do
pensamento, funcione mal, estando intacto? 2, As locali--
zaes cerebrais. Houve tempo em que osmaterialistas
acalentavam muitasesperanasna teoria daslocalizaes
cerebrais: fixam o lugar doscentrossensitivose motores, da
memria, etc,, , , julgaram at que podiam localizar o pen
sarnento noslobosfrontais. Ora, esta teoria, j antesinsu-
ficientemente demonstrada pelasexperincias, foi abandonada
depoisdasverificaesmdicasfeitasno decurso da grande
guerra, (1914-1918). Com efeito, examinaram-se inmeras
leses cerebrais, perda considervel de substncia cerebral,
ablaco dossupostoscentrossensitivose motores, reduo
da massa cerebral noslobosfrontais, sem que osferidos
se tenham ressentido gravemente dessa falta, ou tenham
perdido asfaculdadesde sentir, de andar, de pensar e de
falar, Portanto, ao contrrio da teoria daslocalizaes, deve-
mosconcluir que no crebro no existe regio alguma que
seja sede e rgo do pensamento.
b) Em segundo lugar, se o crebro causa do pensa-
mento, deve haver semelhana de natureza entre a causa e
o efeito. Se a causa material, tambm o deve ser o efeito,
Logo aspalavrasde K. VOGTvoltam-se contra a tese mate-
rialista. E certo que o fgado segrega a blis, maso efeito
material como a causa. Para ser verdadeira a compa-
rao era necessrio que o crebro material, composto e
mltiplo produzisse um efeito da mesma ordem, Ora a
inteligncia una e simplese possui ideiasque nada tm
de cow um com a matria, Portanto, no pode provir duma
cause material, massupe uma actividade imaterial, que
a alma,
c) Finalmente, como conciliar a identidade pessoal do
eu (n." 1. 04) com ascontnuasmudanasdo corpo e espe-
cialmente do crebro? Como poder a identidade ser o
resultado de mudanas? E como podem asnovasmolculas
conservar a lembrana de acontecimentosou de impresses
que afectaram asmolculassubstitudas?
d) Temospoisde concluir, com o espiritualismo, que
o crebro no a causa do pensamento, massemente a con-
dio. No o rgo da inteligncia, masum simplesins-
trumento semelhana da harpa, que no pode emitir sons
se no for tocada pelo msico, A causa do pensamento
s a alma; absolutamente falando, esta no teria necessidade
de rgo; contudo, por causa da sua unio substancial com o
corpo, no pode pensar sem asimagensque so transmitidas
ao crebro pelosrgosdossentidos. 0 crebro apenas
um Instrumento necessrio actividade intelectual. Por
120 0 HOMEM
isso, no admira que aslesesdoscentrosnervosospara-
lizem asfunesque deveriam exercer, Nenhum artista
conseguir tirar sonsdum instrumento partido, no obstante
ser to artista antescomo depois,
B, A gnese do pensamento a mesma nasduas
hipteses. Quer o crebro seja causa, quer simplescondi-
o,
no varia o modo como exerce assuasfunes. A alma
utiliza o crebro como instrumento; no poisde admirar
que a actividade da inteligncia esteja acompanhada de fen-
menosmateriaisdependentesdasleisfsicas, taiscomo a
vibrao, a produo de calor e o aparecimento de novas
substnciasqumicas, 0 erro dosmaterialistasest em parar
a, e concluir que asideiasso s movimento, porque andam
sempre juntascom ele.
Como concluso, podemosafirmar que no basta o cre-
bro para explicar o pensamento e, por conseguinte, no
causa, mascondio necessria, pelo menosno presente
estado da natureza humana,
Art, III, Liberdade da alma.
1. - OLIVRE ARBTRIO, DEFINIO, EXISTNCIA,
110, 1, Definio. Etimoligicamente, ser livre
(lat. lber) significa estar isento de qualquer vnculo, Ora,
assim como h vnculosfsicose materiais(cadeias) e vn-
culosmorais( leis), assim h tambm duasespciesde liber-
dade sfsica e moral. Uma e outra podem sofrer restries,
0 prisioneiro algemado no tem liberdade fsica ; o homem
no possui liberdade moral absoluta, porque est ligado pelos
preceitosda lei moral, Por isso s temosliberdade moral
naquilo que a conscincia no proibe.
A liberdade, ou melhor o livre arbtrio, o poder que a
vontade possui de eleger entre doismembrosde uma alter-
nativa, de agir ou no, de se determinar a uma coisa ou
a outra, sem que fora alguma interna ou externa a cons-
tranja, A matria obedece necessariamente sleisque a
regem, osanimaisseguem irresistivelmente osimpulsosdo
instinto, ao passo que o homem senhor dassuasdecises
LIBERDADEDA ALMA121
e pode fazer o que lhe aprouver. Portanto, a liberdade faz
do homem, e s dele, um ser moral, responsvel, capaz de
mrito e de demrito, Donde se v a grande importncia
do livre arbtrio,
111. 2, Existncia. A. Prova directa. Testemu-
oho da conscincia. Estamos de tal modo convencidosda
nossa liberdade moral, diz DESCARTES que no h coisa para
nsmaisevidente , Antesde agir deliberamos, em seguida
fazemosa eleio, Ora, deliberar e eleger so doisactos
que provam a nossa liberdade.
Embora tetricamente algunsneguem a liberdade, prti-
camente ningum a pe em dvida, Julgamo-nostanto mais
livrese responsveis, quanto maisreflectimose pesamosde
antemo osprse oscontrase nosafastamosda primeira
inclinao que sentimos,
B, Prova indirecta. a) Provas morais.- 1. A exis-
tncia da lei moral supe a liberdade. Todosadmitem que
h normasde proceder que se impem nossa vontade, que
unsactosso proibidose outrospreceituados, Ora, isto seria
absurdo, se no tivssemosliberdade para cumprir osdeveres
prescritos, 2, A educao exige tambm a liberdade,
0 fim do educador dirigir a vontade do educando, inclin-la
para urnasacese afast-la de outras. Ora a educao
seria impossvel, se no pudssemosoptar entre duascoisas
diversas,
b) Provas sociais. 1. Muitasinstituies sociais
supem a liberdade: taisso, por exemplo, oscontratos, as
promessas, que no teriam valor algum se oshomensno
fossem livres. 2. No teriam razo de ser as proibies
dasleiscivis, se osindivduosno tivessem a possibilidade
de proceder de diversosmodosem dada circunstncia.
3, Sem o livre arbtrio, as penalidades sancionadaspelas
leiscareceriam de fundamento moral, Seria crueldade e
tirania infligir castigospor acesimpostaspela necessidade..
Mas, objectam osadversriosda liberdade, em ambas
ashiptesesoscastigosso teis, porque so o nico meio,
de que a sociedade dispe, para garantir a ordem e assegurar
a mtua proteco doscidados. A observao justa;
LIBERDADEDAALMA123 1 220 H OMEM
contudo, dado que o castigo dosculpadosfosse til ainda
quando oshomensno fossem livres, no menosverdade.
que nesse caso perderia todo o carcter de moralidade, Alm
disso, osfactosso contra esta maneira de pensar; osjuizes,.
antesde pronunciar a sentena, averiguam sempre se h.
razes,ignorncia, debilidade mental, falta de premeditao,
que atenuem a responsabilidade, Ora isto seria suprfluo,
se o castigo no tivesse outro fim seno corrigir e curar.
C. Prova fundada no consentimento universal.
Os homens, diz J. SIMON (Le devoir), no s crem na liber-
dade, desde o princpio do mundo, masesto invencivel-
mente persuadidosda sua existncia, , , 0 selvagem e o
civilizado, a criana e o velho no tm dvidasacerca da.
liberdade.. , Quem, fora de meditar, formou um sistema.
que prescinde da liberdade, fala, sente e vive como se jul-
gasse possu-la. No duvida, faz esforospara duvidar; eis
o resultado da sua cincia, Mostrai-me um fatalista sem
orgulho e sem remorsos, , , Ou devemosdizer que o homem
livre, ou que foi criado para julgar sempre erradamente,
2, DETERMINISMO,
112.-1. Definio. Determinismo o sistema que
nega a existncia do livre arbtrio, e defende que a vontade do
homem se determina sempre por influncias que a necessitam.
113.-2. Espcies. Segundo a natureza dasinflun-
cias, o determinismo toma diferentesdenominaes; a) de-
terminismo teolgico ou fatalismo, quando a vontade neces-
sitada pelo influxo divino; b) determinismo cientfico, se
considera o homem sujeito sleisnecessriasda matria ;
c) determinismo fisiolgico e psicolgico, se afirmam que o
homem necessriamente arrastado pela sua natureza,
114. 3. Determinismo teolgico. Esta primeira
forma do determinismo subdivide-se em vrias espcies:
1, 0 fatalismo, que o fundamento de algumasreli-
gies, Foi o dogma fundamental da religio grega, e ainda
hoje a base do Islamismo, Segundo este sistema, oshomens
so governadospor uma fora cega e inexorvel, chamada
Destino (do lat. fatum, dai o nome de fatalismo), cujosefei-
tosno podem prever nem mudar, Ningum se furta ao seu
destino ; o que tem de suceder suceder necessriamente,
Estava escrito, dizem osdiscpulosde Maom. Logo,
todo o esforo intil e o melhor entregar-se cada um
sua sorte,
2, 0 fatalismo pantesta. A doutrina pantesta cai
necessriamente no fatalismo. Com efeito, se Deus a nica
substncia, se tudo Deus, o livre arbtrio no existe, porque
Deus o ser necessrio e nada de contingente pode nele.
existir.
3, 0 fatalismo teolgico ou predestinacionismo. A
sorte de todososhomens, bonse maus, foi antecipadamente
fixada pela vontade divina, que de modo algum ser mudada.
Por outro lado, o homem incapaz de praticar o bem sem a
graa, e esta um dom puramente gratuito. Logo, no somos
livrespara escolher um destino nossa vontade, masdeve-
mosaceit-lo, como foi decretado por Deus,
Refutao.-1. 0 fatalismo maometano sistema.
absurdo e irracional, poissepara osefeitosdascausase
ensina que aquelesacontecem necessriamente, ainda mesmo
quando isoladosdascausasque osproduzem, e que intil
f ugir do perigo, unia vez que est escrito que no o pode-
mosevitar,
2, 0 fatalismo pantesta tambm se no pode defender,.
Basta olhar em volta de nspara ver que h seresque come-
am a existir, que se transformam e evolucionam sem cessar;
quer dizer: o inundo contingente, visto que a mudana
inconcilivel com a ideia de ser necessrio,
3. Asdificuldadesdospredestinacionistas (LUTERO,
CALVING) foram j, resolvidasquando tratmosda prescincia
divina (n. 72), E verdade que osnossosactosso previstos
por Deus, masa cincia de Deusno muda a natureza dos.
actos; isto , osnossosactoslivresso previstoscomo livres.
Tambm certo que o homem nada pode fazer sem a graa.
e que esta um dom absolutamente gratuito ; Deus, porm, a.
ningum a recusa e o homem fica com o poder de aceitar ou
rejeitar este auxlio, que Deuspe sua disposio,
115. 4, Determinismo cientfico.-0 determinismo
cientfico est hoje muito em voga, Funda-se em doisprin-
cpiosda cincia, que para osseuspartidriosso incontes-
tveis; o determinismo universal e a conservao da energia,
1, Determinismo universal. Tudo neste mundo est
sujeito lei do determinismo. Segundo esta lei, todosos
fenmenosesto unidosentre si por laosnecessrios; todos
osacontecimentos, todososnossosactosprovm de outros
factos, como osefeitosprovm dascausas, Alm disso,
o determinismo condio da cincia, a qual, na hiptese do
livre arbtrio, no poderia estabelecer assuasleis,
2, Conservao da energia. Segundo este princpio, a
quantidade de energia, que existe no mundo, sempre cons-
tante; transforma-se, masno aumenta nem diminui, Daqui
se segue que asnossasdeterminaes, que julgamoslivres,
so na realidade apenasum novo estado de forasem ns
existentes, que se transformam segundo uma lei necessria
e absoluta, 0 determinismo cientfico parte integrante do
sistema materialista, o qual, no admitindo seno uma subs-
tncia no mundo, a matria, afirma que todososfenmenos
se regem pelasleisda mecnica,
Refutao. 1, Seria muito difcil demonstrar que o
determinismo do mundo lei universal! Com efeito, dado
que o determinismo dasleisdirija todososfenmenosde
ordem fsica, poder-se- concluir que deve tambm aplicar-se
ao inundo dosespritos? No ser certo que estasduas
ordensde fenmenosnada tm de comum entre si, e que
portanto o que verdade para uma, pode no s-lo para
a outra ?
Por outro lado, ser verdade que o livre arbtrio se opo-
nha cincia, isto , ao determinismo dasleis? De modo
algum, A lei afirma que asmesmascausasem circunstn-
ciasidnticasproduzem sempre osmesmosefeitos, Ora, se
a minha vontade modifica ascircunstncias, se faz por exem-
plo desviar um movimento da sua direco normal, evidente
que apesar da minha interveno, a lei permanece a mesma,
se bem que neste particular deixe de se aplicar, Portanto a
cincia nada tem que temer do livre arbtrio e pode continuar
a formular asleisque governam o mundo material,
2, 0 que dissemosdo determinismo dasleisaplica-se
tambm ao princpio da conservao da energia. Osdeter-
ministasno podem provar que este princpio, regulador das
forasda natureza, seja aplicvel vontade, E ainda supondo
que asnossasdeterminaessejam transformaesdasforas
em nsexistentes, a nossa vontade conserva sempre a liber-
dade de asdirigir neste ou naquele sentido, o que basta para
salvaguardar a liberdade.
116. 5. Determinismo fisiolgico. Segundo o
determinismo fisiolgico, osnossosactos, que julgamoslivres,.
na realidade so apenasa resultante de causasfsicas, tais
como o clima, o meio, o temperamento e tudo o que constitui
o carcter de cada indivduo, Se conhecessemoso carcter
de um homem e ascircunstnciasem que se encontra, pode-
ramossempre prever a resoluo que tomaria.
Refutao. 0 temperamento, o carcter e ascircuns-
tnciasde tempo e de lugar so, sem dvida, factoresimpor-
tantesque tm muita influncia nasnossasdeterminaes,
masno explicam todososnossosactos, poisagimosde
modo diverso, em circunstnciasidnticas, A previso sem-
pre relativa, porque o carcter muda sob a influncia da
vontade, Na hiptese do determinismo fisiolgico, a virtude
confundir-se-ia com o bom temperamento. A experincia
quotidiana ensina-nos, pelo contrrio, que a educao corrige
o carcter e que, na expresso de BOSSUET, a alma generosa
senhora do corpo que anima,
117. 6. Determinismo psicolgico. 0 determi-
nismo psicolgico afirma que asnossasdecisesso sempre
determinadaspelo motivo maisforte, pelo que exerce maior
atractivo na inteligncia e principalmente na sensibilidade, e
no pelo que tem maior valor moral, como so o dever e o
amor do bem em si, Assim, o egosta deixa-se guiar pelo
interesse, o avarento pelo amor da riqueza, o ambicioso pelos
sonhosde glria,
Refutao. falso que asnossasresoluessejam
sempre determinadaspelo motivo maisforte, Muitasvezes
1240 HOMEM LIBERDADEDAALMA125
1, Origem.
B. do corpo.
CAPITULOII.--ORIGEM E FIM DOHOMEM.
UNIDADE DAESPCIE HUMANA.
ANTIGUIDADE DOHOMEM.
A. da alma. Criao directa de Deus,
a) Questo no definida pela
Igreja.
1. tradicional:
i criao directa.
b) Hipteses, 2. evolucionista:
descendncia
animal.
1
1 , Evoluo, lei
geral.
c) Argumentos l 2. Semelhanas
do evolu-{ entre o homem
cionismo,le o animal,
3, Argumento da
pr-histria,
1 . A Lei da evo-
luo no se
prova.
2. Diferenas en-
tre o homem e
o animal.
3. A pr-histria
nunca encon-
trou as formas
de transio.
d) Valor des-
tesar gu-
mentos,
A. Importdncia do problema,
B. Definio da imortalidade.
2. Fim.
C. Provas da a)
Argumento metafsico.
irnortalida-{ b)
Argumento psicolgico.
I
de da alma. i c)
Argumento moral,
l! d) Consentimento universal.
A. Relaciona- f
a) do pecado original,
da com oi b)
da Redeno,
3. Unidade
dogma.(
da espcie
B. Objeces(
humana,
fundadas)a) a raa branca.
nas diver-1 b) a raa amarela,
gentias en-tc) a raa negra.
tre
ORIGEMDOHOMEM127
126OHOMEM
o homem resiste ssuasinclinaese prefere o sacrifcio ao
prazer; o egosta no procede sempre como egosta, nem o
avaro como avaro... Sem dvida, o motivo que nosleva ao
consentimento o maisforte, mastrata-se de saber se o que
escolhemos o maisforte em si, ou se o maisforte porque
o escolhemos,
Concluso. Nenhum dossistemasacima expostos
sucintamente diminui o valor dasprovasda existncia do
livre arbtrio, Podemos, pois, concluir que Deusdotou a
alma humana com a nobre prerrogativa de poder escolher
entre o bem e o mal e de ser senhora dosseusdestinos.
0 homem, escreve JANET, no verdadeiramente livre
quando se libert semente dascoisasexteriores, masquando
sacode o jugo daspaixes, 0 que obedece cegamente aos
seusapetitesno senhor de si mesmo, masescravo do
corpo, dossentidos, dostemorese daspaixes... A liber-
dade no consiste em poder escolher e praticar o bem ou o
mal, Muito pelo contrrio, praticar o mal deixar de ser
livre, e fazer o bem s-lo realmente (' ),
Bibliografia.V. o captulo seguinte.
(1 ) Paulo JANET, La Morale, liv. III.
a) indirecta. Asdivergnciasno
1 sao essenciais.
Provos.
1 13) directa, ba- (
1. Anatmicas,
1seada n a s) 2. Fisiolgicas.
r 3,
1
semelhan-
sicolo
.
gicas.
cas,
( a) Questo no definida,
a 1 b) Nenhuma cronologia certa na
k Bblia.
a) Questo do domnio da pr-his-
tria,
B. Segundo al b) Respostasdiversasdospr-his-
Cincia.1
e)
toriadores.
Portanto nenhum conflito possf-
1
yel. entre a F e a C incia.
f A. Segundo
F.
3. Unidade
da espcie )
humana.
(Continua co).
4.0 Antigui-
dade do
homem.
_
128 O H OMER
ORIGEM DA ALMA EDO C ORPO129
DESENVOLVIMENTO
118. Diviso do capitulo. Determinada a natureza
do homem, estudemosa sua origem e o seu destino . Estes
doisproblemas, sobretudo o segundo, so de sumo interesse
para a moral e para a religio. H tambm motivospara
inquirir se todososhomensdescendem de um tronco nico,
e
em que data se deve fixar a apario do primeiro homem.
Dividiremosa matria em quatro artigos1. Origem;
2. Fim do homem; 3, Unidade da espcie humana;
4. Antiguidade do homem.
Art, I. Origem do homem.
119. Estado da questo. J vimosque o homem
se compe de duassubstnciasuma espiritual, a alma, outra
material, o corpo. Por isso dividiremoseste assunto em
duaspartes1.
0
a origem da alma; 2. a origem do corpo.
0 problema, para o materialista, apresenta-se sob outro
aspecto. A questo da origem da alma no tem para ele
razo de ser, uma vez que no admite a sua existncia, ao
menoscomo princpio distinto. Contenta-se com indagar a
origem do corpo, porque o homem, segundo ele, no passa
dum animal maisperfeito, formado de uma s substncia.
Para provar a sua tese deve, portanto, apresentar-nososseres
intermediriosentre o animal e o homem, e demonstrar, com
osdocumentos vista, que o corpo do animal evolucionou,
que se foi transformando pouco a pouco, ate chegar forma
humana. Tentou faz-lo, masadiante veremosse osseus
esforosforam coroadosde bom xito,
120. 1,0 Origem da alma, A alma um princpio
espiritual, distinto do corpo, que s depende dele de modo
muito relativo e acidental, e pode subsistir sem ele. Ora a
origem duma substncia deve corresponder A. sua natureza.
Se simples e imaterial, no pode ser produzida pelo corpo,
que composto e material, porque no haveria proporo
entre a causa e o efeito.
Tambm no pode dimanar da alma dospais, porque
esta, pelo facto de ser simplese espiritual, no se pode divi-
din o que simplesno se fracciona. Resta, pois, que a
alma seja directamente obra de Deuse receba a existncia
pela criao. J no sucede o mesmo com a alma do animal,
que depende totalmente do corpo e, por conseguinte, deve ser
produzida como ele, isto , por gerao,
121.-2. Origem do corpo, A respeito da origem
do corpo, pe-se o seguinte problema 0 corpo do primeiro
homem, prescindindo da alma, foi criado directamente por
Deus, ou fruto da evoluo? Neste ltimo caso, o corpo
do animal foi-se porventura aperfeioando em pocassuces-
sivasat atingir a forma humana ?
Antesde maisnada, notemosque esta questo no foi
ainda definida pela Igreja, tendo por isso osapologistascat-
licosuma certa liberdade. No captulo II do Gnesisdiz-se
que Deusformou o homem do barro da terra e inspirou no
seu rosto um sopro de vida, e, ,que formou a mulher duma
costela de Ado (v. 7, 21, 22), E certo tambm que a maio-
ria dosSantos Padres interpretaram estaspalavrasno sen-
tido de uma criao directa de Deuse que, conforme esta
opinio tradicional, a muitosparece um pouco temerria
a teoria de certosevolucionistas catlicos, segundo a qual,
9
Deuster-se-ia limitado a tomar o corpo do animal maisper-
feito e a infundir-lhe a alma humana.
Mash outro evolucionismo mais mitigado, que parece
maisconcilivel com a opinio tradicional da Igreja, e com as
ideiasde S. AGOSTINHO(Trat. sobre o Gnesis, L. VII,
c. XXIV) e de S. TOMAS (II, 1 , a q. 91, 2, ad 4) ; Deuspara
criar o homem, dizem, serviu-se dum corpo j organizado, que
retocou e aperfeioou antesde lhe infundir a alma, 0 barro
ou limo, de que fala o Gnesis, seria portanto nesta hiptese
um organismo preparado pouco a pouco por um trabalho de
evoluo, e adaptado enfim por uma nova interveno directa
de Deus (I). Feita esta observao, vejamoso valor cient-
fico dos argumentos materialistas.
122. Teoria materialista. A. Argumentos. Os
materialistasapresentam trsargumentospara provar que o
homem vem do animal por evoluo, que no um ser iso-
lado, massemente um animal aperfeioado.
a) A evoluo, dizem, a lei geral que governa o
mundo. 0 sistema de LAPLACE supe-na como hiptese
necessria para explicar a formao do mundo fsico, A evo-
luo igualmente admitida, ao menosdum modo geral, para
explicar asespciesvegetaise animais. Mas, se assim ,
porque h-de ser o homem uma excepo lei geral ?
b) As semelhanas que h entre o homem e o animal
indicam parentesco e origem comum, Considerando o homem
sob o ponto de vista da sua organizao corporal (anatomia),
ou dasfunesvitais(fisiologia), osnaturalistascolocam-no
entre osmamferos, na ordem superior dosPrimatas, Ainda
que superior aosoutrosanimaispela perfeio dosrgose
dasfunes, contudo um dentre elesquanto a todosos
caracteresgerais, Na hierarquia dosseres, diz RICHET, o
homem ocupa o primeiro lugar, masno est fora da catego-
ria. perfeita a igualdade dosrgos, dosaparelhos, das
funes, do nascimento, da vida e da morte. Seria, pois,
(1 ) Esta a opinio de RussEL WALLAC E, alis transformista conven-
cido, que, depois de Darwin, foi o mais acrrimo defensor da seleco natu-
ral. A seu ver, o corpo do homem deve a uma seleco, no natural, mas
divina, as faculdades que o caracterizam; teria havido interveno de Deus
para dar a forma humana a um organismo ja preparado pela evoluo.
para estranhar, concluem osmaterialistas, que Deustivesse
Ieito do homem, objecto duma criao particular, para afinal
o formar segundo o plano e modelo dosanimais.
c) Osmaterialistaspretendem, alm disso, provar a
descendncia animal do homem pela histria, ou antes, pela
pr-histria (1 ). Se o homem tivesse por ascendente um
animal qualquer, um macaco ou um canguru, a paleontologia,
conforme a lei da evoluo, deveria encontrar nosfsseis, os
seresde transio entre o animal e o homem, Existem acaso
essasformasintermdias? Osmaterialistasmuitasvezes
assim o julgaram. Seguindo a ordem da sua descoberta, os
principais fsseis, em que elescuidaram encontrar o precur-
sor do homem, so:
1 . 0 crnio de Nanderthal, na Prssia Renana (1856) ;
o crnio de Gibraltar (1866) ; osdoisesqueletos de Spy, na
Blgica (1886) ; osfamososossos(fragmentosde crnio, fmur
e algunsdentes) encontradosna ilha de Java pelo doutor
Dunolse por ele baptizadoscom o nome de Pitecantropo de
Java (1895) ; dez ou doze crnios e esqueletos humanosda
gruta de Krapina, na Crocia (1899),
2, Maisrecentemente a Maxila de Mauer, perto de
Heidelberg, e a de Piltdown, em Inglaterra (1907) ; osesque-
letosde La Chapelle-aux-Saints em Corrze, de Moustier na
Dordonha (1908); osdoisesqueletosde Ferrassie, tambm
na Dordonha, um de homem, outro de mulher (1909) ; o
crnio da Rodsia, na frica do Sul (1921). Maisrecente-
mente ainda vriosoutrosrestosde homensfsseisna frica
do Sul, na China, e na Austrlia.
Todosestesfsseisso representantesdasduasmais
antigasraasat agora conhecidas; a raa chelense e a raa
Liii.
mustierense. Ostiposmaiscaractersticosda primeira, so o
Pitecantropo de Java e o crnio da Rodsia; da segunda, o
crnio de Neanderthal e o homem de La Chapelle-aux-Saints,
Ora osfsseis, segundo ostransformistas, parecem apresentar
os caracteres que a sua teoria reclama: o crnio fugidio, pro-
longado para a frente por arcadassuperciliaresmuito salien-
pPq
(1 C hama-se r-histria a histria dos tem os de ue no existe
dooiuncnto algum escrito. Essa histria tem de ser feita por outros meios:
1 gola descoberta, por exemplo, (fsseis), ossadas humanas fsseis), objectos tos (ins
1 30 0 HOMEM ORIGEMDA ALMA E DO CORPO131
-
rumentos, armas, ornatos), de habitaes que serviram para o seu uso.
1 32 O H OMEM ORIGEM DO C ORPO H UMANO133
tes, ngulo facial muito pequeno (v. nota 2, pg, n, 126),.
grande prognatismo dando face a forma dum focinho, nariz:
largo profundamente enterrado, reduo ou at inexistncia
do queixo, em suma, um todo que se aproxima da forma
pitecide (macaco) ; em compensao, osbraos, aspernas.
asmos, e osdedosparecem-se com osdo homem nassuas
dimenses,
So estes, dizem ostransformistas, osseres interme-
dirios; e, se no o forem, podemossupor que existiram, e
que ospaleontlogososho-de encontrar um dia. Nem .
preciso recorrer ao passado, acrescentam, para encontrar os.
intermediriosentre o homem e o animal, 0 selvagem
actual um testemunho vivo do tipo primitivo; parece-se com
ele na estrutura fsica, e no muito superior ao animal
tanto na inteligncia como na moralidade, Maisainda ; a.
criana, na sua lenta evoluo, reproduz todasasfasesde.
transio, que a inteligncia humana deve ter atravessado,
antesde sair completamente da animalidade,
123.B. Crtica dos argumentos materialistas. -
Examinemososargumentosmaterialistase vejamoso seu:
valor.
a) A evoluo, dizem osmaterialistas, ou se encontra
em toda a parte, ou em nenhuma. Ora difcil contestar a
sua existncia, ao menosno mundo fsico. Deve, portanto,
estender-se a todososseres, sem exceptuar o homem. Os
fixistasno tm dificuldade em retorquir este argumento.
Se a evoluo a lei que rege toda a vida vegetal e animal,
deve ser lei geral que se estenda a todososseresque
habitaram ou habitam o mundo, e abranja todosostempose
regies. Ora, tanto nostemposactuaiscomo nospr-hist-
ricos, por maisremotosque sejam, no encontramosvestgio
algum da evoluo, nem espcies, gnerosou ordensem
via de formao. Logo, podemosafirmar que asespcies
quaternrias, de que ainda h representantesnosnossosdias,.
no sofreram modificao alguma orgnica, que prove a.
transformao do tipo especfico (I ).
Por outrostermos, se a evoluo fosse lei geral, apli--
(1 ) DENADAILLAC , L'honeme et le singe.
.svel a todosostempose a todososseres, ostransformistas
deveriam poder-nosapresentar exemplosactuaisde animais
em estado de evoluo de macacos, por exemplo, se so
nossosantepassados, em via de se transformar em homens.
Logo a evoluo no lei geral que governa o mundo (I), nem
a teoria transformista est cientificamente provada (n, 94 e 95),
b) Assemelhanas entre o homem e o animal, a que
osmaterialistasligam tanta importncia, so singularmente
contrabalanadaspelasdivergncias, em que menosinsistem,
Se compararmos, por exemplo, o corpo do homem, com o do
macaco, encontramosdiferenas essenciais: a posio vertical
prpria do homem ( 2), a existncia de duasmossemente, o
ngulo facial (3 ), que na raa humana oscila entre 70 e 90,
ao passo que no macaco atinge apenasum mximo de 50,
sem falar nasfaculdadesda alma, razo e livre arbtrio, que
interpem um abismo entre osdois,
Na hiptese da descendncia animal do homem, como
explicar que este seja inferior quele nosrgosdossentidos
{ex.; o olfacto no co) quando a seleco natural deveria ter
desenvolvido no homem asqualidadesque j existiam no
animal? Porque vem o homem nu ao mundo, nudus in nuda
humo, como diz PLNIOOVELHO? Se o plo para o animal
um meio eficaz para o preservar de frio, no poderia prestar
o mesmo servio ao homem ? 0 animal possui armasde
defesa com que pode lutar contra osseusadversrios, e o
homem v-se obrigado a procur-lasnasforasda natureza.
Portanto, assemelhanascorporais no provam o parentesco
directo entre o homem e o animal.
c) Quanto aosintermedirios, foroso confessar que
(1 ) Ainda que a evoluo fosse lei difinitivamente comprovada, no
poderia prescindir de Deus. Provmos acima (n.o 45) que seria sempre
necessrio recorrer a um ser omnipotente para criar a matria e regular o
seu desenvolvimento segundo a lei da evoluo.
(2) < 0 homem, diz DELAPPARENT, o nico mamfero cuja posio
natural absolutamente vertical e cuja face est dirigida para o cu, onde
se encontra o seu destino. La Providence cratrice. O poeta latino tinha dito:
Os homini sublime dedit, ; ccelumque tueri
Jussit ...
(3) 0 ngulo facial o ngulo formado pela juno de duas linhas;
uma vertical, que vai desde os incisivos superiores ao ponto mais saliente
41 a testa, outra horizontal, desde o canal auditivo at aos mesmos dentes.
1 34
a paleontologia, no obstante osseusprogressossurpreenden-
tes, ainda no fez at agora descobertasdicisivas, HUXLEY, .
cujo testemunho insuspeito, disse, a propsito dasossadas
encontradasem Nanderthal, que no podem pertencer a
um intermedirio entre o homem e o macaco, 0 valor
dosoutrosdocumentospaleontolgicos tambm duvidoso, .
Quando muito, diz BONNIER(L'enchainement des organis-
mes), osesqueletos, assim como vrioscrnioshumanos
dascamadasquaternriasmaisantigas, pertencem a raas
humanascertamente superioressmenosdotadasda actua-
lidade.
Tudo isto nosleva a fixar a ateno no selvagem, que,.
na hiptese materialista, seria ainda hoje um representante
da forma intermediria entre o bruto e o homem. Osevolu-
cionistasafirmam que h menosdistncia entre o animal e o
selvagem, do que entre este e o homem civilizado,
1i: assero manifestamente absurda, pois incontes-
tvel que entre o selvagem e o civilizado no h nenhuma
diferena de natureza, e que s diferem no desenvolvimento,
0 selvagem, por maisrude que seja, homem em toda a .
acepo da palavra, isto , dotado de alma racional, capaz de
progresso ; ao passo que o animal, mesmo domesticado, in
capaz de pensar, de raciocinar, de inventar, etc, . Sem chi-
vida a inteligncia dosselvagens inferior porque no est.
cultivada, masno de modo algum a transio entre a.
inteligncia do civilizado e o instinto do animal.
0 mesmo se pode dizer da criana. A evoluo, por
que passa antesde atingir o estado adulto, no a repetio
dasfasesque a humanidade teria atravessado ; a criana no
ao princpio um simplesanimal, que vai pouco a pouco
adquirndo a forma humana, Obedece simplesmente slei s.
do desenvolvimento que regem a natureza do homem.
Concluso. De tudo o que dissemosaparece clara-
mente que, no estado actual da cincia, osmaterialistasno
podem alegar prova alguma da descendncia animal do
homem, 1, Quanto alma, h uma demarcao radical .
entre o homem e o bruto ; no se deu a passagem de um para
o outro, porque a evoluo desenvolve apenaso que j existe,
e no cria o que no est em germe, 2, Quanto acP
corpo, a hiptese evolucionista no est suficientemente com-
provada.
Todososesqueletoshumanosque osmuseusencerraram
so de homenscomo ns; o homem apareceu na terra com
todososcaracteresque actualmente o distinguem e separam
do animal, E se asinvestigaescientficasdemonstrarem
um dia o contrrio, a Igreja seria a primeira a adoptar uma
soluo que nunca oficialmente condenou e que muitoscat-
licosno tm dificuldade em defender ( 1 ) ,
Art, II, Fun do homem. Imortalidade da aluna.
124. 1.0 Importncia da questo. 0 problema do
fim do homem no tem menosimportncia que o da sua ori-
gem, por causa dassuasconsequncias, Todasasnossas
acese pensamentos, diz PASCAL, devem seguir rumos
muitosdiversos, conforme houver ou no a esperana de bens
eternos, porque impossvel dar um passo com acerto sem o
regular pelo nosso fim ltimo. , . Onosso primeiro dever e o
nosso prprio interesse exigem que conheamosbem este
assunto donde depende o nosso modo de proceder... Acho
prefervel que aprofundemosmaiseste conhecimento do que
a teoria de Coprnico. E sumamente importante para a nossa
vida saber se a alma mortal ou imortal. (Penses, art, IX
e art, XXIV, 17) ,
125.-2. Definio da imortalidade.Que a imor-
talidade? Antesde responder, convm primeiro rejeitar s
1. 0 conceito dos positivistas, para quem_a imortalidade
consiste lnicamente nasconsequnciasque podem ter os
nossosactospara o futuro e felicidade da espcie (H, SPENCER),
ou ainda, na grandeza da memria que nsdeixamos poste-
ridade ; 2, 0 conceito pantesta, que considera a alma
como uma parcela da divindade, destinada a reentrar um dia
no Grande Tudo, de que fora momentaneamente separada, e
a confundir-se com ele, perdendo a prpria personalidade.
(1 ) Estas teorias transformistas defendidas por catlicos referem-se s
ao evolucionismo mais ou menos radical do corpo humano. Entre a alma do
homem e a dos animais existe um abismo que oito se pode transpor.
OHOMEM
FIM DOHOMEM 1 35
OH OMEM 136
A imortalidade, como osespiritualistascristos, a enten-
dem, a sobrevivncia da alma que, depoisda separao do
corpo, continua a viver a sua vida prpria, conservando as
faculdadessuperiores, a identidade, a recordao do seu pas-
sado e o sentimento da prpria responsabilidade, Vejamos
quaisso asprovasda imortalidade assim compreendida.
126.-3.0 Provas da imortalidade da alma. Aimor-
talidade da alma demonstra-se com trsargumentos: metaf-
sico, psicolgico e moral.
A, Argumento metafsico, Aimortalidade da alma
dimana da sua natureza, quer dizer, da dupla propriedade de
ser substncia simples e espiritual. 1. Pelo facto de ser
simples, no composta de partes, no pode perecer por
decomposio, maneira doscorposmateriais, cuja morte
consiste na dissoluo doselementosde que se compem.
2, Por ser espiritual, no dependente essencialmente do
corpo, no pode ser destruda com este, poispossu tudo o
que lhe necessrio para poder sobreviver. A alma humana,
como todasascriaturas, contingente : assim como teria
podido no existir, tambm poderia ser aniquilada, Masa
razo demonstra que a aniquilao repugna aos atributos
de Deus, particularmente sua bondade e sua justia,
como vamosver nosdoisargumentosseguintes(I) ,
B. Argumento psicolgico. Deve haver proporo
entre asinclinaes naturais de um ser e osmeios de as
satifazer; alisesse ser seria imperfeito e desdiria da sabe-
doria e bondade de Deus. Ora asaspiraes do homem exi-
gem a imortalidade da alma. 0 seu corao deseja ardente-
mente a felicidade e suspira por uma vida em que possa
conhecer a verdade, contemplar a beleza e amar o bem, Ora
evidente que neste mundo s encontra verdadesincompletas,
(1 ) Apesar da sua fora, este argumento no se deve separar dos ou-
tros dois, porque a aniquilao, em que se baseia, no absolutamente in-
compreensvel. Deus pode reduzir ao nada o que do nada tirou. Alm disso,
a imortalidade da substncia no necessariamente a imortalidade da pessoa.
Portanto conveniente completar este argumento com os outros dois : psi-
colgico e moral.
FIM DOHOMEM 1 37
imperfeiese alegriasefmeras, necessrio, portanto, que
exista outra vida em que a alma apague a sede de felicidade,
uma vida sem fim, porque no pode haver gozo pleno enquanto
houver temor de o perder,
Se Deusinfundiu na nossa alma a necessidade do infi-
nito e ao mesmo tempo o sentimento de no o atingir nesta
vida, necessrio que nosreserve um futuro, em que haja
proporo entre osnossosdesejose osmeiosde ossatisfazer ;
doutra forma o homem, que o ser maisperfeito da terra,
seria o maisinfeliz: quando o animal encontra plena satisfa-
o para osseusinstintos, s o homem estaria condenado por
sua natureza a prosseguir um fim impossvel de alcanar.
C. Argumento moral. A imortalidade da alma
condio da moral. Efectivamente, a justia de Deusexige
que o bem seja recompensado e o mal punido. Ora, na vida
presente nem sempre isto acontece ; frequentemente a fora
prevalece contra o direito, o vcio contra a virtude. Esta si-
tuao injusta e anormal s temporriamente pode ser tole-
rada por Deus, preciso, pois, admitir que Deusno faz
inteira justia neste mundo, masespera outra vida para
dar a merecida recompensa snossasobras, Por isso, a
alma humana deve ser imortal e conservar a vida indivi-
dual, consciente do seu passado, dassuasfaltase dassuas
virtudes.
D, Consentimento universal. Em confirmao das
provasprecedentes, pode ajuntar-se o consenso de todos os
povos. Encontramosindciosda crena na imortalidade da
alma em todosostempose em todasasnaes, Pouco im-
porta que a morada dosbonsse chame Cu ou Elfsio, e a
dosmausInferno ou Trtaro. Em todososcasosse mani-
festa a mesma f na sobrevivncia da alma, Ascerimnias
fnebres, o culto dosmortose asoraesem seu favor no
teriam significao sem a crena na imortalidade, Acrescen-
temos, enfim, que essa crena no efeito da civilizao,
porque se encontra tambm nospovosselvagens, Por maior
que seja a degradao dessespovos, diz LIVINGSTONE, h sem-
pre duascoisasque no preciso ensinar-lhes: a existncia
de Deuse a imortalidade da alma,
1 38 O HOMEM UNIDADEDAESPCIEHUMANA133
Art, TIL Unidade da Espcie humana.
127. Estado da questo. Proviro todososhomens
de um tronco nico e sero todosda mesma espcie ( 1 )? Esta_
questo merece toda a nossa ateno, porque o monogenismo, .
isto , a provenincia de todososhomensde um s casal,
est relacionado com o dogma do pecado original e da reden-
o, que so fundamentaisna religio crist. Vejamosse a
cincia est ou no em oposio com a f, que, apoiada na.
Escritura, afirma que todo o gnero humano descende dum
s homem, Ado, e duma s mulher, Eva.
O monogenismo foi negado, no sculo XVII, pelo protes-
tante DE LAPEYRRE, Julgou que oshomensde que fala o
Gnesis, no sexto dia da criao (Gen. I, 26 e segs.), no
eram Ado e Eva de que s se fala no captulo IL Logo,
segundo ele, teria havido duascriaese, por conseguinte, .
duasespcies: a dosPr-Adamitas, progenitoresdosgentios
e a dosAdamitas, donde descendem osjudeus. Esta opi-
nio, apoiada lnicamente na falsa interpretao da Bblia,
foi retratada maistarde pelo seu autor, quando se con-
verteu ao catolicismo. Retomaram-na depoisosfilsofosdo
sculo XVIII em nome da cincia e da razo ; porm, desde
que QUATREFAGES acumulou na sua obra, L'Espce humaine,
osfactose asprovasque demonstram o monogenismo, o pro-
blema pode considerar-se resolvido neste sentido, Vamos
contudo examinar rapidamente osargumentosdospoligenistas
e asrespostasdosmonogenistas,
128. 1. Argumentos dos poligenistas. Se com-
pararmosentre si todososhomense considerarmososprin-
cipaiscaracteresmorfolgicos, que osdistinguem, taiscomo
a cor da pele, a natureza doscabelos, a configurao do crnio
e da face e o ngulo facial, podemosdividi-losem trsraas.
principaissa raa branca ou caucsica, a raa amarela ou
monglica, e a raa negra ou etipica.
(1 ) C onforme a definio de QUATREFAGES, espcie co conjunto de
indivduos, mais ou menos semelhantes entre si, que podem considerar-se
como descendentes de um tronco primitivo nico, por sucesso ininterrupta,
e natural de famlia,
a) Ascaractersticasda raa branca so: cor branca da
pele, cabelossedosos, lisosou crespos, crnio bem desenvol-
vido, testa larga e alta, arcadassuperciliarespouco salientes,
linha dosolhoshorizontal, nariz direito, mento no fugidio e
ngulo facial com cerca de 90, Esta raa, que habita a.
Europa, o norte da frica e da Amrica e uma parte do
sudoeste da sia, compreende 42 0)o da populao total da
globo,
b) A raa amarela distingue-se pela cor amarela, cabe-
loshirtos, crnio braquicfalo, isto , alongado no sentido
transversal, face larga, masdo rosto salientes, olhosobl-
quose estreitos, nariz maislargo que na raa branca, mas.
no achatado como nosnegros, e ngulo facial um pouco menor
que o do branco, A raa amarela, que ocupa quase toda a
sia, excepto o sudoeste, representa 44
/ e
de humanidade..
c) A raa negra caracteriza-se pela cor que vai desde o
trigueiro escuro at ao negro maiscarregado, cabelosencara-
pinhados, crnio dolicocfalo, isto , alongado no sentido lon-
gitudinal, testa estreita e deprimida, arcadassuperciliares.
salientes, olhosgrandese negros, nariz curto e achatado,
maxilasprgnatas(do grego pro, para a frente, e gnathos,
maxilas) isto , projectadaspara diante e terminadaspor
lbiosgrossos, o que d ao mento um aspecto rudimentar, e:
ngulo facial que svezesdesce a 70, A raa negra, que.
povoa toda a frica excepto o Norte, asilhasafricanasmeri-
dionais, Madagascar, algunsilhusasiticos, a Austrlia e a .
Melansia, e que est disseminada pela Amrica, perfaz.
12 0 / da espcie humana.
Poder-se-iam acrescentar a estestrstiposprincipaisas.
raas mistas que compreendem gruposcom caracteresmistu-
rados, taiscomo ospeles-vermelhasdispersosem toda a
Amrica, e que no vo alm de 1 ou 2 / 0 da humanidade.
Ospoligenistasinsistem nasdiferenasque caracterizam
estastrsraase concluem que a humanidade no tem uma
ascendncia comum, masprocede de diversosantepassados,
129. 2. Argumentos do monogenismo. Ospar-
tidriosdo monogenismo provam a unidade da espcie humana
com doisargumentos, a) Mostram primeiramente que as.
diferenasinvocadaspelospoligenistasno so taisque cons-
OHOMEM UNIDADEDAESPCIEHUMANA 141
tituam espciesdiferentes, massemente raasdistintas; o
argumento Indirecto ou negativo. b) Depoisdemonstram
que assemelhanasentre asraasexigem a unidade da esp-
cie ; o argumento directo ou positivo.
A, Argumento indirecto. Nenhum dosdistintivos,
que diferenciam astrsraasmencionadas, constitui uma
divergncia essencial ; tanto maisque h maioresdiferenas
entre algumasraasde animais, a que ningum nega a uni-
dade de espcie,
Ospoligenistasaduzem ; 1, a cor. Todossabem que
a colorao da pele provm da influncia do meio e do regime,
e que depende da camada de pigmento que est entre a derme
e a epiderme, camada que engrossa e enegrece com o sol ;
2, a natureza do cabelo. Qualquer que seja a sua cor
ou forma, tem a mesma natureza em todasasraas. H maio-
resvariaesentre o plo de algunsanimais, por exemplo,
dasovelhasque na frica no tm l, masplo curto e liso;
3, As diferenas anatmicas, sobretudo asque dizem
respeito conformao do crnio e da cabea, H pouca
diferena entre asraasquanto capacidade craniana ; o
peso mdio do crebro da raa branca um pouco superior
a 1400 gramas, e entre osnegroschega apenasa 1250;
mas bom ajuntar que o crebro de muitosbrancos, cuja
inteligncia, como a de Gambeta, incontestvel, pesa menos
que o dosnegros. Estasdiferenasso muito menoresque
asque existem entre algumasraasanimais, taiscomo o
buldogue, o galgo e o co-de-gua.
A diferena na conformao da cabea, crnio braqui-
cfalo (curto e largo) nosbrancos; dolicocfalo (alongado no
sentido da frente para trs) nosnegros; o alongamento da
face que distingue osortgnatosdosprgnatos, tambm
no tem um valor absoluto, porque fcil verificar que exis-
tem dolicocfalose prgnatosem todasasraas. Poder-se-ia
ainda alegar a diferena da estatura ; h patagniosque
medem cerca de doismetrose boschimanesque no passam
de um metro; esta diferena muito maior entre certasraas
de animais, 0 co fraldeiro no tem maisque
do tama-
nho do co de S, Bernardo,
4, 0 ngulo facial varia apenas20 nasraashumanas
e nosmacacosdesce de repente a 40,
Ospoligenistasalegam como difi culdade a diversidade
daslnguas, algumasdasquaisparecem no ter nenhuma
raiz comum, Se assim fosse, e muitosfillogosdistintos,
como Max Muller o negam, poder-se-ia simplesmente con-
cluir que a lngua primitiva e nica teria desaparecido sem
deixar vestgiosem todasaslnguas.
B, Argumento directo. Asdiferenasentre asraas
no so uma barreira insupervel. Mash mais, A sua
origem comum ressalta dassuassemelhanas;
1, Semelhanas anatmicas. Quanto maisaprofun-
damosasnossasinvestigaes, maisclaramente vemosque.
no h osso nenhum no esqueleto, que, na sua forma e pro-
pores, no leve o certificado da sua origem indelvelmente
impresso ( DEQUATEEFAGES ).
2, Semelhanas fisiolgicas. -- Asraashumanasso
idnticase diferem notvelmente dosanimais, tanto sob o
ponto de vista da vida individual como da conservao da
espcie, Alm disso, a interfecundidade dasraas o sinal
maisevidente da unidade da espcie ( 1 ),
3, Semelhanas psicolgicas. Se consideramosas
raassob o aspecto intelectual e moral, h sem dvida gran-
desdiferenasno grau de cultura e de moralidade, masno
so irredutveise podem anular-se, maisou menosdepressa,
pela educao, No vemosnsessasmesmasdiferenas
entre indivduosda mesma raa e do mesmo pas? No h
por ventura, at em Lisboa ou qualquer grande cidade, indi-
vduosmeio selvagensao lado de pessoasda maisalta cul-
tura? Seja qual for o grau de civilizao prpria de alguns
indivduose raas, todosso dotadosde inteligncia, capazes
de pensar, de raciocinar, de progredir e de inventar.
Mas, ainda que oshomensactuaisparecem descender
do mesmo casal, poder-se- dizer o mesmo doshomensdos
(1 ) Efectivamente necessrio notar que a caracterstica essencial,
que distingue a raa da espcie, a fecundidade indefinida dos cruzamentos
entre indivduos de diferentes raas ; ao passo que os cruzamentos entre
indivduos de espcies diversas, ainda as mais prximas, so infecundos logo
ao comeo ou ao menos passadas poucas geraes.
1 42 OHOMEM ANTIGUIDADEDOHOMEM 1 43
tempospr-histricos? Quando visitamosascolecespr-
-histricas, diz o marqusde NADAILLAC, impossvel conter
a admirao, ao ver asmesmasformas, a mesma maneira
de trabalho em povosdiferentes, separadosunsdosoutros
por ridosdesertose oceanosimensos, sem meio algum de
comunicao entre si ,
Concluso. Do que precede podemostirar duascon-
cluses; a) Se noscolocamosno terreno exclusivamente
cientfico, vemosque todososhomensso morfolgica e
fisiolgicamente semelhantes; poisverosmil a sua origem
comum, Sucedeu assim realmente? pergunta QIATREFAGES,
Houve acaso ao princpio apenasum casal de animaisde
cada espcie? Ou, pelo contrrio, aparecem simultnea e
sucessivamente vrioscasaiscom caractersticasmorfolgicas
e fisiolgicasinteiramente semelhantes? So problemasde
que a cincia no pode nem deve ocupar-se, porque nem a
experincia nem a observao so capazesde osresolver,
A cincia s pode afirmar que ascoisasse do como se cada
espcie e por conseguinte a espcie humana tivesse por
ponto de partida um nico par primitivo , b) A cincia
no contradiz, pois, a doutrina da Igreja, segundo a qual,
todososhomensdescendem de Ado e Eva e so irmos
por origem e natureza,
Art. IV, Antiguidade do homem.
130. Ensina-nosa f, e a cincia no o nega, que
toda a humanidade descende dum s casal, Masquando
apareceu na terra ? Qual a doutrina da Igreja neste ponto ?
Estar em contradio com osdadosda cincia ?
1, Antiguidade do homem segundo a F. Para
determinar a antiguidade do homem, a Igreja s pode apre-
sentar osdocumentosque se lem na Bblia ao narrar a cria-
o do primeiro homem, Infelizmente a Bblia, diz LENOR-
MANT, no nosd nenhum nmero positivo a respeito do
nascimento do gnero humano, De facto no existe cronolo-
ia alguma para aspocasque decorrem desde a criao do
homem at vocao de Abrao, Asdatasque oscomenta-
doresprocuraram deduzir so arbitrriase no tm nenhuma
autoridade dogmtica ; pertencem todasao domnio daship-
teseshistricas, A cronologia da Bblia, cujo texto verdadeiro
no conhecemos, foi profundamente alterada... Vemo-nos
necessriamente obrigadosa negar o valor histrico dosnme-
rosdo Gnesis, que noscontam a durao dospatriarcasante-
diluvianos, , . Essesnmerosso hoje to incertosque um
estudo verdadeiramente cientfico quase impossvel. Astrs
ediescrticasdo texto cannico, o hebreu ou da Vulgata,
dosSetenta e o Samaritano, apresentam grandesvariantes,
S, Agostinho, como faz a crtica hodierna, no hesitava em
reconhecer vestgiosde modificaesartificiaise sistem-
ticas ( 1 ),
Nestascondiesimporta frisar; a) A Bblia no
nosd nmero algum acerca do aparecimento do primeiro
homem na terra ; b) no conhecemoso texto original da
Bblia, e asdatasrelativas vida dospatriarcasantedilu-
vianosvariam com asdiversasverses; houve, portanto, alte-
raesdosnmeros, introduzidaspeloscopistas,
Por estasduasrazes, osclculosdosexegetasque pro-
curam determinar a antiguidade do gnero humano, apresen-
tam grandes divergncias, Unsjulgam que a criao do
primeiro homem seria 3,500 anosantesde Cristo ; ao passo
que outrosfazem recuar esta data at 7.000 anos,
Mas, ainda que fosse conhecido o texto original da
Bblia, deveria demonstrar-se que o autor inspirado teve a
inteno de nosdar a cronologia autntica e a histria com-
pleta do povo hebreu, Ora, sabemosque o seu fim primrio
foi inculcar aosJudeusasverdadesmoraise religiosas.
Parece verosmil, e at evidente, que h lacunasnasrvo-
resgenealgicasdosprimeirospatriarcas, se considerarmos
que osescritoressagrados, como alistodososOrientais,
se guiavam geralmente nassuascronologiaspelo motivo
ninemotcnico,
E preciso no esquecer que oslivrossagradoseram des-
tinadosa ser aprendidosde cor, Para facilitar o trabalho da
memria, no hesitavam em suprimir naslistasgenealgicas
(1) Manuel de l'histoire ancienne de l'Orient; les Origines de l'histoire.
1 45
i
1 44 O HOMEM
osintermediriose agrupar osnomesem sriesmaisfceis
de reter, E por isso, que ospatriarcasanteriorese poste-
rioresao dilvio so agrupadosem duassriesde dez. Encon-
tram-se exemplosanlogosnoutroslivros, em que asomis
sesso fceisde verificar, S, Mateus, por exemplo, ao
narrar a genealogia de JesusCristo, passa em silncio os
nomesde trsantepassadosmuito conhecidos, Ocozias, Joas
e Amazias, certamente para poder dividir a lista em trs
grupossimtricos, cada um de treze nomes.
Somos, pois, foradosa concluir que a Bblia no fixa
nenhuma data para o aparecimento do primeiro homem,
Algunsadversriosmal intencionados, ou mal informados,
como MORTILLET, objectam que o prprio Bossuet no Dis-
cours sur l'Histoire Universelle faz remontar a origem do
mundo a 4,000 anosantesde Cristo, data que muitosmanuais
repetiram.
Nem Bossuet nem osmanuaistiveram a pretenso de
dar esta cronologia como ensinamento oficial da Igreja, E a
prova que osexegetasno se julgam obrigadosa adoptar
data alguma, Um dosmaisilustres, LE HIR, escreveu as
palavrasseguintes, que nospodem servir de concluso :
A cronologia bblica continua indecisa ; scinciashuma-
nasincumbe o trabalho de determinar a data da criao da
nossa espcie ,
131. 2. Antiguidade do homem segundo a Cin-
cia. A Igreja nunca teve a pretenso de resolver o problema
da antiguidade do homem. T-lo- resolvido a Cincia?
Poder ao menosdeterminar aproximadamente a data a que
se remontam osprimrdiosda humanidade?
Antesde responder a esta pergunta, investiguemosquais
so oselementosde informao de que pode dispor a cincia.
E evidente que a histria no lhe pode fornecer nenhum
documento, poiss comea 2,000 anosantesde Cristo, Vm
depoisosmonumentos e astradies populares dospases
maisantigoscomo a China, a ndia, o Egipto e a Caldeia.
Masosmonumentosdatam duma poca em que asnaesj
estavam constitudase s podem ter portanto uma antigui-
dade muito restrita.
Quanto stradiespopulares, pertencem maisao domf-
ANTIGUIDADEDOHOMEM
nio da lenda que ao da histria. 0 nmero de maisde dois
milhesde anos, por exemplo, que algunsletradoschineses
atribuem ao seu pasno tem nenhum fundamento. A his-
tria no pode, por conseguinte, dar-nosa soluo do pro-
blema ; quando muito conseguir fixar um limite mnimo
alm do qual a cincia deve prosseguir assuasinvestigaes,
A antiguidade do homem s poderia talvez ser determi-
nada pela pr-histria, cincia muito imperfeita, por se ver
forada a recorrer a outrascincias, taiscomo a geologia, a
paleontologia e a arqueologia, que so incapazesde fixar
datasprecisas, Seja como for, compete pr-histria encon-
trar osprimeirosvestgiosda espcie humana e calcular o
nmero dosanosdecorridos. Ora o problema apresenta duas
dificuldades. Primeiramente, a geologia nunca pode estar
certa de ter encontrado osvestgiosdo primeiro homem ;
em segundo lugar, impossvel determinar uma cronolo-
gia segura.
Vejamos como os sbios devem resolver o problema. 0 primeiro
trabalho pertence geologia. Ao estudar as vrias fases por que a
terra foi passando depois de se formar a crusta, os gelogos distinguem
cinco eras ou perodos de maior ou menor durao. Conforme a natu-
reza dos terrenos e a ordem da sua sobreposio, costumam designar-se
pelos nomes de era arcaica, primria, secundria, terciria e quater-
nria. Avida comea na era primria, mas smente nos terrenos qua-
ternrios se descobrem sinais certos do homem. At hoje no foi ainda
possvel demonstrar o seu aparecimento na era terciria. Por sinais
certos, entendem-se no s as ossadas que do um testemunho incon-
testvel da existncia do homem, mas ainda outros objectos que foram
com certeza por ele trabalhados ou utilizados. Tais so os slices
talhados, os estiletes, as agulhas e arpes de osso, os colares e pen-
dentes que lhe serviam de ornato, Todos os pr-historiadores so con-
cordes em afirmar que os slices amigdalides do tipo chelense ( 1 ) s)
os vestgios mais antigos da existncia do homem, Em 1 868, o P.e Bor e-
GEOIS, reitor do Seminrio menor de Pontlevoy, descobriu em Thenay
(1) Sob o aspecto arqueolgico, e considerada a matria, a forma e o
grau de perfeio dos instrumentos, das armas, etc., trabalhados pelos
homens primitivos, costumam distinguir-se trs idades : a idade da pedra, a
do bronze e a do ferro.
A idade da pedra subdivide-se em trs perodos : eoltico ou da pedra las-
cada, paleoltico ou da pedra talhada e neoltico ou da pedra polida. O perodo
paleoltico divide-se ainda em quatro pocas conhecidas pelos nomes dos
lugares onde parecem dominar os diversos tipos caractersticos: a poca
chelense (de Ohelles, comuna do Seine-et-Marne ), a poca mustierense (de
Idoustier, na Dordonha), a poca solutrense (de Solutr, comuna do Saone-et-
-Loire ), e a poca madalenense (de Madeleine, Dordonha).
1 0
146 OHOMEM
ANTIGUIDADEDOHOMEM
147
(Loir-et-Cher), nas camadas margosas do mioceno (1 ), numerosos elitos
ou slices lascados que pareciam dar sinais de trabalho humano. Mas
no congresso do Trocadero em 1 878, a comisso cient fi ca, por maioria,
foi de parecer contrrio. Reconheceu-se que esses elitos podiam tam-
bm ser efeito de agentes naturais e que, por exemplo, os slices arras-
tados por uma torrente podiam, ao chocar entre si, produzir os lasca-
mentos que o P.e B OURGEOIS atribura mo do homem. Portanto, no
existe prova alguma em favor da existncia do homem na era terciria,
A cronologia deve, por conseguinte, fixar-se, enquanto no se
demonstrar o contrrio, a partir da era quaternria. Ora esta divide-se
em duas partes; a glaciar e a moderna. A glaciar subdivide-se em
trs fases principais de invaso dos glaciares, seguidas de um perodo
de retraimento. No comeo da era quaternria no se encontram restos
de esqueletos humanos; em compensao os mais antigos slices traba-
lhados pelo homem, que se encontram, so colocados pelos gelogos no
tempo que precedeu a segunda invaso glaciar.
Todas as tentativas de cronologia devem, pois colocar a o seu
ponto de partida Mas como poderemos avaliar a durao da era qua-
ternria? Os gelogos procuraram conhec-la baseando-se na marcha
dos glaciares. Uns, como MORTILLET, elevam a idade do gnero humano
a duzentos mil anos, outros contentam-se com vinte a cinquenta mil.
A diferena destes nmeros basta para mostrar quo faltos de preciso
so por enquanto os resultados da cincia.
Concluso. Como a f no fixa nmero algum, no
pode estar em contradio com a cincia, Esta, porm, no
possui por enquanto dadossuficientespara resolver o pro-
blema, que deve sempre permanecer no seu domnio (=),
Bibliografia. L'Ami du Clerg, 1 Maro 1 923 (a. 9). Mons.
FARGES, Le Cerveau, l'Ame et les Facults (Berche e Tralin),P, JANET,
Le Matrialisme contemporaira.Mons. DUILI-IDESAINT-PROIET, Apolo-
ge scientifique de la Foi.GUIBERT, Le conflit des croyances reli-
gieuses et les sciences de la nature; Les Origines. POULINET LOUTIL,
Dieu (Bonne-Presse ). No Dic. ap, de la Foi: DARIO, art. Matria-
lisme; COCONNIER, Art. Ame; Dr. SURBELD, Art. Crbrologie; P. DEMUN-
NYNCK, Art. Dterminisme; P.es B REUIL e BOUYSSONIE, Art. L'Homme
prhistorique d'apres les documents palontologiques; GUIBERT, Unite
de l'Espece lzumaine. DAUMONT, Le Problrne de l'evolution de
I'homme (Sc. et Foi). DENADAILLAC, L'homme et le singe (B lond),
(1 ) A era terciria compreende quatro perodos : enceno, oligoceno,
mioceno e plioceno. Foi numa camada do mioceno que o P. B ourgeois encon-
trou os slices mencionados.
(2) Para o futuro far-se-B o sem dvida outras descobertas. Sejam
porm quais forem, em nada podero modificar a nossa concluso, nem
opor-se F catlica que ensina: 1 . que no existe cronologia bblica,
2. que a antiguidade do homem um problema que pertence cincia e
no F.
Le problme de la vie
(Masson). DE QUATREFAGES,
L'espce humaine
(Alcan ), DE LAPPARENT,
L'anciennet de l'homme et les
slex taills
(B lond), M. B OULE,
Les hommes fossiles, lments de Palontologie
humaine. Acerca deste Iivro veja-se a recenso dos tudes (5-20 Maro
1 921 ) e a Crnica de Pr-histria na Rev. a'Ap. (1 e 1 5 Abril 1 921 ).-
VIALLETON,
L'origine des titres vivants, L' Illusion transformiste, Paris,
1 929. V, MARC OZZI
La vita e l'uomo (Milo) ; OB ERMAIER e G. B ELLIDO,
El hombre prehistrico y
los origenes de la Hunianidad
(Madrid) ;
B ERGOUNIOUX,
Esquisse
dune histoire de la vie (Paris).
1 48
1 . Reli-
gio em
geral.
2. Revela-
o.
SECO III
RELAESENTRE DEUSE O HOMEM
C APITULO I.RELIGIO E REVELAO.
1 . Dogmas ou crenas.
a)Elementos, 2. Moral.
A. Conceito.3. C ulto,
b) Definio.
l c) Objeco.
a) Adversrios.
(1, metafsica. A criatura deve ren-
der homenagem ao criador.
2, psicolgica. A religio corres-
l
ponde s aspiraes da alma.
3. histrica. A religio um facto,
universal,
B , Necessi-
dade.b) Provas.
C. Possibi-
lidade.
2. Directa.
No h im-1 No repu
possibili- 3) do objec- I gna a re-
dade dato reve-{ velao
partelado. dos mis-
tItrios,
a) sentido da palavra necessidade.
C . Necessi-
1. moral, na hiptese da religio
dade.
b) Dupla ne-natural.
cessidade. 2. absoluta, na hiptese da religio
sobrenatural.
b) Provas.
A RELIGIO
1 . Arg. filos-
fico. Explica 1 ) teoria
a origem do 2) teoria
sentimento 3) teoria
religioso pela I
2, Arg. hist-r
0 animismo seri a.
tico,
a forma primitiva
das religies.
1 . Arg. nega- 1 Refutao das teoria s.
tivo,racionalistas.
0 primeiro homem
2. Arg. posi-ensinado por Deus,
uivo.como a criana pe
los pais.
1 , Ateus.
2, Destas e Racionalistas,
1 . Indirecta, C rena universal.
1 1) de Deus.
2) do homem,
naturista.
sociolgica.
psicolgica..
RELAESENTREDEUSE0 HOMEM149
DESENVOLVIMENTO
Delaesentre Deuse o homem.
Diviso do captulo.
132.Relaesentre Deuse o homem. de grande
importncia conhecer asrelaesque existem entre Deus,
Criador e Providncia, e o homem dotado de alma racional,
livre e imortal. E incontestvel que a relao de dependn-
cia entre a criatura e o criador impe ao homem deverespara
com Deus, e que o homem, s com o auxlio da razo, pode
conhecer, maisou menosperfeitamente, o conjunto dasobri-
gaesque constituem a religio.
Masa capacidade da razo no vai maislonge. A priori
no nospoder dizer se asrelaes, que devem existir de
direito, so asque existem de facto, porque asrelaesque
se estabelecem entre duaspessoasno dependem sempre e
nicamente da ordem natural dascoisas, mastambm, e dum
modo particular, da sua vontade livre. Ora s a histria
nesta matria nospode elucidar. Torna-se poisnecessrio
consult-la para sabermosse, alm doslaosnaturaisque
unem a criatura ao criador, aprouve a Deusestabelecer
outrasrelaescom a humanidade, se elevou o homem a um
destino maisalto do que aquele a que tinha direito e, conse-
guintemente, se lhe impsnovosdeveres.
Como poderemossaber ao certo se esta ltima hiptese
verdadeira ? Se Deusfalou humanidade, no h dvida
que temosobrigao de crer na sua palavra, maspara isto
necessrio que esta interveno seja acompanhada de sinais
to clarosque no deixem a menor dvida.
133. Diviso do captulo. A indagao histrica da
verdadeira religio supe trsproblemaspreliminares: 1. que
Religio em geral; 2. que a Religio revelada; 3. quais
so ossinaispara reconhecer a Revelao, Trataremosagora
dosdoisprimeiros, deixando o ltimo para o captulo se-
guinte.
a) H iptese
racionalis-
ta. Religio
de origem
humana.
C , Origem.
b) H iptese
catlica.
Religio de
origem
vina.
A. Noo e espcies.
a) Adversd-
rios.
RELIGIO EM GERAL151
150A RELIGIO
Art. I, A Religio em geral.
134. Esta parte, que trata da religio em geral, pode
dividir-se em trspargrafos: 1. Conceito da religio
1 Necessidade da religio; 3. Origem da religio.
1, ARELIGIO EM GERAL, ELEMENTOS, DEFINIO,
OBJECO.
135. Etimolbgicamente, a palavra religio deriva :
a) segundo uns (CicERo), de relegere recolher, ajuntar, con-
siderar com cuidado, e ope-se a negligere, fazer pouco caso,
negligenciar ; a religio seria, pois, a observncia fiel dos
ritos; b) segundo outros (LAcriiNcto, S. JERNIMO, S. AGOS
TINHO), de religare, ligar, e teria por fundamento o lap que.
prende o homem a Deus, Embora a primeira etimologia
parea maisprovvel, a segunda maissimplese indica,
melhor a razo de ser da religio,
136.-1, Elementos constitutivos da Religio. H6.
doismtodospara determinar oselementos que constituem a
religio em geral ; a priori e a posteriori, a) A priori.
Se examinarmoso que j conhecemosacerca da natureza de
Deuse do homem, podemosdeduzir asrelaesprovenientes
de o primeiro ser Criador e Senhor, e o segundo, criatura e
servo, b) A posteriori. Se em vez de considerarmosa
religio duma maneira abstracta, interrogarmososfactose
estudarmos luz da histria o chamado fenmeno religioso,
tal como nosaparece no passado e no presente, fcil des
cobrir o fundamento de todasasreligies.
Por estesdoisprocessoschegaremosao mesmo resultado
e veremosque a religio encerra trs elementos: crenas,
preceitose culto,
1. Crenas ou dogmas, Nenhuma religio pode sub-
sistir sem um certo nmero de crenasacerca da existncia
e natureza da divindade e da existncia e sobrevivncia da
alma humana. Sem dvida, afirma QUATREFAGES, a religio
pode ser rudimentar, muitasvezespueril ou extravagante.
masnem por isso perde o seu carcter essencial, .. Todas
asreligiesse baseiam na crena de algumasdivindades.
Osconceitos, que ospovosformaram dosseresque venera-
vam ou temiam, no podiam certamente ser osmesmos.
Oser invocado pelo selvagem e pelo maometano, pelo judeu
e pelo cristo o senhor de quem dependem osseusdes-
tinos; todosigualmente lhe dirigem oraescom esperana
de obter favorese afastar calamidades. Na base da religio
encontramosa f numa divindade superior, de que depende
o nosso destino e que, por isso, convm tornar propicia,
2. Preceitos fundadosna distino entre o bem e o mal,
Todasasreligiesimpem obrigaesmorais, de cujo cum-
primento ou infraco depende a recompensa ou o castigo,
Se se admite um Senhor Supremo, evidente que a impie-
dade e a injustia no podem receber o mesmo prmio que
a justia e a piedade,
3. Culto, isto , ritos, cerimniasexteriores, oraes,
sacrifcios, pelosquaiso homem manifesta o seu respeito e
a sua gratido para com o seu Senhor e Benfeitor, confessa
a sua dependncia, implora osfavoresda divindade e aplaca
a sua ira. 0 culto a continuao e a consequncia da f
num ou maisseressuperiores. Por isso, encontrmo-lo
sempre, maisou menosperfeito, em todasasreligies,
137. 2. Defini0o. A religio, cujoselementos
constitutivosacabamosde expor, pode poisdefinir-se : o con-
junto dascrenas, deveres e ritos, pelosquaiso homem
confessa a existncia da divindade, lhe rende assuashome-
nagense implora a sua assistncia,
Nota. A definio precedente aplica-se religio em
geral, mas conveniente distinguir a religio natural da
sobrenatural. a) A religio natural o conjunto das
obrigaesque dimanam para o homem do facto da sua
criao e que pode conhecer ajudado semente pela razo,
b) A religio sobrenatural ou positiva o conjunto das
obrigaes, impostasao homem em consequncia duma reve-
lao divina, que no derivam necessriamente da natureza
dascoisas,
1 38. 3. Objeco. Negam alguns que todas as religies con-
tenham estes tits elementos essenciais religio em geral. E possvel
encontrar em todas uma espcie de culto, se designarmos por esta pala-
1 52A RELIGIO
RELIGIO EM GERAL1 53
vra as inumerveis supersties. Mas no podemos dizer o mesmo das
crenas e dos preceitos. a) Quanto s crenas, h religies que no
admitem nenhuma divindade. Tal , por exemplo, a religio dos selva-
gens cujos elementos, segundo REINAC H (Orpheus), so o animismo, a
magia, os tabus e o totemismo. b) A moral, diz TYLOR, no tem
relao alguma com a religio ou pelo menos s tem relaes muito
imperfeitas (1 ). Os principais factores do desenvolvimento da moral
devem ter sido, conforme afirma G. LE B ON ( 2), a utilidade, a opinio, o
meio, os sentimentos afectivos, a hereditariedade, mas nunca a religio.
Refutao. A. Crenas. Julga Reinach que a religio dos
selvagens ou Primitivos, designada muitas vezes com o nome de Fei-
ticismo ( 3 ), compreende algumas supersties e actos religiosos, tais
como o animismo, a magia, os tabus e o totemismo, mas no cr numa
divindade.
Expliquemos primeiro os termos: 1 . 0 animismo a crena na
existncia de espritos, dos quais uns esto ligados a corpos servindo-
-lhes de alma, outros so independentes dos corpos mas podem comu-
nicar com eles. 0 animista povoa, pois, o mundo de almas e espritos
com quem pode travar relaes (4),
2. A magia a arte de comunicar com os espritos que se supem
nos corpos, de captar a sua influncia e associ-los a si, por meio de
um pacto, para obras ocultas.
3. 0 tabu uma interdio de carcter sagrado. Esta palavra
aplica-se a tudo o que a autoridade competente declarou sagrado e
interdito, pessoas, animais, plantas, lugares, palavras, aces, etc.
sob pena de mancha ou pecado em caso de infraco, que leva morte
ou a outro dano, a no ser que se alcance antes a absolvio, ou se d
uma satisfao por meio duma penitncia apropriada, que de ordinrio
uma oferta ou um sacrifcio ( 5).
(1 ) TYLOR, A civilizao primitiva.
(2) G. LE B oN, Les premires civilisations.
(3) o O feitio um objecto vulgar sem nenhum valor intrnseco, mas
que os pretos conservam, veneram e adoram smente por julgar que nele
habita um esprito ... Uma pedra, uma raiz, um vaso, uma pena, uma
concha, um pano garrido, um dente de animal, uma pele de serpente ...
tudo, numa palavra, pode servir de feitio para aquelas crianas adultas , .
RVILLE, Les religions des peuples noncivilises. H trs espcies de feitios:
Os feitios familiares, cuja virtude provm das relquias dos antepassados e
que protegem a famlia, a aldeia ou a tribo. Os feitios dos gnios bons e os
feitios dos espritos maus ou feitios de vingana.
0 feitio diferencia-se: a) do amuleto porque a fora e a influncia
daquele provm do esprito que nele habita, ao passo que o amuleto no
passa dum pequeno objecto, que as pessoas trazem consigo para as preservar
das desgraas e lhes procurar a felicidade em virtude duma fora secreta
misteriosa e inconsciente. b) cio talism, pequeno objecto ornado de sinais
cabalsticos, que as pessoas no trazem de ordinrio consigo, mas destina-se
a exercer uma aco determinada sobre as coisas ou acontecimentos,
modificando-lhes o curso ou a natureza (V. Mons. LE RoY, La Religiondes
primiti fs ).
(4) 0 animismo para os selvagens o que o espiritismo para os
povos civilizados.
(5) Mons. LE RoY, ob. cit.
4. 0 totemismo difcil de definir. Para REINAC H uma espcie
de culto dos animais e das plantas que se julgam aliados e aparentados
com o homem , A palavra totem, de origem indiana ( otam, marca ou
insgnia) designa o animal, o vegetal ou, mais raramente, o mineral ou
o corpo celeste no qual o clan reconhece um antepassado, um protector
e um sinal de unio. Apesar de o totemismo no ter criado o tabu,
que se funda noutro principio, contudo foi ocasio de numerosos tabus.
Por isso, aos membros da famlia, que tem o nome dum totem ou que
dele se vale, proibido mat-lo, ou com-lo, a no ser em sacrifcio
e maneira de comunho, tocar nele ou at olhar para ele (1 ), 0 ani-
mal ou vegetal, de que se devem abster, umas vezes considerado como
sagrado, outras como imundo, De facto, no uma coisa nem outra,
mas smente tabu. A vaca tabu para os Hindus, o porco para os
Muulmanos e Judeus, e o co, para quase toda a Europa (2).
Ser verdade que a Religio dos Primitivos consistia unicamente
nalgumas crenas e prticas supersticiosas, como aquelas de que acaba-
mos de falar? Sem dvida, diz Mons. LE RoY, h feiticismo entre os
Negros, mas h tambm mais alguma coisa. 0 Feiticismo no todo o
seu culto, e muito menos toda a sua religio... Quem viveu muitos
anos com os nossos Primitivos, . , chega depressa concluso que, alm
do Naturismo, do Animismo e do Feiticismo, existe sempre real e viva,
ainda que mais ou menos velada, a noo dum Deus superior,superior
aos homens, aos manes, aos espritos e a todas as foras da Natureza.
As outras crenas variam segundo as cerimnias ; esta universal e
fundamental (3),
A Religio dos Primitivos no como muitas vezes se tem afirmado,
um Feiticismo puro e simples. Enecessrio distinguir os verdadeiros
elementos da Religio, daquilo que apenas uma contrafaco da
religio.
B, Moral. Quanto ao segundo elemento da religio, a Morai,
poder-se- acaso afirmar que o conhecimento de Deus no tenha exer-
cido influncia alguma na vida dos povos primitivos?... Responder
por ns o prprio REINAC H . A humanidade cr instintivamente que h
relao ntima entre a religio e a moral, no obstante alguns filsofos
pretenderem que a moral simples criao da razo, .. Na classe dos
tabus devemos fazer uma restrio (moral), pois as suas proibies,
pelo facto de terem carcter de moralidade permanente, so apenas um
caso particular, Ora uma nota caracterstica das antigas legislaes
religiosas.. , consiste em no distinguir claramente as proibies morais,
das que so de natureza supersticiosa ou ritual (4 ),
Concluso, Tanto nos preceitos, como nas crenas, necessrio
fazer distino entre as proibies religiosas e as supersticiosas, Todas
(1 ) Mons. LE ROY, ob. cit..
(2) S. REINAC H , Orpheus.
(3) Mons. LE ROY. ob. cit..
(4) S. RElxncH , Cultos, Mitos e Religies.
1 54 ARELIGIO
NECESSIDADEDARELIGIO155
as religies, ainda as mais rudimentares, como a dos povos Primitivos
encerram a crena num ser superior e obrigaes que dimanam deste
conhecimento.
2. NECESSIDADE DARELIGIO.
139. 0 vnculo da dependncia que liga o homem a.
Deus o fundamento da Religio. Vamosver se o homem
pode libertar-se deste vnculo e rejeitar asobrigaesque
lhe impe. A religio ser um dever a que o homem no
pode esquivar-se?
1, Adversrios. A necessidade da religio rejei-
tada pelos: a) ateus. Quem no admite existncia de
Deus, como osateus, ou nega que seja cognoscvel, como os.
positivistas e osagnsticos, deve logicamente afirmar que a.
religio no tem razo de ser; b) indiferentistas, que sem
ser ateus, pensam que Deusno d importncia snossas.
homenagens; c) por algunsdestas, que no acreditam na
utilidade da orao, ou julgam que Deusdeve ser adorado
em esprito e verdade e no com culto externo e pblico,
140. 2. Tese. Todo o homem tem obrigao moral
de professar a religio, isto , de reconhecer a Deuscomo
seu Senhor e Soberano, e de lhe prestar culto. Esta pro-
posio apoia-se em trsargumentos; metafsico, psicolgico
e histrico.
A. Argumento metafsico. 0 facto de Deusser
nosso Criador, nossa Providncia e nosso Legislador, o que:
ficou demonstrado na primeira seco, impe ao homem
deveresa que no pode subtrair-se. Como Criador, tem
direito snossashomenagense adoraes. preciso que,.
por actosde culto, reconheamoso seu domnio supremo e
a nossa dependncia absoluta. Sendo Providncia, Deus
conserva-nosa vida e cumula-nosde benefcios; tem, pois,
direito nossa gratido. Como Legislador,falamos semente
da religio natural, d-nosa razo pela qual podemosdis-
cernir o bem do mal. Devemos, portanto, obedecer a esta
lei, que nos testemunhada pela conscincia, e reparar as
faltaspela penitncia quando a transgredirmos.
B. Argumento psicolgico. Se interrogarmosas.
faculdadesda nossa alma, reconheceremosa necessidade da
religio, porque s ela pode satisfazer assuasaspiraes.
1. A inteligncia procura irresistivelmente a verdade,
que s pode encontrar em Deus, Verdade infinita. Ora
fim da religio levar a inteligncia a Deuse arranc-la s
angstiasda dvida. Como poderemosviver em paz, diz.
JOUFFROY, se no sabemosdonde vimos, nem para onde
vamos, nem o que devemosfazer no mundo, onde tudo .
enigma, mistrio, objecto de dvidase inquietaes? ( 1 ),
A religio fixa e sossega a nossa alma mostrando-lhe a solu-
o dessesproblemas,
2. A vontade tende para o bem; maspara o alcanar
sente-se fraca, perplexa e precisa de auxliosque no encon-
tra fora da religio,
1 0 corao tem sede de felicidade, que em vo pro-
cura nasriquezas, na glria e nosprazeresdeste mundo.
A felicidade, que svezesencontra, depressa murcha e se
descolora; jamaiscumpre assuaspromessasno o que
antesparecia e muito menoso que desejvamos. A felicidade
deste mundo ilusria e fugaz como sonho enganador, S a
religio capaz de encher o vcuo da nossa alma, dando-nos
a posse de Deus.
C, Argumento histrico.A histria testifica to clara-
mente o facto da universalidade da religio, que algunsantro-
pologistasdefiniram o homem um animal religioso. Ora
este facto seria inexplicvel se a crena no sobrenatural ( 2 ).
no correspondesse a uma aspirao ntima da alma humana,
se no se impusesse ao homem como uma necessidade.
Ningum hoje se atreve a pr em dvida que a univer-
salidade da religio facto histericamente incontestvel.
1. certo que algunspaleontlogos, como MORrILLET,
o negaram a respeito do homem primitivo e pretenderam que
(1) .Me2anges philosophiques.
(2) S obrenatural, como aqui o empregamos, designa o mundo invisvel
distinto do nosso, onde existem seres reais, vivos, pessoais e livres, com os
quais o homem pode comunicar. No se deve confundir esta significao
com o sentido restrito da palavra, que lhe do os telogos catlicos, para
designar a revelao prpriamente dita e a graa, meio sobrenatural, isto ,
superior s exigncias da natureza, para chegar viso beatfica.
1 56 ARELIGIO
a pr-histria no podia provar a existncia da religio na
idade da pedra talhada, porque essasgeraes, to afastadasde
nsdesapareceram sem deixar vestgiosdascrenasreligiosas.
Masno sucedeu assim. Em muitasestaespaleolticas
encontraram-se instrumentosde culto, talismse amuletos
unnimemente reconhecidoscomo taispelospaleontlogos.
2. Osnossosadversriosalegaram tambm o exemplo
dosselvagens actuais. Algunsexploradores, como LUBBOCK,
procuraram at mostrar que no tinham encontrado entre esses
povosnenhuma crena religiosa. J vimos(n. 138) o qu e.
se deve pensar acerca desta opinio, baseada em investigaes
superficiais, como atesta o clebre professor holandsTIELE,
no seu Manual da histria das Religies: Aafirmao de
que h povosou tribossem religio, funda-se em observaes
inexactas, ou numa confuso de ideias. . . Podemospoischa-
mar religio, tomada no sentido maislato, um fenmeno
prprio da humanidade inteira.
3, Verdade que ospositivistas, como A. COMTE, ao
mesmo tempo que reconhecem o facto, procuram negar-lhe o
valor, deixando entrever o desaparecimento dosdogmasnum
futuro maisou menosprximo. Dizem que religio suce-
der a cincia, e era teolgica, a religio da humanidade;
que esta corresponder de modo definitivo ao irredutvel ins-
tinto da natureza humana. mera hiptese que no se
apoia em fundamento algum e que, em todo o caso, no per-
tence ao domnio dosfactos. No preciso levantar o vu
do futuro nem indagar o que a humanidade vir a ser um
dia ; trata-se s de saber o que foi e o que actualmente .
No terreno dosfactos, o nico em que se pode colocar
um positivista consequente consigo mesmo, podemosdizer
que oshomensde todosostemposno somente afi rmaram a
existncia do sobrenatural, masacreditaram at na possibili-
dade dasrelaescom seressuperiorese de ostornar pro-
pciospela orao, ou por outrosmeios. Todasasreligies
procuraram pr o homem em relao com a divindade, e a
Religio natural, por maissedutora que parea nasdescri-
esde J. J. ROUSSEAU(Profession de foi d'un Vicaire Sa-
voyard) , de V. C OUSIN e de J, SIMON(La Religion naturelle),
foi sempre considerada insuficiente,
Podemos, por conseguinte, concluir que a necessidade da
ORIGEMDARELIGIO
Religio demonstra-se pela razo, pelasaspiraes da alma
humana e pela histria.
Nota. Poderamosaqui indagar se a necessidade duma
Religio em geral inclui o dever de cumprir certos actos de
religio em particular, e que actos especialmente atraem a
benevolncia da divindade. Remetemoso leitor para a nossa
obra, Doutrina catlica, onde se trata da orao, dosactos
do culto e do sacrifcio ( 1 ) ,
3. ORIGEM DARELIGIO,
141. Estado da questo. Investigar a origem da
Religio equivale a perguntar se foi inventada pelo homem,
ou teve origem divina, Oproblema pode ser encarado sob
doisaspectos; histrico e dogmtico. 0 apologista no pode
trat-lo s histricamente, masdeve ao mesmo tempo mostrar
que no h oposio entre um e outro.
Duashiptesesprincipaisforam propostaspara explicar
a origem da religio; a primeira, sustentada pelosraciona-
listas, supe que a religio primitiva foi instituda pelo homem
sob a forma politesta; a segunda afirma que o homem no
comeo foi instrudo por Deuse que a religio primitiva foi
o monotesmo, Explanemosbrevemente estasduasopinies.
142.I, Hiptese racionalista. 1. Preliminares.
Antesde expor este sistema, convm notar que muitoshisto-
riadoresdasreligies, de tendnciasmaterialistase positi-
vistas, do a maior importncia ao problema de que nos
ocupamos, no por curiosidade filosfica, alismuito legtima,
mascom o propsito preconcebido de encontrar terreno em
que possam atacar o catolicismo.
Estudam osfactos religiosos como o fsico e o qumico
osda natureza. Aplicam o mtodo positivo, descrevem, ana-
lisam e classificam osfenmenosreligiososcom preciso rigo-
rosa ; depois, como em qualquer cincia positiva, procuram as
leis que presidem ao aparecimento e ao desenvolvimento do
sentimento religioso,
( 1) V. Doutrina Catlica n.' 171, 327, 381 eseg.
1 57
158ARELIGIO
Deste modo passam revista screnas, prticas, cultos,
superstiese magiasdospovosantigose modernose preten-
dem tirar esta concluso ; todasasreligiestm origem natu-
ral, que no pressupe nenhuma interveno superior, V-se
fcilmente quaisasconsequnciasdesta hiptese, se a sua
verdade fosse histricamente demonstrada. Seria a runa do
dogma catlico, que ensina que Ado e Eva foram instrudos
nosseusdeverespela revelao divina.
2. Exposio do sistema racionalista. A hiptese
racionalista funda-se em doisargumentos; um filosfico e
outro histrico.
A, Argumento filosfico. A maioria dosraciona-
listasperfilha a tese da evoluo e expe assim o seu pensa-
mento ; Ohomem, pelo facto de provir do animal por longa
srie de transformaeslentas, no tinha ao princpio religio
alguma; depois, pouco a pouco, foi-se tornando cada vez mais
religioso, A sua religio no comeo era vaga e grosseira,
como podemosactualmente verificar nosselvagens, que repre-
sentam ao vivo oscostumese ascrenasdoshomensprimi-
tivos, masaperfeioou-se e idealizou-se gradualmente ;
o
homem primitivo primeiramente foi animista e feiticista,
depoisidlatra, a seguir politesta e finalmente monotefsta.
Asdiversascrenasreligiosasso verdadeirasfasesentre o
estado selvagem e o civilizado,
A evoluo apenasparte do sistema racionalista; por-
que, embora baste para explicar em certo modo o desenvolvi-
mento dasreligies, no explica como nasceu o sentimento
religioso. Logo, o problema da origem da religio no se
resolve pela evoluo. Quer o homem tenha sido sempre
religioso, quer no, falta saber, donde lhe veio esta necessi-
dade do sobrenatural, Entre asteoriaspropostaspelosra-
cionalistas, para solucionar o problema, asprincipaisso ;
a
naturista, a sociolgica e a psicolgica.
1, Teoria naturista, 0 homem, medida que se
libertava da animalidade, queria conhecer ascausasdosfen-
menosmaravilhososda natureza que maiso impressionavam,
Incapaz de descobrir a causa real, supsque havia agentes
que osproduziam a seu bel-prazer. Deste modo, foi povoando
ORIGEMDARELIGIO159
o mundo de seresinvisveis, almas, gnios, deuses, etc, .
Portanto, a origem da religio deve procurar-se na admirao
do homem perante a grandeza dosfenmenosatmosfricos, na
ignorncia e no temor fsico ou moral, nasperturbaesda
conscincia nascidasdo temor do castigo. Esta teoria foi
adoptada, ao menosem substncia, pelospositivistas, como
C omm, LITTRg, SPENCER, LUBBOCK e, maisrecentemente, R-
VILLE.
2, Teoria sociolgica, Segundo ospartidriosdesta
teoria (DURKHEIM, MAUSS, LVY, HUBERT, , , ), a religio foi
obra da sociedade, Ao princpio havia certo nmero de cren-
ase proibies(tabus) impostaspela colectividade aosindi-
vduos, sem asquaisnenhuma sociedade poderia existir nem
desenvolver-se. A prova de que esta a origem da religio,
dizem ossocilogos, encontra-se no facto de o culto e as
outrasmanifestaesreligiosasterem sempre feito parte da
vida social,
3. Teoria psicolgica. Ainda que ospsiclogosdefi-
ram nasexplicaes, todosso unnimesem afirmar que a
religio provm da natureza do homem, e que ascrenas, a
moral, o culto, numa palavra, toda a organizao religiosa
fruto do corao humano, 0 principal argumento em que se
apoiam, funda-se na permanncia e identidade do fenmeno
religioso. Visto que osmesmosefeitossupem asmesmas
causas, deve rejeitar-se, dizem eles, a hiptese duma simples
coincidncia ou do acaso, e admitir, como causa nica poss-
vel, a identidade da natureza humana. E necessrio, diz
REINACH (Cultos, Mitos e Religies), procurar a origem da
religio na psicologia do homem ; no do homem civilizado,
masdo que dele maisse afasta, na psicologia dosselva-
gens,
Com esta teoria pode relacionar-se a teoria modernista, que atri-
bui a origem da religio aco de Deus ou do divino na subconscien-
-cia. Segundo os partidrios destes sistema, as relaes entre Deus e o
homem estabelecem-se no mais ntimo da alma, na parte que constitui o
domnio do inconsciente, A religio nascer no dia em que as relaes
ntimas entre Deus e o homem sarem da subconscincia e forem conhe-
cidas pela conscincia que far, ento somente, a experincia individual
das suas relaes com o invisvel. Nesta hiptese, o subconsciente o
lao de unio entre os dois mundos: o sobrenatural e o natural (Cf, W.
JAMES, A experincia religiosa).
i
so causaspassageiras, que devem desaparecer com a expli-
cao dosfenmenosmaravilhososda natureza,
2, Ser maisslida a teoria sociolgica, quando diz que
o sentimento religioso efeito da influncia social? E certo
que um dostraoscaractersticosdo fenmeno religioso ser
colectivo. Esta qualidade pareceu to essencial a alguns
apologistasque lhe exageiaram por vezesa importncia,
como o provam asseguintespalavrasde BRUNETIERE : No
h religio individual ; ningum pode ser o nico da sua reli-
gio, como tambm no pode ser o nico da sua famlia, ou
da sua ptria ; ptria, famlia, religio so expressesessen-
cialmente colectivas,
De facto, a religio ordinriamente social, o que no
nosdeve causar admirao, porque oslaosque unem a
Deusso osmesmospara todososhomens. Masno deve
concluir-se daqui que o homem s pode ser religioso, fa-
zendo parte da sociedade ; nem muito menos, que a origem da
religio est na colectividade. 0 homem pode ser religioso
vivendo isolado no deserto, como do testemunho oseremitas
e osanacoretas, Quando muito lcito afirmar que o fen-
meno religioso anda geralmente unido forma social, mas
falso dizer que seja esta a sua causa, 0 sociologismo no
resolve, portanto, o problema.
3, A teoria psicolgica e a teoria modernista no se
enganam quando do grande importncia ao sentimento reli-
gioso e influncia de Deusna alma, masso insuficientes
se pem de parte o influxo da razo,
b) 0 argumento histrico, invocado pelosracionalistas,
tambm no tem valor algum, A histria no prova que o
animismo seja a maisantiga forma religiosa, De facto, diz
o P, DE B ROGLIE, existe uma concepo religiosa muito dife-
rente da concepo animista e to antiga como ela, Parece
at que lhe irredutvel e, que no pode, de forma alguma,
ter nela a sua origem, E a concepo da divindade que
encontramosnosVedasda ndia e na religio oficial do
Egipto e que parece ser tambm a antiga religio da Sria,
0 que caracteriza estasreligies um conceito da divin-
dade muito elevado; embora vago ( 1 ), Mas, supondo
(1) P. DE BROGLIE, Problines et conclusions de l'ihistoire des religions.
1 1
1 60 A RELIGIO
ORIGEMDARELIGIO 1 61
B. Argumento histrico. Seja qual for a importn-
cia da filosofia na investigao da origem da religio, o pro-
blema pertence sobretudo ao domnio da histria. Assim o
compreenderam osracionalistase foram pedir histria os
argumentosque a filosofia lhesno podia dar, Pensaram
ento que o animismo (n. 138) constitua, por assim dizer,
o substracto dasreligiesdospovosamigos, Caldeus, Egpcios,
Chineses, e que desta forma primitiva, a simplescrena
nosespritosinvisveise nosgnios, tiraram a sua origem
asreligiesmaisperfeitase maiselevadas.
143. II, Hiptese catlica. D-se este nome
hiptese doshistoriadoresdasreligies, que, sem se apoiar
no dogma catlico, pensam que tambm admissvel e at
maisverosmil, s sob o aspecto histrico, atribuir a origem
da religio a uma revelao primitiva, e que a primeira
forma religiosa foi o monotesmo, Apoiam-se em doisargu-
mentos: um negativo, outro positivo.
A, Argumento negativo. Um dosmelhoresargu-
mentosem favor da tese catlica a falta de solidez e a in-
suficincia do sistema racionalista. Oshistoriadorescatlicos
no tm dificuldade em provar que asrazesaduzidaspelos
racionalistasno so convincentes.
a) Quanto ao argumento filosfico, notam que a dou-
trina da evoluo, est muito longe de ser verdadeira (I) e
de poder aplicar-se em todososcasos. Ora no processo
cientfico basear uma teoria religiosa numa hiptese no com=
provada, Ostrssistemasque pretendem explicar a origem
do fenmeno religioso, embora encerrem algo de verdade, so
contudo incompletos,
1. A teoria naturista, que atribui a origem da religio
ignorncia ou ao temor, poderia em rigor explicar o prin-
cpio do culto, masno d razo da sua permanncia, porque
(1 ) A histria das religies parece at contradiz-la. No nos ensina
porventura que as ideias religiosas nem sempre se aperfeioaram, mas que
ao contrrio algumas vezes se corromperam? Assim, os povos semitas no
raramente passaram do mais perfeito ao menos perfeito, do monotesmol, ao
politesmo, idolatria e ao feiticismo.
1 62
ARELIGIO
que a histria se declarasse em favor da tese raciona-
lista, no estaria ainda resolvido o problema da origem
da religio, porque da histria seria foroso passar pr-
-histria, e esta, como vimos, s pode dar-noselementos
muito incompletospara o resolver (n, 140,
Argumento
histrico).
B, Argumento positivo. Se considerarmoscomo
desabrocha em cada indivduo o sentimento religioso, vemos
que a criana recebe a religio de seuspaise do meio
em que vive, 0 homem nasce dotado de faculdadese
disposiesreligiosas, o seu corao aspira ao Infinito, ao
Divino, e a sua razo, cnscia da sua fraqueza e insufi-
cincia, eleva-se da contingncia do mundo at ideia de
Causa primeira, de Ser supremo, Este sentimento de
dependncia certamente uma dasprincipaisfontesda
crena em Deus,
Contudo, de ordinrio estasdisposiesno se desen-
volvem espontneamente, e a iniciao religiosa faz-se pela
tradio, Porque no poderemosento supor que o que
sucede todososdiasao indivduo, no tenha sucedido no
princpio
humanidade? Porque razo no poderia o pri-
meiro homem ser instrudo directamente por Deus? Julgar
esta hiptese inadmissvel equivale a dizer que Deusno
existe, ou, se existe, que se desinteressa da sua obra,
A ideia da revelao primitiva , portanto, verosmil. Alm
disso, tem a vantagem de nosexplicar a razo da identidade
essencial, que encontramosnasconcepesreligiosasde
todosostempose de todosospases.
Concluso. A hiptese catlica uma interpretao
dosfactosto simplese to lgica como a hiptese racio-
nalista. Sob o aspecto histrico no h dificuldade em
admitir s1, que a religio teve origem num
ensinamento
primordial
dado pelo Criador sua criatura, ensinamento,
que encontrou nas
aspiraes religiosas
do homem um ter-
reno bem preparado; e 2, que esta religio espiritualista,
por causa daspaixesdoshomens, foi-se degradando pouco
a pouco e
revestiu asformasmaisgrosseiras, excepto no
AREVELAO 1 63
povo judaico, que permaneceu monotesta, e guardou o dep-
sito da tradio primitiva ( 1 ),
Art, I I, A Revelao.
A religio natural,
como demonstrmos(n. 139), para
o homem no s um dever mastambm uma necessidade.
Masbastar a religio natural, pode perguntar-se? Certa-
mente basta, se entre Deuse a criatura apenasexistem as
relaesprovenientesda criao. Masse Deusestabeleceu
uma nova ordem, se lhe aprouve, por um dom meramente
gratuito, chamar o homem a uma vida sobrenatural que traz
consigo outrasverdadese outrosdeveres, nesse caso,
no
basta. Se essa hiptese se realizou, evidente que os
homenss teriam podido conhec-la pela revelao divina,
Logo o trabalho preliminar que se impe ao nosso estudo
procurar ; 1. o que a revelao;-2, se possvel;
3, 0 se necessria.
1, A REVELAO, NaO, Esrr:clES,
144.
1, Noo. Etimolgicamente, revelar (lat. re-
velare)
significa correr o vu que encobre um objecto e nos
impede de o ver.
a) No sentido genrico
da palavra, revelao a mani-
festao duma coisa oculta ou desconhecida, E
humana ou
divina
conforme for revelada pelo homem ou por Deus,
b) No sentido especial e teolgico, revelao a mani-
festao que Deusfaz ao homem de verdadesou deveresque
este ignora. Portanto, a revelao sempre um facto
sobre-
natural,
porque requer a interveno divina, que pode dar-se
de doismodos, ou quanto substncia, ou quanto ao modo
1, 0 Quanto substncia,
se a verdade revelada ultra-
passa asforasda razo; a revelao
prpriamente dita.
(1 ) Outra hiptese (MAX MULLER ), chamada
henoteismo, supe que
a religio provm do influxo de dois elementos : um subjectivo e outro
objectivo. O elemento subjectivo consiste na faculdade peculiar ao homem
de perceber o infinito, e de ter o sentimento do divino. 0 elemento
objectivo vem do universo e dos grandes fenmenos da natureza. Da unio
destes dois elementos nasce a ideia da divindade una, mas que pode
subsistir em vrios sujeitos, em oposieo ao moneteismo que afirma que os
atributos divinos e a divindade residem num ser nico.
POSSIBILIDADEDAREVELAO165 164ARELIGIO
2. Quanto ao modo, se a verdade revelada uma ver-
dade natural que, em rigor, a razo pode descobrir ; a reve-
lao imprbpriamente dita.
145. Falsas concepes da revelao. De qualquer
natureza que seja, a revelao nunca deve entender-se
maneira dosracionalistas ou dosprotestantes liberais,
que, seguindo KANT, SCHLEIERMACHER, RITSCHL e SABATIER,
aplicam a palavra revelao a certa comunicao que se esta-
belece com o Ser supremo, sobretudo pela orao ; 2, nem
maneira dosmodernistas, para quem a revelao no a
manifestao duma doutrina que tenha por objecto, como
elesdizem, verdadescadasdo cu (Loisv), massmente
a conscincia adquirida pelo homem das suas relaes com
Deus. Nesta teoria, a revelao completamente subjectiva,
e produz-se na conscincia de cada indivduo.
146. 2. Espcies. A. Atendendo ao modo como
se faz, a revelao pode ser imediata, ou mediata a) ime-
diata, quando vem directamente do prprio Deus; b) me-
diata, quando chega ao nosso conhecimento por intermdio
de outro homem, por exemplo, a revelao que nosfoi trans-
mitida pelosApstolos.
A revelao imediata subdivide-se em 1. revelao
interna, se Deusmanifesta a verdade por uma simplesaco
directa nasfaculdadesda alma, sem a acompanhar de sinais
visiveis; e 2, revelao externa, quando a luz que se faz na
alma acompanhada de sinaissensiveis,
B. Atendendo ao fim que pretende, a revelao 6:
a) privada, quando se dirige a uma ou vriaspessoaspar-
ticulares; b) pdblica, se se dirige a uma colectividade
(ex.: a revelao mosaica para o povo hebreu) ou a todo o
gnero humano (a revelao crist).
2,0 POSSIBILIDADEDAREVELAO,
147. Serd possvel a revelao, tomada como uma
comunicao feita por Deusde verdadesinacessveis, ou
no, razo humana, ou de preceitosque obriguem em
conscincia ?
1. Adversrios. Negama possibilidade da revelao ;
a) Osateus, materialistas, pantestas, etc., g evidente
que, para quem no admite a existncia ou a personalidade
de Deus, a interveno divina impossivel ; b) osdestas
e osracionalistas, que, na sua maioria, rejeitam a revelao
em geral, e a revelao imediata e a dosmistriosem par-
ticular.
148. 2, Tese. A revelao no envolve impossibi-
lidade quanto substncia, nem quanto ao modo.Esta pro-
posio prova-se com um argumento indirecto, e outro directo.
A. Prova indirecta fundada na crena universal.
Se examinarmosasreligiesdo passado e do presente, encon-
tramosque todosospovoscreram na existncia e, por conse-
guinte, na possibilidade da comunicao sobrenatural com
Deus. Ate a religio dosPrimitivosadmite relaescom os
seressuperiores(n, 138), No tm porventura todosos
cultososseuslivrossantos, onde esto consignadasasver-
dadesreveladas? OsPersaspossuem o Z end Avesta, os
HindusosVedas, osMuulmanoso Alcoro, osJudeusa
Bblia (Antigo Testamento), e, finalmente, osCristoso An-
tigo e o Novo Testamento,
B. Prova directa fundada na razo. Arazo nada
encontra que se oponha revelao, nem da parte de
Deus, nem da parte do homem, nem da parte do objecto
revelado,
a) Da parte de Deus. A revelao no repugna aos
atributosde Deusem geral, nem majestade e sabedoria em
particular, 1, Quem criou o homem no poder instru-lo
e dar-lhe uma norma de vida ? Em tal hiptese nada h que
se oponha majestade de Deus. 2, Tambm no contra
a sabedoria divina o facto da revelao, porque esta no
um retoque da obra de Deus, como supso racionalista ale-
mo STRAUSS. Tanto a revelao, como a criao foram
previstasdesde toda a eternidade. Embora se tenham reali-
zado no tempo, e nosapaream por isso como doismomentos
da aco divina, no so menoseternasno pensamento de
Deus,
166ARELIGIO
POSSIBILIDADEDAREVELAO167
R .
b) Da parte do homem, A revelao em nada preju-
dica a autonomia da razo, que permanece livre e indepen-
dente no campo dasindagaescientficas. Se, algumas
vezes, asverdadesque encerra so superiores razo, nunca
lhe so contrriasslonge de a contradizer, a revelao tem
geralmente por fim confirm-la e complet-la,
c) Da parte do objecto revelado.-1, E evidente que
Deuspode revelar verdades acessveis razo, que a inteli-
gncia s por si dificilmente descobriria. 2. Tambm se
compreende que possa revelar preceitos positivos, que no
provm da natureza dascoisase dependem da sua livre von-
tade; porque, como criador, Deus soberano senhor, e como
soberano, legislador. Tem, portanto, o direito de fazer leis
para precisar osmandamentosda lei natural e para exigir de
nsa submisso que toda a criatura lhe deve, e que tantas
vezesesquecemos, 1 A dificuldade comea quando se
trata de mistrios, isto , de verdadesque ultrapassam de tal
modo a razo que o homem no aspode descobrir, nem
sequer demonstrar, ou mesmo compreender depoisde conhe-
cida a sua existncia, Ser possvel a revelao de taisver-
dades?
149. Possibilidade da revelao dos mistrios.
A revelao dosmistriosno repugna nem da parte de Deus,
nem da parte do homem,
1, Da parte de Deus,Deus omnisciente, Se lhe
aprouver comunicar ao homem verdadesde ordem sobrena-
tural, (`) inacessveis razo humana, que motivospodero
impedi-lo? Mas, dir-se-, o mistrio sempre um mistrio;
e se Deuso revelar deixa de o ser, A revelao dum mis-
trio que permanece mistrio , por conseguinte, uma contra-
dio,
A contradio apenasaparente, Quando dizemosque
(1 ) S falamos aqui das verdades da ordem sobrenatural. No negamos
que haja mistrios na ordem natural. Pensamos, pelo contrrio, que a cien-
cia esta longe de ter resolvido todos os enigmas da criao. Quando o sbio
B erthelot dizia que o mundo hoje no tem mistrios, mostrava-se vaidoso
e presumido. Julgamos, porm, que a incapacidade da razo nesta matria
apenas acidental e que, quanto mais a cincia progredir mais o mistrio
recuar. Mias no sucede o mesmo com as verdades da ordem sobrenatural,
que sero sempre mistrios, pois so superiores natureza.
Deus revela um mistrio no afirmamosque nosfaz penetrar
da natureza ntima do objecto revelado, A revelao mostra-
-nossimplesmente a existncia duma coisa; d-nosa conhe-
cer, por exemplo, que subsistem trspessoasdistintasnuma
s natureza divina e no vai maislonge, No nosfaz com-
preender como , nem como pode ser; o mistrio fica, por-
tanto, incompreensvel. Mas, no se deve confundir incom-
preensvel com ininteligvel, Seria ininteligvel, se no fizesse
sentido, Ora no assim, Quando afirmamosque Jesus
Cristo est presente sob asespciessacramentais, sabemoso
que dizemos, e compreendemosque no h contradio entre
osdoistermosdo nosso juzo, 0 mistrio s comea quando
pretendemosindagar a sua natureza ntima,
2, Da parte do homem. 0 homem poderia rejeitar o
mistrio, se fosse absurdo e repugnasse razo, 0 mistrio
porm no contm absurdo algum, Ascontradiesaparentes
que osincrdulosjulgam encontrar nele, ou provm duma
explicao defeituosa, e ento a culpa dostelogos, ou
duma falsa interpretao da verdade proposta, e neste caso
a culpa deve imputar-se aosprpriosincrdulos.
Longe de repugnar razo, o mistrio pode-lhe ser de
grande utilidade. Alm de lhe abater o orgulho e recordar
a sua fraqueza e insuficincia, dificilmente se encontrar tema
maispropcio piedade afectiva do que osgrandesmistrios
de amor, taiscomo a SS,ma Trindade, a Incarnao, a Reden-
o, a Eucaristia, etc,
Concluso. Podemos, portanto, concluir que a revela-
o, considerada na sua substncia, no s no repugna, mas
at convm. A mesma concluso se impe, se atendermos
ao modo como a conhecemose, em particular, a revelao
mediata.
Ainda que a revelao imediata nosparea um processo
maiscmodo, a revelao mediata recomenda-se pelosseguin-
tesmotivoss1. Faz parte da ordem escolhida por Deus
nas suas obras. No nosmostra a experincia, a cada
passo, que Deusse serve dascausassegundaspara realizar
osseusdesgnios? 2, Este modo de revelao est em
harmonia com a natureza social do homem. Ao passo que
a revelao imediata isolaria oshomensna questo religiosa,
41 -
A RELIGIO
a mediata une-ospelosmaisestreitoslaosda caridade e
da obedincia,
3,0 NECESSIDADE DAREVELAKO,
150. A revelao no s possvel, masat conve-
niente. Poderemostambm afirmar que necessria?
1. Que deve entender-se por necessidade. Em
geral diz-se que uma coisa necessria, quando o meio
nico de atingir o fim que se pretende. Ora o meio 6:
a) fisicamente necessrio, se nenhum outro o pode suprir ;
b) moralmente necessrio, quando sem ele s imperfeita
ou dificilmente se pode obter o fim,
151. 2, Necessidade da Revelao. Quando se
pergunta se necessria a revelao, conveniente antesde
maisnada dividir a questo, e examinar asduashipteses
da religio natural e da religio sobrenatural. A doutrina
da Igreja pode formular-se nasduasproposiesseguintes
La Proposio. Hiptese da religio natural.
Para que todos oshomens, nascircunstncias actuais da
humanidade, possam conhecer, com certeza e sem erros, o
conjunto dasverdadese deveresda religio natural, a reve-
lao moralmente necessria.
Nota. Antesde provar a tese catlica, notemosoque
se trata a) duma necessidade relativa e moral; relativa,
isto , que provm dascondiesactuaisda humanidade (I);
moral, quer dizer, proveniente da grande dificuldade de
conhecer asverdadesda religio natural. b) Trata-se, alm
disso, do gnero humano em geral e dasverdades religiosas
no seu conjunto, e no dum indivduo em particular, ou
duma verdade considerada isoladamente.
A Igreja no afirma, por conseguinte, que a razo seja
(1 ) Segundo o dogma catlico, a impotncia da razo efeito da
decadncia da natureza humana, causada pelo pecado original. C ontudo,
como esta verdade conhecida semente pela revelao, o apologista no
deve fazer uso dela.
NECESSIDADEDAREVELAO 169
radicalmente impotente. Mantm-se num justo meio entre ;
-- 1. a opinio dostradicionalistas e dosfidelstas (H UET,
DE B ONALD, B AUTAIN), Segundo a qual, a razo s por si no
pode conhecer verdade alguma religiosa; e 2, a opinio dos
racionalistas (J, J. ROUSSEAU, C OUSIN, JOUFFROY, J. Sumo),
que propugnam a inutilidade da revelao e que a razo,
deixada a si mesma, pode chegar ao conhecimento da reli-
gio natural.
A tese catlica apoia-se num argumento histrico, e
num argumento psicolgico,
A. Argumento histrico. Mostra-nosa histria que
todosospovos, ainda osmaiscivilizados, como osGregose
osRomanos, caram em errosgravssimosa respeito da
religio. Asmitologiasensinam-nosque no sOmente eram
politestasou idlatras, masque concebiam osdeusesA. sua
imagem; viciosose criminososcomo eles, a fim de encontrar
estmulo, ou desculpa, para ospioresexcessos. De facto,
lgico que duma falsa noo da divindade derivem asmais
funestasconsequnciaspara a moral, 0 prprio culto, afinal,
no foi entre elesum pretexto para a devassido? Quem
no ouviu, por exemplo, falar dasbacanais, daslupercaise
dassaturnais, wide reinavam a desordem e a licena mais
desenfreadas?
Mas, dir-se-, osfilsofosclebresda antiguidade, como
Scrates, Plato, AristOteles, Cicero, Sneca, e Marco Aurlio
no podiam instruir o povo ? No falando j do profundo
desprezo que por ele sentiam, como o atesta o verso do
poeta;
a Odi profanum vulguset arceoH oRAc 0, L.III, Ode, 1. ),
precisavam ao menosde estar todosde acordo nasquestes
maisvitaisda religio natureza de Deuse do mundo,
origem e fim da alma humana, etc, ( 1 ),
(1 ) Entre os filsofos antigos, que no receberam o benefcio da f,
diz Leo XIII na sua encclica iEterni Patris, mesmo aqueles que passavam
por mais sbios caram em numerosos erros sobre muitas matrias. No
ignorais quantas falsidades e absurdos ensinaram no meio de algumas
verdades, quantas dvidas e incertezas relativas natureza da divindade,
origem primeira das coisas, ao governo do mundo, ao conhecimento que
168
NECESSIDADEDAREVELAO171
menosdum auxlio especial. De facto, no podemosper-
suadir-nosque a Providncia divina nosfaltasse em coisas
to necessrias, nem compreender como que a bondade e
a sabedoria de Deuspoderiam deixar de satisfazer asneces-
sidadesda natureza,
152. 2,a Proposio. Na hiptese duma religio
sobrenatural, isto , no caso de Deusquerer estabelecer
com o homem outrasrelaesalm dasque se derivam do
facto da criao, a revelao absolutamente necessria,
evidente que se Deus, por um dom inteiramente gratuito,
se dignou dar ao homem um fim sobrenatural (I); e os
meiosadaptadosa esse fim, o homem s pode conhec-los
por uma revelao especial.
De doisfactosse pode presumir a existncia desta reve-
lao: 1, Todasasreligiesse apresentam como sobre-
naturaise supem a interveno divina, 2, 0 gnero
humano, s por suasforase sem o auxlio de Deus,
incapaz de adquirir o conjunto de verdadesreligiosasneces-
sriaspara conseguir o seu fim,
153. Corolrio. Se a revelao possvel, se
moralmente necessria na hiptese da religio natural, e
absolutamente necessria na hiptese duma religio sobre-
natural, deveremosconcluir que temosobrigao de inves-
tigar a sua existncia?
Negaram-na a) osracionalistas, segundo osquais, a
razo suficiente para conhecer a religio natural; b) os
indiferentistas, que afirmam que todasasreligiesso boas;
c) osmodernistas, que, pelo facto de identificarem a
revelao e a religio com a conscincia que temosdasnos-
(1) Fim, sobrenatural. Para compreender esta expresso, no devemos
esquecer que todos os seres criados por Deus tendem a um fim conforme
sua natureza, Ora o homem, como criatura racional, deve chegar por meio
da razo ao conhecimento do Ser infinito, e pela vontade, ao amor de Deus
proporcionado a este conhecimento: este o seu fim natural e a ordem
natural dos seres.
Mas se Deus assinou ao homem, como fim ltimo, a felicidade de o
contemplar um dia face a face, tal como Ele , na plenitude do seu explen-
dor (I. Cor. XIII, 1 2), de o amar e possuir, este fim supera as exigncias da
natureza humana, sobrenatural, e constitui uma nova ordem: a ordem
sobrenatural.
-a-
170A RELIGIO
0 que o passado no Ode fazer, podero objectar ainda,
realizam-no osfilsofosmodernos; embora entre elesse
encontrem algunsmaterialistas, positivistasou agnsticos,
tambm no faltam espiritualistas, como SIMON, que s com
o auxlio da razo conheceram todosospreceitosda religio
natural. No contestamos; mas, supondo que osfilsofos
em questo no tenham recebido influxo algum da revelao
crist, o que seria difcil de provar, poistemosindcios
evidentesdo contrrio no livro de J. SIMON (La religion
naturelle), onde o autor promete, por exemplo, a viso
beatifica aosseusadeptos, supondo que a razo baste para
estabelecer aslinhasgeraisda religio natural, isso demons-
traria precisamente a nossa tese, isto , que a razo, consi-
derada individualmente, no radicalmente impotente, mas
que o , quando se trata do gnero humano em geral,
B, Argumento psicolgico. Este argumento con-
sequncia do precedente. Se a experincia de todasas
idadesnosmostra que o gnero humano errou na soluo
do problema religioso, necessrio supor que deve haver
uma causa permanente de erro. Ora esta causa s pode ser
a fraqueza relativa da razo. g que oshomens, geralmente
falando, ou seja por defeito da inteligncia, ou por falta de
tempo e de aplicao, ou, finalmente, em consequncia dos
preconceitose daspaixes, so incapazesde atingir a ver-
dade e de encontrar a soluo dosproblemasessenciaisque
fundamentam a religio natural ( I).
Concluso. Desta insuficincia da razo humana pode-
mosdesde j presumir a existncia da revelao, ou ao
Deus tem do futuro, causa e ao princpio dos males, ao ltimo fim do
homem e felicidade eterna, s virtudes e aos vcios, e a outros pontos de
doutrina, cujo conhecimento verdadeiro e certo se impe com uma necessi-
dade absoluta a todo o gnero humano.
(1 ) Quando um escritor eloquente do sculo passado, diz E. SAISSET,
em seus Essais sur la philosophic et la religion, se propos estabelecer o
smbolo da religio natural sob a inspirao exclusiva da sua conscincia,
de facto fazia-o sob o influxo da filosofia preparada pelo C ristianismo.
No o homem da natureza que fala na Professionde foi du Vicaire savoyard;
um sacerdote que se fez filsofo No sei porque se pretende atribuir
ao progresso da filosofia a moral sublime dos nossos livros, confessa o
prprio J. J. Rousseau (Lettres de la montagne ). Esta moral tirada do
Evangelho, antes de ser filosfica, era crist .
172
ARELIGIO
sasrelaescom Deus, consideram-nascomo uma questo
individual;
por outraspalavras, todasasreligiesso ver-
dadeiras, segundo a medida da experincia individual,
Apesar daspretensesdosracionalistas, indiferentistas
e modernistas, temosobrigao de investigar e abraar a
verdadeira religio.
Se Deusnosoferece um dom, no
depende da nossa liberdade aceit-lo ou recus-lo. Com-
preendemo-lo perfeitamente quando se trata da vida do corpo.
Porque no suceder o mesmo quanto vida sobrenatural
da alma, se certo que Deusse dignou fazer-noseste novo
benefcio
Tambm no se pode objectar que todasasreligies
so boas, e que Deus indiferente quanto ao modo como
honrado. E uma falsidade; porque no se pode admitir que
Deusd o mesmo apreo ao verdadeiro e ao falso, ao justo
e ao injusto, Temos, por conseguinte, obrigao de indagar
qual a verdadeira religio. Para o conseguir, devemos
pr de parte todosospreconceitose procurar a luz com
todasasverasda nossa alma,
Bibliografia,Veja-se no fim do captulo seguinte.
CRITRIOS DAREVELAO173
CAPTULOIL CRITRIOSDA REVELAO.
OMILAGREEA PROFECIA.
1 . Critrios A. Intrnsecos. f a) Negativos,
em geral. B,Extrinsecos. 1 b) Positivos.
a) Definio.
A, Natureza. {b) Condies.
c) Espcies.
I a) Adversrios,
b) Nenhuma (
1 . das leis da natureza.
B. e
impossibi- 2, de Deus. 0
1) nem sua
bilidade.
lidade da milagre no{ imutabilidade.
partel repugna
1
2) nem ,sua
l sabedoria.
C. Verificao.
c) Caso do fa-'t 1.
cto antigo 2,
ou histrico,
Crtica do documento.
Crtica do testemu-
nho.
1. facto sensvel.
2. facto extraordin-
rio.
3, facto causado por
Deus.
2. OMila-
gre.
a) Adversrios.
2.
11.
b) Caso do fa-1 2
cio actual. 1
"O
Racionalistas,
Positivistas,
Competncia da teste-
munha,
Probidade da teste-
munha.
bjeces,
3. AProfe-
cia.
D. Valor pro
-
0 milagre confirma a verdade da dou-
vativo,trina,
a) Definio. 1
B. Po s s i b il i-t
a) Prova baseada na crena universal.
dade.1b) Prova fundada na razo.
C.Verificao.{
a) Verificar a realidade da; profecia.
b) Verificar o seu cumprimento.
D. Valor pro-
{ Confirma a verdadeida doutrina.
vativo.
A, Natureza.
b) Condies.
(1 . Previso certa do fu-
turo.
1 2. Incognoscfvel por cau-
sas naturais.
CRITRIOS EMGERAL
DESENVOLVIMENTO
154. Diviso do captulo.
Vimosno captulo pre-
cedente que a revelao
moralmente necessria para
constituir a religio natural, e
absolutamente necessria na
hiptese duma religio sobrenatural, Mas, como poderemos
conhecer a existncia da revelao? Pela histria, certa-
mente, Todavia so precisossinais, para a podermosreco-
nhecer. Antesde crer na palavra de Deus, necessrio que
estejamoscertosde que Deusrealmente falou ( 1 ),
0 acto de f s ser racional, quando se fundar em
motivosmoralmente certos, ou melhor, em motivostanto
maiscertose maisbem fundados, quanto maisobscura for
a verdade revelada e menosevidncia intrnseca (mistrios)
tiver em si. Estudemosagora estessinaisou critriosem
geral, e o milagre e a profecia em particular, Este captulo
contm trsartigoss1. Critrios em geral; 2, o milagre;
3. a profecia.
Art. I, Critrios em geral.
155. 1, Definio. Oscritrios(greg. hritrion,
que serve para julgar) so ossinaisque distinguem a
verda-
deira dasfalsas revelaes,
156. 2, Diviso. Oscritriosso intrnsecosou
extrnsecos,
A, Critrios intrnsecos. OsCritriosintrnsecos
ou internos
so inerentes doutrina revelada, Dividem-se
em snegativose positivos,
1. Oscritriosnegativos tm um duplo aspecto s
(1 ) Esta expresso Deus falou aos homens no deve necessariamente
entender-se no sentido literal, a no ser que se trate do ensinamento oral de
Jesus C risto. Deus tem muitos meios de instruir os homens (representaes
imaginativas ou intelectuais, impresses visuais ou auditivas) e sabe acomo-
dar a forma das suas mensagens s aptides daqueles a quem se destinam.
0 que nos interessa portanto e que a revelao esteja acompanhada de sinais
que no deixem dvida alguma da realidade do facto.
a)
Ou so sinaisque denotam a falsidade duma doutrina, e
chamam-se eliminadores.
Por exemplo, quando a doutrina,
que se diz revelada, contrria razo, isto , se contra-
ditria, note-se que no dizemosse ultrapassa a razo,
como sucede nosmistrios, podemosimediatamente dedu-
zir que no vem de Deusstal o caso da religio que ensina
a existncia de vriosdeuses, que nega a imortalidade da
alma, e a liberdade humana. Oscritriosnegativosservir-
-nos-o no princpio da segunda parte para demonstrar que
nenhuma dasreligies, excepto o judasmo e o cristianismo,
a verdadeira religio, b) Ou so sinaisque nosindicam
que uma revelao pode ser verdadeira, sem provar contudo
que de facto o seja, 0 facto de uma religio no conter erros
pode ser um indcio da sua origem divina, masno prova que
efectivamente o seja,
2. Oscritriospositivos so sinaisque demonstram, at
certo ponto, a origem divina da religio que ospossui. Supo-
nhamos, por exemplo, uma religio que no smente
conforme
razo e saspiraesda alma humana, masque na ordem
moral produz efeitos que nenhuma outra doutrina filosfica
ou religiosa pode produzir, Tudo noslevar a crer que de
origem divina (' ),
Oscritriosinternospositivostero toda a
sua fora quando, pela anlise e pela comparao, se puder
fazer ressaltar a transcendncia duma religio sobre todasas
outras(mtodo do P. de Broglie).
B, Critrios extrnsecos. Oscritriosextrnsecos ou
externos
so factossobrenaturaisdistintosda revelao, dados
por Deuspara provar a sua origem divina, Estescritrios
podem ser tambm negativosou positivos, 1,
Negativos:
por exemplo, se o intermedirio, que prope a revelao, for
desonesto e indigno, pode concluir-se a falsidade da sua
afirmao, 2, Positivos. Estescritriosso s a) asvirtu-
dessobre-humanas, a santidade do mensageiro que da parte
de Deuscomunica a doutrina revelada ;b) osmilagres e
asprofecias (V, osartigosseguintes),
(1 ) Os critrios internos poderiam tambm chamar-se provveis, em
oposio aos externos (milagres e profecias), que so critrios certos.
CRITRIOS DAREVELAO 175
CRITRIOS DAREVELAO
Art, II, OMilagre.
Dividiremoso artigo em quatro partes, em que estudare-
moss1, 0 a natureza, 2, a possibilidade, 3, 0 a verificao,
e 4, 0 o valor provativo do milagre.
1. NATUREZ ADOMILAGRE.
157.-1. Definio. Etimolgicamente, milagre (tat,
miraculum, mirari,
admirar) designa tudo o que maravi-
lhoso e excita a admirao. Ora um fenmeno
maravilhoso
quando se apresenta como efeito inesperado, que nenhuma
causa ordinria pode explicar,
A.
Em sentido lato, milagre um fenmeno, cuja
causa
um agente sobre-humano ; um fenmeno
inslito
que parece efeito de seresinteligentesdiversosdo homem,
Se o agente no for Deus, massimplesmente uma criatura
superior ao homem, anjo ou demnio, diz-se milagre
impr-
priamente dito.
Taismilagrestm o nome de prodgios ou
prestgios.
B, Em sentido estrito, milagre um facto sensvel e
extraordinrio produzido por Deus;
por outraspalavras, um
efeito, que no pode ter por causa nenhuma natureza
criada.
S estesfactosou efeitosconstituem o milagre
prpriamente dito.
158. 2, Condies do milagre prpriamente dito.
Da definio que precede vemosque se requerem trscon-
diespara constituir o milagre prpriamente dito,
a) E necessrio que o facto seja sensvel. Uma vez
que o milagre tem por fim dar-nosuma prova irrecusvel da
interveno divina, segue-se que o fenmeno deve ser perce-
bido pelossentidos, sem o qu, no poderia ser um sinal.
Por conseguinte, uma obra sobrenatural, uma operao divina
que no pode ser objecto da percepo dossentidos, como
a
justificao do homem pela graa, no milagre.
b) preciso que o facto seja extraordinrio, 0 fen-
NATUREZ ADOMILAGRE 177
meno inslito e raro, cuja causa se ignora, no necessria-
mente milagre ; preciso que esteja
acima das leis gerais , .
tanto naturais como sobrenaturais, que seja inexplicvel por
uma causa criada (' ), numa palavra, que seja extraordinrio.
Donde se deduz que a criao, por exemplo, no milagre,
porque precedendo, pelo menoslgicamente, a existncia das
leis, no pode estar fora delas. Da mesma forma, a presena
de JesusCristo sob asespcieseucarsticas, originada pelas
palavrasda consagrao, tambm no milagre ; porque no
facto sensvel e entra na ordem sobrenatural estabelecida.
por Deus; se um dia esta presena se manifestasse aossen-
tidos, seria milagre, por ser um facto sensvel e extraor-
dinrio.
159. Um facto pode ser extraordinrio de dois
modos. Dissemosque o facto deve ser extraordinrio,
isto , acima dasleisda natureza, Contudo, bom notar
que o conceito do facto miraculoso pode ter doissentidos
1, Podemosdizer, ou que o milagre uma derrogao
dasleis, isto , contrrio sleis, 2, Ou ento que est
fora da ordem da natureza (S. TOMS ), que fica alm ou
acima
da lei, masque no a viola, nem destri. Assim
concebido, o milagre como que a aco duma fora sobre-
natural que se ope aplicao da lei, Suponhamos, por
exemplo, que uma pedra se desprende da montanha e rola
para o precipcio. Ao v-la, detenho-a com a mo, Poder
porventura dizer-se que violei a lei da gravidade? Eviden-
temente que no. Impedi smente a sua aplicao. Supo-
nhamosagora que no se trata de uma pedra pequena, mas
de uma rocha de granito, que pra de repente, detida por
uma fora sobrenatural. 0 caso o mesmo; no houve vio-
lao, nem sequer suspenso momentnea da lei da natureza;
houve apenasuma
no-aplicao. A interveno de Deus,
que ops natureza uma fora que a excede, que agiu, no
contra a lei mas acima da lei, constitui o que se chama
milagre,
(1 ) Por esta razo, os prodgios operados pelos demnios no sao mila-
gres propriamente ditos. Sao sobrenaturais relativamente a ns, mas naturais
relativamente a eles.
1 2
1 76
1
i
ur
rmwsimwpmwwwt
178CRITRIOS DAREVELAO POSSIBILIDADEDOMILAGRE 179
B, Modernamente a ideia de milagre rejeitada prin-
cipalmente por doissistemasfilosficos, que se colocam em
camposcompletamente diferentese at opostosentre si,
a) Osracionalistas e osdeterministas dizem que o
universo obedece a leisinflexveis, No caso contrrio, a
cincia seria impossvel, porque esta consiste na determi-
nao dasleisque regem oscorpos; asleisno se poderiam
estabelecer, se asmesmascausasno produzissem sempre
osmesmosefeitos. Ora a cincia existe, Logo o milagre
impossvel, por ser excepo lei e se opor ao determinismo,
b) Ospartidriosda contingncia e da continuidade,
como LE RoY, afirmam que o universo, longe de estar sujeito
ao determinismo, um ser que evolui, que se muda conti-
nuamente sem jamaisse repetir. Da a impossibilidade de
estabelecer leisimutveis: s pode haver leisque se modi-
ficam sem cessar com a evoluo dosseres, Alm disso,
em virtude do princpio de continuidade, tudo no mundo est
concatenado: um fenmeno no deve, portanto, ser isolado
do conjunto dosfenmenosa que est ligado e que o expli-
cam, Ora, se no mundo tudo imprevisto e contnuo, se
no h leisabsolutas, como poder existir o milagre? No
pode haver excepo seno onde h uma regra (I),
2. Tese. Nada se ope possibilidade do milagre,
nem da parte das leis da natureza, nem da parte de Deus.
163. A. Da parte dasleisda natureza. Exa-
minemossucessivamente asduasconcepesdo milagre
(n, 159):
a) Consideremo-lo primeiro como uma derrogao da
lei, como um facto que no s est fora ou acima dasleis
da natureza, masque lhes contrrio. 0 milagre, assim
(1 ) Se formamos das outras realidades o mesmo conceito que temos
dos seres livres e espirituais, cujos actos no se podem prever, evidentemente
impossvel estabelecer leis e, portanto, verificar o milagre. Este sistema
levado a tal extremo obra principalmente de LE RoY. Os tericos da cha-
mada filosofia nova, BournouX, B ERGSON, DUH EM, POINC AR e W. JADES, no
foram to longe. Afirmam sbmente que no mundo h contingncia, que nem
tudo esta sujeito necessidade absoluta e que as leis universais e certas so
apenas o conjunto de regras aproximativas que regem a matria. C onvm
portanto, deixar um lugar ao psquico, isto , ao elemento espiritual, ao qual
se deve reconhecer a possibilidade de interveno.
c) Para que haja milagre prpriamente dito, preciso.
em terceiro lugar, que o facto seja operado por Deus. Mas
como poderemosreconhec-lo? No fcil quando se trata
dum anjo ou de outra criatura tomada por Deuscomo inter-
mediria : maspouco importa, poisneste caso, o taumaturgo
apenaso instrumento da vontade divina, Asobrasreali-
zadaspelo demnio distinguem-se dasde Deuspor alguns
sinaisque depoisindicaremos(n. 166),
160. Falso conceito do milagre. Osmodernistas
consideram o milagre como uma disposio subjectiva do
crente, no como uma realidade objectiva, nem como
um facto divino. Segundo uns, o milagre pressupe a f,
para ser verificado e julgado como tal, Segundo outros
(LE Ror, Dogme et Critique), a f causa o milagre: actua
maneira dasforasda natureza , produz uma comoo
fisiolgica e, sob a sua influncia, o esprito triunfa da
matria.
161. 3, Diviso. Podem distinguir-se trsespcies
de milagres, 0 milagre 6: a) de ordem fsica, quando
est acima dasleisda natureza fsica ; ex.: a multiplicao
dospes, a cura repentina dum leproso, a ressurreio dum
morto; - b) de ordem intelectual, quando a inteligncia des-
cobre coisasque no podia conhecer naturalmente; ex.: a
profecia e o conhecimento de coisassecretas; e) de ordem
moral, quando osfactosno se podem explicar pelasleis
ordinriasque governam osactoshumanos; ex. : a propa-
gao do Evangelho, apesar dosobstculos, e a constncia
dosmrtires,
2, POSSIBILIDADEDOMILAGRE
162. 1, Adversrios. A. Entre osadversriosdo
milagre necessrio mencionar : a) osateus e ospan-
testas. Osque negam a existncia de Deuse osque no o
concebem como um Ser pessoal, no podem admitir a possi-
bilidade duma interveno divina ; b) osdestas dossculos
XVIII e XIX. Dizem que o milagre repugna sabedoria e
imutabilidade de Deus,
VERIFICAODOMILAGRE181
belecer outrasleis, pode tambm agir acima delas, visto que
lhes superior ?
164.B. Da parte de Deus. 0 milagre no repugna
nem imutabilidade, nem sabedoria de Deus, a) No
repugna sua imutabilidade. 0 milagre no se deve consi-
derar como mudana da vontade divina, porque foi decretado
desde toda a eternidade, Uma coisa, diz S. Toms,
mudar a vontade e outra querer a mudana do curso ordin-
rio dosacontecimentos.
b) 0 milagre tambm no repugna sua sabedoria.
No verdade, como escreveram VOLTAIRE e A. FRANCE, que
Deusteve em vista retocar a sua obra. Se assim fosse,
poder-se-ia dizer com SAILLES, que o milagre um processo
infantil, indigno duma grande inteligncia, qual no conviria
perturbar asleispor ela estabelecidas.
Ofim do milagre outro, Deusfaz milagrespor moti-
vosdignosde si s1. Para manifestar o seu poder. No
quer isto dizer que o poder de Deusno brilhe no governo
do universo, 0 homem, porm, j se no deixa impressionar
pelasmaravilhasque tem constantemente diante dosolhos,
assueta vilescunt. Governar todo o mundo, diz S. AGos-
TINxO( 1 ), certamente milagre maior do que saciar cinco
mil homenscom cinco pes; contudo, ningum admira o pri-
meiro, e todosse maravilham do segundo ; no porque seja
maior, masporque maisraro; 2, Para manifestar a
sua bondade. Haver meio maisadequado para Deusmos-
trar a sua misericrdia e bondade do que conceder a sade
ao doente que a implora com f ? 3, E sobretudo para
confirmar a sua doutrina. Sendo a revelao moralmente
necessria, como j vimos, evidente que o milagre o
melhor melo para conhecermosa sua existncia.
3. VERIFICAODOMILAGRE.
0 milagre possvel. Poderemosreconhec-lo ? Por
outraspalavras, como conheceremosque um facto miraculoso?
(1) S. AGOSTINHOTract. XXIV in Joannem.
180CRITRIOS DAREVELAO
compreendido, ser impossvel? Sim, dizem osdeterminis-
tas, porque asleisso necessrias.
Masesta necessidade que se deveria provar. 1. Se
encararmosa questo sob o aspecto filosfico, uma vez que
se admite a existncia de Deus, incompreensvel que,
aquele que tirou o mundo do nada e lhe deu asleis, no
tenha poder algum sobre a sua obra, nem possa modificar a.
ordem que ele prprio estabeleceu,
2, Sob o ponto de vista cientfico, a necessidade das
leisest longe de ser facto demonstrado, como o prova a.
hiptese dostericosda contingncia, que sustentam que o
mundo evolui e, por isso, no pode ser governado por leis.
imutveis. Sem afirmarmoscom estesltimosque asleis.
cientficasso meramente arbitrrias, que no se baseiam.
em fundamento algum objectivo, concedemossem dificuldade
aosdeterministasque so necessrias, se entendem por neces
sidade, o modo constante, segundo o qual, ascausasprodu-
zem osseusefeitos, Mas, por maisnecessriasque sejam
com relao ao mundo, nem por isso deixam de ser contin-
gentescom relao a Deus; por outraspalavras, aquele que
fez asleisest acima delase poder derrog-lasquando lhe:
aprouver.
b) Se considerarmoso milagre como obra extraordi
nria, alm ou acima da lei, a objeco no tem razo d e.
ser, porque o milagre neste caso, como j dissemos(n, 159),.
no a violao duma lei, masa sua no-aplicao. Ora
evidente que asleisquanto sua aplicao so contingentes,.
isto , necessrias condicionalmente. A lei s afirma que,
em determinadascondies, tal causa produzir tal efeito..
Se a vontade do homem conseguir modificar ascondies,
a causa j no produzir o seu efeito ; a pedra que se des-
prende da montanha, deve cair, mascom a condio de que
nenhum obstculo se lhe oponha.
So frequentesoscasosem que o homem impede a.
aplicao dasleis; levanta diquesque detm ou desviam os
riosdo seu curso, saneia pntanos, passa a vida a utilizar
asforasde que dispe para lutar contra oselementos..
Atrever-nos-emosento a recusar a Deuso poder de fazer,
num grau maiselevado, o que o homem realiza na esfera d a.
sua aco? No ser evidente que, assim como podia esta
182C RITRIOS DA REVELAO
165. 1. Adversrios. A possibilidade de verificar
o milagre negada por algunsracionalistas e especialmente.
pelospositivistas (LITTR, RENAN, C H ARC OT e SAILLES ),
Julgamos, diz Sailles, que em nenhum dosfactoshistricos
se comprovou a interveno dum poder sobrenatural , No
mesmo sentido escreveu Renan sNo em nome desta ou
daquela filosofia, em nome da experincia constante, que
banimoso milagre da histria, No dizemos; o milagre .
impossvel ; massim : at hoje ainda no se verificou um
nico milagre ( 1 ). Como se v, a frmula positivista :
sempre a mesma ; no negam ; declaram que no conhecem.
Veremosdepoisasrazesque invocam.
166. 2, Tese. A verificao do milagre pos_
.
sfvel. Temosde considerar ; a) o caso em que o facto
actual ou presente e contado por uma testemunha ocular, e
b) o caso em que o facto passado e narrado pela histria..
A. Caso do facto presente ou actual. Que ser
preciso para que uma testemunha ocular, que narra um facto
considerado como milagroso, seja digna de f ? Duascoisas
que esteja bem informada e que seja veraz ou sincera; por
outraspalavras, que tenha a competncia ou a cincia reque-
rida para poder verificar o milagre, e a probidade ou a vera
cidade para contar osfactoscomo aconteceram sem osdes-
virtuar,
a) Cincia. Sendo o milagre um facto sensvel ,.
extraordinrio e produzido por Deus, a testemunha deve veri-
ficar a existncia destastrscondies: a realidade do
facto sensvel, o seu carcter extraordinrio e a causalidade
divina, Ora, estastrscondiesno requerem uma cincia
extraordinria, como vamosver ( 2 )
1, Quanto existncia do facto sensvel, no h dificul-
dade. Ainda que o milagre esteja acima dasleisda natu-
reza, um facto como outro qualquer ; cai sob o domnio dos.
(1 ) RENAN, Vie de Jsus, Introd.
(2) Ainda que, a propsito da testemunha, falemos das trs condies
requeridas para reconhecer o milagre, claro que a misso desta ltima
pode e muitas vezes dove limitar-se verificao do facto sensvel (n.o 1 87)0.
VERIFIC AO DO MILAGRE 1 83
sentidose pode, portanto, ser observado, Todospodem veri-
ficar a cura dunl cego de nascimento : basta saber que o indi-
vduo em questo nasceu cego e depoisrecuperou a vista,
0 mesmo se diga da ressurreio dum morto ; basta exa-
min-lo em doismomentosdiferentes; v-lo morto e depois
vivo.
2, Pode-se reconhecer tambm que o facto sobrenatu-
ral? Certamente. E muitasvezessem dificuldade alguma,
Basta ver que no h proporo entre osmeiosempregados
e osefeitosproduzidos, de modo que estess possam ser atri-
budosa uma causa sobrenatural. E: evidente, por exem-
plo, e ningum o poder contestar, que um homem,
morto h quatro dias, no volta vida s porque outro lho
ordene, embora este ltimo seja o mdico maisafamado do
mundo. Um pouco de p humedecido com saliva no
meio suficiente para restituir a vista. Estesfactos, por con-
seguinte, excedem, sem dvida alguma, asforasda natureza,
e no h motivo para pedir o parecer dosespecialistasseno
noscasospatolgicos, cujo diagnstico exige conhecimentos
especiais
3. H maior dificuldade em conhecer se o facto foi
causado por Deus. Masno impossvel ; porque h sinais
que distinguem asobrasde Deusdasobrasdo demnio,
Estessinaisso ; 1) a natureza e o esplendor do facto.
Odemnio no tem poder ilimitado : no pode, por exemplo,
ressuscitar um morto, porque a ressurreio , na realidade,
uma criao, e o poder de criar s a Deuspertence ;
2) oscaracteres morais da obra, Uma vez que todas
asobrasdivinasso necessriamente morais e boas, devemos
considerar ascircunstnciasem que o milagre se realiza.
a) Circunstncia da pessoa. 0 taumaturgo no pode ser
escolhido por Deus, se no for virtuoso e de bonscostumes.
[3) Circunstncia do modo. Se osmeiosempregadospara a
realizao do milagre no so honestosnem decentes, revelam
uma origem que certamente no divina. 7) Ofim da obra.
A aco de Deuss pode ter em vista um fim bom, como so,
fazer urn benefcio ou ensinar uma doutrina. Se osmilagres
so para confirmar uma doutrina revelada, do valor desta
poderemosjulgar o valor daqueles, Se a doutrina contrria
a Deuse certamente falsa, Deusno a pode confirmar com
verdadeirosmilagres. Osmilagres, diz PASCAL, so o cri-
trio da doutrina, assim como a doutrina o critrio dosmi-
lagres ( 1 ),
b) Veracidade. A cincia deve a testemunha juntar a
veracidade ou probidade, para que o seu testemunho possa
ser acreditado. Como saberemosque uma testemunha
veraz? ` 0 nico meio conhecermosassuastendncias
naturaise assuasdisposies, e indagar se o seu testemunho
no ter sido inspirado pela paixo ou pelo interesse, Quanto
maiscrdula, impressionvel, exaltada e vida do extraordi-
nrio for a testemunha, tanto menosf lhe devemosdar, Se
for porm contrria ao maravilhoso, se tiver preconceitoscon-
tra ele, se for descrente e sobretudo ateia, o seu depoimento
ter maisvalor, Ajuntemos, fi nalmente, que a importncia
do testemunho aumenta com o nmero dastestemunhasque
tm autoridade,
167. Objeco. Osnacionalistas e ospositivistas
objectam que o milagre cientificamente indemonstrvel,
porque a segunda condio necessria para comprovar o
milagre, s se poderia realizar, se conhecssemosprevia-
mente todasasforasda natureza, Visto que o milagre,
escreve ROUSSEAU, uma excepo sleisda natureza, para
o apreciar necessrio conhecer essasleise, para apreci-lo
com segurana, preciso conhec-lastodas ( 2 ),
RENANe CHARCOTso menosexigentes; bastar-lhes-ia
que Deusse dignasse operar osmilagres diante duma
comisso composta de fisiologistas, de fsicos, de qumicose
de pessoasversadasna crtica histrica ( 3 ).
Resposta. 1. 0 milagre, asseguram, no cientifica-
mente demonstrvel. Entendamo-nos, Se querem dizer que
(1 ) Apesar da sua forma, a frase de Pascal no um crculo vicioso,
No se trata de provar a doutrina s pelos milagres e os milagres s pela
doutrina. E a razo que demonstra primeiro o valor duma doutrina, que de-
clara se boa ou m, e tambm a razo que julga se os milagres apresen-
tam os sinais de que falamos e que nos permitem atribu-los a Deus. Feito
este trabalho preliminar, certo que a doutrina confirma os milagres e
.vice-versa, , .
(2) J. J. ROUSSEAU, Lettres irrites de la m ontague.
(3) RENAS, Vie de Jsus, Int. p. 51 (4.. ed.).
a cincia incapaz de provar que um facto milagroso ou
no, estamosde acordo; no isso o que afirmamos; porque
no devemosesquecer que a verificao do milagre faz-se no
campo da histria, da cincia e da filosofia, A histria deve
provar a existncia do facto, mostrando que astestemunhas
so dignasde f. A cincia deve depoisdeclarar se o facto
conforme ou no sleisda natureza, e nada mais. Final-
mente compete filosofia, e s a ela, investigar se facto
explicvel por outra causa que no seja Deus, Ora, para
isso, no necessrio conhecer todasasforasda natureza,
Basta, como dissemos(n, 166), que estejamoscertosde
no haver proporo entre a causa e o efeito,
2, Quanto pretenso de Charcot e Renan, segundo a
qual, Deusdeveria operar osmilagresdiante duma comis-
so de sbios, um gracejo de mau gosto. Julgam por-
ventura que osmilagresso proezasdestinadasa divertir o
pblico ou a provocar asaveriguaesdossbios? E engano,
Osmilagrestm a sua hora, Quando Deusjulga oportuno
manifestar o seu poder ou fazer ouvir a sua palavra, escolhe
astestemunhasque lhe apraz; oshumildese osignorantes,
do mesmo modo que ossoberbose ossbios, 0 testemunho
dosignorantestem o mesmo valor que o dosprofissionais,
visto que, na maioria doscasos, basta ter osrgosdossen-
tidosem bom estado, para conhecer osfactoscomo so e
cont-loscomo sucederam.
Se ascomissescientficasquerem presenciar milagres,
em vez de citar Deusa comparecer e operar assuasmara-
vilhasdiante delas, porque no vo aonde osmilagresse
realizam, a Lourdesou a Ftima, por exemplo?
168. Instncia. O facto de Lourdes ( 1 ), Mas
precisamente, replicam osadversriosdo milagre, o facto
de Lourdes, como todososoutrosfactosdo mesmo gnero,
pode explicar-se sem recorrer interveno sobrenatural,
Osnumerososprodgiosque l se operam, e que no contes-
tamos, so devidos virtude teraputica da gua da gruta,
(1 ) Esta objeco no nova. Ao passo que a precedente (n.o 1 57)
fica em generalidades e no abstracto, a instncia concretiza em certo modo
a dificuldade. Tomemos um facto de Lourdes que da actualidade e tem a
vantagem de mostrar claramente a tctica dos incrdulos.
184CRITRIOS DAREVELAO
i
VERIFICAODOMILAGRE185
186C RITRIOS DA REVELAO
VERIFIC AO DO MILAGRE187
ou sugesto, ou a qualquer outra fora da natureza ainda
desconhecida.
Resposta. Examinemosestastrssolues.-1, Ale-
ga-se, em primeiro lugar, a virtude curativa da gua da
gruta. Conforme lhesconvm, atribuem-lhe, quer proprie-
dadesqumicasespeciais, quer um poder radioactivo, on
ento, invocam osefeitosteraputicosdosbanhosfriosque
osdoentestomam na piscina. Ora reconheceu-se, pela and-
lise, que esta gua em nada difere da gua da fonte pblica
da cidade e que (< no encerra nenhuma substncia activa,
capaz de lhe dar propriedadesteraputicasdefinidas( 1 ).
A hidroterapia e a radioactividade de qualquer gua nunca
produziram curasto maravilhosascomo asque se operam
em Lourdesou em Fatima.
Nesta primeira hiptese, que se prope dar uma soluo
verosmil, como possvel que se tenham operado curassem
se utilizar a gua? E como explicar, para no citar seno
um caso, o do belga Pedro de Rudder (2 ), que osfra-
gmentosdosseusossosquebradosse soldassem brusca-
mente em Oostacher, perto de Gand, numa capela de Nossa
Senhora de Lourdes, muito longe daspiscinasda Gruta dos
Pirenus?
2. A sugesto parece, na nossa poca, soluo mais
feliz. Segundo ossugestionadores toda a clula cerebral
accionada por uma ideia, acciona asfibrasnervosasque
devem realizar esta ideia (3 ); por outraspalavras, basta
que uma pessoa esteja persuadida que vai ser curada, que
est curada, para o ser de facto, Ser realmente verdade
que a sugesto produz resultadosto maravilhosos? Osm-
dicoscostumam distinguir duasespciesde doenas; as
doenas orgnicas, em que h leso do rgo, e asdoenas
funcionais ou nervosas, em que o rgo est intacto e sem
leso, masfunciona mal. Ora, todoshoje admitem que a
sugesto s cura doenasfuncionaise nunca doenasorgni-
(1 ) Dr. FILH or, da Fac. de C incias de Tolosa.
(2) Veja-se a lista pormenorizada das curas de Lourdes, desde 1 858
at 1 904, na Histoire critique des re'nements de Lourdes de G. BERTRIN. No
caso de Ftima tambm se tm dado muitas curas fora do recinto do San-
Mario.
( 3 ) BERNHEI1 VI, Hypnotisme, suggestion, psychothe'rapie.
cas; que s tern resultadosefmeros; e que, para se obterem,
necessrio exerc-la frequentemente e durante um certo
tempo, Em Lourdesou em Fatima, pelo contrrio, tanto se
curam doenasorgnicascomo doenasnervosas( 1 ) ;- as
curasso radicaise estveise realizam-se instantaneamente.
A sugesto no resolve, portanto, o problema de Lourdesou
de Fatima.
3. Obrigadosa abandonar asduasprimeirashipteses,
osincrdulostiveram de apelar para asforas desconhecidas
da natureza, de que falmosna objeco precedente. Esta-
moslonge, dizem, de conhecer todasasforasda natureza.
A cincia, desde h um sculo, multiplicou assuasdes-
cobertas; vapor, electricidade, telefone, radiografia, radiote-
lefonia! , No poderemosento supor que osmilagres
devem atribuir-se a forasdesconhecidase no interveno
divina?
E certo que no conhecemostodasasleisda natureza,
masnem preciso ; porque, ou asconheamosou no, os
corposno deixam de conservar assuaspropriedades, de
produzir osseusefeitose no esperaram que Newton desco-
brisse a sua clebre lei, para poder atrair-se na razo directa
dasmassase na razo inversa do quadrado dasdistancias,
Por conseguinte, se ascurasde Lourdesou de Fatima fossem
efeito duma fora desconhecida, deveriam produzir-se sempre,
da mesma forma, em condiesidnticas. Ora, acontece.
exactamente o contrrio. A fora misteriosa opera nascon-
diesmaisdiversas; tanto ao sol quando passa o SS,' Sa-
cramento como na gua daspiscinas, de noite e durante o
dia e, o que ainda maisestranho, s em umaspessoas
e no em outras, aliasto crentese to virtuosas, e que
talvez oraram com maisfervor que asprimeiras,
(1 ) Segundo o P. B ERTRIN (Le Fait de Lourdes), o posto de verificao
mdica rejeita cada vez mais as doenas nervosas, porque a sua cura pode
ser atribuida a causas naturais. Portanto, falso julgar e afirmar que as
afeces nervosas constituem a grande clientela de Lourdes, pois nao
chegam dcima quinta parte das curas. At 1 91 3, contam-se 285 curas de
doenas nervosas, ao passo que ha 694 casos de doenas do aparelho
digestivo e seus anexos, 1 06 do aparelho circulatrio ( das quais 61 do
corao), 1 82 do aparelho respiratrio (bronquites, pleuresias), 69 do apa-
relho urinrio, 1 43 da espinal medula, 530 do crebro, 1 55 de afeces dos.
ossos, 206 das articulaes, 42 da pele, 1 1 9 de tumores, 546 de doenas gerais
e outras doenas diversas, das quais 1 70 de reumatismo, 22 de cancros e
52 de feridas. Indiquemos tambm a cura de 55 cegos, 24 mudos e 32 surdos.
O mesmo se poderia dizer dos anos posteriores.
1 88 C RITRIOS DA REVELAO
Ademais, posto que no conheamostodasasforas
fsicas e psquicas do mundo, sabemosde certo que no h
forasna natureza que dispensem o concurso do tempo para
curar asdoenasorgnicas, que supem a restaurao do
tecido lesado, quer pela renovao dasclulasantigas, quer
pela criao de outrasnovas, Astrsexplicaesdo facto
de Lourdes, dadaspelosadversrios, no podem, portanto,
ser sustentadasseriamente; e se, apesar de tudo, querem
eliminar a hiptese do sobrenatural, da interveno divina,
preciso que encontrem outra melhor ( 1 ).
169.B, Caso do facto passado relatado pela his-
tria. Quando se trata dum facto antigo, antesde proceder
crtica do testemunho, preciso comear pela crtica do
documento, que o contm, Duascoisasse devem estabelecer.
a) Crtica do documento. Para conhecer o valor
dum documenta escrito,-6 este que sobretudo nosinteressa,
necessitamos, primeiro, de nosassegurar se o possumos
na sua integridade; em seguida, devemosindagar o seu
autor, a data da composio ( 2 ) e assuasfontes; finalmente,
mister interpret-lo, procurando certificar-nosdo pensa-
mento ntimo do autor, do fim que teve em vista, e das
razesque puderam influir no seu modo de pensar, Trata-
remosestasquestes, quando estudarmososLivrosSagrados,
b) Crtica do testemunho. - Quando, do estudo do
documento, conhecemoso nome do autor e a data da compo-
sio, falta somente, para completar a crtica do testemunho,
aplicar asmesmasregrasque indicmosa propsito do teste-
(1 ) As curas to numerosas e surpreendentes, de que Lourdes e
Ftima so teatro permanente, so argumento apologtico de grande valor.
Dai podem tirar-se vrias provas: a) a prova da existncia do milagre, e
b ) a prova da verdade da Religio catlica, visto que estes milagres confirmam
a sua doutrina e apoiam a sua autoridade. E se considerarmos as circuns-
tncias da apario de N.a Senhora a S. B ernardette e a sua resposta
interrogao da criana: Eu sou a Imaculada Conceio, podemos crer que
aprouve a Deus ratificar, alguns anos depois da promulgao do dogma,
a deciso doutrinal do Santo Padre Pio IX,
(2) E de suma importncia conhecer o autor e a data da composio;
porque s assim chegaremos a saber se o historiador foi ou no testemunha
ocular. No caso negativo, o valor do seu testemunho depende das fontes
que utilizou.
VERIFIC AO DO MILAGRE189
munho dum facto presente, isto , procurar conhecer a sua
cincia e veracidade,
1 70. Objeces. So vrios os motivos que levam os nossos
adversrios a rejeitar o milagre narrado pela histria. a) Uns, como
SEIGNOB OS, LANGLOIS e os positivistas em geral, no admitem o milagre
histrico por estar em contradio com as leis cientficas (1 ),
Resposta. Esta assero falsa, como ressalta dos argumentos
que demonstram a possibilidade do milagre (n. 1 63 e 1 64),
b) Outros (Sr MILL, H um) so de opinio que na interpretao
dos factos devem preferir-se as explicaes mais simples e mais veros-
meis; ou, por outras palavras, as que no recorrem interveno do
sobrenatural.
Resposta. Esta opinio tambm no admissvel. Segundo esse
sistema, seria preciso eliminar da histria todos os factos raros, singula-
res, anormais, tudo o que ainda no se viu, o que nos levaria aos resul-
tados mais deplorveis, Foi o que aconteceu a certos factos, aerlitos,
estigmas, excludos outrora da histria por se julgarem inverosmeis,
e que depois tiveram de se reconhecer como autnticos,
c) Alguns, com J. J. RoussEAU, dizem que ao milagre, conhecido
smente pelo testemunho humano, no pode demonstrar com certeza a
revelao .
Resposta. Nesse caso deveramos suprimir a histria, que se
funda smente na autoridade do testemunho. Alm disso, os nossos
conhecimentos ficariam reduzidos a muito pouco, visto que na sua maior
parte tm nele a sua origem.
d) RENAN ( 2 ) e LolsY pretendem que outrora os homens viam o
milagre em tudo. Mas, com os progressos da crtica, o maravilhoso foi
perdendo terreno e est condenado a desaparecer, As causas naturais
explicaram j muitos fenmenos, considerados antigamente como mila-
gres, e vir um dia em que se encontrar a soluo de tudo o que era
desconhecido at agora,
Resposta.Esta objeco quase idntica que antes expusemos
(n. 1 67). Apenas dela se distingue em apelar para os erros histricos
em vez de se colocar no campo cientfico. certo que muitas foras da
natureza eram outrora desconhecidas e que a cincia descobriu muitas
leis antes ignoradas, Mas no devemos exagerar. Os antigos no igno-
ravam todas as leis da natureza. Conheciam, to bem como ns, por
exemplo, que a ressurreio dum morto um facto que supera todas
as leis.
(1 ) A verdade cientfica no se estabelece pelo testemunho. Para
afirmar uma proposio necessrio que haja razes especiais para a julgar
verdadeira' (Seignobos e Langlois, Introd. la methode historigue).
(2) Nenhum dos numerosos milagres, de que falam as histrias anti-
gas, diz Renan, se realizou em condies cientficas. Uma observao que
nunca foi desmentida diz-nos que s h milagres nos tempos e nos pases em
que neles se acredita, ou diante de pessoas dispostas a acreditar neles'.
1 90C RITRIOS DA REVELAO NATUREZ ADAPROFEC IA1 91
4. VALOR COMPROVATIVODOMILAGRE.
171. -- Tese. Os milagres operados em favor duma
doutrina so sinais certos da sua origem divina.
Esta proposio apoia-se na razo e no consenso universal
A, Argumento da razo. 0 milagre prpriamente
dito um facto que s pode ter a Deuscomo autor (n. 158).
Considerado em si, significa enicamente que houve interven-
o divina; masse estiver unido a outro facto, se o tauma-
turgo faz o milagre para confi rmar a doutrina que ensina,
evidente que esta doutrina deve vir de Deus, ou pelo menos
ter a sua aprovao. De outro modo, deveramosdizer que
Deusratifica a mentira e a impostura, que testemunha
da falsidade (S. ToMs), o que repugna aosseusatributos.
B. Argumento do consenso universal. Em todosos
povosencontramosa crena de que osmilagresso prova
incontestvel da interveno divina. Por isso, todasasreli-
giesfalsasatribuem aosseusfundadoreso poder de fazer
milagres,
Precisamente, objectam, a crena universal uma prova
contra o valor dosmilagresalegadospelo cristianismo, visto
que todasasreligiespretendem ter osseus, Esta objec-
-o funda-se num falso suposto, No se trata aqui de fazer
a comparao entre o valor respectivo dosmilagresalegados
pelasdiversasreligies. Aduzimoso argumento do consenso
universal semente para mostrar que todosospovosacredita-
ram na existncia de milagresoperadospor Deusem favor
duma doutrina, No se trata de saber se osprodgiosde tal
ou tal religio so milagresprpriamente ditosou no, se so
obrasde Deusou do demnio; essa questo pertence crtica
histrica e dela nosocuparemosquando investigarmosqual
a verdadeira religio,
Art. III, A profecia.
0 estudo da profecia no precisa de ser muito desenvol-
vido, E um milagre de ordem intelectual (a. 161) e, por-
tanto, o que dissemosdo milagre em geral, pode aplicar-se
profecia, Indicaremosapenasrpidamente o que tem de
particular, guardando a mesma ordem que seguimosno mila-
gre. Exporemos1.0 a natureza; 2. a possibilidade; 3. a ve-
rificao; e 4. o valor comprovativo da profecia.
1. - NATUREZ ADAPROFECIA.
172.-- 1, Definio. Etimolbgicamente, profecia (gr,
prophts; pro, antese phmi, digo) significa predio.
A, Em sentido lato e conforme a etimologia, a profe-
cia a predio dum acontecimento futuro. Neste sentido,
a predio dum eclipse uma profecia.
B. Em sentido estrito como geralmente se entende, a
profecia pode definir-se com S. TOMS, a previso certa e o
anncio de coisasfuturas, que no podem ser conhecidas
pelascausasnaturais,
173. 2,0 Condiesda profecia. Desta definio
se colige que se requerem duascondiespara que haja pro-
fecia no sentido estrito da palavra, aJ Previso certa e
no ambgua, como eram muitasvezesosorculospagos,
dosquaisdizia CCERO(De Divin. 1, II) que eram to hbil-
mente compostosque tudo o que acontecia parecia sempre
predito, e to obscurosque osmesmosversospodiam em
outrascircunstnciasaplicar-se a outrascoisas, b) Previ-
so que no possa ser conhecida por meio de causasnatu-
rais. Oastrnomo que anuncia um eclipse e o mdico que
prediz a morte do doente, no fazem profeciasprpriamente
ditas, porque a predio destesacontecimentosfuturospode
deduzir-se fcilmente do conhecimento dasleisda natureza,
S h verdadeira profecia quando o acontecimento futuro no
pode ser conhecido pelassuascausasnaturais, porque estas
no existem ainda e dependem da vontade humana,
2. POSSIBILIDADEDAPROFECIA.
174. A possibilidade da profecia demonstra-se indi-
recta e directamente,
192CR1TRIOS DAREVELAO
A, Prova indirecta baseada na crena universal.
Ensina a histria que todosospovostiveram osseusadivi-
nhos, aosquaisperguntavam ossegredosdo futuro. Pouco
importa que osorculosproferidosfossem ou no verdadeiras
profecias; o que interessa provar que todoscriam na sua
possibilidade.
B, Prova directa fundada na razo. Para que a.
profecia seja possvel, so necessriasduascondies; a)
que Deusconhea o futuro, eb) que o possa revelar. Ora,
estasduascondiesso certamente possveis; porque, por
uma parte, Deus omnisciente e nenhum segredo do futuro
lhe oculto, Conhece todososacontecimentosfuturos, no
s osfuturos necessrios, isto , osque se podem prever
pelo conhecimento dassuascausas, mastambm osfuturos
livres, isto , osque dependem da livre determinao da.
vontade, Isto no nosdeve causar estranheza, visto que a
palavra prescincia aplicada a Deus, termo imprprio, Deus
no prev, v. Por outra parte, Deuspode revelar-noso
futuro como consta dasprovasque demonstram a possibili-
dade da revelao em geral, Com efeito, uma vez provado
que Deuspode ensinar ao homem verdadesque este ignora,
no vemosque dificuldade haja em revelar-lhe o futuro,
3, VERIFICAODAPROFECIA.
175. Verificar uma profecia reduz-se a examinar s
1, 0 a realidade da profecia, e 2. a sua realizao.
1, Realidade da profecia. No difcil demons-
tr-la. Basta certificarmo-nosde que se realizaram asduas
condiesnecessriaspara constituir uma profecia. Este tra-
balho pertence crtica histrica, que deve examinar osdo-
cumentosonde se encontram consignadasaspalavrasque
anunciam osacontecimentosfuturos, julgar se a previso foi
feita em termosclarose precisos, e se o facto predito no
podia ser conhecido pelasleisnaturais,
2. Realizao da profecia. Arealizao da profecia
no apresenta grande dificuldade, E apenaspreciso com-
VALOR COMPROVATIVODA PROFECIA1 93
parar o acontecimento em questo com aspalavrasque a
anunciam, e verificar se o facto corresponde exactamente, e
em todasassuasmincias, predio.
Nem se objecte, com Rousseau, que a verificao da
profecia exige que a mesma pessoa tenha sido testemunha
da profecia e do acontecimento, Ao contrrio; quanto maior
a distncia que medeia entre a predio e a realizao,.
tanto maisvalor adquire; porque, se difcil anunciar, com
algunsdiasde antecedncia, um acontecimento que depende
da liberdade humana, a dificuldade crescer com o intervalo
que separa a profecia da sua realizao,
Nem se aleguem aspredies dos sonmbulos, Todos
sabem que tm um valor muito relativo e que, seme-
lhantesaosorculosantigos, no primam geralmente pela
sua clareza,
4, VALOR COMPROVATIVODA PROFECIA,
176. A profecia um milagre prpriamente dito, pois
s Deusconhece osacontecimentosque dependem dasdeter-
minaeslivresdo homem. Donde se segue que, tudo o
que se disse do valor demonstrativo do milagre, se aplica
igualmente profecia.
Concluso. Do que dissemosacerca doscritriosem
geral, e do milagre e da profecia em particular, ressalta que
a verdadeira religio deve ser aquela que reune em si todos
estessinais, Em primeiro lugar, oscritriosinternos (exce-
lncia, transcendncia da doutrina); depois, oscritrios
externos, que so na verdade o argumento principal ( 1 ),
como indicou o Conclio do Vaticano nesta deciso dogm-
tica; Para que a submisso da nossa f estivesse de acordo
com a razo, quisDeusjuntar, aosauxliosinterioresdo
Esprito Santo, provasexterioresda sua revelao, a saber,
factosdivinose sobretudo osmilagrese asprofeciasque,
(1 ) 0 mtodo apologtico empregado na demonstrao da verdadeira
religio chama-se intrnseco ou extrnseco, segundo a importncia que se
d a cada srie de critrios (n.o 1 2 ). E conveniente reler esta questo capi-
tal, que foi tratada na Introduo (n.o 1 0 e seg. ).
1 3
1
i
II PARTE,
INDAGAO DA VERDADEIRA RELIGIO.
Seco I. f
(Art, 1. 0 Paganismo,
AS
FALSAS
RELI-
GIES.
Art. 2. AsReligies da China.
ICap. nico. As
principais
religies no
crists.
Art. 3, 0 Z oroastrismo (Prsia).
{ Art. 4, 0 Mitracismo,
I
Art. 5, Asreligies da ndia,
Art. 6. 0 Islamismo,
J
Art, 7, 0 Judasmo actual.
3, Para provar
Cap. I. Os do-
cumentos da;
Revelao. J
Cap. II. A afir- f
mao de Je- ;
Seco II.sus.
Cap.III. As J
profecias;
messinicas. I
Art, 1 , 0 Penta-
I
(
1 . Integridade,
teueo,
Art. 2. Os Evan-i
2,
Autenticidade.
gelhas.
Art. 2. Os Evan-
3, Veracidade.
Art. 1 , Jesusdiz-se o Messias.
Art. 2. Jesusdiz-se Filho de Deus.
Art. 3, Valor deste duplo testemunho.
Art, 1. L'xistencia das profecias mes-
A
VERDA-
DEIRA
RELI-
GIO.
OC RIS-
TIANIS-
MO.
Cap. V. A dou
trina de Je-
sus-
sinicas.
Art. 2, Realizao em Jesus das pro-
fecias messinicas,
(
1 . Predies de
Jesus,
Art, 1 , Com as) 2. So verda-
suas profecias,) deiras profecias.
3, Para provar
a sua misso,
Cap.IV. Jesus
^ 1 , Hstrca-
provou asna
mente certos,
afirmao.
Art. 2. Com os J 2, Verdadeiros
seus milagres,1 milagres.
a sua misso.
Art.3, Coina
1 . Facto hist-
sua Ressurrei-
ricamente certo,
sua,
2, Para provar
a sua misso,
Art. 1 , A religio crist no uma
sntese de doutrinas estranhas.
Art, 2. Sua r- f
1 . 0 facto.
pio difuso, 1
1 0 seu carcter
sobrenatural,
Art. 3, OMar- j 1.
0 facto,
tirio,
2. 0 seu carcter
sobrenatural,
194CRITRIOS DAREVELAO INDAGAODAVERDADEIRARELIGIO
1 95
manifestando-nos exuberantemente a omnipotncia e a cincia
infi nita de Deus, so sinaiscertssimosda revelao divina e
esto em proporo com a inteligncia de todosN,
Bibliografia. S. Tomas, Contra Gent. TANQUEREY, Tholo-
gie fondamentale (Descle), BAINVEL, De vera religione et Apologe-
lica; Nature et Surnaturel (Beauchesne). VALVEKENS, Foi et Raison
(de Meester, Bruxelas). DEPASCAL, Le Cristianisme, La Vrit de la
Religion (Lethielleux), MICHELET, Dieu et l'Agnosticisme contempo-
rain. MONS. LEROY, La Religion des Primitifs (Beauchesne), DE
BROGLIECritique et Religion (Lecoffre) ; Problmes et conclusions de
l'histoire des Religions (Putois-Crett). GONDAL, La Religion, Le
Surnaturel (Roger et Chernovitz).HUBY, Christus (Trad. Port., Coim-
bra). BRICOOr, L'Histoire des Religions et la Foi chrtienne (Bloud),
BRUNETIRE, Sur les Chemins de la croyance (Perrin),E. BOUTROUX,
Science et Religion (Flammarion), LIGEARD, Vers le Catholicisme
(Ville). ALFARIC, Valeur apologetique de l'Histoire des Religions,
Rev, prat, d'Apolog., 1 Novembro 1905, ERMONI, Chronique d'Histoire
des Religions, ib. 15 Julho 1907,
Acerca do milagre. Dict. de la Foi cat.: J. DETONQUEDEC, Art.
Miracle; G. BERTRIN, Lourdes (Le fait de).LEROY, La Constatation du
miracle et l'Objection positiviste; La Constatation du miracle
(Blond).
DEBONNIOT, Le Miracle et ses contrefaons (Rtaux ), MONSABR,
Introduction au Dogme (t, III), MERIC, Le Merveilleux et la Science.
DR, LAVRAND, La suggestion et les gurisons de Lourdes (Bloud).
VOURCH, Quelques cos de gurisons de Lourdes et la Foi qui garit
(Lethielleux ), COSTE, Le Miracle (Sc, et Rel.). GONDAL, Le Miracle,
DE LABARRE, Faits surnaturels (Bloud). J. DETONQUEDEC, Intro-
duction l'tude du Merveilleux et du Miracle
(Beauchesne ), G. SOR-
TAIS, La Providence et le Miracle (Beauchesne).
E, RAVIER, Leons
de philosophic. BOUTROUX, De la contingence des lois de la nature.
CARD. LPICIER, Le Miracle (Descle de Brouwer),
196RESUMODASEGUNDAPARTE
Resumo da Segunda Parte.
177. Na primeira Parte da Apologtica foram resol-
vidosdoisproblemassPrimeiramente, demostrmosque o
homem, pelo facto de ser criatura dotada duma alma racional
e livre, est obrigado pelo menosa professar a religio na-
tural. Em segundo lugar, provmosque, com toda a proba-
bilidade, Deus, Criador e Providncia interveio na marcha da.
humanidade para guiar o homem na consecuo da verdade
religiosa, e talvez at para o elevar a uma dignidade maior e.
a um fim maiselevado.
Nesta segunda Parte vamossubmeter a exame a ltima.
hiptese, Interrogaremosa histria para ver se de facto nos
d testemunho duma Revelao divina, Mascomo se poder.
fazer esta indagao religiosa ? Se no mundo existisse uma
s religio, no haveria dificuldade alguma ; bastaria ento
verificar osttulosque lhe davam direito nossa crena..
A realidade porm bem diferente ; so muitasasreligies.
que no passado e no presente reivindicam para si a origem.
divina,
0 apologista cristo pode seguir doiscaminhospara.
demonstrar que a sua religio actualmente a nica religio
revelada. 1, Pondo de parte todasasoutrasreligies, pode
comear pelo Cristianismo e aplicar-lhe oscritriosde que.
falmos(n, 156), Se neste exame se chegar concluso de
que a religio crist , sem dvida alguma, uma religio re-
velada, intil continuar asindigaes; porque, estando em
manifesta oposio com asoutrasreligiesem muitospontos.
do dogma e da moral, e no podendo Deusde modo algum
revelar sucessivamente verdadescontraditrias, da verdade d a.
religio crist segue-se evidentemente a falsidade de todasas.
demais. Neste caso o estudo destaspoderia somente servir
de contraprova,
2. 0 segundo mtodo consiste em seguir a ordem in-
versa, 0 apologista cristo examina primeiro asoutrasreli-
gies, cuja falsidade quer demonstrar. Esta primeira inda-
gao seria um caminho demasiado longo, se se tratasse de
expor pormenorizadamente todasasformasreligiosasque exis-
tiram e existem na terra ; masno necessrio ; porque se.
RESUMODA SEGUNDA PARTE 197
provarmosa falsidade dasreligiesque maisse impem,
quer pelo nmero dosseusadeptos, quer pelo valor da sua
doutrina, no ser necessrio ocupar-nosde outrasreligies
incontestvelmente inferiores.
Terminado este trabalho, examinar-se-ia a religio que
no foi eliminada, isto , no nosso caso, a religio crist.
Contudo a verdade da religio crist no se pode concluir da
falsidade de todasasoutras, semelhana do que se faz no
primeiro mtodo ; porque poderia ser igualmente falsa, Para
podermostirar essa concluso deveria ter-se demonstrado
antesque era certa a existncia de uma religio revelada.
Absolutamente poder-se-ia proceder deste modo, masum
facto histrico prova-se pela histria e no pelo raciocnio.
Temospoisde demonstrar pela histria a existncia e a
verdade da Religio Crist.
Seguiremos o segundo mtodo. Esta parte tem duas
seces.
A, A primeira Seco, muito menosextensa, ser
uma exposio muito rpida e sucinta dasprincipaisreligies
no crists, na qual, se ver, nicamente pela aplicao dos
caracteres negativos, que essasreligiesno possuem as
caractersticasde uma origem divina,
B. A segunda Seco ser a demonstrao prpria-
mente dita do cristianismo, Apoiando-nosno testemunho dos
Evangelhos, cujo valor histrico dever ser antesprovado,
ser necessrio verificar osttulos do fundador e examinar a
qualidade da sua doutrina, Se deste estudo se deduzir que
Jesus Enviado de Deus, poderemosconcluir que o cris-
tianismo, cuja difuso por todo o mundo se fez de um modo.
to extraordinrio, uma religio de origem divina e, por-
tanto, a verdadeira religio.
198AS FALSAS RELIGIES
SEC O I
C APITULO NIC O. AS FALSAS RELIGIES.
(Prsia ).
[b)
Culto.
!
1, Supersties.
2. Magia.
6, Islamis- j A. Fundador. i a)
mo. 1
B, Doutrina.
4. M itra - I A. Semelhanas com o cristianismo.
cismo.
l
B, 0 cristianismo no o plagirio.
A. Vedismo,
a)
B. Brama-
nismo,b)
5. Religies
da ndia.
2. As Reli - I
gies dal
China.
3, Zoroas-
trismo.
1 . 0 paga- j
sismo.1
B, Doutrina.
C. Budismo.
A. Taoismo,
B. Confucio- a) 0 Fundador,
nismo.{ b) ADoutrina,
C, Budismo.
A. Fundador.
b)
t
D, Hinduls- a)
mo.t b)
A, Origem dasmitologias,
t11, sob o aspecto doa
B, Doutrina.{ Sua inferioridade.
l
gmtico,
2. sob o aspecto moral.
I a)
)
Origem incerta,
(1 Pantesmo.
2. Metempsicose.
11. Sua vida.
Fundador.2. Maravilhasque se
I( lhe atribuem,
11. Atesmo.
Doutrina.} 2. Metempsicose.
l3, Pessimismo.
Semelhanas com o cristianismo.
0 cristianismo no o plagirio.
Sua vida.
Guerra santa.
Metafsica,{ Dualismo.
Doutrina.
7. Judais- A. A. Religio preparatria.
mo actual.
l
B. Falsa depoisda vinda do Messias.
INVESTIGAOACERCADAS RELIGIES199
DESENVOLVIMENTO
Investigao acerca das religies.
178. Antesde comear esta investigao acerca das
religies, convm determinar primeiro ascondies em que
deve ser feita e asreligiessobre que deve recair.
1, 0 Condies.H duasespciesde critrios(n. 156)
pelosquaisse pode reconhecer o valor objectivo de uma reli-
gio. a) Unsfundam-se na doutrina (critriosintrnsecos).
Toda a religio, que tem a respeito de Deuse do homem
conceitosopostossconclusesque a razo por si s estabe-
leceu na primeira parte, no pode ser a verdadeira religio.
b) Outrosbaseiam-se no fundador (critriosextrnsecos),
No basta que um homem se apresente como encarregado
duma misso divina ; necessrio que o prove e garanta o seu
ensino por meio de sinaisautnticos, que sejam como que o
selo de Deus,
Para conhecer o valor de cada religio, submet-la-emos
a doisexames, Primeiramente, dirigindo-nosao fundador
pedir-lhe-emosque apresente osseusttulos; depois, exami-
naremosa sua doutrina e veremoso que vale,
2, Religies sobre que deve recair a investigao.
A nossa investigao ter por objecto, em primeiro lugar,
asreligiesem que no reconhecemosossinaisde origem
divina, Trataremos: 1. do paganismo; 2, dasreligies
da China; 3,0 da religio da Prsia; V do mitracismo;
5, dasreligies da India; 6. do islamismo; 7. do
judasmo actual.
Art, I. O Paganismo.
179. Sob este ttulo compreendemosasdiversasreli-
giesque professaram ou professam ainda o politesmo. Sabe-
mosque, desde ostemposmaisremotosda histria, o paga-
nismo foi a religio de todosospovosda antiguidade,
excepo dosJudeus. OsCaldeuse osEgpcios, osAssrios
200AS FALSAS RELIGIES AS RELIGIES DA C H INA 201
e osBabilnios, osGregose osRomanos, todosforam poli-
testas, Em nossosdias, o paganismo ainda a religio dos
povosfeiticistasda Asia e da frica,
1. Fundador.No s suprfluo inquirir quaisos'
fundadores do paganismo, mastorna-se at impossvel saber
como as mitologias se puderam formar. a) Segundo Ev-
MERO, filsofo grego do sc, IV a. C,, osmitoseram narraes'
lendrias, e osdeuses, herisdivinizados, b) Para PLOrmo
e PORFIRIO(III, sc. da nossa era), osmitospagoseram
simbolos que continham dogmasfilosficose noesmorais;
a aventura de Ulissese dasSereiasno passava duma alego-
ria destinada a precaver-noscontra asseduesdo mal,
c) A escola tradicionalista julgou ver nosmitosdeformaes
da tradio primitiva, que no se conservou intacta seno
entre osJudeus; desta maneira explicam muitosparalelismos
entre ascrenaspagse osrelatosda Bblia ; por exemplo,
caixa de Pandora, donde saram todososmales, corresponde
queda de Eva, d) Segundo uma escola maisrecente
(MAX MULLER, na Inglaterra, BRJAL em Frana), osmitostm
a sua origem na linguagem, No princpio, dizem eles, os
deuseseram consideradoscomo osagentesmisteriososdos
fenmenosda natureza, e por isso osseusnomesso apenas
eptetospara designar osfenmenos,
180. 2. Doutrina. A doutrina do paganismo encon-
tra-se consignada nasmitologiasde que encontramosdescri-
esnospoetascomo HOMERO, ou noshistoriadorescomo
HESODO, Asmitologias, porm, so fbulasmaisou menos
ridculasde mitosextravagantessobre a vida dosdeusese as
suasrelaescom oshomens,
Para mostrar a inferioridade dasdoutrinaspagsno
necessrio descer a pormenores; basta indicar a multiplici-
dade dos deuses e asimperfeies da sua natureza, onde
entram promiscuamente a grandeza e a fraqueza, a virtude e
o vcio.
0 paganismo, pelo facto de no ter valor algum doutrinal,
tambm o no pode ter quanto moralidade. Se osdeuses
esto sujeitossmesmaspaixese defeitosque o homem,
podero porventura impor-lhe a virtude ? Quanta maisescusas
o homem encontrar nassuascrenas, tanto maisfcilmente
se eximir do cumprimento dosdeveresmorais,
181.-3.0 Crtica. Sendo o paganismo uma religio
imperfeita e sem sinal algum de origem divina, poderemos
deduzir que o paganismo religio essencialmente m e
intil ? No, Apesar dassuasincompreensveislacunas,
tinha pelo menosa grande vantagem de conservar no homem
o sentimento religioso, de lhe levantar osolhospara o cu e
de o fazer pensar no seu destino futuro. 0 pago que vivia
em relaesconstantescom potnciasocultas, que temia
desagradar-lhes, que solicitava o seu auxlio e se humilhava
diante delas, podia encontrar meioseficazespara lutar contra
asmsinclinaesda natureza,
Por conseguinte, se compararmoso politesmo antigo
com o estado em que o homem no tivesse religio alguma,
tal o estado a que nosquerem levar osmaterialistas
modernos, talvez a melhor concluso ser que o paganismo
prefervel ; porque maisvale uma crena qualquer num
mundo invisvel, do que um estado em que o homem se limi-
tasse a este mundo material,
Qual era a situao em que se encontravam asalmas
sincerase rectas, que buscavam a verdade nesseslongoss-
culosde erro ? , , , Podemoscontentar-noscom o que a f
nosensina acerca da bondade de Deus, da sua justia e mi-
sericrdia, e com o que S. Paulo nosdiz a respeito dospa-
gos, que, no tendo lei escrita, sero julgadossegundo a lei
natural gravada na sua conscincia,
No caso de querermosencontrar soluo para ospro-
blemasdosdestinosdo homem, evidente que o politesmo
antigo no pode comparar-se com o cristianismo, nem
ainda com asreligiesfundadasna ideia da revelao
positiva ( 1 ),
Art, II, As Re1igiiies da China.
182.Na China havia trsreligiesprincipais; asduas
primeirasindgenas, o Taosmo e o Confucionismo ; e a ter-
(1 ) P. DEBROGLIEProblemes et Conclusions de l'historie des Religions.
202
AS FALSAS RELIGIES
ceira importada da ndia, o Budismo, de que falaremosmais
adiante (n.0 ' 194 e seg,) ,
I, O Taofsmo. 1,0 Fundador.
A religio conhe-
cida pelo nome de Taofsmo, atribuda a LAO-TS , filsofo
contemporneo e rival de Confcio. Conhecemospoucos
dadosda sua vida. Algunspensam at que a religio fun-
dada com o seu nome no de modo algum obra sua, mas
unicamente uma coleco de antigassuperstieschinesas,
rejeitadaspor Confcio, e que, no intuito de fazer oposio
ao Confucionismo, foram recolhidase agrupadasem nome de
um sbio, Lao-Ts, a fim de lhesdar maisautoridade,
183. 2. Doutrina. 0 Taofsmo uma amlgama
de superstiesgrosseirasde bruxaria e de magia com as
doutrinasfilosficasde Lao-Ts desfiguradaspelosseusdis-
cpulos. uma
religio politesta e, por esta razo, intil
insistir maisno assunto,
184. II,
O Confucionismo. 1. Fundador.
Confticio
nasceu em 551 antesda nossa era, no reino de Lou,
duma antiga famlia de nome Khung. Ainda jovem, distin-
guiu-se de tal modo pela vivacidade da inteligncia e pela
rectido de carcter que o rei de Lou no hesitou em confiar-
-lhe, apesar da sua pouca idade, funesimportantesno seu
governo, que ele em breve abandonou para seguir a sua vo-
cao, Deu-se ento ao estudo dosKings ou LivrosSagra-
dosda China e quisconsagrar-se direco dospovos, Com
este fim, percorreu osprincipadosfeudaisque formavam
a
Imprio chins; depois, cansado dessa vida errante, voltou a
Lou onde abriu uma escola, na qual leccionou at sua
morte,
Entre osseusnumerososalunosescolheu 72 dosmelho-
res, a que chamou discpulos, esta a origem dos
Letrados,
que, desde esta poca, desempenharam um papel importante
na China, formando uma espcie de casta fechada, qual
estavam reservadostodososfavoresdo poder, Este estado
de coisasdurou at ao comeo do nosso sculo.
Desde ento, sob o signo da Repblica tudo mudou.
A casta dosLetradosmorreu e a doutrina de Confcio deixou
AS RELIGIES DA C H INA
203.
de ser clssica, Osfundadoresda nova China no atenta-
ram
ainda contra ostemplosdesertosdo Sbio, masproscre-
veram assuasobrasdo ensino primrio como antiquadase
relegaram-nas, a ttulo de filosofia antiga, aosacessriosd
o.
ensino secundrio, , , Assim desapareceu sem agitao e.
sem rudo o que parecia uma rocha inabalvel e que era
apenasum tronco carcomido ('),
185.-2,0 Doutrina. 0 confucionismo maisuma.
filosofia moral
do que uma religio, Osdeuses, isto , o
Cu (Chang-Ti), a Terra e osEspritos superiores so
considerados, no como pessoasreais, mascomo abstraces.
Por isso, entre todososcultos, o nico tido em estimao
o dosantepassados; esta a razo porque o confucionismo
uma religio verdadeiramente nacional, Parece que no sentir
de
Confcio e dosseusadeptos, o Chang-Ti, ou Senhor do
Cu, e osoutrosdeusesso smente osespritosdospri-
meirosantepassadosda Nao, Mas, caso estranho, Confcio,
apesar de afirmar a sobrevivncia dosespritos, no fala da
vida futura nem resolve a questo da imortalidade da alma
.
A moral de Confcio possui certa elevao e distingue-se
por um amor real da humanidade; contudo, no ultrapassa
oslimitesde uma moral humana. Proclama bem alto que
necessrio no fazer aosoutroso que no queremosque
nosfaam a ns, e no vai alm desta simplesregra de
justia,
186. 3, Crtica. Se bem que a doutrina de Confcio
no contenha errosmuito graves, uma religio incompleta
e insuficiente para a necessidade dasalmas. um conjunto
de conselhossbiose sensatos, masnada encerra que inspire
entusiasmo, Compreende-se, portanto, que no tenha bas-
tado ao povo chinse que este tenha preferido a idolatria
e
a magia do Taofsmo e do Budismo, . , Podemos, pois
, .
considerar esta doutrina como uma obra humana, relativa-
mente bela, um cdigo religioso e moral bastante perfeito,
que peca maispor defeito do que por excesso. Mas, no
houve na vida do fundador, nem na sua doutrina, sinal
(1) L. WIEGER, Religions et doctrines de la Chine (Christus) .
204 AS FALSAS RELIGIES
algum de revelao divina. Confcio nunca se arrogou o
ttulo de profeta, nem reclamou para a sua doutrina outras
provasque no fossem asda razo e da tradio imemorial ( 1 ).
Art, III. A Religio da Prsia. O Zoroastrismo
ou 11Iazdesmo.
187.A antiga religio da Prsia, ou do Iro, chama-se
Zoroastrismo, do nome do seu fundador, ou Mazdesmo, do
nome do deusAhura-Mazda, que Z oroastro coloca acima de
todososoutrosdeuses, sem exceptuar o prprio Mitra, o
deusda luz.
1, 0 Fundador. No se sabe se o profeta, a quem se
atribui a fundao da religio dosmagos( 2 )0 personagem
histrica ou lendria, Diz-se que Z oroastro viveu no sc, VI
a. C, Revoltado contra osabusosda idolatria e do culto
dosDevas, ou mausgnios, retirou-se a uma gruta solitria,
onde se entregou durante 7 anos meditao. Ali teve
revelaes de Ahura - Mazda, o senhor omnipotente, que
confirmou a sua misso, fazendo numerososprodgiosem
seu favor,
188. 2. Doutrina. 0 Zend-Avesta o livro sagrado
do Z oroastrismo. A data da sua composio incerta.
Encerra, alm disso, fragmentosde poca diferente, alguns
dosquaisparecem ser de composio relativamente recente,
Em metafsica esta doutrina admite o dualismo. Ormazd,
o Deussupremo, criador e Deusdo cu ; masope-se-lhe
um princpio mau, chamado Ahriman, que lhe disputa o
imprio, Osdoisprincpiosdo bem e do mal so eternos,
se bem que desiguais. Rodeadoscada um de seu exrcito
tero de lutar durante 9,000 anos; deste combate Ormazd
sair vencedor e precipitar Ahriman e osDevas, seus
sequazes, no inferno.
(1 ) P. DE B ROGLIE, ob. cit.
(2) Os Plagos eram sacerdotes do Zoroastrismo e passavam por
astrlogos e mgicos. O Evangelho de S . Mateus (II, 1 , 7) refere que, no
nascimento de Jesus, uns magos, guiados por uma estrela, dirigiram-se
a B elm e adoraram < o rei dos Judeus s.
A RELIGIO DA PRSIA 205
A moral do Mazdefsmo pura e elevada, Impe o
respeito da mulher e da criana, recomenda osbonspensa-
mentos, asboaspalavrase asboasaces, Mas, por des-
graa, o culto inferior moral, poisest manchado com
prticasde superstio e de magia,
189.-3. Crtica. No necessrio discutir o carcter
meramente humano desta religio. 8, em certo modo, supe-
rior ao paganismo, combate a idolatria e ensina um espiritua-
lismo elevado. Maso princpio do dualismo erro funesto, ,
enfraquece a moral do Z oroastrismo e torna-a contrria
razo, Ademais, a revelao feita a Z oroastro no se funda
em provasque meream considerao, No se compreende
que Deusrevelasse uma religio a um homem e no lhe con-
cedesse, para provar a verdade dassuaspalavras, testemu-
nhosmaiscertosdo que asnarraeslendriasdoslivros
sagradosdum pequeno povo ( 1 ),
190. Nota. Entre a religio dos Persas e a dos.
Judeus h algumassemelhanasque parecem indicar que
uma delasinfluiu na outra, Ambasesperam o reino de
Deus e admitem a ressurreio dos mortos. Osraciona-
listassupem que foram osJudeusque plagiaram osPersas;
porque, tendo estado sob o seu domnio, teriam podido adoptar
algumasdassuascrenas, Esta hiptese, porm no vero-
smil, porque asconvicesdosJudeusestavam profunda-
mente arraigadase remontavam a datasmuito afastadas, para
sofrer to fcilmente influnciasestranhas.
Quanto ideia do reino de Deus, no h dvida, diz o
P, e Lagrange, que o reino esperado, que o de Deuse
do bem, cujo advento procuram osjustose que ter o seu.
Messias, o reino de Deus, dosprofetas, e do Evangelho,
Ora, se no povo judeu h alguma ideia, cujo desenvolvimenta
seja possvel seguir, certamente a do reino de Deuse do
Messias... Esta primeira concepo escatolgica com cer-
teza de origem judaica,
0 mesmo se diga da ressurreio dos mortos. E dif-
cil que remonte a grande antiguidade esta crena dosPersas, ,
(1 ) P. DE B ROGLIE, op. cit.
206 AS FALSAS RELIGIES
Em Israel, faz parte, segundo osfariseuscontemporneosde
Jesus, da f nacional e apoia-se em textosque no podem
ser posterioresao ano de 150 antesde Cristo. Geralmente
falando, est averiguado que osPersassofreram maisa
influncia dospovosSemitasdo que a exerceram sobre os
seussbditoscativos( 1 ),
Art. IV, OMitracismo.
191. 0 Mitracismo uma religio originada no Maz-
desmo. Havia pouco tempo que tinha penetrado em Roma
e no Ocidente, quando ali chegaram osApstolospara pregar
a JesusCristo, No nosdemoraramosa falar desta religio,
alisde importncia secundria, se osnossosadversrios,
aproveitando-se tambm aqui dasnumerosasanalogiasque
existem entre o Mitracismo e o Cristianismo, no acusassem
este ltimo de plagiato.
Eisaqui asprincipaissemelhanas, que elesgostam
de realar, Mitra um deusjovem, que viveu entre os
homense nasceu tambm numa gruta ou estbulo. Quando
j homem, matou osanimaisnocivose em particular um
toiro; depoissubiu ao cu, donde continua a velar por aqueles
que se iniciam nosseusmistriose lhe dirigem preces.
A moral mitraca impe aosiniciadoso respeito da ver-
dade, a fi delidade ao juramento, a fraternidade, o culto da
pureza fsica e moral. Segundo estespreceitos, Mitra julgar
a alma depoisda mortesse for justa ser conduzida ao cu,
onde viver com Ormazd; se for culpada cair no fogo para
ser abrasada com Ahriman.
0 culto de Mitra apresenta analogiasno menosclaras
com o culto cristo, A iniciao mitraca compreendia sete
grausque foram comparadoscom ossete sacramentosdo cris-
tianismo ; entre outrascoisascontinha abluessimblicas, a
impresso de um sinal na fronte, a oblao de po e de gua,
unesde mel...
Encontram-se tambm semelhanasem algunsporme-
noresdasduasliturgias, mitraca e crist, A festa do nas-
cimento de Cristo, por exemplo, dizem que foi fixada a 25 de
(1 ) LAGRANGE, Iran(Religionde 1') Dic. d'Als.
RELIGIES DA INDIA
207
Dezembro, dia em que se celebrava j o nascimento de Mitra.
Taisso assemelhanasmaisnotveisentre asduasreligies,
Oshistoriadoresracionalistasdasreligiesconcluem des-
tassemelhanasque o mitracismo um antepassado do cris-
tianismo. No se deveria deduzir anteso contrrio ? Os
pontosde semelhana, entre asduasreligies, no so por-
ventura de data posterior na tradio romana acerca de Mitra ?
Osprimeirosapologistascristos, S. JUSTINOe TERTULIANO,
assim pensavam e denunciaram j o plagiato mitraco dos
ritoscristos? Se no tivessem razo, como se explica que
o imperador Juliano, que teria grande satisfao em depreen-
der em falsidade o cristianismo e osseusapologistas, no
tivesse acusado estesltimosde terem tirado a sua doutrina
da religio de Mitra ? Portanto, a hiptese da influncia
mitraca nosdogmase no culto cristo no tem fundamento
histrico.
Art. V. Religies da ndia.
192. Asprincipaisreligiesque se sucederam na ndia
soso Vedismo, o Bramanismo, o Budismo e o Hindusmo
ou Neo-bramanismo.
I . Vedismo. 0 Vedismo , entre asdiversasreligies
dosHindus, a primeira de que fala a histria. A religio
vdica est contida noslivrossagrados, chamadosVedas e
particularmente no maisantigo dentre eles, o Rig-Veda.
E uma religio naturalista onde osfenmenose asforasda
natureza so divinizados. Sob este aspecto, pode comparar-se
ao Paganismo, de que j falmosanteriormente, o que nos
dispensa de demonstrar a sua falsidade.
193. I I , O Bramanismo. 1. Fundador. Nenhum
documento nospermite fixar rigorosamente a origem do Bra-
manismo e, muito menosainda, indicar o nome do fundador.
2. Doutrina. A doutrina do bramanismo encontra-se
noslivrossagradoschamadosVedas, cuja interpretao da
competncia exclusiva dosbrmanes, isto , dossacerdotes
de Brama. Ora osVedascontm, por assim dizer, duas
208 AS FALSAS RELIGIES
religiessobrepostassuma, que era a base da antiga religio
vdica, que um politesmo naturalista; outra, que um pan-
tesmo idealista junto com a ideia da tnetempsicose, constitui
o bramanismo prpriamente dito,
Brama o ser nico, do qual procede o mundo, por
emanao, Todososseressaem dele e nele tornam a entrar,
e assim sucessivamente, at que a alma purificada de toda a
mancha possa ser definitivamente absorvida em Brama e en-
trar para sempre no Nirvana.
A moral do bramanismo dimana desta doutrina da me-
tempsicose.
A alma passa para o corpo de um animal on
de um monstro, conforme foi julgada maisou menosculpada;
portanto a vida deve ser considerada como o mal supremo,
Devemospr termo a estasmortese renascimentoscontnuos,
Ora, para chegar a este resultado, necessrio praticar a.
renncia, aniquilar a concupiscncia, em resumo, extinguir
em nsa sede da existncia, causa de todo o mal. Deste
modo, a doutrina bramnica leva
prtica do ascetismo, a
essasmodificaesexageradasdosfaquiresque habitam as
florestas, que s se alimentam de ervase frutosagrestes, que
permanecem longosmesesna mesma posio, ou ficam ex-
postosaosardoresdo sol tropical durante diasinteiros.
3, 0 Crtica. Como vimos, osVedasso uma aml-
gama de politesmo e de pantesmo. Portanto, impossvel
atribuir-lhesorigem divina, Ainda que a parte moral conte-
nha sbiospreceitossobre a luta contra aspaixes, e exce-
lentesprescriesacerca da castidade, da veracidade, e da
fidelidade spromessas, passa contudo em silncio osdeve-
resda beneficncia e da caridade.
194.-111, O Budismo.
0 bramanismo antigo, com a
sua moral austera e o seu culto frio, sem templose sem dolos,
no
podia ser uma religio popular, No poisde admirar
que a India acolhesse favoravelmente a religio de
Buda.
1, Fundador. A vida de Buda foi escrita muito
tempo depoisda sua morte : osseusbigrafosficaram, por-
tanto, inteiramente vontade, para nela introduzir todasas
lendasque lhesaprouve. S depoisda era crist, note-se
0 BUDISMO201
bem esta circunstncia, utilizaram osdocumentosainda
existentes, ajuntando-lhesnumerosasinterpolaes.
Buda nasceu no sc. VI ou V antesda era crist.
Per-
tencia famlia dosSAQUTAS e chamava-se SIDDARTHA, 0 nome
de Saquia-Muni, por que conhecido, quer dizer Monge da.
famlia dosSaquias. Lendasnumerosas, que seria fastidioso-
contar, envolvem o seu bero e a sua juventude. Algum
tempo depoisdo seu casamento, abandonou a mulher e a fa
mlia, para se fazer monge e trabalhar na sua salvao,
Durante algunsanosentregou-se a espantosasausteridades.
Um dia, quando meditava debaixo duma figueira, sentiu que-
era Buda (de budh, compreender) isto , sbio, iluminado,.
aquele que compreendeu, Encontrara o segredo para nunca
maisrenascer, Desta felicidade quisfazer participante a
humanidade e resolveu propagar a sua doutrina pela pregao..
Antes, porm, decidiu passar quatro semanasna solido..
Durante este retiro, Mara, o Esprito tentador, props-lhe
que, se quisesse, o faria entrar imediatamente no
Nirvana,
para lhe poupar osdesgostose decepesda vida, Buda re-
jeitou a oferta, julgando que devia sacrificar-se pela salvao
elosseusirmose pela propagao da verdade,
0 paralelismo,
que existe entre o retiro e a tentao de
Buda e o retiro e a tentao de JesusCristo no deserto, no
passar despercebido a ningum. Mas, suprfluo defender
astradiescristscontra a acusao de plagiato, visto
que osEvangelhosso anteriores redaco definitiva dos
documentosbdicos(n. 278),
Buda pregou durante maisde 40 anosa doutrina da
libertao, De toda a parte o vinham consultar, Percorreu
vriospasesvivendo de esmolase instruindo ospovos,
Tinha 80 anosquando morreu em consequncia de uma indi-
gesto, Osseusbigrafoscontam que se ouviu ento uma
nusica celeste e que Brama em pessoa veio buscar Buda
para o introduzir no Nirvana, Deste modo, a lenda e a
histria esto misturadasem taisproporesque esta desa-
parece, chegando algunssbiosa duvidar se Buda existiu
realmente,
195.-1 Doutrina.
Ascaractersticasda doutrina
l^Idica so ; a) o atesmo ou, se quiserem, o agnosticismo.
14
210
AS FALSAS RELIGIES
Buda no indaga se existe a Causa primeira, o Ser supremo,
porque a seu ver esse problema
insolvel e intil;
b)
a crena na metempsicose:
doutrina que pertence
tambm ao bramanismo. 0 homem, depoisda morte, levado
ao tribunal de Yama, que o julga e entrega nasmosdosseus
algozes. Depoisde expiada a pena, o inferno no eterno,
a alma reenviada ao mundo para recomear nova exis-
tncia, retomando na escala dossereso lugar que mereceu
pela vida anterior. S esto isentosdo renascimento e
entram na beatitude perfeita do Nirvana aquelesque so pro-
clamadosBudas;
c) o pessimismo,
Na doutrina de Buda, a existncia
um mal e a felicidade suprema consiste em libertar-se dela e
chegar ao Nirvana, Maso que a felicidade do Nirvana ?
E muito difcil diz-lo. 0 Nirvana no
o nada, masa no-
-existncia individual, a iseno da transmigrao e, por con-
seguinte, da dor ;
uma espcie de bem-aventurana passiva
e negativa, em que no existe a vida nem o amor,
A moral bdica
muito semelhante do bramanismo,
Afirma que a existncia
um mal e que o nico remdio
a
prtica da renncia,
Ora a prtica da renncia encerra uma
srie de exercciosbastante parecidoscom osque esto em
uso nasnossasOrdensreligiosas. A meditao, a confisso
dospecados, a direco de conscincia, a castidade (
1 ), a
pobreza so regrasestritaspara os
Bhikchous ou monges
budistas. A renncia absoluta, que deve conduzir morte e
ao Nirvana, semente a
parte negativa
da perfeio crist;
no ,
como na mstica do cristianismo, o desapego dosbens
deste mundo, para ir maisseguramente a Deuse encontrar
nele um dia a vida plena e o
amor perfeito.
0 culto bdico
ao princpio reduzia-se a poucasprticas,
E era lgico, porque, uma vez que a moral bdica era ateia,
seria intil dirigir precesa um Deuscuja existncia se igno-
rava, Depoisda morte de Saquia-Muni, instituiu-se um culto
de venerao em sua honra. Para conservar assuasrelquias
construram-se primeiro monumentosmuito simples, depois
(1 )
bom notar que o monge budista no est ligado por votos e que
se contenta com aceitar a castidade como uma regra. Passa a vida a mendi-
gar e a meditar sobre o nada da existncia e no se
d ao trabalho manual.
0 BUDISMO
templosmagnficos, geralmente no centro dum mosteiro
.
Da por diante, prestou-se culto no semente ao grande Buda,
Saquia-Muni, mastambm a todososoutrosBudas, seme-
lhantesa ele, isto , que tinham entrado no Nirvana, A este
juntou-se o
culto das imagens
e dasesttuas, e assim conver-
teu-se em verdadeiro politesmo e ao mesmo tempo numa
idolatria de mistura com magia.
196. Nota. 0
budismo propagou-se
principalmente
na China, na Indochina, em Cambodja, no Sio, na Birm-
nia, no Japo e no Tibet, Esta
grande difuso
explica-se
pela insuficincia do culto bramnico sem (dolose sem tem-
plos, pelo apostolado dosseusmongese tambm pela
protec-
o do poder civil,
que tinha nosmongesbudistaspreciosos
auxiliares, para desenvolver a influncia dosreisfora do seu
pas, Ademais, ainda que a moral recomendava sobremodo
a prtica da renncia, no proibia aosleigosa poligamia nem
o divrcio,
197.
3," Critica. No preciso provar que a religio
Inidica no
de origem divina, porque Saguia-Muni nunca
prclendcu pausar por Deus, nem por seu enviado; conten-
lon-, so aperra; coin u Itlulo de
Sbio.
Se examinarmosa sua
&wring', Inalo.~
de reconhecer que moralmente possui valor
Inronl, +alfivc l.
Corri a pregao da renncia, do desapego dos
beam tin
terra, da castidade e do esprito de apostolado,
insI,Irou iushomensum grande temor doscastigosfuturos
e
lAdr oldlcv' , onsidcrveis
resultados.
Masinfelizmente a sua doutrina metafsica no est
allura da moral. Incorre na grave censura de
atesmo,
mini a osseuspartidriossejam prticamente politestas
e
idlatras, Alm disso, asdoutrinasda
transmigrao e do
Nirvana
levam tambm o homem consequncia desastrosa
de colocar o ideal da vida monstica na
contemplao pura
e na
mendicidade sem trabalho. A
vida monstica animada
pelo sentimento cristo e regulada de modo a dar a devida
estimao ao trabalho, foi no Ocidente uma fora civilizadora;
osconventosbudistas, pelo contrrio, foram causa de torpor
e de letargia nospovosonde esta instituio floresceu,
religio sem aco social,
, ,
Saquia-Muni pres-
211
212AS FALSAS RELIGIES
OISLAMISMO 21 3
creveu o celibato aosreligiosos, masno se ocupou dos:
leigos, , , Por isso, oshomensimparciais, sem exceptuar os
prpriosracionalistas, no se atrevem a comparar o budismo
com o cristianismo e declaram altamente que este supe-
rior
, No encontramos, pois, no budismo, essa palavr a .
divina que procuramos (I).
198. IV, OHindusmo
ou Neo - bramanismo.
Fundador.-0 budismo, tal como acabamosde expio-lo, s
existiu na ndia durante algunssculos, No sculo III a, C,
apareceram outrasseitasa que deram o nome genrico de
hindusmo ou neo-bramanismo.
A nova religio era o fruto
de vriasescolas, e nenhum nome se liga sua fundao:
uma espcie de fuso entre o bramanismo e osantigos,
cultosidoltricosda ndia. Asduasprincipaisseitasso
o Visnusmo e o Civaismo, assim chamadaspelo facto de
reconhecerem como Deussupremo
Visnu, ou Civa. S o
visnusmo
nosinteressa por causa dassemelhanasque a sua
doutrina apresenta com o cristianismo,
199. I
Doutrina. Odistintivo do visnusmo ou, .
pelo menos, o que a nosso ver lhe d maior interesse,
incluir na sua doutrina osdoisdogmasda
Trindade e da
Incarnao. a) A Trindade hindu, ou Trimurti, compe-se
de Brama, o deuscriador, de Visnu, o deusconservador, e
de Civa, o deusdestruidor, b) Asincarnaes ou avatares
de Visnu ocupam um lugar importante no hindusmo, Visnu
incarnou vriasvezes, tomou sucessivamente asformasde
peixe, de tartaruga, de javali, de leo, e apareceu
principal-
mente na pessoa de doisherisfamosos
Rama e Krisna.
Este ltimo muito clebre: teve um nascimento mila-
groso, foi adorado por pastores, perseguido pelo rei Kamsa
que o temia como um competidor e ordenou a morte das
crianas, Como fcil de ver, h uma grande aproximao
entre o budismo e o cristianismo cujosadversriostentaram.
acus-lo de plagiato, Masacusar no provar, Deveriam
demonstrar que aslendasdo visnusmo existiam antesda su
a.
redaco definitiva, que s se fez nossculosXII ou XIII
=
(1) P. DEBROGLIE, op. cit.
da nossa era ; masat agora ainda no se demonstrou
(n,S 194 e 278),
Z OO. 3, Crtica. Nem o hindusmo nem o budismo
apresentam sinaisde aco divina. 0 culto neo-bramnico, ao
contrrio, contm ritosgrosseirose cruis; vai dum extremo
ao outro, dum ascetismo exagerado at maior devassido;
uma miscelnea de exaltao religiosa e de corrupo moral,
Para dar uma ideia do que fica dito, basta recordar que o
governo ingls, que tem por princpio respeitar ascrenas
dospovosque esto sob o seu domnio, viu-se obrigado a
proibir numerosascerimniasreligiosase costumesbrbaros,
como por exemplo ossacrifcioshumanosoferecidosainda
recentemente deusa Kali, o suicdio dasvivassobre o
tmulo dosmaridos, asimolaesvoluntriasdosfanticos,
que se deixavam esmagar debaixo do carro do deusVisnu,
Art, VI, OIslamismno.
201. Antesda fundao do maometismo, osrabes,
semitas
como oshebreuse, segundo eles, descendentesde
lswacl, filho de Abrao e de Agar, estavam divididosem tribos
Iudepenticnles, umasnmadase outrassedentrias. Havia
unI lao que asunia a todas, a Kaba, santurio comum, que
se eIj!uiu numa gar anla do Iledjaz, a uns90 quilmetros
do mar Verinelllo, A adoravam o Deusde Abrao, porm,
e..lc 411110 li no excinfa
o dosdolosparticularesde cada tribo,
anososrabes iam
a Kaba em peregrinao,
Nolcmosainda, pari Melhor compreenso dasinfluncias
flue, podi.uu exercer-se no esprito de Maomet, que Meca,
Inml; u l,t no sculo V depoisde J, Cristo, era em parte povoada
por judeuse cristos,
1, Fundador. Maomet (Muhammed, em rabe) nas-
ccii em Meca em 570 depoisde J, C, Pobre e rfo muito
cedo, foi destinado ao comrcio por seu tio Abu-Talib, Numa
viagem comercial, feita por conta duma viva rica chamada
hllnnmDJA, que depoisdesposou, teve ensejo de encontrar um
.monge cristo com quem travou relaes, Conheceu tambm
Z aid, cristo de origem judaica, que desejava restaurar a reli-
214AS FALSAS RELIGIES
gio de Abrao, Ter sido esta a origem da sua vocao?
Pode duvidar-se,
Cerca dos40 anoscomeou a preocupar-se com questes
religiosase entregou-se no deserto a longasmeditaes, Um
dia achando-se em contemplao no Monte Hira, teve duas
vises, nasquaisse diz que lhe apareceu o Arcanjo Gabriel e
lhe ordenou que pregasse que no havia outro Deusseno
Allah, e que Maomet era o seu profeta, De harmonia com
esta ordem, Maomet comeou a sua pregao em Meca, ma
s.
foi acolhido com zombariaspelosCoreischitas, seusparentes,
e teve de sofrer contradiesda parte dosJudeus, Em conse-
quncia de uma perseguio maisviolenta, viu-se obrigado a
fugir da cidade e com algunssequazesfoi habitar em Medina,
cidade rival de Meca ; desta fuga, chamada a hegira, que.
data a era muulmana (16 de Julho de 622). Foi recebido
como profeta em Medina e a partir desta poca pregou a.
Guerra Santa.
Dizia aosseuspartidrios; Fazei guerra aosque no
crem em Deus, nem no seu profeta; fazei-lhesguerra at que
paguem tributo e sejam humilhados. Por isso osrabes
empreenderam a guerra santa, tanto durante a sua vida.
como depoisda sua morte, Foi pelasarmasque impuseram
a nova religio aospovosda sia (Sria, Egipto, Prsia) e da .
frica (Tripolitnia, Tunsia, Arglia, Marrocos), No princ-
pio do sc. VIII, atacaram a Europa, e penetraram na Espanha
onde a vitria do Barbate lhesdeu o senhorio da Pennsula
Ibrica. Entraram em Frana pelo vale do Rdano at Lio,
depoisconquistaram o vale do Garona e avanavam j pela
vale do Loire quando osFrancos, comandadospor Carlos
Martel lhessaram ao encontro e osderrotaram em Poitiers
(732). Esta vitria quebrou , o mpeto muulmano no Oci-
dente, como 15 anosanteso imperador LEOIII e osBizan-
tinos o tinham quebrado no Oriente,
202. 2, Doutrina. 0 Alcoro o livro sagrado dos
muulmanose contm asrevelaesdo arcanjo Gabriel ao
profeta. No foi escrito pelo prprio Maomet; uma colec-
o de fragmentosde discursos, que osseusdiscpuloscon-
servaram na memria ou recolheram em tabuinhasencera-
dasou em ossosde camelo, 0 Alcoro para o maometana
O ISLAMISMO21 5
o livro por excelncia, que substitui todososdemais; encerra
a lei civil e a lei religiosa, o Cdigo do juiz e o Evangelho
do sacerdote,
Eisosassuntosprincipais, a) Acerca de Deus, Mao-
met ensina a unidade divina. Rejeita a Trindade e a Incar-
nao e considera como politestasoscristosque adoram a
JesusCristo. Entre osatributosde Deusinsiste especial-
mente no seu poder, que se manifesta maispela ordem e
beleza do mundo do que pelosmilagres; fala tambm de
Deusclemente e misericordioso, admite osantigospro-
fetase sobretudo Abrao, Moiss, Joo Baptista e Jesus.
Maomet o ltimo e o maisperfeito; o Paracleto prome-
tido por JesusaosseusApstolos (S. Joo, XV, 26),
b) A respeito do homem, o Alcoro parece afirmar que
o seu destino neste mundo e no outro depende absolutamente
do vontade arbitrria e soberana de Deus, E verdade que os
doutoresmuulmanosno admitem que a sua religio seja
fatalista; todavia fatalista na prtica, ainda que o no seja
em teoria. Aspopulaesmuulmanasinclinam-se sem difi-
culdade aosazaresda sorte, ou do Destino, como se dizia na
antiguidade, A prpria palavra Islam signifi ca abandono e
resignao na vontade de Deus,
morte segue-se o juzo particular ; a alma depois
destinada ao Paraso ou ao Inferno, masat ressurreio
fica no tmulo, feliz ou infeliz conforme a sentena pro-
ferida,
c) A moral e o culto da religio de Maomet prescre-
vem cinco deveresprincipais; 1. a f, No h Deus
seno Allah, e Maomet o seu profeta; tal a breve
profisso de f que se impe quele que deseja pertencer
ao Islo;
2, a orao. 0 maometano deve orar cinco vezespor
dia ; antesde nascer o sol, ao meio dia, no meio da tarde,
ao pr do sol e depoisde anoitecer, Pode fazer a orao
em particular, ou na mesquita ; para asmesquitasa hora da
orao anunciada pelo almuadem do alto dasalmdenas,
A orao precedida de ablues; o muulmano lava as
mose osbraosat aoscotovelos, ospsat aostornozelos,
e descala-se antesde entrar na mesquita, Todososmovi-
Iuentose atitudesesto preceituados; ao mesmo tempo que
recita asfrmulasdasoraes, tiradasna maior parte do
Alcoro, o muulmano faz genuflexese prostraes, pe as
mosde um e outro lado da cabea, abaixa-asao longo do
corpo ou coloca-assobre osjoelhos. Faz a orao sobre
tapetesespeciais, voltado para Meca como o cristo para
Jerusalm ;
3, a esmola, E de duasespcies: uma obrigatria,
que est taxada segundo a fortuna individual; outra, nau
oficial, em dinheiro ou em espcies, que se faz sobretudo no
fim do msde jejum ;
4, o jejum. 0 Alcoro impe um msinteiro de jejum,
chamado Ramado, Duashorasantesda aurora, osfi isso
advertidosde que tm de preparar a sua refeio da manh ;
desde esse momento at ao pr do sol, o muulmano no
deve comer, nem beber, nem fumar, nem mesmo engolir de
propsito a saliva ;
5, uma peregrinao a Meca, que todo o muulmano
com recursosdeve fazer pelo menosuma vez na vida,
203. 3, Crtica. No se sabe ao certo se Maomet,
que se dizia profeta inspirado, estava realmente convencido
da sua misso, 0 tom entusistico dassuaspregaes, a
convico profunda que soube inspirar aosseuscompatriotas,
de si to altivos, a sua tenacidade perante a indiferena e a
hostilidade dosseus, tudo isto nosleva a crer que foi sincero
no princpio da sua misso; contudo na segunda fase da sua
carreira nada tem de mensageiro divino. No recua diante
de nenhum meio para propagar assuasideiase finge at
falsasrevelaespara desculpar assuasimoralidades, devas-
taese pilhagens.
Se se quisesse, diz o P. DE B ROGLIE, atribuir ao isla-
mismo origem divina, poderia fazer-se este dilema : ou o cris-
tianismo, directamente oposto ao islamismo, obra divina ou
humana, Se obra divina, haveria duasreligiesdivinas
opostas: uma pregando a castidade, a pacincia, a doura
dosmrtires; outra permitindo oscostumesdissolutose a
propagao da verdade pelo alfanje, Se considerarmoso
islamismo como obra divina e o cristianismo como obra
humana, ento o homem pregaria a castidade, a indissolubi-
lidade do matrimnio, a pacincia, o desprezo dasriquezas;
e Deus, pelo seu profeta, autorizaria oshomensa entregar-se
Aspaixessensuaise cobia
Podemospoisconcluir que o islamismo apresenta a
maisestranha mescla de erro e de verdade que se pode
imaginar, 0 seu dogma fundamental, a unidade de Deus,
uma grande e salutar verdade. 0 mesmo se diga do prin-
cpio da excluso da idolatria, que consequncia do pri-
meiro, , , A sano da moral est tambm contida na ideia
da vida futura, do juzo, do cu e do inferno ( 1 ). Asora-
esprecedidasde ablues, que se fazem cinco vezespor
dia e o jejum rigoroso do Ramado, so prticasexcelentes,
Podemossupor que aosmuulmanos, que crem na exis-
tncia de Deuse na recompensa dosque dele se aproxi-
mam , como diz S. Paulo (Heb. XI, 6), que esto de boa-f
na sua religio e prodecem conforme a sua conscincia, Deus
conceder osmeiosnecessriospara se salvarem,
Art. VII. OJudasmo actual.
204, Pouco diremosdo judasmo actual, porque a
prova de que no a religio verdadeira baseia-se na demons-
trao que faremosda divindade do cristianismo. Veremos
maisadiante (n. 213) que a religio moisaica era uma
religio preparatria e que um dosdogmasprincipaisda
sua doutrina era a ideia messinica, isto , a expectativa de
um Enviado divino, que transformaria a religio particula-
rista e nacional dosJudeusnuma religio universal, Ora, se
provarmosque esta espectao se relizou em JesusCristo,
segue-se que o judasmo actual est em erro quando defende,
ou que o Messiasainda no veio e, por conseguinte, vir um
dia como rei temporal a que todasasnaessero subme-
tidas, ou que de facto j veio, masque ficou desconhecido
por causa dospecadosdo seu povo,
205. Concluso geral. 1. 0 Do rpido exame das
principaisreligiesda humanidade, deduz-se que nenhuma
possui ossinaisde origem sobre-humana,
a) Por uma parte, osseus fundadores no so, e geral-
(1 ) P. DEBROGLIEop. cit.
216AS FALSAS RELIGIESOJUDAISMOACTUAL21 7
218 AS FALSAS RELIGIES
mente no se dizem, enviadosde Deus; acontece at por
vezesque a sua existncia, como a de Z oroastro, proble-
mtica, ou que asnarraesda sua vida, como o caso de
Saquia-Muni, pertencem maisao domnio da fantasia do que
ao da histria.
b) Por outra parte, a sua doutrina anda de mistura
com muitasimperfeies, e osmilagres que se lhesatribuem,
so factoscuja realidade no est suficientemente compro-
vada, ou so explicveispor causasnaturais: taisso, por
exemplo, osorculosde Delfose de Mnfis, osfactosmira-
culososatribudosao imperador Vespasiano, e osactosde
magia que acontecem frequentemente em nossosdiasno
Extremo-Oriente.
1 Da falsidade dasreligiesque acabmosde exami-
nar, no podemosconcluir que o cristianismo seja verdadeiro,
Seria tirar uma consequncia que aspremissasno encerram.
Masno porventura este o ilogismo que oshistoriadores
racionalistasdasreligiescometem, quando afirmam que,
sendo falsasasreligiesacima mencionadas, o cristianismo
tambm o ? verdade que encobrem o vcio do raciocnio
sob uma forma maisastuta. Umasvezesconcedem que a
religio crist uma religio superior, que a sua doutrina
a maissublime e o seu fundador um homem ideal; numa
palavra, concedem sem dificuldade que transcendente (I),
maspara maisfcilmente lhe negar todososvisosde origem
divina, Outrasvezesexaltam asfalsasreligiese amesqui-
nham a religio crist, para poder com maisfacilidade con-
cluir que todasso iguais, que h equivalncia de doutrinas
e de fundadorese que, por conseguinte, todasasreligies
so falsas.
A nica resposta a semelhantesataques a demons-
trao da origem divina do cristianismo, como faremosna
seco seguinte, justificando osttulosdo fundador e real-
ando a qualidade da doutrina,
Quando dizemosque a religio crist a nica
(1 ) No aqui o lugar de provar a transcendncia da religio crist.
Esta ser suficientemente demonstrada, quando expusermos as provas da
divindade do cristianismo. A transcendncia na verdade condio neces-
sria da verdadeira religio, e exp-la pode preparar a demonstrao da sua
divindade, embora no seja preciso seguir esse caminho para chegarmos ao
fim que nos propomos.
OJUDASMOACTUAL
verdadeira e que todasas outrasformasreligiosasso falsas,.
no queremosdizer que haja oposio total entre elas, nem
que tudo nasfalsasreligiesse deva condenar, So, pelo
contrrio, verdadeirase boas em todosospontosem que
esto de acordo com a religio verdadeira,
Bibliografia. DE BROGLIE, Problmes et conclusions de l'his-
toire des religions (Tricon): Religion et critique (Lecoffre). DUFOURC Q, ,
Histoire compare des religions paennes et de la religion juive
(B lond).
POULIN ET LOUTIL, La Religion (B onne Presse). Do Dicionrio,
d'Als; C ONDAMIN, art.
Babylone et la Bible; J.HUBY, art, Religion des
Grees; MALLON, art. gypte; LAGRANGE, Religion de ['Iran; D' Ails, La
Religion de Mithra; ROUSSEL, Religions de l'Inde: CARRADEVAUX,
L'Islamisme et ses sedes; POWER, art. Mahomet; TOUZ ARD, Le peuple
juit dans l'Ancien Testament. BRICOUT, Oit en est l'histoire des reli-
gions (Letouzey), H UB Y, Christus (Trad, portuguesa, C oimbra ).
21 9
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
220
SEC O II
A DI VI NDADE DO CRI STI ANI SMO
CAPTULOI. OS DOCUMENTOS DAREVELAO.
VALORHISTRICODOPENTATEUCO
E DOS EVANGELHOS.
Diviso do Pentateuco.
1. Integri-
J'
a) no absoluta,
dade,b) massubstancial.
a) Adversdrios: nacionalistas.
1. Testemunho do Antigo e do
2. Autenti-)I Novo Testamento.
cidade. 1 b) Provas.
2. Tradio judaica.
3. Testemunho de JesusCristo.
3. Veraci-( a)
Moissestava bem informado.
dade.1 b)
Moissera sincero.
1,0 Integri-( a)
Substancial.
dade.b)
Passagenscuja autenticidade contestada,
2 Autenti-^
a)
Argumento extrnseco.
Testemunho da
Tradio.
cidade, l
b) Argumento intrnseco.
Crtica interna.
II
a)
Estavami 1' Oproblema si
A. dos Si-)
bem infor-{ nptico.
mados,
2. Soluespro-
npficos.1
t postas,
1
b) Eram sinceros,
Objeco: Teoria
daidealizao.
a) Adversrios.
Carcter 1, dosfa-
S,deS.Joo,ctos.
2 d 1
b) Provas. {hist-
3 Veraci-
o s
DESENVOLVIMENTO
206. Diviso do captulo. Oapologista cristo pode
empregar dois mtodos para demonstrar a origem divina do
cristianismo,
1.0 0 primeiro o que seguimosquando tratmosdas
falsasreligies, Consiste em dirigir-nosdirectamente ao
fundador e perguntar-lhe pelosseusttulos ou credenciais,
Se apresentar o testemunho de numerososmilagres, devida-
mente comprovadose consignadosem documentos autnticos,
cujo valor e autoridade no podem ser contestados, devemos
admitir que um enviado divino, e que nosso dever escutar
a sua palavra e aceitar a sua doutrina.
2, Embora este primeiro mtodo seja lgico, tem no
entanto o defeito de no ser inteiramente conforme histria,
porque JesusCristo, fundador do cristianismo, no se apre-
sentou como um simples enviado de Deus, mas como o
Enviado esperado pela nao judaica, isto , como o Messias
prometido ao povo escolhido e ao qual Deustinha confiado o
tesoiro da verdadeira religio, A demonstrao crist no
deve, por conseguinte, ser independente; porque de facto
deve fazer-se a demonstrao dastrsrevelaes, uma vez
que o cristianismo se apresenta como a terceira fase da
Revelao divina, em ntima conexo com a Religio moisaica,
da qual se diz a ltima perfeio, Para isso indispensvel,
antesde maisnada, criticar os documentos que noscontam o
facto desta trplice revelao.
necessrio portanto, determinar o valor histrico:
a) do Pentateuco que contm asduasprimeirasreve-
laes, a primitiva (1 ) e a moisaica (2 ) ; b) dosEvange-
lhos onde se encontra a revelao crist.
dade.
(1) ARevelao primitiva ou patriarcal a que Deus fez aos nossos pri-
meiros pais e aos patriarcas. Tem: 1 . como dogmas principais: a unidade
de Deus,
criador do cu e da terra, que tudo fez bem desde o princpio,
dogma que exclua o politesmo e o dualismo; a existncia da alma humana
espiritual e livre, a queda original e a promessa de um salvador; -2. C omo
preceitos: a obrigao de prestar culto a Deus, de lhe oferecer sacrifcios e,
mala tarde no tempo de Abrao, a circunciso como sinal da aliana entre
Deus e o povo judeu.
(2) A Revelao moisaica a que foi feita ao povo judeu por interm-
dio de Moiss e dos profetas: tinha por fim instaurar de novo a religio
1 . 0 Valor
histrico
do Pen-
tateuco.
4. Indciosinternos,
2. Valor
histrico
dos Evan-
gelhos.
t
rico. E discursos
DIVINDADEDOCRISTIANISMO22 t
222 DIVINDADE DO C RISTIANISMO
Preferimoso segundo mtodo ao primeiro, por este nos
parecer incompleto e perigoso ( 1 ), sem contudo nosjulgarmos
obrigadosa fazer a demonstrao completa da origem divina
dasduasprimeirasRevelaes, porque a sua verdade est
intimamente relacionada com a demonstrao da Revelao
crist. Contentar-nos-emoscom demonstrar rpidamente a
autoridade humana do Pentateuco, e com indicar a sua vera-
cidade (n. 213). Este captulo compreender doisartigos.
0 primeiro tratar do valor histrico do Pentateuco. 0 se-
gundo, do valor histrico dos Evangelhos,
207. Nota preliminar aos dois artigos.Queremos
saber se osdocumentos que contm o facto da Revelao
merecem tanta confiana como outrosdocumentosda histria
profana, taiscomo osAnaisde Tcito e oscomentrios
de Csar, Ora, para conhecermoso valor histrico dum
documento necessrio : 1. fazer a crtica do documento:
conserva-se na sua forma original e tal como saiu dasmos
do seu autor? (2 ) 2, investigar o seu autor; 3, asse-
gurar-nosde que este digno de f,
Vamosindagar se estastrscondiesdo valor histrico
dum livro, integridade, autenticidade, veracidade,
se
encontram nosdoisdocumentosda trplice Revelao, isto ,
no Pentateuco e nosEvangelhos, Como nesta segunda Parte
primitiva e preparar o advento do Messias e da religio crist. Tem:
1 . os mesmos dogmas que a religio primitiva, mas pe especialmente em
relevo o dogma da unidade de Deus ( monotesmo ) que as outras naes
tinham abandonado ; 2. os preceitos morais do Declogo, que so a promul-
gao da lei natural, destinando-se por conseguinte a toda a humanidade,
se exceptuarmos a santificao do sbado, que era s para os Judeus. A esta
srie de preceitos ajuntava-se outra s para o povo escolhido, que regulava
o culto (cerimnias, objectos sagrados, dias festivos, pessoas consagradas
a Deus ).
(1 ) Dizemos que o primeiro mtodo : 1. incompleto. Uma vez que
se limita a provar que Jesus C risto
umsimples enviado divino, suprime um
dos melhores argumentos em favor do critianismo, a saber, o argumento
fundado nas profecias; 2. perigoso, porque este mtodo parece uma, con-
cesso tese racionalista, que rejeita a autenticidade do Pentateuco. E ver-
dade que a divindade do cristianismo pode demonstrar-se independentemente
de qualquer outra questo e apoiando-se unicamente na credibilidade dos
Evangelhos. Mas, aceitando ou parecendo aceitar o ponto de vista raciona-
lista, como que os apologistas, que seguiram ao princpio este mtodo,
podero depois justificar os dogmas do cristianismo entre os quais se encon-
tra o da origem divina da religio moisaica?
(2) A integridade
evidentemente a primeira verdade que devemos
demonstrar, visto que, para conhecer o autor, temos de apoiar-nos na crtica
interna do documento, a qual no tem autoridade se o documento no for
autntico.
VALORH ISTRIC O DOPENTATEUCO
223
temosmaisnecessidade dosdocumentosda Revelao crist,
insistiremosde um modo especial no valor dosEvangelhos,
Art. I.
Valor histrico do Pentateuco.
Demonstraremosem trspargrafos: 1. a
integridade;
2. a autenticidade, e 3, a veracidade do Pentateuco.
1 . INTEGRIDADE DO PENTATEUC O,
208. 1. O Pentateuco. Diviso. 0
Pentateuco
(do grego pente cinco e teuchos
livro) tem este nome
por constar de cinco livros, a saber: a) o Gnesis (gr, ccgene-
sls
origem), que narra a criao e a origem dascoisas;
b) o Lxodo (gr. exodos
sada), que historia a sada dos
Israelitasdo Egipto; c) o Levtico, isto , a lei dossacer-
dotesou levitas, assim chamado por ser uma espcie de ritual
do culto e dossacrifcios; d) o dosNmeros, assim intitu-
lado por comear pelo recenseamento do povo e doslevitas;
e) o Deuteronmio ou segunda lei, que uma recapitula-
o da lei j dada. 0 Pentateuco era designado pelosJudeus
com o nome de Tora, ou a Lei, por conter a legislao
moisaica,
209.-2, I ntegridade.
Antesde utilizar um do-
cumento,
necessrio, como dissemos, fazer a crtica do texto
e assegurar-nosque est conforme com o original do autor,
Ocaso no apresentaria dificuldade, se possussemoso aut-
l!rafo; masisto acontece raramente quando se trata de obras
da antiguidade. Osoriginaisperderam-se h muito e no
podemosconhec-losseno atravsde cpiasmaisou menos
Iisque delesforam feitas. Temosde distinguir, portanto,
diasespciesde integridades: a) a integridade absoluta,
quando o texto original chegou at nsna forma primitiva, e
---- b) a integridade substancial,
quando asmodificaesno
atingiram a essncia ou a substncia da obra.
A integridade do Pentateueo substancial. natural que durante
tantos sculos se tenham introduzido algumas modificaes, A
Comisso
bblica, no decreto de 27 de Junho de 1 906, menciona em particular
quatro causas de modificaes: 1 ,
adies posteriores morte de
224
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
Moiss, feitas at por um autor inspirado: evidente que a narrao da
morte de Moiss, no fim do Deuteronmio,
uma adio ; 2. glosas
e explicaes
insertas no texto primitivo (1 ), que tinham por fim expli-
car
as passagens que j se no compreendiam; 3. termos e expresses.
cados em desuso e traduzidos em linguagem mais moderna; -4. enfim
erros dos copistas provenientes da falsa leitura, os quais puderam ter-se
enganado, j involuntriamente transcrevendo uma palavra por outra,
j voluntriamente julgando que era bom corrigir o texto.
Deste modo, como admite a
Comisso bblica,
o Pentateuco sofreu
no decurso dos tempos algumas modificaes em pontos acidentais, que
no atingiram a substancia da obra. Pertence crtica determinar
quais foram essas modificaes. A Comisso bblica reconhece-lhe esse
direito, mas com a condio de justificar as suas suposies e de deixar
a ltima palavra Igreja, a quem compete julgar em ltima instncia
, .
e dizer se os crticos tm ou no razo.
1 AUTENTICIDADE DOPENTATEUCO.
210.-1, Definio. Um livro
autntico quando
foi escrito pelo autor a que a tradio o atribui. 0 Penta-
teuco ,
portanto, autntico se foi escrito por Moiss.
21 1 . 2. Autenticidade. A, Adversrios. A origem moisaica.
do Pentateuco foi posta em dvida pelos crticos racionalistas, Mas, se
bem que todos afirmam que o Pentateuco no
obra de Moiss, no
esto de acordo quanto ao autor e ao modo de composio da obra.
As hipteses principais so
a) A Hiptese documentria. AsTxuc
( 1 766), e EICHHORN
(t 1 827) pensaram ter descoberto, o primeiro no Gnesis smente, e o
segundo em todo o Pentateuco uma coleco de
documentos.
Os prin-
cipais so: o documento
elohistico e o documento javistico, assim desi-
gnados porque Deus num chamado
Eloim e no outro Jav. Esta opinio
esteve em voga, mas sofreu modificaes; em nossos dias os racionalistas
sustentam geralmente que o Pentateuco uma fuso de quatro docu-
mentos: o Elohstico o Javstico, o Deuterondmio e o Cdigo Sacer-
dotal,
redigidos todos em datas diferentes, que vo do sc, IX ao sc. VI
antes de Cristo, muito posteriores, por conseguinte, aos factos que
ref e-
rem
e que no podem ser atribudos a Moiss.
b) A hiptese fragmentria.
Ea opinio de GEDDES(j' 1 802)-
e de VATER
( - 1 826), que consideram o Pentateuco como um agregado
de muitos fragmentos, bastante mal unidos.
c) A hiptese complementar.
a de EwnLD (t 1 875),
que
admite um escrito primitivo,
composto pelos sacerdotes no sc, XIou X,
(1 ) H duas espcies de adies; a continuao e a interpolao.
A continuao
consiste em retomar a narrao onde o autor a deixou e con-
tinu-la. A interpolao
a insero, no meio dum texto, de palavras ou
frases que no estavam no manuscrito do autor.
AUTENTICIDADEDOPENTATEUCO
c hamado
Elohistico,
ao qual um autor mais recente, que dava a Deus o
come de Jav, ajuntou numerosos
suplementos.
B, Provas.
A origem moisaica do Pentateuco
fun-
da-se em quatro argumentostradicionais, mencionadospela
Comisso bblica a 27 de Junho de 1906:
a)
no testemunho de numerosas passagens do Antigo
Testamento.
Em primeiro lugar, diz-se no Pentateuco
, que foi
escrito por Moiss
(Exodo
XVII, 14; XXIV, 4;
Deut, XXIX,
XXX).
Todososlivrosposterioresao Pentateuco confirmam
a mesma origem: o livro de
Josu
faz disso menso; os
Salmos e osProfetas
falam a cada passo da lei de Moiss.
Eliminar Moisse a Legislao moisaica contidosno Penta-
Ieuco
tornar ininteligvel toda a Histria Sagrada;
b) na tradio judaica,
que atribui o Pentateuco a
Moiss: osescritoresJOSEFOe FILOno deixam nenhuma
dvida a este respeito;
c)
no testemunho do Novo Testamento,
JesusCristo
e o Novo Testamento falam muitasvezesde Moiss: so
unnimesem
consider-lo como o Autor do Pentateuco
(Mat.
VIII, 4; XIX, 7, 8;
Marc,
VII, 10; XII, 26; Luc. XVI,
29, 31; XXIV, 44; Act.,
XXI, 21; XXVI, 22;
Rom., X, 5) ;
d)
nos critrios internos
do prprio Pentateuco,
Objeco. verdade que esta quarta prova da
origem
moisaica
do Pentateuco
utilizada em sentido contrrio pelos
racionalistascujashiptesesj indicmos, Com efeito, na
(crtica interna do livro que se apoiam para sustentar que o
Pentateuco um conjunto de escritos,
documentos, fra-
gmentos ou suplementos,
de pocasdiversase que no
pode ser atribudo a Moiss,
Para demonstrar a sua tese alegam : 1,
as diferenas
de
linguagem, de estilo, de ideias
que indicam pocase
autoresdiferentes; 2. o
emprego de dois nomes,
Eloim e
Jav, para designar Deus; 3, os
duplicados, isto , os
factos contados duas vezes:
h, por exemplo, duasnarraes
da criao, do dilvio, do rapto de Sara, da expulso de
Agar; Jos vendido aosIsmaelitase aosMadianitas, Ora
isto, segundo eles, inexplicvel na hiptese da unidade de
composio e de autor ; 4, as
passagens
que relatam factos
225
1 5
226 DIVINDADE DOCRISTIANISMO
ou instituies certamente posteriores a Moiss, por exemplo,
oslugaresonde se fala da Transjordnia, que Moissnunca
habitou, da morte de Moisse dasleisrelativasao reino
(Deut. XVII, 19),
Resposta. A estasdificuldadesdosracionalistas, res-
pondemosem conformidade com asconclusesda
Comisso
bblica: 1, Muitaspalavras egpcias, testemunham que o
autor viveu no Egipto,
2, Asdiferenas de linguagem e de estilo explicam-se
no s pela diversidade dosassuntos, maspelo facto de
Moisster podido servir-se de secretrios, que, sob a sua
direco e segundo o seu plano, redigissem, separadamente
obrasem si completase muitasvezesparalelas.
Alm disso, Moisspde tambm ter utilizado, por si
mesmo ou pelosseuscolaboradores, fontes anterioresou
contemporneas, escritasou orais, que foram insertas
pala-
vra por palavra,
ou s quanto ao sentido, j resumidas, j
desenvolvidas, como algunsepisdiosda histria de Abrao,
de Jacob e de Jos.
Ajuntemosque nada h no decreto da C. B. de 27 de
Junho de 1906, que nosobrigue a supor que estasobrasde
Moisse dosseusamanuensestivessem sido fundidasnuma
s, durante a sua vida. Basta afirmar que estesdocumentos
remontam a Moiss, que dependem dele e no sofreram
nenhuma alterao substancial.
3, 0 emprego dosdoistermos, Eloim e Jav, para
denominar Deus, no prova de modo algum a existncia de
duasfontesou doisautoresdiferentes, No tm o mesmo
sentido; o primeiro designa Deusenquanto Criador e Provi-
dncia, o segundo significa o Deusde Israel, que contraiu
uma aliana solene com o seu povo de eleio.
4. As
passagens de origem certamente posterior a
Moiss
explicam-se por modificaesque puderam ter sido
introduzidasno decurso dossculos, sem menoscabo da
integridade substancial (n, 209),
Dasquatro provasprecedentesse deduz que a
autenti-
cidade moisaica do Pentateuco incontestvel,
VERACIDADEDOPENTATEUCO
227
3. VERACIDADE DOPENTATEUCO,
212.
Provada a integridade substancial do Pentateuco
e a sua autenticidade, poderemosconcluir que o seu autor
digno de f?
Ou melhor, o testemunho de Moissque
encontramosno Pentateuco ter para nsautoridade? Um
testemunho (6
digno de f, quando a testemunha no pde
enganar-se e no quisenganar ( 1 ), Estar nestascondies
0 testemunho de Moiss? E evidente que no pde enga-
nar-se, porque narrava factosde que fora o principal actor,
Tambm no quisenganar; que interesse teria em o fazer?
Mas, ainda que o quisesse, ser-lhe-ia impossvel, porque
escrevia para o seu povo, que tambm tinha sido testemunha
dosacontecimentos,
213.
Observao, Admitido o valor histrico do
Pentateuco, deveramosdemonstrar a
origem divina da Reve-
lao primitiva, e sobretudo da
Revelao moisaica, com a
qual a Revelao crist est intimamente relacionada, Indi-
caremossomente o mtodo que se deve seguir quanto
Revelao moisaica, Devemosdiscutir doispontos, como
fizemosquando tratmosdasfalsasreligiesr os
ttulos do
fundador e o valor da doutrina:
A. O fundador. A misso divina do fundador de-
preende-se dosnumerososprodgiosque Deusoperou por
seu
intermdio, cujospormenoresno podemosdesenvolver.
Mencionemossmente asdez pragasdo Egipto, a passagem
do
Mar Vermelho, o man que alimentou osIsraelitasdurante
'10 anosno deserto, a apario de Deusno Sinai, etc.
B, A doutrina. Para
mostrar a transcendncia da
religio judaica, bastaria indicar assuasduascaractersticas
essenciaisso monotesmo e a ideia messinica.
a) 0 monotesmo, isto , a crena num Deusnico e
criador e a sua adorao exclusiva so um facto nico na
(1 ) Insistiremos mais na questo da veracidade, quando tratarmos dos
I;vangel )os (n.. 233 e seg.).
VALORHISTRICODOS EVANGELHOS229
Art, II, Valor histrico dos Evangelhos.
214. Osquatro Evangelhos( 1 ) segundo ( 8 ) S. Mateus,
S. Marcos, S, Lucase S, Joo, so osprincipais ( 3 ) documen-
tosque contm o facto da Revelao crist, E, pois, neces-
srio, como fizemoscom o Pentateuco, investigar o seu valor
histrico, Em trspargrafosprovaremoss1, a sua integri-
dade; 2, a sua autenticidade; 3, a sua veracidade.
228 DIVINDADE DOCRISTIANISMO
histria dasreligies, que por si s basta para classificar a.
religio judaica 4.. parte, Nenhuma causa natural pode dar
plena explicao deste facto. A raa, ou o clima, a lngua.
ou ascircunstnciasso causasinsuficientese inaceitveis,
No estava porventura o povo judeu rodeado de naesda
mesma raa, da mesma lngua (Assrios, rabes, Arameus)
e no eram todospolitestas? Mash maise melhor ; no
eram osJudeusto inclinados idolatria que muitasvezes
se deixaram arrastar ao culto dosdolos, a ponto de os
racionalistasdefenderem que a nao judaica comeou pelo
politesmo, como todososoutrospovos?
Portanto o monotesmo hebreu s se pode explicar pela
interveno sobrenatural de Deus. Se o povo judeu no
reconhece outro Deusseno Jav, se desterra doscampos
e
dascidadesqualquer simulacro que faz lembrar osdeuses
estrangeiros, porque recebeu o ensino de Moiss, que
o instruiu em nome de Deus; ensino que os
profetas
maistarde lhe recordam inmerasvezespara conser-
v-lo no caminho traado por Deuse defend-lo contra a
idolatria,
b) 0 segundo distintivo da religio de Israel a espe-
rana messinica, Moisse osprofetasno s proclamaram
que o monotesmo era o dogma essencial da sua religio, mas
tambm anunciaram que a sua religio no era definitiva, ,
que sua forma imperfeita e restrita sucederia outra forma.
religiosa destinada a ser a religio universal e que um En-
viado de Deus, um Messias, seria o fundador e o apstolo
dessa futura religio. A esperana messinica , pois, a
expectao do reino de Deus, que se estender por todo o
mundo, e dum Rei, dum Ungido, Cristo ou Messias, que
conquistar todosospovospara o verdadeiro Deus.
Vejamosagora se esta esperana se realizou, se
um
consumado. Osapologistascristosrespondem afirma-
tivamente e procuram demonstrar que JesusCristo, o funda-
dor do cristianismo, verdadeiramente o Messiasesperado,
porque se verificam na sua pessoa todasascondiesanuncia-
daspelosprofetas(da tribo de Jud, da famlia de David, , ,)
e porque provou a sua origem divina com assuasobras,
Iniciaremoseste trabalho depoisde fazermosa crtica do
s.
documentosda Revelao crist.
I. INTEGRIDADEDOS EVANGELHOS,
218. Os textos actuais dos Evangelizas esto ntegros
como quando saram das mos dos seus autores? Tal o
primeiro problema que vamosresolver, A sua soluo apre-
senta alguma dificuldade porque osoriginais, escritoscerta-
mente em papiro, matria frivel e de pouca durao, h
muito que desapareceram,
Alm disso, oscrticosencontram maisde 150,000
variantes
nasnumerosascpiasque delesse fizeram, o que
no nosdeve causar admirao, poisera impossvel que o
texto primitivo tivesse passado por tantasmossem ser alte-
rado ao menosnassuascircunstnciasmnimas, Umasvezes
(1 ) A palavra Evangelho (do grego ., euaggelion boa nova) tem dois
significados. Designa: 1 . a nova por excelncia, a da salvao trazida ao
mundo por Jesus C risto ; 2. os livros que contm esta boa nova. H smente
+nn Evangelho, o de Jesus C risto, e quatro livros que o contm.
(2) primeira vista, a expresso "segundo poderia significar que os
Evangelhos actuais possuem unicamente a autoridade de S. Mateus... Mas
toda a antiguidade considerou esta frmula como uma designao dos auto-
ros (u.o 217).
(3) Dizemos principais e no nicos, porque temos outros meios, que
nos do a conhecer a vida e as obras de C risto. Alm dos Evangelhos h
I ambm :
a) entre as fontes crists cannicas, os Actos dos Apstolos e todos os
+intros escritos do Novo Testamento, principalmente as Epstolas de S. Paulo.
b) entre as fontes crists no cannicas, os Evangelhos apcrifos. O termo
apcrifos (do grego apokruphes escondido) aplicava-se, quer a obras que
nn
querigm conservar secretas, quer a obras cuja origem no se conhecia ao
torto, A: empregado aqui na segunda significao e designa alguns escritos
compostos entre o II e o V sculo, que pretendem narrar a histria evang-
1 tea, mas que no foram reconhecidos pela Igreja como inspirados, nem esto
no C non ou lista oficial dos Livros Sagrados. Os Evangelhos apcrifos prin-
cipals so o Evangelho de S. Pedro, o de Tom, o dos H ebreus... e no tm
valor documentrio. Os pormenores que contm, sobretudo acerca da infn-
+da de Jesus e ltimas horas na cruz, so romnticos, pueris e inconvenientes.
e) entre as fontes no crists : 1. os escritos judeus, tais como as
% ntlguddades judaicas do historiador JosEF, onde se faz aluso misso de
230DIVINDADE DO C RISTIANISMO AUTENTIC IDADE DOS EVANGELH OS231
oscopistasesqueceram palavras, trocaram-lhesa ordem, pas-
saram uma linha, ou escreveram um termo por outro; outras
vezes, asvariantesforam propositadas, chegando at a corri-
gir frasesque julgaram obscuras, ou substituir ideiaspor
outrasmaisconformesssuasopiniespessoaise ssuas.
preocupaesdoutrinais.
0 primeiro trabalho da crtica histrica foi reconstituir , .
o maisfielmente possvel, ostextosoriginaispor meio dos
manuscritos( 1 ) encontrados, dasversesantigas( 2 ) e das
citaesdosSantosPadres( 3 ), Este trabalho tem assuas
dificuldadespor causa do grande nmero de variantes. Con-
tudo, como a maior parte delasso de pouca monta e as
correcestendenciosasso raras (4 ) e fcilmente recognos-
cveis, no h motivospara duvidar da integridade substan-
cial do texto crtico que actualmente possumos.
216. Eisosprincipaislugares cuja autenticidade
posta em dvida. a) S. Mateus. A questo da autentici-
dade do primeiro Evangelho maiscomplexa que a dos
outros; porque tendo sido provvelmente escrito em aramaico,
o dialecto corrente dosJudeusda Palestina, foi depoistradu-
zido para grego. Ser fiel, com respeito ao texto primitivo, a
traduo grega que possumos? A esta questo a Comisso
bblica respondeu, no decreto de Junho de 1911, que o texto
grego substancialmente idntico ao Evangelho escrito pelo
Apstolo na lngua do seu pas.
b) S. Marcos. S a autenticidade do fi nal (XVI, 9-20)
foi rejeitada por algunscrticos, sob o pretexto de faltar em
muitosmanuscritosantigose de diferir do estilo de S. Mar-
cos. A Comisso bblica (26 de Junho de 1912) declarou que
era necessrio considerar S, Marcoscomo autor dosltimos
doze versculos,
c) S. Lucas. S se discutem algunspontossecund-
riose especialmente osversculos43 e 44 do captulo XXII.
A Comisso bblica decretou (26 de Junho 1912) que no se
devia pr em dvida a canonicidade dasnarraesem que
S. Lucasfala da infncia de Cristo, da apario do Anjo que
reconfortou Jesuse do suor de sangue,
d) S. Joo. Asdificuldadesa propsito do quarto
Evangelho limitam-se a trspassagens; narrao do anjo
da piscina probtica (V, 3, 4), ao episdio da mulher adl-
tera (VII, 53; VIII, 11) e ao apndice (XXI), Masno insis-
tamos. Aspassagensque acabamosde mencionar, as
tnicascuja autenticidade seriamente contestada, interes-
sam pouco apologtica e no so necessriaspara a demons-
trao da divindade do cristianismo, A sua interpolao ,
pois, para nsuma questo secundria,
2, AUTENTICIDADEDOS EVANGELHOS,
217. ReconstitudososEvangelhosno texto primitivo,
necessrio indagar quaisosautores e qual a data da com-
posio. Um documento s tem valor quando o autor pode
conhecer osfactosque refere e quisnarr-losfielmente. Os
Evangelhosforam porventura escritospor S. Mateus, S, Mar-
cos, S, Lucase S, Joo, como sustenta o apologista cristo,
Jesus, e as obras de FILO, que nos mostram as ideias que no tempo de Jesus:
preocupavam as almas acerca da questo religiosa; 2. os escritos dos his-
toriadores latinos, como so os de PLNIO o Moo, que, sendo governador da.
B itnia, escreveu a Trajano a perguntar que suplcios convinha in fligir aos
cristos (Epstola 97); de SuETNio (Vidas de Cludio e de Nero), e sobretudo de
Tk crro que narra como Jesus foi crucificado sob o imprio de Tibrio, sendo
Pncio Pilatos governador da Judeia (Anais, livro XV).
Ainda que no possussemos documento algum escrito, teramos sem-
pre o testemunho da tradio, o grande facto histrico da existncia de uma
comunidade crist, cuja origem e desenvolvimento no se explicam sem
a vida e a obra de C risto.
(1 ) Os manuscritos gregos e latinos, at agora descobertos, so mais .
de 1 2.000. Os principais so o Codex Vaticanus, do sc. IV que est na biblio-
teca do Vaticano; o Codex S inaiticus, do IV sc., descoberto no convento do
Monte Sinai por TISC H ENDOnF, que outrora se conservava em S. Petersburgo e
Moscovo, em 1 933 foi vendido pelos sovietes para a Inglaterra onde hoje se
encontra em Londres ; o Codex Alexandrinos, do sc. V, que se encontra tam-
bm no Museu britnico de Londres; o Codex Ephraemi rescriptus, do sc. V,
na B iblioteca nacional de Paris; o Codex Bezae, do sc. VI, na Universidade de
C ambridge. Devemos tambm mencionar numerosos papiros, com fragmentos
dos Evangelhos, alguns dos quais remontam ao sc. II.
(2) Os Evangelhos foram escritos em grego, excepto o de S. Mateu s.
que foi escrito em hebraico. Verses so, pois, as tradues que deles se fize-
ram para outras lnguas. A mais clebre das antigas tradues a Vulgata,:
traduo latina feita por S. JERONIMO no fim do sc. IV. li'tambm asver
ses siraca, egpcia, etipica e armnia.
(3) Os SS. Padres citam muitas vezes as Escrituras, porm as suas ,
citaes no so sempre literais e, neste caso, s podem servir para a recons-
tituio do sentido, mas no da letra.
(4) S existem umas 200 variantes que se relacionam com o sentido, e
destas s 1 5 tem alguma importncia. A raridade das correces tendencio-
sas no difcil de explicar pelos dois motivos seguintes. Em primeiro
lugar, os cristos guardavam cuidadosamente as Escrituras, aprendiam-na s.
de cor, liam-nas em todas as assembleias, numa palavra, nutriam por elas um
respeito e uma venerao semelhantes aos que tinham pela Eucaristia, con-
siderando a alterao dos Livros Sagrados como uma grave profanao. Em
segundo lugar, os adversrios dos cristos judeus, herejes, infiisfixavam
constantemente a sua ateno nas Escrituras, procurando descobrir nelas os
pontos fracos e surpreender os cristos em flagrante delito de falsificao.
M
232DIVINDADEDOCRISTIANISMOAUTENTICIDADEDOS EVANGELHOS233
em conformidade com a doutrina da Igreja? No pelos
Evangelhosque podemossab-lo, porque no era costume
dosantigose especialmente dosOrientaisporem o seu nome
na portada dassuasobras; ademais, h muito que osorigi-
naisdesapareceram.
A autenticidade dosEvangelhoss se pode demonstrar
por duasespciesde argumentos; a) argumentos extrn-
secos, fundadosno testemunho da histria, e b) argu-
mentos intrnsecos baseadosna crtica interna, isto , no
exame do livro em si, do estilo, do mtodo e dasideias
sobretudo, porque asideiasduma poca no podem ser fiel-
mente reproduzidasseno por um contemporneo, Apoiados
nestesdoisargumentos, vamosprovar a autenticidade de
cada Evangelho.
1. Autenticidade do Evangelho de S. Mateus.
A, Argumento extrnseco. Nosfinsdo sculo II, a tra-
dio em todasasIgrejascristsadmite comummente que o
apstolo S. Mateus o autor do primeiro Evangelho. Assim
Oafirmam CLEMENTE DE ALEXANDRIA, TERTULIANOe S. IRENEU,
Este Ultimo dizia cerca do ano 185 ; Mateuspublicou por
escrito na sua lngua o Evangelho para osHebreus, enquanto
Pedro e Paulo evangelizavam Roma e fundavam a Igreja .
J nosmeadosdo sculo II, PAPIAS, bispo de Hierpolis
na Frigia e amigo de S, Policarpo, que foi discpulo de
S. Joo, falava do Evangelho hebreu composto por S. Mateus;
Mateus, dizia ele, escreveu asLogias em lngua hebraica e
cada um traduziu-ascomo pde. Oscrticosmaiseminen-
tespensam que o termo Logia no deve restringir-se aos
discursosdo Senhor, masque deve aplicar-se snarraese
designar, por conseguinte, o nosso Evangelho actual.
Como se v pelostestemunhosque precedem, osescri-
toreseclesisticosdosprimeirossculosatribuem unnime-
mente a composio do primeiro Evangelho a S. Mateus.
Esta unanimidade seria inexplicvel se o facto no fosse ver-
dadeiro; porque, se tivessem querido autorizar uma obra an-
nima, atribuindo-a a uma personagem clebre, teriam esco-
lhido uma pessoa de maior renome, por exemplo S. Pedro, e
no S, Mateusque chegou j tarde ao apostolado e tinha
desempenhado no colgio apostlico um papel secundrio.
B. Argumento intrnseco. 0 testemunho da tradi-`
ao confirmado pela crtica interna do livro. De facto, esta
demonstra que o autor era ao mesmo tempo judeu palestino,.
,publicano, e que escrevia para os Judeus convertidos: trs
caractersticasque convm perfeitamente a S. Mateus.
a) 0 autor do primeiro Evangelho era judeu palestino,
como o provam oshebrasmosque abundam na sua obra.
V-se que est ao corrente de todososcostumesjudaicose
conhece a lei de Moisse osprofetasmelhor que qualquer
outro, Alm disso, descreve a Palestina com fidelidade ex-
mia; sabe a topografia doslugares, Cafarnaum designada
como cidade martima, situada nosconfinsde Z abulon e de
Nftali, fala doslriosdoscampos, dastempestadesviolen-
tasque se levantam no lago de Genezar, etc.. 0 autor era,
pois, da Palestina ou recolheu informaesde um palestino.
b) 0 autor era publicano, como se v da competncia
que mostra em matria de impostos. E o nico dosEvange-
listasque apresenta S. Mateuscomo publicano em Cafarnaum
e que, na enumerao dosApstolos, d a preferncia a
S. Tom, ao contrrio de S. Marcose S. Lucas. E de supor
que por humildade cedeu o primeiro lugar ao seu compa-
nheiro.
c) 0 autor escrevia para Judeus convertidos, como o
demonstra o emprego de muitaslocuesde origem aramaica,
taiscomo rabbi, raca, maminona, gehenna, crbona, no pen-
sando que precisavam de explicao alguma, Porm, o que
indica com maior clareza que se dirigia aosJudeus o fi m
que tem em vista na sua obra, A cada passo se nota que
deseja provar que Jesus o Messias, Para isso, descreve
logo no comeo do seu Evangelho a rvore genealgica, donde
consta que JesusCristo era filho de David e de Abrao;
depoisfrequentemente recorda que em Jesusse cumpriram
asprofeciasantigas. Este fim e mtodo no teriam razo de
ser se se tratasse de leitoresque no fossem Judeus,
Podemospoisconcluir que a autenticidade do primeiro
Evangelho est solidamente comprovada com argumentos
externose internosde grande valor.
Data e lugar de composio. A maioria doscrticos
catlicosso de parecer que a data de composio do pri-
meiro Evangelho deve fixar-se entre osanos36 e 70, e que
234DIVINDADEDOCRISTIANISMO
foi escrito na Palestina, e talvez em Jerusalm, Seja como
for, no possvel que a data ultrapasse o ano 70, como
pensam geralmente osracionalistase, muito menosainda,.
que avance at 130, segundo o sistema da escola de Tubinga.
(BALIR),
218. Autenticidade do Evangelho de S. Marcos,
A, Argumento extrnseco. A partir do sculo II, pos-
sumosnumerosostestemunhosque atribuem o segundo
Evangelho a S. Marcos, discpulo de S. Pedro em Roma.
Osprincipaisso OS de TERTULIANO, de CLEMENTE DE ALEXAN-
DRIA, de S. IRENEU, do Cnon de Muratori ( 1 ), de S. JUSTINO
e de PAPIAS, Refere este ltimo cerca do ano 150, que
Marcos, o intrprete de Pedro, escreveu com exactido,
posto que no por ordem cronolgica, tudo aquilo de que se
lembrava, acerca dosdiscursose factosde Jesus; porque ele
no tinha visto nem convivido com o Senhor, masacompa-
nhara Pedro que ensinava segundo asnecessidadesdos.
ouvintes, .. Deste modo, Marcosno cometeu erro nenhum
quando descreveu algunsfactoscomo se lembrava, A sua.
nica preocupao era no omitir coisa alguma do que tinha
ouvido e nada alterar,
Este testemunho da tradio de grande importncia,
porque incontestvel que, pelo facto de o segundo Evan-
gelho conter asmemriasde S. Pedro, no deixariam de
lho atribuir se tivesse havido dvidasacerca do seu verda-
deiro autor.
B. Argumento intrnseco. Do exame do segundo
Evangelho deduz-se que o autor era judeu, discpulo de
S. Pedro e que o escreveu para osRomanos;
a) Era judeu, como o testemunham numerososhebras-
mosque nele se encontram e ascitaessiro-caldaicasou
aramaicas, taiscomo Ephpheta (abre-te) VII, 34; Eloi,
Eloi, lamma sabachtani (Meu Deus, meu Deus, porque me
(1 ) 0 Cnonde Muratori, assim chamado do nome do sbio italiano que
o descobriu e publicou em 1 740, um documento em que esto enumeradas as
Escrituras do N. T. como se liam na Igreja romana entre o ano 1 70 e 200.
Os quatro Evangelhos so ali mencionados como fazendo parte da coleco
bblica.
AUTENTICIDADEDOS EVANGELHOS
235
abandonaste?) XV, 34, 0 modo como descreve oshbitos,.
oscostumese a geografia da Palestina indicam claramente
que era natural dessa regio e que estava em Jerusalm
quando morreu Jesus, porque o rapaz, de que se fala na cena
da priso no Getsmani e que seguia Jesus, tendo apena s.
sobre o corpo um lenol, provvel que seja ele mesmo.
b) Era discpulo de S. Pedro, como se deduz do lugar
preponderante que S. Pedro ocupa neste Evangelho ; todos
osfactose atitudesdo Prncipe dosApstolosso referidos
com a mxima preciso, 0 autor at maisminucioso
quando fala dosdefeitos, fraquezase pecadosdo Chefe da
Igreja do que quando descreve osfactosmaisgloriososda
sua vida: o que s se explica no caso de o segundo Evan-
gelho ser a reproduo da pregao de S. Pedro,
c) 0 segundo Evangelho foi escrito para os Romanos.
Osmltiplospormenoresque apresenta aosseusleitores
sobre a lngua e costumesjudaicos, o cuidado que tem de
traduzir ostermosaramaicosque cita, asexpresseslatinas
e. maneirasde dizer que abundam na lngua grega do original.
so sinaisevidentesde que o autor escrevia para osRomanos,
Ora todasestasqualidadescondizem perfeitamente
com S, Marcos, discpulo de S, Pedro, cuja me, chamada
Maria, possua em Jerusalm uma casa onde o Prncipe dos.
Apstolosse recolheu ao sair da priso de Herodes(Actos,
XII, 12 ).
Data e lugar de composio.Segundo oscrticoscat-
licos, o segundo Evangelho foi escrito, o maistardar, entre
osanos67 e 70, e muito provvelmente em Roma, poisque
a obra era destinada aosRomanos,
219.-3,1' Autenticidade do Evangelho de S. Lucas.
A. Argumento extrnseco. Desde o fim do sculo II,
a tradio afirma comummente que o terceiro Evangelho
da autoria de S, Lucas, discpulo e companheiro de S. Paulo,
o mdico carssimo como lhe chama o Apstolo dosGen-
tiosna sua Epstola aos Colossenses (IV, 14), Entre os.
principaistestemunhos necessrio mencionar osde CLE-
MENTE DE ALEXANDRIA, de S, IRENEU, de TERTULIANOe da
Cnon de Muratori. Ora, S, Lucasera, na comunidade
crist, um personagem de pouca celebridade para dar o seu
AUTENTICIDADEDOS EVANGELHOS237`
A. Argumento extrnseco. No fim do sc, II, so j
numerososostestemunhosque atribuem o quarto Evangelho
ao apstolo S. Joo, Afora osde TERTULIANO, do Cnon de
Muratori, de TEFILODE ANTIOQUTA, osdoistestemunhos
maisimportantesso
1. 0 de S. Ireneu, bispo de Lio, discpulo de S, Poll-
carpo, e este discpulo de S. Joo, Cerca do ano 185 escre-
via ; Joo, discpulo do Senhor, que repoisou sobre o se u.
peito, escreveu tambm o seu Evangelho, quando vivia em
Efeso na Asia,
2, 0 de Clemente de Alexandria. Algunsanosdepois
de S, Ireneu, escrevia que, segundo a tradio dosAntigos,
Joo, o ltimo dosEvangelistas, escreveu o Evangelho espi-
ritual, sob a inspirao do Esprito Santo e a pedido dosseus
discpulos.
3, A tradio crist corroborada pelostestemunhos
da tradio heterodoxa. CELSO, os judaizantes e osgns--
ticosBASLIDES e VALENTIM dizem explicitamente que o Ultimo
Evangelho foi escrito por S, Joo.
0 quarto Evangelho estava j espalhado em todo o mundo
cristo, em meadosdo sculo II, o que indcio de remontar
ao sculo I, Ademais, testemunhasortodoxase heterodoxas
autorizadasatribuem-no ao apstolo S, Joo, No poispro-
vvel que tenham confundido o Apstolo S. Joo com Joo o
Ancio de que fala Papias; tanto maisque verosmil que.
osdoisnomesdesignem a mesma pessoa.
B. Argumento intrnseco. Do exame intrnseco do
livro se colige que o autor do quarto Evangelho era judeu de
origem, apstolo e (<o apstolo a quem Jesusamava.
a) Era judeu de origem. Osfrequenteshebrafsmosdo
texto grego do livro, ostermosaramaicosque cita e que muito
correctamente interpreta aosseusleitores, oscostumesjudaicos.
que descreve fielmente, ospormenorestopogrficosque d da
Palestina e de Jerusalm, tudo isto prova claramente que se
trata de um autor familiarizado com asideias, lingua e tradi-
esreligiosasdosJudeus.
b) 0 autor apstolo, Asnarraesdosfactosso to
vivas, to precisase to ntimasque supem uma testemu-
nha ocular, que narra o que presenciou.
236 DIVINDADEDOCRISTIANISMO
nome a uma obra que representasse em parte a pregao de
S. Paulo,
B, Argumento intrnseco. A anlise interna do livro
confirma o testemunho da tradio, Mostra que o autor
era mdico, grego de origem, esprito culto e discpulo de
S. Paulo,
a) Era mdico, como o prova a preciso com que
descreve asdoenas,
b) Era grego de origem e esprito culto. Oestilo
maispuro e elegante que o dosprimeirosEvangelhos, a
maior riqueza de vocabulrio e a arte de composio mais
esmerada, so indcioscertosde que o grego era a lngua
materna do autor,
c) Discpulo de S. Paulo. H, entre o terceiro Evan-
gelho e osescritosde S, Paulo, afinidadesnotveisquanto
substncia e quanto forma. A narrao da Ceia no terceiro
Evangelho (XXII, 17, 20) quase idntica da primeira
Epstola aosCorintios(XI, 23, 25), 0 terceiro Evangelho
pe maisem relevo que osoutrosastesespreferidasde
S, Paulo ; a necessidade da f, a gratuidade da justificao
e o carcter universal do cristianismo, No que diz respeito
forma encontram-se pelo menos175 palavraspeculiarese
prpriasdosdoisescritores,
Data e lugar de ,composio. A opinio da maior
parte doscatlicose at dosprotestantes que o terceiro
Evangelho foi composto antesdo ano 70, Variam apenasas
opiniesa respeito do lugar da composio,
220. 4, Autenticidade do Evangelho de S. Joo.
A autenticidade do quarto Evangelho negada por alguns
crticos protestantes e racionalistas (BAUR, STRAUSS, J. R-
VILLE, LoisY). Muitos crticos liberais, entre osquais
RENAN, HARNACK, JULICHER, reconhecem-lhe autenticidade
parcial ; o quarto Evangelho contm um substrato tradicio-
nal, maisou menosimportante, cujo autor foi o Apstolo
S, Joo,
A autenticidade do Evangelho de S, Joo, admitida por
todososcrticoscatlicos, funda-se nosmesmosargumentos
que a dostrsprimeirosEvangelhos,
238 DIVINDADE DOCRISTIANISMO
c) 0 autor era o apstolo a quem Jesus amava, Se
dermoscrdito ao Ultimo captulo, cuja autenticidade no
parece duvidosa, o quarto Evangelho tem por autor o dis-
cpulo
a quem Jesusamava (XXI, 20, 24), Ora, dostrs
apstolosPedro, Tiago o Maior e Jo-do, que viviam em mais
intimidade com o divino Mestre, osdoisprimeirosdevem ser
postosde parte, porque tinham morrido muito antesda com-
posio do livro. E necessrio tambm advertir que o aps-
tolo S. Joao e osmembrosda sua famlia nunca so nomeados
explicitamente no quarto Evangelho, ao passo que osoutros
apstolosso mencionadosfrequentemente. Este silncio
muito natural na hiptese em que o autor do livro calasse
o prprio nome por modstia.
Data e lugar de composio. 0 quarto Evangelho foi
composto em Efeso, pelosfinsdo I sculo, entre osanos80
e 100, ao menossegundo a opinio doscrticoscatlicos(
1 ),
3, VERACIDADEDOS EVANGELHOS.
221. OsEvangelhoschegaram at nsna sua
integri-
dade substancial, e osseusautores so doisapstolos:
S. Mateuse S. Joo ; e doisdiscpulosdosapstolosS. Mar-
cose S. Lucas, A terceira questo que vamosestudar
a
do valor histrico destesdocumentos.
Duas condies so necessriaspara que o historiador
seja digno de f ; 1, 0 que esteja bem informado, e 2, que seja
sincero (n. 166 e 169). Vejamosse estascondiesse rea-
lizam nostrsprimeirosEvangelhos(osSinpticos)
e no
Evangelho de S. Joo.
222. I. Valor histrico dos Sinpticos. Apalavra
Sinpticos,
que se aplica aostrsprimeirosEvangelhos,
vem da disposio em 3 colunasque costumam dar aostextos
destestrslivrossagrados. Se houver
o cuidado de fazer cor-
responder aspartescomuns, obtm-se uma
Sinopse (gr, su-
nopsis vista simultnea), isto , uma vista de conjunto, con-
cordante em muitospontosdo contedo evanglico.
(1 ) Os crticos racionalistas colocam a data da composio do quarto
Evangelho muito mais tarde: entre 1 60-1 70 (B ik ta), cerca de 1 25 (RENAN),
entre 80-1 1 0 (H Anwion), entre 1 00-1 25 (LoisY).
VERACIDADE DOS EVANGELHOS 239
A historicidade dosSinpticosser demonstrada, se pro-
w.' itios: I,' que ostrsprimeirosEvangelistasconheciam
o
title narraram, e 1 se no quiserem enganar-nos,
223. 1.
Os trs primeiros Evangelistas estavam
hem informados.
Para determinar este primeiro ponto
devemosfazer um trabalho preliminar ; estudar osdocumen-
ms, para saber como foram compostos. Sero porventura
narrativasde testemunhasocularese auriculares, que se limi-
laram a referir com exactido o que viram e ouviram?
In
foram escritaspor historiadores, que recorreram a outras
I mitese
utilizaram outrosdocumentos? No segundo caso,
qual o
valor dessasfontes? Levantamosesta questo, por-
q tie
ostrsprimeirosEvangelhosapresentam notveis
seme-
lhanas entre si, e diferem inteiramente do quarto Evangelho .
Como explicar assuasafinidades? Problema delicado,
cujassoluesat hoje apresentadasno passam de hipteses
inaisou menosaceitveis,
224. A. O problema sinptico. Se compararmos
e hi re si ostrsprimeirosEvangelhos, deparam-se-nosmuitas
passagensidnticas, e outrasabsolutamente divergentes,
a) Semelhanas. 1, 0 mesmo plano geral. Ao passo
que o quarto Evangelho narra apenaso ministrio de Jesus
na Judeia, antesda ltima semana da sua vida mortal, os
116 primeirosadoptam uma diviso quadripartida
e enqua-
dram osacontecimentosda vida pUblica de Nosso Senhor
nestesquatro factos; o baptismo de Jesus, o seu ministrio
rui Galileia, a viagem a Jerusalm e a ltima semana na Ci-
dade Santa (paixo, morte e ressurreio). 2. Narraes
dos mesmos factos.
OstrsprimeirosEvangelhoscontam
quase sempre osmesmosmilagrese, o que mais, no mesmo
estilo e com asmesmasexpresses, S. Mateuse S. Lucas
referem tambm osmesmosdiscursos, que so introduzidos
pelosmesmosprocessose terminam com asmesmascon-
cl uses,
b) Divergncias. Ao lado destassemelhanas, h di-
vergnciascuriosas. Em S. Mateus
e em S. Lucasencon-
I ram-se asnarraesda infncia de Jesus, diferentesuma da
outra, ao passo que S. Marcosnada nosdiz acerca desse
VERACIDADEDOS EVANGELHOS241
Romanos. Diante dosprimeirosdizia-se que Jesusera o
verdadeiro Messiasanunciado pelosprofetase que tinha fun-
dado o reino esperado, Em Roma ou nascidadesgregas,
onde o argumento proftico no tinha importncia, osAps-
lob
osapresentavam Jesuscomo um enviado divino a quem
Deustinha comunicado todososseuspoderes.
3. Hiptese dos documentos. Segundo esta hiptese,
asrelaesdosSinpticosentre si provm do emprego de
documentosescritos, Uns (EICHHORN, , ,) supem um s
documento primitivo maisou menosretocado
outros(SCHLEI-
I?RMACHER, RENAN, SCHMIEDEL, LoisY) admitem vriosdocumen-
tosaramaicose gregosque osautoressagradosaproveitaram
e adaptaram na suascomposies; outrosfinalmente (WEiss,
WENDT, STAPPER, A. RVILLE, , ,) distinguem nosEvangelhos
duasfontesprincipais: um Proto-Marcosem grego, ou colec-
ao dosprincipaisactose discursosdo Senhor e um Proto-
-Mateusem hebraico ou conjunto de discursos, Uma hiptese
maisrecente (BATIFFOL, ERMONI, LAGRANGE, GIGOT, CAMERLYNCK)
Nupe em lugar dum Proto-Marcos, o Marcosactual que foi
nlilizado pelosoutrosdoisSinpticos, osquaister-se-iam
tambm aproveitado dosdiscursos(Logia) do Proto-Mateuse
de outrasfontesparticulares, como diz S, Lucas(I, 1),
Crtica destas trs hipteses, A 1,a hiptese da
dependncia comum no explica asdivergnciasque existem
(
iilre ostrsdocumentos, S, Marcoss pde servir de fonte
para Osfactos. Por outra parte, na suposio de S. Lucaster
utilizado S, Mateus, como se explica que assuasnarraes
acerca da infncia de Jesusno concordem entre si e que
faltem em S, Lucasdiscursose parbolasde S. Mateus,
(vialu
lo ambosdo tanta importncia ao ensino de JesusCristo?
A 2.a hiptese da tradio oral d razo dasseme-
lhanasgeraisque h quanto substncia: pois bastante
verosmil que a catequese primitiva tenha tido o mesmo
objecto, factos, milagres, discursos, masno explica
:
a) porque que osmesmosfactosesto agrupadosna mesma
ordem e unidospor ligaesartificiaisidnticas, e b) como
r
que osautoressagradosesto de acordo nospermenores
secundrios, e diferem nospontosmaisimportantes, tais
couro a frmula da orao dominical e a narrao da institui-
240 DIVINDADE DOCRISTIANISMO
assunto, Alm disso, a parte narrativa maisdesenvolvida.
em S. Marcos, e menosabundante em discursos. Cada um
dosevangelistastem partesespeciaisque no vm nosoutros
Evangelhos,
225. B. Solues propostas. Astrsprincipais.
soluespropostaspara resolver o problema sinptico so as
hiptesesda dependncia mtua, da tradio oral e dos.
documentos.
1, Hiptese da dependncia mtua. Segundo osparti-
.
driosdeste sistema, osEvangelistasde data posterior apro-
veitaram o trabalho dosanteriores, Masquem que escreveu..
primeiro ? Neste ponto oscrticosesto em desacordo. .
A hiptese maisgeralmente seguida supe que S. Marcos,
que o maisbreve, anterior a S, Lucase a S, Mateus
(verso grega), e que lhesserviu de fonte.
2. Hiptese da tradio oral. Segundo este sistema
(MEIGNAN, CORNELY, FILLION, FOUARD, LECAMUS, LEVESQUE,..),
osEvangelhosno tm outra fonte, ou pelo menos, tm por
fonte principal a tradio oral; so, por assim dizer, a repro-
duo da catequese ou pregao primitiva. OsApstolose os
missionriosda nova religio, para dar unidade ao ensino,
..
fizeram uma seleco dosactose daspalavrasdo Senhor.
.
Esta a razo, dizem eles, porque encontramosnostrs
Evangelhosa mesma base ou substrato, Acresce a isto que
osApstolos, homenssimplese sem cultura, no se preo-
cupavam com variar a forma sob a qual apresentavam este fun-
damento idntico : a matria da catequese, fora de se repe-
tir, acabou por adquirir uma forma nica e exteriotipar-se.
Estando a tradio oral condenada, no digo j, a
per-
der-se, masao menosa alterar-se pouco a pouco com o desa-
parecimento dastestemunhasda vida de Cristo, oscristos.
quiseram fix-la em escritosautorizados: da a origem dos
Sinpticos. Deste modo, assemelhanas tm a sua expli-
cao no fundamento nico que era o objecto principal d
a.
catequese primitiva.
Asdivergncias no so tambm difceisde explicar,.
porque a catequese devia adaptar-se aosdiferentesmeiosa.
que se dirigiam osprimeirospregadoresda f, 0 ponto de
vista dosjudeusno era o mesmo que o dosGregosou dos:
is
243
VERACIDADEDOS EVANGELHOS
242DIVINDADEDOCRISTIANISMO
o Eucarstica, Estasparticularidadessupem certamente
dependncia a respeito de documentosescritos,
A 3,a hiptese dum
documento primitivo nico
inadmis-
svel, porque neste caso no se compreende que S. Marcos
tenha eliminado osdiscursos. A hiptese de
muitos documen-
tos
explica asdivergncias, masno o acordo dosescritores
sagradosno seu plano geral, na escolha dosmateriaise na
ordem em que foram dispostos, Foi por esse motivo que a
hiptese dasduasfontesfoi rejeitada pela Comisso bblica a
26 de Junho de 1912,
Concluses. 1,
Nenhuma dastrshiptesesacima
expostas
satisfatria. No se pode, portanto, resolver o
problema sinptico por nenhuma delascom excluso das
outras, A explicao maisverosmil a combinao dastrs
hipteses, aproveitando o que h de bom em cada uma.
Em primeiro lugar devemosconceder que a
tradio oral
teve grande influncia, E de supor
tambm que osEvange-
listasse aproveitaram dassuaslembranaspessoaise de
fontesparticularesa cada um, Enfim, no h dificuldade em
admitir, para explicar o plano geral, que osSinpticosse
tenham servido de um ou doisdocumentos primitivossum,
contendo uma relao dosactosdo Senhor, e o outro, uma
coleco dosseusdiscursos,
2. Qualquer que seja o
modo de composio dosSin-
pticos, podemosconcluir e isto o que nosinteressa que
osautoresdostrsprimeirosEvangelhosestavam
bem infor-
mados,
porque escreveram o que elesmesmospresenciaram,
ou o que muitosoutrostinham visto e ouvido e era por toda
a parte anunciado naspregaesde cada dia, sem temor das
contraditasdosadversrios,
226.-1 Os trs primeiros Evangelistas eram sin-
ceros. Os Sinpticosno s
estavam ao facto do que nar-
ravam, maseram sinceros,
como claramente se deduz
a) da crtica interna dos Evangelhos.
Assuasnarra-
tivasdo-nosa impresso de que se trata de pessoasque
referem osfactoscomo se passaram e dizem ascoisascomo
so em si: pintam-nosum retrato pouco lisonjeiro de si
mesmos; no hesitam em confessar a sua baixa condio ;
nlirmam que eram pouco inteligentes;
descrevem a sua cobar-
dia durante
a paixo do divino Mestre; manifestam o seu
desnimo depoisda morte de Jesuse falam da sua incredu-
I idade,
b) da
falta de interesse que tinham em mentir.
Os
homensem geral no mentem, se a mentira no lhestraz
alguma vantagem, Mas muito maisdifcil faltar proposita-
damente verdade, quando a mentira lhespe a vida em
perigo, H certamente homensque afrontam a morte por
fanatismo e para defender uma ideia falsa; mas, ainda nesse
caso, devem estar persuadidosque essa ideia
verdadeira;
porque ningum, que est em seu juzo, mente para sustentar
o que julga falso e lhe pede sacrifcios, E, ainda que no
podemos
absolutamente concluir com PASCAL, que devemos
acreditar nashistrias, cujastestemunhasse deixam deca-
pitar ('), pelo menos
foroso dizer que no lcito duvi-
dar da sinceridade
de semelhantestestemunhas.
Mas, para qu insistir na veracidade dosEvangelistas, se
na nossa poca j no
posta em dvida peloscrticossin-
ceros? Houve tempo, diz HARNACK, em que oshomensse
julgavam obrigadosa considerar a literatura crist primitiva,
senl exceptuar o Novo Testamento, como um tecido de men-
tirase de fraudes, Esse tempo j acabou, Sim, o tempo,
em
que osadversriosdo cristianismo acusavam osEvange-
lislasde impostura e de fraude, j passou de facto, mas
ov
adversrioss mudaram de tctica e de terreno,
corno
vamosver.
227, Objeco.
Teoria da idealizao. Os racio-
"alistas
modernosadmitem a sinceridade dosEvangelistas,
pilas sustentam
que se podem distinguir nasnarraesevan-
k;p licasdoiselementoss
o natural e o sobrenatural. Par-
tindo do princpio a priori, que o milagre no existe nem
tpssivel,
no reconhecem valor histrico seno ao elemento
natural, Como se poder explicar ento a presena do ele-
mento sobrenatural nosEvangelhos?
llm sistema antigo, escola naturalista de Paulus,
(I) Segundo a ed. H avet, p. 387, o texto de Pascal o seguinte: Je
0ro1 8 (pie les histoires dont les tmoins se feraient gorger.
VERACIDADEDOSEVANGELHOS 245
imparcial teve de reconhecer que osSinpticosforam com-
postosantesdo fim do sculo I foi necessrio retocar um
pouco a teoria da idealizao,
Defendeu-se ento que o trabalho de idealizao pode
operar-se muito maisrpidamente; em seguida, atribuiu-se
fir o que antesse concedia lenda e nasceu a famosa distin-
o entre o Cristo da f e o Cristo da histria. Mascomo
que a f poderia estar em contradio to flagrante com os
factosda histria, quando esteseram ainda to recentesque
todospodiam comprovar a sua verdade histrica ?
3, Seria fcil demonstrar que osEvangelistasse limi-
lam sobretudo a narrar fielmente osfactose osditosdo divino
Mestre e s incidentalmente descrevem a f crist do seu
tempo, Sob este aspecto esto muito maisatrasadosque
S. Paulo, cujasepstolasso anterioresaosEvangelhos, De
[acto, no afirma j S. Paulo claramente a divindade de Cristo
e o valor satisfatrio da sua morte, ao passo que nosSinp-
ticosestesdoisdogmasso apenasinsinuados, a ponto de os
racionalistassustentarem que nostrsprimeirosEvangelhos
s10 absolutamente ignorados?
A teoria da idealizao carece, portanto, de fundamento,
e a concluso que se deduz do exame dosSinpticos, que
assuasnarraes so independentesda f nova da Igreja e
iil'o foram escritossob a influncia dasideiasdo ambiente,
masso inteiramente histricos.
228.II. Valor histrico do IV Evangelho.A,
Adversrios. A maior parte doscrticosracionalistasnega-
ao quarto Evangelho todo o valor histrico, ou no lhe
roucederam seno uma historicidade relativa. a) Uns
(S rIAuss) pretenderam que o autor do quarto Evangelho
linha pintado um Cristo histrico segundo o ideal que dele
Inrmara, b) Outros, como RENANe algunscrticosindepen-
d entesda nossa poca (HARNACK), reconhecem nesta obra um
Iundo de tradio histrica, masconsideram osdiscursos como
1/ees. c) Outros, finalmente, como RvLLE, LOISY (I) GUI-
M
244DIVINDADEDOCRISTIANISMO
pretendia que osmilagreseram factosordinrios, que tinham
revestido carcter sobrenatural ao passar pela imaginao dos
Orientaise que a crtica podia reduzi-losssuasjustaspro-
porese explic-lospelasleisda natureza,
Outro sistema, o nico de que nosvamosocupar,
julga eliminar o elemento sobrenatural atibuindo-o ao longo
trabalho de idealizao progressiva, realizado em torno da
vida e da pessoa de Cristo, OsEvangelhosno so livros
meramente histricos, massobretudo livrosde edificao,
onde o crtico deve discernir o que recordao primi-
tiva do que apreciao de f e desenvolvimento da crena
crist ( 1 ), Asnarraesdascurasmilagrosasoperadas
por Cristo no so de modo algum documentosautnticos
do que aconteceu nesta ou naquela ocasio. Foram desloca-
dos, corrigidose amplificados merc do gosto dosEvan-
gelistas, do interesse da edificao e dasnecessidadesda
apologtica ( 2 ).
Por outraspalavras, osmilagresso mitos ou lendas
insertosna histria real do Salvador. E quanto tempo leva-
ram estaslendasa formar-se ? Um sculo apenas, afirma a
escola mtica de Strauss. Menosainda, segundo uma escola
nova (BRANDT, SCHMIEDEL, Loisv), que opina que o trabalho de
idealizao pde realizar-se em menosde meio sculo ( 3 ),
Refutao, 1, 0 princpio em que se funda o sistema
da idealizao, isto , a negao do sobrenatural, um pre-
conceito racionalista impossvel de provar.
2. 0 sistema em si, aplicado aosSinpticos, est em
contradio com os factos,
Em primeiro lugar, no est de
acordo com a data de composio dos Evangelhos, porque a
redaco destesfez-se pouco depoisde se terem dado osacon-
tecimentos. Ora, a idealizao ou a lenda precisam dum
longo espao de tempo para se formar ; foi esse o motivo que
levou o racionalista alemo Strauss a fixar a data de compo-
sio dosEvangelhoscerca do ano 150, Quando a crtica
(1) LOISY, Les Evangiles sinoptiques.
(2) LOISY, ib.
(3) Segundo LOISY, a redaco definitiva do Evangelho de S. Marcos
pode fixar-se aproximadamente cerca do ano 75; a do primeiro e do terceiro
pelo ano 1 00, pouco mais ou menos.
(1 )) Segundo LOISY (Autour d'un,petit livre), o quarto Evangelho no
o eco directo da pregao de C risto. E um livro de teologia mstica, onde
nanuve a voz da conscincia crist, no o C risto da histria.
247
246 DIVINDADEDOCRISTIANISMO
GNEBERT, pensam que o quarto Evangelho, na sua parte
narrativa e nosdiscursos, uma composio artificial
destinada a expor, sob o vu da alegoria, asideiasprprias
do autor,
B, Provas da historicidade. 0 quarto Evangelho no
composio artificial; fcil de mostrar a historicidade
dosfactose dosdiscursosque nele se contm,
a) Os factos so histricos,Os factosmiraculosos
referidospor S. Joo no so simplesalegorias, masrealida-
deshistricascomo se prova:
1, pelo fim da obra. 0 prprio autor declara, no final
da sua obra (XX, 31), que o seu fim levar osleitoresa crer
que Jesus o Messias, o Filho de Deus, para que acredi-
tando tenham a vida eterna em seu nome, A no ser que o
tenhamospor um impostor, o que nem osprpriosraciona-
listasadmitem, necessrio admitir que S, Joo se props
demonstrar a sua tese, apoiando-se, no em narraesaleg-
ricas, masem factostiradosda histria de Jesus, Desta
histria escolhe s algunsmaistpicose maisapropriados
para o seu intento e omite outros, bem como aspalavrasdo
Senhor que no julga necessrias, sobretudo o que j tinha
sido narrado pelosSinpticos, como era natural, Masno
podemosde modo algum duvidar que seja testemunha fide-
digna, que narra o que viu com osseusolhos, o que ouviu
com osseusouvidos, o que assuasmostocaram do Verbo
de vida (I Joo, I, 1, 3 ),
2, pelo exame interno do livro, uma falsidade afir-
mar que o Evangelho de S, Joo no histrico por no ter a
mesma natureza ntima que osSinpticos, porque nem estes
nem S. Joo tiveram a pretenso de ser completos, Ademais,
se S, Joo teve em vista completar osanteriores, essasdiver-
gnciasesto perfeitamente explicadas.
Masnem tudo so divergncias, porque osSinpticose
o quarto Evangelho possuem
partes comuns, Se os compa-
rarmosentre si, afora algumasvariantesde pouca importn-
cia, veremosque osfactosso relatadosduma parte e doutra
com a mesma exactido; taisso, por exemplo, asdescries
da multiplicao dospes, do caminhar de Jesussobre as
guas, da entrada triunfal em Jerusalm e da paixo, Ora,
VERACIDADEDOS EVANGELHOS
se estasnarraesso histricasnosSinpticos, porque o
u,io ho-de ser no quarto Evangelho
Quanto snarrativasprprias deste ltimo, podemos
notar ainda que osacontecimentosso narradoscom muitos
pormenores, que seriam suprfluosna hiptese dasnarraes
simblicas, 0 quarto Evangelho nota ascircunstnciasde
pessoa, de tempo e de lugar com maiscuidado ainda que.
o mesmo S, Lucas: nota, por exemplo, que Nicodemosveio
ler com Jesusde noite (III, 2), que o encontro de Jesuscom
a Samaritana teve lugar sexta hora (IV, 7), que a piscina
prolsitica, em Jerusalm, estava junto da porta dasOve-
Ilrts(V, 2),
Descreve no menosminuciosamente oscostumese as
tradies dos Judeus, as suasfestas, asdivises intestinas
entre Judeus e Samaritanos, entre Fariseus e Saduceus; o
estado poltico da Palestina; os pormenores topogrficos
relativos Galileia, ao lago de Genezar e a Jerusalm,
Tudo isto prova que se trata de um historiador exacto, que
descreve os factos como se passaram, e no dum mstico que
Invents( histriasadaptadas tese que tem em vista,
is ) (Is rllscursos so histricos. Se os factos narrados
no q, arlo I+;vnn, !elho so histricos, no se v razo porque
t tint 4e1t1111 (i1ln t lttn 05 discursos.
FJutunl iIl!+Ins que estes, quanto substncia e quanto
ao 110 ,lO, +Illnsent, ainda piaisque os factos, dosque se
Nin n tionti1 nus' inpllcos, I?ssas
divergncias, porm, que
all, lr u+r sovem eAge.ritr, ex plicam-se perfeitamente pela
Issilnto t lint iliteeillos que os escritores sagrados tiveram
t=u v
u4aulitt4 tr- al ulos nos Sinpticos so muito
vitiia+iah o slit ntis 104110110 sobretudo aos preceitos de moral,
1il;illdti tle, v iii itigre , e4lnrrlht, desprezo das riquezas e das
It n mos I o qu+is h, lhvn, , elho, polo contrario, insiste mais na
01 1 1 1 0;1 m i + ilalologIr, i, no cm- hh:lm. sobrenatural e na misso
to
I pine
prova, unais p;urlicularmente a divin-
dode tio Salvados, rut'ple seus dvida era calo atacada pelo
11ti1hlttc, .., hi, , r.nbressair no
ensino de Jesus o que
ut pntllit Net vir puia o seu ln , Isto no contradizer os
'sInplic os, ntts t:onlplclft- tos.
lia
nilticosracionalistasobjectam ainda que o autor do
omtt) I;vunl;clho tirou a sua doutrina do Logos (ou Verbo
248 DIVINDADEDOCRISTIANISMO
de Deusencarnado) da escola grega de Alexandria e do
Judeu FII.no, Ser difcil explicar a gnese dasideiasde
S, Joo; mas certo que a identificao de Cristo com o
Verbo de Deusno poderia ter germinado no esprito do
apstolo S. Joao, assim como no doscristosda poca,
pois sabido que esta doutrina era comum no ltimo quartel
do primeiro sculo na sia Menor e na maior parte das
Igrejas, se a crena no fosse determinada pela realidade
histrica,
Concluso. Podemos, pois, concluir que o Evangelho
segundo S, Joo tem valor histrico, como osSinpticos.
Sem dvida o Apstolo pde imprimir a sua feio particular
no modo de contar osmilagresdo Salvador, na escolha que
fez dascenasevanglicas, E at incontestvel que osseus
apanhadosdosdiscursosno tm a pretenso de osrepro-
duzir na ntegra, dada a distncia a que o escritor se encon-
trava dosacontecimentos (I), Contudo assuasnarraes,
apesar desta feio prpria, no deixam de corresponder aos
factos, Osseusdiscursospodem ter o seu cunho particular,
masreproduzem o pensamento autntico do Salvador ( 2 ),
Podemos, portanto, na demonstrao da divindade do cristia-
nismo, apoiar-nosno quarto Evangelho como nosSinpticos.
B ibliografia. MANGENOT, L'authenticil mosaque dit Penta-
leaque; Evangiles synoptiques. MCI-IINEAU, L'orlgine mosaque du
Pentateuque (Blond), VIGOUROUx, Manuel blblique, t. I (Roger et
C hernoviz ). LESTRE, L'authentictt du Pentateuque (Rev, pr, d'Ap.
1 5 Maio, 1 5 Junho 1 91 0), Dom H OEPFL, art, Pentateuque et Hexateuque
(Dict. d'Als ), LEPIN, Jsus, Messie et Fils de Dieu; L'origine du
quatrime Evangile; Le, valeur histortque du quatrime Evangile;
Evangiles Canoniques, Evangiles apocryphes (Dict. d'Ales) ; Les tho-
ries de Loisy (B eauchesne). MC H INEAU, L'origine du Nouveau Tes-
tament (B lond). JAC QUIER, Histoire des livres du Nouveau Testament
(Gabalda), RosE, Les Evangiles, iraduction et commentatres (B lond),
FOUARD, Vie de Jsus-Christ (Lecoffre ). B ATIFFOL, Six leons sr
l'Evangile (B loud ). C ALMES, Comment se sont forras les Evangiles
(Lethielleux). LEVESQUE, Nos quatre Evangiles, Lear composition
et tear position respective (B eauchesne ). FILLION, Introduction gn-
rale aux Evangiles (Lethielleux). C AMERLINC K, De quarti Evangelii
(1 ) LEpiN, vangiles Canoniques (Die. d'Als).
(2) Ibid.
VERACIDADEDOS EVANGELHOS
249
auctore (Bruges). DURAND,
A propos des dcrets de 1912 sor les-
Evangiles
(Rev, pr, d'Ap. 1, fey. 1914).TANQUEREY,
Thologie dogma
tique fondamentale
(Descle), LANGLOIS et SEIGNOBOS,
Introduction
aux tudes historiques
(Hachette).RUBY, L' Eva ngile et les Evangiles
( Beauchesne ). ALLO,
Evangile et Evanglistes. C ERFAUX, La voix
vivante de l'Evangile au dbut de l'Eglise
(Carternau ). I, LEAL, Os
lsvaagelhos e a critica moderna
(Apostolado da Imprensa, Porto).
250
DIVINDADEDOCRISTIANISMO DIVINDADEDOCRISTIANISMO251
A, Afirmao I a)
Declaraesindirectas,
impdtcita,
b) Obrasde Jesus,
e) Atitude de Jesus.
B. Afirntno (
a) Confisso de S. Pedro.
explicita rmno
b)
Entrada triunfal em Jerusalm.
c)
Processo diante do Sanedrim,
A. Adversa-l
b)
t
a) Protestantesliberais.
A.
riod.
Racionalistas.
e) Modernistas,
t a)
Testemunhostiradosde S. Joo.
'1. Palavras de Jesus.
1) asper-
feiesde
Deus.
2) osdi-
g, Actos.
Jesus
reitosde
atribu-se
Deus.
3) ospo-
deresde
Deus,
3. Valor
A. Jesus no (a) Lealdade,
destes
una impostor, ( b) Humildade,
dois teste - B, Jesus no um iluso.
munhos.
C. O seu testemunho digno de f.
DESENVOLVIMENTO
Jesus o Enviado de Deus, o Ungido ou Messias, anunciado
pela voz dosprofetas; 2, que o Messiasno um Enviado
ordinrio, maso Filho nico de Deus, e ele prprio, Deus,
Feita esta demonstrao, poder concluir que a Revelao
crist de origem divina,
Temos, portanto de indagar ( 1 ) se Jesusse apresentou
realmente como o Messias esperado pelos Judeus e como
Filho de Deus, tendo a mesma essncia de Deusseu Pai.
Qual foi a resposta de Jesus a estasduasperguntas? Ser
digno de crdito ? Da trsartigos: 1. Jesusafirma a sua
messianidade, 2, Jesusafirma a sua filiao divina, 3, Valor
deste duplo testemunho,
230. Observao.S a primeira questo interessa
propriamente o apologista, Com efeito, basta mostrar que
Jesusdeclarou e provou que era o Enviado de Deus, o
Messiasesperado e que fundou uma Igreja infalvel encarre-
gada de ensinar, at ao fim dossculos, o que devemoscrer
e praticar, Chegadosa esta concluso s falta escutar os
ensinamentosda Igreja e aceitar osdogmasque ela prope
nossa f, entre osquaisest, em primeiro plano, a divindade
de JesusCristo,
A segunda questo est, por conseguinte, fora do dom-
nio da apologtica, ao menosda apologtica construtiva
(n, 2), J no se pode dizer o mesmo da apologtica defen-
siva. Osracionalistasmodernosafirmam, como depoisvere-
mos, no semente que Jesusno Deus, masat que nunca
reivindicou para si este ttulo, que no teve jamaisa conscincia
de ser Deus, e por isso o dogma no tem nenhum fundamento
histrico: sob este aspecto, isto , no campo da apologtica
delensiva, ou se preferem, no campo da apologia dos dogmas,
que trataremosa questo no artigo II (
CAPITULOILA
DIVINDADE DO CRISTIANISMO.
O
FUNDADOR. A AFIRMAO DE JESUS.
1. Jesus
ou
Messias
2. Jesus
Filho
de Deus.
B. Afirmao
de Jesus.
b) Teste-
munhos
tirados
dosSi-
npti-
cos.
229. Diviso do captulo. Para conhecer a
origem
e, por conseguinte, o valor de uma religio, necessrio,
antesde maisnada, dirigir-nosao fundador e perguntar-lhe
quem , Ningum, melhor do que ele, o pode saber e dizer,
Se um Enviado de Deus
ele que no-lo deve manifestar e
provar.
Ora, o apologista cristo quer demonstrar: 1. que
(l) Julgamos intil pr a questo preliminar da existncia de Jesus.
Alguns eruditos, mais originais do que avisados, no quiseram ver na exis-
tOucla de Jesus seno um mito. Tal opinio no merece as honras da discus-
nao. H e a histria de Jesus fosse uma coleco de lendas agrupadas volta
dum nome, como se explicaria um movimento religioso to considervel como
o do cristianismo, um efeito to grandioso sem causa que o produzisse ?
Mas a poea em que Jesus viveu pertence histria e conhecida por uma
sArle de monumentos de cuja autenticidade no se pode duvidar.
(2) Devemos, pois, distinguir bem as duas questes : a
messianidade e
a divindade de Jesus. C omo o fim do apologista demonstrar a divindade do
252DIVINDADE DO C RISTIANISMO
Art. I, Jesus afirma a sua Messianidade.
231. Apresentou-se Jesus como o Messias predito pelos
Profetas? 0 nico meio de o sabermos consultar osEvan-
gelhose a recolher o seu depoimento. Antes, porm, note-
mosque no consideramososEvangelhoscomo escritosdivi-
namente inspirados, mascomo simplesdocumentoshumanos
cujo valor histrico j antesdemonstrmos,
1.e Adversrios. Alguns protestantes liberais e os
racionalistas no admitem que Jesusse tenha apresentado
como Messias, a) Asua tctica consistia outrora (STRAUSS,
BALIR) em considerar osEvangelhoscomo uma coleco de
mitos ou lendas formadasmaistarde pelosApstolos; por-
tanto asdeclaraesde Jesusacerca da sua messianidade so
mera inveno dosescritoressagrados. b) Osracionalistas
e modernistas (WELLHAUSEN, WREDE, WEISS, LoISY) defendem
que Jesusnunca teve conscincia de ser o Messiasou, quando
muito, s se convenceu de o ser, no fim da vida, ou ento
julgava que a sua misso messinica era essencialmente
escatolgica, isto , que no devia realizar-se seno no fim
do mundo, no reino celeste.
232.-2. Tese. Desde o princpio at ao fim da
sua vida pblica, Jesus manifestou, quer implcita quer expli-
citamente, a sua qualidade de Messias.
No preciso ler muitaspginasdo Evangelho, para nos
persuadirmosque, nasdeclaraesde Jesus, houve uma esp-
cie de gradao ascendente. Mas, quer se tenha manifestado
implicitamente em razo dascircunstnciasde tempose de
pessoas, quer explicitamente, certo que a afirmao de Jesus
nunca variou e que teve sempre conscincia da sua messiani-
dade, Faremos, pois, distino entre asafirmaes implci-
cristianismo,
basta provar que o fundador est acreditado por Deus na sua
misso, que um legado divino. Sob este aspecto, a demonstrao crist no
difere da demonstrao da divindade do cristianismo. Da mesma maneira que
o judasmo de origem divina sem que o seu fundador, Moiss, seja Deus,
do mesmo modo o cristianismo divino, desde que se reconhea que Jesus
era verdadeiramente o Messias prometido e enviado por Deus.
JESUS AFIRMA A SUA MESSIANIDADE253
tas e as afirmaes explcitas de Jesus, insistindo maisnas
primeiraspor ser maisfcil contestar-lheso sentido e o
alcance.
A, Afirmaes implcitas. No princpio da sua vida
pblica, Jesuss manifestou a sua qualidade de Messiasdum
modo implcito e com grandesreservas. Se quisermossaber
a razo desta maneira de proceder, dassuasreticnciasque,
primeira vista, poderiam tomar-se como hesitaesduma
conscincia imperfeitamente esclarecida, necessrio que
foquemospor um instante a situao poltica e religiosa da
Judeia contempornea de JesusCristo.
Na poca em que Jesuscomeou a sua vida pblica, a
nao judia estava sob o jugo dosRomanos; o ceptro tinha
sado de Jud e maisdo que nunca a esperana do Messias
preocupava osnimos. Doispartidosrivais, osSaduceus e
osFariseus, se disputavam a influncia,
Osprimeiros, amigosdo poder, ocupavam osaltoscargos
do sacerdcio moisaico, e tinham sobretudo o insigne privil-
gio de escolher entre assuasfileirasaquele que devia exercer
asfunesde Sumo Sacerdote.
Ossegundos, menosfavorecidos, eram essencialmente
um partido religioso e distinguiam-se pelo zelo excessivo na
observncia da Lei e pela repugnncia em comunicar com os
pagos; da o seu nome de Fariseus (do grego pharisaloi,
separados),
Futre eles, um pequeno grupo de fanticos, chamados
7elotes, .-- porque eram maisrigorosose maisformalistasque
os outros, - interpretavam a lei com um rigorismo insupor-
trivel. Foi destes llinos que Nosso Senhor sofreu maiores
i outradles e cuja hipocrisia e orgulho maisseveramente
tuniu.
t oinpreeuhlr.se l ieilnente que, em seitas onde os inte-
i rasev eu.ru tau opostos, a esperana messinica no se apre-
sr. utusse sob o n esn o aspect o. C onformando-se em boa parte
i uu a sua slln,rllo, os ,tiniiuccus ligavam pouca importncia
+'i vinda do novo reino; e ainda que, por orgulho nacional,
desejavarl a independencia do seu pas, no entanto a sujeio
beueliciava-os suficientemente para no se aventurarem a che-
fiar revolues, que podiam ter maus resultados.
254 DIVINDADEDOCRISTIANISMO
OsFariseus, pelo contrrio, suportando com dificuldade
um regime que humilhava o seu orgulho e lhestirava ospri-
vilgios, desejavam ardentemente o advento do Reino espe-
rado, que faria de Jeov, seu Deus, o Senhor do universo, o
qual reporia sobretudo a nao judia no seu lugar, isto , em
primeiro plano, e faria suceder shumilhaese sinjustias
actuaisostriunfose asreparaesdo futuro. Taiseram as
aspiraesda maior parte dosJudeus.
Masquando se tratava de determinar a ndole do futuro
reino osnimosdividiam-se entre si. Uns, insistindo no lado
moral e religioso, consideravam o advento do Messias como
o triunfo dos justos, como o grande dia em que receberia
cada um segundo osseusmerecimentos. Osoutros, eram
a maioria, e osApstolosparticipavam desta mentalidade,
imaginavam sonhosde grandeza e prosperidade material e
viam no Messiasuni grande conquistador, um guerreiro intr-
pido que aparecia de sbito sobre asnuvensdo cu e faria
a sua entrada triunfal em Jerusalem. Nunca se falava de um
Messiasque sofresse, dum Messiaslibertador dasalmase
no doscorpos, que resgatasse oshomensdosseuspecados
e reconciliasse a humanidade culpada com Deus.
E natural que, em taiscircunstncias, Jesusno se tenha
revelado siibitamente como o Messiasque devia ser . No
podia faz-lo sem despertar asapreensesdosSaduceuse sem
provocar osentusiasmosdosFariseus, desencadeando mani-
festaese perturbaesque teriam entravado a sua obra, a
no ser que Deusvencesse todasasoposies fora de
milagres, 0 primeiro trabalho que se impunha era, pois,
preparar asalmaspara a realidade e fazer pressentir a ver-
dade antesde a desvendar claramente.
Sendo assim, como aliaso indicam osprpriosEvange-
lhosno nosdeve causar admirao que Jesus, no
princpio
da sua carreira, no manifestasse abertamente a sua quali-
dade de Messias, e sOmente a insinuasse por declaraes
indirectas, pelassuasobrase pela sua atitude.
a) Por declaraes indirectas. Sem pronunciar o nome
de Messias, diz que veio, que foi enviado para pregar o
Evangelho do reino (Marc. I, 38), para chamar ospecadores
(Marc, II, 17) e para evangelizar ospobres(Luc. IV, 18).
Depoiscomea o seu ensino, mas, temendo fazer brilhar de
JESUS AFIRMA A SUA MESSIANIDADE 255
repente uma luz demasiado viva, envolve o seu pensamento
no vu enigmtico dasparbolas, com o fim de interessar as
almase de asimpelir a procurar a verdade, reservando-se
contudo o direito de ir maislonge com osdiscpulosque
tinha escolhido, instruindo-ossecretamente.
b) Pelas suas obras. Jesusmultiplica osmilagres;
mas, para no precipitar osacontecimentos, impe a obriga-
o rigorosa de no osdivulgarem. Todavia, no hesita em
responder aosenviadosde S. Joo Baptista, quando lhe per-
guntam se aquele que h-de vir , que asobraspor ele
realizadasso um sinal evidente que o reino missinico anun-
ciado por Isaias (XXXV, 5, 6) se efectua, (Luc. VII, 18, 23).
c) Pela sua atitude. Jesusatribui-se poderesque jamais
foram reivindicadospelosprofetas; coloca-se acima da lei;
declara que o Filho do homem , o nome que a si pr-
prio se dava, era o Senhor do Sbado (Marc. II, 28), etc,
233. B. Declaraes explcitas. S no ltimo ano
da vida pblica de Jesusencontramosafirmaesexplcitasda
sua messianidade. So trsasgrandescircunstnciasem
que Jesusse revela pUblicamente quem e,
a) Confisso de S. Pedro, Em Cesareia de Filipe,
estando o Senhor no meio dosseusdiscpulosprops-lhes
sem rodeiosa importante questo Quem dizem oshomens
que sou eu ? At ento tinha deixado a sua personalidade
em segundo plano e a sua nica preocupao era pregar
o reino de Deus; mas, j tempo de se manifestar aos
seusntimos. Interroga-ospoissucessivamente e quando
S. Pedro confessa que era o Messias, louva a sua confisso
(Mat. XVI, 13, 17).
b) Entrada triunfal em Jerusalm. A confisso de
S. Pedro limitara-se apenasaosApstolose, mesmo a estes,
logo depoisde dizer que era o Messias, proibiu severamente
q ue o publicassem, (Mat. XVI, 20). Para outro dia e para
onlro teatro reservava Jesusa manifestao da sua messiani
dade. Foi em Jerusalm, capital da Judeia, que Jesus, pou-
cosdiasantesda sua morte, se proclamou o Messias, diante
de grande nmero de peregrinosvindospara a festa da Ps-
coa no meio de todo o povo que o aclamava como aquele
que vem em nome do Senhor (Mat. XXI, 1, 9),
257 JESUS, MESSIAS
256DIVINDADEDOCRISTIANISMO
c) O processo diante do Sindrio. Finalmente, a mais
solene afirmao de Jesusfoi feita diante do Sindrio,
0 Sumo Sacerdote ps-lhe a questo suprema que devia
decidir da sua sorte, 0 Salvador no o ignora, mas, uma
vez que a sua misso est terminada, desdenha asreticncias
e asrespostasevasivas: proclama bem alto que o Mes-
sias (Mat, XXVI, 63, 64),
Portanto, quer implcita, quer explicitamente, Jesusafir-
mou bem claramente que era o Messias esperado. Logo, as
pretensesdosracionalistasque o negam carecem de funda-
mento. J se no pode afirmar que osEvangelhosso uma
coleco de lendas, poisosmelhorescrticosadmitem que
datam do sculo I, Alm disso, evidente que a vida de
Jesuse a propagao do cristianismo no se podem explicar
por meio de lenda (n. 229 n).
Quanto segunda tese racionalista, na qual se afirma
que Jesusno teve, enquanto viveu, conscincia de ser o
Messiase que s lhe deu o sentido escatolgico, necess-
rio, para chegar a tal concluso, que interprete ao sabor da
fantasia asdeclaraesque deixmosexpostas.
No se pode negar, que algumaspalavrasde Jesusse
referem ao reino futuro, ao reino doseleitosde que ele deve
ser o chefe supremo; que o ttulo de Messiaslhe convir de
um modo especial, no fim dostempos, quando o reino mes-
sinico tiver recebido a sua ltima perfeio. Sem dvida, a
sua Ressurreio e Ascenso ho-de manifest-lo depois
como Messiasglorioso; mas, seja qual for o momento da
carreira messinica que se considere, quer na sua origem,
quando Jesusprepara o reino messinico, quer no fim
dostempos, quando a sua obra receber a forma de finitiva,
Jesusaparece sempre nosEvangelhosno s como
aquele que deve ser o Messias, mascomo aquele que o
,
desde j, como o Messias em pessoa e no exerccio dassuas
funes.
Art. II. A afirmao de Jesus acerca da sua
filiao divina.
234.
J sabemosque Jesusdisse que era o Messias.
Masqual a natureza do Messias? Ser uma simples
criatura, semente superior aosoutroshomenspela sua mis-
so, ou um Ser divino ? Por outraspalavrass homem ou
Deus? (1 )
A resposta a esta nova questo s se pode encontrar no
testemunho de Jesus.
1, Adversrios. a) Segundo osProtestantes libe-
rais (SABATIER, HARNACK, JULICHER, BOUSSET, WELLHAUSEN),
Jesusno um homem como osoutros, uma personali-
dade transcendentesh nele qualquer coisa de divino ; mas
no Deus, apenasmedianeiro entre Deuse oshomens,
um homem que teve uma unio muito ntima com Deus, um
homem, COMO diz SABATIER, em que se revelou maiscomple-
tamente o corao paternal de Deus ( 2 ).
b) Osracionalistas tm ainda maisdificuldade em
admitir a divindade de JesusCristo, Jesusnunca pre-
tendeu passar por uma encarnao de Deus; e ningum pode
duvidar, diz RENAN, que semelhante ideia era profundamente
estranha ao esprito judaico, nem dela h o mnimo indcio
nostrsprimeirosEvangelhos; s se encontra indicada em
algumaspassagensdo Evangelho de S. Joo, que alisno se
podem considerar como um eco do pensamento de Jesus ( 5 ).
Como explicar ento esta persuaso universal? Muito
simplesmente; foi um mal entendido da primeira gerao
crist, que no soube interpretar o testemunho de Jesuse o
ttulo que se dava de Filho de Deus, Jesuss chegou a
:Ilribuir-se este ttulo depoisde ter passado por uma srie de
estadosde alma, por uma espcie de evoluo progressiva do
sell pensamento, que se foi adaptando scircunstncias.
A admirao dosseusdiscpulos, diz ainda RENAN, f-lo sair
lura de si e arrebatou-o. 0 ttulo de rabbi, com que ao prin-
cipio se contentava, j lhe no basta; o ttulo de profeta e de
enviado de Deusj no corresponde aosseuspensamentos.
( I ) Se considerarmos o Messias como Redentor do mundo, a encarna-
0, , l ona pessoa divina seria necessria no caso de Deus exigir uma repa-
ueleqaada pelos pecados da humanidade; mas Deus podia aceitar uma
, . ^ ^ ^ +^ , ao proporcional capacidade dos homens e nesse caso bastava que o
o oileu MSS()simples criatura.
( .i) SAB ATIER, Esquisse dune philosophie de la religiond'apres la psycholo-
(II) RENAN, Vie de Jsus.
1 7
258
DIVINDADEDOCRISTIANISMO JESUS, MESSIAS 259
A posio que se atribui a de um ente sobre-humano, e
quer ser considerado como um ser que tem uma unio com
Deusmaiselevada que osoutroshomens ( 1 ),
Numa palavra, segundo osracionalistas, Jesusfoi divini-
zado pelosseusdiscpulosque o impeliram a tomar um ttulo,
que no princpio da sua vida pblica lhe teria parecido
blasfemo,
c) Osmodernistas,
com a sua distino subtil entre
o Cristo da f e o Cristo da histria, chegam smesmas
concluses, Proclamam que, para a f, Jesus realmente o
Filho eterno de Deus, consubstancial a seu Pai e encarnado
no tempo para resgatar a humanidade e ensinar a verdadeira
religio; masapressam-se logo a acrescentar que o Cristo da
f no o Cristo da histria, E verdade que Jesusse d
a si mesmo o ttulo de Filho de Deus; mas, diz
Loisy,
aplicado exclusivamente ao Salvador o ttulo de Filho de
Deusequivale ao ttulo de Messiase funda-se na qualidade
de Messias; pertence a Jesus. , , como ao nico agente do
reino celeste ( 2 ). A divindade de Jesus um dogma que
se desenvolveu na conscincia crist, masque no fora
expressamente formulado pelo Evangelho; existia semente
em germe na noo do MessiasFilho de Deus, A passagem
da ideia de Jesus-Messias de Jesusverdadeiro Deus, foi,
no dizer de Loisy, obra, de S. Paulo, de S. Joo e dosCon-
cliosde Niceia, de Efeso e de Calcednia, Resumindo;
segundo estasduasteorias(modernista e racionalista) foram
osdiscpulose a Igreja que consideraram a J. Cristo como
Deus, Jesus, porm, nunca se declarou Deus, nunca teve
outra pretenso seno a de ser o Messias,
235. 2. Tese. Jesus manifestou-se como Filho de
Deus, no sentido estrito do termo, quer explicitamente por
meio das suas palavras, quer implicitamente pelo seu modo
de proceder.
Notas preliminares. -1, Devemosprimeiro compreen-
der o estado da questo, Osadversriosdizem que Jesus
(1) RENAW, Vie de Jsus.
(2) LOISY, Autour d'un petit livre.
nrto
Deus, que nunca teve a ideia sacrlega de ser Deuse
ti ne o ttulo de Filho de Deus, que se atribuiu, era sinnimo
de Messias. Trata-se, pois, de saber se Jesusse declarou
verdadeiramente Filho de Deusnum sentido diverso do ttulo
pie Messias. Por outraspalavras, o dogma catlico, quando
ensina que JesusCristo o Filho de Deus, o Verbo encar-
nado, ter o
seu fundamento na afirmao de Jesus?
2,
Posta a questo nestestermos, evidente que a
proposio no pode ser demonstrada seno pela afirmao
pessoal de Jesus. Invocar o testemunho dos Apstolos ou
tia .Igreja, como fazem algunsapologistas,
dar armas ao
adversrio, racionalistas
e modernistas, cuja tctica con-
siste precisamente em dizer que Jesusnunca pensou em
(luever passar por Deus, que foi Deussemente para a cons-
cincia crist.
3,
Como osadversriosnegam geralmente o valor
histrico ao Evangelho de S, Joo, distinguiremosostes-
lemunhosextradosde S, Joo dosque se encontram nos
Sinpticose apoiar-nos-emosde um modo particular nestes
iltimos,
4, No afirmamosque o dogma da divindade de
I, Cristo se encontre no ensino de Jesusformulado nos
mesmos
termose com todosospormenorescom que a Igreja
finiu, Afirmamossemente que o dogma est em germe
e quanto sua substncia nosEvangelhos, que podemos
reconhecer osseusdelineamentosno s no Evangelho de
S. Joo, cujo fim era pr em evidncia a divindade de Jesus
Cristo, masat nosSinpticos.
236.
A, Testemunhos tirados de S. Joo. Pas-
nnniIo em silncio algunstrechos, taiscomo o Prlogo, onde
o
I';v.ulgelista expe assuasideiaspessoaisacerca da natu-
t ext do Messias, citaremosrapidamente ostextosprincipais
(lue contm alguma referncia de Jesusacerca da sua pessoa
e relaescom Deusseu Pai,
a) No encontro com Nicodemos, Jesusdeclara que
assim amou Deusao mundo que lhe deu a seu
Filho
unl/r(mito (Joo III, 16).
b)
No captulo V (16, 18) refere-se que Jesus, depois
ele ler curado um paraltico no dia de sbado, foi perseguido
JESUS, MESSIAS
261
de S, Joo; mas possvel encontrar neleso
equivalente nas
palavras e nasobras do Salvador,
a) Nas palavras. 1,
incontestvel que o ttulo de
Filho de Deus um dosque svezesJesusse dava a si
mesmo, ou que aceitava da parte dosinterlocutorese adver-
s. rios, J vimosque Pedro o proclamara Messias, o
Filho
de Deus vivo (Mat.
XVI, 16) e que, diante do Sindrio,
quando o Sumo Sacerdote o conjurava em nome de Deus
para que dissesse se era o Messias, o
filho de Deus vivo
respondeu afirmativamente,
Mas, que significao dava Jesusa estaspalavras? No
h dvida alguma que o ttulo de Filho de Deus
uma
expresso corrente na Sagrada Escritura, 0 prprio Deus
a
plica-a ao povo de Israel; Assim fala Jeov; Israel
meu
lilho, o meu primognito (Exodo, IV, 22). 0 Justo
I i Illo de Deus, diz-se no livro da
Sabedoria (II, 18), Pode
at dizer-se que, sob certo aspecto e relativamente criao,
Iodo o homem filho de Deus, intil demonstrar que
Jesusno se denominou filho de Deusneste sentido to lato,
Masdeveremosadmitir, com osracionalistase moder-
nistas, que o ttulo de Filho de Deussignifica simplesmente
Messias? De modo algum ; porque, sem falar da confisso
de Pedro e da sua afirmao solene diante do Sindrio, em
que diz claramente que a sua filiao divina lhe confere os
mesmosdireitosde seu Pai e, entre outros, o de ser um dia
o supremo Juiz da humanidade ( 1 ), h outrosmodosde falar
de, Nosso Senhor que indicam com nitidez que assuasrela-
es com
o Pai so duma ordem nica.
l'or isso, quando fala de Deuscom osseusdiscpulos,
diz:
a
m.eu Pai, vosso Pai e nunca diz nosso Pai,
d
Pai Nosso , que ensina a seusdiscpulos, no faz
excepo, poisa orao imagina-se sada da boca dosseus
(
1 i A opinio dos rabinos mais clebres que Jesus foi condenado
Io por se ter proclamado Deus. <Jesus comparece perante o Sindrio,
..ce WaIL(Le Judasnse, ses dogmes, sa mission, t. III) para responder
, unilo de lesa-majestade divina.
(Incontestvelmente, escreve tambm
I ILN( Le.> i7Jicides),
Jesus, com a proclamaro da sua divindade, no s ia
d., . ,
eoniro s crenas seculares do povo judaico, inquietava todas as cons-
bdoldaw o destrua todas as verdades, mas atentava gravemente contra
Mqunla lei que ele, antes to solenemente, declarara que no vinha modificar
.
260
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
pelosJudeus, e que estesprocuravam com maior nsia
mat-lo, porque no smente profanava o sbado, mastam-
bm dizia que Deusera seu pai, fazendo-se igual a Deus,
c)
Disputando um dia com osFariseus, defendia em
princpio que oshomensno podem
conhecer o Pal seno
por intermdio do Filho:
Vsno me conheceisa mim
nem a meu Pai; se me conhecsseis, conhecereistambm
a meu Pai (Joo
VIII, 19), Se o Pai e o Filho so os
nicosque se conhecem reciprocamente, quer dizer que so
ambosda mesma natureza e da mesma dignidade,
d)
Jesusvai maislonge e no teme
identificar-se
com seu Pal.
AosJudeus, que lhe punham esta questo:
se tu so Messias, dize-no-lo abertamente, Jesusres-
pondeu : Eu digo-vo-lo e vsno me credes; asobrasque
eu fao em nome de meu Pai do testemunho de mim..
Fu e o Pal somos a
mesma coisa, E osJudeuscompreen-
deram to bem que ttulo Jesusreivindicava para si que
tomaram pedraspara o apedrejar
(Joo, X, 23-31),
e)
Estasduasideias, o conhecimento do Pai no se
adquire seno pelo Filho, e o Filho se confunde com o Pai,
voltam a ser expressaspor Jesusna ltima conversa com
osApstolos, S, Tom pedia-lhe que lhe indicasse o cami-
nho que leva
ptria onde est o Pai; Jesusdiz-lhe; Eu sou
o caminho, a verdade e a vida: ningum vem ao Pai seno
por mim, Se vsme conhecsseisa mim tambm haveisde
conhecer a meu Pai, E quando Filipe interrompe Jesuse lhe
pede que lhesmostrasse o Pai, responde : H tanto tempo
que estou convosco e ainda no me conhecestes? Filipe!
Quem me v a mim, v tambm o Pai, Como dizesento
mostra-noso Pai ? No credesque eu estou no Pai e que o
Pai est em mim? (Joo, XIV, 5, 10),
Asdeclaraesde Jesusacerca da sua natureza e unio
substancial com o Pai esto pois, bem clarasno quarto Evan-
gelho ; mas, no
necessrio insistir, visto que osnossos
adversriosno discutem o sentido dostextose s rejeitam a
autoridade histrica do livro,
237.
B. Testemunhos tirados dos Sinpticos.
A afirmao ;de Jesusacerca da sua divindade no se apre-
senta nosSinpticoscom a mesma nitidez que no Evangelho
262 DIVINDADEDO C RISTIANISMO
discpulose no da sua. Diz tambm a propsito do juzo
final ; Ento dir o rei aosque ho-de estar sua direita;
Vinde, benditosde meu Pai; possu o reino que vos est pre-
parado desde o princpio do mundo.. , (Mat. XXV, 34);
e na instituio da Eucaristia despede-se dosseusdiscpulos
por estaspalavrasi<Jd no beberei maisdo fruto da vide
at aquele dia em que o beberei novo convosco no reino de
meu Pai (Mat. XXVI, 29).
Este cuidado empregado por Jesus, que era to humilde,
em no se confundir com osseusdiscpulos, em se distin-
guir delesna questo dasrelaescom Deus, no ser prova
suficiente de que a sua filiao transcendente e duma
ordem nica ?
2, NosEvangelhosde S. Mateuse de S. Lucas, Jesus
declara, como j vimosem S. Joo, que o conhecimento do
Pai no se d seno por intermdio do Filho: Ningum
conhece o Filho seno o Pai; e ningum conhece o Pai seno
o Filho (Mat. XI, 27).
3, 0 testemunho maissugestivo de Jesusacerca da sua
filiao divina certamente a parbola dosagricultores homici-
das. Eiscomo a relata S. Mateus (XXI, 33-38); Havia um
homem pai de famlia que plantou uma vinha e a cercou com
uma sebe, e cavando fez nela um lagar, e edificou uma torre
e arrendou-a a unsagricultores, e ausentou-se para longe.
E, estando prximo o tempo dascolheitas, enviou osseus
servosaosagricultores, para receber osfrutos. Masos
agricultores, lanando a mo aosservosdele, feriram um,
mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros
servosem maior nmero do que osprimeiros, e fizeram-lheso
mesmo. E por ltimo enviou-lhesseu filho, dizendo Ho-de
ter respeito a meu filho. Porm osagricultoresvendo o
filho disseram entre si ; Este o herdeiro, vinde, materno-lo
e possuiremosa sua herana. E lanando-lhe asmospuse-
ram-no fora da vinha, e mataram-no. ,
0 sentido desta parbola claro, Contm em resumo a
histria dasrelaesde Israel com seu Deus, Osservosque
vm receber osfrutosda vinha so osprofetasque Jeov
envia ao seu povo e que este recebe mal. 0 Filho nico que
o Pai envia em ltimo lugar, o herdeiro que tem a mesma
sorte, evidentemente Jesus.
JESUS, MESSIAS 263
4. Como Ultimo testemunho, posto que depoisda sua
ressurreio, temosa frmula solene do Baptismo, onde o
Filho aparece entre osnomesdo Pai e do Espirito Santo,
associado a elesno mistrio da Trindade,
b) Nassuasaces. Asacesde Jesus, maisainda
do que assuaspalavras, do testemunho da sua divindade,
1, Jesusapropria-se as perfeies divinas: impecabili-
dade, eternidade, ubiquidade.. ,
2. Reivindica os direitos divinos: exige dosseusdisc-
pulosa f, a obedincia e o amor, at ao sacrifcio da vida
Todo aquele que me confessar diante doshomens, tambm
eu o confessarei diante de meu Pai que est noscus. Quem
ama o pai ou a me maisdo que a mim, no digno de
mim (Mat., X, 32, 37). Aceita homenagenssbmente pres-
ladas divindade e deixa que se prostrem diante dele e o
adorem nesta humilde atitude que o leproso no sop do
monte dasBem-aventuranas(Mat., VIII, 2) e o possesso de
Gerasa ( Marc., V, 6) imploram a sua cura ; Jairo, chefe da
Sinagoga, prostra-se igualmente diante de Jesuspara lhe pedir
a ressurreio da sua filha que acabava de morrer (Mat.,
IX, 18).
OsApstolos, pelo contrrio, tinham outro modo de
proceder completamente diferente, nasmesmascircunstn-
cias. Quando S. Pedro foi ter com Cornlio, este pros-
trou-se a seusps, MasPedro levantou-o dizendo-lhe ; Levan-
ta-te, poiseu sou um homem como tu (Actos, X, 25, 26),
Oa mesma maneira, Paulo e Barnab, depoisde curar um
coxo, esquivaram-se ashonrasque lhesqueriam prestar
Actos, XIV, 10-17),
0 procedimento de Nosso Senhor poistanto maissigni-
licutivo quanto maisse ope ao dosApOstolos,
3, Atribui-se poderes divinos. J vimosque se coloca
'lama da Lei, que trata de igual para igual com o divino
Legislador do Sinai, Interpreta e modifica, como lhe parece,
0,4 preceitosdo Declogo e f-lo com autoridade soberana
o Ouv istesque foi dito aosantigos, E eu vos digo .
4. pete Ele vriasvezes(Mat., V, 22, 28, 32, 34, 39, 44).
Vimostambm que perdoou os pecados: privilgio exclu-
NI vtimeute reservado a Deus; e, para mostrar que no usur-
pava um poder que lhe no pertencia, operou imediata-
mente um milagre, Anuncia que ser um dia o Juiz supremo
da humanidade, que enviar a seus Apstolos o Esprito
Santo.
Faz sobretudo numerosos prodgios, de modo que julgam
todosque dele sa uma virtude divina: manda como sobe-
rano a natureza, expulsa osdemnios, cura osdoentes, res-
suscita osmortos, e tudo isto sem invocar nenhum poder
estranho, Opera em seu prprio nome e, o que mais,
confere aosseusdiscpuloso poder que ele possua sem
limites,
Concluso. Portanto, quer se trate dassuaspalavras
quer dassuasaces, Jesusapresenta-se unido a Deusdum
modo to ntimo, reivindica tal participao nospoderese
nosprivilgiosde Deusque assuaspretensesseriam ver-
dadeiramente incompreensveis, se fosse estranho natureza
divina, Para falar assim, para proceder deste modo, era
necessrio que tivesse plena conscincia de que Deusestava
nele, no semente pelo seu poder e pela sua virtude, mas
tambm pela sua natureza e pela sua essncia; numa palavra,
era necessrio que fosse Deus.
Por conseguinte, podemosconcluir, s pelo testemunho
dosSinpticos, que a Divindade de JesusCristo est baseada
num fundamento slido, e que no h soluo de continui-
dade entre o facto histrico e a sua interpretao, entre a
afirmao de Jesuse o dogma definido pela Igreja,
Art, III. Valor dos dois depoimentos
de Jesus.
238. Nosdoisartigosprecedentesrecolhemoso depoi-
mento de Jesusacerca da sua pessoa e vimosque se declarou
como Messias, e Filho de Deus, Masno basta, porque um
depoimento s vale quanto vale a testemunha. Podem dar-se
trshipteses: 1, a testemunha no sincera e quer enga-
nar-nos; 2, engana-se e ilude-se a seu respeito ; 3, conhece a
verdade e quer diz-la, Portanto, a testemunha pode ser
impostora, ilusa, ou veraz segundo oscasos. Relativamente
a Jesusdevemosrejeitar osdoisprimeirose admitir o terceiro,
1. Jesusno era um impostor. Jesuster-nos-
enganado? Quando afirmava que era o Messias, Filho de
Deus, tinha conscincia do que dizia ? Oscrticoscontem-
porneosformam da grandeza moral de Cristo uma ideia sufi-
cientemente elevada para se deterem em hiptese to injuriosa,
Todosreconhecem que a sinceridade e a humildade de Jesus
fazem que esteja acima de toda a suspeita,
a) Sinceridade. Com efeito, a qualidade que Jesus
maisestima sem dvida a franqueza. Foi por esse motivo
que algunso julgaram demasiado duro para com aquelesque
a no possuam, cujo exterior no estava em harmonia com o
interior, numa palavra, para com oshipcritas, Ningum
maisdo que Ele verberou este vcio, ningum denunciou com
tanta veemncia a imundcie interior que se esconde sob a
limpeza exterior,
Ai de vs! diz, escribase fariseushipcritas, porque
soissemelhantesaossepulcrosbranqueados, que parecem por
fora formososaoshomense por dentro esto cheiosde ossos
^ mortose de toda a asquerosidade. Tambm vspor fora
vosmostraisna verdade justosaoshomens, maspor dentro
eMlnlscheiosde hipocrisia e iniquidade. (Mat. . XXIII,
27, 28). JesusIcnt tal estima da rectido, quer inculc-la to
)nnlnntlnmcole nu ;Tua dosseusdiscpulosque lhesproibe o
juinnttinlo, iutil II cni rn rtlo da confiana mtua na palavra
tio renu a4iu llninl0. I'u vos digo que absolutamente no
^^ittig, . , nrj,t poIN a vossa palavra sim sim, no no,
(1bit V, 14, 17),
hl ilit^ill^l^rlr?, Suipur
quit
Jesus quispassar por Mes-
hat o lia I, 111n do Den% estando lnlimamente persuadido de
ti tutu pei, t (ilI v a ie a til er quic era lint orguIhoso e insensato.
itMMlnt , '.eul litcil encontrar nosEvangelhosexemplos
didlu;os, itt,t .t Ii,iIura alenta daspginassagradasdo-nos
t Impree..slon,uilc persuaso de que Jesusinsistentemente
pino .t Itnnldade com osseusdiscursose com osseus
oxeniplus.
Se severo e duro contra a hipocrisia no o menos
contra o orgulho: censura speramente aquelesque em toda
a parte buscam osprimeiroslugares, que se deixam guiar
tiosseusactospela ostentao e pelo desejo de se mostrar.
Osescribase osfariseus, diz aosseusdiscpulos, fazem
264 DIVINDADE DO C RISTIANISMO VALORDOS DOIS DEPOIMENTOS DEJESUS265
266 DIVINDADEDOCRISTIANISMO
todasassuasobraspara serem vistosdoshomens, , , Gos-
tam de ocupar nosbanquetesosprimeiroslugarese nas
sinagogasasprimeirascadeiras, e que ossaudem na praa e
que oshomensoschamem Mestres (Mat, XXIII, 5-7).
Guardai-vos, diz Jesusaosque desejam ser seusdisc-
pulos, no faaisasvossasboasobrasdiante doshomens,
com o fim de ser vistospor eles, , , Quando, pois, dsa
esmola no faastocar a trombeta diante de ti como praticam
oshipcritasnassinagogase nasruas, para ser honradosdos
homens (Mat, VI, 1, 2), Outra vez apresenta o modelo do
publicano contrito e humilhado diante de Deus(Luc. XVIII,
9, 14), Declara que no veio para ser servido maspara
servir e foge dasmultidesque o querem aclamar rei.
Ora este procedimento incompatvel com a soberba e
o orgulho que o teriam impelido a dizer-se o Messias, o Filho
de Deuse o futuro Juiz da humanidade.
S nosreferimosaqui a duasvirtudesde Cristo, que se
opem maisdirectamente hipocrisia e ao orgulho, e se pres-
supem necessriamente pela hiptese que considera Jesusum
impostor, Poderamosdescrever todasasvirtudesde J. Cristo,
a sua personalidade moral completa, a santidade ( 1 ) incompa-
rvel que no teve o menor defeito ; mas, para que insistir,
uma vez que j se no tomam a srio asmofasde VOLTAIRE
e dosEnciclopedistas, que consideravam Jesuscomo um
impostor e osApstoloscomo falsriose inventoresde
milagresevanglicoscom o fim de fazer adorar o seu Mestre?
239. 2. Jesus no era um iluso. -- Jesusno quis
enganar, maspodia ter-se enganado. Podia enganar-se a
respeito da sua personalidade e enganar-nossem querer.
Esta segunda hiptese defendida, em nossosdias, pelos
adversriosda divindade de Cristo.
(1 ) Notaremos, com TANQuEREY, que a santidade sobreeminente de
Jesus no pode ser prova da sua misso divina se a considerarmos indepen-
dentemente das suas afirmaes. Um homem pode possuir santidade eminente,
e no ser enviado de Deus. A santidade consequncia da misso divina
pois incompreensvel que um enviado divino, encarregado de instituir uma
religio desmentisse com o seu proceder as verdades que tem a misso de
ensinar; mas a recproca no verdadeira. As virtudes transcendentes de
Jesus podem dar assunto abundante para a apologtica oratria, depois de
se ter demonstrado a divindade de Jesus; mas no podem servir de argu-
mento para a apologtica didctica.
VALORDOS DOIS DEPOIMENTOS DEJESUS267
Partindo do princpio a priori que o sobrenatural no
existe e que no existe Enviado divino, osracionalistas
modernosconcluem que Jesusfoi vtima da iluso e que
uma espcie de alucinado,
J tivemosocasio de observar (n. 234) como o mais
astuto dentre elesdescreve osestadosde alma, pelosquaiso
Salvador teria passado at chegar conscincia da sua mes-
sianidade, Parte da suposio que JesusCristo tinha a con-
vico profunda da sua unio ntima com Deus, de uma
unio tal que julgava possuir a respeito de Deusasmesmas
relaesque um filho tem para com seu pai, Maisainda ; que
estava numa ordem nica e incomparvelmente superior aos
outroshomens, numa palavra, que era Filho de Deus,
Deusest nele, e ele sente que est em Deuse tira do
corao tudo o que diz de seu Pai.. , Julga-se em relao
directa com Deuse est persuadido que Filho de Deus,
Convencido de que era o Filho de Deus, Jesussentiu slbi-
tamente em si a misso de fazer todososhomenspartici-
pantesda sua filiao divina, ensinando-osa reconhecer Deus
como seu Pai e a recorrer a ele como filhos( 1 ).
A partir deste momento, em que se propscriar um
estado novo da humanidade, em que a sua ideia funda-
mental era o estabelecimento do reino de Deus, Jesus
aceita o papel de Messias, E como imediatamente encontrou
a oposio violenta dosFariseus, entendeu que, antesde ser
o Messiastriunfante e de ser chamado misso gloriosa de
Juiz supremo da humanidade, devia passar pelo sofrimento e
pela morte,
Certamente esta psicologia da alma de Jesusno deixa
de ter a sua arte, masasconcepes de RENANso maisenge-
nhosasdo que slidas, De facto em nenhum dosEvangelhos
se descobrem vestgiosde semelhante evoluo nasideiasde
Jesus. Desde o primeiro instante da sua vida pblica, tem a
conscincia de ser o Messias; se h evoluo, no no pen-
samento de Jesus, masno modo de o exprimir; ou antes, a f
pie Jesusna sua misso nunca variou, o que se desenvolveu e
progrediu foi a convico que nasceu na alma dosseusdisc-
pulose dosseusouvintes,
(1) RENAN, Vie de Jesus.
268 DIVINDADE DO C RISTIANISMO
Oiamos, para responder a Renan, um dosrepresentantes
maisclebresdo protestantismo liberal em Frana, Jesus,
escreve STAPFER, disse que era o Messias. Isto est provado,
e certo, Mascomo chegou at esse ponto? Seria a lou-
cura ou no? Tal , segundo nosparece, a nica alternativa
que se apresenta doravante entre oscrentese osno-
-crentes (I ),
Renan disse : Jesusexaltado com o xito, julgou-se
Messias, Estava em seu juzo no comeo do seu ministrio,
masj o no estava no fim. A sua histria, tal como a conta
Renan, , no obstante todasascircunspeces, a histria da
sobre-excitao crescente dum homem que comeou possuindo
o bom senso, a clarividncia, a sade moral dum gnio nobre
e grande, e acabou numa exaltao doentia que est perto da
loucura. A palavra loucura no a escreveu Renan, maso
equivalente encontra-se em cada pgina. Poisbem, osfactos
opem-se a esta explicao ( 2 ),
Pelo contrrio, o que impressiona mais em Jesus
quando se estuda de perto, precisamente o domnio de si
mesmo, a clarividncia e a ausncia completa de iluses.
E muito para notar-se que a f de Jesusem si mesmo e
na sua obra sempre a mesma, Esta confiana inabalvel
de Jesusna sua obra, em seu Pai e em si mesmo com
certeza sobrenatural. , . H nesta confiana, que nenhum
acontecimento exterior Ode perturbar, um dosmaisbem fun-
dadosargumentosda natureza divina de Jesus (E, STAPFER).
De modo que, como confessam osprpriosadversrios
que rejeitam o dogma catlico da divindade de JesusCristo,
no se pode demonstrar que JesusCristo fosse um iluso a
respeito de si mesmo, sem recorrer hiptese da loucura,
quer se use esta palavra, quer se substitua por outrasequi-
valentes, taiscomo, exaltao mstica, alucinao ou dese-
quilbrio,
Mascomo explicar essa desordem mental perante a
VALOR DOS DOIS DEPOIMENTOS DE JESUS269
elevao de esprito, a inteligncia profunda e lcida que se
manifestam em todososdiscursose conversasde Jesus?
Como que um desequilibrado pode ser o autor de um
cdigo religioso, que excede asmaiselevadasconcepes
dosfilsofosantigos, e duma moral que veio a ser o ideal
da humanidade? No; um louco no possui tanta sabedoria.
Um desequilibrado nunca teria realizado uma obra to gran-
diosa, criado um movimento de almasto intenso, e exercido
uma influncia to considervel no mundo,
Concluso. Logo esta concluso impe-se ; Jesusno
impostor nem louco. No enganou nem se enganou.
Tudo o que afirmou deve admitir-se. Se disse que era o
Messias, Filho de Deus, porque de facto o era,
B ibliografia. LEPIN, Jesus, Messie et Fits de Dieu (Letouzey);
Christologie; theories de Loisy (Beauchesne), BATIFFOL, L'enseigne-
meat de Jesus (Bloud).DE GRANDMAISON, Jesus-Christ e art, Jesus-Christ
(Diet. d'Als), ROSE, tudes sur les Evaagiles (Bloud). FRMONr,
Lettres !'abbe Loisy (aloud). Mons, FREPPEL, La divinit de Jesus-
-Christ (Palm ), HUGUENY, Critique et catholique (Letouzey),
MANGENOT, Jesus, Messie et Fits de Dieu (Blond),F, PRAT, La tho-
logie de saint Paul (Beauchesne).
(1 ) E. STAPFER, Jesus-Christ avant son ministere.
(2) A. tese de Renan foi retomada pelo Dr. B INET-SANGLE, que numa
obra interminvel <La folie de Jsus (4 vol., in 8., 1 908-1 91 5) quis demonstrar
que Jesus era um louco que sofria de teomania, por outras palavras, era um
louco religioso. Esta tese foi refutada sob os dois aspectos, mdico e exegtico,
pelo Dr. VERUT, num livro que tem por ttulo : Voil vos bergers..., Jsus
devant la science s (Paris, 1 928).
1, Adversrios,{
A. Racionalistas. Protestantes liberais.
t B, Judeus.
f A. Existem profecias messinicas (Maior).
2. Argumento./ B. Ora Jesusrealizou-as (Menor).
C, Logo Jesus o Messias.
tt) Definio.
b)
Modo da revelao proftica,
c)
Particularidadesda linguagem pro-
ftica.
d)
Osprofetasdo Antigo Testamento,
tt) ao reino. Es- I. Asua origem,
perana mes-i 2, Asua natureza,
sinica,t 3. Misso dosprofetas.
1. Origem,
b) ao Ungido
2, F
unes,
Nascimento,
ou Messias, 3
4, Modo como realizar
a sua obra.
3. Existncia
dasprofecias
messinicas.
(Maior).
A, Noes]
gerais. l
^
B, Profe-
cias rela-{
i
tivas.
a) Origem,
A, A Pessoa b) Nascimento.
4. Realizao
de Jesus. { c) Funes,
dasprofecias,{
d)
Modo como realizou a sua obra.
(Menor),1f Fundou umat 1. um reino espiritual.
B, A obra
religio uni-i 2, no um reino tem-
de Jesus.t
versal.t poral,
A, Asprofeciasno se explicam pela
evoluo do
I pensamento.
5. Objeces.i B. Bin que sentido asprofeciasse realizaram.
C. Porque
no quiseram osJudeusreconhecer o
l Messias.
270
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
CAPTULOIII. REALIZ AOEM JESUS DAS PROFECIAS
MESSINICAS.
DESENVOLVIMENTO
O argumento proftico.
240. Preliminares..
No captulo precedente, prov-
mosque Jesusse apresentou como o
Messias predito pelos
profetas.
Ora, por maisdigna de f que seja a palavra
OARGUMENTOPROFTICO 271
dum homem, alisrecomendado pela santidade da sua vida
e pela sublimidade da sua doutrina, no se segue que a sua
afirmao no deva ser sujeita a exame,
Se Jesus una Enviado de Deus, deve dar-nosprovas
inequvocasda sua misso divina, como so asprofeciase os
milagres, Mas, se Jesus o Enviado divino anunciado pelos
profetas,
tem de realizar na sua pessoa e nassuasobrasas
profeciasfeitasa seu respeito ; necessrio que haja estreita
relao entre o Antigo e o Novo Testamento, que um se
explique pelo outro, que o segundo confirme o primeiro.
241.-1. Adversrios. 0 argumento fundado nas
profeciastem duasespciesde adversrios, Unsnegam a
existncia
dasprofecias, outroscontestam a sua realizao
ern Jesus.
A, Ao primeiro grupo pertencem osracionalistas e os
protestantes liberais, segundo osquais, o Messiasno foi pre-
dito e asprofeciasalegadasno so profecias, nem profecias
messinicas.
Segundo RVILLE, aspassagensdo Antigo Testamento,
eni que algunsse compraziam de ver prediessobrenatu-
rais ( 1
) tem sido mal interpretadaspelospregadorese pelos
te(ilogos. semelhana dosadivinhose dassibilas, ospro-
Ielasno tiveram o privilgio de conhecer e de anunciar os
sr; rodosdo futuro. Mas, nem por isso deixam de ser homens
wd raordinrios; porque, ainda que assuaspredies no
ex istam de facto ou no tenham valor, todavia a sua pregao
cle.va-os
muito acima dosseuscontemporneose, s por este
l i l n lo,
so homensprovidenciaisque tiveram uma ideia mais
I.0 a e mais elevada de Deus e da lei moral 0).
Se osracionalistase osprotestantesliberaisreconhecem
, sublimidade da moral dos profetas e os elevam acima de
lodos osseuscontemporneos, para maisfcilmente recusa-
rem lodo o carcter sobrenatural sua obra e sua palavra,
I' ur lanto, sero talvez pregadoresadmirveis, masno so
(t ) . 7. 'Rh.viLLE, Le prophtisme hbreu, esquisse de son histoire et de ses des-
iii,an.
d) SATATIER, Esquisse d'une philosophic de la religion, d'aprs lee psycholo-
rio nt l'hisfoire.
272
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
profetasno sentido estrito da palavra, Donde se segue que
o argumento fundado nasprofecias, como nosfoi transmitido
pela apologtica tradicional, carece inteiramente de valor,
B, No segundo grupo de adversriosesto compreen-
didososJudeus que reconhecem a existncia dasprofecias
messinicas, masno admitem que se tenham verificado em
Jesus. Para afirmar o contrrio, seria necessrio, segundo
eles, negar sprofeciaso seu sentido natural e interpret-las
fora do contexto.
Por isso, diz SABATIER, foi possvel que osJudeus,
segundo a sua exegese, no reconhecessem em Jesusde
Nazar o Messiasque esperavam, poissmente poderiam
acreditar nele renunciando sesperanaspolticase nacionais
que osseuslivroslhestinham dado, Podemosdizer que as
profeciasmessinicas, no sentido histrico e gramatical, nunca
foram cumpridase parece que no se realizaram na vida,
ensino, morte de JesusCristo e no maravilhoso desenvolvi-
mento da sua obra seno num sentido que certamente no
tinham no esprito daquelesque primeiro asproferiram
(SABATIER, ib.).
242. 2,0 Argumento. 0 argumento fundado nas
profeciaspode formular-se no seguinte silogismo : Existe no
Antigo Testamento uma srie de profeciasque predizem, que
descrevem de antemo a pessoa e a obra do Messias. Ora
estasprofeciasrealizaram-se na pessoa e na obra de Jesus,
Logo Jesus o Messias,
0 argumento compreende doispontosque se devem pro-
var: 1, a existncia
dasprofeciasmessinicas; 2, a sua
realizao em Jesus.
Se demonstrarmosestesdoispontos,
que so a maior e a menor do silogismo, teremosrespondido,
de facto, sduasclassesde adversriosque temosde refutar.
Procuraremosfaz-lo nosdoisartigosseguintes,
Notas. 1,
Primeiramente, convm lembrar como j
tivemosocasio de dizer que, em rigor, a demonstrao
crist pode fazer-se sem o argumento proftico, Ainda que
no tivesse havido nenhuma profecia, Jesusno deixaria
de
ser o Enviado de Deus, uma vez que se provasse que fez
EXISTNCIADAS PROFECIAS MESSINICAS273
numerosos
e incontestveismilagres, que reuniu na sua pes-
soa todas
asqualidadesque convm a um enviado do cu e
titio a sua doutrina e a sua moral tm claramente ossinaisde
erigem sobrenatural. Moiss, o fundador
da religio que tem
o seu nome, no foi anunciado por
nenhuma profecia e, no
obstante,
a sua misso divina conhece-se claramente
pelos
^iltiplos prodgios que realizou e pela transcendncia da sua
doutrina.
2. Contudo, o argumento proftico tem grande impor-
tncia por doismotivos: a) Em primeiro lugar, indis-
cutvel que o facto de ter sido predito
clara e formalmente,
ajunta nova fora s
outrasprovasque nosapresentam Jesus
c orno Enviado de Deus. b) Alm disso, o argumento'; pro-
lt ico remonta s origens do cristianismo.
Pode at dizer-se.
que para osJudeusera o argumento principal. J. Cristo
emprega frequentemente esta prova para demonstrar a sua
^ ^
isso, porque osJudeus, sem exceptuar osApstolos, fixa-
vam-se principalmente nasprofeciasdo Antigo Testamento
que diziam respeito glria
do Messiase no prestavam
.itc.
no quelasem que se prediziam assuashumilhaes
e
sofrimentos. Requeria-se, pois, que Jesusrectificasse os
Ialsosconceitosdosseuscontemporneos: trabalho muitas
vezesinfrutuoso e to longo que o ouvimos, no dia da sua
.
Ressurreio, repreender osdoisdiscpulosque iam para
I';marspor no terem compreendido ainda o sentido das
prolecias:
estultose tardosde
corao para crer tudo
o
que anunciaram osprofetas! Porventura no convinha
flue
o Cristo sofresse essascoisase que assim entrasse na
tia
glria ? E comeando por Moisse discorrendo por
i
odososprofetas, interpretava-lheso que dele se dizia em
Iodas asEscrituras (Luc. XXIV, 25-27).
A it
I, Existncia das profecias messinicas.
Ariesde demonstrar que houve profecias
em geral e pro-
i:'smessinicasem particular, convm dar algumas
noes
a
dosprofetas, Este artigo compreender doispar-
ilos: 1.
Noes gerais acerca dos profetas. 2. O facto
'; profecias messinicas.
1 8
274
DIVINDADEDOCRISTIANISMO EXISTNCIADAS PROFECIAS MESSINICAS275
1 . NOES
GERAIS ACERCADOS PROFETAS ( 1 ),
243. -- 1.
Definio. Etimolgicamente, a palavra
profeta (do grego profts intrprete, o que prev o futuro)
designa em grego, ora um intrprete dosdeuses, ora aquele
que prediz o futuro,
A.
Na primeira significao, ou sentido lato, profeta,
em hebraico nbi, significa intrprete. E neste sentido que
Deusdisse a Moiss, quando alegara a sua dificuldade de
palavra para no aceitar o encargo temvel que o Senhor lhe
queria impor ; Aaro. teu irmo, ser o teu
nbi (xod.
IV, 16) ; por outraspalavras: Aaro falar em teu lugar.
Na Bblia a palavra profeta tambm empregada para
designar o homem que exalta oslouvoresde Deus; diz-se,
por exemplo de Saul, que nosacessosde melancolia, pro-
fetizava (isto , cantava)
em sua casa, enquanto David tocava
(I Sam,, XVIII, 1 0).
B. No sentido estrito, profeta era aquele a quem Deus
revelava o futuro e confiava a misso de o comunicar aos
outros.
Seja qual for o sentido da palavra, o profeta era o intr-
prete de Deus, o intermedirio entre Deuse o seu povo;
recebia asordensdo Senhor e comunicava descendncia
de Abrao osplanosdivinos... A sua misso era dupla;
uma referia-se ao tempo presente, outra ao futuro (
2 ),
244. 2.
Modo, revelao proftica. Como
intrprete de Deus, o prf
eta recebia ascomunicaesdivinas
de trsmaneiras; de viva voz, por meio de vises, e de
sonhos;
a) de viva voz
deve-se entender, ao menosordinria-
mente, no uma linguagem articulada que feria o ouvido do
profeta, masuma voz que se fazia ouvir no ntimo da alma;
b) por meio de vises.
Deusfazia talvez passar diante
dosolhosdo profeta imagensmateriaise fsicas, ou lhasfazia
sentir pela imaginao sem que fossem produzidaspor meio
(1 )
Estas noes gerais so independentes da questo da existncia e
verificao das profecias messinicas que se realizaram em Jesus.
(2) VIGOUROUX, Manuel Biblique, t. II, n.. 895.
ele realidade alguma exterior; ambasashiptesesso admis-
siveis, masa segunda parece maisverosmil;
c) por meio de sonhos,
Esta espcie de manifestao
divina, muito maisrara que asoutras, diferia da precedente;
,porque a viso operava-se durante o estado de viglia,
en-
quanto que ossonhoss se produziam durante o sono.
Qualquer que fosse a maneira pela qual se comunicasse
a revelao celeste, o profeta nunca se encontrava em estado
de delrio,
nem, com maior razo, de loucura, que caracteri-
zava osadivinhosdo paganismo, quando promulgavam os
orculosdosfalsosdeuses, Por conseguinte, o profeta conhe-
cia sempre o que profetizava ( 1 ), ainda que no compreen-
desse inteiramente o alcance dassuasprofecias, ou o modo
como se haviam de cumprir,
245. 3.
Particularidades da linguagem proftica.
---
Osacontecimentosfuturosapresentam-se de ordinrio aos
profetascomo factospresentes, j efectuados; deste modo se
explicam certasparticularidadesda linguagem proftica. Em
primeiro lugar o emprego muito frequente do pretrito em
lugar do futuro; depois, ao menosdum modo geral, a
ausn-
eia absoluta de cronologia:
osfactosno so anunciados
necessriamente pela ordem da sua realizao futura, nem se
lu(licam osintervalosde tempo que osdevem separar.
O
quadro do porvir apresenta-se aosseusolhossem
perspectiva:
tudo est no mesmo plano. Geralmente s
depoisdo cumprimento dosorculosdivinos, se pode fazer
distino.
No entanto, ainda que de ordinrio, Deustenha
^ nlgado
suficiente anunciar a fundao do seu reino sem lhe
lixar a data nem o modo de realizao, por vezessucede que
osprofetasindicam claramente a poca dosfactosque pre-
246. 4,0 Os profetas do Antigo Testamento.
Tomantio como
pontosde comparao a extenso e a impor-
I+tnr.ia da sua obra, osprofetasdividem-se em duasclasses;
pi oletasmaiores e profetasmenores.
a) Os primeiros, em nmero de quatro, so; IsAIAS,
(I) Vloounoux, Manuel Biblique, t. II, n, o 898.
s
276
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
JEREMIAS COM BARUCH COMO
apndice, EZ EQUIEL C DANIEL,
b)
Ossegundosso doze e chamam-se: OSAS, JOEL, Ans,,
ABDIAS, JONAS, MIQUEIAS, NAIM, HABACUC, SOFONIAS, AGEU,.
Z ACARIAS, MALAQUTAS,
A era proftica comeou com Abdias(I) nosprincpios.
do sculo IX antesde Cristo, e fechou com Malaquias, cerca
de 435: abrange, portanto, um, perodo de quatro sculos
meio,
Alm dosprofetasmaiorese menores, cujosnomesaca-
bamosde citar, houve no Antigo Testamento uma longa srie
de homensilustresque merecem a designao de profetas, no
sentido lato da palavra, quer dizer, que foram junto do povo
de
Israel ou dosseuschefes, osrepresentantese
intrpretes
das
vontadesdivinas, Taisso Mols1s, o libertador e o
legislador do povo hebreu ; SAMUEL, que afastou Israel dos
cultosde Baal e Astaroth ; NATAN, no reinado de David, e o
prprio DAVID; ELIAS e ELISEUque, depoisdo cisma de Israel,
foram encarregadospor Deusde restaurar o verdadeiro culto
-
de Jav,
2, EXISTNCIADAS PROFECIAS MESSINICAS,
247. Ser verdade, como afirma
a maior do argumento
proftico, que existe no A. T. uma srie de profeciasrelativa
s.
pessoa e obra do Messias?
No preciso estudar longamente oslivrosdo A, T, e,
em particular, osescritosdosprofetas, para reconhecer que
reina em toda a histria judia, um grande pensamento, uma
ideia-mestra ou, como outrosdizem, uma
ideia fora que apa-
rece em toda a parte como um invarivel (deit-motiv, e
desempenha papel importante na vida e na alma da nao:
a ideia messinica.
Esta ideia compreende duascoisas:
a) Em primeiro
lugar, a expectao de um reino
que se h-de fundar um dia
por intermdio e sob a dominao de Israel e reunir
(1 ) muito difcil determinar a poca em que viveu Abdias. Uns,
diz VIGOUROUX, tem-no como o mais antigo dos profetas; outros dizem que
viveu no tempo do cativeiro... Pode-se contudo, sem afirmar o facto como
certo, considerar o profeta Abdias como o mais antigo de todos aqueles, .
cujos escritos chegaram at ns.
EXISTNCIADAS PROFECIAS MESSINICAS
277
t
odosospovosno culto do verdadeiro Deus, reconhecido e
adorado como Senhor do Universo,
b) Em segundo lugar,
a expectao de um rei,
Ungido ou Messias encarre-
gado de fundar esse reino universal, de ser o seu rei terres-
tre, e um dia o rei doseleitosno cu, o juiz que recompen-
sar osbonsno paraso e precipitar osmausna geena.
Como se v, asprofeciastm
dois objectos, Referem-se
no s ao reino futuro, mastambm ao Rei que h-de fundar
, e governar esse reino,
248. 1.
Profecias relativas ao reino. A
espe-
,rana messinica,
que se refere ao futuro reino, pode enca-
rar-se sob o trplice aspecto da sua
origem, da sua natureza
e da misso dos profetas
na gnese desta ideia.
A.
Origem da esperana messinica.
Um rpido
exame dosLivrossagradosindica que no
preciso procurar
a
origem da esperana messinica
fora dasrevelaes e pro-
messas divinas.
Estasremontam ao bero da humanidade.
ApenasAdo e Eva cometeram o pecado de desobedincia.
Deusprometeu-lhesimediatamente um Redentor
(Gn., III,
14. 15), Repetidasvezes, renovou assuaspromessasde
bno, especialmente a No, a Abrao, a Isaac e a Jacob.
Basta citar aqui asduasmaissolenese explcitas: Todas
asnaesda terra sero abenoadasnaquele que h-de pro-
ceder de ti, disse o Senhor a
Abrao, porque obedeceste
minha voz (Gn.,
XXII, 18,) , No sair o ceptro de Jud,
disse o profeta Jacob
ao seu quarto filho Jud, at que venha
aquele que deve ser enviado ; e ele ser a expectao das
gentes (Gn., XLIX, 8 e segs.) ,
Desde osprimeirosdiasda humanidade, Deusanuncia
o seu plano,
no em frmulasprecisasque assinalem todos
ospormenoresda obra futura, masem palavrassuficiente-
mente claras, para fazer compreender ao povo judaico a
grande misso que tem de desempenhar na obra anunciada,
Clara descobrir aosseusolhoshorizontesluminosose desper-
'ar-lhe na alma grandesesperanas,
A.
luz destaspromessas, fcil conhecer, nasnumerosas
vicissitudesda histria judaica
a unidade e a continuidade
do plano divino.
Quem considerar com ateno, compreen-
278
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
dera sem dificuldade que, apesar da obra se preparar e desen-
volver com lentido misteriosa, com interrupesmoment-
neas, ou ao menoscom certo afrouxamento, no deixa contudo
nunca de prosseguir o seu caminho progredindo sem cessar,
Atravsdasalternativasde fidelidade e de defeco do
povo hebreu, apareceu sempre clara a vontade de Deusde
guardar no seio da nao eleita o
monotesmo, destinado a ser
um dia a religio universal.
B,
Natureza da esperana messinica.
incontes-
tvel que andam de mistura com a ideia messinica doisele-
mentoscompletamente diversos; a fundao do reino futuro,
do reino universal de Deuse a
restaurao do seu reino
terrestre.
Esta esperana duma restaurao nacional lanou
to profundasrazesem todososcoraes, que no momento
da Ascenso do Senhor, ainda osApstoloslhe perguntavam
E agora que restaurareiso reino de Israel ?
(Act. I, 6).
H contudo profeciasem que a esperana messinica de
um reino temporal no tem nenhum ou quase nenhum funda-
mento (Is.,
II, 2, 5; XI, 1, 8; XLII, 1, 4; L, 4, 11 ; LII, 13;
LIII, 12) , Numerosasprofeciasdescrevem a natureza do
futuro reino fazendo-o consistir na unio ntima entre Deuse
a alma de cada fiel (Osas,
II, 19). Alm disto, s pelo
facto de asprofeciasanunciarem que todosospovosho-de
participar no reino messinico, claramente se deduz que o
particularismo judaico no domnio religioso e poltico ser um
dia abolido.
C.
Misso dos profetas (I), 0
papel que desempe-
nharam osprofetasna origem e desenvolvimento da espe-
rana messinica, foi sem dvida de mxima importncia.
1, Primeiramente, foram os
defensores do monotesmo. .
Em todasaspocasda histria, e antesdosprofetasprpria-
mente ditos, Deussuscitou homensque foram osintrpretes,
da sua vontade e dosseusdesgnios, Moiss, o legislador
de Israel pregou o culto exclusivo de Jav, Senhor soberano,,.
(1 ) C omo o nosso fim
micamente dar a conhecer a misso dos pro-
fetas na origem da esperana messinica, no necessrio investigar a data
precisa em que os seus livros foram compostos. B asta que sejam anteriores, ..
vinda de C risto (n. 251 ),
EXISTNCIADAS PROFECIAS MESSINICAS279
justo, bom e misericordioso para com osque o amam e guar-
dam a sua lei. SAMUEL apartou oshebreusdoscultosidol-
tricosde Baal e Astaroth. Depoisde comear o cisma de
Israel, ELIAS e ELISEU
desterraram asfalsasdivindades
e
restabeleceram o culto verdadeiro.
2. Anunciaram que o monotesmo, que constitua o
dogma principal da religio judaica, se difundiria
por todas
as naes do universo.
IsAZ Aspredisse que Jerusalm seria o
centro verdadeiro, aonde afluiriam todasasnaes
(Is. II, 2),
JEREMIAS declarou aosJudeusque a religio no era smente
um pacto social entre Jav e Israel, masuma unio ntima
entre Deuse a
alma de cada indivduo ; unio que tanto se
pode aplicar aosJudeuscomo aosestrangeirose aosGentios,
EZ EQUIEL, o maior dosprofetasdo cativeiro, manteve a f e a
esperana dosinfelizesJudeuscastigadospelosseuscrimes,
masno abandonadospor Deus, e predisse-lhesa ressurrei-
o de Israel. Ostrsprofetas, A
GEU, Z ACARIAS e MALAQUTAS,
depoisdo exlio, anunciaram o futuro reino messinico;
MALA-
QUTAS,
em particular entreviu uma nova ordem de coisas, e
um sacrifcio novo (Mal. I, 11)' ,6a6,_
Concluso.
A misso desempenhada pelos
profetas,
com respeito ao reino futuro, . teve doisfins; 1, 0 primeiro
foi guardar intacta, entre o povo judaico, a
f num Deus
cnico,
e manter a adorao exclusiva de Jav. 2, 0 segundo,
reservado de um modo particular aosprofetasprpriamente
ditos, foi anunciar,
para um futuro maisou menosprximo,
uma ordem nova, uma religio espiritual,
que desenvolvesse
especialmente o culto interior, uma religio, no j nacional
e restrita ao povo judeu, mas
universal, qual todosos
homensseriam chamadose que seria como o complemento
da antiga religio judaica,
249. 2,
Profecias relativas pessoa e obra do
Messias.
Para estabelecer o reino messinico, Deusen-
viar o seu representante, Ora osprofetasno se contenta-
ram com anunciar este Enviado ou Messias (1 ) ; muito tempo
(1 ) Os dois termos Enviado e Messias, usados indistintamente na
linguagem ordinria, no so em realidade equivalente. A palavra Messias,
I.ra.nserita do hebreu Meschiaeh e sinnima da palavra C hristos, signi-
rl eu
a : ungido, sagrado por Deus, e no nm enviado.
280DIVINDADEDOCRISTIANISMO
antes, determinaram a origem, o nascimento, asfunes e o
modo como Ele levar a efeito a sua obra.
A, A
origem. 0 Messiasser descendente de Abrao
(Gn. XII) e da famlia de David (II Sam., VII ),
B. ONascimento. 1, A data. 0 Messiasno vir
antesde o ceptro ter sado de Jud (Gn. XLIX, 10). indi-
cao preciosa; masa clebre profecia de DANIEL ainda
maisexplcita e precisa, poisfixa a poca da vinda de Cristo,
com cinco sculos(I) de antecipao : Desde a sada da
ordem (edito) para a reconstruo de Jerusalm at Cristo
chefe, passaro sete semanase sessenta e duassemanas.. ,
E depois das sessenta e duas semanas, o Messias ser morto
(Dan.
IX, 25-26) Daspalavrasdo profeta inspirado pelo
anjo Gabriel se depreende que o Messiasera condenado
I
morte na semana imediata ao decurso de 7 semanase 62 se-
manas, isto , de 69 semanas(de anos) depoisda promulga-
'
o do edito relativo restaurao de Jerusalm : so aproxi-
madamente 486 anos. Ora tirando desta soma, 33 anos,
idade provvel de Cristo quando foi crucificado, obtm-se
o ano 453, que nosleva a pleno reinado de Artaxerxeso LoI}-
gfmano, autor do edito.
2. 0 lugar. 0 Messiasdeve nascer em Belm, segundo
o profeta MIQUEIAS : E tu, Belm Efrata, tu spequena entre
asmil de Jud; masde ti sair o que h-de dominar em
Israel, e cuja gerao desde o princpio, desde osdiasda
eternidade (Mig. V, 2),
3. Nascimento milagroso do Messias.
Uma virgem
conceber, l-se em IsAAS (VII, 14), e dar luz um filho,
ao qual ser dado o nome de Emmanuel,
C. Suasfunes. 0 Messiasexercer a trplice fun-
o de rei, sacerdote e profeta : 1, 0 Messiasser
rei,
(1 ) Os racionalistas dizem que o livro de Daniel no foi escrito por
ele, mas muito mais tarde. A questo pouco interesse tem, porque os pr-
prios adversrios reconhecem que o livro foi composto, pelo menos, dois
sculos antes da era crist. O que no admira; pois sem falar da citao
feita por Jesus C risto, quando anuncia que abominao da desolao cair
sobre Jerusalm (Mat. XXIV, 1 5),
certo que os Judeus no teriam inscrito o
livro de Daniel entre os seus Livros sagrados, se tivesse sido composto
depois do Evangelho.
EXISTNCIADAS PROFECIAS MESSINICAS
Ser chamado rei como osoutrosreise ser Filho de Deus, de
arma maneira maiseminente que osoutroshomens
(Ps. II, 7);
Masa
sua realeza ser inteiramente espiritual e pacfica
(Is.
XLIX) ; ser o Prncipe da paz
(Is, IX, 5), 2. 0 Mes-
siasser sacerdote.
Assim o diz DAVIDnum dosseussalmos
(CIX, 1-5): Disse o Senhor ao meu senhor; Senta-te minha
direita; at que eu ponha osteusinimigospor escabelo dos
teusps, .. Jurou o Senhor, e no se arrepender: tu s
sacerdote
eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
Osantigosdoutoresjudeusreconheceram nestaspalavrasdo
Rei-profeta ostraosdo Messias. 3, 0 Messiasser
pro-
feta (Deut. XVIII, 15); (Is. LXI, 1),
D, Modo como realizar a sua obra. Est descrito
na
segunda parte de Isaias, nalgumas passagens de Zacarias
es nalguns salmos,
e particularmente no salmo XXI,
Em IsAAS, o Messias apresentado como servo de Deus
alie
salvar o seu povo, no pela destruio dosseusinimigos,
Iras
pela obedincia humilde, pela sua paixo e morte ignomi-
niosa; o caminho da cruz ser o caminho da salvao, Antes
de
alcanar a vitria e de consumar a obra da Redeno, o
Messiassofrer todasashumilhaes: ser atraioado por um
dosseus(Ps.,
XL, 10); vendido por trinta moedasde prata
(tac.,
XI, 12-13) ; ser flagelado, semelhante a um leproso,
v oprbrio doshomense a abjeco da plebe
(Ps., XXI) ;
dar-lhe-o fel por alimento e vinagre por bebida
(Ps., LXVIII),
A i ravessar-lhe-o, de parte a parte, asmose osps; os
soldadoslanaro sortessobre osseusvestidos
(Ps,, XXI,
17-19) o seu corao ser aberto por uma lana
(Zac. ,
X 11,
10). Masshumilhaesde Cristo seguir-se- a sua
gloriosa ressurreio e ascenso; o seu corpo no ser
enlregue corrupo
(Ps.,
XV, 10) e ressuscitar ao terceiro
dia ( Osas,
VI, 3), Depois, triunfante, elevar-se- do monte
d;IS Oliveiras(Zac.,
XIV, 4) e ir sentar-se direita de
tens(Ps,, CIX, 1).
A vida de Cristo foi, por assim dizer, composta muito
tempo
antese assuascircunstnciasforam to claramente
descritas, que ser fcil verificar se o Messiasesperado
realizou todasascondiespreditas,
281
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
Art. IL Realizao
das profecias messinicas
em Jesus.
250.
Asprofeciasmessinicas, diz a menor do argu-
mento proftico, realizaram-se na
pessoa e na obra de Jesus.
1, A pessoa de Jesusrealizou asprofeciasmes-
sinicas. Ser Jesus, na realidade o
Enviado predito pelos
profetas, para fundar o reino que se esperava? Ter
cum-
prido na sua pessoa todosossinaisanunciadospelosprofetas
relativamente sua
origem, nascimento, funes e
modo
como a obra messinica devia ser executada
?
A. Origem. Jesus descendente de Abrao e per-
tence famlia de David, como o provam astbuasgeneal-
gicasde S, Mateuse de S. Lucas, asexclamaesdo
s.
enfermosque imploram o seu auxilio; Tende piedade de.
ns, Filho de David (Mat.,
IX, 27) e asaclamaesda.
multido no dia de Ramos; Hsana ao Filho de David
(Mat., XXI, 9, 15),
B, Nascimento.Jesusnasceu ; 1. No
tempo desi-
gnado pelosprofetas, quando a Judeia tinha cado sob o
domnio de Roma, e o ceptro tinha sado de Jud ; 2. No
lugar indicado e da maneira predita (Luc., I, 34 ; II, 1, 7),
C.
Funes. Jesusexerceu a trplice funo de rei,
,
sacerdote e profeta ; 1, rei.
Diante de Pilatosafirmou
que era rei, masque a sua realeza no era deste mundo
(Joo,
XVIII, 37), que era espiritual, e devia estabelecer-se,
no pela fora dasarmas, maspela persuaso doscoraes
.
(Mat., XVIII, 18 ) ; 2, sacerdote. Jesusofereceu-se a si
mesmo voluntriamente em sacrifcio na rvore da Cruz, e quis
que esse sacrifcio do seu corpo e sangue se renovasse at
ao fim dossculos; 3, profeta. Jesuspredisse o futuro,
como depoisteremosocasio de ver (n,S 255 e segs, ).
D.
Modo como Jesuscumpriu a obra messinica.
.
So bem conhecidostodosospermenoresda histria de
Jesuse portanto no preciso determo-nosa mostrar que
Jesus, pelashumilhaesda sua vida, paixo ignominiosa e
morte infamante na Cruz, cumpriu asprofeciase, em
parti-
cular,
asde Isaiase do Rei-profeta no salmo XXI.
251. 2. A obra de Jesuscumpriu asprofecias
.
messinicas. Ser verdade que Jesusfundou o
reino
esperado
e cumpriu assim asesperanasmessinicas?
A histria a est para atestar que JesusCristo fundou
verdadeiramente unia religio, cujasrazesse prendem ao
judasmo, e que pode considerar-se como a continuao e
aperfeioamento da religio moisaica. No estabeleceu o
.
reino temporal que osJudeus, vidosde gozosmateriais,
tinham entrevisto nosseussonhosde grandeza terrena, ma
s.
fundou o verdadeiro reino, aquele em que Deusreina e
estende o seu domnio espiritual nasalmas. Masser ver-
dade, perguntaro talvez, que o reino do verdadeiro Deus, se
implantou como foi anunciado pelosprofetas? No difcil
demonstr-lo,
1, Notemos, antesde maisnada, que a difuso do
,
culto de Jav atravsdo mundo, foi feita por intermdio
de Israel como estava profetizado, No foi na verdade o
cristianismo propagado por doze filhosde Israel? E certo
alue para levar a cabo a sua obra, tiveram de prescindir d
e.
muitasexignciasda Antiga Lei,
Para tornar a religio crist acessvel a todosospovos
, .
viram-se foradosa desembaraar-se dasobservnciaslegai
s.
e dar maisimportncia ao culto interno, que consiste no
respeito e sobretudo no amor de Deus, Mas, para isso, ospro-
lelastinham-lhespreparado o caminho, Com efeito, h alguns
dentre elesque, nassuasperspectivasdo futuro, consideram
como secundriasasformaslitrgicasdo judasmo, e renun
d amn aosobjectosmaissagradosdo culto israelftico ; por isso
IimovirAsprev o dia, em que no haver arca da aliana e
eni que o templo de Jerusalm poder desaparecer como o de
Silo (ler., VII, 12, 15),
2. Por outra parte, certo que o monotesmo h muito
que transpsoslimitesda Judeia, e pode dizer-se sem exagera-
4,10 que, se a religio crist no em toda a extenso da pala-
vra a religio do mundo, est ao menos
espalhada por todo o
universo
e implantada em todasasnaesmaiscivilizadas..
282 REALIZ AODAS PROFECIAS MESSINICAS EMJESUS
283,
284
DIVINDADE DO C RISTIANISMO
Nota. Antesde concluir devemoscertificar-nosse os
orculos,
que anunciavam o Messias, possuem as
condies
da verdadeira profecia (n. 172 e 173). Sero porventura
previsescertasde coisasfuturas, que no puderam ser
conhecidaspor causasnaturais? E fcil demonstrar que os
orculosmessinicostinham ascaractersticasdasverdadei-
rasprofecias.
a) Eram predies certas
e no conjecturais, porque a
expectao messinica era geral, como testemunham osEvan-
gelhose at osautoresprofanos; judeuse pagos.
b) Eram o anncio de coisas futuras,
Oslivrosprof-
ticosexistiam muitossculosantesda era crist, poisencon-
trmo-losna verso alexandrina dosSetenta, comeada no
III sculo e terminada cerca de 130 antesde Cristo, Ospr-
priosracionalistas, que pem em dvida a autenticidade da
segunda parte de Isaias, e assinalam profecia de Daniel
uma poca muito posterior, no pem em dvida a existncia
doslivrosprofticosantesda vinda de Jesus, e admitem que,
ao menosna totalidade, foram compostosentre ossculosIX
, e V, antesde Cristo, Asprofeciasno foram portanto inven-
tadasdepoisdosfactos,
c)
Eram o anncio de coisasfuturasque
no podiam
ser conhecidas por causas naturais.
Quer se trate do reino
de Deusem si, quer do Rei que o devia fundar, nenhuma
causa natural podia faz-losentrever com cinco sculosde
antecipao,
Concluso. Por conseguinte, lcito concluir s1, que
h no Antigo Testamento verdadeiras
profecias messinicas;
e 2, que Jesusascumpriu na sua
pessoa e na sua obra, de
forma que pode aceitar-se este conhecido aforismo da
Escola:
Novum Testamentum in Veteri latet.
Vetus Testamentum in Novo patet.
poiscerto que o Novo Testamento se encontra j em
germe no Antigo, e que o Antigo se explica pelo Novo (I ),
(1 ) bom notar que s usmos no argumento proftico textos que se
pudessem entender no sentido literal; mas h muitos outros que a exegese
crist sempre considerou como
profecias espirituais on figurativas, fundada nos
REALIZAO DAS PROFEC IAS MESSINIC AS EM JESUS
285
252. Objeces. 1 . Alguns racionalistas (KUENEN, DARMES-
TETER, J. 1 EVILLE, Loisy) apelam para
a doutrina da evoluo a fi m de
despojar as profecias de todo o
carcter sobrenatural, Nesta hiptese
as predies de que falmos explicam-se por uma evoluo do pensa-
mento cujas fases so pouco mais ou menos as seguintes.
Na primeira
apareceu subitaeamente o profetismo,
que teve o
seu comeo numa causa inconsciente, manifestando-se como novo fen-
meno na histria de Israel. C omo os profetas eram homens transcen-
dentes, chegaram pela superioridade da sua inteligncia concepo do
monotesmo mais puro, isto , noo de um Deus nico, criador e
senhor do mundo. Desta concepo de Deus passaram fcilmente
ideia de que o seu Jeov havia de triunfar um dia em toda a parte e que
seria adorado, no smente no templo de Jerusalm, mas em todo o
:
inundo. Depois, por evoluo normal do pensamento, predisseram que,
para fundar esse reino universal de Jeov, seria escolhido Israel e, con-
cretizando mais, um descendente de David.
Deste modo, os profetas, lisonjeando as aspiraes e sonhos de
dominao dos seus compatriotas, exerceram grande influncia nos seus
contemporneos. 0 pensamento dos profetas penetrou na alma dos
Judeus, e deu origem
esperana messinica. E como as ideias ten-
dem a traduzir-se em factos, um dia apareceu um personagem que pen-
sou ser o Messias e atribuiu-se os ttulos e a misso preditos pelos or-
culos dos profetas.
Resposta.
A tese racionalista segundo a qual a evoluo
explicao suficiente das profecias messinicas, falsa no seu
funda-
mento e na sua concluso,
1. Mo seu fundamento. Supe que a origem do monotesmo se
explica por causas naturais, o que est em
contradio com os factos
a)
Os profetas so os primeiros a afirmar que no expem a pr-
pria doutrina, mas smente o que lhes foi ensinado pela revelao, AMs
declara que foi enviado pelo Senhor como profeta ao povo de Israel
(/1 ms,
VII, 1 5); JEREMIAS diz que as suas palavras so de Deus
(Jet,, I, 2).
Rasta ler os livros dos profetas para nos convencermos que no argu-
mentam como filsofos, mas falam como videntes e descrevem o que
.
Deus lhes manifesta,
b)
Sem falar no testemunho dos profetas, o princpio da evolu-
o, isto , a lei do determinismo, segundo a qual, as mesmas causas
.
tias mesmas condies produzem os mesmos efeitos, no explica como e
que s o povo de Israel teve profetas, ao passo que os povos vizinhos,
da
mesma raa, da mesma origem e no mesmo clima, como os Idumeus,
no
prInelpios que toda a economia da Lei era figurativa da ordem futura e que
as personagens, as instituies e os costumes daquele tempo eram smbolos,
tipos, sombras do que devia efectuar-se no porvir... Os apologistas podem,
portanto, considerar as intervenes de Deus no decurso da histria judaica
como preldio das intervenes futuras; as pessoas mais clebres do Antigo
Testa m
ento, como figuras das do Novo, sobretudo daquela que devia dominar
todas as outras; e os ritos moisaicos como sombra das angustas realidades
da urdem nova. (TovzaRD),
286
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
os tiveram, ou tiveram apenas adivinhos cuja importncia no
supe-
rior
dos modernos sonmbulos. Portanto, o monotesmo dos profetas
no
se pode explicar por causas naturais (n. 21 3).
c)
Tambm no se pode admitir que os profetas tiveram um
grande ascendente sobre os seus contemporneos por saberem acomo-
dar-se s suas ideias e lisonjear os seus sonhos, Pelo contrrio, o mono-
tesmo ia contra os seus instintos carnais e contra as paixes que tantas
vezes os arrastavam para a idolatria. A expanso do culto do verda-
deiro Deus, do seu
prprio Deus por todas as naes tambm no lhes
poderia ser muito agradvel, por causa da repugnncia que este povo,
excessivamente particularista e exclusivista, sentia em comunicar os
seus privilgios aos gentios que detestava.
2, Na sua concluso,
a tese racionalista tambm carece de so-
lidez. Dizem que a ideia messinica, posta a circular pelos profetas,
actuou maneira duma ideia fora
que se apoderou das almas, inf la-
mou-as e produziu tal exaltao que se tornou uma realidade.
A histria atesta porm o contrrio.
A voz dos profetas que anun-
ciava a fundao do reinado do Messias comeou a ouvir-se no sculo IX
' e emudeceu no sculo V, antes de Cristo. No houve, pois, progresso da
ideia, como quer a lei da evoluo. Os racionalistas deveriam explicar-
-nos como
que o movimento da opinio, a marcha da ideia, isto , o
profetismo se deteve repentinamente durante quatrocentos anos e s
retomou a sua evoluo ao aproximar-se o advento de Jesus,
A ideia
no s no progride,
desenvolvendo-se e tomando contornos mais nti-
dos, mas
desvia-se cada vez mais do pensamento dos profetas
.
Tinham falado duma religio futura mais espiritual
e elevada,
dum culto do corao em que o amor de Deus e da justia teriam maior
preponderncia; e, durante quatro sculos, os Judeus isolaram-se num
ritualismo estreito, em meio de uma multido de observncias acanha-
das que falsearam as concepes profticas. Os profetas tinham anun-
ciado o reino universal de Deus e os Judeus fecharam-se num exclusivismo
ciumento, no comunicaram com os outros povos, desprezaram-nos e
foram desprezados por eles, Cingiram-se
parte material das profecias,
a ponto de no serem capazes de se desligar dela, nem ainda quando a
esperana messinica se lhes apresentou como um facto consumado.
Concluamos,
portanto, que a teoria da evoluo no d razo da
existncia das profecias messinicas e a nica explicao plausvel a
revelao divina.
253. Suponhamos, dizem os racionalistas, que houve profecias
messinicas; mas,
no se realizaram.
Os Judeus nunca encontraram a
.felicidade temporal, nem a restaurao do Reino de Israel que os profe-
tas lhes tinham predito. Ao contrrio; a histria narra-nos a destruio
do seu templo, a runa de Jerusalm, e a sua disperso pelo
mundo.
Resposta. Convm distinguir nas profecias dois elementos; o
espiritual e o natural. a) 0 primeiro
e mais importante, j demons-
trmos que se realizou (n, 251 ).
b) 0 segundo
parece primeira
vista que no se cumpriu, Mas no assim, parque;
REALIZAODASPROFECIASMESSINICASEM
JESUS287
1 , as promessas de prosperidade material e nacional eram apenas
elemento secundrio
na esperana messinica e no tinham outro fim
seno servir, por assim dizer, de moldura
ao elemento espiritual. Era
conveniente que Deus acomodasse as suas revelaes mentalidade da-
queles a quem se dirigiam. A importncia excessiva que os Judeus
deram ao elemento temporal
prova bem clara que nunca se
resolve-
riam a propagar o culto '
de Jav, se ao mesmo tempo no tivessem espe-
rana da restaurao do reino temporal.
2. Devemos tambm notar que
as promessas de Deus, acerca da
felicidade terrestre e da restaurao do reino de Israel, foram sempre
condicionais.
Os profetas sempre subordinaram o futuro temporal dos
Judeus sua fidelidade a Jav, No pois para admirar que, perseve-
rando os Judeus no seu endurecimento e orgulho e obstinando-se em no
querer reconhecer o Messias, tenham perdido o benefcio das promessas
materiais, cuja funo era acessria.
254. 3. Se as profecias fossem
claras, os Judeus no se teriam
iiegado, em to grande nmero, a reconhecer o Messias que esperavam,
Resposta. Se Jesus no tivesse sido perseguido e rejeitado
pelos seus, se por eles no tivesse sido condenado morte, numa pala-
via, se tivesse sido reconhecido pelo povo judeu, no seria o Messias,
bois que os orculos messinicos, que anunciavam todos estes factos,
uilo se teriam cumprido.
Apesar disso pode sempre
perguntar-se como que os Judeus
puderam enganar-se em to grande nmero, acerca da interpretao das
p
rofecias, e como se explica que uns se tenham convertido ao cristianismo
Noutros
obstinado no judasmo, a Os Israelitas, diz o
.P.e DEBROGLIE,
41u17 resistiram
luz do Evangelho e no quiseram receber o Messias,
tenham-se ligado de tal maneira ideia dum
reino temporal, que no
queriam absolutamente desligar-se dela. Quando viram que o Salvador
ti
e afastava da sua ideia, sacrificaram tudo e abandonaram-no.
Os Apstolos, pelo contrrio, e os primeiros discpulos de Cristo,
titio obstante terem esta mesma concepo, eram mais simples, mais
ilubmissos
e mais dceis. Reconheceram a Jesus Cristo como Messias e,
rrebatados de admirao pela sua santidade, sabedoria e obras admi-
i
.mveis, creram na sua divindade e sacrificaram o seu modo de ver aos
e,
uvinamentos de Jesus .
Disseram consigo mesmos: Eis como ns ente
rs-
+t
f ovos as profecias; mas talvez nos enganvamos! E, certamente com
repugnncia e com pena, creram no verdadeiro sentido das palavras de
lest' s, sacrificando o seu prprio parecer, Ao comeo tinham resistido,
,
imiti
depois submeteram-se e os factos deram-lhes razo ,
B ibliografia. TOUZARD, art. La religion juive (Dic. d' Ales);
Sur
l'r'tude aes prophtes de l'Ancien Testament (Rev, pr. d' Ap. 1 907
-t' Uli);
L'argument prophtique
(Bloud),P BROGLIE, Questions bibli-
goes; Les prophties messianiques (Blond). S. PRorIN, L'argument
ptophtique (Rev. dos Agost.
1 5 Out. 1 909). MONS. PELT, Histoire de
I
` Ancien Testament (Lecoffre). MONS. MEIGNAN, Les prophetes d'Israel
et le Messie, CONDAMIN, Le livre de Isae (Lecoffre). LAGRANGE, Le
288DIVINDADEDOCRISTIANISMO
PROFECIAS, MILAGRES ERESSURREIODEJESUS289
Messianisme chez les Juifs
(Gabalda). LE HIR, Les prophetes d'Israet..
MONS. FREPPEL,
La divinit de Jesus-Christ
(Palm).P. FREMONT, La'
divinit de Jesus-Christ et la
libre-pensee (Bloud), HuGUENY, Critique
et catholique
(Letouzey). BossUEr,
Discours sur l'Histoire universelle,
2.0 P. cap. IV. LACORDAIRE, 41, a conf. MONSABRi , Introductionoil
dogme catholique, 1 6.a e 1 7.a conf.A. NIC OLAS, Etudes philosophiques
sur le christtanisme,
t. II(Vaton). TANQUEREY, Theologie fondamen
tale. VALVEKENS, Foi et raison
(de Meester). H UB Y, Chrtstus (Trad.
port. Coimbra).
BONSIRVEN,
Le judaisme palestinienau temps de
Jesus-Christ (Beauchesne),
C APITULO IV, JESUS C ONFIRMOU A SUA AFIRMAO
C OM PROFEC IAS, MILAGRES E RESSURREIO.
t
a) relativasa si prprio,
A. Profecias(
de Jesus rea-; b)
relativasaosseusdiscpulos,
lixadas.e)
relativas Igreja e aosJudeus.
t d) relativas runa de Jerusalm.
1 , 0 Profecias.
(
a) prediescertas.
B. Eram ver- b) prediesde coisasfuturas,
dadeiras pro-{ e) prediesno conhecveispor cau-
fecias,sashumanas,
Objeco.
C, Foram feitaspara confirmar a sua misso.
A, So histricamente certos,
B. So vertia- f
Milagres, deiros
a) factossobrenaturais,
2."
atila- {
b) factosdivinos.
1
gres.
I C,
( B,
( 1 . Morte,
2, Sepultura,
a) Testemunho
3. Facto da Ressurrei-
de S. Paulo. {
co
apar
provado
ies,
por seis
li
Objeco: Visessu-
bjectivas.
(
1 , Encontro do t-
mulo vazio,
Objeco: Roubo
b)Testemunho ou morte aparente
dos Evange- de Jesus.
listas.2. Asaparies,
Objeco: Asdiver-
gnciasdasnarra-
(
es.
3." Ressurrei-
o.
C. Provas.
Tiveram por fim confirmar a sua misso.
Importncia da questo,
Adversrios,
1 9
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
290
AS PROFECIAS DEJESUS
291
DESENVOLVIMENTO
255. Diviso de captulo. Jesus
no se limitou a
cumprir em si e na sua obra asprofeciasdo Antigo Testa-
mento ; quisapoiar a sua palavra com sinaisprpriospara
autorizar a sua misso e para demonstrar a sua origem divina.
Estessinaisso : 1. asprofecias; 2. osmilagres e 3,0 o
grande milagre da sua ressurreio.
Art, I. Jesusconfirmou a sua misso
com profecias prprias.
Trscoisasse requerem para que asprofeciasde Jesus
tenham o valor de um sinal comprovativo da sua afirmao :
1. que assuaspredies se tenham cumprido;
2, que
possuam ascondies da verdadeira profecia;-3,
que
tenham sido feitasem confirmao
da sua palavra, isto , da
verdade da sua misso,
1,0 - JESUS FEZ PREDIES QUE SE C UMPRIRAM,
TodososEvangelistasso unnimesem atribuir a Jesus
o
dom de profecia, a faculdade de conhecer ossegredosdos
coraese de prever o futuro, Afirmam, alm disso, que
Jesusfez profeciasrelativas; 1. a
si mesmo; 2. aos
discpulos; 3. Igreja e aosJudeus; 4. a runa de
Jerusalm e do templo, e ao fim do mundo.
1, 0 Relativamente a si mesmo.
Jesuspredisse a
sua paixo, morte e ressurreio.
Um dia em que se dirigia
para Jerusalm com osApstolos, comeou a declarar-lheso
que lhe havia de acontecer. Eisque subimosa Jerusalm, e
o
Filho do Homem ser entregue aosprncipesdossacerdo-
tes, aosescribase aosancios; conden-lo-o morte e en-
treg-lo-o aosgentios; zombaro dele e lhe cuspiro no
rosto ; ho-de aoit-lo e tirar-lhe-o a vida, e ao terceiro dia
ressuscitar (Marc.,
X, 32, 34). suprfluo provar, com
o
testemunho dosEvangelistas, que estasprediesse cum-
priram letra,
256. 2,
Relativamente aos discpulos. Jesus pre-
disse a traio de Judas, a fuga dos Apstolos e a trplice
negao de Pedro.
No decorrer da celebrao da Ceia, assim
;u
uinciou o que aconteceria ; E estando elescomendo, disse:
hi
i verdade vosdigo que um de vsme h-de entregar, , .
A todosvsserei esta noite ocasio de escndalo; porque
est escrito ; Ferirei o pastor e asovelhasse
dispersaro,
Masdepoisde ressuscitar, irei antesde vspara a Galileia,
respondendo Pedro lhe disse ; Ainda quando todosse
escandalizarem a teu respeito, eu nunca me escandalizarei.
Jesuslhe replicou; Em verdade te digo que esta mesma noite,
antesque o galo cante, me hs-de negar trsvezes
(Mat.,
X XVI, 21, 31-34).
Jesusanunciou aosApstolosas perseguies que os
esperavam; Masguardai-vosdoshomens; porque vosentre-
garo aostribunaise vosfaro aoitar nassuassinagogas; e
sereislevadospor meu respeito presena dosgovernadores
e dosreis, para lhesservirdesde testemunho a elese aos
gentios (Mat., X, 17, 18). Jesuspredisse a S, Pedro o
seu futuro martrio
e anunciou-lhe o gnero de morte com
'tne havia de dar glria a Deus (Joo, XXI, 18, 19), No
e
preciso provar que osacontecimentosconfirmaram todas
estaspredies.
257. 3, 0
Relativamente Igreja e aos Judeus.
a) A respeito da Igreja.
Jesusanunciou 1. A descida
riu Esprito Santo sobre os Apstolos
e a admirvel propa-
krarde) da Igreja.
Antesda sua Ascenso disse-lhes; Rece-
bereisa virtude do Esprito Santo, que descer sobre vse
ser-me-eistestemunhasem Jerusalm e em toda a Judeia e
Sanmaria, at sextremidadesda terra (Actos, I, 8). Jesus
predisse que o reino de Deus, que tem princpiosto humil-
des,
ir crescendo como o imperceptvel gro de mostarda at
tie fazer rvore (Mat., XIII, 32), 2, Prometeu sua Igreja
n Indefectibilidade;
poisdisse a Pedro ; Tu sPedro e so-
lire
esta pedra edificarei a minha Igreja, e asportasdo
in-
le
ino Do prevalecero contra ela (Mat., XVI, 18) , Seria
1.1, il amostrar face da histria que na Igreja se cumpriram
.I' . profeciasde Jesus,
b) A respeito dos Judeus.Jesus
profetizou a rejeio
292 DIVINDADE DOCRISTIANISMO
da sinagoga e o castigo dos Judeus. Por causa do seu en-
durecimento no mal, osJudeussero excludosdo Reino ; os
seuslugaressero tomadospelosgentios; tal o sentido
dasparbolasdosagricultoresrebeldese do festim das
npcias, (Mat., XXI, 33 e segs, ; XXII, 2, 14), No h
dvida acerca da realizao destasprofecias.
258.-4.
Relativamente runa de Jerusalem e do
templo, e ao fim do mundo.
OstrsprimeirosEvange-
listasreferem-nosduasprediesde
Jesus; uma sobre a
runa de Jerusalm e destruio do templo, outra sobre o fim
do mundo (Mat,, XXIV; Marc., XIII; Luc., XXI), Aos
discpulosque lhe perguntaram; quando que essascoisas
acontecero e que sinaishaver da sua vinda e da
consumao dossculos (Mat,, XXIV, 3), Jesusrespondeu
descrevendo algunssinaispor onde se reconheceria a proxi-
midade destesacontecimentos, Posto que nada possamos
dizer acerca da realizao dossinaisindicadospara o fim
do mundo, certo que a profecia da destruio de Jerusalm
e do templo se verificou quando Jerusalm foi tomada por
Tito no ano de 70,
2, AsPREDIES DEJESUS SOVERDADEIRAS
PROFECIAS, OBJECO,
259. 1. As predies de Jesus so verdadeiras
profecias.
Asprediesacima referidaspossuem todasas
condies da profecia. Com efeito so
a) prediescertas e no merasconjecturas, Anun-
ciam acontecimentosduma maneira clara e no ambgua;
assim, Jesuspredisse no smente a sua morte prxima,
masascircunstnciasque a deviam preceder;
b) prediesde coisas futuras. Para dizer o contrrio
seria necessrio afirmar que osEvangelistasinventaram as
profeciasdepoisdo facto, que foram impostorese que o seu
testemunho no digno de f, Ora, j provmoso contrrio;
c) prediesde coisasfuturas, que
no podiam ser
conhecidas por causas naturais.
Tratava-se de aconteci-
mentosque dependiam da liberdade humana, de futuros
contingentesque s Deuspodia conhecer,
AS PROFECIAS DEJESUS
293
Osracionalistasobjectam,
que Jesus, conhecendo o
iflo e a inveja dos fariseus e a timidez dos A pstolos, podia
feitamente prever que seria levado morte pelosadvers-
i Inse abandonado pelosseus, Ainda que, absolutamente
hiianndo, Jesuspodia prever a sua condenao e a cobardia
dosdiscpulos, era impossvel conhecer naturalmente os
pormenores
da sua paixo e morte. Fora disso, Jesusno
pedia conjecturar a admirvel expanso da Igreja e a runa
de Jerusalm e do templo,
260.
-2, Objeco.A esta ltima predio osracio-
nalistase osmodernistasopem duasobjeces;
a)
Primeiramente, dizem, a profecia a respeito da
runa de Jerusalm
obra dos Evangelistas,
que, tendo
escrito depoisdosacontecimentos, atriburam a Jesusuma
predio que jamaisfizera,
b) Em segundo lugar,
apoiando-se nesta passagem
em verdade vosdigo
que no passar esta gerao sem
que se cumpram todasestascoisas
(Mat., XXIV, 34), e
sustentando que se aplica ao fim do mundo de que tinha
lutado, declaram que
Jesus cometeu um erro
manifesto,
porque anunciou o fim do mundo e a sua gloriosa vinda ou
parusia ( 1
), como factosiminentese de que devia ser
It,slemunha a gerao a que se dirigia.
Resposta.
No dissimulamosque aspassagensrela-
ti vas runa de Jerusalm e ao fim do mundo so difceis
de interpretar.
a)
0 primeiro ataque, que se dirige contra
toda a
passagem
e acusa osEvangelistasde
terem inventado a
profecia,
no resiste crtica, impossvel que a redaco
lenha sido posterior aosacontecimentos, por causa do enredo
tinslactose da confuso que se nota nasnarraes. Se os
I.:vangelistastivessem escrito depoisda runa de Jerusalm,
leriam distinguido melhor, entre a runa de Jerusalm e o
i l m do mundo, e indicado com maior clareza o facto de que
d,va in os sinais precursores.
( I ) A palavra , parusia (do grego parousia presena) sinnima de
1 .0Meta (adventus,
vinda). Ambas designam a vinda gloriosa de Jesus C risto
LI mos tempos.
DIVINDADE DO C RISTIANISMO
Ademais, o historiador Eusslo
(Hist, Ecl., III, 5, 3)
diz-nosque oscristosde Judeia se lembraram da predio
de Jesusquando viram aproximar-se osRomanos, e fugiram
em grande nmero para Pela da Transjordnia, evitando
assim oshorroresda invaso,
b)
Quanto ao outro ataque dosracionalistase dos
modernistas, segundo o qual, Jesusanunciou
o fim do mundo
como iminente
e, por conseguinte, se enganou, tambm no
tem razo de ser. JesusCristo ter-se-ia certamente enganado,
se assuaspalavras
no passar esta gerao sem que estas
coisas sucedam,
se aplicassem ao fim do mundo ; o que no
verdade,
Com efeito, regra elementar de exegese que aspassa-
gensobscurasdevem interpretar-se por outrasmaisclaras,
Ora, no mesmo discurso, Jesusdeclara que o dia do juzo
conhecido semente de Deus
(Mat,, XXIV, 36); alm disso,
afirma que antesdo fim dostemposo Evangelho deve ser
pregado em todasasnaes
(Mat., XXIV, 14),
So portanto duaspassagensque, na hiptese raciona-
lista, estariam em contradio
flagrante com a primeira predi-
o. Ser possvel que Jesusafirme que o fim do mundo
est prximo, e a seguir declare que no sabe o tempo em
que suceder e que no ser antesdo Evangelho ser pregado
em todo o mundo, isto , antesde um lapso de tempo foro-
samente grande ? Daqui se segue que estaspalavras
no
passar esta gerao,,,
devem entender-se da
destruio
de Jerusalm,
e no do fim do mundo e da sua vinda
gloriosa,
Tem, pois, razo o P,e
LEMONNYER quando afirma que
Jesusno anunciou, nem osSinpticoslhe atribuem que a
sua vinda gloriosa e o fim do mundo se realizariam durante
a vida daquelesque o ouviam, ou mesmo num futuro pr-
ximo, Contudo, algumasdassuaspalavras, mal compreendi-
daspelosprimeiroscristos, contriburam talvez para formar o
estado de esprito que osescritosapostlicosmencionam a
respeito da parusia , , .
0 que sabemosao certo
que Jesusno julgou neces-
srio corrigir, por declaraesprecisase claras, aspreocupa-
esescatolgicasdosseusdiscpulosimediatos... Parece
que se empenhou em deix-losem completa e ansiosa incer-
AS PROFEC IAS DE JESUS
295
leia a respeito da data longnqua ou prxima da sua vinda,
r.x
ortando-osao mesmo tempo vigilncia e fidelidade
(Art. Fin du monde,
Dic. d'Als) ( 1 ),
3. As
PREDIES DE JESUS FORAM FEITAS
PARA C ONFIRMAR A SUA MISSO,
261. Asprofecias, que Jesusfez, esto
intimamente
relacionadas com a sua misso,
poisforam feitasexpressa-
mente com o fim de a confirmar, como vriasvezesdeclarou
aosseusApstolos. Depoisde ter predito a traio de Judas
ajuntou ; desde agora vo-lo digo antesque suceda, para que,
quando suceder,
creais que eu sou (o Messias) (Joo XIII, 19),
Quando lhesanunciou asperseguiesque osesperavam,
acrescentou; Disse-vosestascoisaspara que, quando chegar
esse tempo, voslembreisque eu vo-lasdisse
(Joo XVI, 4),
Como se v, Jesusindicava claramente o fim que tinha em
vista quando profetizava; queria que osseusApstolos
acreditassem maisfirmemente na sua palavra e na sua
origem divina,
quando vissem que asprediesse tinham
cumprido,
Conciuso. Podemos, portanto, concluir que Jesusfez
prediesque se realizaram, que essasprediestinham todas
ascaractersticasda verdadeira profecia e que foram feitas
para provar a divindade da sua misso, Logo,
um Enviado
divino,
(1 ) Para a interpretao dos textos de S.
PEDRO (IPed., I, 6; II Ped., III,
1 1 , I S) e de S. PAULO (I Tess., IV, 1 5.1 7 ; II Tess., I, 6, 7; I Cor., VII, 29-31 ;
V, 51 , 53; Rom., XIII, 1 1 , 1 2; Heb.,
X, 25, 37) que parecem anunciar o dia de
Iurusla como prximo, a Comisso Bblica, na
sua deciso de 1 8 de Junho
1 ISIS,
enunciou os princpios seguintes:
1." Princpio. Para
resolver as dificuldades que se encontram nas
awistolas de S. Paulo e dos outros Apstolos, nas quais se trata da parusia ,
I o
o , da segunda vinda de Nosso Senhor Jesus C risto, no permitido a um
ns , {eta catlico sustentar que os Apstolos, ainda que sob a inspiraro do
liisplrlto Santo no ensinam erro algum, emitem contudo as suas prprias
wink les
inteiramente humanas, em que pode deslizar o erro ou a iluso.
Principio.
n, seus escritos Z ^ que no esteja em perfe ita harmon ia com ignorncia
universal, de que falou Jesus C risto.
1 1 .0 Princpio.
Quando S. Paulo escreveu: Ns os vivos que ficamos.
I I 'Tess.,
IV, 1 5) no quis de modo algum afirmar uma parusia r to prxima,
quo se tenha colocado a si e os seus leitores, no nmero dos fiis que ento
vIvcro e iro ao encontro de C risto... (V.
L'Arni du Clerg,
6 de Maio de 1 920),
294`
OS MILAGRES DE JESUS
milagresoperadospor Jesus(Actos, II, 22). Ora, como
que S. Pedro ousaria apelar para estesmilagres, se deles
pudessem duvidar osseusouvintes?
Nem osjudeuscontemporneosde Cristo, ou osque
escreveram no Talmud ( 1 ), nem ospagos, adversriosda
religio crist (como Celso, Porfrio, Hirocles, Juliano e ou-
tros), rejeitaram jamaisa realidade dosmilagresde Cristo.
Estesltimosatriburam-nos magia e ao comrcio com os
demniose fizeram sua, a acusao dosfariseus, a saber,
que Jesusexpulsava osdemniosem nome de Belzebu, prn-
cipe dosdemnios(Mat.,
XII, 24) ; mas, perante a notoriedade
pblica dosmilagresque nenhum judeu contestava, nunca
ousaram dizer que eram fbulasinventadaspelosEvangelistas.
2. -- Os
MILAGRES OPERADOS PORJESUS CRISTO
S0 VERDADEIROS MILAGRES,
263.-1,0 Os milagres.
Poremosde parte osmila-
gresoperadospor Deusem favor de Jesus, apario dos
anjosaospastores, apario de uma estrela aosmagosquando
nasceu, testemunho por ocasio do seu baptismo, a da sua
transfigurao, etc. e s falaremosdosmilagresque operou
por si mesmo para provar a divindade da sua misso,
Ora osmilagresque se encontram nosEvangelhos
maisde quarenta podem dividir-se em trsclasses;
a) Os
milagres operados nas substncias espirituais,
ou por outraspalavras, a expulso dos demnios. OsEvan-
gelhosnarram-nossete milagresdeste gnero,
b) Os
milagres operados nos elementos e seres priva-
dos de razo.
Nesta categoria colocamos 1, 0 o milagre
da
mudana da gua em vinho nasbodasde Can
(Joo,
II, 1-11) ;
1 a tempestade do lago serenada (Mat., VIII,
2,1-26) ; 3, asduaspescasmilagrosas
(Luc., V, 1-11 ; Joo,
XXI, 3-11); 4, a multiplicao dospes
(Mat. , XIV, 15-21;
Marc., VI, 30-44 ; Luc., IX, 10-17 ; Joo, VI, 1-15) ; 5, a
Iigueira que secou (Luc. XIII, 6-9) ;-6. Jesuscaminhando
~obre asondas(Mat., XIV, 25) .
(1 ) x Talmud
o nome com que os Judeus designam o conjunto das
douLrnas e preceitos ensinados pelos seus doutores mais autorizados. O
Tal-
mud representa portanto a tradio judia, e fonte excelente de documentos
par t a histria do judasmo posterior a Jesus C risto.
296
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
Art. II. Jesus provou o seu testemunho
com milagres.
Seguiremosaqui a mesma ordem do artigo precedente.
Trscoisasso necessriaspara que osmilagresatribudosa
JesusCristo possam ser sinaisdivinos; 1. que sejam
his-
tricamente certos; 2. que sejam verdadeiros milagres;
3, que tenham sido feitospara
comprovar a sua misso,
1, 0 Os MILAGRES ATRIBUDOS AJESUS CRISTO
SOHISTORICAMENTECERTOS.
262.A certeza dosmilagresatribudosa Jesusdeduz-se
da historicidade dosEvangelhosque osnarram. J prov-
mos(n,S 223 e segs.) que osEvangelistasso
dignos de f
e que a sua autoridade humana indiscutvel. Osescritores
sagradosconheciam o que diziam e eram verazes; porque
doisdeles S. Mateuse S. Joo eram Apstolose, por-
tanto, testemunhasoculares; alm disso, nenhum crtico os
tem por impostores.
No se diga que osmilagresso interpolaes introdu-
zidasmaistarde nosEvangelhos, poisbasta uma rpida lei-
tura para nosconvencermosdo contrrio, Osmilagresper-
tencem substncia dosLivrossagradoscomo se prova
a) pelo lugar preponderante
que ocupam na vida de
Jesus. Se se tratasse somente de doisou trsmilagres,
poderia talvez admitir-se que tivessem sido ajuntados; mas,
passando de quarenta, a hiptese da interpolao absoluta-
mente inverosmil ;
b) da funo que desempenham
na vida de J. Cristo.
Suprimir osmilagresequivaleria a rejeitar toda a histria de
Jesus, porque osmilagresso essenciaisaosEvangelhos, que
sem elesseriam incompreensveis. Osmilagresdo razo
da f dos Apstolos e de muitosJudeus.
Diz-se, por exemplo, que depoisdo milagre de Can os
discpuloscreram nele (Joo, II, 11) ; que, enquanto estava
em Jerusalm durante asfestasda Pscoa, muitosacredita-
ram no seu nome, vendo osmilagresque fazia , No dia de
Pentecostes, S. Pedro, dirigindo-se ao povo recordou-lhe os
OS MILAGRES DE JESUS
299
salvou (Marc., V, 34) disse mulher que sofria dum fluxo
de sangue. Vai, a tua f te salvou (Marc., X, 52), disse
tambm ao cego de Jeric,
Nenhuma destashiptesesbasta para explicar o conjunto
dos milagres contidosno Evangelho. Dizemos o conjunto
dos milagres, porque, ou admitem a historicidade dosEvan-
gelhos, ou no, Se no a admitem, se dizem que a parte
relativa aosmilagres mtica e lendria, intil discutirmos,
Se a admitem, no h razo alguma para fazer distino
entre osmilagres, Posto isto, vamosprovar que osmilagres
no se explicam
a) pela habilidade e influncia moral do taumaturgo.
Em primeiro lugar, Jesusno era um hbil prestidigitador,
porque tudo o que sabemosacerca do seu carcter o desmente
formalmente, Alm disso, por maishbil que seja urna
pessoa, por maior influncia moral que tenha, evidente
que no pode dar vista a um cego, ouvido a um surdo, ou
fala a um mudo ;
b) pela sugesto e hipnotismo. A sugesto, como j
vimos(n. 168), tem limitesmuito restritosrelativamente
aosindivduose safecesque pode curar, sem eficcia
nasdoenasorgnicas, como a lepra, a atrofia, a cegueira e a
hemorragia habitual. Tambm um pouco difcil de provar
que influncia possa exercer a sugesto nosventosenfureci-
dospara acalmar de repente uma tempestade, Acrescentemos
ainda que JesusCristo operava osmilagresinstantaneamente;
o que nunca sucede nascurasdevidasao hipnotismo e
sugesto, que requerem tempo e o emprego dosmeios;
c) pela f que sara, falso afirmar que Jesusexigia
sempre a f. Exigia-a dosque vinham pedir-lhe a cura, como
era natural; masno a exigia sempre do doente. Vrias
vezesoperou osmilagresa distncia, como aconteceu com a
Cananeia. No se pode, portanto, afirmar que a f dosdoen-
tesfoi sempre a causa da sua cura. Ademais, a hiptese da
f que sara s se pode aplicar a um nmero de casosmuito
restrito ; no d razo dastempestadesacalmadas, nem da
multiplicao dospes, nem da ressurreio dosmortos, Por
isso ospartidriosdessa teoria vem-se obrigadosa fazer uma
seleco arbitrria entre osfactosmencionadosna histria
298 DIVINDADEDOCRISTIANISMO
c) Os milagres operados nos homens,
OsEvangelis-
tasnarram nada menosde quinze curasde doenascorporais
de leprosos, de paralticos, do servo do centurio, do que tinha
a mo rida, de hidrpicos, de surdos-mudose de cegos. Alm
destascuras, Jesusressuscitou tambm trsmortos: o filho
da viva de Naim, a filha de Jairo e Lzaro,
264. So verdadeirosmilagres. Depoisde men-
cionar osmilagresnarradosnosEvangelhos necessrio
demonstrar que so factossobrenaturais e divinos.
A, So factossobrenaturais. Recordemosprimeiro
que oscontemporneosde Cristo e osseusprimeirosadver-
sriospagosnunca tiveram dvidasacerca do carcter
sobrenatural dosmilagres.
certo, dizem osracionalistas modernos; mas o seu
engano provm apenasda ignorncia dasleisda natureza,
Estesprodgiosexplicam-se por causasnaturais
a) pela habilidade e influncia moral do taumaturgo.
A presena de um homem superior, que trata o doente com
doura, e lhe d, por meio de sinaissensveis, a certeza da
sua cura, muitasvezesremdio decisivo. Quem ousaria
negar que, em muitoscasos, excepo 'daslesesbem
definidas, o contacto de uma pessoa delicada equivale aos
recursosda farmcia? S o prazer de a ver d sade.
D o que pode, um sorriso, uma esperana, e isso no
em vo, Assim fala RENANna Vie de Jesus.
b) pela sugesto e hipnotismo;
c) pela f que sara the faith-healing, como dizem
osingleses. Esta ltima hiptese agrada de preferncia a
muitosdosnossosadversriosactuaise, em particular, aos
modernistas (Ed. LE Roy, FOGAllARO... ), ao menospara os
factoscuja realidade reconhecem. Como no podem explicar
todososmilagrespela f, rejeitam a realidade histrica
daquelesque no so susceptveisde tal explicao.
Para provar a sua teoria apoiam-se sobretudo no facto
de JesusCristo exigir a f antesde curar osenfermos.
Se tu podescrer, tudo possvel ao que tem f (Marc.
IX, 22), disse o Salvador ao pai de um jovem paraltico que
implorava a cura do seu filho, Minha filha, a tua f te
300DIVINDADEDOCRISTIANISMO
evanglica, escolhendo unse rejeitando todosaquelesque
esto em oposio com osseuspreconceitosfilosficos, indo
assim de encontro sregrasda crtica histrica.
B. So factosdivinos. a) Acabmosde provar que
osmilagresatribuidosa Nosso Senhor superam asforasda
natureza. Ser
fcil agora demonstrar que no podem ser obra
do demnio, porque na sua maioria excedem
o poder de
todososserescriados; taisso, por exemplo, astrsressur-
reiesque Jesusoperou, sem falar da sua,
b)
Se Jesustivesse usado do poder do demnio, com
certeza n o teria utilizado para expulsar osdemnios, pois
no admissvel que Satansesteja em oposio consigo
mesmo,
c) Mas, ser possvel que JesusCristo, de cuja santi-
dade no podemosduvidar, tenha sido agente do demnio ?
Alm disso, todososseusmilagresso essencialmente mo-
rais, so obrasde bondade e de misericrdia, tm muitasvezes
por fim Ultimo a santificao dasalmas, maisainda que a
saiide doscorpostodasestaspropriedadesprovam clara-
mente que asobrasde Jesusno provm do poder diablico.
Concluso. Logo, osprodgiosatribudosa Jesusso
verdadeirosmilagres. Donde se segue que necessrio reco-
nhecer em Jesusa existncia duma fora sobre-humana, trans-
cendente e sobrenatural. Osque no aceitam esta concluso
tm de negar osfactose contestar o valor histrico dos
Evangelhos; uma necessidade a que se vem constrangidos,
masque devem explicar,
OS MILAGRES DEJESUS FORAMOPERADOS
PARACOMPROVARASUA 'MISSO,
265. A. Jesusno se contenta com afirmar que o
Messias; prova-o com obrase especialmente com milagres.
a) Aosenviados de Joo Baptista, que lhe perguntam se
o Messias, aponta-lhesosseusmilagres(Mat,, XI, 5),
b) AosJudeus que lhe fazem a mesma pergunta, responde
Asobrasque eu fao em nome de meu Pai, do testemu-
nho de mim (Joo, X, 25). e) Antes da ressurreio de
A RESSURREIO DE JESUS301
I rizaro, declara que vai realizar aquele milagre para que
o
povo ali presente creia na sua misso (Joo, XI, 42),
B. Osmilagresde Jesustambm no foram interpreta-
dosdoutro modo por aquelesque ospresenciaram, a) Pelos
seus discpulos.
Dissemosantesque acreditaram nele por
causa do milagre de Can; b) por Nicodemos, que o con-
I essa nestestermos Sabemosque viestesda parte de
Deuscomo mestre ; porque ningum pode fazer osmilagres
que vsfazeis, se Deusno estiver com ele (Joo, III, 2);
c) pelo cego de nascena,
poisacreditou em Jesusdepoisda
sua cura (Joao, IX, 38); d) pelas multides em geral, que
ficavam admiradase diziam ; Porventura no este o filho
de David ? (Mat., XII, 23),
Co n cl uso. Osmilagresevanglicosso histbricamente
certos; so verdadeirosmilagrese foram operadoscom o fim
de demonstrar que Jesusera Enviado de Deus. Por cause-
guinte, se este Enviado de Deusnosdiz que
o Messias,
que o
Filho de Deus, no sentido prprio do vocbulo, as
suaspalavrasso dignasde f, porque inadmissvel que
Deustenha au torizado com o seu poder aspalavrasde um
impostor,
Art, III. Jesuscomprovou o seu testemunho
corn a Ressurreio.
266. 1. Importncia da questo. Chegadosa este
ponto da demonstrao crist e provada a realidade histrica
dosmilagresde Jesus, poderia talvez julgar-se que
o milagre
da Ressurreio j no necessrio para demonstrar a sua
misso divina ; o que alis certo Contudo, ainda que no
seja rigorosamente necessrio, de suma convenincia que o
apologista prove com osargumentosmaisbem fundadosa
verdade da Ressurreio de Jesus, e que no deixe sem res-
posta osataquesdosadversrios; porque, alm de ser o mi-
lagre dosmilagrese um milagre profetizado por Jesus, e
portanto, milagre e
profecia ao mesmo tempo, foi sempre
considerado como o fundamento e o fecho de abbada da pre-
gao cristft,
OsApstoloscreram e pregaram que J, Cristo tinha res-
302DIVINDADE DO CRISTIANISMO A RESSURREIO DE JESUS
303
suscitado, S. Pedro afirmou a ressurreio de Jesusbem cla-
ramente nosdoisprimeirosdiscursos(Act,, II, 24; III, 15),
S. Paulo, que insistia frequentemente sobre este assunto, no
hesitou em dizer aosCorntiosque a sua f seria v se Cristo
no tivesse ressuscitado (I Cor., XV, 17). Daqui se pode
deduzir a importncia desta questo,
2. Estado da questo. Convm primeiro determinar
como se pe a questo do milagre da Ressurreio em face
da crtica moderna.
Duascoisasso necessriaspara que a Ressurreio de
Jesustenha toda a fora de argumento apologtico e possa
considerar-se como sinal divino. g necessrio 1. que o
facto seja histbricamente certo, e 2. que se tenha efectuado
para confirmar a misso divina de Jesus. No necessrio
demonstrar o cal- deter miraculoso do facto que ningum
contesta,
1. A RESSURREIOE' UM FACTOHIST6RICAMENTECERTO,
267.-1.0 Adversrios. Omilagre da Resssurreio
em todasaspocasencontrou adversdrios. Falemossbmente
dosactuais, Podemosassentar como princpio geral que a
opinio dosinimigosdo cristianismo foi sempre ditada pelas
paixese preconceitos.
A dosracionalistasmodernos uma consequncia da sua
filosofia que rejeita a priori qualquer milagre, ainda que seja
atestado pelostestemunhosmaisdignosde f, Hoje em dia,
diz STAPFER, para o homem moderno, uma ressurreio verda-
deira, a volta vida orgnica de um corpo realmente morto
a impossibilidade dasimpossibilidades ( 1 ),
A posio destescrticosest escolhida de antemo e a
sua nica preocupao descobrir o terreno maispropcio em
que possam atacar a apologtica do cristianismo. Este ter-
reno julgam encontr-lo na Crtica literria e histrica.
Agora j se no diz ; no cremosna Ressurreio, porque
impossvel, porque supera asleisda natureza ; masconten-
tam-se com dizer ; o facto histrico deve ser provado pelo tes-
(1 ) STAPFER, La mart et la resurrection de Jesus-Christ.
lem unho daquelesque o puderam conhecer, Ora a Ressur-
reio, considerada como realidade histrica, que da
mesma ordem que a morte, no atestada seno por
testemunhasdiscordantes, a morte, facto natural e real,
teve testemunhase podia ser narrada ; a Ressurreio, mat-
ria de f, nunca se pde comprovar. S se fala de vises, e
as narraesque dela temosso contraditrias ( 1 ),
A Ressurreio crena crist e no facto da histria
evanglica. E se a quisssemosconsiderar como facto hist-
rico, ver-nos-amosobrigadosa reconhecer que no se apoia
em testemunhoscertos, concordantes, clarose precisos ( 2 ),
0 jogo dosadversrios bem claro. Em nome da crtica
histrica (apoiando-se nastestemunhase pondo-asem contra-
dio entre si), negam o facto da Ressurreio e procuram
destruir osfundamentosprincipaisda crena catlica. Por
isso, fazem urn paralelo entre o testemunho de S. Paulo e o
dosEvangelistas. Como o primeiro menoscircunstanciado
e de data anterior, afirmam que representa a
tradio primi-
tiva, a qual ao comeo apenascria na imortalidade de J. Cristo
e s pouco a pouco e em perodossucessivos, cujostraos
aparecem nasnarraesevanglicas, chegou f na Ressur-
reio de Jesus. Vamosprovar que estasafirmaescarecem
de fundamento.
268. 2, Provasda Ressurreio. Osdoisprinci-
paistestemunhosque falam da Ressurreio so, por ordem
cronolgica a) o testemunho de S. Paulo, consignado na
primeira Epstola aosCorntios, escrita, segundo o parecer de
Iodososcrticos, entre osanos52 e 57 ( 3 ); e b) o teste-
munho dos Evangelhos, compostoso maistardar entre o
ano 67 e o fim do sculo I.
A. Testemunho de S. Paulo. S. Paulo, como vimos,
pregou muitasvezesa Ressurreio de Cristo ; maso texto
( 1 ) LOISY3 Quelques lettres sur des questions aetuelles et sur des e'vnements
rrY ents.
(2) LOISY, Les E7 vangiles synoptiques.
(8) Quando demonstrmos a historicidade dos escritos do Novo Testa-
mento, sito tratmos das Epstolas de S. Paulo, cujo testemunho aqui invoca-
Ines; porque o valor histrico da primeira epstola isto contestado pelos
eritleos racionalistas.
304
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
maisimportante, em que fala deste assunto, encontra-se na
sua 1,a Epstola aosCorntios(XV, 1-14). Eisospontos
principaisdesta passagem :
Lembro-vos, irmos, o Evangelho que vospreguei
ensinei-vossobretudo,
como eu mesmo aprendi, que Jesus
Cristo morreu
pelosnossospecados, conforme asEscrituras;
que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo
asEscrituras; e que foi visto por Cefase depoisdisto pelos
Doze. Depoisfoi visto por maisde quinhentosirmosreuni-
dos, a maior parte dosquaisainda vive e algunsj morreram.
Em seguida apareceu a Tiago, e logo a todososApstolos.
Depoisde todososmais, foi tambm visto por mim, como
um abortivo Ora, se se prega que JesusCristo ressusci-
tou dentre osmortos, como dizem algunsentre vsque no
h ressurreio de mortos? Pois, se no h ressurreio de
mortosnem Cristo ressuscitou, E se Cristo no ressuscitou,
v a nossa pregao, e tambm v a nossa f .
Da andlise imparcial deste texto v-se claramente que
S. Paulo afirma a morte, a sepultura e a ressurreio de Jesus:
a) a morte
de Jesus. Ensinei-vos. . que JesusCristo
morreu
pelosnossospecados, conforme asEscrituras(
1 ).
A morte de Jesus, a morte redentora, Jesusimolando-se
voluntriamente na cruz pelo resgate da humanidade
culp-
vel, o tema ordinrio da pregao de S. Paulo, Ora,
o
Apstolo dasgentesdeclara ter recebido da tradio apost-
lica o facto e a doutrina com ele conexa;
b) a sepultura
de Jesus: Ensinei-vosque ele
(Cristo) foi sepultado. A palavra grega etaphe, empre-
gada por S. Paulo e
traduzida por foi sepultado , designa
geralmente nosescritoressagradosdo Novo Testamento uma
( 1 ) 4 Conforme as Eserituras ,>. Esta expressdo repetida duas vezes
por
S. Paulo invocada injustamente pelos racionalistas que dela se servem
para diminuir a fora do testemunho. C om efeito ndo de admirar que os
Apstolos tenham tido o
cuidado de aproximar das profecias do Antigo
Testamento, os factos da vida de Jesus. Segundo o modo de pensar dos
judeus, que ndo juravam sendo pelas Escrituras e que punham o argumento
das profecias acima de todos os mais,
o acordo entre as predies dos
profetas e os acontecimentos da vida
de Jesus tinham mais valor que o
testemunho dos Apstolos, quando diziam que tinham visto Jesus ressus-
citado. Todavia este recurso fts Escrituras ndo diminui a verdade do
testemunho, e os Apstolos por esse facto ndo deixam de ser testemunhas
bem informadas e sinceras, uma vez que os factos referidos sucederam
conforme as Escrituras
A RESSURREIO DE JESUS
305
Neptilk ira
honrosa ; a palavra que usa S. Lucasquando fala
da sepultura do rico na
parbola de Lzaro (Luc., XVI, 22),
o termo
que encontramosnos
Actos dos Apstolos (II, 29),
a propsito
da sepultura de David.
No se trata poisduma
fossa, como supe LOISY num
fragmento da
carta reproduzido pelo Univers, de 3 de Junho
de
1907, Oenterro por Jos de Arimateia, diz, e a desco-
berta do tmulo
vazio doisdiasdepoisda
Paixo, pelo facto
de no terem nenhuma
garantia de autenticidade, conferem-nos
o
direito de pensar que ao
anoitecer do dia da Paixo, o
corpo de Jesusfoi
descido da Cruz pelossoldados
e lanado
nalguma fossa comum, onde no era possvel reconhecer-se
depoisde algum tempo.
No sabemosem
que textosse possa fundar semelhante
hiptese; em todo o caso certo que no se baseia na pala-
vra etaphe'
empregada por S. Paulo e que designa, pelo
menos, uma sepultura
ordinria. Dizer depoisdisto que
Jesusfoi lanado numa fossa comum ser fantasia, masno
crtica histrica ;
c) o facto da Ressurreio.
Este terceiro ponto o
title mais
interessa ao Apstolo, o nico
que lhe serve para
provar a tese que defende. Contudo,
necessrio notar
desde j que S. Paulo no pretende provar a
Ressurreio de
,lesus, de que ningum duvida, masrecord-la como verdade
admitida e servir-se dela para
demonstrar outro dogma que
est em discusso.
De facto, o fim da primeira carta aosCorntios provar
aosfiisdesta Igreja, antes
evangelizada por
S. Paulo, que
esto em erro
osque negam a
ressurreio dosmortose
cometem um ilogismo,
visto admitirem a ressurreio de
JesusCristo ;
porque no pensamento do
Apstolo, osdois
dogmas
esto intimamente relacionadosentre
si. No se pode
cegar a ressurreio dosmortossem negar a Ressurreio de
Crist o; negar a Ressurreio de Cristo desmentir o teste-
tit Indio dosApstolos,
dizer que ensinaram uma falsidade
e
pie, portanto, o cristianismo no tem razo de ser, Se os
mortos
no ressuscitam tambm
Cristo no ressuscitou,
se Cristo no ressuscitou, v a vossa f (I Cor.,
XV, 16, 17),
Sendo esse o fim que o
Apstolo tinha em vista, era
20
306 DIVINDADEDOCRISTIANISMO
ARESSURREIODEJESUS307
natural que no insistisse nasprovasda Ressurreio de
Cristo. Bastava-lhe, pois, escolher asque eram maisteis
ao seu intento para impressionar osseusleitores. Dosdois
argumentosaduzidospelosEvangelistas, o ttimulo vazio e
asaparies, indiscutvel que o primeiro tem menos
alcance que o segundo, poiso tmulo vazio podia explicar-se
sem recorrer ressurreio, Portanto, S. Paulo pe de lado
este argumento ou, pelo menos, apenasfala dele indirecta-
mente.
Dizemosindirectamente, porque, quando diz que Jesus
Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, quer signi-
ficar que o mesmo, que morreu e foi enterrado, depois
ressuscitou; poisno poderia ter ressuscitado se o corpo
tivesse ficado no tfimulo. Contudo, ainda que o tmulo vazio
esteja no pensamento de S. Paulo, devemosreconhecer que
o Apstolo no pretendia formar da um argumento e que se
contentou com o facto dasaparies.
Para provar, ou melhor, para lembrar aosCorntiosque
Jesus ressuscitou,
S. Paulo invoca seisapariesque divide
em trsgrupos: 1, No primeiro, menciona duasaparies
uma a S. Pedro e outra aosDoze; 2, no segundo, trs
aparies; a primeira a quinhentosirmos, a segunda a
Tiago, e a terceira a todososApstolos; 3, no terceiro,
uma s ; a apario ao prprio S. Paulo,
Todaselasso descritasda mesma forma, mas de pre-
sumir que, para S. Paulo, a apario aosquinhentosirmos
tinha especial importncia, porque, no momento em que
escrevia, cerca de 25 anosdepoisdo acontecimento, vivia
ainda a maior parte destastestemunhas, para asquaisapela
sem temor de desmentido,
269. Objeco. S. Paulo, objectam osracionalistas,
d a mesma importncia sapariesque menciona ; todas
so do mesmo gnero, porque o Apstolo descreve-asdo mesmo
modo e emprega sempre o mesmo termo, o verbo pht,
que se pode traduzir pelasexpressesfoi visto ou apare-
ceu . Devemospoisdeterminar qual a significao que
S. Paulo deu palavra 6pht, quando diz que viu a Cristo
ressuscitado,
S. Paulo, dizem osadversrios, no quissignificar que
l inha
visto a Cristo voltado vida no corpo que tinha sido
deposto no tfimulo ; ele s viu uma luz, um corpo de glria
(/1/., III, 21), E a luz que viu no era real e objectiva
, ,
Teve a sensao de ver, porm nada viu que fosse objecto
da vida. Estava alucinado ( I),
E qual ter sido a causa desta alucinao? S. Paulo,
segundo MEYER, homem de gnio, masafectado duma doena
nervosa e acostumado a semelhantesvises, encontrava-se
predisposto corporal e intelectualmente para o que lhe acon-
teceu no caminho de Damasco, Asideiasde JesusMessias,
de Jesusprincpio de vida, de Jesusvivo e imortal tinham-se
lormado pouco a pouco, sem o advertir, na sua subconscidn-
cia.
Quando ia para Damasco essasideiasirromperam de
repente da subconscincia para a conscincia, e viu a Cristo
num corpo glorioso, espiritualizado ou vaporoso, que projectou
sobre ele uma luz deslumbrante, masesse corpo no era
o
corpo de Jesusque voltara vida. Todasasapariesmen-
cionadaspor S. Paulo, concluem osracionalistas, so da
mesma natureza que a sua, isto vises subjectivas.
Refutao.
Admitimoscom osracionalistas, como j
dissemos, que asapariesdescritaspor S. Paulo, so todas
da mesma espcie. Masser verdade que o Apstolo, quando
laz meno da apario que presenciou no caminho de Da-
masco, quer falar duma
qviso subjectiva? O
contexto diz-
-nosexactamente o contrrio.
O
pensamento do Apstolo pode deduzir-se do fim que
inlet em vista na sua carta. Procurando combater a
opinio
de algunsfiisde Corinto que negavam a
ressurreio cor-
poral
dosmortos, S. Paulo quer demonstrar a existncia
e a
natureza da ressurreio apoiando-se na Ressurreio de
Portanto, o seu raciocnio no teria valor, se, para
provar que osmortosretomaro osseus
corpos verdadeiros,
post() que gloriosose dotadosde propriedadesnovas, tivesse
comeado por dizer que a Ressurreio de Cristo, que era
o
princpio e o
modelo da ressurreio dosmortos, no tinha
Nitlo corporal, Logo,
quando declara que JesusCristo ressus-
(1) V. LADEUZ E,
La Rsurrectiondu Christ devant la critique contemporaine.
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
citado lhe apareceu, quer dizer que o viu no mesmo corpo
que tinha morrido e fora sepultado, idntico ao que tivera
durante a sua vida terrestre, excepo dasqualidadesglo-
riosas. Tal , sem dvida, o pensamento do Apstolo,
E certo, replicam osracionalistas, os Evangelistase
S. Paulo no julgam contar impressessubjectivas; falam
duma presena objectiva, exterior, sensvel, Lao duma pre-
sena ideal e, menosainda, duma presena imagindria . As
condiesde existncia desse corpo eram diferentes, masera
o mesmo que tinha sido deposto no tmulo e que julgavam
no ter l ficado ( 1 ). No h dvida ; mas, segundo Loisy,
tudo isso era pura imaginao ou simples iluso da parte
dosApstolos,
1, Pelo que diz respeito ao caso de S . Paulo, poder.
dizer-se que foi alucinado ? E verdade que vriasvezesna
sua vida teve vises, massempre distinguiu entre esta e as
outras. A viso do caminho de Damasco, era o fundamento
da sua vocao. Foi porque tinha visto a Cristo glorioso,
porque se tinha encontrado com ele e tinha ouvido o seu cha
mamento, que reivindicava para si o ttulo de Apstolo. Jamais
se teria atrevido a usar este ttulo se no estivesse conven
cido de ter visto a Cristo to realmente como osoutrosAps-
tolose de ter ouvido a sua voz que o chamava ao apostolado.
Certamente, prosseguem osnossosadversrios, S. Paulo,
foi sincero, mas isso no impede que tenha sido vtima da
alucinao. Apesar de perseguir oscristos, realizou-se no
intimo do seu ser um trabalho inconsciente; teve dvidas
acerca da verdade da doutrina de Jesus, acerca da legitimi-
dade dassuasperseguies, numa palavra, teve remorsos,
Estasimpressespermaneceram ao princpio latentesno seu
esprito, masbrotaram siibitamente da subconscincia para a
conscincia, provocando asalucinaesda vista e do ouvido
e produzindo na sua alma convicesnovase por fim a con-
verso.
Todo este raciocnio no tem fundamento histrico. Esse
pretendido trabalho preparatrio da converso que se teria
passado na subconscincia de S. Paulo, no aparece em
(1) Loisy, Les tuangiles synoptiques.
A RESSURREIODE JESUS 309
aenliuma parte. Paulo perseguiu de boa f oscristos, e
sew pre julgou que procedia bem defendendo as tradies
(lc seuspais como ele mesmo declarou (Gal., I, 14; Act.,
X XVII, 9). 0 que fez, f-lo por ignorncia (I Tim., I, 13).
A hiptese do remorso no se baseia em nenhum texto.
A converso e a f de S. Paulo naquele, cujosdiscpulos
perseguia, foram obra de um momento,
2. Mas, suponhamosque S. Paulo foi alucinado. Poder
dizer-se que asoutras testemunhas, de que falam S. Paulo e
osEvangelistas, foram todas alucinadas? Ascondiesde
nmero, de tempo e de circunstnciaslevam-nosa rejeitar
esta suposio.
a) O nmero, No lcito supor que tantastestemu
-'dias de carcter to diferente, tenham sido vtimas da iluso
dossentidos. No uma s vez masmuitasque Nosso
Senhor se mostra ressuscitado; no a uma s pessoa, nem
s6mente aosApstolos que aparece, masa quinhentosirmos
ao mesmo tempo,
b) O tempo. Asapariessucederam depoisda morte
de Jesus, isto , no momento em que osdiscpulos estavam
desamparadose pensavam em esconder-se. Neste estado de
alma no podiam imaginar que o crucificado lhesaparecia
glorioso. Portanto, asapariestiveram de impor-se do exte-
rior e em condiesde objectividade tal que radicaram uma
1_6 irresistvel na Ressurreio.
c) As circunstncias. S, Paulo, de facto, no men-
ciona nenhuma circunstncia dasaparies, masse lermos
asnarraesdosEvangelistas, vemosque osApstolosao
princpio no acreditavam julgando ver um espirito . Jesus
en to fez-lhestocar nassuaschagas(Luc., XXIV , 37, 40;
Joo XX, 27); comeu diante deles(Luc,, XXIV, 43);
observou-lheso que o esprito no tem carne nem ossos
(Luc., XXIV, 39); permitiu ssantasmulheresque abraas-
sem osseusps( Mat., XXVIII, 9).
Dir-se- talvez que asapariesforam alucinaes ver-
dadeiras e obj ectivas, produzidasdirectamente por Deuspara
obi er a f dosApstolos em Jesusvivo e triunfante. Esta
hiptese no maishistrica do que asoutras; alm disso,
blasfema porque considera Deuscomo a causa directa do
rro.
310 DIVINDADE DOCRISTIANISMO
Concluso. Osataquesdosadversriosno tm fun-
damento algum, Portanto, podemosafirmar com segurana.
que, segundo o testemunho de S, Paulo, a Ressurreio um
facto histrlcamente certo e demonstrado por seis aparies.
Uma delasfoi presenciada por S, Paulo. Dasdemaisafirma.
que vieram ao seu conhecimento pela narrao que ouviu na
seu primeiro encontro em Jerusalm com osApstolose, em
particular, com S. Pedro e S. Tiago (Gal., I, 18), cerca de
quatro anosdepoisdo facto, se seguirmosa cronologia adap-
tada por Harnack, que pe a converso de S, Paulo no mesmo
ano da morte de Jesus,
Logo, numa poca to aproximada dosfactos, osApsto-
losacreditavam na Ressurreio corporal do seu Mestre. Por
isso, no possvel sustentar com a escola mtica, que a
Ressurreio uma lenda que se formou nosmeadosdo.
sculo II, nem com algunscrticascontemporneos(LolsY ),.
segundo osquais, osApstolose osdiscpulosno creram
nem pregaram que o corpo do seu Mestre tinha sado vivo do.
tmulo no terceiro dia depoisda morte, e que oscristoss
chegaram a esta f desfigurando ascrenasprimitivase as:
impressesdosprimeirosdiscpulos,
270. B. Testemunho dos Evangelhos. Segundo o
testemunho dosquatro Evangelhos, a f na Ressurreio de.
Jesusproveio de duascausas: a) do encontro do tmulo
vazio, e b) dasapariesde JesusRessuscitado,
a) Argumento baseado no encontro do tmulo vazio..
Conforme asnarrativasdosquatro Evangelistas, asmulheres.
e osdiscpulos, que se dirigiram ao sepulcro para embalsamar
o corpo de Jesus, encontraram o tmulo vazio, A pedra que fe-
chava a entrada do sepulcro tinha sido rodada (Marc., XVI, 4),.
No interior do sepulcro, oslenise o sudrio estavam postos.
separadamente (Joo, XX, 7) e o corpo de Jesusj l no,
estava (Luc., XXIV, 3 ), Um anjo anunciou-lhesa Ressur-
reio. Osguardastinham fugido aterradose anunciado a
nova aosprncipesdossacerdotesque lhesderam grande=
quantia de dinheiro para publicarem que osdiscpulostinham:
levado o corpo enquanto elesdormiam ( Mat., XXVIII, 11, 13),
0 primeiro argumento dosEvangelistaspara provar a.
A RESSURREIODEJESUS
31 1
I essurreio funda-se no facto de, no domingo de manh, no
ler sido encontrado o corpo de Jesusno tmulo, onde na
unlevspera tinha sido sepultado por Jos de Arimateia,
271. Objeco. Este argumento foi, em todosostem-
pos, objecto dosmaisvivosataquesda parte dosadversrios
do cristianismo,
1, Uns admitiram o facto em si e procuraram explic-lo
por causasnaturais: a) OsJudeus do sculo I recorreram
il hiptese do roubo e acusaram osdiscpulosde ter tirado de
Ituile o corpo do Senhor, enquanto osguardasdormiam (I ),
-b) Entre oscrticosmodernosalgunsabandonaram defini-
tivamente esta hiptese. A escola naturalista alem (BEETS-
CI3NEIDER, PAULUS, HASE) defendeu que Jesusno tinha morrido
na cruz, massmente cara em letargo. A frescura do tmulo,
a virtude dosblsamose o odor forte dosaromasreanima-
ram-no; e, tendo-se desembaraado doslenise do sudrio
que lhe cobria a cabea, Ode sair do sepulcro graasa um
tremor de terra, que fez rolar a pedra que fechava a entrada,
Apareceu depoisa seusdiscpulosque o julgaram ressuscitado.
Outros, ao contrrio, voltaram hiptese do roubo depois
de a modificar. No podendo fazer recair assuspeitassobre
osApstolos, por causa do desnimo em que estavam, atri-
buram a remoo do cadver aosjudeus( 2 ) que desejavam
impedir a influncia dosvisitantes, ou ao proprietrio do jar-
dim, que tinha vontade de ver livre a sepultura ( 3 ) ou final-
mente ao prprio Jos de Arimateia que, no sendo discpulo
de Jesus, e tendo emprestado a sepultura s por caridade, se
apressara no sbado anterior a mandar transportar o corpo
para outro lugar ( 4 ),
2. Outros negaram o facto, afirmando que a narrao
do encontro do tmulo vazio lenda inventada pela segunda.
(I)Esta hiptese no pde resistir por muito tempo rplica dos apo-
logistas cristos. Por isso os judeus lanaram contra o horticultor do lugar
a acusao de ter feito desaparecer o corpo, para que nas idas e vindas os
visitantes piedosos no lhe pisassem as alfaces (cfr. TERTULIA O, Tr. de Spec-
tae,elis ).
(2) RviLLE e LE RoY supuseram que as autoridades judias, inimigas
do .Jesus, no podendo sofrer que lhe tivessem dado uma sepultura honrosa,
inandaram tirar o corpo para lhe dar o destino que a lei ordenava aos cad-
veres dos supliciados.
(3) RaNAN, Les Aptres.
(4) HOLTZMANN, A vida de Jesus.
DIVINDADEDOCRISTIANISMO 312 ARESSURREIODEJESUS
ou terceira gerao crist, como se prova pelo silncio de
S. Paulo. Porque, se o testemunho de S. Paulo, anterior
aosEvangelhos, no menciona o argumento do tmulo vazio,
sinal evidente que o no conhecia e que a lenda no
estava ainda formada.
Refuta5o.-1. No nosdeteremosem responder aos
que, tratando osApstolosde impostores, defendem que
foram osautoresdo roubo. Que interesse poderiam ter em
inventar a fbula da Ressurreio e em fazer adorar como
Deusa um sedutor cujasprimeirasvtimaseram elespr-
prios? Esse plano s se podia realizar por meio da violncia,
da corrupo ou da fraude. Ora nenhuma destashiptesesse
pode sustentar a srio.
A violncia no admissvel da parte de pessoasque
durante a Paixo se tinham mostrado to-pouco corajosas.
A corrupo s seria possvel por meio do dinheiro, e os
Apstoloseram pobres, 0 roubo do corpo pela fraude pode-
ria praticar-se ou surpreendendo osguardaspor algum
caminho escuso, ou indo de noite, enquanto elesdormiam,
rodar a pedra sem o menor rudo, depoistirar o corpo sem
despertar ningum e escond-lo nalgum esconderijo suficien-
temente seguro, para que o no pudessem descobrir, Ora
tudo isto ultrapassa oslimitesdo verosimil,
2. A hiptese da morte aparente de Jesusj no tem
hoje partidrios. Porque uma de duas; ou damoscrdito s
narraesdosEvangelistase, nesse caso, a morte de Jesus
foi real, porque se ossofrimentosda cruz e a lanada no
lhe tivessem tirado a vida, teria ficado certamente asfixiado
pelas100 librasde aromase pela permanncia no tmulo,
ou asconsideramoscomo lendas, e ento camosna
objeco, que nega a materialidade do facto, qual depois
responderemos,
3. Se disserem que o roubo foi praticado pelosJudeus,
defendem uma hiptese ainda maisabsurda e contrria aos
factos; porque preciso no esquecer que osApstolos
pregaram a Ressurreio, no s diante do povo, mastambm
diante doschefesda nao, e que por essa causa foram
encarceradosPedro e Joo e chamadosaostribunais(Act.,
IV, 1, 12),
Como explicar ento o silncio dossinedritas? Tinham
n prova na mo; com um s gesto, com uma s palavra
podiam acabar de vez com a nova crena, cujosprogressos
tanto temiam, Se se calaram, se no opuseram este des-
mentido formal que no podiam faz-lo, Quer dizer que
no foram elesque tiraram o cadver do sepulcro ; que saiu
de l sem eleso saberem ( 1 ).
Quern o ter ento tirado? No foi um amigo, 'Jac) foi
um inimigo, no foi um estranho, Durante dezanove sculos
(Mat., XXVII, 12-15) inventaram-se todasashiptesespossi-
veispara no admitir o milagre; masat hoje ainda no se
apresentou nenhuma que satisfaa, H s uma resposta
possivel ; Cristo ressuscitando corporalmente saiu por si
mesmo do sepulcro ( 2 ),
4, Estar maisbem fundada a pretenso de que a
descoberta do tmulo vazio uma lenda inventada pela
segunda ou terceira gerao crist? (5 ),
Como explicar ento a f dosApstolos, a transformao
, completa nelesoperada pouco tempo depoisdo grande drama
do Calvrio, que ostinha deixado no abatimento e desnimo?
Sc nenhum facto ostirou da sua decepo, se a f na Res-
surreio se foi desenvolvendo pouco a pouco, porque que
de cobardese timidosse tornaram intrpidose audazese
pregaram a Ressurreio at dar por essa f a prpria vida?
Devemoscrer na sinceridade de testemunhasque se deixam
degolar, ou considerd-lascomo exaltadase loucas?
272. b) Argumento fundado nasaparies. Do
argumento do tmulo vazio, que apenasuma prova indi-
recta,
passemossapariesque constituem a prova directa,
(1 ) P.. RosE, Estudos sobre os Evangelhos. Foi sem dvida esta a razo
.pio levou os racionalistas contemporneos a inventar a hiptese da fossa
julgando fugir assim dificuldade.
(2) LADETJZE, op. cit.
II) Os racionalistas supem dois estdios na formao da, lenda.
4) primeiro o das alucinaes. Aps a grande prova do Glgota, o amor
41 1 1 / 4 Apstolos para coin o seu Mestre triunfou finalmente do desnimo. Em
priniciro lugar Pedro e em seguida os outros Apstolos, sugestionados por
comearam a ter vises, nas quais imaginavam ver Jesus ressuscitado,
V41 o imortal, cujo eco se encontra no testemunho de So Paulo. No
estddio, os Apstolos, para legitimar a sua pregapo, materializaram
, Torwa na sobrevivncia de C risto. Segundo lhes convinha, inventaram as
.diminstilncias da Ressurreio: o enterro, a guarda do tmulo, o encontro
vazio, o toque nas chagas do Senhor, etc..
314
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
A RESSURREIODEJESUS31 5,
Se compararmososdoistestemunhos, de S, Paulo e.
dosEvangelistas, vemosque so onze asaparies, sem
contar a de S. Paulo no caminho de Damasco. S. Paulo
menciona duasque no se encontram nosEvangelhos, a
saber sa apario aosquinhentosdiscpulose a apario a
_
S, Tiago, 0 nmero total dasapariesreferidas, pelos
Evangelistas, eleva-se portanto a nove, sete dasquaisforam
em Jerusalm ou seusarredores, e duasna Galileia,
No primeiro grupo, contam-se asapariess1, a
.
S. Maria Madalena (Marc. XVI, 9; Joo, XX, 14-15) ;
2, smulheresque voltavam do sepulcro (Mat. XXVIII, 9)
3, a S. Pedro (Luc.
XXIV, 34): 4, aosdoisdiscpulos
de Emas(Marc. XVI, 12; Luc. XXIV, 13 segs.) ; 5. aos
Apstolosreunidosno Cenculo, na ausncia de S, Tom.
(Marc. XVI, 14; Luc. XXIV, 36 e segs. ; Joo XX, 19-25), .
Estascinco apariessucederam no dia de Pscoa.-6. Oito
diasmaistarde, ainda em Jerusalm, apareceu aosonze
Apstolos, estando S. Tom presente, que foi convidado
pelo Senhor a tocar aschagasdasmose do lado
(Joo
XX, 26-29). 7, Na Galileia, apareceu a sete disc
pulosno mar Tiberades(Joo XXI, 1-14) ; depois
8, aosonze Apstolosnum monte da Galileia
(Mat, XXVIII,
16-17).-9, Enfim, a ltima apario, que precedeu a
Ascenso, no monte dasOliveiras, a todososApstolos.
juntos(Luc. XXIV, 53),
273. Objeco. Contra o argumento baseado nas
apariesobjectam-se asdivergnciasdasnarraesevang-
licas. 1. Nota-se que osEvangelistasno esto de acordo
acerca do nmero dasmulheresque foram ao sepulcro, ne
m.
acerca do nmero de Anjosque viram, 2, Invoca-se prin-
cipalmente a suposta oposio entre osautoressagradosa
respeito do teatro dasaparies,
Segundo oscrticosliberaise racionalistas, h nasnarra-
esevanglicasduastradiessobrepostase inconciliveis:
uma representada por S, Mateuse S, Marcos, que localizam
asapariesna Galileia, conforme a mensagem que assantas
mulheresreceberam do anjo para osApstolosna manh da
ressurreio; outra, representada por S, Lucase S. Joo, que
asfixam exclusivamente na Judeia,
Refutao. 1, Asdivergncias, longe de enfraquecer
as
narrativasdoshistoriadoressagrados, demonstram a sua
.
independncia. Alm disso, referem-se a pontossecundrios,
taiscomo o nmero das mulheres e dos anj os, sem lesar de:
modo algum a substncia do facto da Ressurreio, V-se
claramente que asdiferenas dospormenores no impedem.
de modo algum a identidade substancial,
2, A oposio atribuda aosEvangelistasacerca do.
Ligar dasaparies smente aparente e no prova de modo
algum a existncia de duastradiesdistintas, uma de Jeru-
salctn e outra da Galileia; e que, muito menosainda, cad
a.
evangelista s conhecesse uma destasduastradies. No
se pode dizer que S. Mateus, representante da tradio da
Galileia, ignorava a tradio da Judeia, quando nosconta a.
apario de Jesusssantasmulheres, no momento em qu
e .
saam do sepulcro (Mat. XXVIII, 8-9).
S, Marcosrefere tambm apariesjerosolimitanasn o.
fim do seu Evangelho; masno insistamosneste ponto,
porque osadversriosconsideram o final como apcrifo,
I)o mesmo modo, o Evangelho de S. Joo refere-nosapari-
esna Judeia e na Galileia. Portanto, se exceptuarmos.
S, Lucas, todososEvangelistasconcordam nosdoisteatro
s.
dasapariesde Cristo, e o exclusivismo de que falamoss
existe
na mente doscrticosracionalistas. TrsEvangelista
s.
pelo menosrecolheram a dupla tradio de Jerusalm e de.
t ^ aldeia,
Notemos ademais que a maior parte das divergncias explica-se-
perfeitamente pela diferente finalidade dos Evangelistas. S. MATEUS, ,
ronca escrevia para os judeus, entre os quais corria o boato que os dis
rfpulos
tinham furtado o corpo de Cristo, mostra a inverosimilhana
dA
acusao, pelo facto da guarda posta ao sepulcro e dos selos colo-
lidos sobre a pedra sepulcral. S. MARC OS, como escrevia para o meio
romano
que ligava importncia s formas jurdicas, narra primeiro que
:
morte de Jesus foi oficialmente verificada pela pergunta de Pilatos ao
t' rnlurio
encarregado da execuo da sentena, depois insiste na incre-
duGdade dos discpulos que no queriam acreditar em Maria Madalena.
.. LUCAS, escrevendo para os gregos que no admitiam o testemunho
doi
mulheres nos tribunais e no criam na ressurreio dos mortos que
Iulguvam um absurdo, s menciona as aparies a homens (aos dois.
tIi%efputos de Emas, a Pedro, aos onze e aos seus companheiros) e
.
u' Iuln pormenores materiais para demonstrar que o corpo ressuscitado
do Cristo no era um fantasma, mas um corpo real que se deixava.
31 6DIVINDADEDOCRISTIANISMO
tocar e podia comer e beber. Como osEvangelistasno tinham
o
mesmo fim, cada um aproveitou o que lhe servia ao seu plano e o que
maisconvinha a seusleitores; portanto erro afirmar que ignoravam
osfactosque passaram em silencio,
Concluso. Do exame dosdocumentosse deduz que,
desde osprimeirosdias, osApstolos, devido ao encontro do
tmulo vazio e asaparies, creram que o seu Mestre tinha
ressuscitado e que estava vivo no s quanto sua alma
imortal mastambm quanto ao corpo. Creram que o seu
corpo no tinha ficado no sepulcro, masque vivia de novo
e
para sempre transformado e glorioso ( 1 ),
2, O
MILAGREDARESSURREIOFOI OPERADOPARAPROVAR
AMISSODIVINADEJESUS,
274. A conexo existente entre a Ressurreio de
Jesuse a sua misso divina to clara que jamaisfoi posta
em controvrsia. Entre osadversrios do Cristianismo e os
apologistascristos nunca houve polmicasa no ser acerca
do facto da Ressurreio. Sempre se admitiu que, se Jesus
ressuscitou, a sua misso era divina ; era
o Messias, o Filho
de Deus.
No , pois, necessrio insistir sobre este ponto. Jesus
Cristo considerou sempre intimamente relacionadasa sua
misso e o milagre da Ressurreio,
1, Repetidasvezesdisse que a sua ressurreio era
um sinal messinico: Ento (depoisda confisso de S. Pe-
dro) comeou a ensinar-lhes(aosApstolos) que era preciso
que o Filho do homem sofresse muito. que fosse morto
e depoisde trsdiasressuscitasse (Marc., VIII, 31), Jesus
predisse por trsvezesa sua morte e ressurreio (Marc., IX,
8-9 ; IX, 31 ; X, 32-34);
2, Jesusafirmou em duascircunstnciasdiversasque
a sua ressurreio era o nico sinal que daria para provar a
sua misso,
a) Na primeira, algunsfariseuspediam-lhe um sinal
da sua misso ; Mestre, queramos ver-te fazer um prodgio.
Jesusrespondeu-lhes; Esta gerao m
e adltera pede
( 1 ) V. LEPIN, Christologie.
ARESSURREIODE JESUS
317
urn sinal, porm no lhe sera' dado seno o sinal do profeta
lonas; porque assim como Jonasesteve trsdias
e trs
!mites no ventre da baleia, assim o Filho do homem estar.
titsdiase trsnoitesno corao da terra , (Mat, XII, 38-40).
b) Noutra ocasio quando acabava de expulsar osven-
dedoresdo Templo, osjudeus, admiradosdo seu procedi-
ento, pediram-lhe um sinal da autoridade que mostrava
.
Jesusrespondeu-lhesnestestermos; Destru este templo
e em trsdiaseu o reedificarei . Responderam osjudeus:
<Este templo levou quarenta anosa edificar
e podeslevan-
1:1-lo em
trsdias? MasEle falava do templo do seu corpo.
Ouando depoisressuscitou dosmortos, osdiscpuloslembra
ram-se do que lhesdissera, (Joo, II, 18-22).
Concluso. A Ressurreio o nico sinal que Jesus
concede aosseusinimigospara demonstrar a sua
misso
divina ; e, como esta um facto histbricamente certo, pode-
mosconcluir que Jesusnosdeu o maior e o maisautntico
testemunho da sua origem divina,
Bibliografia. Acerca dasprofeciase dosmibgres. As vidas
de J. Cristo pelo P. FOUARD, Mons. LE C AMUS, P. DIDON, P. B ERTH E, GRAND-
MAISON, LEB RETON, PRAT, LAGRANGE e C RISTIANL LEMONNYER, art, FMdu
Monde (Did. d'Ales). LEPIN, Jsus Messie et Fits de Dieu.-- BMW. -
VOL, Six lecons sur l'varzgile (Blouci),FiLuog, Les miracles de N. S.
lestts-Christ. DE B ONNIOT, Les miracles de l'Evangile (Etudes1888).
B OURC H ANY, PRIER, TIXERONT,
Conferences apologtiques (Gabalda).
-MODS. FREPPEL, La divinit de Jesus-Christ. FRAYSSINOUS, Defense du
o . hristianisme, Des miracles (Le Clere),LACORDAIRE, 38.a conferncia,
MONSAB R, 28.a, 29.a, 36.a, conferncias, Introduction au Dogme.
Acerca da Ressurreio.MANGENOT,
La Rsurrection de Jesus
(Beauchesne). LADEUZE,
La Rsurrection du Christ devout la critique
contemporaine (Blond), CaauviN,
Jsus est-il ressuscit? (Blood).
LicpIN, Christologie (Beauchesne). LEB RETON, art, sobre a Rsurrection,
lIcy, pr. d'Ap., Maio 1907. LESTRE, Jsus reSSUSCtie, Rev. du Clerg
hancais, 1 907; L' Anti du Clerg, 1 923, n.aa 36, 44, 49. B ORDALOUE,
Sermon stir la Resurrection...
31 8 DIVINDADEDOCRISTIANISMO
CAPTULOV. A DOUTRINADOCRISTIANISMO.
RPIDA DIFUSO. OMARTRIO.
A, Objeco racionalista. A doutrina crist um plagiato.
1. No
(
a) Aquesto ( 1, quanto ao dogma.
n-
de facto. i 2. quanto moral.
uma s
tese
si n -
Asanalogias. l3, quanto ao culto.
doutri- B. Refu-
nases-tao.
tranhas.
t
f A. As ditas hipteses explicativas.
a) 0 facto da 1 . quanto ao nmero.
rpida2. quanto ao territrio,
difuso,3. quanto s classes da sociedade,
1, Tese ra-(
1) do meio.
cionalista. I pela ada- 2
e da dou-
Explicao { ptao
) trina,
b) Carcterdo facto.
sobrenatural
do facto,
2. 0 mila- 1) a grandeza dos obs-
gre deduz-I tculos,
-se do con- { 2) e a insuficincia dos
traste entre t meios,
A. Duplo ) a) psicolgico. Milagre moral.
aspecto lb)histrico,
1. Que se deve entender por mrtir.
1 2. Grande nmero de cristos mac-
a) 0 facto.tirizados,
1
3, So martirizados por serem mis -
tos,
b) O carcter 1,
da grandeza dos suplcios.
sobrenatural
2 da fora herica dos mrtires.
do facto i
Objeces.
deduz-se l
ADOUTRINADOCRISTIANISMO319
DESENVOLVIMENTO
275. Diviso do captulo. Depoisde termoscom-
provado osttulosou credenciaisdo fundador do cristianismo
e demonstrado que Jesus o Messiasanunciado pelospro-
fetas, parece suprfluo examinar a qualidade da doutrina,
porque podemosdizer a priori que transcendente, visto ser
obra de um enviado de Deus,
Como teremosocasio de falar da excelncia da doutrina
crist no artigo segundo, nada diremosaqui acerca dessa
questo. impossvel, num Manual de Apologtica, dar a
esta prova da divindade do Cristianismo (critrio interno) o
desenvolvimento que merece, Esse trabalho seria demasiado
extenso e, por conseguinte, remetemoso leitor para o nosso
livro Doutrina catlica.
Colocando-nosnicamente no campo da apologtica
defensiva, apenasresponderemos objeco que osraciona-
Iistasvo buscar histria comparada dasreligies, Quando
falmosdasreligiesfalsaspusemosde propsito em relevo
assemelhanas que existem entre elase o cristianismo,
Voltemosde novo ao assunto e respondamos objeco racio-
nalista, que apresenta a doutrina crist como um plagiato de
outrasdoutrinas.
Depoisexaminaremosascircunstnciashistricasdo
cristianismo, a saber, a sua rpida difuso pelo mundo e a
sua maravilhosa vitalidade atravsdossculos, apesar dos
grandese numerososobstculosque encontrou e, em parti-
cular, dasviolentasperseguiesque tentaram sufoc-lo logo
ao nascer, Este ltimo ponto noslevar questo do martrio,
Este captulo compreender, portanto, trsartigos; 1. No
primeiro demonstraremosque a doutrina de Cristo no um
plagiato. 2. No segundo, falaremosda sua maravilhosa
propagao. 3, Por fim trataremosdo martrio.
Art. I. A doutrina crista nio uma sntese
de doutrinas estranhas.
276. Objeco racionalista. Vimosanteriormente
1, 142) que osracionalistas, apoiadosna doutrina da evo-
{ 1, No exagerar as semelhanas.
b) Inlerpre- 12. As divergncias so mais impor-
tao do
1
tantes,
facto.3. As concluses dos racionalistas
so falsas.
2. R-
pida
difuso
B , Hipte-
se do mi-)
lagre mo-1
ral.
3.
OMart-
rio
B , Mila-
gre tno-
ral.
321
320 DIVINDADEDOCRISTIANISMO
lard, atribuem ao sentimento religioso origem essencial-
mente humana, eliminando inteiramente o sobrenatural e a.
revelao. Partindo deste princpio, que julgam incontes-
tvel, estudam asreligiescomo constituieshumanas, notam
cuidadosamente assemelhanas e no hesitam em tirar as
conclusesseguintestodasasreligiesso da mesma natu-
reza e influenciaram-se reciprocamente ; o judasmo e o cris-
tianismo so to originaiscomo asoutrasreligiese, em
particular, o cristianismo hauriu osdogmas, a moral e o
culto, do judasmo, dasdoutrinasfilosficasda Grcia e de
Roma e, principalmente, dasreligiesmaisantigas, tais
como o Z oroastrismo, o budismo e o mitracismo, numa pala-
vra, uma sntese de doutrinas estranhas.
277. Refutao. Oshistoriadoresracionalistasdas
religies, depoisde terem notado assemelhanasque h
entre o cristianismo e asoutrasreligies, concluem que o
cristianismo ru de plagiato e que, por conseguinte, no
pode ser de origem divina.
conveniente, antesde responder a estasalegaes,
distinguir a questo de facto, e a questo da interpretao
do facto ou, por outrostermos, a materialidade do facto em
si, e asconclusesque dele se deduzem.
A, A questo de facto. Para provar que o cristia-
nismo no tem individualidade prpria, que no religio
original, osracionalistaspem em relevo assemelhanas
que existem entre a sua doutrina e asoutrasdoutrinasante-
riores, filosficasou religiosas. Eisasprincipaisanalogias
que assinalam no campo do dogma, da moral e do culto.
a) Dogma. Segundo osracionalistas, no h no cris-
tianismo nenhuma verdade natural ou sobrenatural que no
se encontre j noutrasreligies,
1. Osfilsofosda antiguidade grega e latina, taiscomo
Scrates, Plato, Aristteles, Cicero, Sneca, etc,, ensinaram,
maisou menosclaramente, a existncia de um Deusnico e
Providncia que governa o mundo, duma alma espiritual,
livre e imortal que receber a recompensa dassuasboas
obras, ou o castigo dosseuspecados. Maisclaramente ainda ;
estasverdadesso ensinadaspeloslivrossagradosdosjudeus.
ADOUTRINADOCRISTIANISMO
2. Passemosaosdogmas, que dizem ser a substncia
intima e original da religio crist, isto , aostrsgrandes
mistriosda Trindade, da Incarnao, da Redeno, e do
sacrifcio, que o corolrio obrigatrio desta ltima, Pois
bem, dizem osracionalistas, estesdogmasno so novosem
si, -- pertencem todos, maisou menos, asreligiesda India,
nem nassuascircunstnciashistricas, a que poderamos
chamar a moldura dos dogmas. So, por assim dizer, a
reedio do que se encontra noslivrossagradosde outras
religiesmaisantigas. J notmosestasanalogiasno capi-
tulo dasfalsasreligies(n," 191 e segs.), masrecordemo-las
brevemente. No mitracismo o deusMitra nasce numa gruta
como Jesus. 0 parentesco do cristianismo maisntimo
ainda com asreligiesda India, Krishna, deusencarnado
do Hindusmo, adorado por pastoreslogo ao nascer e,
oouco depois, obrigado a fugir para a exlio como Jesus,
!3iida recorda-nostambm muitostraosda vida de Jesus,
Antesde empreender a pregao e comear a.' misso de
I ibertador, passa quatro semanasna solido, onde sofre os
assaltosdo demnio tentador Mara. Oslivrossagradosda
Persia contam igualmente uma tentao de Z oroastro. Acres-
centemospor finsque a prpria Ressurreio de Jesusno
um facto nico na histria dasreligies: outrasfalam da
inorte e ressurreio de trsdeuses, Osiris, Adnise Ali.%
b) Moral. Amoral crist, afirmam osracionalistas,
uo tem cunho algum de originalidade . Deve ter sido uma
adaptao da moral estica e da moral de Z oroastro, No
campo do ascetismo tambm no nosensina coisasnovas.
Osconselhosevanglicos, celibato voluntrio, pobreza
voluntria e vida comum, foram postosem prtica antes
do Evangelho pelo budismo, que teve osseusmongesmuito
a tilesda religio crist (n. 195).
c) Culto. 1. Algunsjulgam encontrar ossete sacra-
',lentos no mitracismo. Obudismo e o bramanismo tm
igualmente a confisso dos' pecados. A comunho, que faz
parte integral do sacrifcio eucarstico, tem como correspon-
dente noscultospagoso uso de participar dasvtimasimo-
l adas divindade,
2. 0 culto dos santos e das imagens corresponde,
dizem, ao culto dosdeusese dosidolos.
21
DIVINDADEDOCRISTIANISMO 322
3, 0 cristianismo importou do paganismo todososseus
ritos e cerimnias; adora e implora a divindade do mesmo
modo, por meio dosmesmossinaisexternos, pelosmesmos
gestose at pelasmesmasfrmulas. Osex-votos, que reco-
brem osmurosdasigrejase representam graasobtidas,
tm analogiasno paganismososmonumentosde aco de
graasabundavam junto do templo de Esculpio em Epi-
dauro e perto do templo de Jpiter em Dodona, Portanto,
concluem osracionalistas, a religio crist nada inovou;
apenasurna imitao de outroscultos,
278. B. Interpretao do facto. Em vista das
semelhanasque h entre o cristianismo e asoutrasreli-
gies, osracionalistasapressam-se .a tirar a concluso que
o primeiro plagirio, Masno basta afirmar; o plagiato
prova-se, no se supe, Notar assemelhanas no difcil ;
a dificuldade est em demonstrar a filiao. Retomando os
trsmembrosda diviso anterior, dogma, moral e culto,
vamosprovar que a filiao no existe, ou explica-se por
motivosplausveis,
a) Dogma. 1, No para admirar que asverdades
naturais, taiscomo a unidade e a imortalidade da alma, etc,,
tenham sido ensinadaspor filsofosanterioresao cristianismo,
uma vez que a razo, s pelassuasforas, pode conhec-las,
Poder-se-ia, contudo, observar que raramente foram conhe-
cidassem mistura de erro. Plato reconheceu certamente
uma Divindade suprema, mas dualista, Aristtelesrejeitou
a Providncia, Sneca parece ter sido pantesta, quase todos
sujeitam Deusao Destino.
Dizem tambm que o monotesmo, a imortalidade da
alma e a crena numa vida futura, eram elementos essenciais
do judasmo. No o negamos; mas um contra-senso que-
rer ver nisso um argumento contra o catolicismo, porque ele
mesmo o primeiro a admitir esse parentesco e a afirmar
essa dependncia como um dosseusdogmas.
Em todo o caso assemelhanasno vo maislonge.
Se quisssemospr em relevo asdivergnciasque h entre
asduasreligiese estabelecer o contraste entre o rigorismo,
o orgulho e a justia austera dosfariseus, e a bondade, a
humildade e a inexaurvel caridade de Jesus, foraramosos
ADIVINDADEDOCRISTIANISMO323
Vossosadversriosa confessar que a religio crist, no
obstante ser a evoluo do judasmo, fez taisprogressosque
se pode considerar como uma religio completamente nova
e original.
2, 0 ponto mais importante da objeco racionalista
o que se relaciona com ostrsdogmasda Trindade, da
Incarnao e da Redeno, que constituem, por assim dizer,
a substncia da religio crist,
Notemosem primeiro lugar que estestrsdogmastm
o seu fundamento nosLivrossagradosdo Novo Testamento
e, em particular, nos Evangelhos, Para demonstrar que
o cristianismo recebeu estesdogmas, de outrasreligies,
seria necessrio provar que osdocumentosda revelao
crist no so originais, que tm sinaisde origem estranha,
Ora, se compararmososnossosLivrossagradoscom osda
ndia e da Prsia, fcilmente se reconhecer, pela crtica
interna, que osprimeirosno foram influenciadospelos
segundos,
Todavia, assemelhanasmencionadassero to perfeitas
que se possa afirmar que osdogmasdo cristianismo provm
doutrasreligies? No so, pelo contrrio, asmaisdas
vezes, simplesanalogias, to afastadasque podemosafirmar
que, entre oselementoscorrespondentesdo cristianismo e
dosoutroscultos, . h tantasdiferenascomo semelhan-
as?
Encontramosem vriasreligiesa ideia duma trindade
divina, masentre astradaspagas, vagase mutveis, com-
postasgeralmente de pai, me e fi lho, e a concepo da
Trindade crist, h um abismo ( 1 ),
Poderia ainda algum admirar-se que a ideia de um
libertador se encontre fora do cristianismo; que Squia
-Mtini, por exemplo, se apresentou antesde Jesus, como
salvado r humanidade. Masconvm recordar que a expec-
tao do Messiastinha passado asfronteirasdo territrio
judeu, Esta ideia, da qual osprofetastinham sido propaga-
doresardentes, penetrara por toda a parte,
Quanto scircunstncias histricas dos dogmas, isto ,
a tudo o que se refere vida e sacesdosfundadores, as
(1) P. DE BROGLIE, Problemes et conclusions de l'histoire des religions.
324DIVINDADEDOCRISTIANISMO
aproximaesacima apontadasesto longe de ser desfavo-
rdveisao cristianismo. Sem falar do mitracismo, que se
propagou no Imprio romano ao mesmo tempo que o cristia
nismo, e que osapologistascristospuderam acusar de pla-
giato sem ser desmentidos(n. 191), a vida de Buda no se
pode considerar como o modelo seguido pelosEvangelistas
ao escrever a vida de Cristo. Ao contrrio ; a biografia de
Squia-Mni relativamente recente na literatura da India,
poisa sua redaco definitiva no foi feita antesdo sculo XII
da nossa era. Para demonstrar que o cristianismo depende
do budismo, seria preciso provar que oslivrosactuais, que
contm a vida de Buda, so idnticosaosoriginais, o que
ainda no se fez.
Tambm no h motivo para nosdetermosno parale-
lismo estabelecido entre a Ressurreio de Jesus, cujaspro-
vasindiscutveisapresentmos, e a morte e ressurreio dos
deusesmitolgicos, Osiris, Adnise Ads, que so apenas
smbolosdestinadosa representar a sucesso dasestaes, a
morte aparente da natureza no inverno e a sua ressurreio
na primavera.
b) Moral. Amoral crist no tem de maneira alguma
a pretenso de ser em tudo uma moral nova. Ospreceitos,
fundadosna natureza dascoisase impostospela razo, so
comunsa outrasreligies. No nosdevemos, pois, admirar
dasanalogiasque possa ter cam outrasmorais, coma a dos
esticose a de Z oroastro. Alm disso, a moral crist supe-
ra-as, no s no conjunto dos preceitos e conselhos, mas
tambm nosmotivos que a inspiram. Osesticos, por exem-
pla, quando recomendam a prtica do bem, procuram apenas
a prpria felicidade e no conhecem a caridade para com o.
prximo.
Por outro lado, impondo-noscomo primeiro dever, extin-
guir o sentimento e no escutar samente a razo, vo de
encontro natureza humana e impem uma moral impraticd-
vel. Quanto maiselevada e maishumana no a moral de
Cristo, baseada no amor de Deuse do prximo, compassiva
da fraqueza e indulgente com asfaltasque tm sempre cura
no arrependimento ?!
Mas, dizem osadversrios, houve monges na India que
praticaram osconselhosevanglicosantesdo cristianismo
e
A DOUTRINA DOCRISTIANISMO325
tfto perfeitamente como osascetascristos. Suponhamosque
6 assim. Quando muito, poder da concluir-se que a natu-
reza humana a mesma em todosostempose em todosos
climas, que houve sempre almasde escol que aspiraram a um
ideal de perfeio, e que osseusinstintosreligiososlhesdes-
cobriram osmesmosmeiospara o conseguir.
c) Culto. 1, No responderemos objeco fundada
nassemelhanasentre ossete sacramentos e ossete graus
de iniciacdo
do mitracismo, poiseste no anterior ao cris-
tianismo e, tendo-se difundido em Roma, pode fcilmente
estar em contacto com a religio crist e imitar osritos.
2. Quanto ao culto dos santos e dasimagens, que se
julgam derivar do culto dos deuses e dosMoles, ambosse
explicam fcilmente pela tendncia da natureza humana a
multiplicar e a empregar objectasvisveisde venerao reli-
giosa; esta tendncia, abandonada a si mesma, degenerou na
antiguidade pag no politesmo e na idolatria.
.<Na histria do cristianismo, estasmesmasaspiraes,
governadase dirigidaspelo Espirito Santo e pela Igreja,
encontraram a sua satisfao no culto de venerao para com
Os
santos, diferente do culto de adorao reservado s a Deus,
e no uso legtimo de imagens, que de modo algum se devem
considerar como idolos ( 1 ).
Se alguma vez sucedeu que a distino entre o culto de
Deuse o
dosSantosno foi claramente estabelecida e que o
culto de um santo substituiu pura e simplesmente o culto de
iiin deuslocal sem fazer diferena no modo de venerar o pri-
meiro e adorar o segundo, so abusosimputveis ignorncia
dosrecm-convertidose no religio em si.
3. Alega-se finalmente a identidade das cerimnias,
entre o culto cristo e o culto pago para acusar o primeiro
de plagiato. Ainda que a liturgia crist tivesse copiado
iodososseusritossecundrios, quer do culto judeu, quer do
pago, isto , do meio em que penetrava, e ostivesse adap-
4ado Assuasnecessidades, no haveria motivo para esta
acusao; porque ascerimnias, pelo facto de serem formas
ex teriorespelasquaiso homem dirige assuashomenagens
divindade, so do domnio pblico . Poderemosporventura
(1) P. DEBROGLIE, op. cit., p. 283.
8
326 DIVINDADE DO C RISTIANISMO
recusar verdadeira religio o direito de usar, por exemplo,
dasincensaes, dasprocisses, doscantos, doshbitos,
sacerdotais, sob o pretexto que j outroscultososusaram
antesdela? Sendo a natureza humana a mesma em toda a_
parte, poderemosestranhar que traduza do mesmo modo os
seussentimentos?
0 homem que se sente culpvel e infeliz volta-se natu-
ralmente para o Criador, para um poder invisvel que o pode
.
socorrer. Seja qual for a raa a que pertena, provvel que
invoque a misericrdia divina com osmesmossentimentose
at quase com asmesmaspalavras. A atitude da orao, as
manifestaesexterioresde ' respeito e de humildade so
pouco maisou menosasmesmasem toda a parte : elevam os
braosao cu, prostram-se por terra, e quanto maior o
desejo de obter uma graa, tanto maisinsistem repetindo a.
mesma frmula numa espcie de ladainha , , ,
E natural levar solenemente em procisso asimagen s .
daquelesque se querem venerar. A purificao real ou sim-
blica por meio de ablues, a transmisso de um poder ou
influncia por meio da imposio dasmose muitasoutras.
prticasreligiosasesto em conformidade com asdisposies
da natureza humana. Seria puerilidade mostrar-se surpreen-
dido com assemelhanasnesta matria e apont-lascom
solicitude como descoberta, ou deixar-se levar de algumas
semelhanasexternasentre certasimagens, e da deduzir
apressadamente uma imitao ( 1 ),
Concluso.De tudo o que fica dito podemostirar estas
duasconcluses:-1, Assemelhanas entre o cristianismo e
asoutrasreligiesanterioresno so to pronunciadascoma
afirmam oshistoriadoresracionalistasdasreligies; e as.
divergncias que se encontram entre elasso muitasvezes
maisimportantes; 2, Asconclusesdosracionalistasso
maislatasdo que aspremissase, por conseguinte, o cristia-
nismo no se pode acusar de plagiato, a no ser nasverdades
naturaise em algunsacessriosdo culto, que fazem parte do
domnio comum da humanidade,
(1) CONDAMIN, Art. Babylone et la Bible (Die. d'Ales).
RPIDA DIFUSO
Art. II, difuso do Cristianismo.
279. Estado da questo. A rpida difuso do cris-
tianismo foi sempre considerada pelosapologistascomo um
argumento slido da sua origem divina. Contudo, a questo
no foi sempre encarada sob o mesmo aspecto, Todosreco-
nheceram na rpida propagao do cristianismo a mo da
Providncia, mascomo Deustem doismodosde governar o
inundo, por meio das causas segundas, ou imediatamente
por si mesmo,
natural que tenha havido divergnciasna
interpretao dosfactos.
Osapologistasque seguem a primeira opinio atribuem
grande influncia scircunstncias favorveis ao desenvolvi-
mento do cristianismo. Da admirvel concatenao dascausas
segundas, que favoreceram a rpida penetrao da religio
crist, sobem causa suprema que prepara osefeitosnas
causasmaisafastadas ( 1 ); do mesmo modo, da ordem do
inundo deduzem a existncia de um sbio ordenador, Esta
hiptese, embora suponha a aco contnua de Deus, exclui
o milagre. Todavia, apesar de ser defensvel, tem o grande
inconveniente de ministrar armasaosnossosadversrios
que,
exagerando ascircunstnciasfavorveis rpida difuso
elo cristianismo e diminuindo osobstculosque aosseus
progressos se opunham, podem fcilmente chegar concluso
de que a propagao do cristianismo se explica por causas
naturais, sem recorrer a Deus,
A segunda hiptese, que a nossa, concede scausas
humanasa aco que lhespertence, masconsidera-asim-
potentes
para produzir taisefeitose, por conseguinte, supe
l ni
auxlio extraordinrio da parte de Deus; por outras
palavras, afirma que h desproporo entre osmeiosempre-
gadose osresultadosobtidose, portanto, estamosem pre-
sena de um milagre moral.
(1 ) B OSSUET, Discours sur l'Histoire universelle, 3. Part., C . VIII. A im-
port:l, ncia que B ossuet atribui s causas segundas no de modo algum
tuna diminuio da aco divina, porque Deus quem prepara a ordem e a
sneeeso das coisas pelo trabalho das causas segundas, e quem dispe o seu
encadeamento para a realizao do seu plano eterno e do que B ossuet chama
u sua poltica celeste (Sermo sobre a Providncia). Nada portanto deixado
eu acaso,
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
Masque significa milagre moral? Para conhecer o
sentido desta expresso, conveniente recordar que todosos
serescriadosobedecem a leisconformes sua natureza : os
seresdestitudosde razo esto sujeitosa leisnecessrias,
e osseresracionaisa leismoraisem que a liberdade toma
parte activa. Dasliesque a histria deduz da sucesso
dosacontecimentospode formular-se esta lei moral: um
nmero considervel de homensno muda de opiniesnem
de costumes, se assuaspaixes, osseusinteressese sobre-
tudo a sua vida correm perigo. Se a mudana se efectua,
deve atribuir-se a uma interveno especial de Deuse no
scausassegundasou, por outrostermos, ao milagre moral,
Donde se segue que milagre moral o facto que no se
pode explicar pelasleisda histria, massupe, como con-
dio necessria, a interveno especial de Deus,
Para demonstrar que esta hiptese est bem fundada,
devemosdemonstrar: 1. o facto, em si, da rpida pro-
pagao do cristianismo, e 2. a sobrenaturalidade deste
facto,
1. OFACTODARPIDAPROPAGAODOCRISTIANISMO.
280. A difuso do cristianismo pode encarar-se sob o
aspecto do desenvolvimento numrico e geogrfico, e sob
o aspecto da expanso social.
1. Desenvolvimento numrico e geogrfico. Pelo
facto de o cristianismo se apresentar como religio universal,
conveniente fazer distino entre o nmero dosconvertidos
e a extenso do territrio conquistado.
A, Onmero. A nossa investigao acerca da expan-
so numrica do cristianismo chegar smente at ao comeo
do sculo IV, Nesta poca, asconquistasda nova religio,
no so ainda certamente definidas, mastiveram tanta impor-
tncia que obrigaram o poder imperial, representado por
Constantino, primeiro tolerncia pelo edito de Milo (313),
depois benevolncia e, finalmente, proteco oficial.
E difcil, no desenvolvimento do cristianismo que se intensi-
ficava a cada momento, distinguir entre o que efeito das
RPIDADIFUSO 329
causassegundasou auxiliareshumanos, e o que deve atri-
buir-se interveno directa de Deus. Por outrostermos, o
milagre moral s, discernvel nostrsprimeirossculosem.
que o cristianismo, deixado ssuasprpriasforas, encontr a.
diante de si obstculoshumanamente insuperveis.
a) No sculo I. A propagao do Evangelho, ates-
tada por autoressagradose profanos.
1. Testemunho dos autores sagrados. 0 dia de Pen-
tecostes, em que desceu o Esprito Santo, pode considerar-se
o incio do cristianismo, Contam osActosdosApstolosque
osdoisprimeirosdiscursosde S. Pedro operaram cinco mil
converses(Act. II, 41; IV, 4). Noutra parte falam de
milharesde Judeusconvertidos (Act. XXI, 20), 0 Apo-
calipse (I, 11) j menciona sete Igrejas. So to rpidosos
progressosda nova doutrina que no fim do Evangelho de
S. MARCOS afirma-se que, em conformidade com a ordem
dada por Jesusde anunciar no mundo inteiro o Evangelho do
reino (Mat. XXIV, 14), osdiscpulospartiram e pregaram
em toda a parte (Marc. XVI, 20). S, PAULO, entre 53 e 57,
isto , cerca de 20 anosdepoisda Ascenso de Nosso Senhor,
no receia escrever aosRomanosque a sua f anunciada
ao mundo inteiro (Rom. I, 8).
2, Testemunho dos autores profanos. TCITO e SUE-
rNIOfalam de numerososcristosque pereceram na perse-
guio de Nero, no ano 64,
b) No sculo II. 1, Logo no comeo do sculo II,
cerca de 112, temoso importante testemunho de PLNIOO
Moo, Depoisde ter percorrido como legado imperial, as
vastasprovnciasda Bitnia e do Ponto, escreveu um relatrio
a Trajano no qual manifestava a sua surpreza por ter encon-
trado numerososcristosde todasasidades, sexose
condies, e por ter verificado que ostemplosdosdeuses
estavam quase abandonados, ossacrifciosde h muito inter-
rompidos, e que asvtimasdestinadasaosdeusestinham.
muito poucoscompradores,
2. Testemunho dos Padres da Igreja. S. JUSTINO, cle-
bre filsofo da escola de Plato, convertido ao cristianismo,
declara no seu dilogo com Trifon que no h uma s
raa de homens, ou elesse chamem brbarose gregos, ou
tenham outro nome qualquer, citasque vivem nosseus
328
330 DIVINDADEDOCRISTIANISMO
carros, ou nmadasque habitam sob a tenda, entre asquais
no seja invocado o nome de JesusCristo ,
S. IRENEU, cerca de 170, querendo provar a unidade da
Igreja, diz que est disseminada por todo o universo, As ln-
guasno mundo so diferentes, escreve, masa tradio da f
a mesma por toda a parte. AsIgrejasque se levantam na
Germnia no tm outra f ou outra tradio que asda
Ibria ou dosceltas, nem asque existem no Levante, no
Egipto ou na Lbia, nem aquelasque esto no centro do
mundo (isto , na Palestina) .
No fim do sculo II, cerca de 197, TERTULIANOescreve
na sua Apologtica, c. XXXVII, n. 124 ; Somosapenas
de ontem e j enchemostodo o vosso imprio, asvossas
cidades, casas, fortalezas, municpios, assembleias, at os
acampamentos, astribos, asdecrias, o palcio, o senado, o
foro, s vosdeixamosostemplos. E acrescenta mais
adiante ; evidente que, se oscristosquisessem revol-
tar-se, seriam maistemveisque osmauritanos, ospartas,
osmarcomanos; e se viessem a retirar-se do Imprio, os
pagosficariam assombradosda sua solido ; haveria um
silncio e uma espcie de assombro, como se o mundo
estivesse morto ,
Devemosreconhecer que tanto naspalavrasde Plnio o
Moo como nasde S. Justino, S. Ireneu, e Tertuliano h.
alguma exagerao ou nfase oratria, masamplificao no
falsificao da verdade. E a prova temo-la na carta, que
cerca de 212 o mesmo Tertuliano escreveu a Escpula, pro-
cnsul de frica, protestando contra a nova perseguio, na
qual fala da imensa multido doscristosque constituam
j quase a maioria de cada cidade, palavrasque no se
explicariam e, em taiscircunstncias, seriam descabidasse
no fossem verdadeiras.
c) No sculo III. Um dosmaispreciosostestemunhos
do sculo III o de ORGENES que, depoisde ter escrito na
IX homlia sobre o Gnesis que no havia quase lugar
algum que no tivesse recebido a semente da palavra divina ,
confessava, com lealdade digna dum historiador moderno,
que o fim do mundo estava longe, porque o Evangelho no
tinha sido ainda pregado em toda a parte Devemosmen-
cionar outro testemunho da mesma poca embora menos
331
preciso que o anterior; o de S. CIPRIANOque compara a
Igreja do seu tempo ao sol cujosraiosiluminam todo o
mundo, a uma rvore cujosramoscobrem toda a terra, a
um rio que esparge asguaspor toda a parte.
No comeo do sculo IV, o pago PORFRIOqueixa-se de
encontrar cristosem todasasregies, e o historiador Eus-
iuo, bispo de Cesareia, proclama que J. Cristo adorado no
m undo inteiro. Alm disso, osnumerososconclios, con-
t am-se maisde cinquenta antesdo conclio ecumnico de
Nliceia em 325, reunidosem Roma, na frica, nasGlias,
na Espanha, na Grcia, na Palestina, etc,, so uma prova
evidente que o cristianismo j estava em plena florescncia
antes da converso do imperador Constantino.
281.B, O territrio conquistado. Os documentos
que contm a histria do cristianismo nostrsprimeiros
sculos, mostram-no-lo espalhado pelo vasto Imprio romano,
que abrangia quase toda a Europa e uma grande parte da
frica e da sia, Classificando asprovnciaspelo nmero
ele cristos, julga HARNACK pod-lasdividir em quatro grupos
a) 0 primeiro compreende a sia Menor actual, a.
parte meridional da Trcia, a ilha de Chipre, a Armnia e a
cidade e territrio de Edessa, onde o cristianismo contava
quase metade doshabitantese constitua a religio dominante.
b) 0 segundo grupo compe-se dasprovnciasonde o
cristianismo conseguiu conquistar uma parte notvel da popula
io, podendo rivalizar com asoutrasreligies; taisso Antio-
quia e a Celesria, o Egipto e a Tebaida, sobretudo Alexan-
dria, Roma com parte da Itlia central e meridional, a frica
proconsular e a Numdia, a Espanha, aspartesprincipaisda
rci. a e o sul da Glia.
c) 0 terceiro formado pelasprovncias, onde o cristia-
uisino estava pouco dilatado, compreende a Palestina, a Fen-
cia, a Arbia, algunsdistritosda Mesopotmia, o interior da
pennsula grega, com asprovnciasdo Danbio, o norte e.
nascente da Itlia, a Mauritnia e a Tripolitnia,
(I) 0 quarto grupo, composto dasprovnciasonde o
cristianismo estava pouco disseminado ou era quase desco
nliecido, abrange ascidadesda antiga Filisteia, ascostasdo
nome e noroeste do mar Negro, o ocidente da alta Itlia, a
RPIDADIFUSO
DIVINDADEDOCRISTIANISMO
centro e norte da Glia, a Blgica, a Germnia e a Rcia, e
talvez tambm a Bretanha e a Nrica,
282. 2, Difuso social.Provada a expanso num-
rica e geogrfica do cristianismo, de grande importncia
conhecer a qualidade ou o valor social dosseusadeptos.
porque se o nmero uma fora, a qualidade tambm o .
Apresentando-se o cristianismo como religio universal deve
estender-se a todasasclassesda sociedade.
1, Ora, um facto indiscutvel que a difuso da religio
crist se fez ao comeo principalmente entre a gente humilde.
S. Paulo escrevendo aosCorintios nota que entre elesno
h muitossbiossegundo a carne, nem muitospoderosos,
nem muitosnobres (I Cor., I, 26), E disso mesmo se
gloria, poisacrescenta que Deusescolheu o que fraco
para confundir osfortes, isto , o orgulho e a falsa cincia
do mundo. Seria contudo erro julgar que o primeiro ncleo
cristo s se compunha de gente de baixa condio.
2. Houve, pelo contrrio, e desde a primeira hora,
algunspersonagens notveis: em Chipre o procnsul SRGIO
PAULO(Act., XIII, 9-12) ; em AtenasDIONsIOo AREOPAGITA
( Act., XVII, 34) ambosconvertidospor S, Paulo ; e em Tes-
salnica algumasdamasda alta sociedade (Act., XVII, 4, 12),
Em Roma pode citar-se POMPNIAGRACINAde quem Tcito
afirma que foi acusada de superstio estrangeira (An., XIII, 32)
e ACLTOGLBRIO, senador e personagem consular que Domi-
ciano mandou matar. Na Bitfnia havia, conforme a carta de
Plnio acima citada, cristospertencentesa todasasclasses
da sociedade, No declinar do sculo II progrediu notavel-
mente o cristianismo sobretudo entre a aristocracia romana;
provam-no osepitfiosencontradosnum dosmaisantigoshipo-
teusde Roma, onde aparecem osnomesdosCEciLIOS, Arlcos,
ANIOS, POMPONIOS e AURLIOS, famliasilustresdaquela poca,
3. Ao lado dosrepresentantesda riqueza encontram-se
osda cincia. Logo nostemposapostlicos, osActosassina-
lam um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, homem
eloquente e versado nasEscrituras (Act., XVIII, 2, 26),
Maistarde apareceram osapologistas, homensde grande
cultura: basta nomear TERTULIANO, jurista distinto, e ORGE-
NES, esprito de rara penetrao.
BANDA DIFUSO 333
4. Na corte a doutrina crist teve tambm osseus.
partidrios. S, Paulo fala doscristosda casa de Csar
( 111., VI, 22), dosda casa de Aristbulo e de Narciso
(Rom., XVI, 10, 11). Ao findar o I sculo cristo FLvlo
CLEMENTE, primo do imperador Domiciano, assim como seus'
I i l hos, herdeirospresuntivosdo trono. Aumenta o nmero .
doscristossobretudo no squito dosimperadoresmaislibe-
rais, Constncio Cloro e Licnio.
5. No exrcito era difcil o recrutamento, porque a.
doura evanglica parecia incompatvel com a profisso das
urinas, Contudo, sob Marco Aurlio a duodcima legio (ful-
minata) contava grande nmero de cristos; foi dassuasfilei-
rasque saram maistarde osquarenta mrtiresde Sebaste,
No sculo IV a cristianizao do exrcito tinha chegado a tal
ponto que Constantino pde arvorar a cruz nosestandartes,
6, Depoisde ter falado doscristosem geral sem dis-
tino de sexo, conveniente fazer meno especial das
mulheres, por causa do papel importante que desempenha-
ram na primitiva Igreja. NosActosdosApstolos, mencio-
n:uu-se muitasmulheresentre asquaisuma personalidade.
importante PRISCILA, esposa de Aquila (Act., XVIII, 2 e 26).
Assaudaesque rematam asEpstolas de S. Paulo com-
preendem geralmente nomesde mulheres: a Epstola aos.
Pn nanoscontm especialmente oito ao lado de dezoito nomes
ele homens, S. Paulo preocupa-se com oscasamentosmistos
I Cor. VII, 12) e com o porte dasmulheresnasassembleias
1
I Cor. XI, 5) e sabe-se que logo ao princpio se instituiu
u n ia falange de virgenscristse de diaconisas,
Concluso. Desta breve exposio podemosconcluir
qu o, o cristianismo penetrou rapidamente quase em todo o
inundo e que, embora tenha recrutado maior nmero de ade
pios nasclassespopulares, no era exclusivo de uma casta
.0 partido, Desde osprimeirosdiasfoi uma religio univer-
iI e uma verdadeira potncia moral,
tj 2." ADIFUSODOCRISTIANISMO UM FACTOSOBRENATURAL
283. A rpida difuso do cristianismo poder porven-
lura explicar-se por causas naturais tanto extrnsecascomo
332
334DIVINDADE DO C RISTIANISMO 335
RPIDA DIFUSO
intrnsecas, isto , tiradasdo meio onde o cristianismo pene-
trava, ou da prpria doutrina? Ou, pelo contrrio, ser
devida interveno especial de Deus, a um milagre de
ardem moral? Para resolver este problema, mister ver se
h ou no proporo entre osmeiosempregadose osresul-
tadosobtidos,
Todososracionalistasrespondem afirmativamente apesar
de no estarem de acordo quanto ao carcter e nmero das
causasque produziram o rpido desenvolvimento do cristia-
nismo. Osapologistascatlicossustentam a tese contrria,
Antesde a expormos, conveniente examinar ascircunstn-
cias favorveis invocadaspelosadversrios,
284.-1. Tese racionalista.Osfactosexplicam-se
naturalmente. 0 bom xito da nova religio foi normal,
por causa da adaptao e harmonia que havia entre o meio
e a doutrina (HARNACK) ( i ) .
A, Omeio. -- 0 cristianismo propagou-se em duas
espciesde meios: o judeu e o pago.
a) O meio judeu. Por este nome devem entender-se
no s osJudeusque habitavam a Palestina, ou Judeus
pales-
tinos, cuja lngua era o dialecto aramaico, mastambm os
Judeushelnicos, isto , todosaquelesque, a partir do exlio
de Babilnia, se tinham dispersado pelo mundo grego-romano
e s falavam o grego, Estesltimos, nosprincpiosda era
crist, formavam uma populao importante noscentrosprin-
cipaisdo Imprio romano, Havia comunidadesjudaicasou
judiarias em Antioquia, Damasco, Esmirna, Efeso, Tessalo-
nica, Atenas, Corinto, Alexandria e Roma. 0 conjunto das
comunidadesconstitua a chamada Diaspora, duma palavra
grega que significa disperso. Cada judiaria tinha a sua sina-
goga e levava vida religiosa como na me ptria, conservando
intactasassuasinstituies, cultose esperanas, Conquanto,
porm, guardassem a sua individualidade de raa e evitassem
todo o contacto com ospagosno campo religioso, exerceram
grande influncia no meio em que viviam pela elevao da
doutrina monotesta, Conseguiram at arrancar aoscultos
(1 ) Expomos a tese de H ARNAC K, por ser uma das mais documentadas.
pagosum nmero considervel de almasrectasque, desen-
ganadasdoserrosidoltricos, reconheceram o verdadeiro Deus
afiliando-se ao judasmo pela circunciso e observncia das
prescriesmoisaicas( 1 ) .
poisincontestvel, dizem osracionalistas, que a Dis
gora favoreceu no princpio o cristianismo, fornecendo-lhe os
elementosdasprimeirascristandades, Contentemo-noscom
cotar desde j que osapologistascristosreconhecem o facto
desta primeira circunstncia favorvel ao desabrochar do cris-
tianismo, contudo toda a questo se reduz a saber, se este
lacto se deve considerar como o efeito do acaso ou como feliz
disposio da Providncia.
b) O meio pago. 0 meio pago, incontestvelmente
muito maisconsidervel, era constitudo pelo Imprio romano,
Vejamosque vantagensoferecia penetrao crist, tanto sob
u aspecto poltico e geral, como sob o aspecto religioso,
1, Sob o aspecto poltico podem considerar-se como
circunstnciasfavorveis: a) a unidade poltica do Imp-
rio
romano que, pelo facto de compreender quase a totalidade
pio mundo civilizado, parecia terreno preparado para uma Igreja
catlica ; R) a paz universal indispensvel propagao
religiosa; 7) o uso geral da lngua grega. Ohelenismo,
considerado como o maiselevado expoente de civilizao,
criara a unidade de lngua e de ideias; 6) facilidade das
comunicaes assegurada por numerosasviasromanase pela
Ilavegao mediterrnea.
2. Sob o aspecto religioso, o paganismo encontrava-se
ein plena decadncia. J ningum acreditava na absurda e
grosseira mitologia ; smente o culto de Roma e do Imperador,
,tilo , o culto da fora era tido em alguma estimao, Toda-
v ia, a preocupao religiosa no tinha ainda desaparecido
(1 ) Os pagos afiliados ao judasmo chamavam-se proslitos (grego
.IirosAlytos=lat, Kadvena o que vem de fora). C omo os judeus, esperavam
(rolo Messias e deviam participar nas promessas messinicas.
Os proslitos prpriamente ditos ou, como mais tarde foram chamados
Is proslitos da justia eram muito menos numerosos do que aqueles que tendo
abandonado as suas prticas idoltricas, aderiam ao culto do verdadeiro Deus,
arder pontudo se sujeitar circunciso e observncias da Lei moisaica. Estes
pbanm, uu-se no Novo Testamento .tementes a Deus (Act. X, 2), Na idade mdia
deram- lhes o nome de proslitos da porta, quer dizer, aqueles que no tinham
Ins a, LIassar o recinto do templo, cujo acesso era reservado aos judeus e
Irrorilttoe prpriamente ditos.
RPIDADIFUSO 337
Ion .IesusCristo. Proclamava a grande lei, nunca at ento
ouvida, da fraternidade universal, sem excluir osprprios
igos; lei, donde dimanam todososdeveressocial s: a
Iliridade, a solidariedade, a dedicao, a misericrdia, o per-
Ian dasinjUrias,
c) Considerada no seu culto, no menossalutar a
crist. J. Cristo no se contentou com pregar o
I.;vangelho da salvao e da misericrdia, masrealizou-o
lairoti osenfermos, consolou osaflitos, levantou ospecadores,
ui verdadeiramente o Salvador e continua sempre a s-lo
imlosSacramentosque instituiu ; o Baptismo um banho
uiI utar que d vida nova e introduz asalmasna via da imor-
ialidade bem-aventurada. Ora, para atingir um ideal to
..oblime, asalmascompreenderam fcilmente que deviam ser
inirase santase, por conseguinte, praticar a continncia e
enunciar ao mundo, aosprazerese asriquezas. Aplicando
I iorosamente estesprincpios, ascomunidadesprimitivasno
, ,iiportavam em seu seio membro algum impuro ; lutando con-
ra todasasdesordenssociais, proibiram o luxo, osteatrose
osespectculos.
d) Se considerarmosa religio crist, no j na sua
substncia, masno seu modo de ensino, vemosque ao
inesitio tempo a religio da autoridade e da razo por urn
Lido, impe-se por uma f absoluta que no admite discusso,
Isle dogmatismo intransigente devia ganhar-lhe muitasalmas,
lelizespor se verem livresdassuasdvidase encontrarem
lima doutrina que lhestrazia a luz completa a respeito de
Ocus, do mundo e da vida futura, Por outro lado, a razo
lino perdia osseusdireitos; era ela que devia mostrar a
Iiiirmonia dosmistriose a sua conformidade com a natureza
Iiiiinana,
l'or conseguinte, concluem osracionalistas, fcil con-
led urar a riqueza e a exuberncia com que a doutrina crist se
iiianifestou desde o comeo ao mundo pago . Possuindo em
mesma tudo o que numa religio se podia desejar, apode-
1011-tie de todasasforase ideiase p-lasao seu servio,
No ousaremoscontradizer estasconcluses', poissomos
um primeirosa proclamar a excelncia da doutrina crist e a
I runscendncia do ensinamento de Cristo como prova da sua
Origern divina.
22
336DIVINDADEDOCRISTIANISMO
completamente. Desde asconquistasda sia e do Egipto,
asreligiesorientaistinham despertado asalmas; oscultos
de Cibele, isi s, Adnis, Astarte e Mitra tinham impedido,
diz Mons. DUCHESNE, que o sentimento religioso no morresse*
e tinham-lhe permitido esperar a renascena evanglica ( 1 ).
Todosestescultosviviam juntos, em boa harmonia e admi
tia-se que a mesma pessoa podia pratic-lostodos. Deste
modo efectuou-se entre asdiversascrenasreligiosasuma
espcie de fuso designada geralmente pelo nome de sincre-
tismo (2 ) greco-romano.
Ao contacto destasreligiesestrangeiras, o mundo pago
fizera algo maisdo que conservar a f na divindade; asideias
que formava de Deus, do mundo e da alma tinham-se purifi-
cado. Por isso, dizem osracionalistas, asalmasestavam dis
postasa aceitar uma religio maisespiritual.
285. B. A doutrina crisd. Este era o campo em
que ia ser lanada a semente crist, Vejamosse esta tinha.
todasasqualidadesdesejadaspara nele germinar, crescer e
se desenvolver, Segundo osracionalistas, a doutrina crist
Lido podia ser maisadaptvel ao meio que a devia receber,
a) Dogmaticamente, era ao mesmo tempo, simplese
complexa, clara e misteriosa ; podia resumir-se em algumas
frmulasbreves, ou desenvolver-se em belassnteses, apre-
sentando tal variedade de aspectosque sem dvida satisfazia
asnecessidadesreligiosasde todasasalmas, Em vez das
friasdivindadespagas, pregava um Deusnico, criador e
senhor todo-poderoso, um Deusque no estava enfeudado a
uenhuma raa ou povo ; Deuse Pai ao mesmo tempo ; Pai,
cuja bondade tinha chegado a dar o seu Filho nico, o qual,
depoisde ter passado sobre a terra praticando o bem, se ofe-
recera em sacrifcio pelo resgate dospecadosda humanidade,
b) Quanto moral, o cristianismo anunciava o Evan-
gelho do amor, ensinando que todososhomensso irmos
(1 ) Mons. DUC RESNE, Histoire aricienne de l'glise.
(2) Sincretismo. Etimolbgicamente o nome sincretismo (do grego
x<sun com e kertin, misturar) significa a reunio de sistemas diversos e a h()
incompatveis. O sincretismo difere pois do eclectismo (grego eklegein, 8500-
lher). Aquele consiste numa fuso mais eu menos arbitrria de opinies
diversas; o eclectismo o sistema que escolhe entre doutrinas diferentes cfr
que ha de verdadeiro em cada uma.
338DIVINDADEDOCRISTIANISMO
286.-2. Refutao da tese racionalista. Explicao
verdadeira. Ascircunstncias favorveis propagao do
cristianismo no se podem pr em dvida, embora osracio-
nalistaslhesexagerem a importncia e tirem concluses
falsas; porque, toda a questo, como acima dissemos, se
resume em saber se estascircunstnciasfavorveisso obra
da Providncia e se foram por ela preparadascomo outros
tantosmeiosprpriospara abrir o caminho nova religio.
Demonstraremosque, apesar de todasascausasassinaladas
como elementosde bom resultado, no eram suficientespara
produzir semelhantesefeitos; porque a grandeza dos obst-
culos era muito superior pequenez dos meios empregados.
287. A. Obstculos. A difuso do cristianismo
encontrou duasespciesde obstculos: unsinerentes
doutrina (obstculos intrnsecos); e outrosvindosde fora
(obstculos extrnsecos).
a) Obstculos intrnsecos. Apesar da sua transcen-
dncia, a doutrina crist no se adaptava ao esprito dos
judeus, nem ao dospagos.
1. Osmistrios, que compunham o seu dogma, eram
uma humilhao custosa para a razo humana. 0 mistrio
da Redeno em particular ofendia asalmas: era escndalo
para osjudeus (I Cor., I, 23) que aguardavam um Messias
glorioso e conquistador, e loucura para osgentios que
consideravam a cruz como infmia e ignomnia reservada
aosvisescravos.
2. Asexigncias da moral no eram menor. obstculo.
Ospagos, habituadosa adorar deusessempre indulgentes
para com osvcios, ao abraar a religio crist, deviam
renunciar aosprazeres, aosteatros, aosjogose at ssuas
relaessociais, porque asreuniesestavam quase sempre
associadasa superstiesidoltricas. Alm disso, a vida crist
exigia virtudes, doura, humildade, misericrdia, castidade,
que pareciam exceder asforashumanas. A converso
para ospagosequivalia, por conseguinte, ao rompimento
com o passado, ao abandono da sociedade, privao de
mltiplosgozos, ao passo que osoutroscultossincretistas
no impunham exignciasnem sacrifcios.
b) Obstculos extrnsecos. A nova religio teve de
RPIDADIFUSO
l u tar contra duasclassesde inimigos: a calnia e a per-
segoio,
1, A calnia. Osadversriosdo cristianismo, mal
intencionados, iam repetindo asmaissoezescalniascontra
as crenase costumescristos. Acusavam-nos, por exemplo,
de adorarem um deuscom cabea de jumento, de se entre-
garem nassuasreuniesnocturnasa orgiassem nome.
I nterpretando falsamente o sacrifcio eucarstico, afirmavam
que oscristosdegolavam crianase se alimentavam da sua
carne, a ponto de Tertuliano se ver obrigado a lembrar que
o cristo no era nenhum papo nem monstro inumano,
Fizeram-nospassar por ateuse acusaram-nosde ser, por
suasimpiedadese sortilgios, a causa de todososmales.
2. A perseguio. Durante doissculose meio, de
Nero a Constantino, oscristosforam alvo dasmaisatrozes
perseguies(em nmero de dez). No exagerao se
dissermoscom TERTULIANOque todo o pago convertido era
candidato ao martrio, Oprprio HARNACK o confessa
expressamente; Seria iluso julgar que a situao dos
cristosera perfeitamente suportvel; tinham continuamente
a espada de Dmoclessuspensa sobre ascabeas, e estavam
servi pre expostos tremenda tentao da apostasia, que os
podia livrar. , . Por isso, no podemosdeixar de reconhecer
a sua intrepidez em abraar o cristianismo e viver como
cristos; deve-se principalmente enaltecer a fidelidade daque-
lesmrtires, a quem bastava uma palavra ou um gesto para
evitar o suplcio, maspreferiam a morte a esta libertao,
I!;sta interdio legal era, sem dvida, um grande obstculo
it propaganda crist ( 1 ),
E' verdade que HARNACK maisadiante se contradiz,
dizendo que a histria nosensina que uma religio
oprimida aumenta e cresce continuamente e por isso a
perseguio bom meio de propaganda. Seria, portanto,
necessrio escolher um dosdoistermosda alternativa; uma
coisa no pode ser ao mesmo tempo obstculo e circuns-
lllncia favorvel. ' A perseguio no era bom meio de pro-
paganda, mas a maior dificuldade que uma doutrina pode
(1) Harnacic, Die MissionandAusbreitung des Christentums.
339
i
340DIVINDADEDOCRISTIANISMO
RPIDADIFUSO341
encontrar no seu caminho. A histria vai contra a pretenso,
de Harnack,
perseguiesque obtiveram o resultado desejado,
diz G. BOESSIER, e o sangue abafou svezesdoutrinasque
tinham todasasprobabilidadesde viver e propagar-se
No digamos, pois, em tom enftico que a fora sempre
impotente quando se defronta com uma opinio religiosa ou
filosfica ( 1 ), Osalbigenses, osvaldensese oshussitas
sucumbiram pela represso; o protestantismo desapareceu
onde encontrou a oposio dospoderesptiblicos, e o prprio
catolicismo, quando tinha decado do seu primeiro fervor,
quase foi exterminado pela perseguio, como aconteceu no
sculo XVI sob o reinado de Isabel, na Inglaterra.
Masao menosuma vez, diz ainda G, BOISSIERfalando
do cristianismo nascente, foi vencida a fora; uma crena
resistiu ao esforo do maisvasto imprio que jamaisse viu;
gente pobre defendeu a sua f e salvou-a morrendo por ela (1 ),
288.B, Meiosempregados, To grandeseram os
obstculos como fracososmeios empregados. J vimosque
a religio crist no tinha ao seu servio, como meiosde
propaganda, nem assedues da moral, nem a proteco do
poder civil. Em vez de atrair ospovospelasseduesda
voluptuosidade e de subjugar asalmaspela fora dasarmas,
como fez Maom, declarou guerra spaixese aosvcios.
e, durante trssculos, foi cruelmente perseguida pelosseus
adversdrios. Por isso, podemosdizer com PASCAL que se
Maom seguiu o caminho que humanamente levava a um
bom resultado, JesusCristo seguiu o caminho que humana-
mente levava rufna. E em vez de concluir que, obtendo
Maom bom xito, tambm JesusCristo podia consegui-lo,
devemosantesdizer que uma vez que Maom teve bom
xito, JesusCristo devia necessriamente perecer
(3),
No tendo em seu favor nem osatractivossedutores
da moral, nem a fora dasarmas, teria ao menosa nova
religio sua disposio a eloquncia dos seus pregadores?
ham doze homens, pertencentesa uma raa desprezada,
doze judeussem crdito, sem dinheiro e sem poder, quase
iodosiletradose pouco versadosna lingua grega, como se
detitiz dosseusescritos, 0 prprio S. Paulo, S. Joao e
S, Lucas, espritosde maior envergadura, so neste ponto
Interioresaosfilsofosgregosou latinosda sua poca. Tais
m'ain osinstrumentosque J. Cristo escolheu para conquistar
I iindo.
Alis, osApstolosda nova religio no se jactam de
anhar asalmaspela lgica e pela fora dosargumentos.
i. Paulo no receia afirmar que Deusescolheu o que era
insensato aosolhosdo mundo para confundir ossibios, , a
I tak eza e o oprbrio do mundo, o que nada , para reduzir ao
ilatia o que , a fim de ningum se gloriar diante de Deus
I (or.,
I, 27, 29). Apenasse apoiam na autoridade divina,
nosmilagresde Cristo e, em particular, na sua Ressurreio.
Concluso.A rpida difuso do cristianismo, que
penetra em meiosto diferentese se adapta a todasas
I itiel ignciasapesar dosobstculosaparentemente invencveis,
dr ve ser, portanto, considerada como um dosfactosda
hishiria que menosse podem explicar pelascausasordi-
atirias ( 1 ). Por isso, opomosaosnossosadversrioso
Limos dilema de S. AGOSTINHO( 2 ) Ou se operaram mila-
1 esevidentespara a converso do mundo e ento o cristia-
alsitio 6 divino e aprovado por Deus, ou no houve milagres,
e nesse caso a converso do mundo sem milagres o maior
thismilagres, por ser contrrio sleisda ordem moral,
289. Observao. A maravilhosa conservao do
cristianismo. Osapologistascostumam completar o argu-
ment da rpida difuso do cristianismo com outro baseado
an sua admirvel vitalidade atravsdossculos, Smente
o Indicaremosao de leve, poisseria necessrio descrever
hula a histria da Igreja para apresentar o argumento em
(oda a sua fora.
A interveno divina ilk) menosevidente na conserva-
(1 ) B OISSIER, La fin Cu paganisme.
(2) Ibid.
( 3 ) PAsatiL, art. XIX, n 1 0, ed. H avet.
( I ) P. ALLARD, Dix leeons sue le inartyre. L'expansionthe christianisme.
t 2) S. AGOSTINH O, ACidade de Deus, Liv. 22, cap. V.
342DIVINDADEDOCRISTIANISMO OMARTRIO
343
o do cristianismo do que na sua admirvel propagao.
Se era humanamente impossivel que a doutrina de Cristo
conquistasse o mundo, por causa dasdificuldadesinsuper-
veisque se lhe opunham, talvez maioresobstculosexistiam
para poder resistir prova demolidora do tempo, 0 atractivo
dasnovidades, a experincia que vai manifestando asdefi-
cinciasdasdoutrinas, o perigo da corrupo que asameaa
continuamente, a oposio que encontram por toda a parte,
so outrastantascausasque aspodem levar A. runa
completa.
Ora o cristianismo encontrou no seu caminho todasestas
causasde destruio. Durante muitossculosteve de sus-
tentar frequentesassaltosdasheresiase do poder civil. Logo
depoisdasperseguies, foi ameaado de cair na servido
dosimperadoresque se diziam seusprotectores, com perigo
de se converter em derrota a sua prpria vitria. Em seguida
assistiu runa do Imprio romano, a cuja sorte parecia estar
ligado. Maistarde, na Idade Mdia presenciou a ingerncia
desptica dospoderescivis, a grave questo dasinvestiduras,
o cisma do Ocidente, a relaxao do esprito cristo entre os
prpriospastoresda Igreja, osexcessosdo humanismo, a
crise protestante, e a crise maisgrave ainda do espirita
moderno, com assuasconsequnciassociaise polticas... (1 ).
Quando tudo no mundo desaparece com o tempo, os
impriosse desmoronam em derrocadassucessivase asesco-
lasfilosficaspossuem apenasuma vida efmera na estimao
pblica, numa palavra, quando todasasinstituieshumanas
nascem para logo morrer, s o cristianismo conserva toda a
sua vitalidade, sem dar o mnimo sinal de decadncia Stat
crux, dum volvitur orbis. Por isso o Conclio do Vaticano
com toda a razo apresentou a conservao da Igreja coma
um grande e perptuo motivo de credibilidade,
Art, III. 0 Martrio.
290. Estado da questo. A difuso do cristianismo
encontrou, como dissemos(n. 287), a sua principal oposio
nasviolentasperseguiesdesencadeadaspelosimperadores
(1 ) C f. a nossa Hist. da Igreja, curso superior.
romanosdurante ostrsprimeirossculos. Por conseguinte,
- o martirio faz parte integrante do artigo precedente. Masos
I apologistastm por costume dividir esta questo e fazer do
martirio um argumento especial em favor da divindade do
cristianismo,
Com este fim consideram o martrio cristrio psicolgica e
I histericamente,
1, Sob o ponto de vista psicolgico, tomam como ponto
de partida o facto da inumervel falange de cristos, que
afrontam osmaiscruistormentose a prpria morte com um
heroism e um valor nunca desmentido, e concluem que este
lacto sobrepuja asforashumanase no se explica sem a
interveno divina.
2. Sob o ponto de vista, histrico, osmrtires, pelo
menososcontemporneosde Cristo, deram testemunho dos
milagresde Jesuse, maisespecialmente, da sua Ressurrei-
oo ; milagresque servem de fundamento doutrina crist e
provam a divindade do cristianismo. No recuando perante o
sacrifcio da prpria vida, para sustentar o que tinham visto,
deram ao seu testemunho um valor sem igual, e pode dizer-se
coin Pascal que h toda a razo para acreditar (ashistrias,
cujastestemunhasse deixam degolar (n, 226 n),
S consideramosa questo sob o ponto de vista psico-
lgico. 0 segundo aspecto, que parece muito discutvel
( ii,' 297 n), pertence prova histrica dosmilagresde Cristo,
(pier se trate dosseusmilagresem geral, quer do milagre da
Ressurreio em particular (n, 271),
Sob o aspecto psicolgico devemosprovar 1. o facto
elo grande neimero de mrtires, e 2. o carcter sobrena-
/ural do facto,
1, OFACTODOMARTRIOCRISTO.
291. Estudaremos; 1, o que se deve entender por
nuirtires; 2, qual foi o nmero de cristosmartirizados;
o 3," se foram martirizadospor ser cristos.
1. Definio.EtimolOgicamente, mrtir (do grego
martys, martyros) quer dizer testemunha. Esta palavra foi
oscolliida para designar osApstolose osprimeirosdiscpulos,
344DIVINDADEDOCRISTIANISMO 0 MARTRIO 345
p-la em dvida o protestante DODWELL, o qual, apesar de
reduzir o nmero dasvtimasdasperseguies, admite que
loi suficientemente considervel para constituir uma prova a
favor do cristianismo. Depoisdo crtico ingls, a mesma
tese foi sustentada no sculo XVIII por VOLTAIREe mais
recentemente por algunsracionalistas: HOCHARD(tudes au
snjet de la perscution de Nron), HAVEI (Le Christianisme
et ses origines), AUB (Histoire des perscutions de l'glise
jusqu' la fin des Antonins), HARNACK (obr. cit.).
A tese do grande nmero dosmrtiresfoi suficiente-
mente provada por outroshistoriadorescomo TILLEMONTnas
suasMmoires pour servir l'histoire ecclsiastique des six
premiers sictes, por RUINART, nasActa sincera Martyrum,
por LE BLANTno Supplment aux Acta sincera de Dom
lluinart, por P. ALLARDna Histoire des perscutions du JO!
nu IVe sicle, por G, BOISSIERno La fin du Paganisme, e
at por E. RENANna Histoire des Origines du Christianisme.
Ainda que fosse necessrio diminuir o nmero dosmr-
tires, o cmputo total seria ainda considervel e preciso
n:'o esquecer que a atmosfera de terror e perigo, em que
viviam todososcristos, equivalia por assim dizer morte.
No lugar citado (n. 287), HARNACK no hesita em reco-
nhec-lo e confessa sem rodeiosque a situao doscristos
Cra intolervel.
Se no noslimitssemosaostrsprimeirossculos, pode-
ramosajuntar que a Igreja, atravsda sua longa histria,
leve sempre mrtirese nunca lhe faltou o testemunho do
sangue, Consultem-se osAnais da Propagao da F dos
Illl
imoscinquenta anos, onde se encontram asnarrativasdo
martrio de numerososcristos, missionriose leigos, cados
rela f de Cristo no Japo, na China, na Cochinchina, no
I onquim, na Monglia, na Uganda, etc, E nosnossosdias
no Mxico, na Espanha, na Europa Oriental, etc.
293. 3, Foram martirizados por ser cristos.
Nao difcil demonstrar que oscristosforam martirizados
k. pelo crime de ser cristos, certo que o primeiro edito
de perseguio promulgado por Nero teve por pretexto o incen-
dio de Roma, falsamente imputado aoscristos. Mas, alm
de ser caso excepcional na histria dasperseguies, a acu-
que presenciaram osmilagrese a Ressurreio de Cristo e
deram o seu sangue para ostestemunhar,
Este mesmo termo foi depoisempregado em sentido
maislato, para designar todososcristosque preferiram
antesmorrer do que renegar a f, Por conseguinte, pouco
importa que oscristostenham sacrificado a vida para atestar
um facto de que foram testemunhas, ou para confessar a sua
f numa doutrina. Unse outrosso mrtiresdo cristianismo.
292. 2. Onmero. Nenhum dado estatstico pos-
sumos, diz P. ALLARD, que nospermita calcular aproximati-
vamente o nmero dosmrtires; contudo, no se pode duvidar
que foi muito grande ('), porque aslistasfeitaspelasIgrejas
e que formam osseusMartirolgiosno so de modo algum
completas, poisapenasmencionam osnomesdosmrtires
cujo aniversrio era celebrado. Prova-se pelo testemunho dos
autoresprofanose cristosque o nmero dosmrtiresfoi
muito elevado.
a) Testemunho dos autores profanos. 1, TCITOdiz
que sob Nero pereceu uma multido imensa de cristos
multitudo ingens (s ). 2, DIOCssto narra que Domi-
ciano deu a morte a muitos, entre osquaisa seu primo
FLVIOCLEMENTE, ento cnsul e esposa deste, FLVIA
'DOMITILA, sua parenta (e).
b) Testemunho dos escritores cristos. 1. ,LACTNCIU
escreve na sua obra Da morte dos perseguidores (cap. XV)
Toda a terra estava cruelmente atormentada e o Oriente e
o Ocidente, excepo dasGlias, eram assolados, devo-
radospor trsmonstros. 2. 0 historiador Eusmo conta
tambm na sua Histria eclesistica (liv, VII, cap, IX) :
impossvel inumerar a multido de mrtiresque a perse-
guio causou. Na Frigia, uma cidade crist foi entregue
schamascom todososseushabitantessem exceptuar as
mulherese ascrianas.
A tradio acerca do grande nmero de mrtires foi
admitida sem contestao at ao fim do sculo XVII, Em 1684
(1 ) P. ALLARD, Histoire des persecutions du Ter au lye sicle; t. I, Introd.
(2) Tkciro, Annales, Liv. XV, cap. XLIV.
( 3 ) DIO C ASSio, Liv. XVII, cap. IV.
OMARTRIO 347
vezes mulher crist. S o mencionaremosde passagem,
poissentimosrepugnncia em pensar que numa sociedade
considerada civilizada houvesse magistradosto infamesque
chegassem a impor sdonzelasa vergonha da
prosti-
tuio.
b) Torturas fsicas, Astorturasfsicasno eram
menoresque asmorais, Desde a priso at execuo, os
cristosdeviam frequentesvezespassar pelasprovasmais
rudes, Lanadosem horrveismasmorrase carregadosde
pesadosgrilhes, tendo por vezesospsmetidosem cepos
de madeira munidosde orifcios(nervus) e retidosnuma
contorso dolorosa, como aconteceu a Paulo e Lilasem Fili
pos(Act. XVI, 24), tinham quase sempre, de suportar na
priso ostormentosda fome e da sede e aguardar frequente-
mente, durante maisde doisanos, o momento de comparecer
ante o juiz,
Terminado o interrogatrio, infligiam-lhes, para que rene-
gassem a f, diversostormentos, taiscomo a flagelao, a
distenso dos membros do ecrileo, a dilacerao dascarnes
com unhas de ferro, a aplicao de ferro em brasa ou de
tochas ardentes, Finalmente, proferida a sentena, seguia-se
a pena, que era o exlio, a deportao, ou ostrabalhos for-
cados naspedreirasde granito ou mrmore, nasminasde
oiro, de prata e de cobre, ou a pena de morte que era de
vriasespciesconsoante a gravidade doscasose a condio
daspessoas.
A pena maiscruel e ignominiosa era o suplcio da cruz ;
vinham depoisa pena do fogo, a exposio s feras.
suplicio dramtico que servia de jogo e regozijo pblico
sociedadefinalmente, a decapitao, pena maissuave, que
se aplicava spessoasde elevada posio social ( 1 ),
(1 ) Em princpio, diz P. ALLARD, a decapitao estava reservada
t+s pessoas de condio honrada; a cruz era o suplcio dos escravos e gente
vII; o fogo e as feras, o daqueles que no eram cidados. C om
respeito aos
riatos, porm, depressa se acabaram estas distines. Desde o fim do
aAculo II, a escolha do suplcio dependia no tanto da condio das pessoas
adio do capricho dos magistrados. C itemos entre os mrtires decapitados
111)
sculo I, S. Paulo, cidado romano; no II, S. Justino e seus discpulos;
no III,
o papa S. Sixto II e alguns dos seus diconos, S. C ipriano...
Na intima perseguio, eram tambm afogados: em Nicomdia .inumer-
vnls .
cristos foram levados em barcas e submergidos no alto mar ; outros
Iorain lanados aos rios; outros, metidos em sacos como parricidas e por
vezes com uma pedra ao pescoo . Art. Martyre (Die. d'Als).
346 DIVINDADE DOCRISTIANISMO
sao feita pelo imperador nunca foi tomada a srio, como
testificam oshistoriadoresdaquele tempo TCiro e SUETNIO.
Todasasperseguiescomearam pela promulgao dum
edito ou rescrito, em que asconverses nova religio eram
proibidas. Por isso o interrogatrio dosjuizesera muito
simples. Fazia-se a primeira pergunta para saber se o
acusado era cristo; no caso afirmativo propunha-se a segunda
perguntasse queria renegar a sua f e sacrificar aosdeuses
do paganismo, se queria ser renegado ou mrtir.
2. OCARCTERSOBRENATURAL DOMARTRIO.
294. 0 carcter sobrenatural do martrio deriva das
suas circunstncias, isto , da grandeza dos suplcios e da.
fortaleza herica doscristos.
1. A grandeza dossuplcios. Como pintar ashorr-
veistorturasmoraise fsicas, que osnovosconvertidos
suportavam
a) As torturas morais. No furor da perseguio, a
vida doscristosestava em contnuo perigo; a espada de
Dmocles, como diz HARNACK, estava sempre suspensa sobre
assuascabeas, A situao era intolervel sobretudo
quando oscristospertenciam sclassesabastadas, No
smente no podiam pretender ashonrase asdignidadesdo
Imprio, .masviam-se na necessidade de asrecusar, quando
lhasofereciam, porque todo o cargo implicava a obrigao de
sacrificar aosdeusesdo paganismo ( 1 ). Muitasvezesos
oficiaiseram degradadose expulsosdasfileirasdo exrcito,
Outra pena, maisgrave ainda que a precedente, consistia
na confiscao dos bens, quer dizer, na condenao misria
e decadncia de toda a famlia, porque a perda da fortuna
reduzia aspessoasdasclasseselevadas condio da baixa
plebe, Ao lado destastorturasdoshomensde condio
elevada, havia um suplcio ignbil que se infligia algumas
(1 ) No devemos esquecer que a legislao romana no reconhecia a
liberdade de cultos. Prticamente existia a tolerncia, por causa da indife-
rena do poder, ou pelo receio de tornar hostis os deuses dos adeptos
perseguidos. At 64, isto , enquanto o catolicismo se confundiu com o
judasmo, aquele aproveitou-se dessa tolerncia; mas, a partir desta data
foram-lhe aplicados todos os rigores das leis, por ser considerado como
uma religio ateia (n.o 287).
348 DIVINDADE DOCRISTIANISMO
295. 2. A fortaleza dosmrtiresante o suplcio.
Se considerarmososgrandessuplciosreservadosaosnovos
convertidos, parece que o cristianismo s recrutava adeptos
entre oshomensque estavam na fora da idade, ou entre
almasdotadasduma tmpera excepcional, Contudo, no
foi assim ; a religio de Cristo conta numerososmrtiresde
todasasidades, sexose condies, H, pois, motivo para
crer que havia qualquer coisa de extraordinrio e que um
auxlio do alto sustentava osmrtiresnossuplcios, Esta
opinio no se pode demonstrar por meio de provasrigo-
rosas, masapoia-se no testemunho das prprias vtimas
e dos pagos que assistiam ao espectculo dosseussof ri-
mentos.
1. Testemunho dos cristos. Citemosentre outroso de
S, FELICIDADE. Contam osseushistoriadoresque, estando na
priso e sentindo-se prestesa ser me, no pde conter-se que
no soltasse algunsgemidos, A um dosassistentesque
disse ; se no podessuportar neste momento asdores, que
farsdiante dasferas, respondeu ; agora sou eu que sofro ;
l porm outro estar em mim que sofrer por mim, porque eu
sofrerei por ele .
2, 0 facto no causava menosadmirao aospagos,
que no compreendiam como crianas, mulherese velhos
podiam suportar taistormentos, quando uma s palavra ou
um simplesgesto bastariam para ossalvar; por isso, esta
admirao era para muitoso princpio da converso. Muitos
homens, diz TERTULIANO, vivamente impressionadospela nossa
fortaleza e constncia procuraram ascausasdesta pacincia
to admirvel e, uma vez conhecida a verdade, passaram-se
para nse caminharam connosco (I ). Deste modo, o
sangue dosmrtires tornava-se, no dizer do mesmo autor,
semente de cristos,
296. Objeces. 1. A constncia dosmrtires,
objectam osracionalistas, explica-se ; a) pelo amor da gl-
ria, b) pela esperana dos bens futuros, c) ou pelo fana-
tismo.
(1)TERTULcANO, Ad. S capulam, 5.
0 MARTRIO 349
Resposta. debalde que osracionalistasprocuram,
fora da interveno divina, ascausasda constncia dosmrtires.
a) Invocar o amor da glria equivale a pr-se em
contradio com os factos. A maior parte dosmrtires
distingue-se pela humildade. Algunssofreram o martrio
longe dasmultides, sem esperana alguma que a sua forta-
leza fosse objecto de admirao. No se diga tambm que
osmrtiresfaziam o que muitossoldadosfazem todososdias
no campo da batalha ; porque ossoldadoscombatem com
osolhosnosdespojosou na glria e, ainda que tm cons-
cincia do perigo, sempre esperam que no ho-de perecer.
b) A esperana dos bens futuros, Esta esperana
certamente um motivo de fortaleza; todavia no explicao
cabal da constncia de tantosmrtires, No conhecemosns
por experincia prpria que, apesar da esperana dosbens
futuros, muitasvezesdesfalecemosdiante dossofrimentos,
ou at dasnossasmsinclinaes?
c) 0 fanatismo tambm no d razo da fortaleza dos
mrtires, porque um zelo cego e extravagante, que no
recua diante de toda a espcie de meiospara defender a sua
opinio. No discute e obstina-se nassuasideiascujo triunfo
procura, seja a que preo for. Osmrtiresno so fanticos,
mascalmose reflectidos, A sua fe invencvel e inabal-
vel, porm esto prontosa discutir osslidosfundamentos
em que se apoia e nunca a impem aosoutrospor meios
violentos, 0 fanatismo explicvel nasorigensda religio
e por pouco tempo, e no durante dezanove sculos,
297.-1 Todas as religies, replicam osracionalistas,
tnz os seus mrtires. 0 hindu, o muulmano e o protes-
tante podem, provar a divindade dassuasreligies, apoiando-se
nosseusmrtirescomo fazem oscatlicos( 1 ),
(1 ) Para evitar esta objeco os apologistas do sculo XVIII (B ERGrem)
responderam que no consistia nisso o valor apologtico do martrio e que
os mrtires eram testemunhas no duma ideia, mas dum facto. Recentemente
I', ALLARD' seguiu a mesma opinio no seu livro Dix leons sier le Martyre:
, Segundo a etimologia do nome, , mrtir uma testemunha. Ora, ningum
pode ser testemunha das suas prprias ideias, mas to smente dum facto...
<Os mrtires ( cristos) sao testemunhas, no duma opinio, mas dum
Pacto, o facto cristo... Aqueles que o (Jesus) conheceram, que presenciaram
a sua morte e Ressurreio, como os Apstolos e os discpulos imediatos...
que morreram por essa verdade, so as verdadeiras testemunhas e devem ser
350 DIVINDADE DO C RISTIANISMO
Resposta. Todasascausas, sem excluir asms,
podem ter partidriosque sejam capazesde morrer por elas,
No vimosnsna Comuna homensde baixa condio cair gri-
tando ; viva a Comuna? Por conseguinte, tambm asoutras
religiespodem ter mrtirese no , vemosrazo para afirmar
que o cristianismo tem o monoplio da fortaleza e da cora-
gem,
Feitasestasconcesses, haver algum que se atreva a
equiparar a histria dosmrtiresdo cristianismo das
outrasreligies? Se considerarmosno um ou outro mrtir,
maso seu conjunto, veremosque no h poca nenhuma na
histria, em que asoutrasreligiestenham dado tantos
exemplosde constncia e fortaleza diante do sofrimento e
da morte,
Portanto, o milagre moral no consiste num ou noutro
caso particular, masna multido de homense mulheres, de
velhose crianas, que afrontam asmaishorrendastorturas
e suportam osmaisatrozessuplcios, sem soltar uma queixa
ou uma palavra de retratao, No; nenhuma religio deu
jamaistantose to magnficosexemplosde virilidade,
nenhuma noslegou um heroismo to puro, to universal e
to constante, Isto basta para estarmoscertosde que Deus
estava com a religio crist e com osmrtires,
B ibliografia. 1 . Art. P. de B ROGLIE, Problemes et conclu-
sions de l'histoire des religions.Husy, Christus (trad. port. C oimbra).
B RIC OUT, Oh en est l'histoire des religions, C OMDAMIN, art. Baby-
lone et la Bible (Dic. d'Ales). C H OLLET, La Morale stoicienne en face
0 MARTRIO351
de la Morale chrtienne (Lethielleux). POULINETLOUTIL,
Les religions
inverses (Bonne Presse).
2.e e 3, Art. DUCHESNE,
Histoire uncienne de l'glise (Fointe-
moing). P. ALLARD,
Histoire des persecutions; Dix leons sur le
Marlyre (Lecoffre). J. RIVIRE,
La propagation du christianisme daps
!es trois premiers siecles (Blond);
Autour de la question du martyre
(Rev, pr, Ap,, 15 Ag, 1907). BATIFFOL,
Ancienne litterature chrtienne
(Gabalda). BoIssuiR, La fin du paganisme (Hachette). G, SORTAIS,
uleur apologtique du martyre (Blond). De POULPIQUET,
L'argu-
men( des martyrs
(Rev. pr. d'Ap., 15 Marc, 1909). DUBOIS, Rev, du
cterg fr, 15 Marc., 15 Abr, 1907), VALVEKENS,
Foi et Raison, TAN-
QUEREY,
Thologie dogmatique fondamentale, DIDIOT, Logique sur-
naturelle objective, tes, 43, 44. FOUARD,
Saint Pierre et les premieres
urtnes du christianisme. BossuEr,
Discours sur l'histoire universelle,
FRAYSSINOUS, Conferncias. LACORDAIRE, Conferncias, 29.a, 36.a.
acreditados. Entre este testemunho e a morte dos herejes que recusam
renunciar a uma opinio no pode haver comparao. Ainda que fossem
iguais na sinceridade e na fortaleza, o valor do testemunho muito dife-
rente; ou melhor, s os primeiros tm direito ao ttulo de testemunhas.
Julgamos que no pode sustentar-se esta distino entre os mrtires
do cristianismo e o das outras religies. Em todo o caso, se a quiserem
admitir, tm de recusar o ttulo de mrtires a todos aqueles que- no foram
contemporneos de C risto e at aos que o foram, mas no presenciaram os
seus milagres. Deste modo, com um s trano riscam a maior parte dos
mrtires do martirolgio cristo. Por outro lado, histricamente certo que
os cristos no morriam por atestar um facto, mas por aderir a uma doutrina.
O interrogatrio dos juzes versava unicamente acerca da questo se sim ou
no eram cristos.
Alm disso, o testemunho dos mrtires faz parte do argumento dos
milagres de C risto para provar a divindade do cristianismo. O mesmo se
diga quando se trata de demonstrar a realidade dos mesmos milagres pela
veracidade dos historiadores, que confirmaram o seu testemunho com o
seu sangue.
Seco I I .
CONSTI-
TUIO
DA
IGREJA.
(Parte
teolgica).
352SUMARIOGERALDATERCEIRAPARTE
Art. I. Jesuspensou em fundar uma
Igreja.
Seco I
Cap.I. Insti-
1 . Igreja hierr-
quica.
tuioduma
Art. II. Caracte-
2.
Hierarquia
INVESTI-
Igreja.
res essenciais da
J J
Igreja de Cristo.
permanente,
3, Igreja monr-
quica.
GAO 4.Igreja infalf-
DA VER- tvel,
DADEIRA
IGREJA.
Art. I. Notas da verdadeira Igreja,
Art. 11.-0 protestantismo no as
(Parte apo-
logtica).
Cap. II. A ver-1
dadeira Igreja.l
possui.
Art. III. A Igreja grega tambm as
no possui.
Art. IV.S a Igreja romana as possui.
Art. V. Necessidade de pertencer
Igreja romana.
SUMARIOGERALDATERCEIRAPARTE 353
Sumrio geral da terceira Parte.
298. Esta terceira Parte da Apologtica divide-se em
tr(s seces.
A, A primeira Seco compreende doiscaptulos
.grupadossob o ttulo geral de Investigao da verdadeira
ljrre/a .
Na segunda Parte, chegmos concluso que, entre
Podasasreligiesactuaisque reivindicam o nome de religio
revelada, s uma possui ossinaisde origem divina : a reli-
I!i ft o crist. Masno basta; preciso saber como a podere-
mosreconhecer.
Da duasquestes: 1. Ter JesusCristo fundado uma
instituio, uma Igreja, cujostraosessenciaispossamos
descobrir na Escritura, e qual tenha confiado o depsito
exclusivo da sua doutrina ? 2. No caso afirmativo, quais
silo as notas pelasquaispodemosreconhecer a verdadeira
l (reja,
uma vez que h vriasque se dizem fundadaspor
J. Cristo ?
Seco 111. t
1. A I re- f
Art. I. As principais acusaes con,
Cap.
g {tra a Igreja,
APOLO-
ja e a Histria, t
Art. II.Servios prestados pela Igreja
GIA DA
Art. I, No h oposio entre a !r
IGREJA. Cap. II. A a-
e a razo. Auxlio mtuo. OsM I
(Apolog-
perante a ra- J
trios,
tico defe-
zo e a cien -1
Art. 1I. No h oposio entre a I
sisa).k
cia.
I e a cincia. Aplicaes Bblia.
Cap. I.
Hie-
Art. L
rarquia e Po-1
Art. al.
deres da Igre-^
A rte111
ja.
Art. IV.
Hierarquia da Igreja.
Os poderes da Igreja em
Os poderes do Papa.
Os poderes dos Bispos.
[ 1. Derivados do
I Art. I. Os
tos dala.
direi-i
2.Derivados do
poder doutrinal,
Igreja.
Cap. II. Direi-g
poder de gover-
tos da Igreja.nu.
A Igreja e o
1. Hiptese dam
Estado.I Art. II. Relaes
1 Estado Catlico,
entre a Igreja e(
2.Hiptese dual
o Estado.
l Estado neutro,
B, Segunda Seco.
Depoisde se ter demonstrado
&lue
a Igreja romana a verdadeira Igreja, pode dizer-se que
n
trabalho do apologista terminou, porque asoutrasduas
secesj no pertencem apologtica construtiva. Contudo
Iralamos
essasquestespara responder sperguntasque
geralmente se fazem nosprogramasde instruo religiosa e.
ti ne so de grande importncia.
A segunda seco, que tem por titulo a Constituio da
Igreja ,
compreende doiscaptulos: 1. No primeiro estu-
da-se a hierarquia e ospoderes da Igreja sob o aspecto teo-
lgico; 2. 0 segundo trata dosdireitos da Igreja e das suas
relaes com o Estado.
C. Terceira Seco. A terceira
seco destina-se a
defender a Igreja dasprincipaisobjecese ataquesque
tupisfrequentemente osseusadversrios, mal intencionados
ni mal informados, lhe opem. Esta seco ter doiscap-
lidos: 1. A Igreja e a histria, e 2. A Igreja ou a F
(perante a razo e a cincia.
23
354INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
SECO I
INVESTIGAO DA VERDADEIRA IGREJA
CAPTULOI. INSTITUIO DUMA IGREJA.
Conceito.
Art, I.
Jesus
pensou em
fundar
uma
Igreja.
Art. IL
Jesus
fundou
uma
Igreja.
Caracters-
ticas
essenciais.
f A. do reino de Deus.
1 B, da Igreja.
A. S istemat
dum reinol
a) Exposio.
meramente l -
b) Refutao.
interior.1
(HARNACK). 1
B. S istema(
dum reino ;
meramente) a) Exposio.
escatoldgi-lb) Refutao.
co.
(LoisY).t
A. A Igreja a) Adversrios.
fundada
por Cristo
quica.l
hiercir-l
b) Provas. i 2,
B. Hierar- a) Adversrios.
q ilia per-1
11.
A sucesso
b) Provas,
apostlica.
manente:
escrituristica.
histrica, 1 nalista.
k 2)
1 ) Tese racio-
Refa,
1. Prova escrituristica.
a) Prim a do
2. Prova his-
t 1) Tese racio-
trica.
2)
n
R
a
e
l
f
i
u
st
t
a
a
,
cio,
de Pedro.
1. 0 primado de Pedro era
transmissivel.
1 ) Estada e
martrio
S. Pedro
em Roma.
2) Oprima-
do dos 1 36-
pos de Ro
ma sempi- o
reconhecido
na Igreja,
( 1 .
escrituristica.
f 1) Tese racio-
histrica.nalista.
k2) Refuta'o,
C. A Igreja
de Cristo
monr-
quica.
b) Primado
dos suces-
soresde
Pedro.
2. Os seus
sucessores
so os Bis-
pos de Ro-
ma,
NOES PRELIMINARES 355
Art. II.
(Cont.)
Jesus
fundou
uma
Igreja.
Caracte-
rsticas
essenciais.
a) Conceito de infalibilidade.
b) Existn-
f 1. Adversrios.
f 1 ) a priori.
cia.
2
'
Provas
*1 2) a histria.
( 1. C olgio apostlico e corpo
1
c) Sujeito.episcopal,
k 2. Pedro e seus sucessores.
D.Jesus Cris-
to conferiu
o privil-
gio da in-
falibilidade
Igreja do-
cente.
DESENVOLVIMENTO
299. I. Noes preliminares. Para evitar confu-
ses
,
conveniente, antesde maisnada, determinar o sentido
dasduasexpressesreino de Deus e Igreja, cujo uso
ser frequente neste captulo.
1. Conceito de reino de Deus. Aexpresso reino
de Deus aparece ao menoscinquenta vezesnosEvangelhos
de S. Marcose S. Lucas, S. Mateus, pelo contrrio, empre-
pa-a raramente (XII, 28; XXI, 31, 43), substituindo-a pelo
hebrasmo reino dos cus. Mas, pouco importa, porque as
ditasexpressestm o mesmo sentido, 0 reino de Deus, ou
reino doscusera o assunto em que Jesusmaisinsistia.
Osjudeus, fundando-se nosorculosmessinicos, espe-
raram durante algunssculoso estabelecimento dum grande
Reino, que devia propagar-se pelo mundo, e dum Rei que
.lav havia de enviar para o governar . Portanto, a funda-
o desse reino devia ser a obra do Messias. Maso reino
111e Jesusprega no era semelhante quele que osJudeus
imaginaram. a nova religio, a grande sociedade crist
q tie J. Cristo vai fundar, e que h-de implantar na terra at
ao dia em que ser juiz e rei na sua iltima vinda, 0 reino
de Deustem, pois, duasfases a) um reino terrestre, no
qual podero entrar todososhomensdo mundo, b) um
reino celeste e transcendente, um reino escatolgico, que
ser estabelecido no cu,
300.-- 2, Conceito de Igreja. Etimolgicamente,
a palavra Igreja (do grego ekkldsia assembleia) designa
NI MI NI NEMMI NI Miamlamos
356INVESTIGAO DAVERDADEIRAIGREJA
uma assembleia de cidadosconvocadospor um pregoeiro
pblico,
A. Na linguagem escriturstica a palavra tem duas.
significa6es. a) No sentido restrito e conforme etimo-
logia, aplica-se, quer assembleia doscristosque se reu-
nem numa casa particular (Rom. XVI, 5; Col. IV, 15) ( 1 ),
quer ao conjunto dosfiisda mesma cidade ou regio; tais
so, por exemplo, a igreja de Jerusalm (Act., VIII, 1; XI,
22; XV, 24), a Igreja de Antioquia (Act., XIV, 26; XV, 3;
XXIII, 1), asIgrejasda Judeia (Gal. I, 22), da Asia (I Cor.,
XVI, 19) e da Macednia (II Cor., VIII, 1),
b) Geralmente, Igreja designa a sociedade universal
dosdiscpulosde Cristo. Nesta significao empregada
no evangelho de S. Mateusno clebre Tu es Petrus ,
Tu sPedro e sobre esta pedra edificarei a minha 4greja
(Mat., XVI, 18), Aparece o mesmo sentido com bastante
frequncia nosActos(V, 11; VIII, 1, 3; IX, 31), nasEps-
tolasde S. Paulo (I Cor., X, 32; XI, 16; XIV, 1 ; XV, 9;
Gal., I, 13;. Ef,, I, 23; V, 23; Col., I, 18) e na Epstola de
S. Tiago (V, 14),
Na linguagem dos SS. Padres, a palavra Igreja encon-
tra-se em ambosossentidos; a) em sentido restrito ou
de assembleia de fiis, por exemplo, Didach (IV, 12); ou
de agrupamento local ou regional dosfiis; .como na Eps-
tola de S. Clemente para osCorintiosno endereo e XLVII,
6; b) em sentido geral, para designar o conjunto dosfiis
pertencentes religio crist, encontra-se nosescritosdo
papa S. Clemente, de S. Incio, de S. Ireneu, de Tertuliano ,
e de S. Cipriano.
(1 ) Ao princpio a palavra .2-greja no designava portanto o local,
onde os discpulos se reuniam. Lembremo-nos que os primeiros cristos no
dispunham de edifcios prprios para as suas reunies religiosas e que se,
reuniam onde podiam, ora num lugar ora noutro, ordinariamente em casa
daquele dentre eles que podia pr disposio dos seus irmos uma sala
espaosa. A palavra Igreja designa, pois, a assembleia. Todavia bom
ajuntar que S. Paulo aplica este nome no smente assembleia, h reunio
efectiva, mas ainda colectividade dos membros que ia habitualmente s reu-
nies. Escreve, por exemplo, na sua Epstola aos Romanos (XVI, 5): Saudai
Priscila e quila... Saudai tambm a Igreja que est em sua casa'.
NOES PRELIMINARES 357
B. Conforme a doutrina catlica, a palavra Igreja,
imnada em sentido geral, aplica-se A. sociedade dosfiisque
prolessam a religio de Cristo, sob a autoridade do Papa e
dosBispos,
a) Como sociedade, a Igreja possui astrscaracters-
ticascomunsa toda a sociedade, a saber: fim, sujeitosaptos
para atingir o fim, e a autoridade com a misso de oscondu-
zir ao fim,
b) Oscaracteresda Igreja como sociedade religiosa,
tm natureza especial. 0 fim que prossegue de ordem
sobrenatural; porque no tem em vista osinteressestempo-
raisdossbditos, masUnicamente a salvao dassuasalmas.
A autoridade, que assume a direco, uma autoridade
sobrenatural que recebeu de JesusCristo um trplice poder
1. 0 poder doutrinal infalvel para ensinar a doutrina de
Cristo; 2. 0 poder sacerdotal para comunicar a vida
divina pelossacramentose; 3. 0 poder de governar, que
iiiip6e aosfiiso que necessrio ou til para a sua salvao,
301. Nota, 1, 0 conceito de reino muito mais
extenso que o da Igreja. Esta faz parte do reino; o seu
lado visvel e social, masno todo o reino, porque este tem
doisaspectos; o terrestre e o celeste ou escatolgico (n. 299),
Contudo 1, Igreja, tomada no sentido lato, confun-
de-se com o reino de Deus. Com efeito, ostelogosdistin-
guem o corpo e a alma da Igreja, isto , a comunidade
visvel e hierrquica doscristos, e a sociedade invisvel, a
alma, A. qual pertencem todososque esto em estado de
graa, ainda que professem outra religio, Compreendem,
alm disso, na noo de Igreja nab sOmente osfiisdeste
oi undo (Igreja militante), mastambm oseleitosque esto
no Cu (Igreja triunfante) e asalmasque sofrem no Purga-
trio (Igreja purgante ou padecente),
2, Sob o ponto de vista apologtico, como aqui o enten-
demos, a palavra Igreja significa a sociedade visvel e hiertir-
quica doscristosdeste mundo, considerada sob o seu
aspecto externo e social (sentido geral),
302. II, Diviso do captulo. Neste captulo estu-
daremosduasquestiies1. Indagaremos, primeiramente, se
358INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
J. Cristo pensou em fundar uma Igreja: a questo prvia.
2. No caso afirmativo, devemosprovar histericamente
quaisso ascaractersticas essenciais da Igreja f undada por
Jesus. Da, doisartigos. No primeiro, teremoscomo adver-
sriososracionalistas, osprotestantesliberals e osmoder-
nistas . No segundo, alm destesadversrios, teremostam
bm osprotestantesortodoxos e osgregos cismticos.
Art. I. QuestRo prelimivar:
Jesus pensou em fundar uma Igreja.
303. Segundo osprotestantes liberais e osmodernis--
tas, como JesusCristo tinha semente a misso de estabelecer
o reino de Deus, no podia ter pensado em fundar a Igreja,
0 reino de Deus, como o concebem osnossosadversrios,
incompatvel com a noo catlica de Igreja, 0 reino de
Deuspregado por JesusCristo , pois: 1, Para uns, um
reino meramente espiritual; 2. Para outros, um reino
sbmente escatolgico. Mostraremosque estesdoissistemas
so uma interpretao incompleta e, por consequncia, falsa,
do pensamento e obra de Cristo,
1, 0 OSISTEMADOREINODEDEUS MERAMENTEINTERIOR,
REFUTAO,
304. 1 . Exposio do sistema. Segundo SABATIER e HAR-
NAcK, Jesus nunca pensou em fundar uma Igreja, ou sociedade visivel,
mas limitou-se a pregar um reino de Deus interior e espiritual. A sua
nica preocupao foi fundar o reino de Deus na alma de cada fiel, ope-
rando nela uma renovao interior e inspirando-lhe para com Deus os
sentimentos dum filho para com o seu Pai.
Jesus encontrara, na gerao do seu tempo, uma religio exclusi-
vamente ritual e formalista, No a proibiu expressamente, mas consi
derou como secundrio este aspecto externo da religio.
A grande novidade que pregou, o elemento original e priwriamente
seu, que constitui, por assim dizer, a essncia do cristianismo, o lugar
preponderante que atribui ao seaimento. Deste modo, o reino de Deus
reino ntimo e espiritual, destinado As necessidades da alma, s' em
imposio alguma de dogmas, instituies positivas e ritos meramente
externos, deixando neste ponto completa liberdade ao modo de pensar
individual.
Por conseguinte, a organizao do cristianismo, como sociedade
hierrquica, no entra no plano traado pelo Salvador ; a Igreja visvel,
criao humana, cujas causas e origens pertencem ao domnio da histria,
SISTEMADEUMREINOMERAMENTEINTERIOR359
305, 2. Refutao. Concedemos sem dificuldade aos nossos
oi versirios que a essncia da religio pregada por Cristo sobretudo
espiritual, que a maior inovao do cristianismo foi a renovao interior
oela f, pela caridade e pelo amor ao Pai, e que Jesus estabeleceu uma
ul iferena essencial entre o farisasmo daquele tempo e a nova religio.
No devemos porm exagerar, porque a espiritualidade do reino dos
vns no era estranha ao conceito que dele faziam os profetas, como
v imos ao estudar o argumento das profecias (n. 248).
Todavia, temos de admitir, com HARNACK, que o reino espiritual e
nierior foi exactamente a obra de Jesus; porque, como a voz dos pro-
Has teve pouco eco, s Jesus conseguiu, com a sua autoridade, opor
justia meramente externa e material do culto moisaico a justia do novo
wino, onde as virtudes interiores como a humildade, a castidade, a cari-
dade e o perdo das injrias ocupam o primeiro lugar.
Mas, feitas estas observaes, seguir-se- porventura, como pre-
' elude Harnack, que o reino de Deus, anunciado e fundado por Cristo,
it tu reino meramente individual, uma sociedade invisivel composta das
lamas justas, sem nenhum carcter colectivo e social? Poder-se- our-
mar que a perfeio interior deve ser considerada como a essncia do
cristianismo, por ser ela s a obra de Cristo? De modo nenhum.
H, neste modo de pensar, um sofisma que foi desmascarado pelo
prprio LOISY : No seria lgico, diz ele, considerar como essncia total
duuna religio o que a diferencia das outras. A f monotesta, por exem-
1 1 1 0, comum ao judasmo, ao cristianismo e ao islamismo, e contudo de
modo nenhum se deve procurar, fora da ideia monotesta, a essncia
tinslas trs religies. 0 judeu, o cristkme o muulmano admitem igual-
mente que a f num s Deus o primeiro e principal artigo do seu sim-
bolo, g pelas suas diferenas que se estabelece o fim essencial de cada
lima delas, mas no so sOmente as diferenas que constituem as reli-
gies... Jesus no quis destruir a Lei, mas cumpri-la. E pois natural
41 lie haja no judasmo e no cristianismo elementos comuns, essenciais a
,1111bos A importncia destes elementos no depende da sua antigui-
dade, nem da sua novidade, mas do lugar que ocupam na doutrina de
J. Cristo e da importncia que o prprio Jesus Cristo lhes d ( 1 ).
Por outras palavras, o reino de Deus ado exclusivamente espi-
ritual, s porque o Messias ensinou que era sobretudo espiritual . Tudo
isto evidente, se interpretarmos as palavras de Jesus Cristo, segundo
as condies do meio e das ideias, em que foram proferidas.
Jesus insistia particularmente na ideia de perfeio interior e de
1 4:1 1 ovao espiritual para corrigir os falsos conceitos dos judeus, que
everavam um reino temporal, por se terem fixado quase exclusivamente
110 elemento secundirio das profecias (n. 08 248 e 253). Queria persuadir-
Hies que o reino de Deus, que veio fundar no era reino temporal, nem
o triunfo de uma nao sobre as outras, mas reino universal, para todos
us povos, no qual poderia entrar todo o homem de boa vontade pela
prlica das virtudes morais e interiores.
' - Esta mesma ideia se depreende principalmente das pardbolas, que
( 1) LOISY, L'eangile etglise, Introd. p. XVI e seg.
360INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA SISTEMADEUMREINOMERAMENTEESCATOLOGICO361
eram a maneira mais usada por Jesus Cristo para ensinar as verdades
que desejava inculcar. Compara, por exemplo, o reino dos cus ao
campo do pai de famlia onde nasceram e cresceram juntamente o bom
gro e o joio (Mat. XIII, 24-30), rede que pesca peixes bons e maus
(Mat. XIII, 47). Ora, estas palavras no fariam sentido na hiptese de
um reino meramente interior e espiritual.
Ademais, a expresso reino de Deus seria muito imprpria se
devesse entender-se do reino de Deus na alma individual; porque, nesse
caso, no se trataria de um reino, mas de tantos reinos quantas as almas.
Os partidrios deste sistema, para provar a sua tese, fundam-se no
texto de S. Lucas (XVII, 20) Ecce regnum Dei infra vos est, que tra-
duzem deste modo: .0 reino de Deus est em vs. Masesta passa-
gem tem outro sentido e, segundo o contexto, deve traduzir-se; .0 reino
de Deus est no meio de vs.. Os fariseus interrogam Jesus e pergun-
tam-lhe quando vir o reino de Deus. Jesus responde; ao reino de Deus
no vir com mostras algumas exteriores. No diro; ei-lo aqui, ou ei-lo
acol; porque eis aqui est o reino de Deus no meio de vs. Como
fcil de ver, estas palavras no contexto no s no favorecem, mas pare-
cem at ir contra a ideia de um reino meramente espiritual; porque,
dirigindo-se esta resposta aos fariseus, que no criam e que, por conse-
guinte, se punham fora do reino, Jesus no lhes podia dizer que o reino
de Deus estava nas suas almas.
Portanto, o pensamento de Jesus muito diverso daquele que os
nossos adversrios lhe atribuem. Conhecendo Jesus as falsas ideias dos
seus contraditores, que julgavam que a vinda do reino e do Messias
seria acompanhada de sinais portentosos, de prodgios extraordinrios
no cu, ensina-lhes a maneira como o reino de Deus h-de vir. Diz-lhes
que no vir como uma coisa que impressiona a vista, como um astro,
cujo curso se pode conhecer, porque o reino ser principalmente espiri-
tual e por isso no ser objecto de observao. Alm de que, ajunta
Jesus, intil andar a procur-lo, porque jd veio e est no meio de vs.
Conclusdo. Da genuna interpretao do texto de S. Lucas e das
razes que antes demos, pode coligir-se que o reino de Deus no mera-
mente espiritual, mas colectivo e social e que, por conseguinte, no se
pode afirmar que J. Cristo nunca pensou em fundar uma Igreja visivel.
2. OSISTEMADEUM REINODEDEUS MERAMENTE
ESCATOLGICO,
306, 1 . Exposio do sistema. Segundo Loisy a fundao
da Igreja nunca entrou nos planos do Salvador. Vejamos como o autor
o demostra.
Na poca em que apareceu Nosso Senhor, era ideia corrente entre
os Judeus que o Messias havia de inaugurar o reino final e definitivo de
Deus, isto , o reino escatolgico. Ora analisando os textos dos Evan-
gelhos, semente sob o aspec' to crtico e sem os deformar com interpreta-
es teolgicas, parece certo que Jesus compartilhava o erro dos seus
contemporneos.
Por consequncia, a sua pregao tinha dois fins: 1. anunciar
Is vinda prxima do reino e o fim do mundo, intimamente conexos
mil re si; e 2. preparar as 'almas para esses acontecimentos por
men) da renncia dos bens do mundo e da prtica das virtudes morais
Lira alcanar a justia. Portanto, o Cristo da histria no pde sequer
pensar em fundar uma Igreja, isto , uma instituio esttivel.
No se pode, por conseguinte, falar de instituio divina da
kreja ; porque foram ascircunstncias e o facto de no se ter reali-
, ,ido o reino escatolgico que levaram os discpulos a corrigir o plano
do Mestre e a interpretar de outro modo as expresses que Jesus
dit ito de um mundo prestes a acabar, para acomod-las ao mundo
pile coi inuava a existir (1). Donde se pode concluir que J. Cristo
miunciava o reino, e em vez dele apareceu a Igreja (2).
Posto que a Igreja no provenha da inteno e vontade de Jesus,
4 on ludo, continuam os modernistas, pode dizer-se que est relacionada
oin o Evangelho, por ser uma espcie de continuao da sociedade que
Iisiis tinha reunido em volta de si, em vista do reino que desejava
ilindar. Assim, a Igreja , em certo modo, o resultado legtimo, ainda
one inesperado, da pregao de Cristo, e pode dizer-se que realmente
onlinuao do Evangelho (3). Por outros termos; Jesus tinha reunido
' in volta de si alguns discpulos, aos quais confiou a misso de preparar
ii ad vento do reino prximo; mas, como os acontecimentos iludiam a
eiiperana dos apstolos, porque o reino no chegava, a pequena
miumidade cresceu e, crescendo, deu origem A. Igreja,
A Igreja pode, portanto, definir-se: A sociedade dos discpulos
de Cristo, que, vendo que o reino escatolgico no se realizav a, se
organizaram e adaptaram s condies actuais.
Se perguntarmos a Loisy que havemos de fazer dos textos que
min.:1 1 a instituio da igreja, responder-nos-, com os protestantes
Iberais, que no so histricos pois so palavras de Cristo glorificado
e, por conseguinte, interpretaes ou maneiras de pensar dos primeiros
el islos. Em seguida, Loisy conclui que a instituio da Igreja por
P. Cristo ressuscitado no , para o historiador, facto palpvel ( 4 ).
307. 2,0 Refutao. J. Cristo, tendo apenas o objectivo de
pleparar as almas pra a vinda iminente do reino dos cus e para a sua
parnsia o, no podia ter pensado em organizar uma sociedade estivel;
lilt a ideia mestra do sistema de Loisy. Ora, para provar esta tese
letria necessrio retalhar o texto evanglico sem motivo justificvel,
litier uma escolha inadmissvel, ou uma interpretao fantasista das
passagensreferentes Igreja, como vamos demonstrar.
Sujeitemos a exame cada uma das afirmaes de Loisy. Primeira-
week', ser verdade que os contemporneos de Jesus tinham semente a
ideit de um reino de Deus escatolgico? Como muito bem observou o
1) LO1SY
'
L'vangile de l'glise, p. 26.
2) ib. p. M.
8) Ib. Autour d'un petit livre.
4) Id. op. cit. p. 17.
REFUTAODOSISTEMADELOISY363
Itesposta. A objecal modernista carece de fundamento slido.
A ,lutas sries de textos no so novidade alguma para ns, e todos os
,IuIlcus as admitem; mas da no se pode deduzir que se excluam
mil Iiminente. No haver acaso meio algum de as conciliar? A difi-
nl,l:ule est exactamente nesse ponto.
Sc J. Cristo tivesse anunciado o fim do mundo e o reino escato-
i i l 1 , ,,, como um acontecimento iminente, haveria sem dvida motivo
contradio entre as duas sries de textos, e Jesus no podia ser o
,,ul.r da srie no escatolgica. Mas, ser verdade que o Salvador
sfli me que o reino escatolgico devia realizar-se em breve?
I' usta a questo nestes termos, poderemos responder a priori que
n ,,,uciliao possvel; porque inadmissvel que os Evangelistas,
ne, ,roendo os discursos do Senhor tantos anos depois, fossem to ineptos
, ue introduzissem textos que os vinham contradizer, Mas uma de
,uns; ou os Evangelistas so fidedignos ou no. Na primeira hiptese
lorvm fiis, e nesse caso s teramos uma srie de textos; a escatolgica.
Nus segunda hiptese, porque no suprimiram a srie escatolgica, visto
que era desmentida pelos acontecimentos, deixando apenas a srie no
nsralologica?
Ser acaso verdade que a srie escatolgica s admite a interpre-
I,it modernista? A resposta levar-nos-ia clebre profecia sobre o
(ln, do inundo, de que falmos na segunda parte (n. 260). intil
I,or l. urlo insistir. Basta recordar que a frase de Jesus esta geraro
nnu passar antes que todas estas coisas se cumpram (Mat., XXIV, 34; .
Mime, XIII, 30; Luc., XXI, 32), invocada pelos adversrios para provar
on, o Salvador cria no fim iminente do mundo, segundo o contexto
deve aplicar-se runa de Jerusalm e do povo judeu.
certo que os Evangelistas no estabelecem distino suficiente-
n,rnle clara entre as duas catstrofes e que as suas narrativas do fim
do uunrdo e da runa do templo so faltas de preciso. E por esse
uu,livo que muitos crticos julgaram que os Apstolos, levados pelas
I,Irias do meio ambiente, se enganaram acerca do pensamento de Jesus.
Vi,uos (n. 272) o que se devia pensar desta opinio.
Em qualquer hiptese no se pode admitir que Jesus cometesse o
pui
que lhe imputam os adversrios; porque, fora de dvida, cfn-
p^ llr,do-nos simplesmente aos dados da crtica literria. que a cats-
I role, cuja realizao Jesus anunciava como iminente e qual havia de
nswtilir a gerao do seu tempo, era a destruio de Jerusalm e do
Templo; porquanto, o tempo da segunda considerado por Jesus como
imito mais afastado, pois diz que ningum lhe sabe o dia nem a
mora (Mat., XXIV, 36).
Quanto s passagens, que declaram iminente a vinda do Filho do
bou,em sobre as nuvens do cu (Mat., XVI, 28; XXVI, 64; Marc., IX, 1 ;
Lie., IX, 27; XXII, 69), podem entender-se da predio do admirvel
lncremento que o reino messinico teria em breve e do qual havia de
Mnr testemunha a gerao a que Nosso Senhor se dirigia ( 1 ). Assim
lulerpretados estes textos, podemos dizer que se cumpriram letra,
(1 ) V. LAGRANGE, Rev. biblique, 1 904, 1 906, 1 908.
362 INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
P, LAGRANGE( 1 ), podemos distinguir claramente na literatura daquele
tempo duas manifestaes do pensamento judeu; a dos apocalipses e a
dos rabinos.
Ora tanto uns como outros afirmavam que o reino messinico no
se identificava com o reino escatolgico, e ambos se preocupavam com
o porvir do reino de Israel neste mundo. A nica diferena que havia
entre eles que os primeiros insistem mais no reino escatolgico, e o s.
segundos, no reino do mundo actual, Por conseguinte, se J. Cristo
tivesse adoptado as ideias dos apocalipses, pregaria semente um reino
escatolgico e corrigiria as ideias dos rabinos. Ora Jesus no o fez,
Vemos claramente do exame imparcial dos Evangelhos que o Sal-
vador descreve um reino que tem duas fases sucessivas, uma terrestre e
outra escatolgica ou final. A primeira apresentada por J. Cristo
com caractersticas que no podem de modo algum aplicar-se ao reino
escatolgico e se adaptam perfeitamente vida presente. Fala de um
reino j fundado: Desde os dias de Joo Baptista at agora, o reino
de Deus padece fora e os que fazem violncia so os que o arrebatam,
(Mat., XI, 1 2). Quando replica aos fariseus, que o acusam, de expulsar
os demnios em nome de Belzebu, diz ; Se eu lano fora os demnios
pela virtude do Espirito de Deus, logo chegado a vs o reino de Deus
(Mat., XII, 28).
Todavia, nas parbolas aparece mais claramente a doutrina de
Jesus. Nelas se descreve o reino de Deus como realidade j existente e
concreta, que deve crescer e desenvolver-se (parbola do gro de mos-
tarda Mat. XIII, 31 -35; Marc. IV, 30-32), que tem no seu seio bons e
maus (parbolas ; do trigo e do joio, Mat. XVIII, 24-30; da rede que
pesca peixes bons e maus, Mat. XIII, 47-50; das virgens prudentes e das
virgens loucas, Mat. XXIV, 1 -I8).
Ora estas qualidades no se podem aplicar ao reino escatolgico,
e s podem convir a um reino j fundado, susceptvel de se dilatar e de
se aperfeioar, que sirva de preparao a outra forma de reino onde a
escolha j est feita, no qual s o bom gro, os peixes bons e as virgens
prudentes tero entrada, e do qual o joio, os peixes maus e as virgens
loucas sero excludos,
Instncia.No teramos dificuldade em admitir tudo isso, dizem
os partidrios do sistema escatolgico, se os textos alegados para provar
o reino de Deus neste mundo fossem autnticos. Mas no o so; porque
foram intercalados pela primeira gerao crist que, vendo que o reino
escatolgico no se realizava, procuraram harmonizar o pensamento e
as palavras de Jesus com os factos.
Todo o crtico de boa f reconhece as duas sries de textos, uma
escatolgica e outra no, e admite que so incompatveis entre si.
Devemos, pois, fazer a escolha dos textos das duas tradies e indagar
qual a primitiva. Ora tudo nos leva a crer que s a srie escatolgica
representa o genuno pensamento do Salvador, porque no podia ter
sido inventada no momento em que os factos a desmentiam, Logo a
segunda srie posterior ao Evangelho.
(1 ) LAGRANGE, Le 3lessianisme claez les Juifs.
364INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
visto que a difuso da religio crist se operou com rapidez admi-
rvel.
Concluso. Da discusso precedente no temeridade concluir
que o sistema dum
reino exclusivamente escatolgico to aceitvel
coma o sistema dum reino meramente interior e espiritual, Portanto,
no permitido afirmar que Jesus tivesse tido em vista a fundao
duma Igreja como sociedade visvel,
Art, II. Jesus Cristo fundou uma Igreja.
Caracteres essenciais.
308. Estado da questo. Demonstrmosque o
reino de Deus pregado por Cristo inclui um perodo a que
podemoschamar a fase terrestre e preparatria do reino
escatolgico, Ora, este reino compreende todosaquelesque
admitem a doutrina ensinada por Jesuse, por conseguinte,
uma sociedade, a que damoso nome de Igreja.
Investiguemosagora a natureza desta sociedade, Com-
pe-se porventura de membrosiguais, ficando assim a inter-
pretao da doutrina de Cristo ao arbtrio do juizo individual,
ou est hierrquicamente (') constituda, isto , composta de
doisgrupos distintos, um que ensina e governa, e outro que
ensinado e governado? Instituiu Jesus, por si mesmo, uma
autoridade
qual confiou a misso de ensinar autoritativa-
mente a sua doutrina ? Numa palavra, o cristianismo,
religio de esprito ou religio de autoridade ?
Osprotestantes ortodoxos, que so adversriosneste
ponto, sustentam a primeira hiptese, isto , que Jesusno
instituiu uma autoridade visvel. Asverdadesde f, ospre-
ceitose osmeiosde santificao, ficaram dependentesda
apreciao subjectiva e individual, poisJesusno estabe-
leceu intermedirio algum obrigatrio entre Deuse a cons-
cincia.
Se lhesperguntarmosporque motivo se agrupam e
fazem reunies, respondem simplesmente que para orar
em comum, para ler e comentar o Evangelho, para praticar
(1 ) H ierarquia (gr. ieros, sagrado e rarele autoridade). Etimolgica-
mente, hierarquia designa um poder sagrado, directamente institudo por
Deus. Neste sentido empregamos esta palavra neste artigo, no qual nos
propomos provar que a Igreja fundada por Jesus C risto uma sociedade
hierrquica, investida de poderes divinos.
JESUS CRISTOFUNDOUUMAIGREJAHIERRQUICA365
osritosdo baptismo e da ceia e para se edificarem mtua
mente no amor de Deuse na caridade fraterna, mas nunca
/lura obedecer a uma autoridade constituda. Osprotes-
I; u ltcsprocuram apoiar na histria esta maneira de sentir.
Veremosdepoiscomo explicam a instituio da hierarquia e
usorigens do catolicismo (n, 312).
Contra estasafirmaesdemonstraremosque Jesusins-
litiu uma hierarquia permanente, o colgio dosDoze e
sell ssucessores, cujo chefe nico Pedro e osque the
sucederem no cargo, e que a esta hierarquia outorgou a auto-
ridade governativa dotada duma cauo divina, da
infalibili-
dade doutrinal.
Para melhor atingir o nosso intento, dividiremosas
questesdo seguinte modo: 1. Jesusconferindo aos
A pustolosostrspoderesde ensinar, reger e santificar,
fun-
dou uma hierarquia e, por conseguinte, instituiu uma auto-
ridade visvel. 2. Esta hierarquia permanente, visto
IIue ostrspoderesdosApstolosdevem transmitir-se aos
seussucessores, 3. frente da hierarquia colocou um
chefe nico (primado de Pedro e seussucessores),-4. Final-
inclite, garantiu a conservao integral da sua doutrina, outor-
I!aiido Igreja docente o privilgio da infalibilidade. Estes
pontosconstituiro outrostantospargrafos,
1. JESUS CRISTOFUNDOUUMAIGREJAHIERRQUICA,
309. Estado da questo. a) Osprotestantesorto-
doxos,
dissemosns(n. 308), no admitem que Jesustenha
posto frente da sua Igreja uma
autoridade visvel. Entre-
tanto, concedem a historicidade e at a inspirao dostextos
evanglicosque oscatlicosalegam em favor da sua tese.
b) Osracionalistas, osprotestantesliberais e osmoder-
nistas, pelo contrrio, rejeitam a autenticidade dessestextos,
dizendo que foram redigidosposteriormente por autoresdes-
conhecidose insertosna narrao evanglica depoisdos
acontecimentos, quer dizer, no momento em que a insti-
tuio da Igreja hierrquica era um facto consumado,
A tese catlica baseia-se, portanto, em doisargumentos
1. um, fundado nos textos evanglicos, que, com todo o
direito, podemosutilizar contra osprotestantesortodoxos, e
366INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
2, outro, histrico em que nospropomosrefutar a falsa
concepo dosliberaise dosmodernistasacerca da origem
da Igreja hierrquica,
310. 1, Argumento escriturstico.Nota.Quando
sustentamosa possibilidade de encontrar a instituio duma
Igreja hierrquica nostextosevanglicos, no queremos
afirmar que Jesusdeclarou explicitamente que fundava uma
Igreja hierrquica para um dia ser governada pelosBispos
sob o primado do Papa ; porque nunca pronunciou explicita-
mente estaspalavras. Para demonstrarmosa nossa tese,
basta provar que encontramoso equivalente no facto de ter
escolhido doze Apstolos e de lhester conferido poderes
especiais que no concedeu aosoutrosdiscpulos,
A. Escolha dos DozeD. TodososEvangelistasso
concordesem testemunhar que Jesus, escolheu doze entre os
discpulos, a quem deu o nome de Apstolos(Mat,, X, 2-4;
Marc,, III, 13, 19; Luc., VI, 13, 16; Joo, I, 35 e segs.),
Instruiu-osduma maneira particular, desvendou-lheso sen-
tido dasparbolasque asturbasno compreendiam (Mat.,
XIII, 11) e associou-os sua obra mandando-lhesque pre-
gassem o reino de Deusaosfilhosde Israel (Mat., X, 5, 42;
Marc., VI, 7, 13; Luc., IX, 1, 6),
B, Poderes conferidos ao colgio dos doze,a) Ao
colgio dos doze, a Pedro em particular (Mat., XVI, 18,
19), e a todo o colgio apostlico (Mat., XVIII, 18), Jesus
primeiro prometeu o poder de ligar no cu o que elesligas-
sem na terra, isto , uma autoridade governativa que os
constituiria juzesnoscasosde conscincia e lhescomuni-
caria a faculdade de preceituar ou proibir e, portanto, de
obrigar ; de modo que todo o que no obedecesse Igreja
seria considerado como pago ou publicano (Mat., XVIII, 17),
Mas, objectam osprotestantesa propsito do ltimo
texto, a palavra Igreja no versculo 17 tomada no sentido
restrito de assembleia (n, 300), e por isso no pode servir
de argumento em favor duma autoridade hierrquica, A pala-
vra Igreja pode prestar-se a duasinterpretaes. Segundo
asregrasda hermenutica, porm, todo o texto obscuro deve
JESUS CRISTOFUNDOUUMAIGREJAHIERRQUICA367
,er interpretado conforme aoslugaresparalelosmaisclaros,
Ora, no h dvida que nosoutrostextos, que tratam dos
poderesconcedidospor Nosso Senhor sua Igreja, esta con-
cesso estende-se unicamente ao colgio apostlico, Por-
Iiuito, devemosatribuir o mesmo sentido ao texto de S. Mateus.
b) Poucosdiasantesda Ascenso, Jesusconferiu aos
,Ioze Apstoloso poder que anteslhestinha prometido
-'lodo o poder me foi dado no cu e na terra; ide, pois, e
ensinai todasasgentes, baptizando-asem nome do Pai e do
lllo e do Esprito Santo, ensinando-asa observar todasas
coisasque eu vostenho ordenado, e estai certosde que eu
estou convosco todososdiasat a consumao dossculos
(Mat., XXVIII, 19, 20).
Deste modo, JesusCristo comunicou aosApstoloso
poder ; 1, de ensinar: Ide e ensinai todosospovos ;
2., de santificar, pelosritosinstitudospara este fim e, em
particular, pelo baptismo; e 3, de governar, uma vez que
osApstolosho-de ensinar o mundo a observar tudo o que
Jesusmandou,
Objectam osracionalistasque esta passagem no tem
valor algum, sob pretexto que aspalavrase acesde Cristo
ressuscitado no podem ser comprovadaspelo historiador,
evidente o preconceito racionalista, Se a Ressurrei-
o pode demonstrar-se como facto histrico e como uma
realidade de que osApstolosalcanaram a certeza, o prop-
sito de rejeitar aspalavrasde Cristo ressuscitado, atinge a
prpria Ressurreio. Alm de que, aspalavrasde Cristo
ressuscitado esto de tal modo conexascom aspalavrasda
promessa que impugnar umas o mesmo que impugnar as
outras, e negar umase outras tornar inexplicvel o proce-
diiiiento dosApstolos, que apsa morte do seu Mestre
reivindicaram ostrspoderesmencionados,
311. 2, Argumento histrico. Preliminares.
1, A questo da instituio divina de uma Igreja hierrquica
sobretudo histrica ; porque, se a histria nosdissesse que
a :Fundao da Igreja foi posterior aostemposapostlicose
obra semente de circunstnciasacidentais, em vo alegara-
loosargumentosescritursticos, poisosadversriosteriam o
direito de considerar ostextosevanglicoscomo interpolaes,
2. Osdocumentos, que servem de fundamento ao estudo
do cristianismo nascente, so osActosdosApstolos(1 ) e as
Epstolasde S. Paulo (s); e para o perodo post-apostlico
(isto , para astrsgeraesque se seguem aosApstolos),
asobras dosPadres e dosescritores eclesisticos.
3. Em muitoslugaresdosActosdosApstolosfala-se
de carismas. Carismas(grego charis e charisma
graa, favor, dom) so dons sobrenaturais concedidospelo
Esprito Santo para a propagao do cristianismo e para o
bem geral da Igreja nascente. So manifestaesextraordi-
nriasdo Esprito Santo e por vezesdesordenadas, como o
dom daslnguasou glossolalia, que consistia em louvar a
Deusnuma lngua estranha e com aresde exaltao e entu-
siasmo (leia-se a este propsito I Cor., XIV). Oscarismas
maisapreciadosera o dom dosmilagrese o dasprofecias;
mastodoseleseram sempre sinais divinos que tinham por
fim confirmar a primeira pregao do Evangelho,
4. Exporemos, sem sair do campo da histria, asduas.
(1 ) Os Actos dos Apstolos. S. Lucas, segundo a tradio universal
e constante, o autor dos Actos dos Apstolos. Esta tradio funda-se:
a) num argumento extrnseco (testemunhos de S. IRENEU, do cnone de Mura-
tori, de TERTULIANO, de C LEMENTE DE ALEXANDRIA), e b) num argumento
intrnseco, porque da anlise da obra concluiu-se que o autor era medico e
companheiro de S. Paulo e que os Actos apresentam as mesmas particulari-
dades de linguagem e composio que o terceiro Evangelho.
C omo o livro termina com a primeira priso de S. Paulo em Roma,
provvel que tenha sido composto depois de ter sado do crcere e
certamente antes da morte de S. Paulo (67). Os Actos so, pois, para o
historiador dos primeiros tempos do cristianismo, um dos mais preciosos
documentos.
O autor refere os factos, j como testemunha ocular, j conforme a nar-
rao de testemunhas oculares: Paulo, B arnab, Filipe, Marcos. A preciso
e os pormenores circunstanciados coin que so narrados, afastam qualquer
hiptese de lenda ou de amplificao tendenciosa. Quanto aos discursos que
contm, foram sem dvida colhidos de fontes escritas, como parecem indicar
os numerosos aramaismos que neles se encontram. Por outro lado, a since-
ridade de S. Lucas no suspeita, e os crticos racionalistas s pem de
parte o que se ope sua tese, isto , os milagres e alguns discursos por
causa do seu alcance doutrinal.
A importncia dos Actos manifesta por conterem uma exposio com-
pleta da primeira pregao dos Apstolos e por nos manifestarem a organi-
zao da Igreja primitiva.
(2) As Epstolas de S. Paulo so tambm para o apologista fontes de
grande importncia tanto pela sua antiguidade, como pelo valor documentrio.
Podem agrupar-se em quatro sries segundo a data de composio:
a) 1. srie: Ep. I e II aos Tessalonicenses (ano de 51 ); 5) 2, srie: As Eps-
tolas maiores, I e II aos C orntios, aos Glatas e aos Romanos (56, 57) ;
e) 3. srie: As Epstolas escritas na priso aos Filipenses, aos Efseos, aos
C olossenses e a Filinon (61 , 62) ; d) 4. srie : As Epstolas pastorais, I e II
a Timteo, a Tito (62).
A autenticidade das trs primeiras sries admitida pelos prprios
crticos racionalistas.
racionalista e catlica, acerca da origem da Igreja.
A primeira, a que damoso ttulo geral de racionalista,
Itunbctll defendida peloshistoriadoresprotestantes, ortodoxos
ou Iiberaise pelosmodernists, Damosaqui um resumo, o
niatisobjectivo possvel, da exposio feita por A. SABATIER
(1 es Religions d'autorit et la Religion de l'esprit, pg, 47-83,
I." ed.) que a melhor que existe em francs.
31 2. A. Tese racionalista. Origem da Igreja,-1. A fun-
rlu:Io duma Igreja hierrquica no podia ter sido obra de Jesus. Nem
1 puis nem a podia prever, porque pensava que a sua vinda coincidiria
rnnr o fim do mundo; portanto, o desenvolvimento histrico do cristia-
ulsuo estava fora do mbito da sua misso messinica s,
2, Como os Apstolos estavam sempre espera da volta triun-
lnule de Jesus sobre as nuvens do cu, viviam numa exaltao febril,
considerando-se como estrangeiros e peregrinos, que passam sem se
Irr rocnpar com uma fundao perdurvel ,
3, As primeiras comunidades de discpulos de Cristo no forma-
volt, portanto uma sociedade hierrquica, Os dons individuais ( c ari s-
mas) eram concedidos pelo Esprito Santo a diversos membros da comu-
nidade crist, consoante as necessidades, Era o Esprito que, operando
cot cada indivduo, determinava as vocaes e conferia aos fiis, con-
t o r ne a sua capacidade ou zelo, ministrios e ofcios provisrios D.
d. As primeiras comunidades crists, compostas ao princpio
de membros iguais entre si, distintos semente pela variedade dos dons
do Espirito, tornaram-se com o tempo corpos organizados, igrejas
verdadeiras, que se desenvolveram, tomando fisionomias diferentes,
argondo a diversidade dos meios geogrficos e sociais, As assembleias
dos cristos na Palestina e Transjordnia imitam as Sinagogas dos
Iudens, , . No Ocidente tomam a fi sionomia dos colgios, ou associa-
ti s pagas, muito numerosas nessa poca nas cidades gregas, Todavia
um associaes crists dispersas pelo imprio mantm entre si relaes
(requentes, .. pois natural que tenham tido desde o comeo cons-
IPncia ntida da sua unidade espiritual e que tenha surgido nas cartas
du Apstolo das gentes, a ideia da Igreja de Deus, ou de Cristo,
mui e universal acima das igrejas particulares e locais... A unidade
ideal da Igreja tender a tornar-se uma realidade visvel, pela unidade
de governo, de culto e de disciplina,
5. Para se operar esta unidade faltam ainda duas condies
necessrias D. Primeiramente, preciso que as cristandades particulares
encontrem um centro fixo, volta do qual se reunam. Em segundo
l ugar importa que estabeleam uma regra dogmtica e um princpio de
auloridade com que possam vencer todas as heresias e todas as resis-
Iencias, Estas duas condies efectuaram-se do modo seguinte; Aps
rr destruio de Jerusalm a cristandade greco-romana buscou um novo
ceittio volta do qual se pudesse agrupar, As hesitaes no podiam
crer longas, As Igrejas de Antioquia, Efeso e Alexandria, as mais im-
portantes dos tempos apostlicos, eram mais ou menos iguais na auto-
24
368INVESTIGAODA VERDADEIRA IGREJA
JESUSCRISTOFUNDOU UMA IGREJA HIERRQUICA369
irra S,
370INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
JESUS CRISTOFUNDOUUMAIGREJAHIERRQUICA371
ridade que exerciam nas comunidades das respectivas regies. Mas
havia uma cidade que sobressaa sobre todas as demais e que tinha
importncia universal. Era Roma, a cidade eterna e sagrada... A ca-
pital do imprio estava, portanto, indicada de antemo para capital
da cristandade, Est realizada a primeira condio: o centro fixo,
princpio da unidade hierrquica,
6. Numerosasseitas, entre outras, as grandes heresias do gnosli-
cismo e do montanismo, que apareceram respectivamente pelosanos
de 1 30 e 1 60, realizaram a segunda condio; porque procurou-se e
descobriu-se o meio de opor a todas as objeces uma espcie de decli-
natrio, ou questo prvia, mais eficaz do que a refutao das heresias,
porque as executava logo ao nascer. Este meio consistia na profisso
de f apostlica, num smbolo popular e universal que, constitudo
como lei da Igreja, exclua do seu seio, sem discusso alguma, todos
aqueles que se recusavam a aceit-lo. Foi esta a regra de f , a que
se chamou smbolo dos Apstolos, redigido pela primeira vez na Igreja
de Roma, entre os anos de 1 50 e 1 60 . Apartir deste momento ficou
fundado o catolicismo dotado de governo episcopal e da regra de f
externa.
Resumindo; o cristianismo no comeo era uma religio de esp-
rito, tendo como cnica regra de f os carismas, isto , as inspiraes
individuais do Esprito Santo, No tinha hierarquia, nem unidad e.
social visvel, No era independente das sinagogas judaicas, nem das
associaes pagas, e s conseguiu ser religio de autoridade, com hierar-
quia prpria, 1 20 ou 1 50 anos depois de Jesus Cristo, cerca dos fins do
sculo II, no tempo de S. Ireneu e do papa S, Vtor, Entre a morte de
Jesus e a constituio catlica da Igreja, h um perodo intermedirio,
em que no existiam organizaes de espcie alguma e que pode desi-
gnar-se com o nome de poca pr-catlica do cristianismo, Da se segue
que a Igreja catlica no de instituio divina. A fundao, o desen-
volvimento e as vicissitudes da sua histria explicam-se plenamente
pelo concurso de circunstncias humanas. S depois da Igreja esta-
belecer a sua infalibilidade, , . procurou justificar tebricamente, o que
j tinha triunfado na prtica. Odogma s consagrou o que passara 1
prtica no primeiro ou nos dois primeiros sculos ( 1 ),
313. B, Tese catlica. Nota. Antesde discutir-
mosa tese racionalista, convm observar, para evitar equ-
vocos, que oshistoriadorescatlicosno pretendem de modo
algum encontrar no comeo do cristianismo uma organizao
to perfeita como a que maistarde adquiriu, Seria desejar
que a semente logo depoisde lanada terra produzisse
fruto sem passar pelasvriasfasesda germinao,
Osracionalistasconcedem que no comeo do sculo III,
e mesmo nosfinsdo II, a Igreja possua j uma hierarquia
(1 ) SAB ATIER, Les religions d'autorite et la religion de l'esprit,
e linha um centro de unidade e um smbolo de f. A nossa
investigao terminar, portanto, nessa poca e mostrar que
OFruto sazonado, encontrado peloshistoriadoresracionalistas
nosfinsdo sculo II, efeito do desenvolvimento normal da
semente lanada terra nosprimeirosanosdo cristianismo.
Falando sem metforas, demonstraremosque no existiu
o suposto perodo pr-catlico, que osrgosessenciaisdo
cristianismo posterior estavam contidosno cristianismo dos
temposapostlicos, Antes, porm, examinaremosum por
u m todososartigosda tese racionalista,
314. Refutao da tese racionalista. 1, 0 que os
nossosadversriosafirmam a respeito dasintenesde Jesus,
isto , que no podia ter pensado em fundar unia Igreja
por esta se encontrar fora do plano da sua misso messi-
nica, um preconceito j refutado (n. 307) que no abor-
daremosde novo,
2, Ser certo, como levianamente se afirma, -- que
os Apstolos, iludidospela pregao de Jesuse esperando a
prxima vinda do reino escatolgico, tambm no puderam
pensar na organizao duma instituio durvel? Se assim
fosse, se osApstolose osprimeiroscristosestivessem
verdadeiramente convencidosque J, Cristo lhestinha anun-
ciado a vinda prxima dum reino escatolgico, porque que
a comunidade crist no se dissolveu quando viu que tinha
sido enganada por Jesus? Este raciocnio to claro que os
prprioshistoriadoresliberais, como Harnack, reconhecem
fine o Evangelho era alguma coisa maisdo que isso, alguma
coisa nova, a saber, a criao de uma religio universal
fundada na religio do Antigo Testamento ,
3. Dizer que se devem aoscarismas osprimeirosele-
mentosda organizao da Igreja, tambm uma hiptese
destituda de fundamento, E evidente como o prova a
experincia quotidiana que a inspirao individual conduz
quase sempre anarquia, E o prprio RENANque o con-
lessa no seu Marc Aurle: A profecia livre, oscarismas,
a glossolalia e a inspirao individual eram causasmaisque
suficientespara reduzir o cristianismo spequenaspropor-
d^
I
I
372INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
(1 ) 0 judeo-cristianismo a doutrina da seita dos judaizastes, que
nos primeiros tempos da Igreja sustentavam que no se devia abrogar a lei
de Moiss ( especialmente a circunciso) e que, por isso, ningum devia
entrar na Igreja de J. C risto sem passar pelo judasmo. Esta doutrina, quo
nem S. Pedro nem S. Paulo praticaram, foi de fi nitivamente condenada pelo
C onclio de Jerusalm ( cerca do ano 50) onde se decidiu, conforme a pro-
posta de S. Pedro e S. Tiago, que no se devia impor aos pagos conver-
tidos ao cristianismo o rito da circunciso. A partir desta data, o judeo-
-cristianismo tornou-se uma heresia.
JESUS CRISTOFUNDOUUMAIGREJAHIERRQUICA373
Moas, B ATIFFOL, quanto aostermospolticosque se empre-
)!.im para descrever a cooperao de Roma e tambm quanto
ii tendncia de considerar como causa o que apenascir-
constncia (I),
6, No se pode admitir a influncia atribuda ao Sim-
bolo dos Apstolos na criao da unidade da f e na reaco
contra asheresiasnascentes; porque, no provvel que
lenha sido imposto sigrejasgregaso texto romano, que era
a profisso de f baptismal comum a Roma e sigrejasda
(ilia e da frica no tempo de S, Ireneu e mesmo antes
dessa poca. E at provvel que estasno tenham possudo
nenhum formulrio comum da sua f antesdo conclio de
N ideia (325), No se pode, portanto, sustentar que o Sm-
bolo romano tenha sido a causa de unidade.
Supem osracionalistasque o Smbolo dosApstolos
toi redigido por ocasio dasheresiasnascentes, mormente do
gn,osticismo e do montanismo. Ora, nesta frmula no apa-
rece indcio algum anti-gnstico, e osartigosencontram-se
equivalentemente nosescritosanteriores heresia gnstica,
por exemplo, entre osapologistas, como S, Justino (150),
Il ristides(140) e S, Incio (110), Pode dizer-se at que,
ao menosna substncia, j fazem parte da literatura crist da
idade apostlica,
0 Smbolo romano, com maior razo ainda, indepen-
dente do montanismo, porque este muito posterior e s
penetrou no mundo cristo do ocidente depoisdo ano 180,
data em que, segundo o parecer dosprpriosadversrios, j
estava redigido o Smbolo,
315. b) Argumentos da tese catlica. Segundo
oshistoriadorescatlicos, a hierarquia da Igreja remonta s
Origensdo cristianismo, Como j advertimos(n. 313),
lura de dvida que a Igreja foi progredindo quanto sformas
externasda sua organizao; masafirmamos, -- e este o
cnico ponto controverso, que a evoluo se fez normal-
nlente,
Osprotestantes e osmodernistas admitem que a Igreja,
(1 ) BATIFFOL, L'glise naissante et le oafholicisme.
esde uma seita efmera, como vemosna Amrica e na
Inglaterra ,
4, Tambm no conforme verdade afirmar que
asprimeirascomunidadescristsno possuam autonomia
alguma, que no se distinguiam dassinagogas ou dasasso-
ciaespags, Concedemosque, para suavizar astransies,
se tenham feito mtuasconcessesnalgunspontossecund-
rios, ascomunidadescompostasexclusivamente de Judeus
convertidosforam autorizadasa conservar a circunciso, ao
passo que ospagoseram admitidosao baptismo sem passar
pelo judasmo, maspropugnamosdesassombradamente que
o catolicismo apareceu, desde o primeiro dia, como uma
religio completamente distinta da moisaica, porque osAps-
tolosreconheciam-se investidosde uma misso religiosa uni-
versal, que no receberam doschefesdo judasmo.
Portanto, a ideia da Igreja una e universal no parti-
cular de S. Paulo posto que ocupe lugar preponderante no
seu ensinamento. Essa ideia provm de osApstolosterem
sido discpulosdo mesmo Mestre, que a todosensinou as
mesmasverdades. Se asdiversasigrejasdo mundo s for-
mam uma igreja porque so todasfilhasda mesma comu-
nidade primitiva, da Igreja Me de Jerusalm, que por toda
a parte pregou sempre a mesma f,
5. lJ urna falsidade dizer que a runa de Jerusalm fez
deslocar o centro de gravidade do cristianismo, porque j
no tempo dasmissesde S, Paulo e, por conseguinte, muito
antesda runa de Jerusalm (ano 70), ascomunidadescrists
tinham abandonado o judeo-cristianismo (1 ) e j estavam
desligadasda capital da Judeia, I natural que Roma tenha
sido escolhida para centro da cristandade, por ser a capital
do Imprio greco-romano; masfazemoscertasreservas, diz
JESUS C RISTO FUNDOU UMA IGREJA H IERRQUIC A375
); I/rrrda da Tradio e a Igreja de Roma com a primazia
universal sobre todasasIgrejaslocais,
4. Deste modo, de gerao em gerao chegamosaos
Icmposapostlicos, OstestemunhosdosActos dos Apsto-
los, com termosclarose explcitos, falam-nosda existncia
duma sociedade que tem a sua hierarquia visvel, a sua regra
d e. 16 e o seu culto
(x) Hierarquia visvel. Desde o primeiro alvorecer do
cristianismo, osApstolosdesempenharam a dupla funo de
dirigentese pregadores. Escolheram Matiaspara ocupar o
liigar de Judas(Act,, I, 12, 26 ), No dia de Pentecostes
S. Pedro comeou a sua pregao e fez numerosasconver-
.oes(Act., II, 37). Pouco depoisosApstolosinstitu-
rain diconosnosquaisdelegaram parte dosseuspoderes
(Act,, VI, 1, 6);
(3) Regra de f. incontestvel que entre osprimei-
roscristosalgunsforam favorecidoscom osdonsdo Esprito
Santo, ou carismas, masno exageremos, nem julguemosque
asprimeirascomunidadeseram apenasncleosmsticosde
judeuspiedosos, que recebiam osdogmaspor meio dasins-
piraesdo Esprito Santo. Oscarismaseram um motivo de
credibilidade que levava asalmas f ou asmantinha
no fervor religioso, No eram regra de f, masestavam
subordinadosao magistrio dosApstolose f recebida,
como se v em S, Paulo que regula o uso doscarismasnas
assembleias(I Cor,, XVI, 26) e no hesita em declarar que
nenhuma autoridade pode prevalecer contra o Evangelho que
ale ensinou (I Cor., XV, 1).
Portanto, o cristianismo primitivo tinha uma regra de f
alue lhe veio dosApstolos. No complicada e resume-se
cm poucaspalavras. Geralmente osApstolosensinavam
nassuaspregaesque Jesusrealizou a esperana messi-
nica, que o Senhor a quem so devidasashonrasdivinas
e que s nele h salvao (Act., IV, 12),
Esta a doutrina elementar, que osApstolosimpunham
a todososmembrosdo cristianismo, Nada absolutamente
deixado inspirao individual; quando surge alguma con-
I rovrsia no seio da Igreja nascente, levada aosApstolos
como a autoridade incontestvel e nica, com poder de a
dirimir,
374 INVESTIGAO DA VERDADEIRA IGREJA
desde o tempo de S, Ireneu, do papa S, Vtor e da controvr-
sia pascal, possui uma autoridade de ensino e de governo,
isto , que a Igreja hierrquica. No difcil mostrar que
j o era muito antes, que o foi sempre e que no existiu
idade pr-catlica, No so, certo, numerosososdocumen-
tosem que se apoia a nossa tese, masso decisivos. Os
principais, por ordem regressiva, so
1. Testemunho de S. Ireneu. No se deveria aduzir o
testemunho de S, Ireneu, visto que osracionalistasconcedem
que a Igreja no seu tempo estava j hierrquicamente orga-
nizada. Masrelatamo-lo porque de grande importncia e
nosfacilita a ascenso aostemposprimitivosda era crist,
S. IRENEU, argumentando contra osherejes, apresenta o carc-
ter hierrquico da Igreja, como um facto notrio que nin-
gum pode negar, como uma fundao de Cristo e dosAps-
tolos. Ora, como podia reivindicar para a Igreja crist a origem
apostlica, se osseusadversriospudessem apresentar provas
de fundao recente na hierarquia ?
2. Testemunho de S. Policarpo. Se de S, Ireneu pas-
sarmos gerao precedente, encontraremoso testemunho de
S, POLICARPO, que, pelosmeadosdo sculo II, designa ospas-
torescomo chefes da hierarquia e guardasda f ( 1 ),
3, Testemunhos de S. Incio de Antioquia (f 110) e
de S. Clemente de .Roma (-I 100), Com estesdoisteste-
munhoschegamosao princpio do sculo II, ou finsdo I.
S. INC IO fala, na sua Epstola aosRomanos, da Igreja
de Roma como do centro da cristandade ; Tu (Igreja de
Roma) ensinaste asoutras. E eu quero que permane-
am firmesascoisasque tu prescrevespelo teu ensino
(Rom, IV, 1). Cerca do ano 96, S. CLEMENTE ROMANO, dis-
cpulo imediato de S. Pedro e de S, Paulo, escreveu uma
carta aosCorintios, na qual nosd da Igreja noo equiva-
lente de S, Ireneu, apresentando a hierarquia como a
(1 ) Entre os testemunhos do sculo segundo poderamos citar ainda:
1 .0 o de H EOESIPO que mostra as Igrejas governadas pelos B ispos, sucesso-
res dos Apstolos.-2.. o de DIONISIO DE C ORINTO, que escreve na sua carta
a Igreja romana que a Igreja de C orinto guarda fielmente as admoestaes
recebidas outrora do papa C lemente ; 3.. o de AnfRCIO. Naquela clebre ins-
crio do fim do sculo II, Abrcio, talvez bispo de H ierpolis, conta que nas
suas viagens pelas Igrejas cristas, encontrou por toda a parte a mesma f, a
mesma Escritura, a mesma Eucaristia.
376
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA JESUS CRISTOFUNDOUUMAHIERARQUIAPERMANENTE
377
7) Culto.
A leitura dosActosdosApstolostestifica-
-nosclaramente que a sociedade crist prossufa e observava
ritosespecificamente distintosdosjudaicos: o baptismo, a
imposio dasmospara conferir o Esprito Santo e a
fraco do po,
Concluso.Podemosinferir desta longa discusso que
a Igreja catlica, logo no princpio da sua existncia, era
uma sociedade hierrquica,
conforme ao dogma catlico
(n. 300), 0 que osracionalistaschamam poca pr-catlica
uma falsidade. Se osApstoloslogo depoisda Ascenso
do Senhor falam e procedem como chefes, porque julgam
possuir o direito e ospoderesinerentesao seu cargo. E, se
elesse crem investidosdessespoderes, muito provvel-
mente, porque osreceberam de J. Cristo. Por consequncia,
ostextos evanglicos esto de acordo com a histria e no
h motivo algum para osadversriosafirmarem que so
interpolaes, A nossa tese fica, portanto, slidamente pro-
vada com osdoisargumentosescriturstico e histrico,
2.
JESUS CRISTOFUNDOUUMAHIERARQUIAPERMANENTE.
ASUCESSOAPOSTLICA,
316. Estado da questo.
Provmosno pargrafo
precedente que JesusCristo fundou uma Igreja hierrquica
pelo facto de ter institudo uma autoridade de ensino e
governo na pessoa dosApstolos, Vejamosagora se a juris-
dio conferida aosApstolosera
transmissvel e, no caso
afirmativo, em quem devia recair a sucesso.
Tambm aqui h duasteses: a racionalista e a catlica.
a) Na primeira no se pe o problema da transmisso
da jurisdio apostlica, porque, segundo ela, a hierarquia
no instituio de origem divina, masmeramente humana,
Do mesmo modo que o rgo criado pela necessidade,
assim o episcopado o resultado de vriascircunstnciase
necessidadesda primitiva Igreja, Veremosmaisadiante as
circunstnciasa que osracionalistasatribuem a sua origem.
b) Segundo a tese catlica o episcopado de direito
divino e osbispos, tomadosno seu conjunto, so os
suces-
sores
dosApstolos, dosquaisreceberam ospoderese os
privilgiosinerentesao cargo. Esta tese prova-se com dois
)'umentos: 1, um escriturstico e 2, outro histrico
u.. qual refutaremosa tese racionalista,
1. Argumento escriturstico. Ostextosdo Evan
Telho devem servir-nospara tratar a questo de direito, a
saber, se a autoridade apostlica era transmissvel. Ora a
resposta deduz-se claramente dostextosj citadose, em
particular, daspalavrasque Nosso Senhor empregou
quando
constituiu osApstoloschefesda sua Igreja, Que outra
coisa significam aspalavras: Ide, ensinai todosospovos,
baptizando-osem nome do Padre, do Filho e do Esprito
Santo, ensinando-osa observar todasascoisasque vostenho
mandado : e estai certosque eu estou convosco todososdias
at consumao dossculos (Mat. XXVIII, 20)? Jesus
encarregou osApstolosda misso de pregar o Evangelho
a
lodos ospovos, de baptizar e reger a Igreja at ao fim do
nt ndo. Ora, este encargo no se podia realizar por aqueles
a quem era confiado, Logo, ospoderesconferidosaosAps-
toloseram ilimitadosquanto ao espao e quanto ao tempo e,
por conseguinte, na inteno de Cristo, deviam transmitir-se
aossucessoresdosApstolos.
Argumento histrico. No insistimosmuito no
argumento escriturstico acerca da
questo de direito, porque
osadversriosrejeitam todosostextosque se referem a
Cristo ressuscitado, e s consideram a
questo de facto.
Conforme sua teoria, s na histria, abstraindo de qualquer
preconceito dogmtico, se devem procurar asorigensdo
episcopado ( 1 ), Exporemosresumidamente o modo como
explicam a sua origem.
317.--A. Tese racionalista. Origem do episcopado. 1. Se-
gundo a tese racionalista, os membros das primeiras comunidades cris-
$.is eram todos iguais (n. 31 2), Todos eles formavam um u povo esco-
lhido um povo de sacerdotes e de profetas.
2. Podem-se no entanto distinguir na sociedade crist primitiva
duas grandes classes de operrios da obra divina: os homens da pala-
vra, os apstolos, os profetas, os do utores, e os ancios, os vigias
(1 ) SAItATIER, op. cit.
JESUS CRISTOFUNDOUUMAHIERARQUIAPERMANENTE
379 378INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
episcopoi ou bispos e os diconos. Os primeiros estavam ao servio
da Igreja em geral e s dependiam do Esprito que os inspirava, Os
segundos, pelo contrrio, eram os empregados escolhidos por cada
comunidade particular.
3. Ao comeo, no somente no se encontra instituio alguma
formal do episcopado, ou de qualquer outra hierarquia, mas at os
nomes de a episcopi e de presbyteri so equivalentese designam as
mesmaspessoas.
A histria no menciona exemplo algum dum bispo
constitudo por um apstolo e ao qual tenha transmitido, por essa insti-
tuio, quer a totalidade, quer parte dos seus poderes
( 1 ).
Os poderes
de ensinar e de governar eram reservados aos favorecidos pelos carismas.
Somente pouco a pouco os bispos ou presbteros, encarregados da admi-
nistrao temporal das Igrejas, se apossaram dos poderes de ensinar e
governar, primitivamente reservados aos Apstolos e aos que possuam
os carismas. Conforme a tese racionalista, no existem poderes confe-
ridos por Jesus Cristo. 0 cristianismo uma democracia na qual a
assembleia dos cristos conserva o poder e o delega aos que elege (
2 ).
A autoridade passa primeiro dos fiis ao conselho dos ancios, aos
seniores
ou presbteros e destes ao mais influente dentre eles, que
se torna o
Bispo nico. 0 episcopado , portanto, segundo
RENAN e
H ARNAC K,
uma instituio humana nascida da mediocridade das massas
e da ambio de alguns; foi a mediocridade que fundou a autori-
dade (3).
318. B, Tese catlica. a) 0 fundamento da tese
racionalista, segundo a qual, osmembrosdasprimeirascomu-
nidadeseram iguais, j antesfoi refutado (n. 315),
b)
A distino entre asduasclassesde operrios( 4 )
(1 ) SAB ATIER, op. cit.
(2)
Para provar que a autoridade deriva da assembleia dos fiis e que
no se pode exercer seno com o consentimento do povo cristo ( sistema
chamado nultitudinismo ou presbiterianismo defendido por algumas seitas
protestantes) os historiadores nacionalistas alegam que antigamente os bis-
pos eram muitas vezes eleitos pelo povo.
C onfundem evidentemente a eleio com a colao ela jurisdio e a
sagrao.
1 . Quanto eleio, verdade que os fiis concorreram por vezes
para a escolha do candidato. 22. 2. A eleio, porm, no conferia o poder ao
eleito; porque s depois da eleio dos fiis ter sido confirmada pelos bispos
da provncia eclesistica, recebiam os eleitos a sagrao e a jurisdio do
metropolitano e, por conseguinte, do Sumo Pontfice. O povo no conferia
a jurisdio nem sagrava os bispos.
(3) A tese modernista
sensivelmente a mesma, De feito, Loisy assim
se exprime no Autour d'un petit livre :
Os ancios (presbteros) que exer-
ciam nas assembleias crists as funes de vigias (episcopi, donde o nome
de bispos) foram institudos pelos Apstolos para
satisfazer a necessidade da
organizao das comunidades e no prpriamente para perpetuar a misso
e os poderes apostlicos. 0 ministrio coexistia com o do apostolado, ao
qual de facto substitua, quando era necessrio. A distino entre sacerdote
e bispo acentuou-se mais tarde. Por dutras palavras: o episcopado no
de
origem divina e os bispos no receberam dos Apstolos a misso nem
os poderes.
(4)
Esta distino entre as duas classes referidas j tinha sido men-
cionada por S. Paulo na Epstola aos Efesios. Na primeira classe inclui
I
trabalhavam na obra crist, isto , entre a chamada
Illerarquia discorrente e a hierarquia estvel, no se pode
4
' p(r em dvida, Masde nenhuma maneira constitui uma
,In(iva contra a origem divina do episcopado, como veremos
nu discusso do terceiro artigo da tese racionalista.
c) A explicao das
origens do episcopado por uma
srie de crisese de transformaes o ponto central da
questo, A tese racionalista nega que ao comeo houvesse
qualquer instituio de episcopado e para o provar estriba-se
r. u1 doisargumentos; 1. osdoistermos
episcopi e pres-
opt(ri
so equivalentes; e 1 a histria no nosrefere
e vemplo algum dum bispo monrquico
constitudo por um
Jipstolo, ao qual este tenha transmitido osseuspoderesno
ludo ou em parte.
Resposta. 1, Parece que aspalavras
episcopi e pres-
hpteri
foram sinnimasno princpio, Assim, para no citar
maisque um exemplo,escreve S, Paulo na
Carta a Tito:
.. I )eixei-te em Creta para que regulasseso que falta e estabe-
locessespresbteros
em cada cidade, Que o escolhido tenha
N. Paulo os apstolos, os profetas e os evangelistas; e na segunda os pastores e
os d,iddscalos (E'f. IV, 1 1 ).
A.
Os apstolos, os profetas e os evangelistas, isto , os obreiros da
primeira categoria, eram missionrios: formavam a
hierarquia discorrente
(IIIHerante ).
a) 0 termo apstolo tem dois sentidos, um lato e outro restrito.
I. No sentido lato, que conforme etimologia da palavra (gr. apstolos
nevia(1 o, mensageiro) o apstolo um mensageiro qualquer (II
Cor. VIII, 23;
MI. II,
25). Eram apostolos todos os que serviam de intermedirios ; os que,
por exemplo, eram encarregados por uma igreja de levar uma carta, ou
qualquer outra comunicao a outra igreja.-2. No sentido
restrito, a pala-
v
ra apstolo designa os enviados de C risto. Todavia, mesmo neste caso,
voa
se aplica exclusivamente aos doze, pois que se no podem excluir do
upustolado S. Paulo e S. B arnab. Portanto, as duas expresses Os Apsto-
los. o os Doze on colgio dos Doze (n. 31 0) no so idnticas. Mas o que
que constitui o apostolado prpriamente dito? Ter visto C risto na vida
mortal
ou ressuscitado e ter recebido dele a sua misso. So estas as duas
razes que S. Paulo aduz para reivindicar o ttulo de
apstolo de Cristo.
b) Os profetas eram os que apesar de no serem enviados directamente
or
C risto, falavam em nome de Deus em virtude duma inspirao especial.
R
olados do dom da profecia e da faculdade de preserutar os coraes tinham
e encargo de edificar, de exortar. e de converter os infiis ('I
Cor. XIV,
II, 21, 25 ).
e) Os evangelistas.
Esta palavra que se encontra s trs vezes no
Novo Testamento (Act. XXI, 8; Ef. IV, 1 1 ; II Tim .IV, 5), designa o encarre-
gado de anunciar o evangelho.
B . Na segunda categoria coloca S. Paulo: a) os pastores, isto , os
chefes propostos s igrejas locais : bispos ou presbteros. b) Os didscalos
ea doutores
eram uma espcie de catequistas, encarregados de instruir os
1 1 6+1 s na localidade que lhe confiavam.
380INVESTIGAO DA VERDADEIRA IGREJA
JESUS C RISTO FUNDOU UMA H IERARQUIA PERMANENTE
381
boa reputao, porque necessrio que o bispo seja irrepreen-
svel, como administrador da casa de Deus (Tit., I, 5, 7).
E evidente que nesta passagem osdoistermos
presbtero e
bispo se empregam no mesmo sentido,
2, Tambm certo que nosprimeiros tempos no
encontramosvestgiosde bispo monrquico, tal como apare-
cer maistarde, Ospresbterosou episcopi que osAps-
toloscolocavam frente dascomunidadespor elesfundadas,
formavam um conselho, o presbyterium, incumbido do governo,
da igreja local (Act,, XV, 2, 4 ; XVI, 4; XXI, 18).
Teriam estespresbterosospoderesque teve mais
tarde o bispo monrquico, ou eram simplessacerdotes? Os
documentoshistricosno nospermitem solucionar o pro-
blema ( 1 ), o que alisno tem muita importncia, visto no
se tratar disso na questo, Aqui apenasnosinteressa saber
se osApstolosdelegaram ou no em vida os poderes que
receberam de JesusCristo para assegurar a sucesso, quando
morressem, E o que vamosestudar,
Afirmam osadversriosque ospodereseram inerentes
aoscarismas; ora, como oscarismas eram incomunicveis,
ospoderesno se podiam transmitir,
Tambm nsadmitimosque oscarismaseram donsoca-
sionaisou pessoais, porque procediam directamente do Esp-
rito e portanto eram incomunicveis, Mas, preciso no
confundir oscarismas com ospoderes apostlicos; porque,
embora muitasvezesse encontrem juntosna mesma pessoa,
contudo oscarismas no eram causa ou princpio dospode-
res; apoiavam ou reforavam a autoridade, masno a consti-
tuam, Logo, osApstolosreceberam de J, Cristo
poderes
independentes dos carismas e portanto, transmissveis.
Consultemosagora osfactos e vejamosse osApstolos
transmitiram ospoderesque possuam,
a) Examinemos, em primeiro lugar, asEpstolas de
(1 ) Segundo S. Jo:o CRISsTOMOe S. TonT As os dois ttulos presbylei
e episcopi
tinham uma significao geral e eram empregados indiferentemente
para designar bispos e sacerdotes. Segundo S. JERNIMOe o P.. PETnu s
designavam os simples sacerdotes.
H at uma passagem clebre de S. Jere.
nimo em que se apoiam os racionalistas e protestantes para negar a supro.
macia dos bispos sobre os sacerdotes na primitiva Igreja.
Paulo e por elasveremosque S, Paulo, ainda que se
, reservava a autoridade suprema nasIgrejasque fundara
(I (:or., V, 3; VII, 10-12; XIV, 27-40; II Cor., XII, 1-6),
delegava svezesnoutrososseuspoderes. Encarregou
'I'in,teo de instituir o clero em feso, e deu-lhe ospoderes
Ir. i ni por asmose de estabelecer a disciplina (I Tim., V, 22),
u mesmo modo escreveu a Tito estas palavras ; Deixei- te
cn, Creta para que regulasses o que falta... (
Tit., I, 5),
I'orlanto, Timteo e Tito receberam a misso de organizar as
Igrejase ospoderesde impor as mos, isto , ospoderes
episcopais,
b) Na primeira carta de Clemente Romano Igreja de
Corinto encontramosum. exemplo clarssimo de transmisso
dospoderesapostlicos, A carta de Clemente tinha por fim
(I,;nnar ordem a comunidade de Corinto, que havia desti-
luido ossacerdotesdassuasfunes, Por isso, diz-lhesque
assim como JesusCristo foi enviado por Deuse osApstolos
por JesusCristo, assim ossacerdotese osdiconosforam
InslitudospelosApstolose, por conseguinte, deve-se-lhes
..nlmiisso e obedincia, Dai conclui : Osque foram esta-
belecidospelosApstolosou, depoisdeles, por
outros homens
Ilustres com a aprovao de toda a Igreja. , , no podem,
seio injustia, ser depostosdassuasfunes,
No se podia proclamar maisclaramente o princpio e o
I.il.. lu da transmisso dospoderesapostlicos. Quem so estes
',omens ilustres que instituram sacerdotese diconosseno
usdelegadosou ossucessoresdosApstolos? Estessuces-
soresno tm ainda o nome de bispos; so
homens ilustres
( Iue fazem parte, como osApstolos, do clero discorrente com
Iiiaesde bispos. Maspouco importa a falta do ttulo, se
existe a funo.
3, No sculo IL Encontrmoso germe do episcopado
nustemposapostlicos; procuremo-lo agora no sculo II,
Logo no comeo deste sculo descobrimosvriostestemunhos
da existncia do episcopado monrquico.
a) Testemunho de S. foo. Logo no princpio do seu
A pocalipse, S. Jorro escreve que vai narrar assuasrevelaes
.0 orca dassete Igrejasna sia; Efeso, Esmirna, Prgamo,
'I'ialira, Sardes, Filadlfia e Laodiceia (Apoc,, I, 1-11), So
J
sete cartasdestinadasao anjo de cada uma delas. Masquem
esse anjo?
Todosso concordesem afirmar que no
se trata do anjo da guarda destasigrejas, porque, alm dos
elogiose exortaes, ascartascontm repreensese ameaas,
o que no se pode aplicar aosespritoscelestes. Esses
anjos so, portanto, oschefes espirituais dasigrejas, os
anjosdo Senhor no sentido etimolgico da palavra (aggelos
= mensageiro, enviado), que possuam poderesepiscopais,
b) Testemunho de S. Incio de Antioquia, 0 teste-
munho de S, Incio data da primeira dcada do sculo II,
Neste tempo havia um bispo no smente em Efeso, Magn-
sia, Trales, Filadlfia e Esmirna, masem muitasoutras
igrejas, A hierarquia, por toda a parte, estava na posse
tranquila dosseuscargose no se encontram na histria
daquele tempo osmaisligeirosindciosde crisesou revolu-
es, pelasquaistenha passado o episcopado antesde con-
quistar ospoderesque todoslhe reconhecem. Sem bispo,
sacerdotese diconosno pode haver igreja escreve S, Incio
igreja de Trales(III, 1),
c)
Testemunho fundado nas listas episcopais
feitas,
uma por HEGESIPO(que vem nassuasMemrias) e outra
por S, IRENEUque pode ver-se no seu
Tratado contra as
heresias,
Desejando Hegesipo, sob o pontificado de Aniceto
(155-166) conhecer a doutrina dasdiversasigrejaspara
ver se era uniforme, empreendeu uma viagem atravsda
cristandade, Visitou vriascidadese demorou-se particular-
mente em Corinto e Roma, Nesta ltima cidade escreveu
uma lista cronolgica de todososBisposat Aniceto, ,
mas, infelizmente perdeu-se e s conhecemosalgunsextractos,
que o historiador EusSIOnosconservou.
A lista de S, IRENEU,
feita cerca do ano 180, chegou at
nsna ntegra. 0 Bispo de Lio props-se combater as
heresias, especialmente o gnosticismo, apoiando-se na tradio
e estabelecendo como princpio que a regra de f deve
buscar-se no ensino dosApstolosfielmente guardado pela
Igreja, Declara que pode enumerar osbisposconstitudos
pelosApstolose estabelecer a sua sucesso at nossos
dias, Mas, como seria demasiado longo apresentar o
catlogo de todasasigrejas, limita-se a considerar a
maior, a maisantiga, a maisconhecida de todos, e que foi
I
unnlada e organizada em Roma pelosdoisgloriosssimos
ApstolosS, Pedro e S, Paulo, Em seguida apresenta a
li
sa dosBisposde Roma at Eleutrio; osbem-aventurados
apstolos(Pedro e Paulo), Lino, Anencleto, Clemente, Eva-
11%10, Alexandre, Sixto, Telsforo, Higino, Pio, Aniceto,
`,fiero e Eleutrio,
Algunscontestam
a historicidade destaslistas, alegando
g
iue osnomesdosbisposvariam de catlogo para catlogo, e
ipic a lista de S, IRENEUdifere da do
catlogo Liberiano
Irila por FILCALO,
em 354, no tempo do papa Librio,
I^: certo que existe alguma divergncia entre elas, poiso
cullogo Liberiano nomeia Lino depoisde Clemente e des-
dobra Anencleto em Cleto e Anacleto. Masasvariantesso
(Ic pouca importncia e provvelmente devidasaoscopistas,
Concluso. De tudo o que precede, podemostirar as
seguintesconcluses;
'1, Tanto dostextosevanglicos, como dosdocumentos
da Igreja primitiva, deduz-se claramente que os
poderes apos-
tlicos eram transmissveis e foram de facto transmitidos,
2, OsApstoloscomunicaram osseuspoderesa
delega-
dos, elevando algunsdiscpulos plenitude da Ordem e con-
liando-lhesa misso de governar asigrejaspor elesmesmos
l u ndadase de fundar outrasnovas,
3, Portanto, falso afirmar que o episcopado nasceu da
mediocridade de unse da ambio de outros; porque no foi
a mediocridade que estabeleceu a autoridade , maso Evan-
olho, OsBispos foram institudospara receber a misso e
ospoderesque Jesustinha conferido aosApstolose, por isso,
toados
.
colectivamente, so ossucessores do colgio apos-
lr^
m
lico
3. JESUS CRISTOFUNDOUUMAIGREJAMONRQUICA,
PRIMADODES, PEDROEDOS SEUS SUCESSORES,
319. Demonstrmosnospargrafosprecedentesque a
It!reja fundada por J, Cristo no uma democracia baseada
iia igualdade dosseusmembros, masuma
sociedade hierr-
quica onde osdirigentesrecebem ospoderes directamente de
Deus eno do povo cristo,
382 JESUS CRISTOFUNDOUUMAIGREJAMONRQUICA
383
IN
VESTIGAAODAVERDADEIRAIGREJA
384INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
Outra questo se apresenta neste momento, A autori-
dade soberana que pertence Igreja docente reside em todos
osBisposcolectivamente, ou num s dos membros do Epis-
copado? Por outrostermos; a Igreja uma oligarquia ou
uma monarquia? (1 ) Ter porventura J, Cristo dado sua
Igreja um chefe supremo? OsProtestantese osGregos
cismticossustentam a negativa, Todavia estesltimoscom
algunsAnglicanosconcedem a S. Pedro a primazia de honra
masno de jurisdio (2 ).
Nsoscatlicosdefendemosque Jesusconferiu o primado
de jurisdio a S. Pedro e, na sua pessoa, a seus sucessores.
Provaremosseparadamente asduaspartesdesta tese com
doisargumentos; um, escrituristico, e outro, histrico.
320. Pri mei ra Parte. O Primado de S. Pedro.
Jesus Cristo fundou uma Igreja monrquica, conferindo a
S. Pedro o Primado de jurisdio sobre toda a Igreja.
1. Argumento escrituristico. 0 Primado de S, Pedro
deduz-se daspalavrasda promessa e daspalavrasda colao
do primado.
A, Palavras da promessa. Aspalavrascom que
JesusCristo prometeu a S. Pedro o primado de jurisdio
foram proferidasem Cesareia de Filipo. Jesusinterrogara
osdiscpulospara que dissessem que opiniescorriam a seu
respeito. S. Pedro em seu prprio nome, por inspirao
espontnea, confessou que Jesusera o Cristo, o filho de
Deusvivo.
Foi ento que o Salvador lhe dirigiu asclebrespalavras:
Bem-aventurado s, Simo, filho de Joo, porque no foi a
carne e o sangue que to revelaram, massim meu Pai que
est noscus, Tambm eu te digo que tu sPedro, e
(1) Monarquia (gr. monos, s e arehe;comando). Segundo a etimolo-
gia, monarquia uma sociedade governada pela autoridade dum chefe
supremo. Oligarquia (gr. oligos, pouco numeroso e arche, comando) a
sociedade em que a autoridade est nas mos dum pequeno nmero.
(2) Primazia de jurisdio e primazia de honra. Diferem essencial-
mente entre si. A primeira supe uma autoridade efectiva; a segunda
concede apenas direitos honorficos. Os que possuem a primeira tm direito
de governar os sbditos como verdadeiros vassalos; os que possuem a
segunda tm somente o direito de precedncia.
OPRIMADODES. PEDRO 385
ra,Inc esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do
Interno no prevalecero contra ela. E eu te darei aschaves
lio reino doscus, e tudo o que ligaresna terra ser ligado
no a cus, e tudo o que desligaresna terra ser desligado
noscus (Mat., XVI, 17-19).
Ponhamosem relevo trspontosdeste texto, que provam
a nossa tese:
a) Jesusmuda o nome de Simo em Pedro . Ora,
ii.)!Ilndo o uso bblico, a mudana de nome sinal de um
Ilrucfcio, Quando Deusquisestabelecer uma aliana com
AInao e constitu-lo pai doscrentesmudou-lhe o nome de
Ahm'aol em Abrao ( Gn,, XVII, 4, 5).
b) No nosso caso, o novo nome que Jesusdeu a Simo,
almloliza a misso que Jesuslhe quer confiar . Para o futuro
';(mo chamar-se- Pedro, porque h-de ser a pedra (1 ), ou
n rocha sobre a qual Jesusquer fundar a sua Igreja ( 2),
Pedro ser, com respeito sociedade crist, Igreja de
isto, o que a rocha com respeito ao edifcio: fundamento
molido que assegurar a estabilidade de todo o edifcio,
ruchedo inabalvel, que desafiar ossculos, e sobre o qual
Ne viro quebrar asportasdo inferno ou, por outraspala-
vras, os assaltose o poder do demnio.
c) Finalmente as chaves do reino dos cus foram con-
fiadasa S. Pedro, A entrega daschaves um privilgio
insigne e especial que confere um poder absoluto. Compara-se
o reino doscusa uma casa, Ora, s poder entrar em casa
( que tem as chaves em seu poder, e aqueles a quem ele
(wiser abrir a porta. Pedro constitudo nico intendente
11.1 casa crist, nico introdutor do reino de Deus, E intil
insistir mais, A promessa de Cristo to clara que no
lume haver dvida acerca da sua significao, S a Pedro
to e muda o nome, s ele chamado fundamento da futura
( I ) O trocadilho, que tem toda a sua fora na lngua aramaica, na
y n nl o nome Kph dado por Jesus a S. Pedro masculino e significa
i unha, pedra, desaparece em grego e em latim, porque nessas lnguas Pedro
.4ndlt f'e(ros ou Petrus, e rocha, Tetra.
(2) Esta passagem foi diversamente interpretada. Alguns protestantes
i
mntnudcratn que Jesus ao dizer: sobre esta pedra edificarei a minha
grn, ^ ' , queria designar-se a si mesmo, pois s ele a pedra angular da
prn, a. Alguns Santos Padres (OH GENES, S. Joo C uissromo, S. Anxuasio
a H. II(Limo ) pensaram que a rocha designava a f do Apstolo, e da
(wnclulram que todos aqueles que tm f semelhante de Pedro, so tambm
punhan. Estas exegeses, no so conformes ao contexto.
25
OPRIMADODE S. PEDRO387
.1 cristandade, doscordeirose dasovelhas. Apascenta os
iiieus
r
cordeiros, repete-lhe duasvezes; e terceira ; apas-
eata asminhas
Ora, conforme o uso corrente daslnguasorientais, a
Ip;lavra apascentar significa governar. Apascentar oscor-
deirose asovelhas, portanto, governar com autoridade
soberana a Igreja de C risto; ser o chefe supremo ; ter o
primado.
322. 2, Argumento histrico. Se encararmosa
questo somente sob o aspecto histrico, temosduasteses
opostas entre si ; a racionalista e a catlica.
A. Tese racionalista. Segundo osracionalistas, o
l to tu s Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha
(),!reja s teve o sentido e o alcance dogmtico, que oste-
Io}!ospapistaslhe atriburam no sculo III, quando osBispos
Ic
Roma dele tiveram necessidade para fundar assuaspre-
lenes ento nascentes
(1),
0 primado de S, Pedro nunca foi reconhecido pelosou-
trosApstolos, mormente por S. Paulo que nem sempre no-
meia Pedro em primeiro lugar (I Cor. I, 12; III, 22; Gal. II,
e)), nem receia resistir-lhe abertamente (Gal. II, 11) ,
323. B, Tese catlica. Nos Actos dos Apstolos
encontra o historiador catlico numerosostestemunhospara
provar que S. Pedro exerceu o primado desde osprimeiros
41i;1s
da Igreja nascente. 1. Depoisda Ascenso, S. Pedro
prope a eleio de um discpulo para ocupar o lugar de
Iodase completar o colgio dos Doze (Act. I, 15-22),
' ele o primeiro que prega o Evangelho aos, judeusno
dia do Pentecostes(Act. II, 14; III, 16). 3, E S. Pedro
(Inc,
inspirado por Deus, recebe na Igreja osprimeirosgen-
tios(Act. X, 1), 4. Visita asigrejas(Act. IX, 32). 5. No
C onclio de Jerusalm pe termo longa discusso que ali se
Irava, decidindo que no se deve impor a circunciso aos pa-
I!1 os convertidos, e ningum ousou opor-se sua deciso
( A ct. XV, 7-1 2), Se S. Tiago fala, depoisde S, Pedro ter
(1 ) SABATIEI1 , op. cit., p. 209.
386 INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
Igreja, s a ele sero entreguesaschaves; se aspalavras
tm algum sentido, s podem significar o primado de S, Pedro,
Objectam osadversrios, seguindo sempre a mesma
tctica, que a passagem em questo no autntica e que
foi interpolada quando a Igreja tinha j completado a sua
evoluo e adquirido a forma catlica, A prova est em que
s S, Mateusrefere aspalavrasde Nosso Senhor,
Resposta.A objeco fundada no silncio de S. Marcos
e S. Lucasno tem valor algum, A dificuldade teria alguma
fora se osadversriosconseguissem provar que a narrao
desta passagem era exigida pelo assunto que tratavam. Ora,
no conseguem fazer essa demonstrao ; logo, o silncio dos
doissinpticosdeve atribuir-se a motivosliterrios, que no
admitiam a entrada do texto nassuasnarrativas,
321. B, Palavras da colao. Duaspassagens
dosEvangelhosnosatestam que Jesusconferiu efectivamente
a Pedro o poder supremo que lhe tinha prometido.
a) Misso, confiada a,S. Pedro, de confirmar os seus
irmos. Algum tempo antesda Paixo, Jesusanunciou aos
Apstolosa sua falta prxima, Quando predisse a de Pedro
declarou-lhe que tinha orado especialmente por ele ; Simo,
Simo, eisque Satansvospediu com instncia para vos
joeirar como trigo ; maseu roguei por ti, para que no desfa-
lea a tua f ; e tu, uma vez convertido, confirma osteus
irmos (Luc., XXII, 31-32), Quando osApstolos, depois
de sucumbir tentao, se erguerem da sua queda, purifica-
dosdasfraquezasdo passado pela prova, como o crivo que
aparta a palha do gro, Simo que tem a misso de oscon-
firmar, Esta misso supe evidentemente o primado de ju-
risdio,
b) S. Pedro nomeado pastor das ovelhas de Cristo.
A cena passa-se apsa Ressurreio, Eiscomo a refere
S. Joo (Joo XXI, 15, 17); Trsvezesperguntou Jesusa
Pedro se o amava, e trsvezesPedro fez protestosde amor e
dedicao inabalvel. Ento o Salvador, sabendo que estava
na vspera de deixar osseusdiscpulos, confia a Pedro a
guarda do seu rebanho, isto , confia-lhe o cuidado de toda
. . .
388INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
emitido o seu parecer, no foi para discutir a sua opinio,
masimicamente porque, sendo Bispo da Igreja de Jerusalm,
julgou que se deviam impor aosgentiosalgumasprescries
da lei moisaica, cuja infraco podia escandalizar oscristos
de origem judaica, que constituam a maior parte do seu
rebanho (I),
Objectam algunsque S. Paulo nunca reconheceu o pri-
mado de Pedro. Como se explica nesse caso que, trsanos
depoisda sua converso, foi a Jerusalm expressamente para
o visitar ? (Gal. I. 18, 19). Porque no foi antesa S. Tiago
(que era o Bispo de Jerusalm) e aosoutros? No sera
essa uma prova evidente que o reconhecia como chefe dos
Apstolos?
Porque que S. Paulo, replicam, no nomeia sempre
S, Pedro em primeiro lugar ? A razo e simples, S. Paulo
nunca faz meno de todo o colgio apostlico, e apenasfala
incidentalmente de alguns. Asvezes, como sucede na sua
epstola aosCorintios(I, Cor. I, 12), nomeia-osem gradao
ascendente, pondo o nome de Cristo depoisdo nome de
S. Pedro,
Mas, dizem osracionalistas, no devemosesquecer-nos
do conflito de Antic qua, no qual S. Paulo resistiu aberta e
piiblicamente a S. Pedro, Para que osadversrios no jul-
guem que procuramosfugir dificuldade, referiremosaqui o
caso com asprpriaspalavrasde S. Paulo (Gal. II, 11-14);
Quando Cefasveio a Antioquia, eu resisti-lhe abertamente,
porque era repreensivel. Com efeito, antesde chegarem os
que tinham estado com Tiago, ele comia com osgentios;
masdepoisque eleschegaram, subtraia-se e separava-se dos
gentios, temendo ofender osque eram circuncidados. E os
outrosjudeusconsentiram na sua simulao. De sorte que
at Barnab foi induzido por elesquela simulao, Mas,
quando eu vi que elesno andavam rectamente conforme a
verdade do Evangelho, disse a Cefasdiante de todos: Se tu,
(1 ) Pedia S. Tiago que as gentios se abstivessem : a) dos alimentos
oferecidos aos idolos; b, da impureza, que os pagos no consideravam como
desordem grave; c) das carnes sufocadas; e d) do sangue, cujo uso estava
interdito aos Judeus (Act XVII, 20). No parecer de S. Tiago estas prescries
evitariam o escndalo dos fracos e serviriam para aplanar dificuldades entre
os cristos de diversas provenincias.
OPRIMADO DE S. PEDRO380
wild judeu, vivescomo osgentiose no como osjudeus,
pimple obrigastu osgentiosa viver como judeus?
Como se v desta passagem, o conflito originou-se da
1,11nosa questo, levantada pelosjudaizantes, a saber, se a lei
nonsaica era obrigatria e se era preciso paisar pela circun-
sao para entrar na Igreja cristd. Ora, osdoisApstolos
ti emosbem este ponto estiveram sempre de acordo, defen-
&lido ambosa negativa ; portanto, nunca houve conflito
riilre elesno terreno dogmtico. O litgio consistia em que
S. Vedro, para no provocar asrecriminaesdosjudaizantes,
ni, , deve-se de comer com osgentiosque se tinham, conver-
t Ido sem passar pelo judasmo,
ali]asta maneira de proceder podia ser diversamente inter- prod
1, Podia ser uma simplesmedida de prudncia justi-
ticada pelo fim que se queria obter, Sendo um, apstolo
doscircuncidadose outro dosincircuncisos, no para admi-
lar
que osdoisApstolos tenham adoptado atitudesdiferen-
tesnesta questo disciplinar, No se conta porventura nos
AdosdosApstolos que o prprio S. Paulo, numa circuns-
1,1 ncia idntica, procedeu do mesmo modo, circuncidando
rl'inniteo por causa dosjudeusque havia naquelasregies
(1.istria e Icnio), apesar dassuasconvicesserem diver-
sas? (Act. XVI, 3),
2. Tambm se podia tomar o procedimento de S. Pedro
suor hipocrisia ou cobardia: deste modo o julgou S, Paulo,
l'ensou que, para evitar asfunestasconsequnciasdo proce-
dimento de S. Pedro, devia repreend-lo. E um caso de
correco fraterna dada por um inferior, e na qual este
parece ter faltado moderao e deferncia devidasa um
superior hierrquico, deixando levar-se por um zelo indiscreto,
Se S, Paulo, objectamosns, dava tanta importncia ao
procedimento de S. Pedro, no ser porque a sua influncia
nasigrejasera maior e maisincontestvel? Logo, podemos
concluir que o conflito de Antioquia, longe de ser argumento
contra o primado de Pedro, testemunho em seu favor,
324. II, Segunda Parte. O primado dos sucesso-
res de S. Pedro. 0 primado conferido por Jesusa S. Pedro
sera acaso um dom pessoal, uma espcie de carisma, ou um
A'PERMANNCIAEAMORTEDES. PEDRO EM ROMA 391
1. A permanncia e a morte de S. Pedro em Roma.
I .tilado da questo, 1, Trata-se de investigar se S. Pedro
r';lcve na capital do Imprio romano e se a fundou uma
roniimidade crist, No necessrio provar que permaneceu
durante muito tempo em Roma, nem que a sua permanncia
Ioi contnua ( 1 ), A forma da Igreja primitiva no era seme-
Ilivinte actual, porque osApstoloseram missionrios, que se
lembravam daspalavrasdo seu Mestres Ide, ensinai todas
is gentes, Diante dum campo to vasto, seria para estranhar
eiicontr-los presosa uma residncia fixa, Estavam ora num
lugar ora noutro, conforme a sementeira prometia maior
messe,
2, Oscrticosracionalistase protestantesnegaram a
permanncia e a morte de S. Pedro em Roma, porque na
negao destesdoisfactosjulgavam encontrar um argumento
de valor contra o primado do Papa. Masosseusargumentos
Iiiiham to pouca fora que o prprio Renan, em apndice ao
seu livro Antchrist (1873 ), deu como provvel a perma-
nncia de S, Pedro na capital do Imprio .
Oscrticosactuaisno tm dificuldade em admitir a tese
catlica. Citemossomente algumaslinhasde HARNACK (Cro-
nologia): O martrio de Pedro em Roma foi antigamente
combatido pelospreconceitostendenciososdosprotestantes, , ,
Masfoi um erro que todo o investigador, que no queira ser
cego, pode verificar. Hoje em dia, diz o mesmo crtico
num discurso (1907) pronunciado na Universidade de Berlim,
sabemosque esta vinda (de S, Pedro a Roma) um facto
(1 ) Alguns catlicos, como B ARGxro, sustentaram que o pontificado de
H . Pedro em Roma comeou no ano 42 e durou 25 anos. Parece-nos exage-
rado; contudo esta opinio funda-se em vrios testemunhos de valor: 1 .. no
eatdlogo liberiano que contm a cronologia dos papas como era recebida na
Igreja Romana ; 2. no testemunho de Lactncio e 3.. no do historiador
liusebio.
Destes testemunhos podemos deduzir que era tradio geral e constante
no sculo IV que S. Pedro veio a Roma e governou a Igreja durante 25 anos.
li como quase certo que o catlogo liberiano deriva do catlogo de H ip-
IIto e que EUSFB IO se serviu dos catlogos anteriores e especialmente da lista
Ile S. IRENEU, segue-se que os testemunhos precedentes representam uma tra-
dio muito anterior a sua poca.
Notemos que os defensores da tese dos 25 anos de episcopado de
5, Pedro em Roma no sustentam que ele nunca se tivesse ausentado daquela
cidade. C om efeito, os Actos dizem-nos que S. Pedro esteve em Jerusalm
pelas festas da Pscoa no ano 44 e presidiu ao C onclio na mesma cidade no
ano 50. 0 governo de uma Igreja no requer a permanncia contnua do
H en. chefe, sobretudo nos tempos primitivos da Igreja.
1
390INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
poder transmissvel a seussucessores? Neste segundo caso,
quaisso ossucessoresde S. Pedro? Responderemosa estas
perguntasmostrando s1. que o primado de S. Pedro um
poder permanente, e 2, que os sucessores de S. Pedro so
os Bispos de Roma.
Tese I.-0primado de S. Pedro transmissvel.
Esta proposio prova-se com doisargumentos; um escritu-
rstico e outro histrico,
1. Argumento escriturstico. Do texto de S, Mateus
(XVI, 17-19) j citado para provar o primado (n. 320)
deduz-se que Pedro foi escolhido para fundamento da Igreja
e que recebeu as chaves do reino doscus, Ora, como o
fundamento deve durar enquanto durar o edifcio, e Jesus
prometeu que havia de estar com a Igreja at ao fim do
mundo (Mat, XXVIII, 20), segue-se que o primado, princpio
e fundamento do edifcio, deve durar para sempre e, por con-
seguinte, deve poder transmitir-se aosseussucessores, Alm
disso, a autoridade do primado h-de ser tanto maisneces-
sria quanto maisse desenvolver a Igreja e maisestender
osseusramosao longe ; quanto maior o exrcito tanto mais
necessidade tem de um chefe supremo.
2. Argumento histrico. Se o primado foi transmi-
tido aossucessoresde S. Pedro, a histria deve dar disso
testemunho. Esta questo confunde-se com a tese seguinte,
na qual veremosquem so ossucessoresde S. Pedro,
325. Tese II. Os sucessores de S. Pedro no pri-
mado so os Bispos de Roma ( 1 ). Para o provarmos
temosde demonstrar; 1. que Pedro esteve em Roma e que
foi o primeiro Bispo desta Igreja; e 2, que a primazia dos
Bisposde Roma, seussucessores, foi sempre reconhecida
por toda a Igreja. uma questo histrica,
(1 ) 0 nome de papa (gr. pappas, pai), actualmente reservado aos BIS-
pos de Roma, era antigamente comum aos outros bispos. Na mente daque-
les que o empregavam significava respeito e deferncia. Uma inscrio do
tempo do papa Marcelino (t 301 ) o primeiro documento da aplicao desto
nome ao B ispo de Roma.
892
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
i
ncontestvel
e
que o
comeo da primazia romana na Igreja
remonta ao sculo II,
Como a
tese catlica,
que afirma que S. Pedro
veio
a
Roma onde fundou uma Igreja
e
sofreu
o
martrio no
con-
testada pelosnossosadversrios, bastar mencionar rApida-
mente osprincipaistestemunho
s
em que se baseia.
sculo: Apresentamo-lospor ordem regressiva
e
de sculo em a)
No comeo do
sculo III,
temos
o
testemunho do
sacerdote romano Caio
e
de Tertuliano, 1, CAIOdizia,
escrevendo contra Proclo; Posso mostrar-te ostdmulos
dosApstolos, Ou venhasao Vaticano, ou passespela
via
ostiense, poderdsver ossepulcrosdosfundadoresda nossa
Igreja. Este testemunho, que
do ano 200 pouco maisou
menos,prova que neste tempo os
tmulos
do Vaticano
e
da
via de 'Ostia guardavam asrelquiasde S. Pedro
e
de S. Paulo
fundadoresda
Igrej a
romana
e
martirizado
s
no tempo de
Nero, 2. TERTULIANOnessa mesma
poca,
disputando con-
tra osgnsticos, menciona
o martrio
que, sob
o
reinado de
Nero, S. Pedro
e
S. Paulo sofreram em Roma,
o
primeiro
numa cruz
e o
segundo espada do algoz.
b) Nos fins do sculo
II,
1, S,
IRENEU
escrevia
nas
Glias; Foram osApstolosPedro
e
Paulo que evan-
gelizaram a Igreja Romana, por isso,
a mais
antiga
de
todas
e
a maisconhecida, por conservar a tradiao
dos
Aps-
tolos; por esse motivo, asdemais
igrej as
devem voltar-se
para ela
e r
econhecer-lh
e
a superioridade. 2, Drowsto
DE
CoRmro escrevia em 170 aosRomanos: Vindo ambosa
Corinto, osdoisApstolosPedro
e
Paulo nosensinaram a doutrina evanglica; partindo depoisjuntospara a
Itlia,
o
martrio ao mesmo tempo.
transmitiram-nososmesmosensinamentos, poispadeceram
c)
Entre osPadresapostlicos
(1 )
citemosos
testemu-
nhosde S. Incio
e
do papa S. Clemente, 1, S.
INC IO
(1 ) C hamam-se Padres
apostlicos
os escritores (ou
escritos, muitos
dos
quais so annimos) do fim do sdculo ll, ou da primeira metade do sdeulo II,
que Sc,
julgam ter conhecido 0, ), Apostolos
e
recebido deles a doutrina.
Os principais
escritores silo S.
OLEIVTENTE, terceiro sucessor de S. Pedro, S. IN.Acio, bispo de Antioquia, cdlebre pelas suas cartas, S. POLIC ARPO, bispo
Didaque; o Pastor de Hermas,
e o
S',,,010dos Apstolos.
de Esnairna. Os principais escritos so a
Doutrin
Doze
a dos
Apstolos ou
APERMANNCIAE
AMORTE DE S. PEDROEM ROMA393
Iiioi
condenado Asferas
e
enviado a Roma para ali sofrer
o
suplicio.
Conhecendo osesforosda Igreja de Roma
I.' o salvar, escreveu-lhe que nab se opusesse sua morte
ddpirou-a nestestermos; No vo-lo ordeno
como Pedro e
Paolo; eleseram Apstolos
e
eu sou apenasum
condenado,
I ,
:sinspalavras, diz Mons, DUCHESNE no dizem expressa-
inente que S. Pedro veio a Roma, Mas, supondo que tivesse
vindo, S. Incio no teria falado de outra maneira;
e no caso
ontrrio, a frase no faria sentido ( 1),
2, S. CLEMENTE, na sua carta aosCorntios, escrita
enire osanos95
e
98, pde em relevo ospadecimentosdos
doisApstolosPedro
e
Paulo, dizendo que so entre ns
belo exemplo, S. Clemente, que
romano e que
en via a sua carta na qualidade de Bispo de Roma, insiste na
circunstncia, que osactosde heroismo por ele descritos
brain vistoscom osseusprpriosolhos
e que o martrio de
S. l'edro e
de S. Paulo foram um grande exemplo
entre ns,
Isto , em Roma,
d)
Dostemposapostlicostemos
o
testemunho do
prriprio S. Pedro
que, escrevendo aosfiisda
Asia, data de
Babildnia
a sua primeira
epstola (I Pedro,
V, 13), Ora por
u
I iabilnia, diz RENAN, S. Pedro quer sem dvida significar
cidade
de Roma. Por este nome era designada a capital
do Imprio entre ascristandadesprimitivas,
326. Objectam osProtestantescontra a tese catlica
que S. LUCAS nos
Actos dos Apstolos,
S. PAULO
na sua l .
pistola aos Romanos
e
FLVIOJOSEFO, que narra a perse-
I;nioo de Nero, no fazem meno de S. Pedro.
Resposta,
J advertimosantesque
o
argumento fun-
dado no silncio no tem valor algum, a no ser que se
prove que
o
facto passado em silncio devia ser tratado ou
inencionado pelo historiador. Ora:
1, pelo que diz respeito a S. LUCAS, a objeco no
lern fundamento algum, porque os
Actos dos Apstolos
s descrevern
oscomeosda Igreja crist nosdoze primeiros
captulos; e
do cap. X em diante s falam dosActosde
(1 )
Mons, DUC H ESNE,
Histoire ancienne de glise t, I.
OS BISPOS DEROMATIVERAMSEMPREAPRIMAZ IA395
r;l ranhar que osracionalistas, protestantese modernistasse
t enham empenhado em provar histricamente que o primado
dos Bisposde Roma no existia nosprimeirostempos.
A, Tese racionalista. A tese racionalista expe-se em poucas
liulavras. Segundo a sua teoria, ao comeo todos os bispos eram iguais
rui autoridade e no havia distino entre eles, Pouco a pouco, foram-se
arrogando um poder maior ou menor conforme a importncia da cidade
rui que tinham a sede, Ora, como Roma era a capital do Imprio
romano, os seus bispos foram considerados como chefes da Igreja uni-
versal.
A esta razo de maior peso ajuntaram-se outras circunstncias
favorveis, tais como a ambio dos Bispos de Roma, a sua prudncia
no julgamento das causas submetidas ao seu arbtrio e os servios por
eles prestados na queda do Imprio.
0 primado do Bispo de Roma comea somente nos fins do sculo II,
aviando o papa Vtor, para pr termo controvrsia da celebrao da
lesta pascal, r, publicou em 1 94 um edito imperioso que expulsava da
comunho catlica e declarava herticas todas as Igrejas da sia e de
outras partes, que no seguissem na questo da Pscoa o costume ro-
uuano. SABATIERop, cii,, p. 1 93,
328. B, Tese Catlica. Oshistoriadorescatlicos
defendem que o primado do Bispo de Roma foi sempre
reconhecido em toda a Igreja, Nosprincpiosdo sculo IV a
primazia da S Apostlica um facto incontestado.
Todosreconhecem que nessa poca osBisposde Roma
falam e
procedem com plena conscincia do seu primado.
Opapa SILVESTRE envia osseuslegadospara presidirem ao
conclio de Niceia (325) e JI5Lu I declara que ascausasdos
bisposdevem ser julgadasem Roma. 0 papa LISERIO, a
quem o imperador Constncio pediu que condenasse Ata-
nsio, prova de que lhe reconhecia o direito, recusa-se a
Iaz-lo;
Do mesmo modo, osPadres so unnimesem admitir o
primado do Bispo de Roma. S. OPrAro DE MILETO, argumen-
tando contra osdonatistas, segundo osquaisa Igreja era
constituda s pelosjustose a santidade era o distintivo
essencial da Igreja, responde que a unidade tambm nota
essencial e que absolutamente indispensvel permanecer
em comunho com a Cadeira de Pedro, S. AMBRSto consi-
dera a Igreja de Roma como centro e cabea de todo o uni-
verso catlico, OsbisposorientaisS. ATANSIO, S. GREGRIO
394
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
S, Paulo, Alm disso, osActosno so de modo algum
completos, poisno falam tambm do conflito de Antioquia,
2. No nosdeve causar admirao que S. PAULOno
mencione S. Pedro na
Epstola aos Romanos, porque em
nenhuma dasoutrasEpstolascostuma saudar osbisposda
cristandade ou igreja a que se dirige, Quando escreve aos
Efsiostambm no fala de Timteo que era o seu bispo,
3, JOSEFOdeclara expressamente que passava em siln-
cio a maior parte doscrimesde Nero, Omite a crucificao
de S. Pedro, mastambm no fala do incndio de Roma
nem da morte de Sneca,
Concluso. 0 facto da vinda de S, Pedro a Roma e
do martrio
nessa cidade no tm contra si objeco alguma
de peso; e em seu favor temosnumerosose bem fundados
testemunhos, que de gerao em gerao noslevam at aos
temposapostlicos,
Poderamostambm acrescentar que osfactosso con-
firmadospelosmonumentos que nosatestam a presena do
Prncipe dosApstolosem Roma. Taisso asduascadeiras
de S, Pedro, uma dasquaisse conserva no Vaticano, as
pinturase asinscriesdasCatacumbas, que datam do
sculo II, onde o seu nome mencionado, e sobretudo
asescavaesfeitasrecentemente debaixo da Baslica de
S, Pedro, Dada a configurao do terreno e outrasdificul-
dadestcnicasera inexplicvel que oscristoslevantassem
ali a baslica primitiva, se no quisessem coloc-la precisa-
mente no local do martrio de S, Pedro, Masno preciso
insistir, porque a tese catlica no tem actualmente contra
si crtico algum de valor,
327. 2. OsBisposde Roma tiveram sempre a
primazia. uma
questo de direito. Se S. Pedro o
primeiro Bispo de Roma, o primado de Pedro devia transmi-
tir-se aosseussucessoresna sua S, Investiguemosa
ques-
to de facto
e vejamos'o que diz a histria,
Esta tese da maior, importncia, porque, se osdocu-
mentoshistricosdemonstrassem que nosprincpioso pri-
mado dosBisposde Roma no foi reconhecido, a questo de
direito
ficaria profundamente abalada, No , pois, para
396
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
DENAZ IANZ O
e S, J, CRISSTOMOfalam do Bispo de Roma como
do chefe da Igreja universal,
Como o primado de Pedro universalmente reconhecido
no sculo IV, podemoslimitar a nossa investigao aosscu-
losprecedentes, Ora, nostrsprimeirossculos, a existn-
cia do primado romano testemunhada pelosescritos dos
Padres, pelosconclios e pelo
costume que havia de apelar
para o Bispo de Roma a fim de dirimir asquestes,
a)
Examinemos, em primeiro lugar, os
testemunhos
dos Padres da Igreja,-1.. No sculo III
, ORGENES, escreve
ao papa Fabio, a dar conta da sua f, TERTULIANO, antesde
cair na heresia, admitia o primado de S, Pedro. Depoisde se
fazer montanista, mete-o a ridculo, prova de que lhe reco-
nhecia a existncia,
2, No fim do sculo II S, IRENEU estabelece como cri-
trio dastradiesapostlicasa conformidade da doutrina
com a Igreja romana, que deve servir de regra de f, por
causa do primado que herdou de S, Pedro, S. POLICARPO, dis-
cpulo de S, Joo, e ABRCIOvisitam o Bispo de Roma e
consultam-no acerca de assuntosda f e da disciplina, Os
prpriosherejesMARCIOe os
montanistas querem que a sua
doutrina seja aprovada pela S Apostlica, No princpio do
sculo II, S, INcro escreve aosRomanosque a Igreja de
Roma preside a todasasdemais,
3, No sculo I.
Em 96, o Bispo de Roma, CLEMENTE,
escrevendo aosCorntios, para chamar ordem osque injus-
tamente tinham demitido ospresbteros, declara-lhesque se-
ro rusde falta grave se no lhe obedecerem, 0 procedi-
mento de Clemente de Roma tem maior importncia, se con-
siderarmosque nessa poca ainda vivia o apstolo S. Joo
que no deixaria de intervir se o Bispo de Roma estivesse no
mesmo plano dosoutrosbispos.
b) 0
primado dosBisposde Roma foi
reconhecido pelos
conclios (I) , 1. No conclio de Efeso (431 ) S. CIRILODE
ALEXANDRIA,
que era o primeiro entre ospatriarcasdo Oriente,
(1)
No podemos aduzir testemunhos anteriores ao sculo IV, visto
que o primeiro conclio s se realizou em 325, em Niceia,
OS B ISPOS DEROMATIVERAMSEMPREAPRIMAZ IA397
pediu ao Bispo de Roma que sentenciasse e definisse contra
,l heresia nestoriana,
2. OsPadresdo conclio de Calcednia (451), quase
I odosorientais, dirigiram uma. carta ao papa S, Leo a soli-
cilar a confirmao dosseusdecretos, Este respondeu-lhes
com uma carta clebre na qual condenava oserrosde Euti-
n ome presidissem dissemoao
tempo, enviou Olegados
concilio encerrou-se
para
g com
rsla frmulasAssim falou o conclio pela boca de Leo .
3, Os conclios de Constantinopla, o terceiro cele-
brado em 680, o oitavo em 869, o conclio de Florena
em 1439, composto de Bisposgregose latinos, proclamaram
sucessivamente o primado do sucessor de S, Pedro e afirma-
ram que JesusCristo lhe deu, na pessoa de S, Pedro, pleno
poder de apascentar, dirigir e governar toda a Igreja
,
c) 0 primado dosBisposde Roma tambm testemu-
nliado pelo facto de intervirem em diversasIgrejaspara
dirimir as questes. No falando de CLEMENTE DE ROMA,
flue pelosfinsdo sculo I escreveu Igreja de Corinto para
a trazer ao bom caminho, vemosmaistarde osBisposorien-
tais, entre outrosS, Atansio e S. Joo Crisstomo, apelar
para o Bispo de Roma na defesa dosseusdireitos.
329. Objectam os Protestantes: 1 . Os que tinham o nome de
bispos, na realidade eram apenas presidentes do presbyteriuin; 2. Em
lodo o caso, a sua autoridade no era universalmente reconhecida, pois
S. Cipriano e os bispos de Af rica resistiram ao decreto do papa S. Est-
v3o que proibia a reiterao do baptismo conferido pelos herejes,
Resposta. 1 . Para provar que os Bispos eram somente simples
presidentes do presbyterium, alegam que a primeira carta de S. Cle-
mente de Roma, as cartas de S, Indcio aos Romanos e o Pastor de
ternas no falam dum bispo monrquico de Roma, Ora, j dissemos
que o silncio dum escritor acerca de um facto, no prova necessria-
uiente contra a sua existncia. Em 1 70, Dionsio de Corinto envia uma
resposta Igreja de Roma e no ao seu bispo Sotero, e contudo Harnack,
, tile faz a objeco, admite que Sotero era bispo monrquico. Pouco
importa, portanto, que a primeira carta de S. Clemente aos Corntios
u3o tenha a sua assinatura e seja enviada em nome da Igreja de Roma:
u:o h dvida que o seu autor uma personagem nica, o papa S. Cle-
mente, Ainda que a carta de S. Incio aos Romanos (1 07) e o Pastor
Ile Hermas
no mencionem o Bispo de Roma, no se deve da concluir
qu. e no existia, pois tambm no falam dos presbteros e dos diconos
de Roma, e a sua existncia no impugnada,
I it
398
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
2, E
certo que S. Cipriano, julgando que a reiterao do Baptismo
era uma
questo
sobretudo disciplinar, resistiu ao decreto do papa Este-
vdo.
Mas a resistncia dum homem, ainda que muito santo
e de boa-f,
autoridade superior, no destri nem enfraquece essa autoridade,
Grandes bispos como Bossuet, aderiram a proposiCeies condenadas, reco-
nhecendo contudo
o
primado do Soberano Pontifice.
Conelusao. A primazia dosBisposde Roma deduz-se
de doisfactos1.
de S. Pedro ter sido Bispo de Roma
e 2, de o
primado ter sido sempre universalmente reconhe-
cido pela Igreja.
Portanto, no
verdade que a autoridade
suprema dospapasdeva a sua origem ambio dosBispos
de Roma e
abdicao dosoutros
.
Se, como pretendem os
adversrios,
osbispostivessem sido ao
princpio
iguaispor
direito divino, ter-se-ia dado num momento da histria uma
transformao completa na f
e
na disciplina de toda a Igreja
.
Ora, tal acontecimento no se poderia dar sem se terem
provocado dissenes
e
reclamaesinmerasda parte dos
outrosBispos, lesadosnosseusdireitos, poisveriam deste
modo restringidososseusprivilgios. Como a histria no
apresenta sinal algum dessa agitao,
e
s houve
discusses
sobre pontossecunddrios, como a celebrao da festa da
Pscoa e
a questo da reiterao do baptismo, segue-se que
o
primado do Bispo de Roma nunca foi impugnado
e que a
Igreja universal sempre lhe
reconheceu
no s o
primado de
honra, mastambm
o
de jurisdio,
4, JESUS CRISTODEU SUAIGREJA
OPRIVILgGIODAINFALIBILIDADE.
330. Vimosque JesusCristo,fundou uma
Igreja hierr- quica,
conferindo aosApstolos
e
aosBisposseussucessores,
ospoderesde ensinar, de santificar
e
de governar. Demons-
traremosneste
pargrafo
que Jesusligou ao poder de ensinar
o
privilegio da infalibilidade,
Trataremos; 1. do
conceito de infalibilidade;
2. das
provas da sua existncia;
e 3,0 daqueles
a quem foi concedido
o privilgio .
Conceito de infalibilidade. -- Que deve entender-se
por infalibilidade ? A
infalibilidade
concedida por Jesus
Cristo A. sua Igreja
a preservao de todo
o
erro doutrinal,
.1, C. DEUASUAIGREJA
0 PRIVILEGIODAINFALIBILIDADE 399
oihndida
pela assistncia especial do
Esprito Santo, No
aturdesinerrncia de facto, masde direito.
E impossibili-
dioie.
tal, que toda a doutrina, proposta por esse magistrio
1111.11(1Tel,
deve ser crida como verdadeira, poiscomo tal
pl(q)osta,
Portanto, no
se deve confundir a
infalibilidade: 1.
com
inspirao, que consiste no
impulso divino, que leva os
w,critores
sagradosa escreverem tudo
o que Deusquer, e s
o que Deusquer; 2, nem com a revelao,
que supe a
manifestao
duma verdade antes
ignorada, 0
privilgio da
I Ida! ibilidade no faz
com que a Igreja descubra verdades
novas; garante-lhe semente que, devido A. assistncia divina,
oito pode errar nem, por conseguinte,
induzir em erro, no
plc respeita a questes
de f ou moral.
Falso conceito de infalibilidade. 0
conceito moder-
nista de infalibilidade
funda-se na ideia falsa que os
moder-
Mstastm da revelao e, portanto, tambm falso e como
MI deve rejeitar-se. Segundo o sistema modernista, a reve-
lao
opera-se na alma de cada
indivduo, poisconsiste na
conscincia que o homem
forma dassuasrelaescom
I )cos (n. 145 ). Por consequncia,
a infalibilidade da
Ireja
docente consistiria em interpretar
o sentir colectivo
dos fiise sancionar asopiniescomunsda Igreja discente.
estranho conceito
de infalibilidade foi condenado no
Decreto Lamentabili,
331. II, Existncia da
infalibilidade. 1, Adver-
sArios.--- A
existncia da infalibilidade
da Igreja foi negada:
a) pelosracionalistas e protestantes liberais. E lgico,
nma vez que no
admitam que JesusCristo tenha pensado
cm fundar uma Igreja, b)
pelos protestantes ortodoxos;
porque,
admitindo elesque todosos
membrosda Igreja
sio iguais, natural que a
interpretao da doutrina
catlica
esteja sujeita razo individual
(teoria do livre
exame).
2. Provas. A infalibilidade da Igreja funda-se em
doisargumentos; a) um a priori, ou de razo, e b) outro
a posteriori ou histrico,
11 s
,1 4
REFUTAO DA TEORIA PROTESTANTE
11Izem osprotestantes, para conhecermosasverdadesensi
iradaspor JesusCristo. A nica regra de f a Sagrada
l .scritura, Por conseguinte, cada fiel pode ler e interpretar
I':scritura conforme asluzesda sua conscincia e haurir os
dogmase preceitosconducentes sua edificao.
No difcil provar que esta regra de f absolutamente
I n su ficiente, 1. Primeiramente, como poderemossaber quais
tido os livros inspirados se no h urna autoridade que nos
I!,u anta a sua inspirao ( 1 ), ou se no h ningum para nos
.cgurar que o texto que possumosno foi interpolado pelos
, upistas? (e)
2, Suponhamosque h um critrio pelo qual ospossa-
mosconhecer, e que possamos, por exemplo, estabelecer,
orno princpio, que so inspiradostodososque foram consi-
deradoscomo taispor J. Cristo a respeito do Antigo Testa-
mento, e pelosApstolosa respeito do Novo, Ainda nesse
caso a teoria protestante insuficiente, porque se trata de
interpret-los, de conhecer-lheso verdadeiro sentido e de
empreender a Palavra de Deus, como deve ser compreen-
h da,
Como resolveremos as dificuldades? Pelo livre exame e
dicando asregrasda crtica e da exegese, respondem os
luteranose calvinistas, Por meio da histria e da tradio,
dizem osanglicanos, Pela inspirao particular, pela ilumi-
nao do Espirito Santo que ilumina a conscincia da cada
tIn Indivduo, afirmam osanabaptistas, osquakers, osmeto-
distase asseitasmsticas. Esta variedade de respostasbas-
Luria para fazermosum juzo claro da teoria protestante, Seja
dual for a soluo adoptada, evidente que obteremostantas
iulerpretaesquantososindivduosquot capita tot sensus,
Sc no aceitarmosoutra guia, seno a razo individual ou a
Inspirao do Esprito Santo, cairemosna anarquia intelectual
on no iluminismo.
3, Quando muito, osque estudarem a Bblia adquiriro,
(1 ) J dizia S. AGOSTINH O que no acreditaria nos Evangelhos se no
cresse antes na Igreja.
(2) Para que serve, diz SAB ATIER, postular a inspirao divina dum
livro ou texto antigo e a sua infalibilidade at ao ltimo iota, se esse texto,
InI tanto tempo escrito numa lngua morta, presentemente s pode ser com-
preendido por alguns fillogos, e se o povo cristo se deve contentar com
n redues em vernculo que no so infalveis nem perfeitas
26
400INVESTIGAO DA VERDADEIRA IGREJA
332.Argumento de razo. Nota. Antesde expor-
moseste argumento, conveniente explicar o lugar que
ocupa na nossa demonstrao, para que no haja equvocos
acerca do fim que prosseguimos, Afirmamos depoisdire-
mosporqu que se J. Cristo quisconservar asverdades
reveladasna sua integridade, teve de confi-lasa uma
autoridade viva e infalvel e no smente deposit-las, como
letra morta, num livro, posto que inspirado,
A isto objectam osprotestantesque apoiamosa nossa
tese num argumento a priori e que todasasnossasprovas
se reduzem a afirmar que uma coisa , porque assim deve ser,
Ora, nasquestesde facto, prosseguem eles, a prova de
facto,
se no a nica legtima, ao menos a nica deci-
siva, , , Se da convenincia, da utilidade e da necessidade
pressuposta duma concesso divina, se podesse concluir a
sua realidade, aonde chegaramosns? ( 1 ),
certo que da convenincia de uma coisa nem sempre
se pode concluir a sua existncia. Poderiam, por exemplo,
perguntar-nosporque motivo foram oshomensabandonados
por Deusnosseuserrosdurante tantossculos; porque tardou
tanto a Redeno; porque, no lhe deu J. Cristo tanto esplen-
dor que impelisse oshomensa aceit-la, Portanto, a questo
principalmente histrica e sob esse aspecto ser tratada,
Antes, porm, temoso direito de perguntar se a tese
catlica, que defende a instituio de um magistrio vivo e
infalvel para nosensinar asverdadescontidasna Escritura
e na Tradio, no est maisbem fundada que a teoria
protestante, que admite a infalibilidade da Escritura como
regra nica de f ( 2 ),
Demonstraremos, portanto, sem prescindir do argu-
mento histrico, que a regra de f dosprotestantes
insuficiente para o conhecimento e conservao dasverdades
reveladas, e que a regra de f da Igreja catlica possui todas
ascondiesrequeridas,
a) A regra de f na teoria protestante insuficiente.
No necessria, nem foi instituda uma autoridade viva,
(1 ) JALA.GUIER, De l'glise.
(2) Regra de f o meio prtico de conhecer a doutrina de J. C risto.
402INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
REFUTAODATEORIAPROTESTANTE403
at certo ponto, uma espcie de verdade subjectiva, Mas
como conhecero asverdadesosque no so instrudos, nem
tm vagar para ler e compreender a Escritura ? E como
poderiam obt-lasantigamente aquelesque no tinham meios
para adquirir a Bblia, antesda inveno da imprensa,
quando osmanuscritoseram to rarose custosos?
Mais; no comeo do cristianismo ainda no existia o
Novo Testamento e JesusCristo nada deixou escrito. Disse
aosseusApstolos; ide, ensinai todasasgentes, e no
lhesrecomendou que escrevessem a sua doutrina; por isso os
Apstolosnunca tiveram a pretenso de expor ex-professo
por escrito osensinamentosde Jesus, Ordinriamente os
seusescritoseram cartasde circunstncia, destinadasa lem-
brar algunspontosda sua catequese, Queiram dizer-nosos
Protestantesqual era a regra de f antesda existncia destes
escritos,
333. b) A regra de f catlica, pelo contrrio,
meio seguro de conhecermos a doutrina integral de Cristo.
Como fcil de ver, no contm em si nenhum dosinconve-
nientesdo sistema protestante, E certo que o catolicismo
admite a infalibilidade da Sagrada Escritura ; mas, alm desta
fonte da revelao, admite outra maisimportante e anterior
Escritura, que a Tradio. esta sobretudo, e nisto
consiste a diferena essencial que existe entre a teoria protes-
tante e a teoria catlica, que ensina que JesusCristo cons-
tituiu uma autoridade viva, urn magistrio infalvel que, com
a assistncia do Espirito Santo, recebeu a misso de deter
minar quaisoslivrosinspirados, de interpret-losautntica-
mente, de haurir nesta fonte, como na da Tradio, a verda-
deira doutrina de Jesus, para depoisa expor aossbiose
ignorantes.
At mesmo algunsprotestantesreconhecem que h entre
osdoissistemas, consideradosnicamente luz da razo,
certa vantagem a favor do catolicismo. 0 sistema catlico,
diz SABATIER, colocou a infalibilidade divina numa instituio
social, admirvelmente organizada, com um chefe supremo,
o Papa; o sistema protestante colocou a infalibilidade nuns
livro, Ora, sob qualquer aspecto que se considerem osdois
sistemas, asvantagensesto indubitvelmente do lado do
.tiolicismo (' ), No pretendamosdemonstrar outra coisa
'an o argumento a priori; alcanmos, portanto, o nosso
intento,
334. B, Argumento histrico. Somoschegados
au campo positivo da histria. O que J. Cristo devia fazer,
1('-lo-a feito? Ter institudo uma autoridade viva e infal-
vel encarregada de guardar e ensinar a sua doutrina?
0 primeiro ponto ficou anteriormente demonstrado; Jesus
Cristo instituiu uma Igreja hierrquica e chefesa quem
concedeu o poder de ensinar. Resta agora examinar o
,cgundo ponto, no qual provaremosque o poder de ensinar,
momo foi conferido por JesusCristo, comporta o privilgio da
infalibilidade.
Esta segunda proposio apoia-se nostextosda Escritura,
no modo de proceder dosApstolose na crena da antigui-
dade crist:
a) Nos textos da Escritura. A Pedro, em especial,
n prometeu JesusCristo que asportasdo inferno no preva-
lecero contra ela (Igreja) (Mat., XVI, 18); e a todosos
A pstolosprometeu, por duasvezes, enviar-lheso Esprito
de verdade (Joo, XIV, 16; XV, 26) e ficar com elesat
.no fim do mundo (Mat., XXVIII, 20). Estaspromessas,
,it!nificam claramente que a Igreja indefectvel, que os
A pstolose osseussucessoresno podero errar quando
ensinarem a doutrina de Jesus; porque a assistncia de
Cristo no pode ser em vo, nem o erro estar onde se
encontra o Esprito de verdade;
b) no modo de proceder dos Apstolos. Do seu
usino se depreende que tinham conscincia de ser assisti-
dospelo Espirito Santo, 0 decreto do conclio de Jerusalm
Icrmina com estaspalavras: Assim pareceu ao Esprito
`;. u nto e a ns (Act., XV, 28), OsApstolospregam a
doutrina evanglica no como palavra de homens, mascomo
palavra de Deus, que na verdade o (I Tes., II, 13), a
(pie necessrio dar pleno assentimento (II Cor, , X, 5)
e cujo depsito convm guardar cuidadosamente (I Tim.,
VI, 20), Alm disso, confirmam a verdade de sua doutrina
(1) SABATIER, OP. Cit., p. 2M,
1 1
INVESTIGAA0 DAVERDADEIRAIGREJA
com muitosmilagres(Act., II, 43; III, 1, 8; V, 15; IX, 34):
prova evidente de que eram
intrpretesinfalveisda doutrina
de Cristo, de outro modo Deus
no a confirmaria com 0
seu poder;
c) na crena da antiguidade crist. Concedem os
nossosadversriosque a crena na existncia dum magistrio
vivo e infalvel existia j
no sculo III. Basta, portanto,
aduzir testemunhosanteriores
1
. Na primeira metade do sculo III,
ORGENES, aos
herejes
que alegam asEscrituras, responde que
necessrio
atender
tradio eclesistica e
crer no que foi transmitido
pela sucesso da Igreja de Deus.
TERTULIANO, no tratado
Da prescrio, ope aosherejeso argumento da pres-
crio (I) e afirma que a regra de f
a doutrina que a
Igreja recebeu dosApstolos,
2, Nos fins do sculo II, S. IRENEU, na carta a Florino
e no
Tratado contra as heresias,
apresenta a Tradio
apostlica
como a s doutrina, como uma
tradio que no
meramente humana.
Donde se segue que no h motivo
para discutir com osherejes( 2 ) e que esto condenados
pelo facto de discordarem desta
tradio.
Pelo ano 160, HEGESIPO
apresenta, como critrio da f
ortodoxa, a conformidade com a doutrina dosApstolos
transmitida por meio dosBispos, e por esse motivo redige
a lista
dosBispos. Na primeira metade do sculo II, Pm-
CARPOe PAPIAS apresentam a doutrina dosApstoloscomo
a nica verdadeira,
como uma regra segura de f. Nos
(1 ) necessrio no nos enganarmos
a respeito do sentido da
palavra prescrio que
usa Tertuliano. Em direito moderno, quando
se trata
da propriedade, invoca-se a posse de longa durao, como um ttulo quo
dirime qualquer reivindicao : a prescrio longi temporis. Ora, no
prpriamente
neste sentido que a emprega TERTULIANO, para se desembaraar
dos herejes e negar-lhes as suas pretenses. Nostra que o seu direito ic
propriedade deriva dum legado recebido em forma devida, que o legtimo
herdeiro dos Apstolos. E, portanto, o argumento da Tradio que Tertuliano
emprega a modo de
questo preliminar, permitindo-lhe rejeitar qualquer
discusso com os que no possuem esta tradio e formulam novas asseres
esforando-se
ao mesmo tempo por justific-las com a
Escritura e com a
razo : a prescrio de inovao. O argumento de prescrio reduz-se pois
a isto: No podemos discutir convosco (herejes); porque, toda a doutrina
nova, pelo facto de ser nova, isto , de
no ser conforme com a regra
de f transmitida pelos Apstolos, est condenada de antemo e antes do
qualquer ex.ame.
(2) E o mesmo argumento que retomar mais tarde TERTULIANO,
dando-lhe uma forma mais erudita e mais jurdica: argument o da prescrio
de que acima falmos.
INFALIBILIDADEDES. PEDROE DOS SEUS SUCESSORES 405
tpiosdo mesmo sculo, temos
o
testemunho de Santo
Afirma este Santo que a Igreja
infalvel e que a
utporao nela
necessria a quem se quer salvar,
Conclus5o. Dasduasprovasda razo
e da histria
4 r depreende que o poder doutrinal,
conferido por Jesus
()1st Igreja docente, traz consigo
o privilgio da infdlibi-
isto
, que a Igreja no pode errar quando expe a
'loot firm de JesusCristo,
335. -1 1 1 .
Sujeito da infalibilidade. J, Cristo dotou
lgreja com o
privilgio da infalibilidade. Mas
a quem
um:mien este privilgio ? Indubithvelmente quelesque
.11Tberam o
poder de ensinar, isto , aosApstolostodose,
,
111111 modo especial, a Pedro, poder
e privilgio que trans-
it' iiiram depoisaosseussucessores.
1,0
Infalibilidade
do colgio apostlico e do corpo
episcopal. A.
A infalibilidade do colgio
apostlico pro-
v,111; -- a) da misso confiada a
todos os Apstolos de
-ensinar todasasnaes
(Mat., XXVIII, 20); b) da pro-
messa de estar com eles at
consumao dossculos
( Mal., XXVIII, 20) e de lhes enviar o consolador, o
II;spirito Santo que lhesh-de ensinar toda a verdade
(folio, XIV, 26). Estaspassagens
mostram com evidncia
title o
privilgio da infalibilidade foi concedido
ao corpo
doeente
tomado colectivamente,
B.
Do colgio apostlico o
privilgio da infalibilidade
passou classe episcopal.
No tendo sido limitada no tempo
twin no espao, segue-se que a misso de ensinar deve passar aos
.,ocessoresdosApstoloscom
o privilgio que lhe inerente.
Devemos, contudo, fazer uma distino entre osApsto-
los e
osBispos, OsApstolostinham como
campo de aco
lodo o universo,
visto que aspalavrasde Nosso Senhor ide
e
ensinai todasasgentes foram dirigidasa todoscolectivamente.
Portanto, eram
missionriosuniversaisda f e podiam pregar
por toda a parte o Evangelho como doutores infalveis. Os
l',ispos, porm, s se podem considerar como sucessoresdos
Apstolos,
tomadoscolectivamente ;
cada Bispo no o
sucessor de
cada Apstolo.
Tm apenasjurisdio numa
rcgio determinada, cuja extenso
e limitesso fixadospelo
1 1 I
404
INFALIBILIDADEDES. PEDROEDOS SEUS SUCESSORES
407
I+ilidade, basta mostrar que foi essa em todosostemposa
rr
cna da Igreja e que de facto ospapasnunca erraram em
questesde f e de moral,
a) Crena da Igreja.
A crena da Igreja no se mani-
leslou da mesma forma em todosossculos, Houve, na ver-
dade, certo desenvolvimento na exposio do dogma e at no
uso da infalibilidade pontifcia ; masnem por isso o dogma
deixa de remontar aosprimeirostempos, e de facto j o
encontramosem germe na Tradio maisafastada, como se
demonstra pelo sentir dosPadresda Igreja e dosconclios, e
pelosfactoss
1,
Sentir dos Padres da Igreja.
No sculo II, S, IRENEU
afirmava que todasasIgrejasse devem conformar com a
de Roma, poiss ela possui a verdade integral. S. CIPRIANO
dizia que osRomanosesto garantidosna sua f pela prega-
00 do Apstolo e so inacessveis perfdia do erro. S. JE-
RONIMO, para pr termo scontrovrsiasque afligiam o Oriente,
escreveu ao papa S. DMAs0 nosseguintestermos: Julguei
que devia consultar a este respeito a cadeira de Pedro e a f
apostlica, poiss em vsest ao abrigo da corrupo o
legado dosnossospais.
S. AGOSTINHOdiz a propsito do pelagianismo; Osde-
cretosde doisconcliosrelativosao assunto foram submeti-
dos S apostlica; j chegou a resposta, a causa est jul-
t!ada,
Roma locuta est, causa finita est.
0 testemunho
de S, PEDROCRISLOGOno menosexplicito; Exortamo-vos,
venerveisirmos, a receber com docilidade osescritosdo
santo Papa da cidade de Roma, porque S. Pedro, sempre
presente na sua sede, oferece a f verdadeira aosque a pro-
curam.
2, Sentir dos Conclios.
0 que fica dito anteriormente
acerca do primado do Bispo de Roma, aplica-se com
a mesma
propriedade ao reconhecimento de sua infalibilidade (n. 328).
3, Os factos.
No sculo II, o papa Victor excomungou
'redoto que negava a divindade de Cristo, com uma sentena
tida por todoscomo definitiva, Z EFERINOcondenou osMon-
tanistas, CALISTOosSabelianose, a partir destascondenaes,
foram consideradoscomo herejes, Em 417, o papa INoc.N-
cIo I proscreveu o pelagianismo, e a Igreja reconheceu o
decreto como definitivo, Em 430, o papa CELESTINOcondenou
406
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
Papa, No herdaram, por conseguinte, individualmente a
infalibilidade pessoal dosApstolos,
S o conjunto dos
Bispos goza da infalibilidade.
336. 2.
Infalibilidade de S. Pedro e dos seus su-
cessores. 0
privilgio da infalibilidade foi conferido duma
maneira especial a S. Pedro e aosseussucessores. A tese
prova-se com um argumento
tirado dos textos evanglicos
e
outro baseado na histria.
A.
Argumento escriturfstico.
A infalibilidade de
Pedro e dosseussucessoresdemonstra-se com osmesmos
textosque provam o primado,
a) Em primeiro lugar, com o
Tu es Petrus Tu s
Pedro e sobre esta pedra edificarei
a minha Igreja, incon-
testvel que a estabilidade dum edifcio lhe vem dosali-
cerces, Se Pedro, que deve sustentar o edifcio cristo,
pudesse ensinar o erro, a Igreja estaria construda sobre um
fundamento ruinoso e j se no poderia dizer sasportasdo
inferno no prevalecero contra ela.
b) Depois, com o
Confirma fratres,
confirma os
irmos, Jesusassegurou a Pedro que pedira dum modo espe-
cial por ele, para que a sua f no desfalea
(Luc., XXII, 32).
evidente que esta prece feita em circunstnciasto solene
s.
e to graves(n. 321) no pode ser frustrada.
c)
Finalmente, com o
Pasce oves apascenta
as
minhasovelhas. Foi confiada a Pedro a guarda de todo o
rebanho. Ora, no se pode supor que J, Cristo tenha entre-
gue o cuidado do seu rebanho a um mau pastor que o desen-
caminhe para pastosvenenosos,
N io necessrio insistir em provar que a infalibilidade
de Pedro se transmitiu aosseussucessores, porque estes
devero ser para a Igreja, na longa srie dossculos, o que
Pedro foi para a Igreja nascente. A Igreja, em qualquer
momento da sua histria, s poder alcanar a vitria contra
osataquesde Satans, se o fundamento, sobre o qual
se
apoia, conservar a mesma solidez e estabilidade,
337. B. Argumento histrico.
Para provar pela
histria que osPapasgozaram sempre do privilgio da infali-
OBJECES RACIONALISTAS
409
i.
-mor de insurreies do povo romano e do clero, por causa da grande
p o
pularidade do pontfice. Outros, pelo contrrio, julgam que o papa
Ideve o levantamento da pena, mediante condescendncias culpveis e
t oncesses feitas em matria de f. Respondamos a esta segunda opinio.
Os seus .partidrios, para fundar a sua pretenso, apoiam-se em
l Ngneros de testemunhos: 1 . nos
depoimentos dos contempord-
uons:
S, ATANASIO, S. HILARlo de Poitiers, S. JEaNlmo; -2. nas
declara-
,Iee do
prprio Librio. Entre os fragmentos do
Opus historicurn de
. I I i lrio, chegaram at ns nove cartas do papa Librio, quatro das
.pt.,ls, datadas do exlio, parecem ser comprometedoras. Com
efeito,
,,, ,:as cartas o papa, para alcanar o favor, declara que condena Ata-
u; lsio, faz profisso da f catlica formulada em
Sirmium e pede aos
oirus correspondentes orientais, em especial a Fortunaciano de Aquileia,
tl um
intercedam perante o imperador para lhe abreviar o exlio.
A estas duas espcies de testemunhos aduzidos pelos adversrios,
,esponderam alguns apologistas negando a autenticidade dos depoimen-
los dos contemporneos e rejeitando as cartas do papa Librio como
apcrifas, Mas como no
possvel provar que os testemunhos dos
cuulemporneos e os do prprio Librio no sejam autnticos, devemos
ucctar a discusso na hiptese da sua autenticidade. Tudo se reduz a,
,whecer qual foi a falta do papa e que frmula
subscreveu ; porque,
lu: u ido Librio terminou o exlio havia
trs frmulas ditas de Sirmium.
I rcnl:re elas, s a segunda, que declara que a palavra
consubstancia(
deve ser rejeitada como estranha
Escritura e ininteligvel , tida
por hertica. Ora, comummente se admite que no foi esta a frmula
ti
ne o papa assinou, mas provvelmente a terceira.
Quer se trate, porm, da primeira quer da terceira, os telogos so
Iinnimes em dizer que essas frmulas no so absolutamente herticas,
.,pesar de terem o grande inconveniente de favorecer o semi-arianismo,
.:oprimindo a palavra consubstantial
da profisso de f do conclio
le Niceia.
Concluso. Portanto, ainda na hiptese mais desfavorvel,
pudemos concluir: 1 . que o papa
LIB RIO cometeu apenas um acto
de fraqueza
condenando, num momento angustioso o grande ATANAsIO:
Iraqueza que Atansio o primeiro a desculpar: ..
Librio, diz este
grande doutor, vencido pelos sofrimentos dum exlio de trs anos e pela
ameaa do suplcio, assinou por fim o que lhe pediam; mas tudo se
deve violncia . 2. Alm disso, o papa Librio
nada definiu; se
cometeu algum erro, quando muito podemos dizer que errou como
doutor
particular e no como doutor universal,
quando fala ex-cathedra .
E,
mesmo que tivesse falado ex-cathedra o que no admitimos,
n:io tinha a liberdade que se requer para o exerccio da infalibilidade.
Logo,
em qualquer hiptese, a infalibilidade est fora de questo.
339.-2. Ocaso
do papa Honrio. (625-638). A dar crdito
aos adversrios da infalibilidade pontifcia, o papa HoNRto ensinou o
monotelitismo
em duas cartas escritas a Srgio, patriarca de Constanti-
nopla, e por isso foi condenado como hereje pelo VIConclio ecumnico
e pelo papa LEOII,
408
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
a doutrina de Nestrio, e osPadresdo Conclio de Efeso
seguiram a sua opinio,
0 Conclio de Calcednia (451) recebeu solenemente a
clebre carta dogmtica do Papa Leo I a Flaviano, que con-
denou a heresia de Eutiques, proclamando unnimemente
Pedro falou pela boca de Leo. Do mesmo modo, osPadres
do III Conclio de Constantinopla (680) aclamaram o decreto
do Papa AGATOque condenava o monotelitismo, dizendo
Pedro falou pela boca de Agato,
Como se v, j desde osprimeirossculos, a Igreja
romana reconhecida como o
centro da f
e como a norma
segura da ortodoxia.
Quanto maisavanamos, tanto mais
explcitosso ostermosque nosmanifestam a universalidade
desta crena at chegarmos
definio do dogma
pelo con-
clio do Vaticano.
b) Os Papas nunca erraram nas questes de f e
de
moral.
este o ponto maisimportante do argumento hist-
rico, Com efeito, se osnossosadversriospudessem mostrar
que algunsPapasensinaram e definiram o erro, a infalibili-
dade de direito ficaria comprometida, Ora, oshistoriadores
racionalistase protestantesjulgam encontrar provasdesta
falibilidade, Os
casos principais
que aduzem so o do papa
LIB JRIO,
que, segundo eles, caiu no arianismo, o de HoNRIO,
que ensinou o monotelitismo, e o de PAULOV e URBANOVIII
que condenaram Galileu. Como trataremosmaisadiante a
questo de Galileu, limitar-nos-emosaosdoisprimeiroscasos,
338. Objeces. 1 . 0 caso do papa Librio. ( 352-366) .
Os historiadores racionalistas acusam o papa
LIB RIO de ter assinado
uma proposio de f ariana ou semi-ariana, para alcanar do imperador
C ONSTANC IO o favor 'de voltar a Roma.
Resposta. A.
Exposio dos factos.-
Recordemos brevemente
os factos.
Em 355, o imperador Constncio, favorvel ao arianismo, orde-
nara ao papa Librio que assinasse a condenao de
ATANASIO, bispo de
Alexandria, o grande campio da f ortodoxa. Como se recusasse a
faz-lo, foi exilado para Bereia na Trcia, e o arcediago Flix foi encar-
regado da Igreja de Roma, Depois dum exlio de trs anos aproximada-
mente, Librio foi restitudo sua s (358).
B.
Soluo da dificuldade.
Toda a questo se resume em saber
que motivos levaram o imperador a levantar-lhe a pena de exlio,
H
duas opinies. Uns,
seguindo RUFINO, SOC RATES, TEODORETO e C ASSIODORO,
afirmam que o imperador Constncio ps termo ao exlio do papa por
410
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
OBJECQES RACIONALISTAS
41 1
Resposta. A.
Exposio dos factos. Em 451 , o conclio de
Calcednia definira contra Eutiques que em Jesus Cristo havia dua s.
naturezas completas e distintas: a humana e a divina. Se h duas
naturezas, h tambm duas vontades: o conclio no o disse expressa-
mente, mas
evidente, pois uma natureza inteligente no pode ser
completa sem a vontade.
No foi esse, porm, o parecer de alguns telogos orientais que
ensinaram haver em J. Cristo uma s vontade, a divina, ficando a
vontade humana como que absorvida pela divina, Esta doutrina era
falsa, mas os seas partidrios julgavam encontrar nela um meio de
conciliao entre os eutiquianos ou monofisitas, isto , os partidrios
duma s natureza, e os catlicos. Os primeiros deviam admitir duas
naturezas em J. Cristo e os segundos deviam conceder a unidade de
vontade. Esta tctica foi adoptada por Srgio, que escreveu nesse
sentido ao papa Honrio.
Numa carta repleta de equvocos e onde a questo era ardilosa-
mente apresentada, dizia-lhe que tinha reconduzido muitos monofisitas
verdadeira f e pedia-lhe que proibisse falar de uma ou duas energias,,
de uma ou duas vontades. Honrio deixou-se enganar e escreveu a
SRGIO
duas cartas em que o felicitava pelo bom resultado obtido,
e outra a S. SOFRNI0, patriarca de Jerusalm e defensor da ortodoxia,
na qual lhe aconselhava que no empregasse as palavras novas de
uma ou duas operaes U, Operao, na linguagem da poca, era
sinnima de vontade. No obstante a inteno conciliadora que ditou
estas cartas, as disputas foram aumentando at ao VI conclio ecum-
nico, terceiro de Constantinopla, que anatematizou os monotelitas e,
entre outros, o papa Honrio.
B. Soluo da dificuldade,A dificuldade que devemos resol-
ver a seguinte. HoNRlo, nas duas cartas a Srgio, ensinou o
erro? Ter sido condenado por este motivo como hereje pelo Vi
conclio ecumnico? So duas as solues apresentadas pelos apolo-
gistas. Uns afirmam que as cartas a Srgio so apcrifas e deste
modo a questo fica cortada pela raiz. Outros admitem a sua auten-
ticidade e neste campo que nos colocamos, para responder aos
adversrios. Devemos pois inquirir se essas cartas contm alguma
heresia,
Ningum pode negar que Honrio, ladeia a dificuldade com o
mximo cuidado e recusa pronunciar-se acerca das duas vontades.
No entanto, note-se bem esta particularidade, comea por lembrar
as decises do conclio de Calcednia e afirma claramente que em
J. Cristo h duas naturezas distintas, operativas. Em seguida, aprovando
a tctica de conciliao adoptada. por Srgio, recomenda que no se
avance mais no assunto e no se torne a falar em uma ou duas operaes.
Acrescenta, . verdade, que em Cristo h uma s vontade, mas pelo
contexto se depreende que no quer com isso negar a existncia da
vontade divina em Jesus; o seu fim simplesmente excluir as duas
vontades a que insidiosamente Srgio aludia : as duas vontades que
Iutam em ns, a do esprito e a da carne. Honrio, portanto, no nega
que haja em Jesus Cristo uma vontade divina e outra humana, mas
, ,
mente afirma que a vontade humana de Jesus no , como a nossa,
arr
astada por duas correntes que se contrariam.
Todavia, objecta-se, HoNORio foi
condenado
pelo VI concilio
rim
mnico e pelo papa Leo IL Advirta-se, em primeiro lugar, que
nem todas as palavras contidas nas
Actas dos Conclios
so infalveis e
ue as decises dum conclio s gozam do privilgio da infalibilidade,
depois de serem confirmadas pelo papa. Ora as actas do VI Conclio,
omite estava exarado o antema contra Honrio e contra os principais
uiouotelitas como Srgio, no foram confirmadas pelo Papa. 0 Sumo
Pontfice limitou-se a censurar o modo de proceder de Honrio, sem o
nwalematizar, como fez aos outros, e no lhe infligiu a nota de hereje.
Concluso. Podemos portanto concluir s 1 . que HoN6Rlo
iro ensinou nem definiu
o monotelitismo. Quando muito pode dizer-se
ti
ne no foi clarividente e que em certo modo favoreceu a heresia,
abstendo-se de definir e recomendando o silncio quando devia falar,
proporcionando assim aos monotelitas um pretexto para sustentarem
e
sua doutrina. 2. Ainda que houvesse erros nas suas cartas e, por
esse motivo, fosse condenado pelo VIConclio, o erro e a condenao s
u atingiriam como
doutor particular
e no como
doutor universal..
lortanto, nem o caso de Honrio nem o de Librio, so argumenta
contra a infalibilidade pontifcia,
Bibliografia.--- V.
no fim do captulo seguinte.
INVESTIGAODA VERDADEIRA IGREJA
412
CAPTULO
IL
A VERDADEIRA IGREJA.
I
1 . Suas no-
tas.
A.
As notas em, b)
Espcies.
a)
Definicdo,
geral.
I c) Condioes,
t d)
Notas insuficientes.
1 . Santidade.
B. As notasi
a) So quatro.{ 2. Unidade.
verdadeiras,
3.
Catolicidade.
( 4, Apostolicidade,
b) Valor
respectivo.
a) Definio.
i
( 1 ,
Causas
intelectuais.
b) Origem./ 2.
Causas
religiosas.
t 3.
Causas
politicas, A,
0 Protes-k
tantismo,1f 1. Lutera-f
1 , Ori -
nismo. i
gem,
c) Seitas
pro-) 2. Calvinis-k 2. Do ii -
testantes,Imo.
1trina ,
I 3,
Anglica-I 3, Estado
k nismok actual.
B oI a) a santidade
antismo
,
.
Protes-i
b) nem a
unidade.
t
nao{
k possui.
I c) nem a
catolicidade,
( cl,) nem a
apostolicidade.
2. Aplica-
co das
notas ao
Protestan-
tismo,
uJ
C1 .
.04
e4
e) Doutrina.
t
d)
Estado actual,
B.
A Igreja grega
no
possui as quatro notas,
5. Neces-( A,
sidade del
Necessida- f a)
Argumento escrituristico,
de.
I 6)
Argumento de razdo. perte 1 1 cer/
(
1
Igrejai B. Sentido da
frmula:
"Fora da Igreja no
lid sal-
t romana. vao .
a) Definicdo,
3. Alplica-
A.
A Igrejai b)Cisnaa
grego.{ 21 :
co das no-
1 grega.
tas Igreja
grega.
4. Aplica-f
a)
a santidade.
co das no-
S6 a Igreja ro-i b)
a unidade.
tas Igreja I
maaapossui.i
c) a
catolicidade. romana.
d)
a apostolicidade,
OPROBLEMADAS NOTAS DAVERDADEIRAIGREJA413
DESENVOLVIMENTO
40 problema das notas da verdadeira Igreja.
Divisfin do captulo.
340. Posio do problema. Apoiadosna Escritura
e nosdocumentosda histria, indicmosno captulo prece-
dente, ascaractersticas essenciais da Igreja fundada por
Cristo. E quase desnecessrio ajuntar que, tendo Nosso
Senhor pregado semente um Evangelho, s podia fundar uma
I 0.eja. Alm disso, muitosdosseusensinamentosindicam
(Jaramente a sua vontade acerca deste assunto. Quando
apresenta, por exemplo, o cristianismo sob a figura dum
rebanho, afirma que deve haver um s rebanho e um s6
pastor (Joo, X, 16 ),
No nosso tempo, porm, encontramosem volta de ns
muitasIgrejascrists, que reconhecem o mesmo fundador e
que se dizem ser a verdadeira Igreja instituda por Cristo,
E' evidente que estasIgrejas, pelo facto de professarem dou-
trinasdiferentes, no podem ser todasfundadaspor Jesus.
Da o problema de saber qual a verdadeira Igreja. Pode-
remos, porventura, auxiliadospeloscaracteres essenciais, que
ornam a Igreja de JesusCristo, estabelecer um certo nmero
de notas, de sinaisexternose visveispelasquaispossamos
reconhece-la e distingui-la dasfalsasIgrejas?
primeira vista esta investigao parece suprflua, por-
que de facto j est feita. Efectivamente, quando provmos
que a Igreja fundada por JesusCristo uma sociedade hierdr-
quica cujo chefe visvel S. Pedro, e que osBisposde Roma
so osseussucessoresno primado, ficou demonstrado que a
Igreja Romana a verdadeira Igreja. Todavia, uma vez
que osdissidentesconsideram osBisposde Roma como
usurpadorese no como herdeiroslegtimosda primazia de
Pedro, convm que noscoloquemosnum ponto de vista
comum e aceite pelasIgrejas dissidentes (1 ), ao menospor
aquelasque possuem a hierarquia. Tomando poisas
Causas.
Autores,
(1 ) C hama-se Igreja dissidente todo o agrupamento que se diz erist - ao,
mas que est separado da igreja universal pelo cisma, ou pela heresia.
41 4 41 5
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
quatro notasdadaspelo conclio niceno-constantinopolitano
(sculo IV) muito antesda separao dasIgrejasgrega e
protestante, procuraremosdemonstrar que s a Igreja romana,
com excluso dasoutrasconfisses, possui estasquatro notas,
341. Diviso do capitulo. Para obter o fim que nos
propusemos, indagaremosneste captulo : 1, quaisso as
notas
da verdadeira Igreja, 2. mostraremosque o
protes-
tantismo no as possui. 3. nem a Igreja grega, e 4. mas
semente a Igreja romana.
5. 0 que noslevar concluso
da
necessidade de pertencer Igreja catlica romana.
Art, I,
As notas da verdadeira Igreja.
Dividiremoseste artigo em doispargrafos, Trataremos:
1. dasnotas da verdadeira Igreja em geral e 2. dasquatro
notas
do Conclio de Niceia-Constantinopla e do seu
valor
respectivo,
1. DAS NOTAS EM GERAL.
342. 1. Definio. Por nota da Igreja entende-se
qualquer sinal pelo qual a verdadeira Igreja de Cristo se pode
distinguir dasfalsasIgrejas,
343.
2. Espcies. Asnotaspodem ser negativase
positivas. a) Nota negativa aquela cuja ausncia provaria
a falsidade duma Igreja, mascuja presena no basta para
demonstrar que essa Igreja verdadeira, Asnotasnegativas
podem ser inmerase encontrar-se em qualquer Igreja ou
religio. Por exemplo, ensinar o monotesmo, prescrever o
bem e proibir o mal, indicam que uma Igreja pode ser, mas
no que
necessramente a verdadeira religio,
b) Nota
positiva
aquela cuja presena prova a verdade da Igreja
em que se encontra: por conseguinte, uma
propriedade
exclusiva
da sociedade fundada por J, Cristo,
344. 3. Condies. Para que uma
propriedade
possa considerar-se como
nota
da Igreja necessrio,
segundo a definio, que seja essencial
e visvel : a) essen-
DAS NOTAS EM GERAL
ill. Se a propriedade no fosse da essncia da verdadeira
Ii!reja, se no tivesse sido indicada por J. Cristo como per-
encente sociedade por Ele fundada, no poderia evidente
nicnle ser distintivo da verdadeira Igreja;
b) visvel.
Um sinal no o poder ser, se no for externo,
pie no puder ser observado, se no for maisvisvel que a
coisa significada. Portanto, nem toda a propriedade essencial
pode ser nota da Igreja, porque existem muitaspropriedades
essenciaisque so indiscernveis. A infalibilidade
uma
propriedade essencial da Igreja de Cristo (n. 331 e segs,) e
contudo no nota ou sinal, porque no visvel: para a
reconhecer
seria necessrio saber de antemo que se trata da
verdadei ra Igreja.
345. 4.0Critrios insuficientes. Daqui se segue que alguns
critrios propostos pela I greja protestante ou pela Igreja grega devem
rejeitar-se por no terem as duas condies da verdadeira nota,
A. Devemos, em primeiro lugar, eliminar os dois critrios pro-
postos pelos protestantes ortodoxos a saber: a pregao exacta do
Evangelho e o uso correcto dos sacramentos.
a) Pregao exacta do Evangelho. Com este critrio, os protes-
t:llltes esto em contradio com a sua teoria do livre exame. Se cada
u
ur dos fiis pode interpretar a Escritura segundo o prprio modo de
pensar, com que direito lhe impem uma regra comum de fpor meio
da determinao exacta das verdades contidas no Evangelho? ( 1). Dei-
xemos porm esta questo de direito, visto queatos protestantes na
prtica rejeitam a teoria do livre exame. Querendo, portanto, encontrar
critrios objectivos
para distinguir as Igrejas conformes, das Igrejas no
conformes com o reino de Deus pregado por J, Cristo, propuseram em
primeiro lugar a pregao exacta do Evangelho,
Mas como poderemos saber quando a pregao do Evangelho
exacta, se no existe uma autoridade que no-lo diga e se, no caso de
drivida, no h uma pessoa que possa dirimir a questo? A prova mais
evidente da insuficincia deste critrio, que nos dispensa doutros argu-
nnentos, o desacordo que
existeen treos protestan tes acerca dos pontos
u,ais essenciais, dos artigos fundamentais
do dogma cristo, Tomemos
(1) 0quedizemos a respeito dos protestan tes ortodoxos n o seaplica
n os protestan tes liberais.
Estes, mais con sequen tes com a teoria do livre
exame, n o h esitam em declarar quea questo das n otas n o existe. Para
eles, a verdadeira I greja sociedade
invisvel, composta das almas dos justos:
6a Igreja das promessas
s con h ecida por Deus. Sem dtvida, a educao ea
fora do h bito podem torn ar n ecessaria a formao decomun idades exter-
n as, deI grejas materialmente visveis;mas deman eira n en h uma so a verda-
deira I greja. A verdadeira I greja, dizHsRNACK, n o a comun idadeparti-
cular dequen s somos membros, a Societas fidei quetem membros em
toda a parte, mesmo en treos catlicos gregos ouroman os>
(Aessncia do
Cristianismo, 15Con f.).
li
AS QUATRONOTAS DAVERDADEIRAIGREJA417
li puderam ser desenvolvidos e completados pelos conclios posteriores,
rumo que no se contentaram com o smbolo de Niceia e como o
mesmo conclio no receou fazer aditamentos ao smbolo dos Apstolos.
Se a conservao se deve compreender num sentido reais amplo,
e.lnros de acordo; os telogos catlicos so os primeiros a admitir que
a palavra de Deus no se deve reduzir imobilidade duma letra morta,
que susceptvel de desenvolvimentos mais fecundos, contanto que no
alterem a pureza da doutrina primitiva. Mas se concedem a possibili-
dade de desenvolvimento, deveriam explicar-nos porque motivo limitam
esse desenvolvimento aos sete primeiros conclios e qual a autoridade
q ue nos pode dizer quando ele normal. Como se v, a questo reduz-se
a:iupre a este ponto: Onde est a autoridade constituda, aquela que
herdou a herana apostlica?
2, AsQUATRONOTAS DOCONCLIODE NICEIA
CONSTANTINOPLA. SEUVALORRESPECTIVO,
347. I, ' Asquatro notas. No sculo IV (I) o con-
cilio de Niceia-Constantinopla propsquatro propriedades
} } pelasquaispodemosdistinguir a Igreja de Cristo dasfalsas
i grejas. So : 1, a unidade; 1 a santidade; 3, a catoli-
cidade; 4. a apostolicidade. K Et unam, sanctam, catholi-
cam et apostolicam Ecclesiam . Trsdestasnotas a uni-
dade, a catolicidade e a apostolicidade, esto intimamente
relacionadasentre si e so de ordem jurdica. A segunda,
- - a santidade, de ordem moral. Por este motivo sepa-
r-la-emosdasoutrastrse dela nosocuparemosem pri-
meiro lugar,
348.-1. A santidade. A santidade consiste em que
osprincpios ensinadospela Igreja de Cristo devem levar
santidade algunsdosseusmembros, A santidade como nota
da Igreja compreende, portanto, doiselementos; a santidade
rios princpios e a santidade dos membros.
(1 ) Nos trs primeiros sculos, os Padres da Igreja insistiram princi-
palmente na unidade e na apostolicidade. S. AGOSTINH O pe em maior relevo
a catolicidade e a santidade, atacadas e mal compreendidas pelos donatistas.
Depois do C oncilio de C onstantinopla, os telogos propuseram outras notas;
mas no nos demoraremos a falar delas, porque se reduzem fcilmente s
quatro j indicadas e no tm as condies requeridas. No sculo XIII, por
exemplo, S. Toms assinala como notas: a unidade, a santidade; a catolici-
dade e a indefectibilidade. No sculo XVI B ainsz diz que a Igreja una, santa,
catlica, apostlica e visvel; e B elarmino chega a enumerar quinze notas,
que, segundo ele, podem reduzir-se s quatro notas do smbolo de C onstan
-ii nopla.
27
(1) Cf. Doutrina Catlica, n.o 361 .
416INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
um exemplo : a divindade de Jesus Cristo, Como se deve entender este
dogma fundamental do cristianismo? Alguns protestantes respondem
que J, Cristo Deus no sentido prprio da palavra, isto , consubstan-
cial ao Pai. Outros julgam que Deus smente em sentido amplo e
metafrico, pois a sua divindade consiste apenas na intimidade extraor-
dinria com Deus. Em tais circunstncias, poder falar-se em pregao
exacta do Evangelho
b) A administrao correcta dos Sacramentos. Esta propriedade
no mais visvel que a pregao exacta do Evangelho, como se prova
da impossibilidade que os protestantes encontram em determinar, s
pelos textos da Escritura, o modo de administrar correctamente os dois
sacramentos que ainda conservam: o Baptismo e a Eucaristia. Deve
conferir-se o Baptismo em nome do Padre e do Filho e do Esprito Santo,
segundo a ordem dada por Cristo ressuscitado (Mat. XXVIII, 1 9), ou
simplesmente em nome do Senhor Jesus como se diz em muitas passa-
gens dos Actos? (II, 38; VIII, 1 2, 1 6; X, 48; XIX, 5).
Com respeito Eucaristia, em que consiste a Presena real? Ser
uma presena real e fsica do corpo e sangue de Jesus Cristo no po e
no vinho (impanao) (1 ), como pretendem os luteranos ? Ou ser
apenas uma presena virtual, como pensam os Calvinistas que atribuem
ao po e ao vinho a virtude de causar a unio entre o verdadeiro corpo
de Cristo que est no cu e a alma do que o recebe? Ou, finalmente,
tratar-se- smente duma presena
moral, como crem os sacrament-,
rios, segundo os quais, o po e o vinho alimentam a nossa f em Cristo
e evocam simplesmente a lembrana da Ceia?
Portanto, nem a pregao exacta do Evangelho nem a administra-
o correcta dos sacramentos so critrios suficientes, A verdadeira
Igreja prega o genuno Evangelho e administra correctamente os sacra-
mentos, visto que a verdadeira Igreja infalvel e no pode errar nestes
dois pontos; mas, embora sejam propriedades essenciais da verdadeira
Igreja, no so propriedades visveis e, por isso, no so notas.
346. B . A Igreja grega prope, como nota da Igreja, a conser-
vao invarivel
da doutrina pregada por Cristo e pelos Apstolos:
A
primeira vista, tal critrio reduz-se ao primeiro critrio dos protestan-
tes: a pregao do genuno Evangelho, Existe contudo uma diferena
capital entre os dois. Ao passo que os protestantes deixam ao arbtrio
dos cristos e cincia independente o cuidado de determinar os artigos
fundamentais, a Igreja grega limita a conservao da genuna doutrina
aos ensinamentos dos sete primeiros conclios ecumnicos,
Mas, poderamos objectar; onde se encontrava a verdadeira Igreja
antes do primeiro conclio ecumnico que s se celebrou no sculo IV ?
Na poca anterior a este conclio, no tinha a Igreja necessidade de notas
vara ser reconhecida? Suponhamos que o critrio nico da verdadeira
Igreja a conservao inaltervel da doutrina ensinada pelos sete pri-
meiros conclios. Como se deve entender esta conservao? Ser abso-
luta? Nesse caso, no se compreende bem como que os smbolos de
418INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
A santidade tem as duas condies que pertencem
essncia dasnotas(n, 344):
a) E propriedade essencial. Fclmente se prova pela
natureza do Evangelho de Jesusque a santidade dosprinc-
pios um distintivo essencial da verdadeira Igreja. 0 Sal-
vador no se contentou com impor a observncia obrigatria
dospreceitos, lembrando osdeveresdo Declogo (Mat., XIX,
16-19) deseja que osseusdiscpulosse avantagem, que
vivifiquem a letra pelo esprito, isto , pela inteno, que a
sua justia no seja formalista como a dosfariseus, masque
assente no amor de Deuse do prximo, Eu vosdigo,
assim se expressa no sermo do monte, que se a vossa jus-
tia no for maisperfeita que a dosescribase fariseus, no
entrareisno reino doscus (Mat., V, 20).
Jesusvai ainda maislonge, e isto o que h-de dis-
tinguir a sua igreja, acima dasvirtudescomuns, daquilo a
que chamamoshonestidade e que dever estrito para todos,
prope a perfeio as almas de escol, como ideal a que
devem tender por meio dosactosque maiscontrariam a
natureza e pelosmaisdurossacrificios; Sede perfeitos,
como vosso Pai celeste perfeito (Mat., V, 48),
Na verdadeira Igreja, portanto, devem encontrar-se
membrosque se distingam pela santidade eminente e por
virtudeshericas.
b) E propriedade visvel. No pode haver dvida
alguma quanto A. visibilidade dosprincipios . Masj no
sucede o mesmo com a santidade dosmembros. Sendo a
santidade uma qualidade interior, setmente conhecvel de
Deus, pode objectar-se que no propriedade visvel, nota
da verdadeira Igreja,
inegvel que a santidade consiste sobretudo num
facto interno e que a hipocrisia pode revestir asaparn-
ciasda santidade, Contudo, podemosestabelecer, como
regra geral, que o exterior o espelho fiel do interior.
A santidade, cujasmanifestaesexternasse conhecem,
propriedade visvel principalmente quando anda acompa-
nhada da humildade. Por conseguinte, considerada no con-
junto dosmembrosda Igreja, pode ser uma nota de incal-
culvel valor ainda que asvezespossa haver lamentveis
enganos,
AS QUATRONOTAS DAVERDADEIRAIGREJA419
349. --- 2, A Unidade. A unidade, como nota da
I acja, consiste na subordinao de todososfiis jurisdi-
00 da mesma hierarquia e ao mesmo magistrio docente.
A unidade tem as duas condies requeridas:
a) g propriedade essencial. Jesusquisque houvesse
ton s rebanho e um s pastor (Joo, X, 16). Por isso
pediu que todossejam um (Joao, XVII, 21), Pregou um
s Evangelho e exigiu a adeso de todososseusdiscpulos
a essa doutrina revelada ; da a unidade da f. Quem quer
o um quer osmeios; por esse motivo instituiu a
hierarquia
permanente, qual comunicou ospoderesnecessriospara
assegurar a unidade da jurisdio e a unidade da f.
b) g propriedade visvel. A subordinao de todosos
Hisa uma jurisdio nica facto visvel e verificavel ; no
maisdifcil comprovar a unidade hierrquica da Igreja do
Inc a dasoutrassociedades, A f, porm, objectam os
adversrios, qualidade interna, e por conseguinte no
v i sivel.
Sem dvida, a f interior e invisvel se se considera
cm si mesma ; mas, por maisinterna que seja, manifesta-se
por actosexternos, taiscomo a pregao, osescritose a
recitao de frmulasde f. Alm disso, a unidade, de que
lalamos, sobretudo a de governo, que o princpio da uni-
(lade de f e de culto. Se a primeira se realiza, asoutras
duastambm se realizaro, como consequnciasnaturais.
350. 3. A Catolicidade. Catlica quer dizer uni-
versal. Etimolegicamente, catolicidade a difuso da Igreja
por todo o mundo. Ostelogosdistinguem entre 1, a
catolicidade de facto, que absoluta e l'fisica, isto , com-
preende a totalidade doshomens, e 2, a catolicidade de
direito, que relativa e moral, enquanto a igreja de Cristo
se destina a todose se estende a um grande nmero de
regies e de homens.
A catolicidade realiza igualmente as duas condies
da nota,
a) E propriedade essencial. Ao passo que a Lei pri-
mitiva e a Lei moisaica se dirigiam semente ao povo judaico,
iinico depositrio daspromessasdivinas, a Lei nova destina-se
universalidade do gnero humano: Ide, diz Jesusaos
420
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
AS QUATRONOTAS DAVERDADEIRAIGREJA421
11 1 , H4
Apstolos, e ensinai todasasnaes (Mat,, XXVIII, 19),
Logo qualquer Igreja que ficasse confinada ao seu meio, que
fosse a Igreja duma
provncia,
duma nao, duma raa, no
teria ascaractersticasda Igreja de Cristo, visto que Jesus
pregou a sua doutrina para todos
e fundou uma sociedade
universal.
Querer
isto dizer que a Igreja de Cristo, logo desde
o
comeo, devia ser universal, ou que
o dever ser maistarde
absoluta e
fisicamente? De maneira nenhuma. A difuso do
Evangelho devia progredir gradualmente, segundo um plano
antestraado por JesusCristo aosseusApstolos. De feito,
disse-lhesque haviam de ser suastestemunhas, primeiro em
Jerusalm, depoisem toda a Judeia, na Samaria
e at aos
confinsda terra (Act., I, 8), E ainda que o Evangelho
tivesse penetrado at aosconfinsda terra, estaria longe de
possuir a catolicidade absoluta. 0 Salvador divino no quer
violentar asconscincias; deixou aoshomensa liberdade de
entrar ou no no seu reino, poispredisse que nem todos
entrariam, quando an unciou aosseus
discpulosque seriam
alvo de persegoies,
b) A propriedade visvel, No difcil comprovar a dif u-
so do cristianismo ; contudo, a nota de catolicidade nem sem-
pre to visvel
como poderia parecer primeira vista, porque
o nmero dosadeptosduma sociedade pode variar segundo
asdiversasfasesda sua histria. A catolicidade, porm,
an
anda merc duma variao de nmeros, nem diminui pelo
facto de em algumaspocasestar sujeita a lamentveis
defeces; basta que permanea sempre
catlica de direito.
351. 4. Apostolicidade. A apostolicidade a
sucesso continua e legtima
do governo da Igreja desde os
Apstolos, Para que haja apostolicidade
necessrio que
doschefesactuaispossamos
remontar aosfundadoresda
Igreja, isto , aosApstolose a JesusCristo, E necessrio,
alm disso, que esta sucesso seja
legtima, segundo asleis
da hierarquia, isto , que no se tenha introduzido no seu
acesso ao governo nenhum vcio
essencial capaz de invalidar
a sua jurisdio.
A apostolicidade de governo compreende a
apostolici-
dade de crenas,
Uma vez que oschefesda Igreja tm, por
misso principal, transmitir aoshomens
o depsito integral
tia
Revelao, segue-se que a apostolicidade da doutrina
d(ve dimanar da apostolicidade de governo, como
o efeito da
usa, Masa apostolicidade da doutrina no
nota da
I !reja porque no propriedade
visvel. Para sabermosse
lima doutrina apostlica, preciso indagar por quem foi
antesensinada,
A apostolicidade preenche asduas condies da nota
a) E propriedade essencial,
Pelo facto de JesusCristo
ter
institudo uma hierarquia permanente, s pode haver
I)!reja onde estiverem os
legtimossucessoresdosApstolos;
b) E propriedade visvel. No maisdifcil verificar
a sucesso apostlica dosPapase dosBisposdo que a dos
elidesde qualquer sociedade humana, por exemplo a sucesso
dosreisde Frana ou de Portugal,
352.
II, Valor respectivo das quatro notas.
Antesde fazer a aplicao dasquatro notasasdiversas
Igrejas, convm
estabelecer a sua
fora probativa e o seu
valor respectivo.
1. A santidade nota positiva da verdadeira Igreja ;
porque, s a Igreja, que conservou integralmente a doutrina
de Cristo pode produzir osmaisperfeitos
e osmaisabun-
dantesfrutosde santidade, Ademais, a nota de santidade
lkcilmente discernivel. Todo o homem sincero pode conhe-
cer a
transcendncia moral
duma sociedade religiosa e
compreender que a santidade dosmembros
o resultado da
santidade dosprincpios,
No entanto, a santidade critrio de ordem moral, isto
,
requer disposiesmoraisda parte daquele que
o aplica,
Pois, pode suceder, a quem tem preconceitoscontra a socie-
dade religiosa em
questo, que se detenha demasiado na
considerao dassuasfraquezas
e defeitose no preste a
devida ateno svirtudeshericasde que
est ornada.
Por isso, a nota de santidade, embora suficiente em si
mesma, deve ser completada pelasoutras.
2, A unidade nota negativa
e, por conseguinte, s
tem um valor exclusivo, quer dizer, lcito afirmar que toda
422
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
a sociedade, que a no possui, no pode ser a verdadeira
Igreja ; masno podemosir maislonge; porque pode existir
uma sociedade em que todososmembrosestejam subordi-
nadosaosmesmoschefese tenham asmesmascrenase,
apesar disso, no ser a verdadeira
igreja.
3. A catolicidade tambm nota negativa e, por
conseguinte, s nospermite excluir todasassociedadesque
no so relativa e moralmente universais, isto , as igrejas
provinciaisou nacionais. No se pode tirar outra concluso;
porque pode acontecer que uma sociedade seja a maispro-
pagada e
tenha maior nmero de adeptos, sem ser necess-
riamente a verdadeira Igreja.
Entretanto, o conceito de
catolicidade tem maior exten-
so que o de unidade. Uma sociedade pode ser una e no
ultrapassar oslimitesdum pas, ao passo que a catolicidade,
que supe certa universalidade, inclui o conceito de unidade,
A Igreja, que est
disseminada em muitasregies, no
ser
catlica se no for a mesma em toda a parte. Logo uma
Igreja pode ser una sem ser catlica, masno pode ser cat-
lica sem ser una,
4, A Apostolicidade nota positiva. Se uma Igreja
puder provar que a sua hierarquia deriva dos
Apstolospor
sucesso legtima e contnua, haver
plena certeza que a
verdadeira Igreja. Maso ponto maisdelicado desta nota est
em demonstrar que a sucesso foi sempre legtima e que a
jurisdio
episcopal nunca foi anulada pelo cisma ou heresia,
isto ,
pela ruptura com a obra autntica de JesusCristo,
Ora, esta ruptura s ser evidente, se a Igreja no possuir as
trsnotasprecedentes, Portanto, a
apostolicidade deve ser
considerada
luz dasoutrasnotase, em particular, da uni-
dade e da catolicidade.
Concluso. 1, Toda a Igreja a que
faltarem asqua-
tro notas, ou semente uma delas, no pode ser a verdadeira
Igreja,
2. A. Igreja, que possuir asquatro notas, necessdria-
mente a verdadeira Igreja ;
porque a santidade e a apostoli-
cidade, pelo facto de serem notaspositivas, so critriossufi-
APLICAODAS NOTAS AOPROTESTANTISMO423
deniespara demonstrar a autenticidade da Igreja. Todavia
6 boin a()
asisolar pelasrazesindicadas,
Art, II,
A plicao das notas ao Protestantismo.
353. Dividiremos
este artigo em doispargrafos. No
pi i meiro daremosalgumas
noes preliminares acerca do pro-
testantismo
; no segundo mostraremosque
no possui as qua-
fro notas da verdadeira Igreja..
NOESPRELIMINARESACERCA DOPROTESTANTISMO.
I, Defini0o. Sob o termo geral de protestantismo
devem entender-se todasasdoutrinas
e Igrejasnascidasda
1<elorma no sculo XVI .
A palavra Reforma
serve tambm para designar o pro-
lestantismo, porque osseuschefesprincipais, Lutero
e Cal-
vino
disseram-se enviadosde Deus, encarregadosde
reformar
a lgreja
de Cristo, de restaurar a religio do
esprito e de
substituir, pela luz da verdade e pureza da moral, astrevas
do erro e
a corrupo doscostumes: o Post tenebraslux ,
354. II, Origem. Consideramoso protestantismo
sob um aspecto geral, sem nosdemorarmosnascircunstn-
cias
particularesque desencadearam perturbaesem
vrios
pases
da Europa. Ascausasque deram origem ao pro-
lestantismo so de
trs espcies: intelectuais, religiosase
polticas,
a) Causas intelectuais.Existe
um lao de unio muito
estreito entre o
movimento religioso da Reforma e o movi-
inento intelectual do Renascimento. Desde osmeadosdo
sculo XV ate ao ano de 1520,
poca em que apareceu
o luteranismo, o
Renascimento estava em plena evoluo
.
O
humanismo no semente se assinalava pelo culto da anti-
guidade pag,
mastambm pela reaco contra a filosofia
escolstica, pelastendnciasracionalistase pela crtica inde-
pendente, que se estendia a todosos
domniosdo saber, sem
exceptuar a Bblia.
b) Causas religiosas, -A independncia intelectual cor-
respondia a desenfreada liberdade noscostumes, Durante
424INVESTIGAM)
DAVERDADEIRAIGREJA
vriossculos
tinham-se introduzido deplorveisabusosquase
em toda a parte. Pode dizer-se que
o nvel moral na Igreja
tinha baixado e
esta cumpria imperfeitamente a sua misso
divina, Na Alemanha sobretudo,
o alto clero, mal recrutado
entre osgrandessenhores
e
em posse de grandesterritrios,
aspirava s a dominar e
servia-se maisda Igreja do que a
servia, 0 mal tinha tambm penetrado nosmosteirose,
o
prprio papado, tendo-se tornado uma potncia italiana,
preocupava-se com osseusinteressesmateriais
e descui-
dava muitasvezesosnegciosda Igreja que tinha a seu
cargo.
Nestascircunstncias, era indispensvel
e todosanela-
vam uma reforma radical, no da constituio da Igreja nem
do dogma, masda disciplina e doscostumes. Essa reforma
fez-se finalmente por ocasio do
conclio de Trento, masinfe-
lizmente vinha demasiado tarde.
Lutero tinha j desenca-
deado no seio da Igreja uma verdadeira revolta, que no era
a simplesreforma necessria, masa subverso completa do
dogma e
a quebra violenta da unidade da Igreja.
c) Causas polticas.
Por maisimportantesque fossem
ascausasintelectuaise
religiosas, a Reforma protestante foi
sobretudo a consequncia dum movimento politico prove-
niente da ambio dosChefesde Estado, que, na emancipa-
o dasIgrejasnacionaissubtradas autoridade
de Roma,
descobriram o
melhor meio de aumentar o poder e de tor-
nar-se ao mesmo tempo chefesespirituais
e temporaisdos
seusvassalos, e
de enriquecer apossando-se dosbens
ecle-
sisticos,
355. III,
As Igrejas protestantes.
0 protestan-
tismo compreende trsIgrejasprincipaisa
luterana, a cal-
vinista e a anglicana.
Cada Igreja subdivide-se em vrias
seitas,
1, Luteranismo.
A. Origem. Da Alemanha,
maisque de nenhum outro
pas, se pode dizer com verdade
que o protestantismo teve por princpio
astrscausasantes
mencionadas, No comeo do sculo XVI o terreno estava
completamente preparado para receber um movimento
refor-
mador s faltava o homem e a ocasio para se atear o in-
OLUTERANISMO
425
Este homem foi Lutero, e a ocasio, a questo das
indulgncias.
Martinho LUTEROnasceu em 1483
e morreu em 1546 em
isleben na Saxnia. Em 1505 entrou no convento dos
A ltostinhosde Erfurt, e
foi depoisprofessor de teologia em
W t tenberg, Em 1517 o
papa Leo X encarregara osDomi-
nicanosde pregar novasindulgncias, com
o fim de recolher
citiolaspara terminar a basilica de S. Pedro em Roma.
I alter, melindrado por esta misso ter sido confiada a uma
urdem
diferente da sua, comeou por combater osabusos
c, logo depois, o
fundamento dasindulgnciase a sua
el iedcia ( 1 ),
Excomungado em 1520, queimou a bula pontifcia na
praa piblica de Wittenberg, apodou
o papa de Anticristo e
apelou para um
Conclio
ecumnico, Citado a comparecer
na dieta de Worms(1521), ali compareceu, mas, recusando
stibmeter-se sentena condenatria, foi desterrado do Im-
p(:rio. Protegido por Frederico da Saxnia, viveu algum
tempo escondido no castelo de Wartburg, onde trabalhou na
traduo da Bblia em lingua vulgar. De 1522 a 1526, per-
correu a Alemanha pregando a sua doutrina
. Entretanto, em
1525, havia desposado Catarina Bora, Em poucosanosa
Reforma fez grandesprogressosdevido h proteco dosprin..
cipesque se aproveitaram do movimento para sacudir a au-
toridade de Roma e
apossar-se dosbensdosmosteiros,
356. B. Doutrina. a) A teoria luterana, acerca da
i neficcia
dasindulgncias, faz parte dum sistema completo
que tem por base a
justificao pela f.
AsboasobrasLu
-tero ope a f S
pecador, peca esforadamente, mascr
maisesforadamente ainda. Desta breve frmula, que tra-
duz perfeitamente a ideia capital do reformador, dimanam,
COMOconsequncia lgica, osoutrospontosda sua doutrina
.
Como a justia original pertencia essncia da natureza do
primeiro homem, assim depoisda queda de Ado o pecado
(1 ) Zu(Nromo, reformador suo, nascido em Wildhaus (canto de Gla-
vin) em 1 484, defendeu antes de LUTERO a teoria C a ineficcia das boas obras.
Nomeado proco de Glaris em 1 506, foi transferido em 1 51 6 para Einsie-
doln.
Logo que ali chegou, fez desaparecer as
relquias da abadia de Nossa
8enhora dos Eremitas e
pregou aos peregrines a inutilidade do culto
reli-
T
gloso.
)
1 1 -
426
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
yl
11
uma segunda
natureza;
tudo no homem
pecado; o homem
no
seno pecado
(I), Nada pode modificar esta
situao;
o
homem
pecador
no
possui a liberdade
necessria
para
praticar
o bem;
portanto, assuasboasobras
so inteis,
0 nico
remdio a
justificao
pelos
mritos
de JesusCristo,
Mascomo
poder o
pecador
alcanar
de Deusque lhe sejam
aplicados
osmritosde Jesus
Cristo?
Unicamente
pela A
crendo
com todasassuas
foras
que assim
.
A alma
conti-
nuar
como antesmanchada pelo pecado, mas
cobri-la-6
com
um
vu a
justia
do Redentor
( 2).
b)
Como a f basta para a
justificao,
os
sacramentos
e o culto so
suprfluos.
Ossacramentos, que
Lutero
reduz
a
trs, o
baptismo, a eucaristia
e
a penitncia,
no
con-
ferem a graa
e, por
conseguinte, so inteis
para a
salvao,
0 culto
dos
santos
deve suprimir-se, porque ossantos
devem
ser imitados
e no
invocados,
c) 0
purgatrio no
existe.
d) A
nica
regra de f
e a nica
autoridade
a Escri
tura
interpretada pela
razo
individual,
e)
Uma
vez
que todo
o cristo
pode
justificar-se
pela
f sem
o auxlio
dasobras
e
dossacramentos
e
recebe
directamente as
inspiraes
do Espirito Santo pela
interpre-
1.
fao
dasEscrituras, segue-se que a Igreja
uma sociedade
invisvel,
composta
somente
das
almas
justas, na qual no
h
corpo
docente,
nem
carcter
sacerdotal, nem ordem, pois todososfiis
so sacerdotes,
Tais
eram as
consequncias
legtimas
que
Lutero
havia
tirado da sua
doutrina.
Mas, como estasideiastivessem suscitado
inmeros
pseudo-doutoresque, em nome do
Esp-
rito
Santo, pregavam as
opinides
mais
contraditrias, Lutero
viu-se
obrigado
a organizar
Igrejas visveis
com o
apoio e
sob a
dependncia
do Estado, Por conseguinte, decretou que o
ministrio da
pregao e
a
administrao
dossacra-
mentos
fossem exercidospor pessoas
eleitas
pelo
povo e s
quaisos
anciosimpusessem
asmos,
(I) V. Mons. JummsT,
Bossuet et les Protestants, cap.
IV. A Justificav:lo
P. 1 58.
(2) A doutrina catlica no nega a necessidade da id para a j.ustifica-
cao. Ensina, porem, que se requerem outras disposiek s (v.
Doutrzna Cod-
iica
n.o 321 ).
OCALVINISMO 427
357. C, Estado actual. 0 luteranismo propagou-se
rh o ( lamente no norte da Alemanha, na Dinamarca, Sucia
p Noruega . Estendeu-se depoiscom o anglicanismo Ingla-
1111111, e Holanda; maisrecentemente penetrou na Am-
'Ica, e at nospasespagospor meio dasmissesprotes-
t it n tes,
A sua organizao muito varivel, Na Alemanha a
I greja luterana no tem bispos e reconhece a autoridade dos
IIIIcipessecularese dosconsistriosconstitudosem grande
pm le pelosprncipes. Ospasesescandinavosconservaram
hierarquia episcopal que est sujeita autoridade civil;
NosEstadosUnidosospastores, eleitospelosfiis, obedecem
Nos snodosno, que diz respeito f e disciplina,
358, -- 2. O Calvinismo. A. Origem. C ALVIN()
IlatiC ell em Noyon na Picardia em 1509. Estudou direito em
I too rgesonde travou relaescom o helenista alemo Wolmar,
o lie o iniciou na doutrina de ',OTERO. Depoisde pregar em
I'aris(1532) julgou que era prudente sair de Frana e reti-
ron-se primeiro para Estrasburgo e depoispara Basileia, onde
neabou de escrever (1536) a sua obra Instituio crist, em
que expsassuasideias. Chamado a Genebra para ensinar
irologia, foi expulso durante algum tempo e depoischamado
de novo. Em seguida, empreendeu a reforma doscostumes,
do dogma e do culto; Perseguiu com intransigncia cruel
lodososseusadversdrios. Asvtimasmaisnotveisda sua
intolerncia foram Diogo Gruet e principalmente Miguel Ser-
vet queimado em 1553,
359. B, Doutrina. CALVINO segue geralmente a dou-
b Ma de Lutero, Indicaremosapenasmuito resumidamente
os pontosprincipaisque distinguem asduasteologias.
a) A respeito do problema da justificao, Calvino tam-
bm admite a justificao pela f sem asobras, masajunta a
inamissibilidade da graa e a predestinao absoluta,
1. Inamissibilidade da graa. Lutero no ousara afir-
mar que a graa da justificao depoisde recebida no se
podia perder. Calvino, porm, talvez maislgico, defende
que a graa inamissivel. No h motivo para que Deus
prive o homem da graa da justificao que um dia lhe con-
cedeu, Se o homem nada
pode
fazer para merecer a graa,
tambm nada
poder fazer para a
desmerecer; porque, unia
vez que no possui o livre arbtrio, irresponsvel.
Quell,
foi justificado, diz Calvino, e recebeu o Esprito Santo, esta
justificado e recebeu o Esprito
Santo para
sempre.
2. Do princpio de
inamissibilidade da graa deduz-se a
doutrina da
predestinao absoluta.
Deus, no seu conselho
eterno, predestinou unspara a
salvao e outros
para a con.
denao.
Ospredestinados
glria,
foram escolhidosdesde
toda a
eternidade e so
justificadossem atender aosseus
mritose ssuasobras.
Neste ponto a tese
calvinista est
em contradio
absoluta com a doutrina
catlica ( 1 ).
b) Pelo que diz respeito
ao valor dos
sacramentos (que
o
calvinismo reduz a dois;
o baptismo e a eucaristia) ao culto
e regra da f,
a doutrina de Calvino quase idntica de
Lutero,
c) H
tambm algumasdivergnciasacerca da
consti,
tuio da
Igreja visvel.
Esta, que no
se deve confundir
com a Igreja invisvel, isto 6, com o conjunto dospredesti-
nados,
uma democracia
em que ossacerdotes
so todos
iguais, e
delegadosdo povo.
A autoridade
eclesistica
independente do Estado
e compete ao
consistdrio formado
por seiseclesisticose
doze leigos( 2), que representam os
anciose osdiconosda primitiva Igreja. E neste ponto
sobretudo que
o calvinismo
se afasta da doutrina de Lutero,
A este sistema d-se o nome de
presbiterianismo,
360. C,
Estado actual. 0 calvinismo
propagou-se
principalmente na
Sua, na Frana,
na Alemanha, nosPases
Baixose na Esccia onde deu origem seita dos
puritanos,
que durante algum tempo psem perigo
o anglicanismo.
(1 ) A doutrina catlica admite tambm que uns so predestinados e outros no. .Porque,
os que (Deus) conheceu na sua prescincia tambm os predestinou
para serem conformes a imagem de seu
Filho, para que seja o primognito entre muitos
irmos. E os que predestinou a esses tambm chamou; e os que chamou tambm
os justificou, e os que justificou tambm os glorificou,, . (Rom., "VIII, 29.30).
O dogma catlico afirma que o homem dotado de livre arbtrio e quo o predestinado alcana a salvao, nosbmente
porque Deus o quer e lhe d a graa, mas porque ele prprio assim o
quer, trabalhando com Deus na sua salvao,
correspondendo graa
e juntando f as boas obras.
(2) C onvm advertir que depois de
C alvino o consistrio compe-se apenas de eclesisticos e
depende da autoridade civil.
,ohsiste ainda nosmesmos
pasese
penetrou nosEstados
onde tem poucosadeptos,
361.-3, O
Anglicanismo. A. Origem. A reforma
otestante irrompeu na Inglaterra pouco depoisde comear
o
I oieranismo na Alemanha.
Oshistoriadoresconsideram
o
heresiarca Wiclef (sculo XIV) como
o
precursor do anglica-
okmo. A tentativa abortou, masassuasideiasdeixaram nas
alumso
fermento da independncia
favorvel
ao cisma do
culo XVI, cujo autor foi Henrique VIII, Este rei, depois
ler
defendido a Igreja catlica, abandonou-a, despeitado
por no
ter conseguido de Clemente VII a anulao do matri-
ou'tio com Catarina de Arago.
Em 1534 obrigou a assembleia do clero
e asduasUni-
versidadesa subscrever uma
frmula,
em que se declarava
tole o Bispo de Roma no tinha maisautoridade na Ingla-
'elan que osoutrosbisposestrangeiros. Ao mesmo tempo
I
admitir a proposio que depoisde Cristo,
o Rei o
tinico chefe da Igreja. Apesar de separada da unidade
catlica, a Igreja da Inglaterra conservou a mesma doutrina
de antes, 0 cisma
s degenerou
em heresia
no reinado de
I';duardo VI, sucessor de Henrique VIII, Por instigaesde
C I<ANDIER,
foi redigida uma
profisso de f,
composta de 42
artigosextradosquase na ntegra
dasconfissesdosreforma-
dosda Alemanha (1553). No tempo da rainha Isabel (1563)
estes42 artigosforam refundidos
e
reduzidosa 39.
362. B.
Doutrina.
Toda a doutrina do anglicanismo
est
consignada nos 39
artigos da profisso de
f,
aprovados pelo
Snodo
de Londres, e no Livro da orao pblica
(common Prayer-book).
Contentar-nos-emos com expor os pontos principais da doutina dos
39 artigos,
1 . Os cinco primeiros expaem os dogmas catlicos da SS.ma Trin-
dade, da Incarnao e da Ressurreio.
2,
No sexto admite-se a Escritura como nica regra de f,
3,
Os artigos 9-1 8 reproduzem com bastante fidelidade a doutrina
de Lutero acerca da justificao s pela f. Ao
contrrio dos calvinis-
[as, ensinam que depois da justificao
possvel o pecado e a recon-
ciliao coat Deus,
4, Vein a seguir 4 artigos (1 9-22) relativos
Igreja; A Igreja
visvel a associao dos
fiis em que se prega a
genuna palavra de
Deus e se administram correctamente
os sacramentos. Tem o poder de
decretar ritos e
cerimnias, de decidir as
controvrsias
em matria de
428
INVESTIGAO
DA. VERDADEIRA
IGREJA
0 ANGLICANISMO
429
S
rn
430
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
f6, mas nada pode estabelecer contra a Escritura, Nenhuma igrejn,
sem exceptuar a romana,
infalvel,
A doutrina (art, 22) acerca do purgatrio, das
indulgncias,
do culto das imagens, das relquias
e da invocao dos santos deve rejeitar-se,
5. Nos nove artigos seguintes (23.31 ) expde-se a doutrina
cana a respeito do culto
e
dos sacramentos. Ningum pode exercer or
ministrios da Igreja sem ter sido escolhido pela autoridade competente,
Deve usar-se a lingua vulgar na orao pblica
e
na administrao dos sacramentos, Os dois sacramentos
o baptismo e
a ceia, foram ins- tituidos por Jesus Cristo,
e
so sinais eficazes da graa ; os outros cinco
no so verdadeiros sacramento& 0 baptismo sinal de regenerao;
introduz na Igreja, confirma a
f e
aumenta a graa. 0 baptismo das
crianas deve conservar-se.
e
A ceia do Senhor, diz
o
artigo 28, no sOmente sinal do amor
mtuo dos cristos
entre si, mas tambm
sacra-
mento da nossa redeno operada pela morte de Cristo. De modo que,
para os que nela tomam parte com f6, correcta
e
dignamente, o po quo
se reparte comunho do corpo de Cristo; da mesma forma
o clix de
bno comunho do sangue de Cristo. A transubstanciao no se
pode provar pelos livros santos, antes repugna As palavras da Escritura,
destri a natureza do sacramento
e
foi causa de muitas supersties, Na ceia o
corpo de Cristo
d-se,
recebe-se e
come-se apenas de um modo celeste e
espiritual. A f
o
meio pelo qual se
recebe e se come o
corpo de Cristo. O
sacramento da Eucaristia no foi institudo para
ser conservado, conduzido, exposto
e
adorado., A comunho sob ambas as espcies
necessria, 0 a
sacrificio da missa
fibula blasfema-
tria e
impostura perniciosa, pois a redeno consumou-se no sacrifcio
da cruz duma vez para
sempre,
6.
Nos artigos seguintes (32-34) permite-se
o
matrimnio dos bispos, dos sacerdotes
e dos diconos, e
declara-se que os excomungados devem ser evitados.
7.
0 artigo 38 condena as doutrinas comunistas de alguns ana-
baptistas ( 1 ), e no ltimo
permite-se o
juramento por justas causas,
363. C, Estado actual. Esta profisso de
f foi redigida com
o
fim de dar unidade Igreja anglicana, a qual
nunca se Ode realizar, apesar de todososcandidatosAs
ordenssacrasserem obrigadosa subscrev-la antesde rece-
ber o diaconado.
J no tempo da rainha Isabel, osangli-
canosestavam divididosem
confornzistas,
que seguiam ao
p da letra osritosdo Prayer-book,
e no-
conformistas
ou dissidentes,
que recusavam admitir osornamentos
e asceri-
mniassagradasem uso na Igreja catlica
e
prescritaspelo
(1 ) 0 anabaptismo a seita fundada
em 1 521 por Toms MUNZER. Tem
este nome porque
os seus
partidrios
defendem que no se devem
baptizai'
as crianas, ou ento,
que devem ser
rebaptizadas quando
chegarem ao
uso
da razo.
0 ANGLICANISMO
431
1'1.1)w-book, Imbuidosde doutrinascalvinistas, julgavam
quo. tomando parte nestascerimniascometiam actosde
iliolatria, considerando-ascomo afirmao da presena real
ilo sacrifcio da missa.
Actualmente a Igreja anglicana est ainda dividida em
Osrams: Igreja Alta, Baixa e Larga. a) A Igreja Alta
(1 ligh Church) considera-se como um dostrs ramosda
eja catlica.
Osoutrosdoisseriam a Igreja romana
e a
11!1 cja grega, 0 partido maisavanado da High Church
(llama-se ora pusesmo, por ter sido PUSEY um dospropagan-
illstasmaisactivasdo movimento de Oxford ( I), ora
ritua-
lIsmo,
porque, ao definir-se pelo ano de 1850, tendia a resta-
1)(..1ecer osprincipaisritosda Igreja romana, como a missa
cone assuascerimnias, o culto dossantose ate a confisso
auricular. Numa palavra, osritualistasadmitem quase todos
osdogmascatlicosexceptuado o da infalibilidade do Papa e
0 da Imaculada Conceio,
a) A Igreja Baixa (Low Church), tambm chamada
evanglica, propende para o calvinismo. Considera a Igreja
nglicana como instituio humana e atribui-lhe um valor
inteiramente relativo,
c) A Igreja Larga (Broad Church) s tem como dogma
essencial a f em JesusCristo, Aosseusadeptos
d-se
tambm o nome de latitudinrios e universalistas: 1, lati-
fudindrios, porque professam uma moral larga
e at rela-
xada,
em oposio ao fanatismo dospuritanos; 2.
univer-
salistas,
porque negam a eternidade daspenasdo inferno e
admitem que todososhomensse ho-de salvar
. Aproxi-
mam-se tambm da Igreja Larga osSocinianos e osUnit-
rios, que rejeitam o dogma da SS. Trindade e defendem que
a razo a nica norma na interpretao dasEscrituras( 2 ).
(1 ) 0 movimento de Oxford, que principiou por ocasio de um sermo
1 lo KEBLEpregado em 1 833, no se propagou sem violentos protestos da Igreja
oficial. Em 1 843, PUSEY foi suspenso das suas funes, e muitos dos seus
Itutigos como NEWMANe WARD, converteram-se ao catolicismo. Mais tarde
me 1 858 a reunio episcopal de Lambeth proibiu a confisso particular.
Na segunda reunio de Lambeth (1 899), os arcebispos de C anturia e de York
proibiram todas as cerimnias no prescritas no Prayer-book . O ritualismo
sobreviveu a esta condenao, mas o seu progresso tornou-se mais lento.
( 2) Alm destas Igrejas, poderamos citar muitas outras seitas inde-
pendentes: a) os Congregaeionalistas que rejeitam a autoridade dos B ispos e
dos Snodos, e afirmam que toda a Igreja local autnoma e independente.
Esta seita, pouco numerosa, existe principalmente nos Estados Unidos;
b) os Baptistas, que tm por invalido o baptismo das crianas e sq
! L
432
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA 433
O
PROTESTANTISMONOPOSSUI AS QUATRONOTAS
364. Observao.
Apesar da grande diversidade de
seitase doutrinas, osprotestantespodem dividir-se em dois
grupos; conservadores e liberais,
a) Osprotestantesconservadores ou ortodoxos so os
que 'se aproximam maisda ortodoxia catlicasadmitem a
maior parte dosdogmasrevelados, masrejeitam a consti-
tuio da Igreja descrita no captulo precedente,
b) Osprotestantesliberais
no diferem muito dosracio-
nalistas, Discpulosde KANT,
que proclama a autonomia da
razo, no admitem o sobrenatural e osdogmasrevelados.
Alguns, contudo, seguindo a
SCHLEIERMACHER(t 1834) e a
RITSCHL (t
1889), procuram suprir asdeficinciasda razo
por uma espcie de sentimento religioso e disposio moral,
com asquaispodemosatingir o Infinito e reconhecer o que
inspirado na Sagrada escritura, J tivemosocasio de falar
dassuasopinies, quando estudmosascaractersticasessen-
ciaisda Igreja.
2, OPROTESTANTISMONOPOSSUI AS NOTAS
DAVERDADEIRAIGREJA
365.
Fundadosno estudo precedente podemosfci l-
mente demonstrar que o protestantismo no possui asnotas
da verdadeira Igreja.
1, 0
0 protestantismo no possui a santidade.a)
No
santo nos seus princpios.
Asdoutrinasfundamentaisdo
luteranismo e do calvinismo
a justificao pela f, a inuti-
lidade das boas obras, a negao do livre arbtrio e a predes-
tinao absolutadestroem
osprincpiosda moral. De facto,
se a f basta para nosjustificar, se asboasobrasno so
admitem o baptismo dos adultos por imerso. Est espalhada na Inglaterra
e nos Estados Unidos;
c) os Metodistas ou Wesleyanos (de WESLEY, seu fundador), que seguem
as doutrinas da Igreja anglicana, excepto no que respeita justificao.
Fundaram as suas associaces com o fim de avivar a f e converter as almas
com pregaes comoventes. Esta seita conta uns 20 milhes de adeptos
disseminados por toda a Inglaterra e territrios britnicos e pelos Estados
Unidos
d) O Exrcito da S alvao,
que tem organizao inteiramente militar, e
proeura, ainda mais que os Metodistas, comover as almas e excitar o entu-
siasmo por meio de pregaes sentimentais e afectivas, ;
necessrias, se ospredestinadospodem cometer todosos
cri-
mes contanto que tenham f, se a justificao
inamissvel,
iiM> h distino alguma entre a virtude e o vicio, 0 homem
ono responsvel, porque
Deusquem faz em nso mal
e o bem como escreveu
LUTEROno livro do Escravo
ni btrio , e
assim como nossalva sem merecimento algum
da nossa parte, assim tambm noscondena sem culpa nossa,
Como
consequncia destesprincpios, Lutero e Calvino rejei-
taram a penitncia, a abnegao e osconselhosevanglicos
como inteise contrrios natureza. Deste modo, suprimem
osmeiosmaiseficazesde santificao e secam a fonte das
virtudessuperiorese hericas,
b) No santo nos seus membros, -=-1, Primeiramente
o protestantismo no pode apelar para
a santidade dos fun-
dadores,
Lutero, Calvino e Henrique VIII no foram certa-
mente modelosde virtude; quem ousar afirmar que pra-
licaram ao menosasvirtudesordinrias? Propriamente
nenhum protestante poder censurar a Lutero o orgulho e a
sensualidade, a Calvino o esprito vingativo e cruel, a Hen-
rihlue VIII osadultriose asdevassides, poiso seu proce-
dimento era conforme com a sua doutrinasPeca fortemente,
iu.iscr maisfortemente ainda,
2, 0 protestantismo ser ao menos
santo nos outros
membros?
E questo muito delicada comparar o conjunto
dasvirtudesde duassociedades, se no rivais, pelo menos
divergentes. Concedemossem dificuldade que h entre
algunsprotestantesum nvel moral bastante elevado, vir-
tudessuperiorese por vezesat hericas, Actualmente,
algumasseitasprotestantesaconselham at a prtica das
obrasno preceituadase instauram de novo a vida religiosa (
1 ),
Mas, se assim , e far-nos-o a justia de que no hesita-
mosem reconhec-lo, por falta de lgica; precisamente
Forque osprotestantesno aplicam osprincpiosdosseus
I n ndadores, E isto basta para condenar o sistema e a Igreja
ilne o professa,
366, 2.
O protestantismo no tem a unidade.
(1 ) Podem citar-se na Alemanha congregaes de diaconisas e, na
Inglaterra alguns mosteiros institudos, segundo o modelo catlico.
28
11^
434INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
0 PROTESTANTISMONOPOSSUI AS QUATRONOTAS435
A unidade a subordinao de todososfiis mesma
hierarquia e ao mesmo magistrio (n, 349), Como poder
o protestantismo possuir esta nota, se um agregado
de seitasdiscordantes? Podemos, contudo, reuni-lasem
doisgrupos; asIgrejasno-episcopalianase asepiscopa-
lianas,
a) Nasprimeirasno pode haver subordinao dos
fiis hierarquia, porque esta no existe : osministrose os
fiisso todosiguais, Por conseguinte, no possvel
assegurar a unidade do culto, da disciplina e muito menos
a da f,
b) Assegundas, que reconhecem uma autoridade cons-
tituda, podem na prtica aparentar uma certa unidade, Mas
esta unidade necessriamente superficial, por ser contrria
teoria do livre exame, que foi sempre um dosprincpios
essenciaisda doutrina protestante,
Se no h unidade de governo, tambm no pode haver
unidade de f. Osprpriosfundadoresno concordam
entre si. Calvino faz sua a doutrina de Lutero, masmodi-
fica-a em pontosessenciais(n. 359), Osanglicanosacei-
tam osprincpiosde Lutero e Calvino, masconservam o
episcopado rejeitado por ambososheresiarcas, E, apesar
de terem conservado o episcopado e com ele a hierarquia,
causa da unidade, quantasvariaes, lutase divergnciasno
seio do anglicanismo ! Ao passo que a Igreja Alta se apro-
xima do catolicismo, a ponto de nosdar por vezesa iluso
de se confundir com ele no campo da doutrina e do culto (I ),
a Igreja Larga vai ao extremo oposto e cai no racionalismo
e na incredulidade,
(1 ) 1 lTuitos ritualistas entendem que necessrio um centro parei
assegurar a unidade e, por isso, no hesitam em voltar-se para Roma conto
o centro mais indicado. Para testemunho bastam estas palavras de Lord
H ALIFAX, presidente duma associao ritualista, num discurso pronunciado
em B ristol, a 1 4 de Fevereiro de 1 895: Outrora havia uma s igreja, e Roma
era o smbolo e o centro dessa Igreja e dessa unidade... A beleza do espect-
culo que apresentaria a Igreja do Ocidente reunida mais uma vez, a desama-
Tio do cisma e a paz reinando de novo entre todos os seus membros devo ut
fazer-nos suspirar pelo dia em que a Igreja da Inglaterra, a nossa prpria
igreja, que todos ns amamos, estabelea de novo a unio pelos vnculos
da comunho visvel com a Santa S e com todas as Igrejas do Ocidente .,
Nos ltimos anos tem-se esboado entre os protestantes um movimento cot
favor da unidade, mas geralmente em bases inaceitveis para os catlicos,
por pretenderem mais uma federao do que uma subordinao Igreja do
Roma e ao Sumo Pontfice.
367. 3, O protestantismo no possui a catoli-
cidade. A catolicidade supe a unidade (n, 352), por
conseguinte, onde no existir esta, tambm no pode existir
;ui (Iela,
a) Asigrejasno-episcopalianas abrangem tantasseitas
quantasse queiram, porque no h lao algum que asuna.
b) Asigrejasepiscopalianas tm um campo maisres-
trito, mas, pelo facto de reconhecerem o chefe do Estado
como autoridade suprema, no podem ultrapassar oslimites
de um pas. Por isso temosasigrejasluteranasda Sucia,
da Noruega,, da Dinamarca e a igreja anglicana circunscrita
Asregiesde domnio e influncia britnicas,
Podemos, portanto, afirmar que o protestantismo no
tem catolicidade de facto, que compreende a totalidade dos
homens, nem catolicidade de direito. Nenhuma dasseitas
(n otestantesnem todasjuntastm tantosadeptoscomo a
Igreja romana, Masainda que fosse verdadeira a hiptese
contrria, o protestantismo no podia reivindicar a catolici-
dade relativa, poisque no se trataria da difuso da mesma
sociedade visvel.
368. 4. 0 protestantismo no tem a apostolici-
dade: a) De direito. Considerando sbmente osprincpios
do protestantismo, o problema da apostolicidade no existe,
porque ostelogosprotestantesso unnimesem sustentar
que a Igreja invisvel, que JesusCristo no constituiu
nenhuma hierarquia perptua e que a autoridade da Igreja
visvel, se existe, de origem humana,
b) De facto, tambm no a possui ; porque asigrejas
no-episcopalianas, no tendo episcopado, tambm no podem
ter sucesso apostlica e, por conseguinte, osseuspastores
no derivam dosApstolos, Nasigrejasepiscopalianas, porm,
o caso muda de aspecto, porque possuem sriesininterruptas
de .bispos, Devemos, portanto, indagar se a sucesso dosseus
bisposfoi legtima ou no.
Para que a sucesso seja legtima preciso que o titular,
que toma o lugar do antecessor, receba o poder em nome do
mesmo princpio, Ora osbisposda Reforma no obtiveram
o poder em nome do mesmo princpio que osbisposante-
riores, Estesexerciam a sua autoridade na qualidade de
436INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
sucessoresdosApstolose em virtude dospoderesconferidos
por JesusCristo sua Igreja ; aquelesexercem o poder a
ttulo de delegadosdo Rei ou do Parlamento. No h, por-
tanto, continuidade entre a hierarquia anterior e a posterior
Reforma. Asucesso apostlica acabou para a Igreja pro-
testante no sculo XVI; houve sem dvida sucesso, mas
irregular. No houve sucesso apostlica.
Art, III, Aplicava dasnotas Igreja grega.
Dividiremostambm este artigo em doispargrafos,
No primeiro apresentaremosalgumasnoes preliminares, e
no segundo demonstraremosque a Igreja grega no tem as
notas da verdadeira Igreja.
1, NoEsPRELIMINARES ACERCADAIGREJAGREGA,
369.L Definio.Sob a designao de Igreja grega
compreenderemostodasasIgrejasque se separaram defini-
tivamente de Roma depoisdo cisma iniciado por Fcio no
sculo IX e consumado no sculo XI por Miguel Cerulrio,
Oscatlicoscostumam design-lascom o nome de Igreja
grega cismtica. Elaschamam- se a si mesmasIgreja
ortodoxa e so tambm conhecidaspelosnomesde Igreja
oriental, greco-russa, ou greco-eslava e Igrejasautocfalas
ou independentes, Deveriam chamar-se maisexactamente
Igrejas foclanas, por terem nascido do cisma de Fcio,
370, II, Ocisma grego. A. Causasdo cisma.
Sao muitasascausas, quer gerais, quer particularesa que
se costuma atribuir a origem do cisma grego,
a) Causa geral. Oshistoriadoresjulgam que o anta-
gonismo de raa entre osOrientaise osOcidentaisfoi uma
dascausasmaisimportantesque prepararam o cisma grego.
A unidade do poder civil e da autoridade religiosa, que era
para osdoispovosocasio de relaesmaisntimas, s
conseguira fomentar a antipatia mtua, em vez de a
atenuar,
APLICAODAS NOTAS AIGREJAGREGA437
b) Causasparticulares. Citaremosapenasasduas
principais; a ingerncia do poder civil nosnegcioseclesids-
ticose a ambio dosbisposde Constantinopla,
1, Ingerncia do poder civil. Por maisestranho que
o facto possa parecer, necessrio ir procurar o germe do
cisma grego na converso de Constantino, A mudana de
religio, quando influenciada pelo sentimento e, sobretudo,
pelo interesse politico, no leva necessriamente consigo a
evoluo dasideias, Osimperadorespagos, aderindo
nova doutrina, conservaram no ntimo, quase inconsciente-
mente, ospreconceitos, oshbitose oscostumespassados.
Ora, uma dasideiasmaisgenuinamente pagsera o precon-
ceito que ospoderes, civil e espiritual, deviam residir na
mesma pessoa ou, ao menos, que o poder espiritual devia
estar completamente subordinado ao poder civil, No admira,
pois, que osimperadoresse fizessem ao mesmo tempo pro-
tectorese senhoresdo cristianismo . Constantino certamente
n o pretendeu desempenhar asfunesde papa, mastomou
o ttulo de bispo do exterior e atribuiu-se funesque com-
petiam exclusivamente autoridade religiosa, como so as
de convocar, presidir e confirmar osconclios, perseguir os
herejese fiscalizar aseleiesepiscopais. Donde fhcilmente
se pode compreender a influncia que osimperadorespodiam
exercer tanto para a unio como para o cisma,
2, Ambio dos Bispos de Constantinopla. Quando
o imperador CONSTANTINO, depoisde veneer LICNIO(323)
transferiu a corte para Bizncio, que desde ento passou a
chamar-se Constantinopla, a ambio dosbisposda nova
residncia imperial ultrapassou todososlimites, Em 381,
cnon 3,' do conclio de Constantinopla decretava que
o bispo de Constantinopla devia ter preeminncia de honra
logo apso Bispo de Roma, porque Constantinopla era a
nova Roma ,
Maistarde (451), o canon 28. do conclio da Calce-
dnia afirmava de novo o mesmo princpio, proclamando que
no era sem motivo que osPadrestinham concedido a
preeminncia s da antiga Roma, por ser a cidade impe-
rial, OsPapasrepetidasvezesprotestaram, no prbpria-
mente contra a pretenso dosbisposde Constantinopla a
DOUTRINADAIGREJAGREGA439
certa preeminncia, mascontra o princpio aduzido, porque,
como notava o papa S. LEO, no a importncia da cidade
que eleva a categoria da Igreja, massOmente a sua origem
apostlica, isto , a sua fundao pelosApstolos, Se esse
princpio se houvesse de aplicar, Roma, que depoisda inva-
so dosbrbaros, tinha perdido o senado e osimperadores,
j no poderia reclamar o primeiro lugar.
Apesar da resistncia dosPapas, o canon 28. do con-
cilio de Calcednia foi sancionado pela autoridade civil e
pelo conclio inTrullo, em 692 ( I). Segundo este princpio,
osBisposde Constantinopla tomaram primeiro o ttulo de
patriarcas, depoisarrogaram-se o poder sobre todososBispos
do Oriente e, pelosfinsdo sculo VI Joo IV, o jejuador,
intitulou-se patriarca ecumnico,
Ospatriarcas, sempre
apoiadospelosimperadores, procederam como verdadeiros
papasdo oriente e em breve tornaram-se rivaisdo Bispo de
Roma,
371. B. Autoresdo cisma. 0 cisma, preparado
durante vriossculosde discrdias, teve por autoresos
doispatriarcas, Fcio e Miguel Cerulrio.
a) Hicio. Era ainda leigo quando foi chamado para
substituir o patriarca Incio, exilado pelo regente Bardas
para a ilha de Terebinto. Depoisde ordenado, foi sagrado
pelo bispo interdito, Gregrio Asbesta e tomou posse duma
sede no vacante, cujo predecessor no queria de modo
algum deixar-se esbulhar pela fora, Apesar da nulidade
desta promoo, Fcio esforou-se por obter a confirmao
do papa. No o tendo conseguido, soube com astcia ladear
a dificuldade, Em vez de ir de encontro autoridade pon-
tificia e atacar de frente o primado romano, ento de
todosto reconhecido que no podia ser seriamente contes-
tado, mudou de tctica e, desviando a questo para outro
(1 ) C hama-se conclio inTrullo por se ter reunido numa sala do paul.
cio imperial em C onstantinopla, designada pelo nome de Trullus ou Trullum
(palavra que significa domo ou cpula). Este concilio chama-se tambm
quinisexto, pois teve por fim completar as decises do V e VI concilio ecumiS-
nico acerca de vrios pontos da disciplina. Quinisexto vem de duas palavras
latinas quini, cinco e sextus, sexto.
campo, proclamou que ospapaseram herejespor terem
dmitido a adio da palavra Filioque ao smbolo de Niceia,
b) Miguel Cerulrio. A controvrsia acerca da pala-
v ra Filioque encontrou osnimosdemasiado indiferentespara
poder provocar um rompimento completo e definitivo entre
Orientaise Ocidentais. A reconciliao, depoisda morte
de Fcio, foi relativamente fcil e durou com maior ou
menor estabilidade ate 1054, ano em que Miguel Cerulrio
consumou o cisma. Dotado de ambio sem limitese de
energia invulgar, desde o momento em que subiu ao trono
patriarcal (1043), s aspirava a concentrar todosospoderes
nassuasmos, ou melhor, a subordinar sua autoridade
suprema o papa e o prprio imperador .
Como a controvrsia doutrinal do Filioque despertava
pouco interesse, levou a discusso para um campo maisapto
para apaixonar asmassaspopularese levant-lascontra o
papa e contra a Igreja latina, Fingiu ignorar o primado do
I3ispo de Roma e acusou oslatinosde judaizantes, alegando
que empregavam o po Limo na Eucaristia e que jejuavam
ao sbado, Depois, passando daspalavrassobras, exigiu
que osclrigose mongeslatinosseguissem oscostumes
gregos.
Como recusassem obedecer-lhe, anatematizou-ose
mandou fechar-lhesasigrejas. Interveio ento o papa Leo IX
que hbilmente p6sa questo no seu verdadeiro aspecto, o
da primazia do Bispo de Roma.
Mandou legadosa Miguel Cerulrio a fim de chegar a
acordo ; mas, nada conseguindo, voltaram para Roma deixando
sobre o altar de S. Sofia a bula, pela qual eram excomunga-
doso patriarca e osseusadeptos(1054). Infelizmente a
ex comunho veio apressar ainda maiso triunfo de Ceruldrio.
Convocou imediatamente um snodo de doze metropolitase
doisarcebispos, que excomungaram tambm osOcidentais
sob pretexto de terem adicionado a palavra Filioque ao Sm-
bolo, de ensinarem que o Espirito Santo procedia do Pai e
do Filho e de empregarem po zimo na celebrao da Euca-
ristia.
372. III, Doutrina. Indiquemosospontosessen-
ciaisde divergncia entre a Igreja grega e a romana,
438INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
um
DOUTRINADAIGREJAGREGA
Itspessoascom sade,
a fim de as
dispor para a Comunho;
no passo que a Igreja russa s a confere a pessoasgrave-
mente enfermas,
A Ordem no
imprime carcter indelvel. Portanto, a
deposio priva do carcter sacerdotal osclrigosdepostos,
tuabilitando-ospara exercer
validamente
quaisquer funes
eclesisticas, 0
consentimento mtuo dosesposos, segundo
ostelogosortodoxos, constitui a matria do sacramento do
Matrimnio;
a bno sacerdotal a forma e o sacerdote o
ministro deste sacramento, Alm disso, o direito cannico
oriental admite numerososcasosde ruptura do vnculo matri-
monial,
e) Acerca da questo da Igreja,
ostelogosgregos
defendem que a verdadeira Igreja o conjunto dasigrejas
nacionaisautnomas, que reconhecem J. Cristo, como nico
chefe, Em direito, osBisposso iguaisaosApstolos,
De
facto, e de instituio eclesistica, esto sujeitosaos
metropolitas, e estes, aos
patriarcas.
0 primado no existe,
Nosso Senhor concedeu apenasa S, Pedro a simples
prece-
dncia
de honra, transmitida primeiro ao Bispo de Roma e
depoisao de Constantinopla, A Igreja docente
infalvel,
mas
o sujeito da infalibilidade semente o corpo episcopal,
isto , os
bispos tomados colectivamente.
B ,
Sob o ponto de vista disciplinar e litrgico,
h
numerosasdivergnciasentre asigrejasgrega e latina. As
principaisso
a)
Ainda que osbisposso sempre escolhidosentre
Ossacerdotescelibatrios, todavia a Igreja grega admite que
ospadrespossam contrair matrimnio,
b)
Osgregosobservam jejunsrigorososdurante a
quaresma e nasvsperasdasfestasprincipais.
c)
A Igreja grega baptiza por imerso, e no admite a
validade do baptismo por infuso, Rejeita o po zimo na
confeco da Eucaristia e a comunho dosleigossob uma
s espcie, e d a comunho scrianassem o uso da razo.
Condena a celebrao dasmissasrezadase declara que a
transubstanciao do po e do vinho no corpo e sangue do
Senhor se realiza, no quando se proferem aspalavrasda
consagrao, masna epiclese (invocao do Esprito Santo),
441
li
440
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
A,
Quanto ao dogma, todos
ostelogosda Igreja
grega reconhecem como regra de f asdefiniesdossete
primeirosconcliosecumnicosat ao de Niceia reunido
em 787,
a)
A Igreja grega est, pois, de acordo com a Igreja
romana no que diz respeito aosmistriosda
SS. Trindade,
da Incarnao e da Redeno, ao culto da SS. Virgem, dos
santos e dasimagens, e aos
sete sacramentos,
com excepo
de algumasparticularidadesde que depoisfalaremos, Con-
tudo, a respeito do Mistrio da SS, Trindade, ensina que o
Esprito Santo procede semente do Pai e censura osLatinos
por terem ajuntado a palavra
Filioque
ao Smbolo de Niceia,
b) No admite o dogma da
Imaculada Conceio e
sustenta que a SS, Virgem nasceu em pecado original, de
que s ficou livre no momento da Anunciao,
c)
Tambm rejeita o dogma do
purgatrio. Osque
morrem antesde expiar toda a pena devida aospecadospas-
sam pelo inferno donde sairo pela misericrdia divina, em
ateno ao santo Sacrifcio da Missa e sboasobrasdos
vivos,
d)
Osgregoscismticos, apesar de admitirem ossete
Sacramentos, defendem em muitospontosdoutrinascontrrias
ao dogma catlico, Ensinam, por exemplo, que se devem
rebaptizar osque receberam o baptismo dosheterodoxos,
e
do de novo a confirmao aosapstatasconvertidos, ainda
que no esto de acordo entre si, acerca doscasosque cons-
tituem apostasia. Para
a Igreja russa so apstatasosque
passaram do cristianismo ao judasmo, ao maometismo e ao
paganismo; para a Igreja do
Fanar (1 ) tambm so apstatas
osque abraam o catolicismo.
A propsito do
sacramento da Penitncia,
afirmam os
gregosque a absolvio perdoa no semente a pena eterna,
mastambm a temporal, Por conseguinte, a penitncia
imposta pelo confessor
apenascorreccional. Asindulgn-
cias
no tm razo de ser e so
at nocivas, por serem causa
de relaxamento na vida
crist, ..
Conforme a Igreja grega,
prpriamente dita, deve conferir-se a
Extrema- Uno, mesmo
(1 ) Igreja do Fanar designa o patriarcado grego.
Fanar um bairro
de C onstantinopla onde est o farol (fanar).
ii
443
442
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
que vem depoisda consagrao, Seguem, em grande
parte, osritose cerimniasda antiga liturgia oriental dos
sculosIV e V,
373. IV, Estado actual. Ocisma grego propagou-se pela
Turquia europeia, Grcia, ilhas do Arquiplago, Rssia, parte da
Polnia e da Hungria e pela sia Menor, Segundo a lngua litrgica,
a Igreja grega divide-se em quatro grupos:
a) 0 grego puro, com
trs centros autnomos: o patriarcado de Constantinopla, a Igreja da
Grcia e o arcebispado de Chipre;
b) 0 grego- rabe, com os
patriarcados de Antioquia, de Jerusalm, de Alexandria e o arcebispado
do Sinai; c) 0 eslavo, com
a Igreja russa (75 milhes de fiis),
a Igreja blgara e a Igreja srvia governada por um snodo de bispos a
que preside o arcebispo de Belgrado;
d) 0 romeno, com oito
bispos, dois dos quais, o de Bucareste e o de Jassy,so metropolitas
e a Igreja romena da Transilvnia, Ao todo, 1 1 0 milhes de ortodoxos.
Desde a ciso provocada por Miguel Cerulrio at ao sculo XV,
no se fizeram menos de vinte tentativas para reconduzir a Igreja grega
unidade catlica, mas tudo foi intil, Apesar disso GREGRIOXIII
1 1 0
sculo XVItentou de novo a empresa fundando em Roma o colgio grego
de S. Atansio, para a formao do clero grego catlico, No sculo XVII,
GREG6RIOXV fundou a
Sagrada Congregao da Propaganda para so
ocupar especialmente dos gregos separados, No sculo XIX, Pro IX
(1 848 e 1 870) e LEA()
XIII (1 894) dirigiram Igreja cismtica calorosos
apelos, mas no foram escutados. No sculo XX, BENTOXV criou a
S. Congregao das Igrejas Orientais
(n. 406), qual confiou a
misso da S, C. da Propaganda. Os papas posteriores tm feito nume-
rosas tentativas para aproximarem a Igreja grega de Roma.
u No com Roma, mas com a Igreja protestante que desde o
sculo XVI os gregos retomam as eternas tentativas de unio, alis
sempre infrutferas. Na primeira metade do sculo XVII, o calvinismo,
devido aos esforos de CIRILOLvcAR, esteve a ponto de se implantar nn
Igreja grega, Nos comeos do sculo XVIII, a seita anglicana dos
lido-furadores (1 )
tentou intilmente aproximar-se da Igreja do Fanar
e da Igreja russa. Depois de 1 867, reataram-se as relaes amigveis,
preparatrias da unio, entre os Anglicanos e os Ortodoxos, aos
quais vieram juntar-se, para aumentar as desinteligncias, os Catlicos-
-Velhos (2) de Dllinger, Herzog e Michaud n 0).
As actuais convulses da Rssia, a crise gravssima do bolchevismo
APLICAODAS NOTAS IGREJAGREGA
que sacode a sociedade at aos fundamentos, no nos permitem fazer
prognsticos acerca do futuro religioso daquelas vastas regies, Pode ser
que a prova, por que esto passando, seja o caminho que a Providncia
tr; colheu para conduzir as ovelhas tresmalhadas ao redil da ortodoxia.
374. Advertncias. 1 , Ademais da Igreja grega, de que
unicamente falmos at aqui, as
Igrejas separadas do Oriente
com-
preendem: a) A Igreja copia
( Alto e Mdio Egipto), governada
pelo patriarca de Alexandria, e o metropolita da Abissnia;
b) a Igreja
armnia
dirigida por patriarcas e bispos c) a Igreja caldeia (Mesa-
potdmia) ; e d) a Igreja jacobita (Sria e Mesopotamia ).
Estas igrejas, alis de pouca importncia, pois todas juntas contam
poucos milhes de adeptos, seguem a heresia de Nestrio que nega a
unidade da pessoa em Cristo, ou a de Eutiques que afirma a unidade
de natureza.
2, Ainda que os esforos dos Papas tenham sido infrutferos
iro que respeita ao conjunto das Igrejas separadas, contudo foram
coroados de xito relativamente a algumas comunidades designadas
com o nome de Uniatas (1 ). Chamam-se uniatas
as comunidades de
gregos, de monofisitas e de nestorianos que aceitaram o primado do
I' apa. H entre eles
gregos-unidos, caldeus-unidos, copias-unidos,
siro-malabares unidos,
etc.. A Santa S permitiu-lhes que conser-
vassem as suas liturgias nacionais e a sua disciplina que, entre outros
costumes, permite o matrimnio dos sacerdotes.
2, A IGREJA GREGA NO POSSUI AS NOTAS
DA VERDADEIRA IGREJA,
375.Osapologistascatlicosno esto de acordo acerca
da aplicao dasnotas Igreja grega, a) Alguns(PAL-
MIERI, URBAN), julgando que a Igreja grega no carece com-
pletamente dasquatro notas, so de parecer que a demons-
trao da verdadeira Igreja se prova melhor com argumentos
directos, que estabelecem a instituio divina do primado
romano ( Cap. prec.) b)
Outrospensam que a Igreja grega
no tem asquatro notase que na demonstrao da verda-
deira Igreja pode seguir-se esta via, Exponhamoso mtodo
destesltimos,
1,
A Igreja grega ngo possui a santidade.
a) A Igreja grega possui a
santidade dos princpios, pois
(1 ) 0 movimento das converses ao catolicismo comeou a acentuar-se
quando, depois da guerra da Mandchria, o czar
NieoLAUII publicou um
ucasse, em que se concedia aos russos licena de passar da religio
ortodoxa a outras confisses crists ,
(1 )
Quando JORGE I, eleitor de H anver, sucedeu a Ana Stuart
nu
trono da Inglaterra (1 71 4), muitos membros do clero recusaram prestar
juramento nova dinastia. Dai o nome de
nao -furadores.
(2) C hamam-se Catlicos -Velhos os dissidentes da Alemanha e da Suia
que se recusaram a admitir as decises do conclio do Vaticano (1 8700
acerca da infalibilidade do Papa e constituram uma Igreja particular, r
p in
pretende conservar a f da Igreja Antiga, Os seus membros, em nmero dn
30 mil ao comeo, pouco alimentaram, tanto na Alemanha como na Austria,
(3) JUGIE, art. grecque (glise) Dic. d'Als. As duas notas, que pra-
cedem, no so do texto citado.
445
INVESTIGAODA VERDADEIRAIGREJA
conserva ao menosospontosessenciaisda doutrina
e dal
instituiesda Igreja primitiva,
b)
Seri tambm santa nosseus
membros? Nosfun.
dadores certamente que no o , Fcio e Miguel Ceruldrio
tornaram-se maisinsignespela sua ambio do que pela pie-
dade e virtudes. Quanto santidade dosmembros em geral,
no se pode afirmar que brilhe com grande esplendor. Apesar
da existncia
de ordensreligiosas, asobrasde apostolado a
de caridade so muito rams.
Asigrejasorientaiscanonizaram,
certo, algunsdos
membros, masnosprocessosde canonizao no se fizera in
inquritosrigorososacerca da heroicidade dasvirtudes, new
se exigiram milagresprOpriamente ditos, Ordinhriamen to
contentam-se com algunssinaisexternos, como por exemplo,
a conservao do corpo.
E, ainda que se tratasse de mi 'o-
gresautnticos, deveria demonstrar-se que foram feitospail'
provar a verdade da sua doutrina e no sOmente para recoil).
pensar osmritose a vida santa de homensvirtuosos,
376. 2, A
Igreja grega no possui a unidade,
A unidade, isto , a subordinao de todososfiis mesmit
autoridade suprema e ao mesmo magistrio (n. 349) iio
pode existir na Igreja grega, Afirmam que a autoridatle
infalvel pertence ao conclio
ecumnico, masesse rgo es(a
atrofiado entre elesdesde o sculo VIII. Se houvesse neces-
sidade de reunir todososBisposOrientaisdasdiferentes
Igrejasde que falmos, a sua convocao seria impossvel,
E
maisimpossvel ainda seria obter a adeso dosOcidentais,
tanto da Igreja romana como dasconfissesprotestantes,
377. 3.
A Igreja grega no tem a catolicidade.
No possuia) a catolicidade de facto, o que eviden to;
b) nem a catolicidade de direito.
Cada uma dasIgrejas
gregasindependentesno ultrapassa oslimitesdo seu pais
.
No h lao algum de unio entre asIgrejasautocfalas,
A Igreja russa, a maisimportante entre elaspelo mimero
dosseusmembros, uma Igreja nacional administrada pelo
Santo Snodo, e
que at hi, pouco dependia inteiramente do
czar, A Igreja da Grcia tambm no est unida ao patriar.
cado de Constantinopla, de
modo que a ambio dosBispos
APLICAO
DAS NOTAS AIGREJA ROMANA
do
Fanar teve como resultado a pulverizao de numerosas
loejas, no somente separadasde Roma, massem lao
Alum de unio entre elas
. E
ainda que todasformassem
Iona s Igreja, no possuiriam a catolicidade relativa
e moral,
pois
esto circunscritasao Oriente,
378. 4, A
Igreja grega nio possui a apostolici-
dude.
A Igreja grega possui aparentemente sucesso con-
ima na hierarquia desde
o
tempo apostlico.
Em particular,
lia Igreja
russa, osBisposexercem
o episcopado a
ttulo de
cessores dos Apstolos.
Devemos, portanto, inquirir se
csse ttulo
autntico e
se a continuidade material
sucesso
legitima.
Para isso requer-se, como antesvimos, que a nota de
apostolicidade seja garantida pelasoutrasnotasespecialmente
pela unidade e
pela catolicidade, Ora, a Igreja grega no
possui
estasduas, como acabmosde ver ;
logo,
tambm no
possui aquela.
Podemos, pois, concluir que a sua apostoli-
cidade, materialmente continua, no
sucesso legtima e
que, embora possua
o
poder de ordem, carece do poder de
pirisdio.
Ai t, IV, ---
Aplicavao
das notas Igreja romana.
379. A
Igreja romana,
assim denominada porque reco
ollece como chefe supremo o Bispo de Roma,
o Papa, possui
as
quatro notasda verdadeira
Igreja.
1. A
Igreja romana
santa.
santa nos seus
principios .
Uma vez que fazemosa
aplicao comparativa
(lasnotasda verdadeira Igreja s
diversasconfisses
crists,
viria
aqui a propsito estabelecer um paralelo entre ospontos
doutrinais em que o
protestantismo
e o cisma grego divergem
do catolicismo. Como este trabalho j est feito, no insisti-
remosmais.
Recordemos,
porm, que a Igreja
romana, ao contrrio do
protestantismo, ensina que, para a justificao, se requer, no
sbmente
a f mastambm
o exerccio
dasobras.
Alm disso,
no se limita a exigir dosfiisa observncia
dostuandamen-
444
I I
11
i mi
446
INVESTIGAO
DA
VERDADEIRAIGREJA APLICAODAS NOTAS AIGREJAROMANA
447
' ,r1 1
I
1
tos
e o exerccio
dasvirtudes
comuns, 0
seu ideal mai
elevado, recomenda asvirtudessuperiores
e at asvirtude
hericas.
Em todosostempos
favoreceu a instituio d
numerosasOrdensreligiosas, onde asalmasde escol tendem
pela
contemplao,
pelasobrasde caridade
e pela prtica
dosconselhosevanglicos, ao maiselevado
grau do amor do
Deus, ao que chamamos
a
perfeio crista' (1 ), E mesmo
fora dosinstitutosreligiosos
h muitos
fiisque tendem de
facto
perfeio crist,
b) E santa nos seus
membros.
No nosso intento
afirmar que tudo
perfeito nos
membrosda igreja catlica,
que nunca houve faltasno seio da Igreja
e que todasaspgi-
nasda sua
histria so
imaculadas,
J antesdissemoso
contrrio
(
, 0 354), No
temos,
portanto,
dificuldade ein
reconhecer que a santidade da
Igreja
nem sempre faz
santos
osindivduos,
Se houve pocas
em que muitos
membrosdo
clero,
sacerdotes, Bispose at Papas,
bem como simples
fiisno tinham
costumes
conformes
com o
ideal de Cristo,
que deveremosdai concluir,
seno que osinstrumentos
de
que Deusse serve,
so instrumentos
humanos, e que a Igreja,
apesar da fraqueza dosinstrumentos,
obra divina ?
Contudo a crtica,
se quiser ser
imparcial, deve ir mais
longe no seu estudo
consciencioso ; porque
smente poder
fazer ideia justa de uma sociedade, se a
considerar no sea
conjunto e a seguir em todo o
curso da sua
existncia.
Ora,
todo o homem
de boa f deve admitir
que houve sempre
na Igreja, ainda nas
pocas
maisperturbadasda sua
histria,
uma exuberante
florao de santos.
Basta abrir
o martirol-
gio,
onde encontraremososmaisdiversos
e osmaisilustres
nomesda histria
da humanidade, Ao
lado_ de ascetasinti-
meros, que
renunciaram a todosos
bensterrenose se consa-
graram
vida
contemplativa e sobras
de beneficncia,
encontraremos
osleigos,
asvirtudes
hericasno so
privilgio exclusivo
de um gnero de
vida, que passaram
no mundo uma vida austera
e santa. Todoselespusera
em prtica
a doutrina
ensinada pela Igreja
e obedeceram ao
chamamento
de J. Cristo,
(1 ) V. Doutrina catlica no 306 e seg.
380.A Igreja romana una. A Igreja romana
possui a unidade ;
a) de governo.
Posto que haja muitas
I arejas
locais, dotadasde uma certa autonomia, a unidade de
overno est assegurada pela obedincia dosfiisaosBispos
e
ao Papa ao qual estesesto sujeitos,
b) de f,
Da unidade de governo deriva a unidade de
f. Um dosprincpios
maisacatadospelosseus
sbditos
a obrigao rigorosa que todostm de se submeter autori-
dade infalvel
do corpo docente.
Segundo este
princpio, a
Igreja
romana lana fora de si todosaquelesque abandonam
a f
pela heresia, ou que se subtraem sua disciplina pelo
cisma.
Todososseusmembrosprofessam a mesma
f,
admitem osmesmossacramentos
e
tomam parte no mesmo
culto,
A unidade de f no exclui
as discusses teolgicas
acerca de pontosdoutrinaisainda no definidos(
1 ), nem as
divergncias acidentais dos
cnones disciplinares ou dosritos
litrgicosque podem ser preceituadosconforme asconve-
ninciasespeciaisdos'Daises, dasraas
e dostempos,
381. 3,0 A igreja romana
catlica. Certamente
que a Igreja romana ainda no
catlica de facto; masnem
preciso que o seja, como antesvimos. Todavia catlica
lie direito, visto que todostm
obrigao
de entrar no seu
grmio, e
a todosso enviadososseusmissiondrios
. Alm
disso, no
exclusiva de nenhuma nacionalidade ou raa,
masadapta-se admirvelmente a todosospovos.
A Igreja romana possui tambm a
catolicidade moral e
relativa.
Est disseminada pela maior parte do globo
e
supera em nmero de fiisa outrassociedades
crists( 2 ),
382. 4,
A Igreja romana
apostlica. a) Eapos-
tlica no governo,
porque possui a continuidade de sucesso
(1 ) Vem aqui a propsito relembrar a
frmula corrente entre os cat-
licos: In neeessariis unitas, in dubiis
libertas, in omnibus caritas,
unidade nas
verdades necessrias (artigos
da f), liberdade nas
questes no definidas,
caridade em tudo,
(2) C onforme as estatsticas mais recentes o nmero
aproximado dos
membros das trs maiores Igrejas
crists como segue : 1 .0 C atlicos: 1 50
milhes; 2, 0 Protestantes : 21 0 milhes; 3.0 C ismticos : 1 50 milhes,
II
448
INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
NECESSIDADEDEPERTENCERA IGREJAROMANA449
I t
moralmente ininterrupta do Papa actual at S, Pedro. A juris-
dio foi legitimamente transmitida, poisque a Igreja romana
possui asoutrastrsnotas,
Objectam
os adversrios que alguns Papas residiram em Avinho,
que houve vrios interregnos e sobretudo o
grande cisma do Ocidente,
A residncia temporria dos Papas em Avinho no interrompeu
de modo algum a sucesso apostlica; porque a jurisdio no
inerente ao lugar da residncia, mas depende semente da legitimidade
da sucesso e do ttulo que a confere, Os Papas podiam, portanto,
residir em Avinho ou onde quisessem e, ao mesmo tempo, ser Bispos
legtimos de Roma e sucessores de S. Pedro.
Antes de responder objeco fundada nos interregnos e no grande
cisma do Ocidente, historiemos brevemente os factos. Por morte de
GREGRIOXI, stimo Papa de Avinho (1 377), foi eleito em Roma
URBANOVI por dezasseis Cardeais, onze dos quais eram franceses,
Depois da eleio, quinze dos Cardeais declararam-na invlida, sob
pretexto de ter sido feita debaixo da presso do povo romano, que
reclamava um papa italiano, e elegeram Roberto de Genebra, que
tomou o nome de Clemente VIIIe foi residir em Avinho. Os catlicos
dividiram-se ento em dois partidos, obedecendo uns ao Papa de Roma
e outros ao de Avinho. Assim comeou o
grande cisma do Ocidente
que durou meio sculo (1 378-1 429).
Deveremos concluir deste facto que a jurisdio apostlica cessou
na Igreja romana? De modo algum. As trs regras, que damos a
seguir, nos daro a chave da dificuldade s 1 . Quando se fazem duas
eleies simultneas ou sucessivas, a jurisdio apostlica est eira
poder daquele que foi legitimamente eleito. 2, No caso de dvida,
como o do grande cisma do Ocidente, a jurisdio apostlica no
deixa de existir, ainda que a dvida s mais tarde se esclarea. -
3. Finalmente se duas ou mais eleies se fizessem simultnea e ilegi-
timamente, seriam ambas nulas e, nesse caso, a sede seria vacante at
que se fizesse uma eleio legtima que continuasse a srie apostlica
dos Papas (1),
b) A Igreja romana apostlica na sua doutrina.
Osprotestantesacusam oscatlicosde terem introduzido
novosdogmasno ensino dosApstolos. 0 Credo actual
certamente muito maisdesenvolvido que o dosApstolos,
masno foram nele introduzidasdiferenasessenciais.
A Igreja docente nunca definiu verdade alguma de f que
a no fosse buscar Sagrada Escritura ou Tradio,
Podemos, por conseguinte, afirmar que houve maior com-
(1) JAUGEY ( Die. apol. ).
preenso ou desenvolvimento do dogma, masno houve alte-
rao alguma no smbolo apostlico (I ),
Concluso.
A concluso que devemostirar deste
estudo
que a Igreja romana possui asquatro notasindi-
cadaspelo conclio de Niceia-Constantinopla e, portanto,
a
verdadeira Igreja,
Art, V,Necessidade
de Pertencer Igreja catlica
romana. aFora da Igreja no ha salvac,o.
383. Ficou demonstrado que a Igreja romana a
iirlica verdadeira, instituda por J, Cristo, Deveremosda
concluir que h
necessidade de pertencer Igreja Catlica
para alcanar a salvao ? No caso afirmativo, que espcie
de necessidade
essa, e como se deve entender a frase
correntesFora da Igreja no h salvao?
1, 0 Necessidade de pertencer
verdadeira Igreja.
A necessidade de pertencer verdadeira Igreja funda-se
em doisargumentossum escriturstico e outro de razo,
A, Argumento escriturstico. A vontade de Jesus
('cisto
Argumento
este respeito explcita, De facto disse aosAps-
tolossIde por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda
a criatura, Aquele que crer e for baptizado, ser salvo; o
que, porm, no crer ser condenado
(Marc., XVI, 15-16),
)estaspalavrasdeduz-se claramente que a sua doutrina
wr pregada em todo o universo por intermdio dosAps-
tolose dosseus sucessores legtimos,
e que oshomenstm
obrigao de abraar essa doutrina sob pena de serem con-
denadospor JesusCristo,
B , Argumento de razo. A
necessidade de per-
/racer verdadeira Igreja
prova-se tambm pela razo com
o seguinte raciocnio, Se a Igreja Catlica a nica depo-
sitria da verdade religiosa ensinada por J. Cristo, se ela
a verdade, evidente que se impe como uma necessidade,
(1 ) V. Doutrina Catl., n. 1 8,
29
450INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
porque a natureza da verdade ser exclusiva. Ora, a Igreja
catlica a dnica verdadeira, como ficou demonstrado nos
artigosprecedentes,
384. 2. Sentido da frmula : Fora da Igreja
no h salvao v. Em princpio a filiao na Igreja cat-
lica necessria. Masque espcie de necessidade esta ?
Qual , a significao do axioma ; Fora da Igreja no h sal-
vao ? Esta questo pertence ao domnio da teologia e,
por isso, limitar-nos-emosa dizer o que pensam ostelogosa
este respeito.
Se examinarmosrpidamente o ensino tradicional da
Igreja, parece que no foi plenamente esclarecida, porqua
tem sido considerada sOmente sob um ponto de vista mu ito
restrito.
a) Geralmente, at ao sculo XVI, osSS, 'Padrese,
Doutoresda Igreja ensinam que absolutamente necessrio
pertencer Igreja, de modo qu osherejese oscismticos,
que no se submetem autoridade disciplinar e doutrinal da
Igreja, no podem de modo algum alcanar a salvao. Esta
intransigncia, porm, maisaparente do que real, pols
parece provir de no se pr a questo sob todososseus
aspectos, S. AGOSTINHO, por exemplo (sc, IV), depoisdo
estabelecer em princpio que necessrio pertencer Igreja
para obter a salvao, acrescenta que pode uma pessoa estar
em erro, que se pode enganar a respeito da verdadeira Igreja,
e no ser hereje.
b) No sculo XVI, S. ROBERTOBELARMINOe SoAlncs
desenvolvem a questo e discutem sobretudo ascondiem
que se requerem para pertencer ao corpo da Igreja.
c) No sculo XIX, ostelogosrealizam grandespro-
gressosna aplicao do dogma, distinguindo, e com razo,
diversossentidosdaspalavraspertencer e necessidade.
1. Segundo uns, de doismodospode uma pessoa per-
tencer Igreja ; realmente (in re) e em desejo (in voto),
De facto, diz BAINVEL, podemospertencer Igreja em
desejo, pela vontade, ou corao, quando desejamosser mem-
brosda Igreja, posto que, prbpriamente falando, no o seja-
mos, Est desejo pode ser explcito, como noscatecmenos,
ILl
NECESSIDADEDEPERTENCERA IGREJAROMANA451
ou implcito, isto , quando uma pessoa ainda no conhece a
igreja, masdeseja pr em prtica o que Deusquer, Todos
oshomensde boa vontade implicitamente fazem parte da
Igreja ( I),
2, Outrosfazem distino entre a alma e o corpo da
Igreja, e afirmam que de necessidade de meio (necessitate
medii) pertencer alma da Igreja, e de necessidade de pre-
ceito (necessitate praecepti ) pertencer ao corpo da Igreja.
ct) Ora pertencem alma da Igreja todosaquelesque
vivem em ignorncia invencvel infiis, herejes, cismticos
e observam a sua religio em boa f e se esforam por
agradar a Deus, segundo asluzesda sua conscincia, Deus
asjulgar segundo osseusconhecimentose assuasobrase
no segundo o que ignoravam,
p) No pertencem alma nem ao corpo da Igreja
todososque esto em erro voluntrio e culpvel, osque
sabem que a Igreja catlica a verdadeira e, contudo, no
entram nela porque no querem observar osdeveresque a
verdade impe. E sobretudo a estes, que pecam contra a
luz como diz NEWMAN, que se aplica a mxima: Fora da
Igreja no h salvao.
Para terminar acrescentemosque estasduasinterpreta-
es do dogma catlico so conformesaosensinamentosde
Pio IX na sua alocuo consistorial Singulari quadam , de
9 de Dezembro de 1854, e na sua Encclica Quanto confi-
ciamur dirigida aosBisposde Itlia, no dia 10 de Agosto
de 1863, Osque vivem em ignorncia invencvel a res-
peito da nossa santa religio e observam com solicitude a lei
natural e ospreceitosgravadosnosseuscoraes, e os que,
prontos a obedecer voz de Deus, procedem segundo asnor-
masda honestidade e da justia, podem, com o auxlio da luz
divina e da graa, alcanar a vida eterna, porque Deus . na
sua soberana bondade e demncia, no permitir que seja
condenado spenaseternasaquele que no for culpvel de
IOta alguma voluntria. Mastambm conhecida esta ver-
dade catlica, segundo a qual, ningum se pode salvar fora da
Igreja catlica, e no podem obter a salvao aquelesque,
com pleno conhecimento, so rebeldes autoridade e sdeci-
(1)BAINVEL, Hors de l'glise pas de salut.
sesda Igreja, assim como osque voluntriamente se sepa-
ram da unidade da Igreja e do Pontfice romano, sucessor de
S, Pedro, a quem o Salvador confiou a guarda da sua vinha ,
C oncluso, Seja qual for o modo de interpretar a fr-
mula s Fora da Igreja no h salvao , podemosdeduzir
estasconcluses
1 , Segundo a opinio unnime dos telogos, absoluta-
mente necessrio pertencer alma da Igreja, poisque a graa
o nico meio de conquistar o cu,
2, necessrio tambm, em certo modo, pertencer ao
corpo da Igreja. Dizemosem certo modo, porque preciso
distinguir entre osque conhecem a Igreja e osque a no
conhecem, Para osprimeiros, de necessidade de meio e de
preceito pertencer visivelmente, externamente, in re, ao Corpo
da Igreja, Os segundos, que no podem estar obrigadosa
obedecer a um preceito que ignoram, basta que pertenam
implicitamente, isto , pelo desejo, no formulado com pala-
vras, mascontido no acto de caridade e na vontade de fazer
o que Deus quer
Bibliografia. Dic, d'Ales' DELABRIRE, art. Eglise; MIC H IN:LS,
art. Eveques;JUGIE, art. Grecque (glise); d'ALi:s, art. Libre (le Pape).
F. CABROL, art. Honorius (La question d').Dic. Vacant-Mangenot: Du-
BLANCHY, art. Eglise. BAINVEL, art. Apostolicit; A. BAUDRILLART, art, Cal.
vin, Calvinisme, A, GATARD, art. Anglicaaisme; S. VAILHE, art. Cons-
tantinople (glise), BATIFFOL, Etudes d'histoire et de fhologie positive.
L'Eglise naissante et le catholicisrne (Lecoffre), FOUARD, Les Origines
de l'Eglise; Saint Pierre et les premires annes du christianisme;
Saint Paul, ses missions; Saint Paul, ses derrires annes; Saint Jean
et la finde l'dge apostolique (Lecoffre). BOURCHANY, PRIER, TIxERONT,
Conferences apologtiques donnes aux Facults catholiques de Lyon
(Lecoffre). TIXERONT, Histoire des dogmes, La fhologie antnicenne;
Prcis de Patrologie (Lecoffre). ERMONI, Les origines historiques de
1' episcopal monarchique; Les premiers ouvriers de I'Evangile (Blood),
SEMgRIA, Dogrne, hirarchie et culte dares l'Eglise primitive (Lethie -
leux), BOUDINHON, Prirnaut; schisme et juridiction(Revue du can.
contemporain, 1896), DEMAISTRE, Du Pape, GUIRAUD, La venue de
Saint Pierre Rome (Rev. pr. d'Ap,, 1 Nov. 1905).PRAT, La thologie
de Saint Paul (Beauchesne), HUGUENY, Critique et Catholique (Leton-
zey), DucHESNE, Histoire ancienne de l'Eglise; Eglises spares (Fou-
temoing). A, de POULPIQUET, La notionde catholicit (Blond). Loam.,
Nos raisons d'tre catholiques (Blond). Mons, BAUDRILLART, L'Eglise
catholique, la Renaissance, le Protestantisme (Blond). - Mons. JULIAN,
Bossuet et les Protestants (Beauchesne), GoYAU, L'Allemagne reli-
grleuse, Le Prolestantlsme (Perda), B RIcour, Les Eglises rformes en
Prance (Rev, du C I. fr. 1 908), RAGEY, L'Anglicanisme le Ritualisme,
le Catholicisme (Blond). THUREAU-DANGIN, Le catholicismen Angle-
terre au XIXe sicle (Bloud), BOSSUET, Histoire des variations des
l'glises
protestantes, Discours sur l'unit de I'Eglise.GoNDaL, L'Eglise
russe (B loud), MONSABRg, Expos du dogme, 51 e et 52e cont. MoUR-
,o:r, Histoire de L'Eglise (B loud). MARION, Histoire de l'Eglise (Roger
et Chernovitz) BAINVEL, Hors de I'Eglise pas de salut
(Beauchesne),
-L'Ami du Clerg, ano de 1 923, n. 26. B lum', Tractatus de Ecclesia
Christi. WILMERS, De Christi Ecclesia (Pustet). Os tratadosde Apo-
logtica: TANQUEREY, Mons. GOURAUD, MOULARD et VINCENT, VERHELST, etc,
4*
b'I
NECESSIDADEDEPERTENCERA IGREJAROMANA453
452INVESTIGAODAVERDADEIRAIGREJA
4. Poderes
dos B is-
pos.
H IERARQUIA DA IGREJA455
DESENVOLVIMENTO
385. Diviso do captulo. Para reconhecer a ver-
dadeira Igreja, determinmos, no comeo da seco prece-
dente, as
caractersticas essenciais da sociedade fundada por
JesusCristo, Por conseguinte, j conhecemos, ao menosnas
suaslinhasgerais, a
constituio da Igreja Romana, visto
que s ela a verdadeira Igreja.
Mas conveniente voltar ao assunto; porque, embora a
constituio actual da Igreja dependa em certo modo da
vontade e instituio de Jesus, todavia incontestvel que se
desenvolveu e se adaptou scircunstnciasdo meio em que
se
encontrava, que a Igreja, apesar da sua origem divina,
uma sociedade humana e, por conseguinte, susceptvel de
progresso e modificaesem tudo o que no for essencial
sua constituio,
Estudemospoisa sua constituio actual nestesdois
captulosda segunda seco, No primeiro descreveremos
1,', a hierarquia
da Igreja; 2. ospoderes da Igreja em
geral; 3, os
poderes do Papa; e 4. ospoderes dos
Bispos.
No captulo segundo trataremosdosdireitos da
Igreja e dassuas
relaes com o Estado.
Art, I, Hierarquia da Igreja.
386. - Vimos(n,OS 309 e segs.) que J. Cristo fundou
uma Igreja hierrquica, que nessa Igreja osmembrosno
so todosiguais, masesto divididosem duasclassesdis-
tintas: Igreja docente e Igreja discente, Como a segunda
se compe semente de leigos, que no possuem autoridade
eclesistica, falaremoss da Igreja docente,
1. Definio,
Segundo a etimologia (n. 308 n),
hierarquia significa poder sagrado, e emprega-se aqui para
designar osdiversosgrausde categoria e de poder, que
distinguem osministrosda Igreja docente,
387. 2, Espcies. Na Igreja h duashierarquias,
uma de ordem e outra de jurisdio, - a) A hierarquia de
n a
d
G
o
3. Poderes
do Papa.
1-
z
o
U
454
C ONSTITUIO DA IGREJA
SECOII
CONSTITUIODA IGREJA
I
1.. extraordinrio. Defini.
1 es .ex catedrao. Objecto
e condiesda infalibill-
A. Poder de
dade,
ensinar.
b) Modo de
o exercer,t 1) Pelo pr-
I prio Papa.
2, ordinrio. { 2) Pela Con.
gregao do
l Santo Ofcio,
t
a) Objecto.
B . Poder de 11
(1. 0 Sacro Colgio,
governar. 1 b) Modo de
2 Consistrios.
o exercer, I
k 3, Congregaesromanas,
A. Tomadosf
a) Poder doutrinal.
individual-
mente,
b)
Poder de governar.
I a) Disper- o
1 Infalibilidade.
CAPTULOL HIERARQUIAE PODERES DAIGREJA.
I.. Hierar-
A. Definio.
quia.
B.Espeies,l
b) Hierarquia de 0 rtdio.
I
a) Objecto,
1 ,
indirecto. A. Poder de)
ensinar,
lI b) Modo de f 1 , magistrio extraordinrio,
2.Poderes
l exercer o l2, magistrio ordinrio,
da Igreja
em geral.( a) Existn- f 1 , Adversrios,
B, Poder del cia.1 2. Provas.
governar. 1 b)
Objecto.
I
c) Modo de o exercer.
a) Objecto,
B, Tornados
)1.
Condiesde ecumenict.
colectiva-b)
Reuni- I dade,
mente.
dose m 2, Autoridade dosconcflioN,
conclio,3. Sua utilidade.
4, Srie cronolgica.
' li
456
OS PODERES DAIGREJA
457
solene na Igreja catedral, e auxiliar o bispo nosprincipais
actosdo governo diocesano, e
por sua morte, nomear um
vigrio capitular que governe a diocese at a instituio
cannica do novo bispo,
Outrosauxiliaresdosbisposso os
procos, que de
direito divino no participam dospoderesda Igreja, No
podem decidir em casosdoutrinaisnem estabelecer leisrela-
tivas disciplina ou ao culto, A sua funo limita-se a
cuidar da parquia, cuja administrao lhesfoi confiada pelo
bispo. Osprocosno constituem, portanto, um terceiro
grau na hierarquia. 0 que facilmente se compreende, por-
que a sua existncia s comeou no sculo III. At essa
data, em cada cidade episcopal havia uma s igreja, da qual
o bispo, embora assistido dum colgio de sacerdotes, con-
servava a administrao pessoal, e reservava-se habitual-
mente asfaculdadesde pregar, baptizar, celebrar e con-
fessar.
Quando o cristianismo obteve maior expanso, alm das
igrejascatedraisconstruram-se nasvilase aldeiasigrejas
menosimportantes, chamadas
igrejas paroquiais.
Osbispos
delegaram ento a administrao dassuasparquiasem
sacerdotes, que por este meio foram constitudospastores
de segunda categoria, chamados
curas (do latim cura cui-
dado), por terem o cuidado dosfiispertencentesa essas
circunscries,
Art, II,
Os Poderes da Igreja.
389.
Igreja docente, cuja hierarquia acabamosde
estudar, conferiu JesusCristo trspoderes(n. 310) :
a) o poder doutrinal,
para ensinar a verdadeira f ;
O) o poder de ordem,
para administrar ossacramentos; e
c) o poder de governar,
para impor aosfiistudo o que
necessrio ou til salvao. Como o poder de ministrio
encarregados de administrar a diocese e de eleger o sucessor, o que no
acontece actualmente se no em raros pases (n. 41 0
n). Nas dioceses onde
no existe ainda cabido, as suas funes de auxiliar do bispo so desempe-
nhadas pelos consultores diocesanos.
H tambm cabidos tora das Igrejas
catedrais, eom o fim primrio de prestarem culto solene a Deus nas igrejas
chamadas Colegiadas.
li
CONSTITUIODAIGREJA
Ordem
funda-se no poder de Ordem, que se comunica pela
ordenao ou sagrao, Tem por objecto a santificao
dasalmaspor meio da administrao dossacramentose
inamissfvel. b) A hierarquia de jurisdio
baseia-se no
poder de jurisdio, que se confere por instituio cannica,
ou simplesmente, por nomeao e delegao. Tem por fim
o governo da Igreja e amissvel,
388. 3,
Membros. A, A hierarquia de Orde
abrange todososque receberam a ordem num grau qualque ,
a) De direito divino,
compreende osbispos, ossace -
dotese osdiconos, b) De direito eclesistico, abra
tambm o subdiaconado e asordensmenores.
B. A
hierarquia de jurisdio
compe-se daqueles
que participam maisou menosda jurisdio da Igreja, r
a) De direito divino,
compreende o Papa e osBispos
b) De direito eclesistico,
estende-se a todososmembros
por elesdesignados. evidente que o Papa, para
poder
governar a Igreja Universal, e osBispos(
1 ) a sua diocese,
tm necessidade de auxiliares,
Osauxiliares do Papa
formam a Cria romana, que 114
se compe de cardeais, preladose oficiaisinferiores, distri-
budospelosseguintesorganismos; o
Sacro Colgio, as
Congregaes romanas,
osTribunais e osOfcios.
OsBispos tm como auxiliares: a) 0 Vigrio Geral
que juntamente com o bispo forma como que uma s pessoa
moral, para o auxiliar e substituir no governo da diocese,
0 vigrio gera], juntamente com o
oficial ou juiz ordinrio,
o chanceler, o
promotor da justia, o defensor do vnculo,
osnotrios
e outrosauxiliaresdo bispo formam a
Cria
diocesana. b) 0 Cabido,
isto , a reunio doscnegos
da Igreja catedral ou metropolitana. um corpo institudo
cannicamente, cujasfuneshoje ( 2
) so exercer o culto
(1 )
Na hierarquia de jurisdio havia antigamente os
metropolitas coin
jurisdio real sobre os bispos da sua provncia, e os
primazes e patriarcas
com autoridade sobre os arcebispos e os bispos. Em nossos dias, subsistam
ainda esses ttulos, mas na Igreja latina so apenas denominaes de hourn.
e de precedncia.
(2)
Durante muito tempo os cabidos tiveram grande importdncla,
C onstituam o conselho ordinrio do bispo e, por sua morte, estavam
458CONSTITUIODAIGREJA
est relacionado com o sacramento da Ordem ( 1 ) falaremos
semente do poder de ensinar e de governar.
1. O PODER DOUTRINAL DAIGREJA.
390. J vimosque o poder de ensinar, confiado por
J, Cristo sua Igreja, inclui tambm o privilgio da infali-
bilidade (n. 330), que foi concedido aosApstolose aos
seussucessores(n.' 335 e segs,), Trata-se agora de deter-
minar o objecto e o modo de exercer este poder,
1, Objecto. 0 objecto da infalibilidade deduz-se do
fim
que a Igreja tem em vista no seu ensino, Ora, o fim
da Igreja ensinar asverdadesque dizem respeito sal-
vao. 0 objecto da infalibilidade, portanto, limita-se s
verdadesda f e da moral e quelasque directa ou indirecta-
mente
com elasse relacionam, Por conseguinte, ascincias
profanasesto fora do campo da infalibilidade,
A. Objecto directo. Constituem o objecto directo
da infalibilidade todasasverdadesexplcita ou implclta-
mente
reveladaspor Deus, que se contm nosdoisdepsitos
da Revelao ; a Sagrada Escritura e a Tradio.
a) Verdadesexplicitamente reveladasso asque se
encontram nosLivrosinspiradosem termosclarosou equi-
valentes, A Escritura, por exemplo, diz-nosclaramente que
Deusexiste, que Criador do cu e da terra, que Jesus
Cristo nasceu de Maria SS.', que sofreu, morreu, foi sepul-
tado e ressuscitou ao terceiro dia, Diz-nosem termos
equi-
valentes
que J, Cristo Deuse homem : o Verbo fez-se
carne (Joo, I, 14); que a graa necessria; o sarmento
no pode dar fruto se no estiver unido vide, .. Sem mini
nada podeisfazer (Joo, XV, 4-6); que Pedro o chefe de
toda a Igreja; apascenta osmeuscordeiros, apascenta as
minhasovelhas(Joo, XXI, 15-17).
b) Verdadesimplicitamente reveladasso aquelasque
se deduzem doutrasverdadesreveladaspor meio do racio-
cnio. Por exemplo, da verdade explicitamente revelada que
(1) V. Doutrina Cat. ns 430 e segs..
il
OS PODERES DAIGREJA459
I, Cristo Deuse homem, deduzem-se osdogmasdasduas
naturezase dasduasvontadesem J. Cristo. Deste modo,
Osdogmasda transubstanciao, da Imaculada Conceio e
da Infalibilidade pontifcia no se encontram explicitamente
na Sagrada Escritura, masesto contidosnoutrasverdades
claramente reveladasou no depsito da Tradio,
391. B, Objecto indirecto. 0 objecto indirecto da
infalibilidade so todasasverdadesno reveladas, que esto
relacionadascom asreveladase que so indispensveispara
a conservao integral do depsito da f, evidente que o
privilgio da infalibilidade inclui o poder de propor, sem
temor de errar, todasasverdadesde que depende a integri-
dade da f,
So, portanto, objecto indirecto da infalibilidade ; a) as
concluses teolgicas. Chama-se concluso teolgica a con-
cluso de um raciocnio em que uma daspremissas uma
verdade revelada e a outra uma verdade conhecida pela razo.
l'or exemplo, desta verdade revelada: Deusdar a cada
um a recompensa segundo assuasobras, e da verdade da
razo: Deusno pode punir ou recompensar o homem se
este no for dotado de liberdade, podemostirar a concluso
teolgica que o homem livre;
b) osfactos dogmticos. 0 facto dogmtico ( 1 )
aquele que, sem ser revelado, est to intimamente relacio-
nado com o dogma que, negado ou posto em dvida, o edif-
cio da f ameaaria runa, Dizer, por exemplo, que tal
conclio ecumnico legtimo, que Bento XV e Pio XII so
legtimossucessoresde S. Pedro, que tal verso (p, ex, ;
a Vulgata) substancialmente conforme ao texto original,
que num dado livro se contm heresias, so tantosoutros
factosdogmticos,
E fcil compreender a importncia da infalibilidade da
igreja em taiscasos; porque, se no fosse infalvel, se
pudesse pr-se em dvida a legitimidade de um conclio ou
(1 ) Podem distinguir- se trs espcies de factos : a) os factos revelados
(p. ex.: a Ressurreio de Jesus, a converso de S. Paulo), acerca dos quais
a infalibilidade da Igreja no pode ser contestada ; b) os factos no revela-
dos, meramente histricos (p. ex.: a batalha de Aljubarrota) que no perten-
cem ao domnio da infalibilidade; e c) os factos dogmticos, isto , aqueles
de que aqui tratamos.
OBJECTODOPODERDOUTRINAL
461
veniente, como j notmos(n. 380), no julgar que h varia-
esno dogma, quando se trata simplesmente de mudanas
de disciplina ou de culto.
d) as
decises que aprovam as constituies das Ordens
religiosas. A Igreja infalvel quando declara que asregras
de uma Ordem religiosa so conformesao Evangelho. No
, porm, infalvel, segundo Soares, acerca da utilidade ou
oportunidade de uma Ordem, se bem que seja temerrio dizer
o contrrio, se a sua inoportunidade e inutilidade no forem
manifestas;
e)
a aprovao do ofcio divino ou brevirio.No
quer isto dizer que o brevirio esteja isento de qualquer erro
histrico, massimplesmente que nada contm que seja
con-
trrio f, ou aosbonscostumes;
f) a
canonizao dos santos.
Canonizao a sen-
tena solene, pela qual o Santo Padre declara que uma pessoa
est no cu e que se lhe pode prestar culto de dulia. Tal ,
pelo menos, a canonizao formal, como est em uso em nos-
sosdias. Chama-se formal, porque est revestida de formas
jurdicasque lhe conferem todasasgarantiasde verdade (
1 ).
(1)Canonizao.
A canonizao compreende uma longa e minu-
1 .
Mesa
srie de processos exclusivamente reservados Santa S. C ompe-se
do trs processos: de Venerabilidade, de Beatificao e de Santidade.
O B ispo cia diocese, em que nasceu o
Servo de Deus, faz o primeiro
processo chamado
processo de informao.
Este processo tem por fim fazer
tic
inqurito acerca da pureza da doutrina pelo exame dos seus escritos, da
fama de santidade, das suas virtudes, dos milagres ou martrio, da ausncia
do qualquer obstculo peremptrio e do no-culto
(case. 2038). S depois de
participar os resultados a S. Congregao
dos Ritos, se introduz a causa se o
primeiro processo foi favorvel.
1 .
A S. C ongregaro comea ento o exame do processo de informa-
iLo. 0 juzo acerca da heroicidade das virtudes ou do martrio reservado
ao Papa. Smente depois deste juzo, se pode dar ao Servo de Deus o ttulo
do Venervel.
2.
Alm da heroicidade das virtudes ou martrio, so necessrios dois
milagres para a Beatificao.
O Papa manda publicar, quando julga conve-
niente, o decreto de Luto, permitindo que se proceda Beatificao, a qual se
faz durante uma missa solenssima em que se l o decreto. Desde aquele
momento o novo B eato pode ser objecto de culto pblico e as suas relquias
piiblicamente veneradas, mas no levadas em procisso. Pode ter oficio
prprio, concedido para algumas regies, todavia no
permitido dedicar-
lie igrejas nem aureolar a sua imagem.
3. 0 ltimo processo, que o da
canonizao, consiste na discusso de
dois novos milagres, feitos por intercesso do B eato depois da beatificao
formal (can.
21 38) Se so aprovados, o Papa assina um novo decreto
de tato
o celebram-se finalmente tres consistrios: o primeiro secreto e termina
polo voto dos cardeais e consultores; no segundo, que pblico, h um
discurso em favor da causa ; no terceiro, que semi-pblico, procede-se
Ultima votao, e fixa-se a data da leitura do decreto de canonizao na
Ilasilica de S. Pedro em Roma (can. 1 999-21 41 ).
460
CONSTITUIODAIGREJA
de um papa, como se poderiam impor osdogmaspor eles
definidos? Onde apoiaria a Igreja assuasdefiniesse
pudesse duvidar-se da autenticidade dostextosque invoca ?
Se a Igreja no pudesse afirmar com certeza que uma propo-
sio condenvel se encontra exposta num determinado livro,
osherejespoderiam sempre evitar ascondenaes, fundan-
do-se na distino subtil entre a
questo de direito e a ques-
to de facto,
Foi o que aconteceu no sculo XVIII, quando INOCNCrOX
condenou cinco proposiestiradasdo K
Augustinus de JAN-
SNIO,
Osjansenistasfizeram ento distino entre a doutrina
dasproposiese o facto de saber se estavam contidasno
Augustinus, Admitiram a infalibilidade da Igreja na ques-
to de direito, isto ,
em julgar a ,doutrina, masnegaram a
infalibilidade na questo de facto; porque, se o facto no era
objecto da revelao, como elesdiziam, no podia depender
do magistrio infalvel da Igreja,
evidente que a Igreja no pode julgar acerca do sen-
tido que o autor teve na mente, isto
, do sentido subjec-
tivo,
por isso no condena o pensamento do autor, mas
semente julga osescritossegundo o seu sentido bvio e
natural ;
c) asleis universais relativas disciplina e ao culto
divino. Ainda que asleisgeraisda disciplina e do culto
derivem do poder de governar, muitasvezes, porm, pres-
supem um juzo doutrinal acerca da moral e da f, A dis-
ciplina actual, por exemplo, que proibe aosleigosa comunho
sob asespciesdo vinho, supe a crena que J. Cristo estai
todo sob asespciesdo po ( I
) ; por conseguinte, o juzo da
Igreja deve ser isento de erro,
A infalibilidade contudo, no se estende scircunstncias
acidentaisda legislao eclesistica. Uma lei conforme sa
doutrina nem sempre
oportuna. Pode suceder que uma lei
seja til actualmente e no o seja maistarde; que uma, hoje
em vigor, seja depoismodificada e at abrogada, poiscon-
(1 ) Do mesmo modo, o uso de baptizar as crianas supe o dogma 4a
transmisso do pecado original a todos os descendentes de Ado e a elle ls
do baptismo conferido s crianas antes do uso da razo. 0 costume de oral'
pelos mortos supe tambm o dogma do purgatrio e a utilidade dos sufrd
gios para livrar as almas dos defuntos.
k l
CONSTITUIODAIGREJA
Por isso, opinio comum entre ostelogosque a Igreja
infalvel na canonizao formal, masno de f esta pro-
posio,
Admitem tambm ostelogosque ascanonizaes, como
se faziam antesdo sculo XII, bastava o testemunho po-
pular ratificado pelo bispo da diocese, para que uma pesso;i
fosse proclamada santa, no dependiam do magistrio inf
a-
lvel da Igreja, Sabemosque algumasdessascanonizaes
chamadasequipolentes (equivalentes) foram maculadascom o
erro e deram origem a santoslendrios('), Como a beati-
ficao no juzo definitivo, no pertence ao domnio do
magistrio infalvel ;
g) as censuras doutrinais (2), que a Igreja aplica a
certasproposies. de f que a Igreja infalvel quando
aplica a uma doutrina a nota de hertica. Segundo a opiniiio
comum dostelogos, tambm infalvel quando diz que uma
doutrina prxima da heresia, ou errnea. No , porm,
certa a infalibilidade, quando censura uma doutrina de teme-
rria, ofensiva aosouvidospios, ou improvvel, Contudo,
ainda neste caso, tem direito a um religioso assentimento,
392. 2. Modo de o exercer. De doismodos
exerce a Igreja o magistrio infalvel ; um extraordinrio,
outro ordinrio.
A, Magistrio extraordinrio. Raramente a Igreja
se serve do magistrio extraordinrio. Exerce-o ; a) pelo
(1 ) Neste caso, a deciso da Igreja, que proclama um personagem
santo e digno de culto especial, fica sem aplicao concreta. 0 objecto for _.
mal do culto no seria o condenado, enquanto tal, mas a pessoa frcte.ia
a
cujas virtudes, supostas hericas, a Igreja prestaria culto.
Ou se trate da canonizao formal ou da equivalente, no se deve con-
fundir a canonizao com os factos histricos, a que se chamam a lenda, do
Santo, nem com a autenticidade das relquias. Quando a Igreja canoniza
algum, no sua inteno definir a verdade da sua lenda, nem a autentici-
dade das relquias.
(2) C hama-se censura doutrinal o juizo formulado pela Igreja, aeorea
de um livro ou proposio considerados sob o aspecto da doutrina. 1 4;stn
juzo pode conter uma simples censura, uma crtica, ou uma condenao,
Uma proposio diz-se : 1 . hertica quando se ope directamente f
catlica ; 2. prxima de heresia quando se ope a uma doutrina, tida u i-
versalmente como verdadeira, mas no definida; --3. errnea, quando conra-
diz uma verdade revelada, no dogmticamente definida, nem universalmonin
admitida; ou quando se ope a uma concluso teolgica ; 4. temerria, ura
a doutrina oposta se apoia em slidos argumentos de autoridade e de razo;
5. malsoante e ofensiva aos ouvidos pios, quando os termos empregados
ofendem o respeito devido s coisas santas, ou quando as palavras
silo
imprprias e se prestam a falsas interpretaes.
0 PODERDEGOVERNAR
463
Papa, quando fala ex cathedra (n,S 398 e 399) ; ou;
b) pelos Bispos em unio com o Papa e reunidosem
conclios gerais (n.S 414 e segs, ).
B. Magistrio ordinrio e universal.
Assim se
chama o
ensina que o Papa e osBisposdo em todosos
tempose em todosospases(n,S 401 e 411). Quando
Nosso Senhor disse aosApstolos; Ide, ensinai todasas
naes ,
no lheslimitou o poder a certostempose lugares.
0 Papa e osBisposdevem, pois, exercer asfunesde
mestres
no s raramente e em circunstnciassolenes, mas
sempre e em toda a parte.
2, OPODERDEGOVERNAR,
393.-0 poder de governar.
Compreende trspode-
res; a) o legislativo, isto , no simente de interpretar a
lei natural, mastambm de impor deveresem vista do bem
comum, deveresque obrigam em conscincia ossbditosda
Igreja ; b) o judicial,
para julgar asacese dar sen-
tenas; c) finalmente, o poder penal ou coercivo, isto ,
de aplicar sanesproporcionadassinfraces.
1, 0 Existncia. A, Adversrios. Negaram a exis-
tncia do poder de governar ; a) no sculo XIV, os
fraticelos.
Estessectriosfanticos, que pertenciam ordem
franciscana, pretenderam fundar uma Igreja espiritual e
invisvel, superior visvel, e faziam depender o poder de
governar, da santidade pessoal dosministrosda Igreja ;
b)
no sculo XVI, LUTEROe ospartidriosda
Reforma
que, fundando-se na teoria da justificao pela f sem as
obras, concluam que o homem justificado no estava sujeito
observncia dosmandamentosde Deuse da Igreja ;
c) no sculo XVII, osjansenistas e galicanos, que
defendiam que o poder da Igreja se limitava ao espiritual;
ascoisastemporaiseram da competncia exclusiva do poder
secular,
B. Provas. Atestam -nosa existncia do poder de
governar ; a) a Sagrada Escritura, como se depreende
daspalavrascom que Nosso Senhor d aosApstoloso
462
OPODERDEGOVERNAR465
raise pedir a sua execuo autoridade secular, Enfim, de
tal modo teve conscincia do seu poder que no hesitou em
ensinar por boca de GREGRIOVII (sculo XI) que, em vir-
tude da sua misso divina, tem direito de mandar no s os
indivduos, mastambm associedadese osseuschefestem-
porais, em todasascircunstncias, conforme o exigirem os
interessesespirituaisque lhe esto confiados.
c) 0 poder governativo deriva, alm disso, dasdefini-
es da Igreja, 0 concilio de Trento definiu o dogma do
poder legislativo. Ospoderesjudicial e penal foram tam-
bm proclamadospelo mesmo conclio e por algunspapas,
como Joo XXII, BENTOXIV e PIOVI. Pio IX condenou no
Syllabus osque afirmavam que a Igreja no tinha poder de
empregar a fora, nem poder algum temporal directo ou indi-
recto (prop. XXIV), Leo XIII declarou na Encclica
Immortale Dei que JesusCristo deu Igreja, em assuntos
religiosos, plenospoderesde promulgar leis, pronunciar sen-
tenase aplicar sanes ;
d) A natureza da Igreja. A Igreja uma sociedade
perfeita (n. 419), Como tal autnoma e deve possuir
todososdireitosinerentesa qualquer sociedade perfeita e,
por conseguinte, ostrspoderes, legislativo, judicial e coer-
civo, como meiosnecessrios, ou ao menosmuito teis, para
conseguir o seu fim,
394.-2, Objecto.A, Poder legislativo.Em prin-
cpio podemosafirmar que, pelo facto de a Igreja ter um fim
sobrenatural, possui o poder de legislar sobre tudo o que se
refere a este fim, Donde se segue que o objecto do poder
legislativo duplo s
a) Quanto parte positiva, compreende o poder de
impor tudo o que conveniente ou necessrio para con-
seguir o seu fim. Pode, pois, a Igreja estabelecer leisdisci-
plinaresacerca dossacramentos, objectosdo culto e bens
prprios, A Igreja sempre reclamou esse direito. J nos
primeirossculos, apesar dasviolentasperseguiesno
deixarem ouvir a sua voz, defendia a santidade e a estabili-
dade da unio conjugal, a liberdade do matrimnio entre
escravose livrese muitosoutrosprincpioscontrrioss
leiscivisda poca. 0 mesmo fez em todosostempos_ com
30
464CONSTITUIODAIGREJA
poder de apascentar, isto , de reger osfiis, de ligar ou
desligar, de condenar osdesobedientes IgrejasQuem vos
ouve, a mim ouve, e quem vosdespreza, a mim despreza
(Luc., X, 16), Quem no ouve a Igreja, seja tido como
pago e publicano (Mat., XVIII, 17),
b) A prtica da Igreja, 1, OsApstolos exercitaram
ostrspoderess x) o poder legislativo. No conclio de
Jerusalm ordenam aosneo-convertidos que se abstenham
dascarnesoferecidasaosdolos, do sangue, da carne sufo-
cada e da impureza (Act., XV, 29). S. Paulo louva os
Corntiospor obedecerem ssuasprescries (I Cor., XI, 2);
(3) o poder judicial. S. Paulo entrega a Satans
Himeneu e Alexandre para que aprendam a no blasfemar
(I Tim., I, 20); faz o mesmo com o incestuoso de Corinto
(I Cor., V, 1, 5);
T) o poder penal. E ainda S. Paulo que escreve aos
Corntioss Por isso vosescrevo estascoisas, estando
ausente, para no ter de usar de severidade quando estiver
entre vs, servindo-me do poder que o Senhor me deu para
edificar e no destruir (II Cor., XIII, 10), Este modo de
proceder dosApstolossupe manifestamente que receberam
de JesusCristo o poder de legislar na Igreja,
2, Depois dos Apstolos a Igreja exerceu em todos
ostemposo poder de governar, Este poder manifestou-se
de diversosmodos, segundo ostempose ascircunstncias;
a Igreja nunca deixou de reivindicar o direito de promulgar
leis disciplinares e de exigir a sua observncia,
Nosprimeirossculos, este poder aparece em numerosos
costumes, relativos administrao dossacramentos, em
especial do baptismo, penitncia e eucaristia, que foram
prticamente consideradoscomo obrigatrios, por condenarem
e rejeitarem costumescontrrios, que tendiam a introduzir-se
em algumaslocalidades. 0 Papa S. ESTVO, por exemplo,
reprovou o procedimento dasIgrejasde Africa e proibiu
rebaptizar osque tinham recebido o baptismo dosherejes,
Depois, com o tempo, graasao influxo da Igreja na socie-
dade, desenvolveu-se a legislao eclesistica e estendeu-se
squestesmistas, como o matrimnio e osbenseclesisticos,
Desde a Idade Mdia a Igreja no se contentou com pro-
mulgar leise estabelecer penalidadesespirituaise at tempo-
INFALIBILIDADE PONTIFICIA 467
dinrio e solene nasdefiniesgex cathedra, e b) de um
modo ordinrio,
A. Magistrio extraordinrio. O dogma da infali-
bilidade pontifcia. Provmoshistbricamente a existncia
da infalibilidade pontificia. Falta determinar o modo como
este dogma se entende.
a) Adversrios. 1 . Antes da definio deste dogma no con-
clio do Vaticano (1 870), eram adversrios da infalibilidade pontificia:
a) os protestantes, para quem a Sagrada Escritura a nica regra
de f infalvel ; os galicanos, que punham acima do papa os
conclios gerais e s julgavam irreformveis as definies pontifcias
depois de serem sancionadas pelo consentimento da Igreja, Ogalica-
nismo, que teve a sua origem no grande cisma do Ocidente, foi defen-
dido no sculo XV por P. D' AILLY e GERSON; no sculo XVII, por RICHER,
P, DEMARCA e sobretudo por BOSSUET que condensou a doutrina galicana
nos quatro artigos da famosa Declarao de 1 682 ( 1 ). 0 galicanismo,
ensinado nas escolas francesas de teologia e sobretudo na Sorbona,
propagou-se tambm na Alemanha sob o nome de Josefismo.
2. Depois da definio dogmtica, negaram a infalibilidade pon-
lificia alguns catlicos, em particular um grupo de catlicos alemes,
chefiados por DOLLINGERe REINKENS, que se chamaram Catlicos Velhos.
Todos os protestantes rejeitam este dogma, do qual muitos deles no
I m noo exacta. Confundem a inf alibilidade com a omniscncia
(DRAF.Eu), ou COM a inspirao (LITTLEDALE); outros julgam que uma
espcie de unio hiposttica entre o Espirito Santo e o Papa (PusEY),
399. b) O dogma. Objecto e condies da infali-
bilidade. 0 conclio do Vaticano definiu por estaspalavras
o dogma da infalibilidade pontifcia: 0 Soberano Pontfice,
quando fala ex cathedra, isto , quando define, como Pastor
e Doutor de todososcristose em virtude da suprema autori-
dade apostlica, que uma doutrina, relativa f ou aoscostu-
mes, deve ser crida pela Igreja universal, possui, pela assis-
tncia divina que lhe foi prometida na pessoa de S. Pedro,
aquela plenitude de infalibilidade com que o Redentor divino
quisornar a sua Igreja, quando define uma doutrina relativa
f e aoscostumes. Por conseguinte, assuasdefiniesso
(1 ) Eis o contedo destes artigos : 1 . Nas coisas temporais, os reis
o os prncipes so independentes do Papa. 2. Os conclios gerais so
superiores ao Papa. 3. 0 romano Pontfice, no exerccio da sua autoridade,
dove conformar-se com os cnones. 4. Em matria de f, as decises do
l'apa s so irrevogveis se forem confirmadas pelo consentimento da Igreja.
466 "CONSTITUIO DA IGREJA
a aprovao da autoridade civil ou mesmo contra o seu
assentimento,
b) Quanto parte negativa, a Igreja recebeu o poder
de proibir aossfibditosquanto lhespossa servir de estorvo
consecuo do seu fim sobrenatural, Ora, como nenhuma
aco humana deve ser contrria a este fim, evidente que
o poder de governo abraa, directa ou indirectamente, todos
osactosda vida individual e social.
B. 0 poder judicial e o coercitivo tm o mesmo objecto
que o legislativo ; por conseguinte, devem exercer-se em
todasasinfracesdasleiseclesisticas.
395. 3.0 Modo de o exercer. Como o modo de
exercer o poder governativo depende da extenso da juris-
dio daquelesque a exercem, trataremosesta questo
quando falarmosdospoderesdo Papa e dosBispos,
Art, III. Os poderes do Papa.
396. -- J demonstrmosque JesusCristo colocou h
frente da Igreja um chefe supremo, S. Pedro ; que o Bispo
de Roma, isto , o Papa o sucessor de S. Pedro no pri
mado (n. 325); e que, por conseguinte, tem a plenitude dos
poderesconferidospor Jesus sua Igreja. Falta-noss
determinar o objecto e o modo de exerccio dessespoderes:
o doutrinal e o governativo.
1. 0 PODER DOUTRINAL DO PAPA, A SUA INFALIBILIDADE,
397.-1. Objecto. Pelo facto de o Papa possuir a
plenitude dospoderesda Igreja, podemosafirmar em geral
que o objecto do poder doutrinal e da infalibilidade do Papa
to extenso como o da Igreja. Tudo o que dissemos
(n.5 390 e 391) do objecto directo e indirecto do poder de
ensinar da Igreja aplica-se, portanto, ao poder de ensinai'
do Papa.
398. 2. Modo de o exercer. 0 Papa exerce do
doismodoso poder de ensinar a) de um modo extraor-
468CONSTITUIODAIGREJA
irreformveispor si mesmase no em virtude do consenti-
mento da Igreja (I),
Como se v, a infalibilidade pontifcia tem o object('
bem delimitado e requer determinadascondies. Para ser
infalvel, deve o Papa falar ex cathedra ( 2 ), o que exige
quatro condies:
1. Deve desempenhar o cargo de Pastor e Doutor de
todos os cristos. Como doutor particular no infalvel ;
pode at enganar-se nosseusescritose alocues( 3 ), Sem
dvida, a infalibilidade pessoal; inerente pessoa e no
S Apostlica, nem pode ser comunicada ou delegada a
outrem, Contudo s pessoal, na medida em que o Papa
exerce asfunesde Doutor universal,
2, Deve definir, isto , decidir irrevogvelmente uma
questo, quer seja controversa, quer no,
3, A doutrina definida deve concernir f ou aos cos-
tumes, isto , deve tratar-se de verdadesreveladas, que
necessrio crer ou praticar, ou de verdadescom elasconexas,
Fora deste campo, por exemplo, nascinciashumanas, o
Papa est sujeito a erro como osoutros. A infalibilidade
pontifcia no , pois, um poder arbitrrio ou ridculo,
4, Deve definir com inteno de querer obrigar toda a
Igreja. E evidente que uma doutrina definida impe a toda
a Igreja a obrigao de assentimento, Como poderemos
saber que o Papa teve a inteno de obrigar toda a Igreja ?
Asqualificaesde heresia e de antema so ossinaismais
ordinriospara conhecermosasdefinies, masno so a
(1 ) C onst. Pastor aeternus, cap. IV.
(2) Ex cathedra (lat. da cadeira). Esta expresso antiga, empregada
para designar o magistrio infalvel do Papa e consagrada pela definio do
conclio do Vaticano, provm de que a cadeira ou sede, donde primitivamente
o B ispo instrua o povo, simbolizava ao mesmo tempo a autoridade episcopal
e o prprio ensino. A Cadeira de S. Pedro, a S Apostlica e a Santa S silo
expresses idnticas e designam a autoridade doutoral do Papa. J me
Sagrada Escritura se encontra uma expresso semelhante: Nosso Senhor diz
(Mat., XXIII, 2), que aos escribas e os fariseus se sentaram na cadeira de
Moiss. para indicar que, na religio judaica, eram os representantes de
Moiss, e tinham o direito de ensinar.
(3) Ostelogos vo ainda mais longe e perguntam se o Papa como
doutor particular pode cair na heresia e aderir a ela ciente e obstinadamente.
Respondem em geral que acidentalmente e por ignorncia pode errar na f,
mas, devido Providncia divina, julgam que no pode perseverar no erro
e tornar-se hereje formal. Se isto sucedesse, so de opinio que o Papa del-
xaria de pertencer Igreja e, com mais razo ainda, de ser o seu chore.
Neste caso, os bispos reunidos declar-lo-iam privado da dignidade e, segundo
PALMIERI, Deus retirar-lhe-ia a jurisdio suprema.
Ip.
INFALIBILIDADEPONTIFCIA469
forma obrigatria, nem a nica, 0 teor do documento e da,
linguagem empregada, ainda quando no se dirija a toda a
Igreja ( 1 ), basta para reconhecer que o Sumo Pontfice teve
inteno de propor, como obrigatria a todososfiis, a pro-
posio que diz respeito f ou moral,
400. Observaes. 1, A infalibilidade do Papa ba-
seia-se na assistncia que Nosso Senhor prometeu a S, Pedro
e a seussucessores(n.B 330 e segs.), masno dispensa o
trabalho nem osmeioshumanosde conhecer a verdade,
Taisso osconcliose, dum modo ordinrio, osconselhos
doscardeais, dosbispose dostelogos,
2, Da infalibilidade do Papa seria absurdo concluir a
sua impecabilidade. No h relao entre uma e outra, porque
o privilgio da infalibilidade no inerente virtudespor
isso um papa pode ser pecador e ao mesmo tempo infalvel.
3, Asdefiniespontifciasso irreformveis por si
mesmas e no pelo consentimento da Igreja ; poisa infalibi-
lidade pontifcia independente da aceitao dosbispos,
4. A infalibilidade pontifcia, posto que s fosse defi-
nida em 1870, foi sempre reconhecida na Igreja (n, e 337),
No se deve, pois, considerar como inovao doutrinal, mas
como afirmao solene e explcita duma verdade contida no
Evangelho e na Tradio,
Objectam algunsque a autoridade do Papa, na hiptese
da infalibilidade, constitui um poder absolutamente desptico
e suprime toda a liberdade de pensar.
Resposta. A autoridade infalvel do Papa no mais
desptica do que a da Escritura, Se o catlicosno tm
liberdade de pensar, quanto aosjuzosirrevogveisdo Papa,
tambm osprotestantesa no tm relativamente aostextos
da Escritura, Tanto maisque asdefiniessolenesdo Papa
so apenasa interpretao autntica dasfontesda Revelao,
E noo falsa da liberdade de pensar, consider-lo como
a faculdade de abraar o erro, Obedecer a um decreto infa-
lvel aderir livremente a uma verdade conhecida como certa,
(1 ) um exemplo frisante o de I eoc mio I, que enviou s Igrejas da
Africa um decreto em que condenava o erro de Peldgio e definia a doutrina
da graa, no s para a Igreja particular a que se dirigia o decreto, mas
para a Igreja universal.
0 PODERDE GOVERNODO PAPA471
470CONSTITUIODAIGREJA
401. B. Magistrio ordinrio. 0 Papa exerce este
magistrio ou directamente por si mesmo, ou indirectamente,
por meio dasCongregaesromanas.
a) Directamente. 0 Papa pode expor aosfiisas
verdadessem ter inteno de asdefinir solenemente,
1, Eassim que torna conhecidasassuasdecisesnascons-
tituies dogmticas geralmente publicadasa seguir a outro
documento, 2. Expe a sua maneira de ver ; a.) nasEnct-
clicas ou cartascircularesdirigidasa todososBispos, ou
s aosduma nao; R) nasLetras apostlicas, forma que
emprega, por exemplo, quando anuncia um jubileu; T) nas
Alocues consistoriais pronunciadasdiante dosCardeais; e,
finalmente, a) nosBreves, cartasdirigidasa particulares, etc,
Um dosprincipaisdocumentos, publicadosnosltimos
cem anos, foi sem dvida a Encclica Quanta cura seguida
do Syllabus, ou coleco de oitenta proposies, onde se con-
tm osprincipaiserrosdosnossostempose que Pio IX pela
segunda vez condenava em 1864.
Aosensinamentospontifcios seja qual for a sua forma,
e ainda que no tenham por objecto definiessolenes---
temossempre obrigao de prestar assentimento intelectual,
ao menosprovisoriamente, Dizemosprovisriamente, por-
que, se exceptuarmososdogmasque so sentenasirrefor ,
mveise possuem uma certeza absoluta e definitiva, osoutros
ensinamentosdo Papa, posto que dignosdo maior respeito
e venerao, no excluem a possibilidade de modificaes
ulteriores.
402. b) Indirectamente. 0 Papa exerce o magis-
trio ordinrio indirectamente pela Congregao do Santo
Ofcio, de que falaremosao tratar asCongregaesroma-
nas(n, 406).
Autoridade dos decretos da Congregao do Santo
Ofcio. A autoridade destesdecretosdepende da maneira
como so promulgados, 0 Santo Padre pode aprov-losda
doismodos; ou solenemente, In forma speciali, ou duw
modo comum, in forma communi,
1, Se a aprovao feita solenemente, isto , se o
Papa promulga osdecretosem seu nome e sob a sua res-
ponsabilidade jurdica, tm o valor dosactos pontifcios e
podem ser infalveisse possuem ascondiesrequeridas
(ex, : osdecretosde S. Pm V contra BAIOe de INocNclo X
contra JANsNIO), Muitasvezes, contudo, o Papa no tem
inteno de pronunciar sentena definitiva, ou definio ex
cathedra. Neste caso, o nosso assentimento deve ser, no
absolutamente firme como no acto de f, massincero e
interno,
2. Se a aprovao for dada in forma communi, quer
dizer, quando recai sobre um decreto considerado como acto
da Congregao, este decreto apenasum acto da Congre-
gao e no , portanto, infalvel, poisa infalibilidade ponti-
fcia incomunicvel. Todavia tem grande autoridade e
exige, seno um assentimento absoluto, ao menosuma pru-
dente adeso, Quem tiver razesgravespara julgar que a
deciso errnea, no tem, por esse facto, direito a comba-
t-la por palavra ou por escrito, maspode expor respeitosa-
mente Sagrada Congregao osmotivosda sua dvida,
2. OPODERDEGOVERNODOPAPA.
403. 1, Objecto. Com o poder supremo de juris-
dio pode o Papa ; a) fazer leis para toda a Igreja,
abrog-lasou dispensar delas, se o julgar conveniente; pode
at dispensar de leisfeitaspelosbispos, b) Nomear bis-
pos, ou determinar o modo da sua nomeao ; pode dep-los
quando houver razesgravese o bem da Igreja o exigir.
Foi o que sucedeu em 1801, quando Pio VII ordenou a todos
osbisposfrancesesque renunciassem ; c) convocar con
clios; d) pronunciar sentenas definitivas, Por isso, tanto
no campo disciplinar, como nasquestesdo dogma e da moral,
no podemosapelar do Papa para a Igreja universal, ou para
o conclio ecumnico ; nem do Papa pretensamente mal infor-
mado para o Papa melhor informado, como sustentavam os
galicanos,
2. Oseu exerccio. Como o Papa s por si no
pode exercer no mundo inteiro a jurisdio ordinria e ime-
diata, serve-se de legados ou nncios e doscardeaisresi-
dentesem Roma. No insistiremosaqui nasfunesdoslega-
O!
OPODERDEGOVERNODOPAPA
473
e o doscardeaisbisposem 6: trsclasses, por conseguinte,
no fundadasno poder de ordem, masno ttulo eclesistico,
que a cada um determinado no momento da promoo.
Desde ento o Sacro Colgio, de direito, compe-se de
70 membros, frente dosquaisest um decano, masde facto
este nmero raramente atingido.
3, Puno. A funo doscardeais dupla : a) Ex-
traordinria, Oscardeaisdevem reunir-se em conclave (1 ).,
o maisdepressa possvel, depoisda morte do Papa e eleger o
sucessor. Este direito foi-lhesatribudo por um cnon do
terceiro conclio ecumnico de Latro (1179), com excluso
do clero inferior e do povo. b) A funo ordinria con-
siste em auxiliar o Sumo Pontfice no governo da Igreja, nos
consistrios e nascongregaes.
(1 ) C onclave (lat. cum, com e clavis, chave). Este termo designa:
a) o local rigorosamente fechado chave onde se reunem os cardeais para a
eleio do novo Papa ; b) a prpria assembleia. As regras principais esta-
belecidas por GREG1 ao X, no segundo conclio ecumnico de Liao (1 274)
para a eleio do Papa, so:
1 . Os cardeais devem reunir-se, dentro dos dez dias que se seguem
morte do Papa. num local de tal maneira fechado que ningum possa entrar
nem sair. Pio XI (1 922) aumentou este tempo at 1 5 ou 1 8 dias. 2. Ningum
de fora pode comunicar com eles nem de viva voz, nem por escrito, sob
pena de excomunho ipso facto. 3. 0 conclave deve reunir-se no palcio
que habitava o pontfice defunto ou (se morrer fora da cidade onde resi-
dia com a sua corte), na cidade de que depende o territrio onde morreu
o Papa.
Quanto ao modo de escrutnio, a eleio pode fazer-se: 1 . por escrut-
nio secreto, com a maioria de dois teros dos votos; 2. por compromisso,
se, por motivo de graves divergncias entre os cardeais quanto pessoa que
se deve eleger, delegarem nalguns dentre eles para fazerem a escolha.
Deste modo foi eleito GnEGeuo X depois de trs anos de sede vacante;
3. por aclamao. Estes dois ltimos modos actualmente s existem em
teoria. Depois de cada escrutnio queimam-se imediatamente as listas.
0 direito de veto ou de excluso. Trs grandes naes catlicas: a Espa-
nha, a Frana e a ustria, reivindicaram por muito tempo o chamado direito
de veto ou de excluso. Eis aqui a sua origem e caraceeristicas : os sobera-
nos ligaram sempre grande importncia eleio do Papa e procuraram que
fosse nomeado o seu candidato. C omo era difcil, dado o grande nmero de
cardeais, arrogaram-se o direito de excluir os que no desejavam que fossem
eleitos. Este pretenso direito, porm, nunca teve valor jurdico, e os car-
deais, sujeitando-se a ele, tinham simplesmente em vista dar provas de
condescendncia para com os soberanos, a fim de captar a sua benevolncia.
C omo o exclusivo s se podia pronunciar uma vez em cada conclave e contra
um s indivduo, nunca podia haver mais de trs eliminados.
Durante o sculo XIX a Austria usou do direito do veto em todas as
eleies pontifcias, mas no pde impedir as eleies de Pio IX e de Leo
XIII; aquela por demora de quem devia pronunciar o veto, e esta porque se
fez com grande rapidez. E sabido que Pio X, eleito depois do veto austraco
dado contra o cardeal Rampolla que fora o mais votado, aboliu este direito
pela constituio cC ommissum nobis. (20 de Jan. de 1 904).
472
CONSTITUIODAIGREJA
dose dosnncios( 1
), Podemoscham-losrepresentantes
do Papa, ou embaixadoresjunto dum governo estrangeiro, S
trataremosmaisdevidamente do Sacro Colgio doscardeaise
dasfunesque desempenham, em particular, nosConsist-
rios e nasCongregaes romanas.
404.-0 Sacro Colgio dos cardeais.-1, Origem.- -
Primitivamente a palavra cardeal (do lat. cardo, gonzo, ponto
de apoio) designava o bispo, o sacerdote ou o dicono fixo de
uni modo estvel a uma igreja ou a um ttulo eclesistico, que,
por isso mesmo, ficava sendo o ponto de apoio, o centro da
sua actividade. A origem da instituio , cardinalcia deve
procurar-se no presbyterium da primitiva Igreja composto de
sacerdotese diconosencarregadosde auxiliar o bispo no
seu ministrio, Maisque nenhum outro, o Bispo de Roma
devia sentir a necessidade de ser assistido por causa do seu
pesado cargo, Por isso, desde osprimeirossculosvemo-lo
rodeado de diconos, encarregadosde cuidar dospobres, e
de sacerdotesque deviam exercitar o seu ministrio na Igreja
do pontfice e noutrasIgrejasparoquiais, que tomaram a
denominao de ttulos.
Onome de cardeal, primeiro genrico e indeterminado,
foi depoisreservado ao clero dasigrejascatedraise, pouco a
pouco, veio a ser um
ttulo exclusivo da Igreja romana, que
se pode considerar o cardo, o verdadeiro ponto de apoio da
unidade da Igreja.
2, Nmero. 0 nmero de cardeaisvariou conforme as
pocas, Nosfinsdo sculo XVI o papa Sisro V fixou o nmero
doscardeaisdiconosem 14, o doscardeaispresbterosem So
(1 ) Legados e Nncios.Antigamente todos os representantes do
Papa numa corte ou num conclio, chamavam-se legados. Na Idade Mdiu
havia trs espcies de legados : a) legados-natos, que eram arcebispos encar
regados de representar o Papa, dum modo permanente num reino ou pro-
vncia ; b) legados enviados (missi), que desempenhavam o papel de embai-
xadores junto dos prncipes ; e) legados a latere ou, segundo o sentido du
expresso latina, legados do lado, isto , os que vinham de junto do Pupa,
quer dizer, que tinham recebido dele os mais amplos poderes.
0 legado-nato actualmente um mero ttulo honorfico. Os legados
enviados foram substitudos pelos nxncios (lat. nuntius, mensageiro) : sito
verdadeiros embaixadores do Papa e representam-no como chefe espiritual,
e antes de 1 870 como chefe temporal, junto dos prncipes e governos.
O cargo de legado a latere ainda existe, mas simplesmente como misso tom-
p orria.
AS CONGREGAES ROMANAS475
Possui tambm, e isto o que especialmente distingue o S. Of-
cio das outras Congregaes,verdadeiro poder coercitivo no foro
contencioso, podendo, por conseguinte, empregar meios coactivos ( 1 ).
Dada a importncia desta congregao, o seu prefeito sempre o
Papa, Deste tribunal dependem todos os crimes de heresia e de cisma,
os delitos graves contra os costumes, todos os casos de sortilgio, magia
e espiritismo. Aprecia tambm as doutrinas, que quali fi ca de errneas,
herticas, prximas de heresia, temerrias, etc, Tem direito de conde-
nar livros e inscrev-los no catlogo do ndex (2).
2, A Congregao consistorial, Epresidida pelo Papa e tem a
misso de preparar os assuntos que se ho-de tratar nos consistrios.
Alm disso, ocupa-se de tudo o que se relaciona com o governo de todas
as dioceses, excepo das que esto sujeitas Congregao da Pro-
paganda.
3. A Congregao da disciplina dos Sacramentos. Fundada
por Pio X, esta congregao tem por fi m resolver as questes discipli-
nares relativas aos Sacramentos, exceptuadas as questes doutrinais,
que pertencem ao Santo Ofcio.
4. A Congregao do Conclio. Instituda primitivamente (1 564)
para fazer executar e observar em toda a Igreja os decretos do conclio
de Trento, tem, desde Pio X, como objecto, tudo o que se refere disci-
plina geral do clero secular e dos fiis. Deve vigiar pela exacta obser-
vncia dos preceitos da Igreja: santificao das festas, guarda do jejum,
da abstinncia, etc. Regula o que diz respeito aos procos, cnegos,
associaes pias, benefcios ou ofcios eclesisticos. Ocupa-se, fi nal-
mente, da celebrao e reviso dos conclios particulares... assem-
bleias, reunies ou conferncias episcopais.
5. A Sagrada Congregao dos Religiosos. Pertencem-lhe todos
os negcios relativos aos religiosos de ambos os sexos, aos votos solenes
ou simples, s comunidades e s associaes que vivem vida comum
maneira de religiosos, e os institutos seculares,
6, A Sagrada Congregao da Propaganda. Foi estabelecida
para propagar a f entre os infiis, herejes e demais seitas dissidentes,
Tem jurisdio nos pases de misses em que a hierarquia catlica no
est ainda completamente constituda. Os religiosos missionrios,
dependem da Propaganda enquanto missionrios, mas enquanto reli-
giosos, quer individualmente, quer como corporao, dependem da
Congregao dos religiosos (3). A Propaganda tem em Roma um
Seminrio onde se formam os que se destinam s misses.
7. A Sagrada Congregao dos Ritos ocupa-se dos ritos e ceri-
mnias, missa, ofcios divinos, sacramentos, e, em geral, do culto
na Igreja latina e das Relquias. So-lhe tambm reservadas as causas
de beatificao e canonizao,
(1) L. C iroupiN, art. Des Congrgations romaines. Dic. d'Als.
(2) Quando outrora o Santo Ofcio dava sentena de condenao,
era registada e publicada pela Sagrada C ongregao do Index, a qual tinha
tambm o direito de conceder as dispensas, que julgasse necessrias.
(3) Pelo que diz respeito s C ongregaes, consulte-se o Art. Congre-
gations romaines, do P. C H OTPIN (Die. d'Als ).
474CONSTITUIODAIGREJA
405. A, Consistrios. Chamam-se consistrios pon-
tifcios asassembleiasdoscardeaispresentesem Roma, presi-
didospelo Papa, nosquaisse tratam osnegciosmaisimpor-
tantes. Outrora reuniam-se duasou trsvezespor semana,
depois, porm, maisraramente e a intervalosirregulares.
Podem ser secretosou pblicos,
1, Secretos, se so admitidossemente oscardeais.
Nelesse trata da criao de novoscardeais( 1 ), da nomeao
dosbispose dosdignitriosda cria episcopal, etc.
2, Pblicos, quando podem assistir tambm outrospre-
ladose representantesdosprncipesseculares, Ocupam-se
dascanonizaes(n. 391 n), da recepo dosembaixadores,
da volta dum legado a latere, ou doutrosnegciosde inte-
resse geral.
406. B, Congregaes romanas. Osnegciosecle-
sisticosso to numerososque, para se poderem regular
todosnosconsistrios, instituram-se congregaes, tribunais
e ofcios particulares, encarregadosde tratar osassuntosde
que foram incumbidos.
A constituio Sapienti Consilio de Pio X (29 de Junho de 1 908)
s conservou onze congregaes prpriamente ditas, alm de trs trimu-
nais, Sagrada Penitenciaria, Rota e Assinatura apostlica,e de cinco
ofcios ou secretarias. BENTO XV suprimiu depois a congregao do
Index, passando os seus negcios para a congregao do Santo Ofcio,
Em compensao fundou a congregao da Igreja oriental, sendo actual-
mente as congregaes em nmero de onze. So as seguintes:
1 . A congregao do Santo Ofcio ou da Inquisio. E a
mais antiga e a mais importante pelas suas atribuies, a primeira das
quais a conservao e a defesa da f e da disciplina eclesistica.
E' natural que, para atingir este fi m, lhe tivesse sido dada a compe-
tncia e a jurisdio sobre os delinquentes, Seria puramente ilusria a
sua autoridade, se no pudesse reprimir os delitos contra a f e contra
os santos cnones. Por conseguinte, o S. Oficio ainda que secund-
riamente tribunal prpriamente dito, pois possui verdadeiro poder
judicial. Por meio de inquisio, em conformidade com os processos
cannicos em uso, pode julgar e condenar os culpados.
(1 ) Tanto neste como nos outros casos, os cardeais s tm voz consul-
tiva, porque a criao dos novos cardeais pertence unicamente ao Papa,
posto que s vezes se faa a pedido de alguns Estados catlicos.
Em virtude de um costume antigo, Portugal, Espanha, Frana e us-
tria tinham direito a um cardeal residente na C ria, que representava os
seus interesses junto da Santa S.
OS PODERES DOS B ISPOS477
dosem sesso plenria, Assuasconclusesso apresen-
tadasao Santo Padre, para ser publicadasdepoisde receber
a sua aprovao , dada .ordinriamente em forma comum.
Sob o ponto de vista jurdico, asdecisesda Comisso
bblica tm o mesmo valor que osdecretosdoutrinaisdas
SagradasCongregaesaprovadospelo Papa (n. 402),
408. Tribunais romanos. So trs: 1, A Sagrada Peniten-
ciaria, que tem jurisdio smente no foro interno ( 1 ), ainda que no
seja sacramental .
Este tribunal examina e resolve os casos de
cons-
cincia.
2, A Rota, suprimida em 1 870 e restabelecida por Pm X, ocupa-se
das causas civis ou criminais no foro contencioso. Eo tribunal de
segunda ou ltima instncia
para todas as crias eclesisticas do
mundo... Contudo, julga tambm em primeira instncia todas as
causas que o Sumo Pontfice lhe confia espontaneamente, ou a pedido
das partes, , , Lembremo-nos que todos os fiis tm direito absoluto de
ser julgados em Roma e podem sempre recorrer ao Soberano Pontfice,
que o pai comum de todos os cristos ( 2 ).
3, A Assinatura apostlica
o tribunal Supremo e recebe todos
os recursos dos julgamentos da Rota defeituosos por vcios de forma, e
os pedidos de reviso, etc,
409. Os ofcios so: 1. a Chancelaria apostlica encarregada
de expedir, por ordem da Congregao consistorial ou do Papa, as cartas
apostlicas e as bulas com o selo de chumbo (sub plumbo) relativas
proviso dos benefcios consistoriais, fundao de novas dioceses e
captulos, e a outros negcios de importncia; 2.
Dataria apostlica
que trata da expedio das cartas apostlicas para a colao de bene-
fcios no consistoriais reservados Santa S; 3. a
Cmara apost-
lica,
a que est confiada a administrao dos bens e direitos temporais
da Santa S, principalmente durante a sua vacncia ; 4, a
Secretaria
de Estado,
que compreende trs seces: a seco dos Negcios extraor-
dinrios, a dos Negcios ordinrios e a secretaria dos Breves ; - 5.
a Secre-
taria dos Breves aos Prncipes,
e a das Cartas latinas, que deve escrever
em latim as Actas do Papa,
Art, IV, Os Poderes dos Bispos.
OsBispospodem considerar-se :
a) individualmente;
b) colectivamente e em unio com o Papa.
(1 ) A palavra foro (lat. foru?n, tribunal) significa tribunal, jurisdio.
0 foro interno
a jurisdio, a autoridade da Igreja sobre as almas e sobre
as coisas espirituais, isto , sobre as coisas de conscincia. O foro externo
designa a jurisdio da Igreja sobre as coisas temporais e sobre os actos
externos.
(2) C itoutIN, art. cit.
7
476
CONSTITUIODAIGREJA
8, A Congregao do cerimonial trata das cerimnias pontifcias,
da recepo dos embaixadores e de quanto diz respeito s questes de
precedncia e protocolo.
9,
A Congregao dos negcios eclesisticos extraordinrios
tem a seu cargo os negcios que o Sumo Pontfice lhe remete por inter-
mdio do Cardeal Secretrio de Estado ( 1 ). So principalmente os que
se referem s leis civis e s concordatas com os diversos governos,
10.
A Sagrada Congregao dos Seminrios e Universidades
ocupa-se de todas as Universidades e Faculdades catlicas do mundo e
dos Seminrios. Olha pela pureza da doutrina e promove os estudos
sagrados,
11.
A Sagrada Congregao para a Igreja oriental. E presi-
dida pelo Papa e deve ocupar-se das Igrejas do Oriente, que antes eram
da alada da Congregao da Propaganda
(Can. 247-257).
407. Comisso bblica.
E conveniente tambm citar
a Comisso bblica
instituda por Leo XIII em 1902 (breve
Vigilantiae)
para promover osestudosbblicose defend-los
doserrose temeridades. Este rgo oficial era inferior s
Congregaesna ordem e na autoridade ; PIOX, porm, pelo
Motu prprio (Praestantia,
18 Nov, 1907 ), elevou-o
mesma dignidade dasCongregaesromanas,
A Comisso bblica constituda, como diz o decreto,
por certo nmero de cardeais, ilustrespela sua doutrina
e prudncia, So osnicos que constituem a Comisso
bblica prpriamente dita e s elesso juizesem todasas
questesda S.
Escritura, submetidasao seu exame,
0 S, Padre, porm, junta-lhesalguns
consultores, por ele
escolhidosentre oshomensmaissbiosna cincia teol-
gica dosLivrosSagrados, diferentesna nacionalidade, nos
mtodose nasopiniessobre osestudosexegticos, para
que possam entrar na Comisso osmodosde ver mais
diversose ser propostos, discutidose desenvolvidoscom
toda a liberdade (Motu prprio),
Osconsultoresredigem relatriosacerca dasquestes
propostas, que apresentam aoscardeais, membrosda Comis-
so, em sessesespeciaiscom suasobservaesmotivadas
.
Masa deciso dasquestes reservada aoscardeaisreuni-
(1 ) 0 Cardeal secretrio
de Estado assemelha-se ao ministro dos Neg-
cios estrangeiros, cuja , misso manter relaes constantes com as embai-
xadas e nunciaturas. E um dos cargos mais importantes da C ria romana,
bem como o do Cardeal Vigdrio
encarregado da administrao da diocese
de Roma.
ti
1
C ONSTITUIO DA IGREJA
1 .
PODERES DOS B ISPOS TOMADOS INDIVIDUALMENTE,
410. Preliminares.
a) Ainda que osBisposse
chamem e sejam, na realidade, sucessoresdosApstolos,
conveniente no esquecer que s so sucessoresdosAps-
tolosem sentido colectivo. A jurisdio
de todo o episco-
pado igual do colgio apostlico, masa jurisdio de
cada bispo no igual de cada apstolo : esta era universal
e aquela limitada,
b)
Estabelecido este primeiro princpio, perguntamos:
a jurisdio episcopal vem
imediatamente
de Deusou do
Sumo Pontfice? Ambasasopiniestiveram defensores(
1 ),
maspouco importa a diversidade de opinies, porque ambas
chegam mesma concluso, Com efeito, todosostelogos
admitem que o poder dosbispos, ainda que seja conferido
imediatamente por Deus, no seu exerccio depende do
Papa, que escolhe ou aprova a eleio do sujeito (
2 ) e
delimita a circunscrio e
a extenso do territrio da sua
jurisdio.
c)
Osbispos, posto que dependam do Papa, no so
simplesdelegados: possuem jurisdio ordinria, que lhes
prpria.
411.
1. Poder de ensinar. Como osbispostm
na sua diocese jurisdio ordinria, possuem, dentro dos
(1 )
Os defensores da primeira opinio dizem que a jurisdio ine-
rente ao poder de ordem ; e como este vem directamente de Dens, tambm
aquele deve vir, posto que fique suspenso at designao da diocese.
Os partidrios da segunda opinio, que
a mais comum, para provar que a
jurisdio vem directamente do Sumo Pontfice, alegam que o poder de
jurisdio no pode vir do poder de ordem por lhe ser anterior. Os bispos,
nomeados canonicamente e confirmados pelo Papa, possuem o poder de
jurisdio sobre a sua diocese que podem exercer antes da sua sagrao,
uma vez
que apresentem as bulas de proviso ao C abido
(Can. 334).
(2) Dizemos que o Papa escolhe ou aprova, porque a nomeao dos
bispos varia conforme os tempos e os pases.
A. Na Igreja do Ocidente
distinguem-se quatro sistemas. Podem as
nomeaes fazer-se : 1 , por livre escolha
do Papa, que designa a pessoa que
lhe apraz ; 2. por apresentao
dos chefes de Estado como sucedia antiga-
mente em Portugal e outras naes; 3. por
proposio de nomes. Os pro-
cos reunem-se sob a presidncia do metropolita e propem uma lista com
trs nomes, aos quais os bispos da provncia podem ajuntar outros, Esta
lista apresentada ao Papa, que no est obrigado a escolher entre os men-
cionados. 4. por eleio capitular.
Alguns cabidos tm o privilgio ele eleger
o bispo, cuja eleio deve ser confirmada pelo Papa.
B . Nas Igrejas do Oriente,
desde Pio IX, os bispos so escolhidos numa
lista de trs nomes proposta pelos bispos do patriarcado, e os patriarcas so
eleitos smente pelos bispos; devem contudo ser confirmados pelo Papa.
OS PODERES DOS B ISPOS
479
limitesdassuascircunscries,
o poder semelhante quele
que
o Papa tem em todo o mundo,
0 objecto
do seu poder doutrinal , portanto, guardadas
asdevidaspropores, o mesmo que o do Sumo Pontfice
compreende toda a Revelao e o que com ela est rela-
cionado, Mas, no gozam individualmente do privilgio de
infalibilidade ; convm, portanto, que, nascontrovrsiasmais
importantessobre questesde f, consultem o Sumo Pontfice.
Devem velar pela propagao e defesa da religio: o que
geralmente fazem por meio de
pastorais e decretos, Tm
o direito e o dever de proibir osmauslivrose asmspubli-
caes. Todososlivrosque tratam de questesde f, moral,
culto e disciplina eclesistica devem ser censuradospor eles
e no
podem imprimir-se sem a sua aprovao, ou
imprimatur.
412.
2. Poder de governar. a) Sob o ponto de
vista legislativo,
o Bispo governa todososfiisda sua dio-
cese, tanto no foro interno como no externo, Pode, por con-
sequncia, fazer leis, preparadasou no no snodo dioce-
sano ( 1
), acerca de tudo o que se refere f, ao culto e
disciplina, sempre, porm, sob a dependncia do Papa e da
lei geral da Igreja.
b) Sob
o ponto de vista judicirio,
o Bispo julga em
primeira instncia. Exerce este poder por meio do tribunal
eclesistico, presidido por um sacerdote chamado oficial, juiz
ou provisor que, excepto em casosextraordinrios, no deve
ser o Vigrio Geral (Can. 1573, 1),
c)
Sob o ponto de vista coercitivo
o Bispo pode infligir
penascannicase censurasaosdelinquentes, osquaiscon-
servam o direito de apelar para Roma.
2. PODERES DOS BISPOS TOMADOS COLECTIVAMENTE,
OsBispos, tomadoscolectivamente e em unio com o
Papa, podem considerar-se, quer dispersospelo mundo, quer
reunidosem conclio ecumnico.
(1 ) C hama-se Snodo diocesano
a reunio oficial de parte do clero dio-
cesano, que deve realizar-se em cada diocese, pelo menos de dez em dez anos,
para tratar de assuntos concernentes ao clero e ao povo
(can. 356). S o
exerceco poder de legislar, l pois os outros membros tml mesmo
apens voz consul-
tiva (can. 357, 362).
478
480
C O N S T I T U I O D A I G R E J A
O S C O N C L I O S E C U M N I C O S 481
I I
413. 1. Os Bispos dispersos.
N o necessrio
que os Bispos se reunam em conclio geral para serem infa-
lveis ; porque, ainda que estejam dispersos, constituem a
Igreja docente.
Quando J esus prometeu aos A pstolos que
estaria com eles at consumao dos sculos, no_
' ps como
condio que eles ou os seus sucessores se reunissem num
lugar qualquer, para obter a sua assistncia.
0 consenso unnime da I greja foi sempre considerado
como uma das provas mais bem fundadas da veracidade da
doutrina. S , VI C E N T E D E L E R I N S pde formular esta regra
D evemos ter como certo o que foi crido em toda a parte,
sempre e por todos.
T ambm se prova pela razo, 0 episcopado est encar-
regado do ensino, no s em circunstncias excepcionais,
mas em todos os tempos. Por conseguinte, deve, em todos
os momentos, possuir o privilgio da infalibilidade.
A ntes do primeiro conclio ecumnico, realizado em 325
na cidade de N iceia, o magistrio ordinrio dos bispos tinha
dado ao dogma grande desenvolvimento, N esse tempo a
I greja ensinava explicitamente os dogmas da S S ,ma T rindade,
da divindade de J esus C risto, da R edeno, da virgindade
e maternidade divina de M aria e os elementos do dogma do
pecado original, T inham j quase fixado a doutrina acerca
dos principais sacramentos, especialmente do baptismo, da
presena real de C risto na E ucaristia como sacramento e
como sacrifcio, etc. O s conclios posteriores, a maior parte
das vezes, tiveram apenas de elucidar pontos ainda em
discusso e consolidar a autoridade da crena j estabelecida.
Poderia acrescentar-se que, nos primeiros sculos, foram
condenadas muitas heresias por decises dogmticas de um
nmero restrito de bispos, dispersos pelo mundo, ou reu-
nidos apenas em conclios particulares ; provinciais ou
regionais,
414. 1
Os Bispos reunidos em concilio. 0 Con-
clio (do lat, conciliam, assembleia) ecumnico (do gr. oikou-
menikos,
universal) a assembleia solene dos bispos de
todo o mundo, E studaremos dois pontos nesta questo; as
condies
de ecumenicidade dum conclio, e a sua auto-
ridade.
A, Con dies de ecumenicidade. Para que um
conclio seja ecumnico requer-se
a) que todos os bispos do mundo tenham sido oficial-
mente convocados (I), mas no necessrio que todos assis-
tam. Tambm no preciso que o nmero dos presentes
exceda o dos ausentes; pois basta que haja um nmero
suficiente para representar moralmente a Igreja universal,
Em caso de dvida da ecumenicidade do conclio, compete
Igreja resolver esta questo de facto dogmtico (n. 391) ;
b) que o Papa comunique a sua autoridade ao conclio,
Donde se segue: 1. que todo o conclio ecumnico deve
ser convocado ( 2 ) pelo Papa ou com o seu consentimento;
2. que deve ser presidido por ele mesmo, ou por seus lega-
dos ; 3, que os decretos do conclio devem ser ratificados
por ele e promulgados por sua ordem (can, 227),
Por esta ltima razo, alguns conclios, por exemplo o
primeiro e segundo de Constantinopla, que no eram ecum-
(1) Por direito divino e ordinrio, devem ser convocados todos os bispos
que tm jurisdio actual, isto , os que esto frente de uma diocese, e que
se chamam ordinrios on residenciais. Os bispos titulares, os que esto re-
vestidos da dignidade episcopal e no tm jurisdio sobre uma diocese, e
os vigc&rios apostlicos podem ser convocados, mas no por direito. Nos pri-
meiros sculos, por causa das distncias e das dificuldades das viagens, s
eram directamente convocados os metropolitas,, com obrigao de se fazer
acompanhar de alguns sufragneos.
Hoje em dia, por privilgio ou por costume, so tambm convocados,
alm dos bispos ordinrios: 1. os cardeais, posto que no sejam bispos;
2. os abades e outros prelados de jurisdio quase episcopal com territrio
separado ; 3. os abades gerais de mosteiros reunidos em congregaes, e os
superiores gerais das ordens... (can. 223).
A ttulo de consultores podem ser admitidos s sesses telogos e
canonistas, inas sem direito ao voto. Outrora tambm eram convidados a
ttulo honorfico os prncipes catlicos.
(2) Dizemos convocado pelo Papa ou com o seu consentimento, porque de
facto a histria dos oito primeiros eoncilios narra que foram convocados
pelos imperadores. T-lo-o feito em seu nome, ou foram encarregados pelo
Sumo Pontfice? As cartas de convocao, as declaraes feitas aos conc-
lios, onde se diz que convocaram o conclio por inspirao divina, e os tes-
temunhos dos contemporneos, bispos, conclios e at papas, que lhes reco-
nheciam este direito, poderiam fazer-nos crer, primeira vista, que proce-
diam independentemente dos papas.
Devemos distinguir entre convocao material e convocao formal.
Os bispos por causa das dificuldades de deslocao, da pouca segurana das
estradas, dos mltiplos incmodos de to longas viagens teriam hesitado em
abandonar as suas residncias. Ademais, as reunies numerosas eram proi-
bidas pela legislao do Imprio.
Por conseguinte, s os imperadores tinham a autoridade e o poder
necessrios, para chamar os bispos, proteg-los e dispens-los das leis em
vigor, numa palavra, para fazer a convocacao material.
Mas nem por isso os papas deixavam de ser os autores da convocao
formal, pois presidindo s assembleias, quer por si mesmos, quer, as mais das
vezes, por legados seus, erigiam-nas em corpo jurdico com poderes para
definir pontos de dogma e de moral, ou para promulgar leis disciplinares.
31
483 OS C ONC ILIOS EC UMNIC OS
nicos`= pela- maneira como foram convocadose celebrados,
so-no por subsequente ratificao do Papa, Outrosconclios,
pelo contrrio, chamadosecumnicos, no o so, quanto a
algunsdecretos, " por lhesfaltar a aprovao do Papa, como
tivemos"ocasio de observar a propsito do cnon 28, do
conclio de Calcednia que o Papa S. Leo no quisratifi-
car (n. 370),
415. B, Autoridade dos Conclios ecumnicos.
O Conclio ecumnico, onde se encontram reunidoso papa e
osbispos, isto , a cabea e o corpo da Igreja docente, a
autoridade maisalta e maissolene que pode haver na Igreja,
Por conseguinte, infalvel nasdefiniesdogmticasrelati-
vas f e moral, Para a sua validade no preciso que
osdecretosconciliaressejam votadospor unanimidade abso-
luta; condio quase irrealizvel.
Esta tese, apresentada no conclio do Vaticano pelos
adversriosda infalibilidade pontifcia, no se apoia na hist-
ria, nem na tradio, nem nosprincpiosjurdicose racionais,
Com efeito, natural que em qualquer assembleia delibe-
raste e, portanto, nosconclios, asquestesdevam ser deci-
didaspela maioria de votos,
Deve, contudo, fazer-se uma excepo no caso em que
o papa estivesse com a minoria, poiss o papa tem o direito
de decidir definitivamente asquestes. Nesse caso o decreto
denominar-se-ia, com maispropriedade, deciso pontifcia,
do que deciso conciliar,
Mastero osdecretosconciliares, quanto ao seu con-
tedo, a mesma autoridade doutrinal? Nasdecisestomadas
por vriosconclios, principalmente pelosconcliosde Trento
e do Vaticano conveniente distinguir sa parte positiva, que
compreende oscaptulos consagrados exposio da dou-
trina verdadeira, e a parte negativa, que abrange oscnones
onde so condenadososerroscontrrios,
Qual o valor dunse doutros? Pelo que diz respeito
aoscnones, no pode haver dvida alguma. Como lanam
antema ( 1 ) contra aquele que contradisser a verdade deli-
(1 ) Antema (do gr. ana'thma, objecto consagrado, separado). lista
palavra, que no Antigo e Novo Testamento significa maldito, empregada
pela Igreja no sentido de excomunho, diviso, separao do corpo da Igreja,
nida noscaptulos, constituem evidentemente definio infa-
lvel e de f catlica, que no se pode rejeitar sem cair em
heresia. Oscaptulos doutrinaisso tambm infalveisquanto
substncia, Acompanham, porm, a definio considerandos
e argumentos em que ela se baseia, e que no so objecto
de infalibilidade.
416. Corolrios. 1 , Pelo facto de o conclio ser a mais alta
e solene autoridade da Igreja, dever concluir-se que est acima do
Papa? A teoria da superioridade do conclio, que teve a sua origem
no grande cisma do Ocidente, foi defendida por P. DEAILLY por GER-
SON (sc. XV) e pelos galicanos do sculo XVII, e formulada no segundo
artigo da Declarao de 1 682 (n. 398 n) e na terceira proposio do
Snodo de Pistdia. Combatida pela grande maioria dos telogos, rejei-
tada pela Santa S, que reprovou em particular os artigos de 1 682 e
os erros do Snodo de Pistia, foi definitivamente condenada pelo conc.
do Vaticano, que definiu a infalibilidade pontifcia (n. 399).
Desta definio se concluis a) que a autoridade do Papa
igual autoridade do conclio, entendendo por este nome a assembleia
dos bispos juntamente com o Papa ; e b) que superior autori-
dade do corpo episcopal, do qual tivesse sido excludo o Papa, isto ,
a cabea da Igreja. No se pode, portanto, apelar do Papa para o
conclio geral, visto que as duas autoridades so iguais,
417. 2. Utilidade dos conclios ecumnicos. Qual a utili-
dade dos conclios ecumnicos, uma vez que os bispos juntamente com
o Papa no so garantia superior de infalibilidade? Ainda que no
sejam necessrios ( 1 ), nem nunca o tenham sido no passado, pois o
privilgio da infalibilidade tanto pertence ao papa semente, como ao
conjunto dos bispos em unio com o papa, os conclios ecumnicos
so muito teis pelas razes seguintes:
a) 0 parecer dos bispos pode trazer muita luz ao conhecimento
da verdade. Com efeito, conveniente recordar que no se deve con-
fundir a infalibilidade com a inspirao, nem com a revelao e que,
apesar da infalibilidade ser a inerrncia de direito, no dispensa do
trabalho e do estudo. b) A sentena que proclama a f e condena o
erro ser mais autorizada e mais bem recebida pelos fiis, se for pro-
nunciada por toda a Igreja docente, e) Pelo lado disciplinar, as
leis do Papa sero tanto mais oportunas e eficazes, quanto melhor
informado estiver pelos bispos acerca dos erros e abusos que se intro-
duziram na Igreja.
Sob estes pontos de vista, os conclios so de grande utilidade.
No so, certo, absolutamente necessrios, como pretendiam os janse-
(1 ) No s os conclios ecumnicos so necessrios, mas houve at
pocas em que foram muito raros. J dissemos que no houve nenhum at
325. Entre os conclios oitavo e nono mediaram mais de dois sculos e meio,
e mais de trs entre os conclios de Trento e do Vaticano.
482C ONSTITUIAO DA IGREJA
484 CONSTITUIODAIGREJA
nistas, mas pode acontecer que sejam relativa e moralmente necess-
rios, no caso em que a unidade da Igreja esteja em perigo, ou quando
a eleio de um Papa seja duvidosa, como aconteceu por ocasio do
grande cisma do Ocidente.
41 8. Srie cronolgica dos conclios ecumnicos. Con-
tam-se geralmente at hoje dezanove conclios (1 ), Por ordem crono-
lgica so os seguintes:
1 , Conclio de Niceia, em 325, reunido por Constantino sob o
pontificado de S. Silvestre, Definiu contra Ario a consubstancialidade
do Verbo, sancionou solenemente os privilgios das trs Ss patriarcais
de Roma, Alexandria e Antioquia, e estendeu a toda a Igreja o costume
da Igreja romana, relativamente data da celebrao da festa da Pscoa.
2. Primeiro Conclio de Constantinopla, em 381 , sendo Papa
S. Dmaso e imperador Teodsio o Grande, Definiu contra Macednio
de Constantinopla a divindade do Esprito Santo, Este conclio que
no era ecumnico nem pela convocao nem pela celebrao, pois o
Papa no foi convidado nem a ele se associou, no adquiriu autoridade
nem categoria de conclio ecumnico seno mais tarde, pelo reconheci-
mento e adeso da Igreja universal,
3, Concilio de feso, em 431 , sob o pontificado de Celestino I,
no reinado de Teodsio o Moo, Definiu contra Nestrio a unidade de
pessoa em Cristo e a maternidade divina de Maria,
4. Concilio da Calceddnia, em 451 , sendo Papa S, Leo Magno e
imperador Marciano. Condenou o eutiquianismo e definiu a dualidade
de naturezas em Jesus Cristo, 0 28, canon deste conclio, que atribua
ao patriarca de Constantinopla o primeiro lugar depois do de Roma,
nunca foi confirmado pelo Papa.
5, Segundo de Constantinopla, em 553, Condenou, como eivados
de Nestorianismo, os chamados Trs Captulos, isto , Teodsio de
Mopsueste e as suas obras, os escritos de Teodoreto de Ciro contra S, Cirilo
e contra o conclio de feso e a carta de Ibas de Edessa injuriosa para
o conclio e para S. Cirilo, Celebrado sem a participao e mesmo com
a oposio do Papa Viglio, s veio a ser ecumnico pelo subsequente
consentimento do Sumo Pontfice.
6, Terceiro de Constantinopla, em 680, Condenou o monote-
litismo, os seus defensores e fautores e, entre outros, o Papa Honrio,
acusado de negligncia culpvel na represso do erro. Convocado no
pontificado de Agato, s foi confirmado por seu sucessor Leo IIque
aprovou o decreto conciliar, interpretando-o, pelo que se refere a
Honrio, no sentido que indicmos no n. 339.
7. Segundo de Niceia, em 787, sob a regncia da imperatriz
Irene no pontificado de Adriano I. Definiu contra os iconoclastas a
legitimidade do culto das imagens, fazendo a tradicional distino entre
este culto de venerao e o de adorao s a Deus devido,
(1 ) Muitos autores enumeram vinte, contando entre os conclios
ecumnicos o de C onstana (1 41 4-1 41 8), quo se reuniu durante o grande cisma
do Ocidente, e que s satisfez s condies de ecumenicidade depois de
eleio de Martinho V feita pelo mesmo C onclio (1 41 7).
OS CONCILIOS ECUMNICOS
8. Quarto de Constantinopla, em 869-870, sob Adriano II, que
pronunciou a deposio do usurpador Fcio,
9, Primeiro de Latro, em 1 1 23, o primeiro dos conclios ecum-
nicos do Ocidente, sob o Papa Calisto II. Tomou medidas severas
contra a simonia e o desregramento dos clrigos e aprovou a concordata
de Worms, celebrada entre Calisto II e o imperador Henrique V, a
respeito das investiduras.
10, Segundo de Lairo, em 1 1 39, sob Inocncio II, que publicou
medidas disciplinares referentes ao clero.
11. Terceiro de Latrdo, em 1 1 79, sob Alexandre III, que condenou
os Ctaros e regulou o modo de eleger os Papas, declarando validamente
eleito o candidato que tenha dois teros dos votos dos cardeais.
12. Quarto de Latro, em 1 21 5, sob Inocncio III. um dos
conclios mais importantes. Condenou os Albigenses e Valdenses; fixou
a legislao eclesistica acerca dos impedimentos matrimoniais e
imps a todos os fiis a obrigao da confisso anual e da comu-
nho pascal.
1 3, Primeiro Concilio de Lio, em 1 245, sob Inocncio IV, que
regulou a forma dos julgamentos eclesisticos,
14. Segundo de Liao, convocado em 1 274 por Gregrio X,
Restabeleceu a unio com os Gregos que reconheceram no s o
primado do Papa, mas tambm o direito de recurso ao seu tribunal
supremo e a legitimidade do Filioque.
15. Concilio de Viena, em 1 31 1 -1 31 2, sob Clemente V, que
decidiu a supresso da ordem dos Templrios, e definiu que a alma
racional a forma substancial do corpo humano.
1 6. Conclio da Basileia Ferrara Florena, 1 431 -1 442, Foi
convocado por Eugnio IV, teve como principais objectivos a reforma
da Igreja e nova tentativa de reconciliao das Igrejas latina e grega.
1 7, Quinto de Latro, convocado por Jlio II, em 1 51 2, e conti-
nuado por seu sucessor Leo X at 1 51 7, 0 seu principal fim foi a
reforma do clero e dos fiis. Publicou alguns decretos referentes s
nomeaes para os cargos eclesisticos, e ao teor de vida dos clrigos
e dos leigos.
18. Conclio de Trento, convocado por Paulo III e aberto nesta
cidade em 1 545, transferido dois anos mais tarde para Bolonha, suspenso
pouco depois, reaberto em Trento por Jlio IIIem 1 551 , interrompido
de novo, para recomear depois e concluir sob Pio IV em 1 563, Teve
por fim combater os erros protestantes, o mais clebre pelo nmero
e importncia dos seus decretos dogmticos e disciplinares.
19. Concilio do Vaticano, convocado por Pio IX, inaugurado
a 8 de Dezembro de 1 869 e suspenso a 20 de Outubro de 1 870.
S pde celebrar quatro sesses. Nenhum dos soberanos catlicos
foi autorizado a fazer-se representar oficialmente. Condenou na sua
Constituio Dei Filias, os erros contemporneos acerca da f e da
revelao, e definiu na Constituio Pastor Aeternus os dogmas do
primado e da infalibilidade pessoal de Pedro e seus sucessores ( 1 ).
(1 ) V. sobre esta questo, art. Conciles (Die. Vacant Mangenot).
485
AIGREJA, SOCIEDADEPERFEITA487
486CONSTITUIODAIGREJA
Valeur des decisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siege
(Beauchesne).J. DE MAISTRE, Du Pape. BOUDINHON, Primaut, Schis-
me et Juridiction, na Rev. Le Canoniste contemporain, Rev, 1 896. -
DEMEURAN, L' glise, Constitution, Droll public
(Beauchesne).Dom
GREA, De l'glise et de sa divine constitution
(Bonne Presse). A. J.
LEITE, OHomem e a Igreja (Lisboa).
1 '
419. Concluso. A Igreja, sociedade perfeita.
Do estudo que fizemossobre a sua constituio ntima,
lcito concluir que a Igreja uma sociedade perfeita.
Por sociedade perfeita entende-se a sociedade que no
depende de nenhuma outra, tanto no fim que prossegue
como nosmeios que lhe so necessriospara atingir esse
fim, Sociedade imperfeita, pelo contrrio, a que est
subordinada a outra e que s tem ospoderesque a essa
aprouver conceder-lhe. Assim, por exemplo, associedades
de caminhosde ferro, de minas, etc., so sociedadesimper-
feitas, poisesto subordinadasao Estado,
Que a Igreja seja uma sociedade perfeita, deduz-se da
sua origem e da sua natureza
a) da sua origem. A razo da existncia da Igreja
encontra-se na vontade de Jesus, que a fundou e, por con-
sequncia, na vontade de Deus. Logo, no depende da
vontade doshomense, portanto, no pode estar subordinada
ao poder civil; por sua origem sociedade autnoma e
independente;
b) da sua natureza. Pela sua natureza a Igreja
sociedade espiritual, porque J. Cristo lhe confiou a misso e
ospoderesde conduzir oshomensa um fim sobrenatural.
Sendo sociedade de ordem espiritual, evidente que no
pode receber, de nenhuma sociedade de ordem natural, os
meiosde que necessita para atingir o fim sobrenatural ; os
seuspoderesno podem depender da autoridade civil como
se dela fossem uma derivao ou participao,
No , pois, para admirar que a Igreja tenha sempre
reivindicado a prerrogativa de sociedade perfeita e que muitas
vezestenha proclamado a sua independncia do poder civil,
como fez no conclio do Vaticano (cap. III) e, antesdisso,
na condenao da proposio XXIV do Syllabus concebida
nestestermoss A Igreja no uma sociedade livre e
perfeita, completamente livre.. ,
Bibliografia. Do Dic. Vacant-Mangenot ; DUBLANCHY, art.
glise; ORTOLAN, art. Canonisation; QUILLIET, art. Censures doctrinales;
ORTOLAN, art. Conclave; FORGET, art. Congrgations romaines, art. Con-
cites.Do Dic, d'Als: FORGET, art. Curie romaine (Cardeais); CHOUPIN,
art. Curie romaine (Congregaes).TANQUEREY, Thologie dogmatique
fondamentale. PALMIERI, De Romano Pontifice (Roma). CHOUPIN,
CONSTITUIODAIGREJA
CAPfTULO IL , CONSTITUIO DA IGREJA
(continuao).
OS DIREITOS DA IGREJA.
RELAES ENTRE A IGREJA E O ESTADO.
I a) Direito de f 1
A. Derivados I ensinar.
2,
do seu po-ll
der de en 1 b)
Direito de
ninar. condenar 1 '
as ms dou-
3.
trinas.
Clrigos. Iseno do ser-
vio militar.
Leigos,
Origem do ndex.
Regras gerais.
Objeco.
488
a) Direito de J
1, Quanto aos ministros.
organizar a {
2, Quanto ao territrio.
hierarquia,k
b) Direito de fundar Ordens religiosas.
c) Direito de propriedade, Poder temporal
do Papa,
d) Direito de f 1 . Fazer leis.
legislar.12, Promulg-las,
e) Direito de f 1 . Penas espirituais,
represso. 1 2, Penas temporais,
B. Derivados
do seu po-
der de go-
vernar.
1
1 . Cesarismo, Liberalismo
radical, Galicanismo e
Josefismo,
l2. Liberalismo moderado,
1 , Distino
I
e indepen-
dncia dos
poderes em
1 , Princpiosseus domf-
on tese,pios.
2. Unio e en-
tendimento
1
nas ques-
tes mistas,
2. Aplicao f 1. Deveres
no caso dum I da Igreja,
Estado ca- 2. Deveres
tlco,do Estado,
a) Estado heterodoxo,
B, Hiptese' b)
Estado infiel.
dum Esta-) c) Es t a doj 1 . Verdadeiramente neutro,
do acat-1 neutro,1 2. Mais ateu que neutro,
liso,
I Corolrio. A Igreja e as diversas formas de
! ! ! governo.
1. Direi-
tos da
Igreja.
2. Rela-
es
entre a
Igreja
eo
Estado
t Tese e hiptese.
(
a) Erros.
A, Hiptese
dum Esta-
do catlico,
b) Doutrina
catlica.
DESENVOLVIMENTO
420. Diviso do captulo. A Igreja sociedade per-
feita de ordem espiritual, por sua natureza e por sua origem
tal foi a concluso a que chegmosno captulo precedente
(n. 419). Resta ainda estabelecer doispontos: 1. osdirei-
tos da Igreja; e 2, asrelaes entre a Igreja e o Estado.
Art, I, Os direitos da Igreja.
Como sociedade perfeita, a Igreja deve ser independente
na sua existncia e no exerccio dosseuspoderes; da dedu-
zem-se todososseusdireitos. Mas, como determinar esses
direitos? Basta recordar que todo o poder legtimo exige,
como consequncia, direitoscorrespondentes. Ora, a Igreja
recebeu do seu divino fundador a trplice misso de ensinar,
santificar e governar, Logo, possui osdireitoscorrespon-
dentes,
0 poder de ministrio compreende o direito de adminis-
trar os sacramentos. Como a Igreja recebeu de J, Cristo a
misso e o poder de santificar, o Estado tem estrita obrigao
de lhe dar toda a liberdade na administrao dossacramentos
e no exerccio do culto, segundo asregrasda liturgia, Visto
que ningum lhe contesta esse direito, tambm no nosdemo-
raremosa estud-lo, Limitar-nos-emos, por conseguinte, a
tratar, em doispargrafos, dosdireitosda Igreja relacionados
com ospoderesde ensinar e governar,
1, DIREITOSDA IGREJA DERIVADOSDO PODER
DE ENSINAR,
421. Podemosestabelecer como princpio geral que a
Igreja, em virtude do poder doutrinal que recebeu de Nosso
Senhor, tem o direito de ensinar por toda a parte a doutrina
crist. No disse J, Cristo aosseusApstolos: Ide, ensinai
todasasnaes? Ora, como esta ordem se estende ao
mundo inteiro, segue-se que a Igreja de direito se pode esta-
belecer em toda a parte e que o seu magistrio no limi-
tado pelo tempo, nem pelo espao,
6
OSDIREITOSDA IGREJA489
490 CONSTITUIODAIGREJA
Do encargo de ensinar a doutrina de Cristo, que pesa
sobre a Igreja, deriva um duplo direito com osdeverescorre-
lativos, Oprimeiro positivo e directo ; o direito de minis-
trar por si mesma o ensino religioso, que d origem ao
problema escolar. Osegundo negativo e indirecto ; o
direito de proscrever asdoutrinascontrdriash sua, que nos
leva questo do Index.
422. Odireito de ensinar. A quesdo escolar.
Notemosque s se trata aqui dascrianas, que pelo facto de
serem baptizadas, pertencem ao corpo da Igreja, Entre elas
convm distinguir duasclasses; osclrigos e osleigos.
A, Com relaao aosclrigos, ou melhor, quelesque
se preparam para ser ministrosdo Evangelho, evidente que
a Igreja tem o direito de osrecrutar, de abrir para eles, esco-
lasespeciais(seminrios) onde possa fomentar asvocaes
dosseminaristas, instru-lose educ-lospara desempenhar as
funesa que esto destinados,
4( SOaosBispospertence, diz Leo XIII, na Encclica
Jampridem, o direito e o dever de instruir e formar osjovens
que Deuschama para seusministrose dispensadoresdos
seusmistrios. Daquelesa quem foi dito ; ensinai todas as
naes, devem receber oshomensa doutrina religiosa ; com
maior razo compete, pois, aosBisposdar, como e por quem
julgarem conveniente, o alimento da s doutrina aosseus
ministros, que sero o sal da terra e faro entre oshomens
asvezesde JesusCristo.,,
Consentiriam acaso oschefesde governo, que osjovens,
colocadosnasescolasmilitares, para aprenderem a arte da
guerra, tivessem outrosmestresque no fossem osmaisexi-
miosnessa arte ? No escolhem osguerreirosmaishbeis
para ensinar osoutrosa disciplina dasarmase o esprito
militar ?... Estesso osmotivosporque, nasconcordatas
celebradasentre osromanosPontficese oschefesde Estado,
em diferentespocas, a Se apostlica atendeu, de modo par-
ticular, A. manuteno dosseminriose reservou aosBisposo
direito de osreger, com excluso de qualquer outro poder
A Igreja, encarregada da formao dosseusministros,
tem direito a que o poder, civil no ossujeite a obriga-
OS DIREITOS DAIGREJA
esincompatveiscom a sua vocao, taiscomo, o servio
militar.
Esta imunidade (1 ), que tem sido objecto dosataques
maisapaixonados, justifica-se plenamente, quer sob o ponto
de vista do direito eclesistico, quer do direito natural,
a) Sob o ponto de vista do direito eclesistico no pode
haver a menor divida. Muitoscnonesda Igreja proclamam
este direito e chegam at a interdizer aoseclesisticos, sob
pena de censura, o porte de armase a efuso de sangue
humano,
b) Sob o ponto de vista do direito natural, o funda-
mento da imunidade tambm incontestvel . Se o Estado
tem o dever de recrutar um exrcito e de exigir o servio
obrigatrio, tanto para manter a ordem interna como para
resistir aosataquesdosinimigosexternos, tem igualmente
outro dever no menosimperioso : o dever de prover sneces-
sidadesreligiosasda nao. Ora, isto supe a existncia do
clero, que necessrio para ensinar asverdadescristse
exercer o culto, e a iseno do servio militar, por ser grande
obstculo ao recrutamento sacerdotal,
Objectam algunsque o quartel melhor que o semin-
rio para aprender a virtude e um meio excelente para provar
a solidez dasvocaes,
Resposta. Ainda que a objeco no seja de todo falsa,
contudo negamosabsolutamente que uma vocao no seja
slida enquanto no for exposta sprovasmaisperigosas.
Objectam outros, em nome do princpio da igualdade, a
convenincia de osclrigostomarem parte nosencargos
comuns, uma vez que participam dasvantagensda vida
social,
(1 ) Entende-se por imunidade o direito, pelo qual os eclesisticos esto
isentos de certas obrigaes comuns. A imunidade pode ser pessoal, local e
real; 1 . Pessoal, se inerente pessoa; por exemplo, a iseno do servio
militar, o privilgio do foro eclesistico (n.. 432), o privilgio do cnon, que
declara inviolvel a pessoa dos clrigos e proibe toda a aco injuriosa con-
tra eles, sob pena de excomunho ; 2. local, se diz relao ao lugar; igrejas,
cemitrios, etc. O direito de asilo era o privilgio, em virtude do qual, os
que outrora se refugiavam numa igreja no podiam ser presos pelo brao
secular sem o consentimento da autoridade eclesistica; 3. real, se relativo
s coisas. Por exemplo, os bens eclesisticos estavam antigamente isentos
de encargos e imposies comuns.
491
I.
* 41
U
493 492C ONSTITUIO DAIGREJA
Resposta. Oraciocnio parece impecivel ; masno
sell verdade que o clero ajuda a levar o fardo comum da
sociedade ? A Igreja pensa, e com razo, que ossacerdotes
prestam sociedade, por meio dosseusministrios, servios
maisrelevantesdo que ossoldados(
1 ).
Sem dvida, so necessriossoldadospara defender a
'Atria contra osinimigosde fora ; mastambm so precisos
para resistir, posto que de outra forma, aosinimigosde den-
tro, g mister lutar contra asideiasfalsase subversivas,
contra a impiedade e a corrupo de costumes. A fim de se
preparar para esta misso, ossacrifciosdo padre, que desde
o seminrio abdica da sua liberdade e renuncia aosprazeres
do mundo e da famlia,
ultrapassam incontestvelmente em
grandeza ossacrifciosdossoldados, Podemospoisconcluir
que a iseno do servio militar, durante muito tempo reco-
nhecida Igreja como um direito, no era de nenhum modo um
privilgio excessivo que excitasse a admirao ou o escandalo,
423. B. Com relacao aos leigos. -- Sob nenhum
aspecto pode a Igreja desinteressar-se dasescolas, ainda que
sejam leigas. 1. Com efeito, tratando-se de instruct- 10 reli-
giosa, esse cuidado pertence-lhe, e ningum lhe pode con-
testar tal direito, 2, Tratando-se de qualquer outro ramo,
no domnio da literatura, da histria e dascincias, tem o
direito e o dever de vigiar para que nada se ensine contra o
dogma e a moral. E se osprof essores, saindo da neu trali-
dade legal se tornarem hostis, deve levantar a voz, lembrar
aospaiso dever que lhesincumbe de educar ou mandar
educar cristmente osfilhose de protestar perante osmestres
que atraioam a sua misso.
Dmosmaisum passo. A Igreja, como qualquer pessoa
que satisfaz scondiesrequeridas, deve possuir a liberdade
de abrir escolasprimrias, secundriase superiores. A que
ttulo poderia o ensino ser monopolizado pelo Estado ? No
verdade que, por direito natural, osfilhospertencem pri-
meiro aospaise depois sociedade ? Aqueles, a quem
(1 ) Assim o entende o governo france3, pouco suspeito de clerica-
lismo, que reduz aos dois meses de frias maiores o servio militar dos reli-
giosos, que na Sria ensinam durante o ano nas suas escolas, para aumentar
a expansgo da influncia francesa naquela regi'do. N. do T..
0 INDEX
devem a vida no competir porventura o desenvolvimento
da inteligncia e a formao do esprito? Mas, se a educa-
o dosfilhospertence aospaise estesmuitasvezesno
podem por si mesmosdesempenhar este encargo, evidente
que tm o direito de confiar o cuidado da sua educao aos
mestresque lhesaprouver, para que ossubstituam no cum-
primento deste dever paterno.
S ento comeam osdireitose osdeveresdo Estado,
E da sua competncia inspeccionar o ensino ministrado pela
famlia, osseusrepresentantes, a fim de se assegurar que seja
conforme ao bem comum, no v de encontro sverdades
religiosas, esteja em harmonia com aslegtimasaspiraes
dospaise no se dirija contra osdireitosde Deuse
da ptria. ( Veja-se a Encclica de Pio XI, Divini Illiuss
Maestri),
424. O direito de censurar os livros. O ndex.
A Igreja no desempenharia, como deve, a sua misso de
guarda da f, se no pudesse condenar osmauslivros. Tem
portanto o duplo direito 1. interdizer aosfiisa edio
dos livrosque no tenham sido prviamente submetidos
sua censura e aprovao, e 2. de proibir por justosmoti-
vososlivrosj editados (Can. 1384, 1.).
Do segundo direito provm a origem do
Index, assim
chamado por ser um catlogo de livroscondenadospelo
Santo Ofcio como prejudiciais f e moral e cuja leitura
e deteno so proibidasaosfiis.
A origem do Index, como caltilogo, data do sculo XVI, A Igreja
s
experimentou a necessidade de vigiar mais atentamente as
produes
literrias, quando, por causa da inveno da imprensa, se multiplica-
ram os livros.
Encontramos o primeiro esboo do ndex num catlogo de livros
proibidos, feito por ordem de PAULO IV, primeiro em 1557 e depois
em 1559; mas a verdadeira instituio do Index data do conclio de
Trento e de Pio IV que promulgou um catlogo com vriasregras rela-
tivas publicao, leitura e deteno das obras repreensveis(1564).
Estas regras foram vriasvezesretocadas por diversosPapas, e em
especial por Leo XIII que, na Constituio apostlica Officiorum ac
Muuerum (Fev. 1897), publicou Decretos gerais acerca da proibio e
censura dos livros.
No podendo a Santa S tomar conhecimento de todos os livros
que se publicam, LEo XIIIformulou algumas regras gerais que conde-
livros de apstatas ou herejes, que defendem (1 ) a heresia, bem como
livros nominalmente condenados de qualquer autor; todo aquele que
conserva, imprime ou defende esses livros, incorre ipso facto em excomu-
nho especialmente reservada ao Sumo Pontfice' (Can., 231 8).
0 valor do ndex deduz-se do que anteriormente dissemos (n, 402)
a propsito da autoridade das decises das congregaes, pelo menos
das que recebem a aprovao do Papa na forma comum. No so actos
do Sumo Pontfice e por isso no so infalveis; mas exigem da parte
dos fiis algo mais que a submisso exterior e que o respeitoso silncio.
425. Objeco. 0 ndex tem sido muito criticado.
Em nome dosgrandesprincpiosmodernos, liberdade de
conscincia, liberdade de pensar e liberdade de imprensa,
ataca-se a legislao da Igreja e o direito que reivindica de
proibir certoslivros,
Resposta. 0 direito, que a Igreja possui de pres-
crever oslivrosperigosos, funda-se na Sagrada Escritura,
na tradio e na razo,
a) A Sagrada Escritura.Como dissemos(n, 310),
a Igreja recebeu de JesusCristo a misso de ensinar as
verdadesreligiosasque Jesuslhe ordenou. Tal a origem
do dever que a Igreja tem de pregar verdadeira doutrina
e de se opor a tudo quanto possa obstar conservao da
verdade integral ; tem poisno s o direito, masat o dever
de desacreditar e condenar oslivrosmpiosou imorais,
b) A Tradio.-- 0 exerccio deste dever, embora na
sua forma actual date apenasdo sculo XVI, remonta s
origensdo cristianismo, S, Paulo previne o seu discpulo
Timteo contra osdiscursosprofanose vosque provocam a
corrupo, semelhana da gangrena (II Tim. III, 16, 17).
Ora, esta recomendao deve entender-se no smente dos
discursos, massobretudo 'dosescritos, Alm disso, referem
osActos(XIX, 19) que depoisdassuaspregaesem Efeso,
muitosdaquelesque se tinham entregado a supersties
perigosas, apresentaram oslivrose queimaram-nosdiante
de todo o povo .
DepoisdosApstolos, osPadres da Igreja, osconclios,
nam colectivamente todos os livros maus e que esto contidas no canon
1 399 do novo Cdigo.
uSo proibidas pelo direito: -1 , as edies em texto original da
Sagrada Escritura, bem como as tradues feitas ou editadas por acat-
licos em qualquer lngua; 2, os livros dos escritores que sustentam
a heresia, o cisma, ou procuram demolir dalgum modo os fundamentos
da religio; 3. os livros que de propsito atacam a religio ou os
bons costumes; 4. os livros dos acatlicos que tratam ex professo
da religio, a no ser que se verifique que nada contm contra a reli-
gio catlica; -5. os livros ou folhetos que narram aparies novas,
revelaes, vises, profecias, ou que procuram introduzir devoes novas,
ainda mesmo sob pretexto de serem particulares, se forem publicados
sem ter em conta as prescries cannicas; 6. os livros que atacam
ou ridiculizam qualquer dogma' catlico, sustentam erros condenados
pela Santa S, difamam o culto catlico, procuram demolir a disciplina
eclesistica e ultrajam de propsito a hierarquia eclesistica, o estado
clerical on religioso; 7, os livros que ensinam ou recomendam uma
superstio qualquer, os sortilgios, a adivinhao, a magia, a evocao
dos espritos e outras coisas deste gnero; 8. os livros que defendem
como lcito o duelo, o suicdio ou o divrcio ; os livros que tratam das
seitas manicas, afirmando que so teis e inofensivas Igreja e
sociedade civil; 9, os livros que tratam ex professo de coisas las-
civas ou obscenas, narrando-as ou ensinando-as; 1 0, as edies de Tki?,
livros litrgicos aprovados pela Igreja, que, em consequncia de algu-
mas modificaes introduzidas, no concordam com as edies autn-
ticas actualmente aprovadas pela Santa S; 1 1 . os livros que publi-
cam indulgncias apcrifas, proscritas ou revogadas; 1 2. as imagens
de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos anjos, dos
santos ou outros servos de Deus que no quadram com o sentir da
Igreja e com os seus decretos, seja qual for o sistema de reproduo
(Can. 1 399).
A esta lista de livros, condenados dum modo geral, preciso acres-
centar todos os livros nominalmente designados no catlogo do ndex,
cujos rigores foram algum tanto mitigados, Antigamente promulga-
vam-se condenaes globais contra todas as obras de um autor de ten-
dncias notbriamente perversas. Estas proibies, feitas em dio do
autor, desapareceram na ltima edio do Index.
Uso. S podem ler e conservar livros condenados, os que
legitimamente receberam autorizao da Santa S ou dos seus represen-
tantes.
Os livreiros no podem vender, emprestar ou conservar livros que
tratam ex professo de coisas obscenas; os outros livros condenados s
podem ser vendidos com autorizao da Santa S, e a pessoas que pru-
dentemente eles julguem autorizadas a compr-los' (Can., 1 404).
Os Ordinrios e todos os que tm a seu cargo o cuidado de
almas, devem oportunamente advertir os fiis do perigo e dano da
leitura dos maus livros, sobretudo dos livros condenados. (Can.,
1405, 2.) ,
Todo aquele que l cientemente, sem autorizao da Santa S,
(1 ) Quem ler livros que contm proposies herticas, mas que o
autor no defende nem se esfora por persuadi-las aos outros por meio de
argumentos e raciocnios, no incorre na pena de excomunho.
494CONSTITUIODAIGREJAOINDEX 495
496CONSTITUIODAIGREJA
e osPapasnunca cessaram de estigmatizar osmauslivros,
como recorda LEOXIII na constituio Officiorum :
A histria, diz, atesta o cuidado e o zelo vigilante dos
romanosPontficesem impedir a livre difuso dasobras
herticas, verdadeira calamidade pblica. A antiguidade
crist est cheia destesexemplos. Anastsio I condenou
rigorosamente osescritosperigososde Orfgenes; Inocn-
cio I, osde Pelgio; S, Leo Magno, osdosmaniqueus...
Do mesmo modo, foram fulminados, no decurso dossculos,
com sentenasda S Apostlica oslivrosfunestosdos
monotelitas, de Abelardo, de Marsflio de Pdua, de Wicleff
e de Huss (1),
c) A razo. A opinio, que em nome da liberdade
reivindica o direito ilimitado, para cada indivduo, de sus-
tentar sobre qualquer assunto o modo de pensar que lhe
aprouver, absurda, contrria razo e anrquica. Equivale
a pr no mesmo plano o bem e o mal, o justo e o injusto, o
verdadeiro e o falso, a virtude e o vcio, Por maior que
seja o amor da liberdade, nenhuma sociedade se conformaria
com taisprincpios. E que h limitesque no se devem
ultrapassar, No admira, pois, que a Igreja, sociedade
perfeita, que tem para com oscristossolicitude de me,
tenha o maior cuidado em afastar o veneno que pode dar
a morte alma de seusfilhos,
(1 ) Este argumento da tradio pode dar matria para grandes
desenvolvimentos. Poderamos fazer notar, por exemplo :
1 . que o exerccio deste direito se encontra noutras sociedades
religiosas. Entre os judeus, a leitura de vrios livros do Antigo Testamento
(Gnesis;Cntico dos cnticos, etc.) estava proibida aos jovens, por causa dos
perigos que algumas passagens podiam ter para imaginaes ainda muito
novas incapazes de descobrir o verdadeiro sentido do texto ;
2. que os prpriosprotestantes proibiram as doutrinas opostas sua.
No verdade que os discpulos de LuTExo anatematizavam os escritos dos
zuinglianos e dos calvinistas e que estes procediam do mesmo modo com os
luteranos? 0 mesmo fizeram os protestantes ingleses e a Rainha Isabel
de Inglaterra;
3. que a sociedade pag no era menos severa neste ponto. No
refere C C ERO (De nat. deor. liv. I. e. 23) que Protgoras de Abdera, s por
ter escrito esta frase: no posso afirmar nem negar que existam os
deuses , foi exilado do territrio de Atenas e o seu livro queimado no
meio da Agora ?
OS DIREITOS DA IGREJA497
2. DIREITOS DA IGREJADERIVADOS
DOPODERDEGOVERNAR,
426. Entre osprincipaisdireitosque Igreja compe-
tem em virtude do poder de governar, convm citar :
1, 0 0 direito de organizar a hierarquia. -- Quer se
trate dosministros, quer do territrio que deve administrar,
evidente que a Igreja tem o direito de reivindicar a completa
independncia. Pode escolher osministrosque entender e
indicar-lhesasregies que devem evangelizar. Pode, por-
tanto, dividir o territrio em circunscriesmaioresou meno-
res, provncias, dioceses, parquiase, se julgar conveniente,
modificar asdivisesantigase formar outrasnovas.
No h motivo para estranhar que, no decorrer dos
sculos, a Igreja tenha variado no modo de organizar a
hierarquia, e tenha concedido, por exemplo, ao povo ou aos
chefesde Estado o privilgio de intervirem e designarem o
candidato. So concessesque a Igreja fez devido svanta-
gensque por outro lado lhe advinham. verdade, para no
citar seno um exemplo, que a eleio dosministrossagrados
pelo povo, tinha a dupla vantagem de designar, pelo menos
geralmente, o candidato maisdigno (vox populi, vox Dei)
ou, ao menos, aquele que seria o maisbem aceito; mas
tinha inconvenientesgraves, Seja como for, taisconcesses
nunca diminuiriam, se novamente se fizessem, o direito
imprescritvel que a Igreja tem de nomear ospastorese de
lhesdar instituio cannica.
427. 2, O direito de fundar Ordens religiosas.
Na fundao dasOrdensreligiosasdevem considerar-se dois
aspectos: o espiritual e o temporal. 0 primeiro, que con-
siste na escolha dum gnero de vida maisacomodado obser-
vncia dosconselhosevanglicos, entra nosdireitosda Igreja.
Pertence-lhe incontestvelmente regular a forma, segundo a
qual, maisconveniente praticar osconselhosevanglicos.
0 aspecto temporal, cai sob a alada do poder pblico, pois
nenhuma associao humana, seja de que natureza for, pode
prescindir dele. Contudo, ao poder civil incumbe o dever de
tratar estasquestesde acordo com a Igreja.
32
11
li
498CONSTITUIODAIGREJA
OS DIREITOS DAIGREJA 499
428. 3, Odireito de propriedade. AIgreja, ape-
sar de ser sociedade espiritual, ao mesmo tempo sociedade
de homens, que no podem viver nem praticar a sua religio,
se no possuem benstemporais, Compete Igreja prover
sustentao dosseusministrose dosseustemplos; tem de
subvencionar asdespesasdo culto e socorrer ospobres,
Deve, portanto, gozar da capacidade jurdica de adquirir bens
e de osadministrar.
Porque motivo no poder adquirir e possuir realmente
osbensmateriaisde que precisa para atingir o fim a que
aspira? Quem ousar afirmar que o homem, pelo facto de
ser membro duma associao religiosa, fica despojado dos
seusdireitosnaturais? E, se a Igreja tem o direito de adqui-
rir benstemporais, porque no ter tambm o direito de os
administrar livremente, semelhana dasoutrasentidades
morais, como so asautarquiaslocais, ascasasde beneficn-
cia, oshospitais, etc,, aosquaisno se contesta esse direito?
Objecta-se contra o direito de propriedade que osbens
da Igreja, sendo bens de mo morta, causam ao Estado e
sociedade um prejuzo gravssimo, porque, pelo facto de serem
rarasvezesalienadose nunca transmitidos, no pagam os
direitosde transmisso,
A objeco no tem valor, poiso Estado pode, por uma
parte, limitar sempre a extenso do direito de aquisio, e
por outra, sabe substituir osdireitosde transmisso por outros
no menospesados, Assim, por exemplo, em Frana spro-
priedadesdosreligiososfoi lanado o Direito de acrscimo,
imposto de excepo bastantesvezesmaior do que osque
pagam associedadesannimas, industriais, comerciaisou
financeiras,
Em Portugal, pela Concordata de 1940, a maior parte dos
benseclesisticosesto oneradoscomo osbensdasoutras
pessoasmoraisperptuas,
Opoder temporal do Papa.Com o direito de possuir est rela-
cionada a questo do poder temporal dos Papas,
O poder temporal do Papado um dos pontos em que a doutrina
da Igreja tem sido mais discutida. Os adversrios apresentam o poder
temporal do Papa como usurpao e como fruto da ambio dos Papas.
Dizem que incompatvel coin o poder espiritual e oposto s palavras
de Jesus Cristo, quando afirmou que o seu reino no era deste mundo
(Joo, XVIII, 36), Donde concluem que Pio IX, censurando no Syllabus
as adversrios do poder temporal, cometeu um verdadeiro abuso de auto-
ridade ( 1 ). Estes ataques so injustificados. Ecerto que a soberania
temporal do Papa no um dogma. No de instituio divina, e tam-
bm no se pode afirmar que seja de absoluta necessidade, pois no
existiu sempre. Mas, no tm razo, quando dizem que ilegtimo,
intil e at prejudicial ao poder espiritual da Igreja.
1 . Longe de ser ilegtimo, o poder temporal dos Papas baseia-se
nos ttulos mais autnticos. Foram os povos que investiram os Papas na
soberania temporal. Alguns atriburam a origem do poder temporal a
uma doao de CONSTANTINO, quando este imperador, j cristo, abando-
nou Roma ao Papa e fundou Constantinopla. Esta opinio, porm, j
no merece crdito, 0 que parece mais verdadeiro que, a partir desse
momento, os imperadores no estiveram altura do seu cargo,
No momento em que os brbaros invadiram a Itlia e a punham a
saque e a sangue, no se apresentaram a defender o povo. Uma s
figura se ergueu majestosa diante da onda da barbrie, e a Itlia, que
os imperadores de Bizancio no podiam defender, voltou-se instintiva-
mente para os Papas como para seus protectores natos. aA desgraa
dos tempos, diz o protestante GIBBON, aumentou pouco a pouco o poder
temporal dos Papas, Foram os povos, que os foraram a reinar.
Quando Pepino o Breve e Carlos Magno cederam ao Papado os primei-
ros elementos do Patrimnio de S. Pedro, no fizeram seno sancionar
por meio dum acto solene a soberania que os povos, j de h muito,
tinham reconhecido aos Papas (2).
2. Fundamentado como est nos mais legtimos ttulos, no
incompatvel com o poder espiritual. Pelo contrrio, de grande uti-
lidade, pois constitui a sua melhor garantia. Eevidente que se o Papa
no possui um territrio onde seja soberano temporal, se est sujeito
jurisdio doutra potncia, sempre de recear que no tenha liberdade
na administrao do mundo catlico, que as suas decises sejam tomadas
sob a influncia de uma fora externa e superior e que, desta forma, os
interesses da Igreja paream enfeudados aos interesses da nao de que
for sbdito.
Ecerto que a lei de 1 3 de Maio de 1 871 , promulgada pelo governo
italiano e conhecida sob o nome de lei das garantias, proclamava que a
pessoa do Papa era sagrada e inviolvel, reconhecia-lhe o direito s
.honras de soberano e subtraia os palcios, que lhe estavam reservados,
(1 ) Leiam-se a propsito do poder de possuir, as proposies condena-
das no Syllabus: Prop. XXVI, A Igreja no tem direito natural de adquirir
e possuir ; Prop. XXVII, Os ministros sagrados da Igreja e o romano Pont-
fice devem ser absolutamente excludos de todo o cuidado e domnio das
coisas temporais, Prop. LXXV, Os filhos da Igreja crist e catlica discutem
entre si; sobre a compatibilidade da realeza temporal com o poder espiritual.
(2) 0 patrimnio de S. Pedro, formado primeiro pelo exarcado de Ra-
vena e pela Pentpole, foi aumentando com a anexao sucessiva de novos
territrios, entre outros, duma parte dos domnios da C ondessa Matilde de
Toscana, das Marcas e da Romanha, e finalmente do C ondado de Venais-
sin, etc. Mas no esta a ocasio de historiarmos o poder temporal
do Papa.
h'
O DIREITO DE REPRESSO501
ia
C ONSTITUIO DA IGREJA
jurisdio italiana
(privilgio da extra-territorialidade). Estas ga-
rantias, porm, eram muito precrias e aleatrias; concedidas hoje,
podiam ser retiradas depois, segundo os caprichos e o sectarismo doutro
governo. Por estes motivos, convm que o Papa seja independente, de
qualquer poder estranho.
A lei de 1 3 de Maio de 1 871 est actualmente revogada. A
oQues-
to romana, suscitada em 1 870 pela anexao de Roma ao reino de
Itlia, foi resolvida pelo a tratado de Latro o, entre a Santa S e a
Itlia, que reconheceu ao Papa a plena propriedade, poder exclusivo e
absoluto e jurisdio soberana o sobre a cidade do Vaticano, asseguran-
do-lhe assim a liberdade e a independncia necessrias para o governo
pastoral da diocese de Roma e da Igreja catlica em todo o mundo.
429. 4, C direito de legislar. Do poder legisla-
tivo da Igreja deriva o poder de fazer leis relativasscren-
as, disciplina e ao culto, que se estendam Igreja uni-
versal. Ora, o direito de legislar compreende o de
promulgar
leise, por conseguinte, o direito de
comunicar livremente
com todosossbditos,
Este direito, combatido outrora peloslegistase galica-
nosem Frana, pelosjosefistasou partidriosde JosII na
.
Alemanha (sculo XVIII), que defendiam que asleiseclesis-
ticasno
podiam ser promulgadassem a aprovao do Estado,
placet, exequatur, beneplcito rgio, foi
sempre reivin di
cado pela Igreja e, em particular, por Pio IX, que condenou
a opinio contrria, contida nasseguintesproposiesdo
Syllabus.
0 poder eclesistico no deve exercer a sua
autoridade sem licena e assentimento da autoridade civil
(Prop.
XX). 0 poder civil no s tem o direito chamado de
exequatur,
mastambm o direito de apelao a que chamam
ab abuso (1 ) (Prop, XLI ).
430. 5, O direito de represso.
Uma vez que o
poder governativo abrange no s o poder legislativo, mas
tambm ospoderesjudicial e coercitivo, devemosconcluir
que a Igreja tem o direito de julgar e de punir asinfraces
dasleis, com o fim de fazer respeitar asinstituiespor
aquelesque livremente asaceitaram,
Em virtude deste direito natural e divino, independente
de qualquer autoridade humana, a Igreja pode castigar os
delinquentessujeitos sua autoridade, com penasespirituais
e at temporais (Can. 2214),
A. Penas espirituais. Aspenasespirituaismais
importantesso ascensuras, A censura uma pena espiri-
tual e medicinal, dependente do foro externo, pela qual a
Igreja priva um homem baptizado, delinquente e contumaz
de algunsbensespirituais, ou com elesrelacionadosat que
se arrependa e seja absolvido (Can. 2241, 1 ). Se con-
siderarmososbensde que nosprivam, poderemosdistinguir
trsespciesde censuras: a excomunho, a suspenso e o
interdito,
a) A excomunho uma censura que separa o cristo da comu-
nho dos fiis (Can. 2257, 1 ). H duas espcies de excomungados:
-os vitandos ou que se devem evitar (vitandi) e os tolerados. Todo o
excomungado est privado do direito de assistir aos ofcios divinos,
excepto pregao (Can. 2259), e do direito de receber os sacramentos
(Can.
2260). No pode administrar licitamente os sacramentos, excepto
em perigo de morte ( Can. 2261), Deixa departicipar das indulgncias,
sufrgios, preces pblicas da Igreja (Can. 2262) e no pode receber
benefcios e cargos eclesisticos (Can, 2263). 0 excomungado fica pri-
vado de sepultura eclesistica se a pena lhe for imposta por sentena
(Can, 2260) ( 1 ). A excomunho, como qualquer outra pena, pode ser
latae sententiae (sentena dada) ou ferendae sententiae (sentena a
dar-se), conforme nela se incorre pelo.facto (ipso facto) de ter cometido
uma falta determinada pelos cnones, ou de ter efeito s depois de
fulminada a sentena contra o culpado.
b) Asuspenso a censura que priva o clrigo ou o sacerdote do
uso total ou parcial dos seus poderes. Pode priv-lo das funes do
poder de ordem (suspenso a divinis) ou do oficio, isto , dos poderes
ae jurisdio (suspenso a jurisdictione), ou do seu beneficio, quer
dizer, dos rendimentos inerentes ao seu ttulo. Se a suspenso total,
priva-o simultneamente de tudo. 0 sacerdote suspenso a divinis no
pode exercer licitamente as funes que dependem do seu poder de
ordem (por ex.: dizer missa, administrar os sacramentos), Se for sus-
penso a jurisdictione no pode exercer vlidamente nem licitamente
nenhum acto de jurisdio; no pode, portanto, administrar vlidamente
o sacramento da Penitncia. Mas o clrigo suspenso pode, como qual-
quer fiel, participar do uso passivo, isto , da recepo dos sacramentos.
e) 0 interdito priva do uso de algumas coisas santas, por exem-
plo, sacramentos, ofcios pblicos, cerimnias solenes, da sepultura
500
(1) A apelao chamada ab abuso
um recurso da autoridade civil
contra os supostos abusos do poder eclesistico.
(1 ) Acerca dos delitos fulminados com a pena de excomunho, con-
sulte-se o C digo de Direito C annico (Can. 231 4 e sege.).
502
CONSTITUIODAIGREJA
RELAES ENTREAIGREJAE OESTADO 503
i
t
eclesistica, etc. (1) (Cam 2268 e segs.). 1 , o interdito pessoal,
que recai sobre clrigos ou leigos; 2. o interdito
local, se pronun-
ciado contra um lugar: igreja, cemitrio, cidade, parquia; 3.
o inter-
dito particular,
que s atinge uma pessoa ou lugar; 4, o interdito
geral, que abrange uma regio inteira (2): o clero dum Estado inteiro,
todos os membros dum cabido, duma congregao, duma irmandade, etc.
Nota. a) A
suspenso difere das outras duas censuras pelo
facto de atingir semente os clrigos; o interdito distingue-se da exco-
munho e da suspenso
por ser uma pena que pode atingir os lugares
e
as pessoas. 1 3) A censura s legtima quando infligida por
uma falta mortal, exterior, consumada e se, alm destas condies,
houver contunzacia,
isto , se houver, da parte do ru, recusa obstinada
em obedecer a uma lei devidamente promulgada
e conhecida.
7) Em nenhuma censura se incorre quando se ignora a lei,
431 .
Penastemporais. Aspenasespirituaisno
causam tanta impresso aos
adversrios da Igreja, como as
penas temporais,
A Igreja, objectam, sociedade espiritual
que deve governar asalmaspela persuaso
e no pela fora.
No tem, pois, o
direito de infligir penas temporais.
A Igreja, com relao ao seu fim, sociedade espiritual,
mascomp6e-se de homense, por conseguinte, de elementos
visveis
como asoutrassociedades. Portanto, como elas,
tem direito de se defender contra aquelesque poem em
perigo a sua existncia.
E, se aspenasespirituaisno
forem suficientes, porque no h-de poder tambm empregar
meioscorporals,
para impedir que filhostransviados
e
rebeldesprejudiquem osdemais
e para reconduzir esses
prdigosao caminho do dever, chegando at a sacrificar
o
corpo, se assim for necessrio, para salvar a alma ?
A Igreja sempre reivindicou este
direito; Pio IX no
hesitou em condenar a opinio contrria, contida na XXIV
proposio do Syllabus:
4t. Igreja no tem direito de
empregar a fora ; no possui poder temporal algum directo
ou indirecto,
( 1 ) ORTOLAN, art. Censures ecelsiastiques, Dic. Vaeant-Mangenot.
( 2) Em Franca foi lanado um interdito, pelo Papa Gregrio V no
reinado de Roberto o Pio (9981 ; outro por Inocncio II no de Lus VII (1 1 41 );
um terceiro por Inocncio III no de Filipe Augusto (1 200), etc. 0 interdita
local compreendia ento a proibieao de celebrar os ofcios, de administrar
os sacramentos da Eucaristia, da Ordem e Extrema -Lin ea0 e de dar sepultura
eclesistica. Outrora eram muito frequentes estes interditos locais. Todo
o territrio portugus
esteve interdito no tempo de D. Afonso II e D. Sancho II.
Mas, embora a Igreja tenha reconhecido no passado
e
reconhea ainda hoje que possui
o poder de aplicar penas
temporais,
a primeira a admitir que o que era conveniente
numa poca
em que a sociedade era crist, no se acomo-
daria com asnecessidadesde hoje.
No estranhemos, por
conseguinte, que a Igreja tenha recorrido na Idade Media ao
brow secular,
para punir oscrimesde heresia que parecem
do domnio exclusivo dasideias, masque, na realidade,
perturbam a segurana do Estado cristo
e constituem ver-
dadeiroscrimessociais.
Alm disso, contra asleiselementaresda
crtica
histrica querer julgar oscostumesdo passado pelosdo
presente, asideiasantigaspelasmodernas,
432. Corolrio. Oprivilgio do foro
eclesistico. Alm
dos direitos que acabamos de enumerar, a Igreja gozou outrora dum
certo nmero
de imunidades, entre outras, do privilgio conhecido pelo
nome de foro eclesicistico.
0 efeito deste privilgio era subtrair o cl-
rigo
jurisdio do poder civil, de maneira que fosse julgado, no por
tribunais laicos, mas pelos
eclesisticos.
Que pensar desta imunidade?
Dever
dizer-se com alguns que era um privilgio injusto
e que
todas as infraces das leis do Estado, seja qual for o seu autor, devem
ser reprimidas pelo poder donde dimanam? A primeira vista, assim.
parece; mas se tivermos o
cuidado de nos colocar na hiptese duma
sociedade crist, fcilmente se concordar que natural que os clrigos,
especialmente sujeitos ao poder da Igreja, sejam julgados pelos tribunais
eclesisticos. A misso do sacerdote ser tanto mais fecunda quanto
mais circundado for de respeito
e considerao.
Ora, a comparncia
perante os tribunais causa escndalo e priva no semente o acusado
mas tambm a classe sacerdotal da autoridade de que necessitam para
pregar a moral e exercer os ministrios .
Ainda que a Santa S no tenha, nestes ltimos tempos, exigido
da maioria dos pases
catlicos esta imunidade, no devemos contudo
julgar que tenha renunciado ao seu direito, como se depreende da
condenao da XXIproposio do Syllabus: 0 foro eclesistico, para
os processos temporais dos clrigos quer no civet, quer no criminal,
deve ser absolutamente abolido, mesmo sem consultar a S Apostlica
e sem atender s suas reclamaes
Art. II,
Relaviies entre a Igreja
e o Estado.
433. A Igreja
sociedade perfeita, mastem de viver
nosEstados, 0 Estado e
a Igreja so duassociedadesaut-
nomase
independentes; esto colocadas, se no frente a
..010140.4
504
CONSTITUIAODAIGREJARELAES ENTRE AIGREJAE 0 ESTADO505
- frente, ao menosuma ao lado da outra, Quaissero, por
conseguinte, assuasrelaesmtuas?
Podemosdetermin-lasde doismodos. A Igreja pode
considerar-se semente na sua
constituio divina, com os
direitose ospoderes, sem se atender scircunstncias
em
que se encontra; ou concretamente, isto , nascircunstncias
e
adjuntosa que tem de se adaptar. Por outraspalavras,
podemosfazer distino entre os
princpios e a aplicao,
entre a teoria e a prtica
ou, como modernamente se diz,
entre a tese e a hiptese.
Notemos, porm, que se osprincpiosse aplicarem a
um Estado catlico, a tese se confundir com a hiptese.
Deste modo, podemosestabelecer asrelaesentre a Igreja
e
o Estado, permanecendo sempre no domnio dasrealidades,
E
o que faremosnosdoispargrafosseguintes, em que estu-
daremosasrelaesentre asduassociedades; 1. no caso
dum Estado catlico; e 1 - no caso dum Estado acatlico.
1.
RELAES ENTREAIGREJAE0 ESTADOCATLICO,
434,
Geralmente falando, asrelaesentre a Igreja e
o
Estado podem ser de trsmodoss1.
Dominao de um
pelo outro; 2,
separao completa; 3, acordo mtuo.
1 . Erros. Os dois primeiros sistemas so contrrios aos prin-
cpios catlicos que adiante explicaremos.
A.
. Dominao de um poder pelo outro. Esta tese pode
entender-se de dois modos
a)
A subordinao completa do Estado Igreja,
que s teve
raros partidrios entre telogos e canonistas, no merece a nossa ateno.
b) A subordinao da Igreja ao Estado
foi defendida outrora
pelos legistas cesarianos
e, modernamente, pelos liberais da Revoluo
e pelos comunistas,
Partindo de princpios opostos, pois os partidrios do cesarismo
consideravam os imperadores e os reis como senhores absolutos, nos
quais residia a suprema autoridade, ao passo que os liberais revolu-
cionrios defendiam que o povo era o nico soberano e a fonte nica
do poder, --- chegavam mesma concluso e confiscavam todos os
direitos em proveito dum poder nico, da personalidade do Estado,
qualquer que fosse o seu nome: imperador, rei, povo, monarquia ou
democracia. Segundo este sistema, a religio deve conservar-se por
causa da utilidade que advm ao Estado, mas no pode
subsistir a
Igreja independente e livre.
Esta, portanto, no tem direitos, por-
que s possui os que lhe forem concedidos pela boa vontade do
Estado.
Do cesarismo e liberalismo absoluto aproximam-se o galicanisrno
e o josefismo ( 1
), que, embora reconheam a independncia e soberania
da Igreja em assuntos meramente espirituais, atribuem ao Estado uma
autoridade preponderante nas questes mistas, como so, por exemplo,
o direito de impedir a publicao de bulas, encclicas, ordenaes, etc.,
sem prvio consentimento do Estado,
435. B. Separao completa entre a Igreja e o Estado,
Eo erro do liberalismo moderado.
Apoia-se no princpio que a Igreja
e
o Estado so duas sociedades distintas e independentes, que seguem
caminhos paralelos. Os seus partidrios adoptaram a frmula de
CAVOUI A Igreja livre no Estado livre
n, para indicar que ambas as
sociedades so livres na esfera respectiva e devem viver separadas,
desconhecendo-se mltuamente.
0 liberalismo moderado,
sob diversas formas, foi o grande erro
do sculo passado, Nasceu com LAMENNAIS, pouco depois da Revo-
luo de 1 830, Perante uma sociedade completamente transformada
e imbuda pelas liberdades modernas,
os catlicos liberais julgavam
reconciliar a Igreja com a sociedade nova, colocando-se apenas no
campo da liberdade. Sacrificando os direitos e as imunidades da
Igreja, contentaram-se com reclamar Unicamente a liberdade, julgando
que a religio deve propagar-se pela persuaso e no pela coaco e
que a verdade no precisa de proteco para triunfar do erro,
436. 2, Tese catlica. A tese catlica compreende
doispontossosprincpiose a sua aplicao.
A. Os Principias. 1, A
Igreja e o Estado so dois
poderesdistintos e independentes, cada um no seu domnio.
Deus, diz LEOXIII na Encclica
Immortale Dei, dividiu o
governo do gnero humano entre doispoderes, o eclesistico
e o civil: o primeiro encarregado dascoisasdivinas, o
segundo dashumanas. Cada um no seu gnero soberano,
circunscrito a limitesnitidamente marcadose traadosem
conformidade com a sua natureza e fim especial
.
No se deve, por conseguinte, afi rmar com o cesarismo
e o liberalismo absoluto que o Estado o poder soberano
'(1 1 Jos II, imperador da Alemanha (1 741 -1 790), empreendeu a
reforma
da Igreja catlica subordinando-a completamente ao Estado. C om
esse fim,
suprimiu, por sua prpria autoridade, algumas Ordens religiosas, colocou
outras
sob a fiscalizao do Estado, atribuiu-se o poder de nomear os bispos,
exigiu-lhes o juramento de fidelidade, estabeleceu o casamento civil, o
divrcio,
etc. Em Portugal seguiu quase os mesmos princpios o Marqus
de Pombal.
; Jr'
donde dimanam todososdireitosda Igreja e dasoutrassocie-
dades, E certo que est no Estado, mascomo sociedade
perfeita e no como parte subordinada ao todo,
Cada poder soberano na sua esfera, e a sua influncia
est delimitada pela natureza e pelo fim dasduassociedades.
A Igreja pertencem, portanto, todososnegcios espirituais,
isto , tudo quanto se refere salvao dasalmas; pregao
do Evangelho, administrao dossacramentos, celebrao do
culto divino, moralidade dosactoshumanos, etc. Ao Estado,
osnegcios temporais, quer dizer, tudo o que diz respeito
aosinteressesmateriaisdossbditose ao bem e proteco
da sociedade, como so o poder de determinar osdireitos
politicosdoscidadose osefeitoscivisdoscontratos, de
estabelecer impostos, de organizar o exrcito, de promover
ascinciase asartes, de punir ostransgressoresdasleis
civis, etc.
Uma vez que o Estado e a Igreja so independentesno
domnio respectivo, segue-se que um est subordinado ao
outro em tudo o que no da sua alada. Portanto, a Igreja
depende do Estado nasquestestemporais; mas indepen-
dente e soberana nasespirituaise sem isso no poderia sub-
sistir. Com efeito, se a Igreja estivesse sujeita ao poder civil
nascoisasreligiosas, estaria dividida em tantaspartesquan-
tosfossem osEstados; j no seria una, nem universal, nem
indefectivel; numa palavra, deixaria de ser a Igreja catlica,
2. Ainda que a Igreja e o Estado sejam doispoderes
distintos e independentes, no devem viver separados, mas
em mtua unio, Osmotivos desta unio esto indicadosna
Encclica Immortale Del de LEOXIII, 4< Como a autoridade
dosdoispoderestem por objecto osmesmossbditos, pode
suceder que a mesma coisa pertena sduasjurisdies,
posto que sob ttulosdiferentes. . mister, portanto, que
haja entre a Igreja e o Estado um sistema de relaesbem
determinado, semelhante ao que existe entre a alma e o
corpo.
Com efeito, embora o domnio da Igreja e o do Estado
sejam distintossegundo osprincpioscatlicos, tm fronteiras
comuns. 0 que no para admirar, poisambosospoderes
provm de Deuse tm osmesmossfibditos. Verdade que
osseusfinsso diferentes, masnunca devem estar em opo-
sio. Maisainda ; o fim temporal, a que tende o Estado,
no alcanar o seu objectivo, se no tiver em vista o fim
eterno e o destino da outra vida. Pode, por conseguinte,
acontecer ,que osmesmos objectos (por, ex.: asescolas, o
matrimnio como contrato civil e religioso), ainda que por
diferentesttulos, dependam da jurisdio dosdoispoderes,
como diz LEOXIII.
Pode tambm suceder que algumascoisas, temporais por
sua natureza, entrem na ordem espiritual por causa do fim a
que se destinam e fiquem sob a jurisdio da Igreja, como
acontece com oslugarese vasossagradosigrejas, mobilirio
que serve para o culto, bensdestinados sustentao dos
ministros, etc. Sobre estesdiferentespontos, que consti-
tuem aschamadas, questes mistas, incontestvel a juris-
dio da Igreja. E lcito at ir maislonge e dizer que, em
certo sentido, a Igreja tem poder indirecto sobre todasas
coisastemporais, no enquanto temporais, masenquanto
meiospara alcanar o fim sobrenatural. Em virtude deste
poder osPapasda Idade Mdia levantaram-se algumasvezes
contra osprncipesque abusavam do seu poder, chegando a
dep-loscomo indignosda soberania e a desligar ospovosdo
juramento de fidelidade, como sucedeu em Portugal com
D. Sancho II,
Daqui se conclui que, em princpio, se surgirem con-
flitoso Estado deve ceder, j que o seu poder inferior ao
da Igreja por sua natureza e fim. Na prtica, convm que
haja unio entre ospoderes; preciso que a Igreja e o Estado
no s se no desconheam mutuamente, mastroquem impres-
sese faam concordatas que sejam lealmente observadas.
437. B, Aplicao dosprincpios. Na hiptese
dum Estado catlico, isto , dum Estado onde osprincpios
podem ser aplicados, quaissero osdeveres recprocos da
Igreja e do Estado ?
Geralmente pode dizer-se que a concrdia, que entre eles
deve reinar, requer 1. negativamente: que procure cada
um no violar osdireitosdo outro e no dificultar a sua
aco ; 2, positivamente, que ponha cada qual disposio
do outro a sua influncia para bem dasduassociedades.
506CONSTITUIODAIGREJA
RELAES ENTREAIGREJAE OESTADO507
j
5O8CONSTITUIODAIGREJA
RELAES ENTREAIGREJAE 0 ESTADO5O9
a) Deveresda Igreja, A Igreja deve prestar ao
Estado o apoio da sua aco e autoridade. Por meio dos
seusensinamentosmuito pode contribuir para a felicidade
dospovos, ensinando que Deus a origem do poder e
impondo aosprncipesa obrigao de cumprirem osseus
deverese governarem com justia e suavidade . Alm
disso, prescreve aoscidadosa submisso aoslegtimos
detentoresda autoridade, considerando-oscomo representantes
de Deus, fomenta a unio entre oss6bditose oschefesde
Estado no s pela obedincia, maspelo respeito e amor,
proibindo asrevoltase tudo o que pode perturbar a ordem e
a tranquilidade do Estado (Enc. Libertas).
Deste modo, a influncia da Igreja contribuir de dois
modospara o bem do Estado. A autoridade dosgovernantes,
considerada no imicamente como a expresso da vontade do
povo mascomo o sinal da vontade de Deus, revestir carcter
sagrado e seguir melhor asregrasda justia. 0 povo, por
sua vez, aceitar a obedincia como submisso vontade de
Deus, que no rebaixa, masnobilita,
11) Deveresdo Estado. 1, 0 primeiro dever do
Estado para com a religio em geral prestar por si mesmo
um culto social a Deus. A razo no tem dificuldade em o
demonstrar, Deus Senhor no s dosindivduosmastam-
bm dassociedades. Ora, diz WOXIII (Enc. Immortale
Dei), se a natureza e a razo impem a cada um de nso
dever de honrar a Deuscom um culto religioso, por ser o
nosso Soberano Senhor e porque tendo nele a nossa origem
a Ele voltaremosum dia, a mesma obrigao pesa sobre a
sociedade civil.
0 chefe da sociedade deve, portanto, prestar homenagem
a Deusem nome do povo que representa, associando-se aos
actosde religio da Igreja catlica, Dizemosda Igreja cat-
lica, porque, ainda que o culto de Deusseja anterior a qual-
quer religio revelada, todavia h verdadeira obrigao, no
s para osindivduosmastambm para a sociedade, de se
submeter ssuasordens, se Ele revelou o modo como quer
ser servido e adorado,
2. 0 segundo dever do Estado reconhecer todos os
direitos da Igreja, que derivam da sua constituio divina
(v. cap, precedente). 0 Estado, por conseguinte, deve legis-
lar de maneira a auxiliar o desenvolvimento do catolicismo.
No pertence ao Estado julgar asdoutrinas, porque este cui-
dado deve deix-lo, diz Mons. D'Huisr, Igreja, que julgar.
osinovadorese aplicar-lhes- asleiscannicasno caso de
obstinao, chegando a exclu-losdo seu seio ; maspoder
oferecer autoridade religiosa o poder coercitivo de que dis-
pe, para evitar o contgio, cujosprogressospodem ser funes-
tos prpria sociedade civil ( 1 ).
438. Objeca es. 1. Usurpaa es. Contra a tese
catlica objectam osadversriosasusurpaes da Igreja,
dizendo que, se o Estado admitisse a independncia da Igreja
e lhe reconhecesse todososdireitosque reivindica, formaria
um Estado no Estado e tornar-se-ia um governo teocrtico
intolervel.
Resposta. Para se insurgir contra asusurpaesda
Igreja, seria preciso primeiro provar que a Igreja um poder
perigoso para a segurana do Estado. Ora, osromanosPon-
tficese osprincpioscatlicossempre ensinaram aosfiisa
obedincia sleispromulgadaspelo Estado, a no ser que este-
jam em oposio com osdireitosde Deuse da conscincia.
E certo que a coexistncia de duassociedadesindepen-
dentescausaria perturbaese desordens, se ambasassocie-
dadesfossem da mesma ordem, se tendessem para o mesmo
fim, ou para finsopostos. Ora, j vimosque a Igreja e o
Estado tm finsdiferentes, um de ordem espiritual outro de
ordem temporal e que, portanto, no se opem maspodem e
devem harmonizar-se perfeitamente.
Alm disso, no se pode dizer com propriedade que a
Igreja est no Estado, porque materialmente ultrapassa-o a
Igreja catlica est em todos os Estados e, por esta razo, j
dissemosque no podia depender de nenhum poder civil e
ainda menos, estar sujeita engrenagem poltica do Estado.
Por outra parte, acusar a Igreja de aspirar a um poder teo-
crtico, que desejaria ter o predomnio at nasquestestem-
t(al). ions. o'H OLsT, quares. 1 895, La morale du Citoyen, 5.. C. L'glise
at
t
,-.101111101111.04,..
510CONSTITUIODAIGREJA
porais, pr-se em contradio flagrante com a doutrina de
Leo XIII acima exposta.
439. 2. A intolerncia. Se o Estado impuser um
culto qualquer aossbditos, se, em nome de todos, pretender
cumprir deveresque nem todosreconhecem, se finalmente
colocar osseuspoderesao servio da Igreja contra osherejes
e indiferentesem matria religiosa, no exorbitar dassuas
atribuies? No ser intolerante
e violentar asconscin-
cias? Desaparecero asliberdades modernas: liberdade de
pensamento, de conscincia e de imprensa,
Resposta. a)
No devemosesquecer que para pro-
var a tese catlica noscolocmosna hiptese de uma socie-
dade perfeitamente unida pelascrenascatlicas. Ora,
nenhuma sociedade pode subsistir se os
princpios em que
se apoia no forem respeitados. Osadversriosno tm
geralmente dificuldade em o admitir quando se trata, por
exemplo, da famlia e do direito de propriedade. E porque
no se h-de poder aplicar religio, que incontestvelmente
um dosfundamentosda sociedade? OsEstadosno deixam
de se opor aosque pregassem a poligamia, a poliandria e a
abolio da propriedade individual, 0 mesmo fazem contra
osinternacionalistasque, fugindo ao servio militar, conspi-
ram contra a unidade nacional,
Poder sustentar-se que o Estado procede tirnicamente
quando persegue osrevolucionriose oscomunistasque
ameaam a sua segurana? Todasaspessoasde bom senso
confessam que apenascumpre o seu dever e desempenha a
sua misso, Poisbem, diz Mons, D'HIILSr, transportai
estesprincpiospara uma sociedade, cujosmembrossejam
todoscristos, onde a crena religiosa tem, se no a unani-
midade absoluta, que no existe neste mundo, ao menos
a unanimidade moral que observvamosh pouco a respeito
dasideiasque inspiram e so a base dasnossasinstituies
fundamentais; a propriedade, a famlia, a ptria, Recusareis
a esse Estado o direito de prestar o seu apoio? Terica-
mente no vejo quem lho possa proibir ( 1 ),
(1 ) ffioes. D' HULST, cony. cit.
RELAES ENTRE AIGREJAE OESTADO
511
b) Osque objectam com as liberdades modernas,
saem da hiptese duma sociedade quase exclusivamente
catlica. Vejamos, contudo, o que se deve pensar, perma-
necendo lnicamente no campo dosprincipias, Porventura,
condena a Igreja essasliberdadesconsideradascomo funda-
mento dassociedadesmodernas, a liberdade de pensamento,
de conscincia e de culto? Antesde responder a esta per-
gunta, bom fixarmo-nosno sentido que se deve dar
palavra liberdade.
Segundo a doutrina da Igreja, a liberdade o poder
fsico
de agir desta ou daquela maneira, masno o
direito
de agir de todos os modos possveis. A razo prescreve ao
homem que acredite na verdade e pratique o bem. A liber-
dade no consiste no direito de escolher entre o verdadeiro e
o falso, entre o bem e o mal, o justo e o injusto, A von-
tade, diz LEAOXIII, pelo facto de depender da inteligncia,
cai num vcio radical, -- a corrupo e o abuso da liberdade,
toda a vez que deseja um objecto contrrio razo, Deus
a perfeio infinita, a inteligncia e a bondade por essncia
e contudo absolutamente livre e no pode de modo algum
querer o mal moral. A liberdade de pecar no liber-
dade, masescravido (Enc. Libertas).
Osliberais, que pem acima de tudo asliberdades
modernaspara combater a suposta intolerncia da Igreja,
entendem por liberdade o direito de pensar, de dizer, de
escrever e de ensinar tudo o que se quiser; o falso e o ver-
dadeiro, o bem e o mat, Julgam que a liberdade de cons-
cincia consiste em poder, sua vontade, escolher esta ou
aquela religio ou em no professar nenhuma, em se libertar
dosdeverespara com Deus. Este conceito de liberdade
evidentemente contrrio aosprincpioscatlicose prpria
razo.
A Igreja condena esta liberdade, considera-a como uma
simples licena
e nunca poder admitir que a liberdade
seja o direito de abraar o erro e de escolher o mal,
Por conseguinte, o erro e o mal, em princpio, no tm
direito algum tolerncia nem sequer existncia, ver-
dade que S, AGOSTINHOdisse ; exterminai oserrose amai
oshomens. Assim deve ser; mascomo se ho-de verberar
oserrossem tocar em quem osprofessa?
Na prtica,
P
IF,
512 CONSTITUIODAIGREJA
portanto, quando esto de boa f, e no lcito supor o
contrrio sem gravesmotivos, convm trat-loscom defe-
rncia e caridade tm jus tolerncia.
Mas preciso que esta tolerncia no seja prejudicial
aosoutrosmembrosda sociedade ; porque em todasassocie-
dadesa liberdade individual acaba onde comea o direito
dosoutros. Enquanto a liberdade de pensamento e de cons-
cincia se confina ao foro interno, Deus o nico juiz das
nossasopinies. Mas,
uma vez exteriorizadas, ficam sujeitas
apreciao do poder social, que tem o estrito dever de
proteger a verdade contra o erro, o bem contra o mal e de
castigar osque propagam falsosprincpios, ainda que o
faam de boa f, Maseste dever maisimperioso quando
se trata de homensde ma, f,
ConclusSo.Podemos, pois, concluir ; 1. que a liber-
dade de conscincia no pode ser, em caso algum, o direito
de rejeitar, nem mesmo de abraar qualquer religio : con-
siste pelo contrrio, no direito de professar livremente a
religio que Deusensinou ;
2, que, por conseguinte, no se deve censurar a Igreja
de ter usado outrora da coaco, poiss a empregou contra
osherejes, isto , contra aquelesque dependiam da sua
jurisdio e contra oscristosde m f que no cumpriam
assuasobrigaes. Quanto aosmais, nunca 11Ascoarctou a
liberdade de pensar como quisessem. Sempre ensinou que
no se deve obrigar ningum a praticar um acto religioso
que repugne sua conscincia ; nunca forou a fazer parte de
seu corpo e a aderir f e ao culto osque nasceram e se
educaram no paganismo ou em qualquer seita hertica,
2. RELAES ENTRE AIGREJAE 0 ESTADOACATIJCO,
440. No pargrafo precedente, expusemosa tese e a
sua aplicao na hiptese de um Estado catlico. Osprin-
cpiosem si mesmosso imutveise verdadeirose no
dependem do reconhecimento, nem da aprovao do poder
civil ; quanto sua aplicao, porm, no so absolutos,
porque a Igreja, na reivindicao dosseusdireitos, v-se
obrigada a ter em conta ascircunstnciase a aceitar a
RELAES ENTREAIGREJAE0 ESTADO513
situao que estaslhe impem, sem contudo abdicar dos
princpio s.
Neste ponto o liberalismo est em oposio com osprin-
cipioscatlicos, poisno faz distino entre tese e hiptese,
concedendo, em princpio osmesmosdireitosao erro e
verdade, heresia e ortodoxia, e regulando todososcultos
pelo mesmo direito comum.
Osprincipaiscasosem que a Igreja no pode aplicar
osseusprincpiosso 1." no Estado heterodoxo; 2, no
Estado infiel; e 3, no Estado neutro.
1. Hiptese dum Estado heterodoxo. Estado hete-
rodoxo aquele que, apesar de prof essar a religio crist,
est separado da Igreja catlica pelo cisma ou heresia, De
si osEstadoscristosdeviam reconhecer Igreja catlica
todososdireitosque J. Cristo concedeu sociedade por Ele.
fundada.
OsEstadosprotestantesesto particularmente obrigados.
a no restringir osdireitosdoscatlicos, porque, fundadosno
princpio do livre exame, no podem pretender que a sua
interpretao da Bblia seja a nica verdadeira, com excluso
dasoutras. Por conseguinte, osdireitos essenciais da Igreja,
de ensino, de culto, de propriedade, etc, no devem ser
frustrneos,
441.-2. Hiptese dum Estado infiel. Sob este
ttulo
designamososEstadosque professam asreligies, cuja
falsidade demonstrmosna primeira seco da segunda Parte,
A Igreja catlica, em teoria, apoiada na razo e nosargu-
mentosque demonstram a transcendncia do cristianismo,
pode reclamar todososdireitosque, sob o ponto de vista
natural devem ser concedidos verdadeira religio. Na pr-
tica, porm osmissionriosque evangelizam os'Daisespagos
s reivindicam a liberdade de pregar a f de Cristo, que mui-
tasvezescompram com o preo do seu sangue.
442._3,0
Hiptese dum Estado neutro. 0 Estado
neutro poderia tambm chamar-se Estado liberal. De qual-
quer maneira, designa o Estado que aceita asliberdades
modernase no reconhece nenhum culto oficial, Quaissero,
33
514
CONSTITUIODAIGREJA
nesta hiptese, asrelaesda Igreja e do Estado ? A res-
posta Dal pode ser geral
1, Tratando-se dum
Estado verdadeiramente neutro,
onde so numerosasasseitasdissidentes, a unio da Igreja
e do Estado prticamente impossvel, 0 regime de sepa-
rao nestescasos a situao normal. A Igreja, sem renun-
ciar a nenhum de seusprincpiospode, na prtica, aceitar a
separao como o nico modus vivendi possvel nesta cir-
cunstncia.
Separao, porm, no quer dizer indiferena, desunio
e muito menoshostilidade. Um estado, ainda que seja neu-
tro, no pode desinteressar-se da religio nem da moral.
Compreende-se sem dificuldade que um Estado no tome
partido por uma religio determinada, que admita todosos
cultos; mastem sempre o dever de proteger a religio em
geral,
contra osateusque, eliminando a ideia de Deus, ten-
tam minar osalicercesde todasasreligies. Exalte, pois,
o
Estado quanta quiser asliberdadesmodernas, contanto que
no tolere osprincpiosque ameaam a segurana da ordem
pblica e do Estado. Assim como no pode permitir que
faa cada qual o que lhe aprouver, tambm no pode consen-
tir que se diga, escreva e ensine tudo o que quiser. Se o
Estado no pode conceder osseusfavores, a uma religio
determinada, com excluso dasdemais, pode ao menosproteger
a todasasque no forem aberraesda inteligncia humana,
OsEstadosUnidosdo-noso exemplo da aplicao
destesprincpios. Neste pas, to dividido nassuascrenas,
seria difcil politicamente proteger um culto de preferncia
aosrestantes. Ora, vemosque, onde a separao se impunha
como uma necessidade, o poder civil favorece de mil modos
asreligies, excepo da seita dosNormons (v. a nossa
de l'Eglise n. 298), concedendo a todasa liberdade
de aco e salvaguardando osinteressesde cada uma pela
equidade dassuasleise pela justia dosseustribunais,
2. Tratando-se de um Estado mais ateu do que neutro,
a Igreja v-se obrigada a reivindicar semente as
garantias
do direito comum. Neste caso, visto ser impossivel a unio
dosdoispoderes, tem de limitar-se a reclamar para si, como
para qualquer religio, liberdade plena e integral para a
profisso da f e o exerccio do culto.
RELAES ENTREAIGREJAE 0 ESTADO515
Mas, se assim , podero objectar, porque que Pio X
condenou com tanta veemncia a lei de Separao francesa
na sua Encclica Vehementer de 11 de Fev, de 1906, e a
portuguesa na Encclica Y amdudum in Lusitania de 24 de
Maio de 1911. Osmotivosso bem clarose deduzem-se
do que dissemosneste captulo. a) Primeiramente, por-
que, em tese a separao no o regime normal e est em
oposio com a doutrina da Igreja, b) Em segundo lugar,
porque a ruptura duma concordata no se deve fazer sem o
consentimento recproco
dasduaspartescontratantes, como
declara Pio X
concordata firmada entre o Sumo Pontfice e o
governo francs, como todosostratadosdo mesmo gnero
que osEstadosconcluem entre si, era um
contrato bilateral,
que obrigava asduaspartes, 0 romano Pontfice e o chefe
da nao francesa comprometeram-se solenemente, tanto por
si como por seussucessores, a manter inviolvelmente o
pacto que assinavam. Da
resultava que a concordata tinha
a mesma norma de todosostratadosinternacionais, a saber,
o direito dasgentese que no podia de modo nenhum ser
anulada s por uma daspartescontratantes, . , Ora o Estado,
anulando s por sua autoridade o pacto solene que tinha
assinado, transgrediu a f jurada. Omesmo se diga do
caso portugus.
0 tempo e ascircunstnciasj fizeram reconhecer quo
justaseram estasobservaes. Pela concordata de 1940
Portugal estabeleceu um regime de boas
relaese mtuo
entendimento com a Igreja sem no entanto voltar ao menos
na teoria, ao regime da unio moral.
443. Observao. A Igreja e as diversas formas de governo.
Convm notar que as relaes entre a Igreja e 45 Estado tese e
hiptese foram estabelecidas no artigo precedente, abstraindo da
forma de governo. Ora, sobre esta ltima questo, a forma de
governo, a doutrina da Igreja pode fixar-se nos trs pontos seguintes:
1 . Estabelece como princpio absoluto que todo o poder vein
de Deus (Rota. XIII, 1 ). Pelo facto de ser Deus o nico e soberano
Senhor das coisas, segue-se que nenhuma autoridade pode constituir-se
fora dele,
2. Posto que a Igreja sustente como princpio absoluto que a
origem do poder est em Deus, no decidiu qual o modo de transmisso
do poder. Ser transmitido directamente ao chefe do Estado, monarca
APOLOGIA DA IGREJA
51 7
SEC O III
APOLOGIA DA IGREJA
CAPI I ULO I , A I GREJA E A HI STRI A,
1 , Principais
acusaes
contra a 1
A. As Cruza- f a)
Exposio dos factos.
das.
Acusao,
e) Resposta.
B, As Cruzadas dos Albigenses e a Inquisio,
C, As Guerras de religio e a Matana de S . Bar-
tolomeu.
D, As
Dragonadas e a Revogao do Edito de
rL
C l)
Igreja. Nantes,
E, 0 Processo de G alileu.
F. A ingerncia dos Papas nos negcios temporais.
G. 0 Syllabus e a condenao das liberdades
modernas.
A. Aoirtdi- f a)0 escravo.
viduo,b)0 que a Igreja fez pelo escravo.
V3
C4
L7
2.Servios
prestados
la)
Acriana e a me na sociedade
antiga.
B. A famlia, { b)
0 que a Igreja fez pela criana
e pela me'
pela
I greja.
{a)
Servios prestados na ordem
material.
C.Asocie-
dttde.
,b)
Servios prestados na ordem
intelectual.
e)
Servios prestados na ordem
moral,
Objeco,
IF
516C ONSTITUIO DA IGREJA
hereditrio ou electivo, ou directamente ao povo que o conserva para
si ou o comunica a um ou mais indivduos, regime democrtico ou
aristocrtico? A Igreja ainda nada decidiu acerca deste assunto ( 1 ),
Contudo, no se pode admitir que o povo tenha a soberania de forma
que nele se deva buscar a origem do poder, que seja o seu detentor
imediato, que tenha o direito de o conservar, comunicar ou retomar a
seu bel-prazer. Se assim fosse a insubordinao seria, como diz Rous-
SEAU, o mais sagrado dos direitos , , , e a vontade do povo bastaria para
legitimar qualquer revoluo.
3. A Igreja no impe nenhuma forma de governo, como diz
Leo XIII (Enc. Libertas). A Igreja no rejeita nenhuma forma de
governo contanto que seja conducente ao bem comum dos cidados,
todavia, fundada na razo quer que a sua instituio no viole o direito
de ningum e respeite particularmente os direitos da Igreja.
Bibliografia. Encclicas de GREGRIOXVI Mirari vos o (15
de Agosto de 1 832), de Pio IX Quanta cura. (8 de Dezembro de 1 864), ,
de LEOXIII Diuturnum (20 de Junho de 1 881 ), Immortale Dei
(1 de Novembro de 1 885), Iampridem,, (6 de Janeiro de 1 886), Libertas ,,
(20 de Junho de 1 888). Mons, D' HULST, Quaresma de 1 95, 2.a conf.
Les Droits de l'Etat, 3, a conf. Les Devoirs de l'Etat, 5.a conf. L'Eglise
et l'Etat; Le Droit chrtten et le Droll moderne, 1 886. FORGET, art.
Index (Dic. d' Ales), DUBLANCHY, art. Eglise (Dic. Vacant-Mangenot).
Mons. SAUVE, Questions religieuses et sociales. --Dom GREA, De
I'glise et de sa divine constitution (Bonne Presse),MOULART, L'Eglise
et l'Etat (Louvain). CANET, La libert de conscience; La libert de
penser et la libre-pense (Blond). DEPASCAL, art. Libralisme (Dic.
d' Ales). VACANDARD, De Ia tolerance religieuse (Blond), MOULARD
ET VINCENT, Apologlique chrtienne (Blond), TANQUEREY, Thologie
dogmatique fondamentale. J. FERREIRA FONTES, As relaes entre a
Igreja e o Estado (Apostolado da Imprensa, Porto).
(1 ) Daqui se ve que a doutrina do direito divino, segundo a qual, os,
monarcas julgavam receber directamente de Deus o poder que exerciam e
no do povo, no representa prpriamente a doutrina da Igreja.
DESENVOLVIMENTO
444. Diviso do captulo.
A Igreja, posto que seja
divina pela sua origem e constituio,
sociedade composta
de elementoshumanos, Seria, portanto, de estranhar que
durante oslongossculosda sua existncia no tivesse tido
alguma fraqueza, 0 governo da Igreja, como o de outra
qualquer sociedade que emprega meioshumanos, pode ter
51 8
APOLOGIA DA IGREJA AS CRUZ ADAS
51 9
cometido e certamente cometeu faltas, que osseus
adversriosconstantemente lhe lanam em rosto,
No contestamosessascrticase acusaes, quando so
desapaixonadase bem fundadas, bom, contudo, observar
que essesdeslizesno se devem atribuir sinstituies, mas
somente aoshomens. E, ainda nesse caso, oshomens
no
se devem julgar com paixo, sem ter em conta o meio em
que viveram, asideiasda sua poca e todasascircunstncias
que podem explicar, atenuar ou at justificar o seu procedi-
mento.
Apoiadosnestesprincpios, percorramosas
acusaes
principais
que se levantaram contra a Igreja. Todavia, como
o juzo acerca duma sociedade no pode ser justo e adequado
se tiver nicamente
por objecto asfaltasde que maisou
menosjustamente acusada, faremosuma rpida resenha
dosserviosque a Igreja prestou humanidade, Este cap-
tulo ter, pois, doisartigoss
1,
as principais acusaes
contra a Igreja, 2.
os servios prestados pela Igreja.
Art, I.
A s principais acusaces contra a Igreja.
.
Asprincipaisacusaesque se fazem Igreja so
1, 0
As Cruzadas, 2. A
Cruzada dos Albigenses
e a
Inquisio, 3. As
Guerras da Religio e a Matana de
S. Bartolomeu.
4. AsDragonadas e a Revogao do
Edito de Nantes. 5, 0
Processo de Galilett. 6. A Inge-
rncia dos Papas nos negcios temporais,
7. 0 Syllabus
e a
condenao das liberdades modernas.
1. AsCRUZ ADAS.
445. Observao preliminar,
Todasasquestes.
que vamosestudar dariam lugar a longoscomentriosse
pretendssemostrat-lasem toda a sua extenso, No
este o nosso fim, 0 apologista no historiador; basta que
se limite aospontosindispensveispara a compreenso do
assunto.
Cada pargrafo compreender, portanto, trspartes
1, 0 a
exposio sucinta dos factos;
2, a acusao dos.
adversrios; 3, a
resposta
em que defenderemosa Igreja.
dasqueixasinjustamente feitascontra ela,
446. 1 . 0
Os factos. As Cruzadas, em nmero de oito,assim
chamadas porque usavam uma pequena cruz encarnada ao peito os
guerreiros que nela tomaram parte, foram expedies que tiveram por
fim a libertao dos Lugares
Santos da dominao muulmana.
Desde o sculo IV os Lugares Santos eram o centro de numerosas
peregrinaes. Atrados queles stios por motivos de piedade ou arre-
pendimento, os cristos
gozaram duma certa tolerncia, enquanto Jeru-
salm esteve sob o domnio dos rabes. Mas, quando em 1 078 os
Turcos
se apoderaram da cidade, ameaando-o imprio bizantino e a cristan-
dade inteira, foram perturbadas as relaes econmicas entre a Asia e a
Europa e maltratados os peregrinos pelo fanatismo turco, Foi ento
que o papa URBANOII, querendo proteger os cristos oprimidos que
moravam em Jerusalm e os que por l passavam, concebeu a ideia da
Cruzada. Respondendo sua .voz e s pregaes dum monge da Picar-
dia, Pedro Eremita, os povos levantaram-se indignados e resolveram ir
em massa libertar a Terra Santa.
447.
2. Acusao,
Osadversriosda Igreja afir-
mam que asCruzadasforam obra da ambio dosPapase
osseusresultados, desastrosos, Atacam, pois, asCruzadas
quanto aosseusprincpiose quanto aosresultados.
448. 3,
Resposta. A, Princpios.
Como vimos,
asCruzadastiveram por fim a libertao dosLugaresSantos,
Acusar osPapasde terem sido osseuspromotoresequivale
a censura-los
por terem cumprido o seu dever.
E natural que osPapastenham aproveitado a sua incon-
testvel autoridade sobre osreise prncipescristos, para os
persuadir a que se alistassem nasCruzadas; masnisto no
encontramoso menor indcio da vil ambio que nada receia
perante a injustia da causa, para saciar a sede de domnio.
Pode at dizer-se que osPapasforam, dentre todososgover-
nantesdo seu tempo, osmaisperspicazes, poistiveram a
intuio do perigo que ameaava a Europa,
E certo que asCruzadasno conseguiram afastar defini-
tivamente o perigo, poisConstantinopla 400 anosdepois
(1453) caa nasmosdosTurcos. Masessa a melhor
prova de que a ideia do Papa tinha slido fundamento.
B, Os resultados. a)
Osadversriosinsurgem-se
contra asCruzadasprimeiramente por terem tido fins
desas-
trosos,
Porventura uma empresa m, porque no obteve
o fim desejado? Demais, o bom resultado dasCruzadasno
r
520
APOLOGIA DA IGREJAA INQUISIO521
dependia dosPapas, No osdevemos, pois, tornar respon-
sveispelasfaltasque se cometeram, pelosabusosdosaven-
tureirosque se juntaram aossoldadoscristose pelasdis-
senes, ambiespessoaise rivalidadesmesquinhasdos
prncipes, numa palavra, por tudo o que fez malograr as
Cruzadas,
b) Masse o seu fim primrio
no se conseguiu, se
Jerusalm, momentneamente libertada, voltou a cair mais
tarde em poder dosinfiis, asCruzadastiveram
resultados
incontestveis, posto que secundrios
e fora do objectivo pre-
tendido pelosPapas,
1,
Antesde maisnada, unicamente sob o aspecto
geral
e moral, no
espectculo grandioso ver essa multido de
homensque se ergue em massa para se lanar conquista
dum sepulcro e defender a sua f?
2, Sob o aspecto Interno,
asCruzadastiveram como
consequncia suprimir, pelo menosmomentaneamente, o fla-
gelo dasguerrasparticulares, aproximando osindivduos,
misturando asraase fazendo circular em todososcoraes
uma grande corrente de fraternidade universal,
3. Sob o aspecto externo, enfim, livraram a Europa da
conquista muulmana. Ademais, foram o ponto de partida das
exploraesgeogrficasque descobriram o Extremo Oriente
aosOcidentaise reabriram asviaspara o comrcio entre a
Europa e a Asia:
o Oriente tornou-se acessvel aosmerca-
doresdo Ocidente.
2. ACRUZ ADADOS ALBIGENSES EAINQUISIO.
449.
1. Exposio dosfactos. A. ACruzada dosAlbi-
genses(1209).
Em todas as pocas da sua histria a Igreja teve de
combater a heresia. Foi
tolerante e durante muito tempo s se serviu
das armas da persuaso e das sanes espirituais. Reduzam-se os
hereges pelos argumentos e no pelas armas, dizia S. Bernardo. Toda-
via, o aparecimento duma nova heresia, importada do Oriente e que
se propagou rapidamente na Europa, principalmente na Alemanha, no
norte da Itlia e no sul da Frana, levou os Papas a mudar de tctica.
Os partidrios desta heresia, chamados
ctaros (do grego katha-
ros
puro), porque pretendiam distinguir-se pelo ascetismo e pela
pureza dos costumes, so mais conhecidos pelo nome de
Albigenses,
provvelmente por terem aparecido primeiro em Albi, ou por serem ali
mais numerosos que noutras partes. Professavam, como outrora os
maniqueus, que h dois princpios criadores, um bom, outro mau ; que
o homem fof criado pelo segundo, que a vida um mal e que, por con-
seguinte, cada um tem o direito de se privar dela e o dever de a no
propagar pelo matrimnio.
Julgando o papado que a igreja e a sociedade civil corriam grave
risco por causa destes hereges, resolveu reduzi-los
pela fora. 0 conc-
lio de Latro em 1 1 39 e o de Reims em 1 1 48 pronunciaram vrias sen-
tenas contra eles e proibiram aos senhores, sob pena de interdito,
receb-los nas suas terras, Os prncipes corresponderam com solicitude
ao desejo da Igreja e empregaram tanto ardor na represso da heresia
que, passado pouco tempo, comearam a acusar o papado de fraqueza e
a reclamar novas medidas de rigor. Ento o terceiro conclio latera-
nense em 1 1 79 e depois em 1 1 84 o snodo de Verona promulgaram
decretos que obrigavam os bispos a procurar, por si mesmos ou por
meio de comissrios, aqueles que nos territrios eram suspeitos de here-
sia, mand-los julgar por juizes eclesisticos e fazer cumprir a sentena
pelos magistrados civis. Estas medidas, porm, foram pouco efi cazes
porque os bispos mostraram pouco zelo no cumprimento das prescri-
es sinodais.
S em 1 207, depois do assassinato do Legado pontifcio PEDRODE
CASTELNAU por ordem do conde de Tolosa Raimundo VI, Inocncio III
resolveu pr termo s violncias dos hereges contra os catlicos. Depois
de ter excomungado o Conde seu protector, o Papa convocou os prncipes
e os povos a uma nova Cruzada contra os hereges perturbadores da
ordem pblica. Concorreram os senhores a alistar-se sob a bandeira de
SImiio DEMONFORT, levados mais pela esperana do lucro do que pelo
amor da ortocoxia, A guerra durou 20 anos e os seus episdios princi-
pais foram o cerco de Bziers (1 209), a batalha de Muret (1213) e mor-
ticnio de Marmande
(1 21 9). Cometeram-se muitas atrocidades, mas os
culpados foram condenados por Inocncio III.
450.B. AInquisio. a) Origem. D-se -o nome de Inqui-
sio
aos tribunais estabelecidos nalguns pases para procurar e repri-
mir os hereges.
Como a cruzada contra os Albigenses
no tinha conseguido domi-
nar a heresia, sentiu-se a necessidade de empregar outro meio de reprimir
os hereges. Da, a origem da Inquisio.
J antes havia os tribunais
diocesanos. Depois do conclio de Latro e do snodo de Verona, o
concilio de Marbona, em 1 227 e o de Tolosa em 1 229, tinham ordenado
aos bispos a instituio em cada parquia duma comisso inquisitorial
encarregada de buscar os hereges; mas porque muitas vezes os oficiais e
os bispos eram amigos ou parentes dos hereges, o resultado foi quase nulo.
Por isso, GREGRIOIX
instituiu, em 1 231 , tribunais encarregados de pro-
curar e castigar os hereges com o auxlio do poder civil. Sem suprimir
os tribunais diocesanos, o papa confiou o cargo de inquisidores s
Ordens
mendicantes, principalmente aos Dominicanos e Franciscanos.
b) Processo.
Quando um pas era suspeito de heresia, para ali
se dirigia o inquisidor, assistido por auxiliares, Depois do inqurito
preliminar, comeava o processo. Davam-lhe uma fisionomia particular
trs distintivos: primeiro, o
rigoroso segredo da informao judiciria
A INQUISIO
523
522
APOLOGIA DA IGREJA
que fazia com que o acusado desconhecesse as testemunhas que o tinham
acusado; segundo,
proibio de se defender por meio de advogado; por
ltimo, o emprego da tortura,
quando o ru no confessava expontnea-
mente a culpa.
As sentenas nem sempre se davam nessa ocasio. Muitas vezes,
.
como sucedia em Portugal, Itlia e sobretudo em Espanha, era pronun-
ciada numa reunio do povo, com grande aparato, a que se dava o nome
de auto-de-f, que significa acto de f; porque o encarregado de ler a
sentena parava de quando em quando, para que a assistncia recitasse
actos de f, 0 auto-de-f era, portanto, a leitura solene das sentenas
contra aqueles que o tribunal da Inquisio tinham julgado, Os ino-
centes eram postos em liberdade e os culpados deviam abjurar ime-
diatamente.
Os contumazes e recidivos, isto , os que recusavam retratar o s.
erros eram convencidos de reincidncia e castigados com diversas penas:
penitncias cannicas, multas, contribuies para obras pias, uso de pe-
quenas cruzes sobre os vestidos, cruzada durante algum tempo, peregri-
nao Terra Santa, confiscao de bens; ou penas aflitivas como a
flagelao, a priso temporria ou perptua ea pena mais gravea
morte pelo fogo. Esta ltima pena, contudo, no era pronunciada pelo
tribunal da Inquisio mas pelos juizes civis ou, como se dizia, pelo
brao secular,
ao qual os juizes eclesisticos remetiam em certos casos
os que eram convencidos da heresia.
e) Campo de aco,
A Inquisio foi pouco a pouco estabele-
cida em grande parte da cristandade, Na Inglaterra s penetrou por
causa da questo dos Templrios e nicamente para esse fim, Em
Frana nunca funcionou pelo menos com carcter permanente, a no
ser nas regies meridionais, nos territrios do condado de Tolosa e mai
s .
tarde no Languedoc e em Arago. 0 edito de Romorantin, em 1 560,
suprimiu-a e reconheceu s aos bispos o direito de informar contra a
heresia, at ao momento em que os Parlamentos se apoderaram desta
parte da jurisdio episcopal e se arrogaram a instruo exclusiva dos
processos contra a heresia, bruxaria e feiticismo, Os inquisidores esta-
beleceram-se alm disso, nas duas Sicflias em muitas cidades da Itlia
e na Alemanha (1 ).
Mas foi sobretudo em Espanha que a Inquisio deixou as mais
profundas e tristes recordaes, Instituda no sculo XIII, segundo as
formas cannicas, foi modificada no fim do sculo XV por
FERNANDO V
e ISAB EL.
Sob o seu influxo a Inquisio converteu-se, por assim dizer , .
numa instituio do Estado onde entrava mais a poltica do que a reli-
gio. Como o inquisidor-mor e os fiscais, ou procuradore s encarre-
gados de instruir o processo, dependiam da coroa, o tribunal da Inqui-
sio tornou-se nas mos dos reis um instrumento de terror destinado
no s a expulsar os judeus e mouros da Pennsula, mas tambm, a
produzir fontes de receita que de nenhum modo se podem aprovar.
0 primeiro inquisidor-mor, o dominicano
TOMAS DE TORQUEMADA e a
maior parte dos inquisidores, tornaram-se clebres pela excessiva seve-
(1 ) Cf. VACANDARD, L'Inquisition.
ridade. Em Portugal a Inquisio
semelhante de Espanha; mas em
esta.
estabeleceu-se em 1 537 de forma
geral foi muito mais benigna que
Quer se trate da cruzada
da Inquisio, osadvers-
campo dosprincpios e dos
452. 3, Resposta, A.
OsPrincpios. 0 fun
damento, em que a Igreja se apoiou para estabelecer a Inqui-
sio, foi a questo do poder coercitivo. Tem ou no a Igreja
o poder e, por conseguinte, o direito de infligir penas, mesmo
corporais, aosfilhosque, longe de lhe obedecer, se revoltam
contra ela e pem a sua existncia em perigo? Este o
ponto principal da questo, J vimos(n,
0 S 431 e 439) que o
direito da Igreja
incontestvel, que deriva naturalmente do
poder que JesusCristo lhe confiou de ensinar a sua doutrina
e de velar pela sua integral conservao, e que este direito
foi sempre, se no exercido, pelo menosreivindicado pela
Igreja. No , pois, necessrio que nosdemoremosmais
neste assunto,
B. Osfactos. Uma coisa o fundamento e outra a
sua aplicao, Ao estudarmosa legitimidade do fundamento
nada nosforava a crer que a
Inquisio da parte da Igreja
fosse uma instituio feliz, to contrria ela nosparecia ao
seu temperamento e sua maneira ordinria de governo,
De facto, durante muito tempo hesitou em enveredar por esse
caminho e, para chegar a taisextremos, parece que foi pre-
ciso que ela julgasse que se tratava do caso de legtima
defesa, Colocada na alternativa de sucumbir ou defender a
sua existncia por meio de processosviolentos, julgou-se tal-
vez com direito a optar pela segunda resoluo. Alguns
inquisidores, encarregadosde aplicar a sua legislao, torna-
ram-se culpadosde abusos, irregularidadese excessos, Neste
ponto julgamosque todo o apologista de boa f deve concor-
dar com osadversrios,
No devemos, contudo, exagerar osabusosnem a cons-
tituio em si, masapreci-loscom imparcialidade,
451. 2, Acusao.
contra os albigenses, quer
rioscensuram a Igreja no
factos.
524
APOLOGIA DA IGREJA A INQUISIO
525
a) Os abusos.
A Inquisio foi uma instituio
humana em que osinteressessuperioresda Igreja foram
algumasvezessacrificadosspaixes, aosdiose aosinte-
ressesdosjuizes, Certamente, diz LA
(Hist, de l'Inquisi-
lion au moyen ge),
a pena de confiscao, excitando a
cobia, pde ter sido causa de julgamentosinjustose o dio
pessoal levar a falsasdennciase at condenaes.
Em resposta, podemosdizer que de facto .isso sucede
em todasasjurisdieshumanas. Osinquisidorestiveram
de exercer assuasfunesem circunstnciasdifceissob a
presso dosacontecimentose da opinio dasmultidesamo-
tinadascontra a heresia, asquaisesperavam com impacin-
cia um veredicto inexorvel contra osculpados,
Alm disso, algunsjuizestinham passado muito tempo a
discutir com osheregese a combat-los, Outros, como
ROBERTOLE BOUGRE, inquisidor de Frana e REYNIERSACCHONI,
inquisidor da Lombardia, tinham sido heregese depoisde
convertidosperseguiam osseuscorreligionrioscom zelo de
nefitos. Tudo isto desculpa ou, ao menos, explica certos
abusos,
Masconvm acrescentar que muitosoutrosjuizes, cheios
de zelo da glria de Deuse de compaixo para com asfra-
quezashumanas, eram sumamente benignospara com as
pessoas, conservando no corao o dio contra a heresia,
S pronunciavam sentenasde condenao, quando a culpa-
bilidade era evidente, com receio de condenar um inocente.
0 seu maior prazer era conduzir o culpado ortodoxia e
livr-lo do brao secular, usando para isso penitnciascan-
nicase castigostemporrios, para fazer voltar o ru ao
caminho da salvao,
b) A Instituio.
No s osabusosdosinquisidores,
de que a Igreja no era responsvel, mastambm a prpria
instituio inquisitorial
tem sido objecto dascrticasmais
acerbas. Asparticularidades do processo com assuastrs
notascaractersticas, aspenas que infligia e sobretudo
a
morte pelo fogo
levantaram asmaisviolentasdiatribescon-
tra a Igreja,
No entra no nosso plano defender o que no
defens-
vel, Nada nosobriga, diz Mons, d'Hulst, a justificar tudo
aquilo que nosconta a histria acerca desta instituio.
0 processo secreto, a instruo levada a efeito sem ouvir o
acusado, a falta de debatescontraditriosso formasjurdi-
casantiquadas, que repugnam ao sentimento de justia, hoje
universal, e que fruto lentamente sazonado na rvore da
civilizao crist ( 1
), Se no podemosdesculpar tudo
, .
expliquemosao menoso que justificvel,
1,
Censura-se, em primeiro lugar, a Inquisio
por no
publicar os nomes dos delatores
e dastestemunhasde acusa-
o e a falta de acareaescom o acusado,
Este uso, diz
DE CAUZ ONS, no foi ideado para dificultar a defesa dosrus;
nascera dascircunstnciasespeciaisem que se fundara a
Inquisio, Muitastestemunhase delatoresdosherejes, por
causa dosdepoimentosdiante dosjuizes, tinham desapare-
cido, outrostinham sido apunhaladosou despenhadosem
precipciospelosparentes, amigosou correligionriosdos
acusados, Esta foi a causa da lei de que nosocupamos;
sem ela ningum se atreveria a depor nostribunaiscom
risco da prpria vida ,
Alm disso, a regra de conservar secretososnomesdas
testemunhasno era absoluta, porque o inquisidor tornava-os
pblicosquando o perigo no existia. Comunicava-ossempre
aosnotrios, aosassessorese a todososauxiliaresque
tinham o direito e o dever de fiscalizar osseusactos, E bom
tambm acrescentar que havia penasseverascontra asfalsas
testemunhas.
2,
Censura-se, em segundo lugar, a forma do processo
inquisitorial que
proibia aos acusados
o direito de se defen-
derem
por meio de advogado,
o que era certamente um grave
atentado contra o direito sagrado da defesa, Este direito,
porm, foi-se reconhecendo pouco a pouco; porque se no
de direito, pelo menosde facto, osadvogadosforam apare-
cendo ao lado dosrus.
3, E que devemospensar da tortura a que se recorria
para arrancar .confissesaosacusados. Que diremos, sobre-
tudo, da
pena de morte pelo fogo ?
A resposta no difcil,
A Inquisio era uma instituio segundo asideiasdo seu
(1 ) Mons. D'ULST, Quar. de 1 895, C onf. L'glise et l'tat. nota 24.
Ft
526
APOLOGIADAIGREJA
AINQUISIO
527
tempo. A tortura e a pena de morte pelo fogo, que tanto
revoltam a nossa sensibilidade, estavam em uso naquela
poca; no foram inventadaspela Igreja,
0
cdigo penal da Idade Mdia, em geral, era muito
maisrigoroso que o nosso, Basta considerar asatrocidades
da legislao criminal dessa poca, para ver como oshomens
de ento eram destitudosdo sentimento da compaixo.
Supliciar com rodasde navalhas, lanar o padecente em cal-
deirasde gua a ferver, queim-lo, enterr-lo, esfol-lo vivo
e esquartej-lo, taiseram ossuplciosque o criminalista
daquele tempo empregava para impedir a repetio doscri-
mes, incutindo o terror com exemplosespantososqueles
povosdifceisde governar e de costumesviolentos, (LA,
op. cit.),
Em abono da Inquisio, devemosdizer que s lanava
mo da tortura em casosexcepcionaise que a pena de morte
pelo fogo foi relativamente rara, Se, por outro lado, aten-
dermosao nmero dasvtimasda Alemanha Iuterana e de
Isabel de Inglaterra semente,
evidente que a Inquisio
catlica foi muito menoscruel que a intolerncia protestante,
Masobjecta-se
ainda ; ostribunaisda Inquisio eram
uma
contnua ameaa que suprimia a liberdade de pensa-
mento,
No verdadeira esta acusao. A Inquisio foi
fundada na primeira metade do sculo XIII, semente contra
a heresia albgense, Maistarde estendeu-se a outrashere-
siascomo a dosvaldenses, masno visava seno osherejes,
Os
pagose osmuulmanosestavam, portanto, fora da sua
jurisdio, Se depoisem Espanha, por exemplo, se ocupou
tambm dossegundos, foi em contradio com osseusprin-
cpios, maispor imposio dosprncipesdo que por zelo da
ortodoxia.
Osjudeusbeneficiaram de maior tolerncia ainda, como
demonstrou SALOMOREINACH numa conferncia que fez na
Sociedade dosEstudosJudeusno 1, de Maro de 1900,
publicada na
Revue des tudes juives
do mesmo ano,
Houve, contudo, doiscasosem que a Inquisio se
ocupou do judasmo. Em 1239 GREGRIOIX ordenou-lhe que
apreendesse e queimasse todososexemplaresdo Talmud. , ,
Quando oscristosherticoseram lanadossfogueiras,
lembraram-se tambm de queimar com igual zelo oslivros
judaicos. Em 1248 houve uma destasexecuesem Paris, ,
Em 1267
CLEMENTE IV ordenou ao arcebispo de Tarragona
que apreendesse todososTalmudes, , . Em 1319 foram
queimadossolenemente em Tolosa doiscarrosdesseslivros,
depoisde ospassearem pelasruasda cidade. Como se v,
diz Reinach, so oslivrose no ossequazesdo judasmo
que
sofreram osrigoresda Inquisio ,
Houve outro caso em que a Inquisio interveio ; foi o da
infiltrao judaica que ameaava empanar a pureza do cristia-
nismo, Perseguiu osneo-convertidosque se encobriam com
a forma exterior do cristianismo para dissimular a sua origem
e qualidade. A Igreja, afirma Reinach, no proibia aos
Judeusa profisso do judasmo, masproibia que oscristos
judaizassem e que osjudeusinstigassem oscristosa enve-
redar por esse caminho.
NossculosXV e XVI, a Inquisio espanhola, sob a
presso dossoberanose no do catolicismo, organizou asper-
seguiesanti-semticas, maispor motivospolticosque reli-
giosos... Numa palavra, a Inquisio religiosa da Idade
Mdia poupou osjudeusenquanto estesrespeitaram o cato-
licismo; masa Inquisio poltica, como diz GUIRAUD(art.
Inquisition,
dic, d'Als), perseguiu-ose condenou-ossevera-
mente,
Concluso.
Podemos, pois, concluir que s1, a Igreja
ops-se durante muito tempo spenastemporais;
2.
S tomou medidasextremamente rigorosas, quando
pela fora dascircunstnciasse viu obrigada a defender a
prpria existncia;
3.
Osabusoscometidos, cujo nmero muitasvezes
exagerado pelosadversrios, so imputveisaosinquisidores
e no ao papado que sempre protestou contra a severidade
excessiva e estigmatizou ascrueldadesque lhe foram denun-
ciadas;
4, A Inquisio, reprimindo a heresia pela fora para
salvaguardar a unidade religiosa, impediu muitasguerras
civise terrveisefusesde sangue. Asvtimasda Inquisi-
o na Espanha, onde o protestantismo foi sufocado deste
modo, so muito menosnumerosasque asdasguerrasde
religio na Frana e na Alemanha.
528
APOLOGIA DA IGREJA
5. A Inquisio, nasmosda Igreja, foi apenasuma
arma de ocasio, a que h muito renunciou,
3, AsGUERRAS DE RELIGIOE AMATANA
DE S. BARTOLOMEU.
453. 1 . Os Factos. As Guerras de religio foram as lutas
civis entre catlicos e protestantes, que durante os reinados de Fran-
cisco II, Carlos IX e Henrique III, enlutaram a Frana. Comearam
em 1 562 depois da carnificina de Vassy e terminaram com a procla-
mao do Edito de Nantes em 1 598, que assegurou aos protestantes o
livre exerccio do seu culto nas cidades onde tinha sido organizado
pelos editos precedentes, o direito de levantar templos, o acesso a
todos os cargos pblicos, etc,
Chama-se Matana de S. Bartolomeo o assassinato do almirante
Coligny e de muitos outros fidalgos protestantes, que tinham vindo a
Paris para assistir ao casamento misto de Margarida de Valois com
Henrique de Navarra, o futuro Henrique IV. Foi ordenado por Carlos IX
e executado na noite de 24 de Agosto de 1 572, festa de S. Bartolomeu.
454. 2, Acusao. A. Os adversrios atribuem Igreja
catlica a responsabilidade das Guerras de religio. B. Acusam-na.
de ter: 1 . preparado e 2. aprovado a Matana de S. Bartolomeu,
455. 3. Resposta. A. Guerras de religio. a) injus-
tia afirmar que a Igreja catlica foi responsvel pelas guerras de reli-
gio, porque as suas causas determinantes foram mais polticas do que
religiosas. Naquela poca a Religio catlica era considerada como
um dos fundamentos essenciais da sociedade; por conseguinte, quando
o Estado declarou guerra aos huguenotes, teve em vista a manuteno
da ordem social e a unidade da nao. Os verdadeiros responsveis
foram os protestantes que se revoltaram contra a ordem ento estabe-
lecida.
Objectam os adversrios que a carnificina de Vassy, que deu
incio guerra, foi obra dos Guises, chefes do partido catlico.
certo, mas no devemos esquecer que, j desde 1 560, tinham os pro-
testantes saqueado a Igreja de S. Medardo em Paris, espalhado o terror
na Normandia, no Delfinado e na Provena, interdito o culto catlico
em diversas cidades, Montauban, Castres, Bziers, e forado o povo
a assistir s suas pregaes,
Tambm no se deve esquecer que, para conseguir os seus des-
gnios, os protestantes pactuaram com o estrangeiro e que o general de .
Coligny e Cond recorreram a Isabel de Inglaterra prometendo, em
troca do ouro e das tropas, a cesso do Havre, Dieppe e Ruo,
b) Quanto s atrocidades, tambm se no devem imputar
Igreja, pois de ambas as partes se praticaram actos lamentveis. Bem
consideradas as coisas, parece que a intolerncia protestante no ficou
aqum da intolerncia catlica ; porque profanaram as igrejas, destruram
A MATANA DE S. B ARTOLOMEU529
as imagens sagradas, rasgaram preciosas iluminuras dos manuscritos e
missais, derribaram as cruzes, quebraram os vasos sagrados, numa pala-
vra, praticaram toda a espcie de vandalismo e destruies irreparveis.
456. -- B, Matana de S. Bartolomeu.A mais odiosa de todas
as violncias foi, sem dvida a carnificina de S, Bartolomeu, ordenada
e executada pelo partido catlico, Mas ser verdade que foi preparada
e aprovada pela Igreja?
a) Preparao. Para provar esta primeira assero, os adver-
srios apoiam-se nas cartas de S. Pio V a Carlos IX e a Catarina de
Mdicis, em que os exortava a exterminar os protestantes da Frana (1 ).
Ecerto que o Papa nestas cartas prega a guerra religiosa, pedindo que
persigam com inflexvel firmeza os hereges amotinados, Mas na ideia
ao Santo Padre tratava-se de uma guerra legtima levada a cabo segundo
o direito das gentes e no de carnificina como a de S. Bartolomeu,
Isto parece evidente, se verdade, como dizem alguns historiadores,
que o casamento do prncipe calvinista, Henrique de Navarra com a
princesa catlica Margarida de Valois, era um pretexto para atrair os
huguenotes nobres a uma emboscada e assassin-los a todos; porque
S. Pio V negou sempre o seu consentimento a esse matrimnio; o que
no teria feito se tivesse entrado na suposta maquinao.
Nem sequer houve premeditao por parte da corte de Frana.
De inmeros testemunhos contemporneos deduz-se que na primavera
de 1 572, o almirante Coligny queria levar Carlos IX a declarar guerra
Espanha, e Catarina de Mdicis, pelo contrrio, desejava a paz com
Filipe II. Como a opinio de Coligny parecia prevalecer no nimo do
rei, a Rainha Me concebeu o projecto maquiavlico de se desfazer do
adversrio que a incomodava. Pensou que nestas circunstncias o assas-
snio era legtimo em razo do bem comum e planeou com os Guises,
inimigos pessoais de Coligny, o assassinato do general.
A 1 8 de Agosto realizou-se o matrimnio de Henrique de Navarra
com Margarida de Valois, ao qual acudiram os fidalgos protestantes.
A 22 do mesmo ms, isto , quatro dias depois da solenidade, houve
tentativas de assassinar apenas o almirante de Coligny, prova evidente
de que no havia inteno de assassinar todos os protestantes. Os
fidalgos huguenotes profundamente indignados, projectaram vingar Coli-
gny, se bem que este s tivesse sido ligeiramente ferido. Nesta crtica
situao, Catarina de Mdicis, receando ser descoberta, tomou uma reso-
luo desesperada. Aproveitando-se da atitude dos protestantes, que
ameaavam de morte os catlicos e, em particular, os Guises, comunicou
ao rei que os huguenotes conspiravam contra a segurana do Estado e
que era medida de salvao pblica execut-los em massa. Deste modo,
arrancou ao rei a ordem de extermnio.
(1) S. Pio V escrevia a 28 de Maio de 1 569, a C atarina de Mdicis,
nestes termos: S exterminando os hereges poder o rei restituir a esse
nobre reino o antigo culto da religio catlica; se Vossa Majestade continua
a combater franca e tenazmente os inimigos da religio catlica, at com-
pleto extermnio, esteja certa que no lhe faltar o auxilio divino a.
1 4
530 APOLOGIA DA IGREJA REVOGAO DO EDITO DE NANTES 531
Podemos, pois, concluir que: 1 , a matana de S. Bartolomeu
foi um crime poltico cometido por instigao de Catarina de Mdicis;
e 2, por falta de premeditao, no se pode acusar a Igreja de a ter
preparado,
b) Aprovao. Depois destes acontecimentos, o clero de Paris,
a 28 de Agosto, celebrou uma missa solene e organizou uma procisso
de aco de graas. Em Roma, Gregrio XIII, que sucedeu a S. Pio V
em 1 3 de Maio de 1 572, manifestou grande regozijo pelos sucessos de
Paris. Anunciou-os pessoalmente no Consistrio, ordenou que se can-
tasse um Te Deum em Santa Maria Maior e mandou cunhar uma meda-
lha comemorativa do facto e pintar o famoso fresco de Vasri, onde
esto representadas as principais cenas daquele dia sangrento. Daqui
nasceu a opinio de que a Igreja catlica, na pessoa de seus chefes,
aprovou a carnificina.
Mas, que se pensava em Paris e em Roma acerca deste aconteci-
mento? Teria sido assassinato cobarde, ou legtima defesa? No pri-
meiro caso devemos admitir a cumplicidade da Igreja ; no segundo,
muito natural a atitude dos seus representantes. Consideremos, pois, a
segunda hiptese:
1 . Quanto ao clero de Paris, evidente que estava mal informado.
Julgava, segundo a opinio pblica, que da parte dos huguenotes tinha
havido conspirao contra a segurana do Estado, De facto, Carlos IX
reivindicou no dia 26, diante do Parlamento, a responsabilidade da tra-
gdia, dizendo que tivera conhecimento duma conjurao contra o
governo e a famlia real. No devemos, pois, estranhar que o clero
parisiense celebrasse, de acordo com o povo, uma solenidade de aco
de graas, pedida oficialmente pela corte, por Deus ter preservado o Rei
e castigado os culp dos.
2. Quanto a GREGORIO XIII, bom advertir que teve noticias do
acontecimento por meio de BEAUVILLIER, embaixador de Carlos IX, isto
, pelo comunicado oficial da corte francesa. Com a mensagein do rei
Carlos IX, Beauvillier levou uma carta de Luis DE B OURB ON, sobrinho
do cardeal, escrita dois dias depois do sucedido, na qual se explicava
que, com o fim de colocar no trono um prncipe protestante, o almirante
Coligny premeditava a morte do rei e da famlia real. Dadas estas
informaes no admira que Gregrio XIII tenha manifest ado pio blica-
mente tanta satisfao. Eo que sucede ainda hoje, quando um chefe
de Estado fica inclume dalgum atentado.
Concluso, Portanto a Igreja no preparou a matana de S. Bar-
tolomeu, nem a glorificou como tal.
4, 0 As DRAGONADAS E A REVOGAO
DO EDITO DE NANTES,
457. 1 , Os factos. 0 Edito de Nantes tinha sido acto de
poder real, concesso e no contrato bilateral. Concedia a todos a liber-
dade de seguir o protestantismo ou o catolicismo, isto , a liberdade de
conscincia e de culto. Henrique IV foi o primeiro que estabeleceu o
principio de tolerncia, numa poca, em que todos os soberanos da
Europa, quer protestantes, quer catlicos, no consentiam que os sbdi-
tos professassem religio diferente da sua (1 ).
Infelizmente os protestantes abusaram das concesses que lhes
haviam sido . feitas. Aproveitando as garantias que lhes davam os car-
gos de confiana que exerciam, cometeram o duplo erro de se isolar do
resto da nao, formando assim um Estado no Estado, e sobretudo de
manter relaes suspeitas com o estrangeiro. Tinham-se aliado vrias
vezes com os espanhis e ingleses, Em 1 627, a Rochela, onde domina-
vam, revoltara-se ; o Languedoc sublevado pelo duque de ROHANseguiu-
-lhe o exemplo, Os reformados foram, portanto, considerados como
sbditos perigosos e rebeldes, Querendo RICHELIEU extermind-los, diri-
giu pessoalmente o cerco da Rochela, que se rendeu aps um ano de
encarniada resistncia (1 628). Pelo edito de Graa ou de Alais (1 629)
tirou Richelieu aos protestantes todas as suas cidades de refgio e os
privilgios politibos, deixando-lhes no entanto liberdade de culto. Ape-
sar desta concesso, era j um primeiro passo para a revogao do edito
de Nantes,
Luis XIV quis ir mais alm que Richelieu. Imitando os outros
Estados protestantes, pretendeu que no seu reino houvesse uma s f e
um s culto e concebeu o projecto de reconduzir todos os reformados
religio catlica. Procurou convert-los primeiramente por meio de
pregaes e misses. BOSSUET escreveu uma refutao do Catecismo
geral da reforma publicado em Sedan por PAULOFERRI (1 654 ). Anuindo
aos desejos do rei, trabalhou tambm na reconciliao das duas confis-
ses, pela discusso e persuaso, cristmente e de boa Moo, sem violen-
tar a conscincia de ningum.
Aos esforos dos controversistas e missionrios responderam os
reformados com ms disposies e, algumas vezes, at com violncias.
Continuaram a manter relaes com os inimigos da Frana, sobretudo
com os Pases Baixos, durante a guerra que comeou em 1 672. Descon-
tente com esta atitude, resolveu Luis XIV adoptar para com os protes-
tantes, medidas ,anlogas s que estavam em vigor contra os catlicos
nos pases protestantes como a Inglaterra e a Holanda. Foram enviados
intendentes para apoiar a obra dos missionrios e pr a fora ao servio
da persuaso, que ultrapassou as ordens recebidas . Aconselhado pelo
ministro da guerra Louvois, o rei enviou drages que deviam hospe-
dar-se em casa dos protestantes que recusassem converter-se. As vio-
lncias e os excessos de toda a espcie cometidos por estes missionrios
fardados, ficaram tristemente clebres com o nome de dragonadas.
Mas preciso dizer em abano de Lus XIV, que este ignorava as cruel-
dades de que os soldados se tornaram culpados . S lhe comunicavam
(1 ) bom notar o que acontecia na Inglaterra, nos reinados de HEN-
RIQUE VIII e de ISAB EL: as perseguies e violncias legais contra os cat-
licos ; as leis que proibiam a eleio destes para os cargos pblicos; a perda
do direito de sucesstio; o protestante que se convertesse ao catolicismo, tido
como ru de alta traiao; a entrada no reino proibida, sob pena de morte, a
todos os sacerdotes catlicos...
4.
OPROCESSODEGALILED533
532APOLOGIADA IGREJA
o nmero das converses que se operavam e este era tal que dentro em
pouco o rei imaginou que j no havia protestantes em Frana, que a
unio religiosa era um facto. Debaixo desta impresso revogou o Edito
de Nantes (16 de Outubro de 1 685). Os partidrios da Reforma viram-se,
portanto, obrigados a optar pela converso fingida ou pelo exlio.
458. 2, Acusao. Osadversriosfazem a Igreja
responsvel pela revogao do Edito de Nantese pelosmaus
resultados que da se seguiram,
459.3, Resposta. A. Revoga5o. A revogao
do Edito de Nantespode ser considerada sob doisaspectos
politico e religioso, -- a) Sob o aspecto politico ou jurdico,
incontestvel que LuisXIV tinha o direito de revogar o
edito publicado por Henrique IV, Estesactosde tolerncia,
diz GRcio, no so tratados; so editosreaispublicadospor
causa do bem geral e revogveisquando o bem geral o
requer , b) Sob o aspecto religioso, a intolerncia do Rei
e do partido catlico foi certamente desacertada. Dizemos
intolerncia do Rei e do partido catlico, porque, se LuisXIV
foi responsvel, essa medida era exigida pela opinio catlica
e foi acolhida com sinaisde grande regosijo, Inocncio XI,
contudo, no o aprovou sem reservas. Asdragonadas no
devem imputar-se Igreja, nem a sia responsabilidade, como
antesvimos, pesa sobre LuisXIV,
B. Os resultados. g certo que a revogao do Edito
de Nantesteve consequncias religiosas e polticas pouco
favordveis . Osprotestantesque se converteram, unicamente
para poder ficar em Frana, foram mauscatlicos. Osque
preferiram o exlio puseram osseustalentose actividade ao
servio do estrangeiro e algunschegaram at a alistar-se nos
exrcitosinimigose a combater contra a ptria,
Conclus5o, A revogao do Edito de Nantesfoi at
certo ponto um erro, uma calamidade e sobretudo uma falta
de tacto poltico, porque o partido catlico talvez tivesse
engrossado, se, em vez de imitar a intolerncia dospases
protestantes, obtivesse para osseusirmosdissidentesos
benefciosduma tolerncia bem entendida,
5, OPROC ESSO DEGALILEO,
460. 1 . Os factos. Em 1 530, o cnego C OPRNIC O formulava
a hiptese de que a terra e todos os outros planetas giram em volta do
sol, e no o sol em volta da terra, como ensinava o sistema de ProLo-
MEU, at ento geralmente admitido. No comeo do sculo XVII, GALI-
LEU ( 1 ) apresentou o sistema de Coprnico como certo, pelo que foi
obrigado a comparecer duas vezes perante o tribunal do Santo Ofcio.
Estes dois processos so conhecidos pelo nome de Questo de Galilett,
A. Processo de 1 61 6. Pelo facto de defender a teoria de
Coprnico como certa, Galileu encontrou muitos opositores sobretudo
entre os sequazes de Aristteles. Em 1 61 1 , Siz acusou Galileu de con-
tradizer com o seu sistema as seguintes passagens da Sagrada Escritura;
Josue, X, 1 2; Ecles,, I, 5; Ps., XVIII, 6 ; CIII, 5; Ecl sistico, XLIII, 2,
que pareciam favorecer o sistema geocntrico. Gableu podia entrin-
cheirar-se no campo cientifico, deixando aos telogos e exegetas o cui-
dado de resolver a dificuldade; mas preferiu seguir o adversrio no
campo da exegese.
A 1 9 de Fey, de 1 61 6 a questo foi levada C ongregao do Santo
Ofcio, onde 1 1 telogos consultores examinaram as duas proposies
seguintes: 1 .a 0 sol no se move e o centro do mundo ; 2. 8 A terra
no o centro do mundo e tem movimento de translao e rotao.
A primeira foi qualificada de falsa e absurda filosOficamente e formal-
mente hertica por contradizer expressamente a Sagrada Escritura,
segundo o seu sentido bvio e a interpretao dos SS. Padres e dos
Doutores. A segunda foi censurada como falsa e absurda filosOfica
mente e como errnea na f,
A 25 de Fevereiro, Paulo V deu ordem ao cardeal B ELARMINO para
chamar a GALILEU e avis-lo que devia abandonar as suas ideias,
Galileu compareceu e submeteu-se. A 5 de Margo por ordem do Papa
foi promulgado um decreto da Congregao do
Maro,
condenando as
obras de Coprnico e todos os livros que defendessem a imobilidade do
sol . Nesta condenao, porm, no se mencionavam os escritos de
Galileu, que a 9 de Margo foi recebido em audincia pelo Papa. Este
declarou-lhe que reconhecia a rectido das suas intenes e que nada
temesse dos seus caluniadores,
B. Processo de 1 633. Depois do processo de 1 61 6, Galileu
voltou para Florena onde retomou o curso dos seus trabalhos. Em 1 632
publicou o Dilogo sobre os dois maiores sistemas do mundo. Esta
(1 ) Galileu nasceu em Pisa em1 561 , onde foi professor de fsica e mate-
mtica (1 589-1 592) e depois em Pdua (1 592-1 61 0). Passou o resto da vida na
casa de Arcetri, perto de Florena, para onde foi tambm autorizado a reti-
rar-se depois da sua condenao em 1 633. Nesse ano perdeu a vista depois
de ter dado a Ultima demo ao Tratado do movimento. Galileu considerado
o fundador do mtodo experimental. Por meio do telescpio que construiu
em 1 609 descobriu as montanhas da lua, os satlites de Jpiter, o anel de
Saturno, as manchas e rotao do Sol e as fases de Vnus. Tudo isto veio a
confirmar as suas suposies em favor da teoria de C oprnico.
534APOLOGIADAIGREJA OPROCESSODEGALILEIJ 535
obra tinha o a imprimatur do inquisidor de Florena e de Mons, Ric-
CARDI, Mestre do Sacro Palcio, encarregado por ofcio de velar pela
publicao de todos os livros que se editavam em Roma. Moas, Riccardi
concedera o imprimatur* com a condio de que a obra tivesse um
prefcio e uma concluso indicando que o sistema era apenas apresen-
tado como hiptese.
Efectivamente o prefcio e a concluso no faltavam, mas estavam
redigidos de tal maneira que pareciam uma troa, Os telogos do Santo
Ofcio foram de parecer que o autor transgredira as ordens dadas em
1 61 6 e foi novamente citado pelo Santo Ofcio, Depois de ter diferido
vrias vezes a viagem sob pretexto de doena, ps-se por fim a caminho,
chegando a Roma a 1 6 de Fevereiro de 1 633, Gozou ali de um regime
de favor, pois, em vez de ficar internado numa cela do Santo Ofcio,
pode hospedar-se em casa do seu amigo NICOLLINI, embaixador da
Toscana.
0 processo comeou a 1 2 de Abril e a sentena foi dada a 22 de
Junho. Galileu ouviu de p e com a cabea descoberta a leitura da sua
condenao: abjurao, priso e recitao, uma vez por semana, durante
trs anos, dos sete Salmos penitenciais. Depois, de joelhos e com a
mo sobre os Evangelhos, assinou um acto de abjurao no qual decla-
rava que era justamente suspeito de heresia D. Detestava os seus erros,
prometia no voltar a defend-los e recitar as penitncias impostas .
Nesta ocasio Galileu, segundo uma lenda inverosmil, dadas as circuns-
tncias, exclamou, batendo com o p no cho: E pur si muove!
E, contudo, move-se ! *
461. 2, Acusao. A propsito do processo de
Galileu fazem osadversriostrsacusaescontra a Igreja
a) em primeiro lugar, afirmam que nesta questo o Papa
errou em matria de f; b) acusam a Igreja de ter con-
denado um inocente, e c) de ter impedido os progressos
da cincia,
462. 3, Resposta. A, falso afirmar que o Papa,
e portanto a Igreja, se tenha enganado em matria de f na
questo de Galileu. certo que, quando osjuzesde Galileu,
entre osquaisfiguram ospapasPAULOV e URBANOVIII,
julgaram o sistema de Coprnico como contrrio Sagrada
Escritura, cometeram um erro objectivo e material; e, quando
GALILEUafirmou que aspalavrasda Sagrada Escritura, nem
sempre se devem tomar letra, poisosescritoressagrados,
ao falar do sol, empregaram a linguagem vulgar que no
tem pretenses cientficase se conforma com asaparncias,
era ele quem tinha razo. Donde se conclui que, tanto o
tribunal de Santo Ofcio, como o do nde x se enganaram
declarando filosficamente falsa a doutrina de Coprnico e
contrria Escritura,
Mashaver, porventura, neste facto, um argumento
contra a infalibilidade da Igreja ou do Sumo Pontfice?
Para decidir esta questo bastar determinar o valor jurdico
dosdecretosde 1616 e 1633, 0 decreto de 1616 um
decreto da Sagrada Congregao do ndex ; o de 1633, um
decreto do Santo Ofcio, Mas, apesar de terem sido apro-
vadospelosPapa, como na hiptese se trata apenasduma
aprovao em forma simplesou comum (in forma communi),
so e permanecem juridicamente decretosde Congregaes,
que s tm o valor que lhesd a sua autoridade imediata,
Ora, j vimosque nestescasosa questo da infa-
libilidade no tem razo de ser, posto que o Prefeito da
Congregao seja o prprio Papa ( 1 ). Para que sejam
definies ex cathedra e portanto infalveis, faltam-lhes
duascondies, Em primeiro lugar, a censura contra a
teoria de Coprnico s se encontra nosconsiderandos que
nunca so objecto de infalibilidade, Em segundo lugar,
osdecretosno foram actospontifcios, massmente das
Congregaes, que no gozam do privilgio da infalibilidade,
Alm disso, nunca telogo algum considerou estes
decretoscomo artigosde f, nem osnumerososadversrios
do sistema de Coprnico, mesmo depoisdassentenasdo
Santo Ofcio, alegaram contra ele que fora condenado por
um documento infalvel.
Posta de parte a questo da infalibilidade pontifcia,
podem muitoscom razo estranhar o erro dos juzes do
Santo Ofcio, 0 seu procedimento, porm, pode no s
explicar-se, masat justificar-se, Tem-se dito que a conde-
nao de Galileu foi obra da inveja dosseusinimigose que
Urbano VIII, julgando ver uma aluso sua pessoa no
KDilogo , em que uma personagem ridcula chamada
Simplcio repetia um argumento que o Papa ( ento cardeal
MAFFEOBARBERINI) tinha oposto contra Galileu, sentiu-se
ferido no seu amor prprio e resolveu vingar-se,
Seja como for, houve certamente outrosmotivos menos
(1 ) C xoUriN, Valeur des decisions doctrinales et dinciplinaires du Saint
Sitde, 4, a part, Galilee.
536APOLOGIA DA IGREJAA INGERNCIADOSPAPASNOSNEGCIOS TEMPORAIS 537
fteis, que levaram osjuizesda Inquisio a proferir a
sentena condenatria. Eisaqui osprincipais.
Havia naquele tempo uma regra de exegese, e essa
regra ainda no mudou, que ostextosda Escritura devem
interpretar-se em sentido literal e bvio, quando a interpre-
tao contrria no se impuser por motivossrios. Ora,
naquela poca interpretavam-se aspassagensem questo,
especialmente aquela em que Josu manda parar o Sol, em
sentido literal e bvio, isto , segundo o sistema de Ptolomeu,
Por conseguinte, enquanto se no demonstrasse a falsi-
dade deste sistema, e Galileu no desse uma prova peremp-
tria e cientfica da verdade do sistema de Coprnico, a con-
gregao do Santo Ofcio tinha o direito e at o dever de
manter a interpretao literal e de coibir, por meio de deci-
sesdisciplinares, qualquer doutrina que contradissesse essa
interpretao e pretendesse substituir o sentido literal pelo
metafrico. Acrescentemosque a Congregao preferia a
interpretao tradicional, por causa da efervescncia protes-
tante, poisa exegese de Galileu parecia favorecer a teoria do
livre exame.
B. Poder-se- afirmar que a Igreja condenou um ino-
cente e que um grande astrnomo foi mrtir da cincia?
incontestvel que teve de sofrer em defesa de suasideias
e que, na alternativa de sacrific-lasou desobedecer Igreja,
sentiu-se cruelmente torturado na inteligncia e no corao,
Masdizer que foi martirizado pela Igreja exagero,
1. Primeiramente, falso que tenha sido obrigado a
abjurar uma doutrina que ele sabia ser certa. Pelasexpe-
rinciasque tinha feito, parecia-lhe que o sistema de Copr-
nico era maisverosimil que o de Ptolomeu, masnunca teve
a certeza evidente,
2. Menosainda se poder dizer que foi tratado com
rigor. <Podemos desafiar osmaisfanticosa que digam
onde e quando esteve Galileu detido numa priso prOpria-
mente dita, quer durante, quer depoisdo processo ( 1 ) .
PAULOV apreciava GALILEUe deu-lhe muitasprovasde bene-
volncia.
(1 ) GILBERT, Revue des Questions scientifiques (1 877).
Objecta-se, porm, que URBANOVIII o mandou ameaar
com a tortura. Esta ameaa, que no chegou a ser exe-
cutada, era um dosmeios jurdicos de ento, andlogo
jicomunicabilidade e ao segredo, que hoje se usam para
A...trrancar a confisso dosacusados, Por outra parte, seria
injusto dizer que URBANOVIII foi severo para com ele, pois,
no dia s'eguinte ao da condenao, a 23 de Junho de 1633,
GALILEUfoi autorizado a abandonar osaposentosdo Santo
Ofcio, onde devia ficar detido, e a habitar no palcio do seu
amigo, o gro-duque de Toscana, donde Ode regressar pouco
depois sua casa de campo de Arcetri. A morreu, depois
de ter recebido todososanosuma penso que o Papa lhe
concedia, desde 1650,
C. A condenao de Galileu impediu realmente o pro-
gresso da cincia? Concedemossem dificuldade que os
decretosdo Index tenham impedido ou retardado a publica-
o dalgumasobras, do Monde de DESCARTES, por exemplo;
mas, poder afirmar-se de boa f que o triunfo do sistema
tenha sido- diferido?, S a harmonia com a experincia
poderia dar hiptese de Coprnico uma confirmao deci-
siva. Ora, osdecretosdo index nunca impediram a realiza-
o dessa harmonia ( 1 ) ,
Conclusao. Concluamos, por consequncia, que se a
condenao de Galileu, foi, da parte da Congregao do Santo
Ofcio e at dosPapasPAULOV e URBANOVIII um erro sumu--
mamente lamentvel, no atingiu de modo algum a doutrina
da infalibilidade pontificia, nem constitui uma prova de hos-
tilidade sistemtica contra a cincia e o progresso,
6, A INGERNCIADOS PAPAS NOS NEGCIOS TEMPORAIS.
463. 1 . Exposio dos factos. Atesta-nos a histria que, na
Idade Mdia, os Papas se consideraram como chefes supremos dos Esta-
dos cristos, reivindicaram o direito de citar soberanos e sbditos perante
o seu tribunal e infligiram aos prncipes escandalosos no s penas espi-
(1 ) PIERREDEVREGILLE, art. Galille (Dic. d' Als).
538APOLOGIADAIGREJA A INGERNC IA DOS PAPAS NOS NEGC IOS TEMPORAIS 539
rituais como a excomunho, mas att penas temporais, depondo-os e pri-
vando-os do direito de governar. GREGRI O VII(o monge Hildebrando), c-
lebre pela luta contra as Investiduras (1), excomungou pela primeira vez o
imperador da Alemanha, HENRI QUE IV, que no queria ceder do direito
da investidura, obrigando-o a humilhar-se diante dele no castelo de
Canossa (1 077). Excomungou-o depois segunda vez (1 078) por no cum-
prir as suas promessas. INocNclo III(1 1 98-1 21 6) obrigou Filipe Augusto
a retomar sua esposa Ingelburge; na Inglaterra deps JOO SEM TERRA
e rep-lo de novo no trono; na Alemanha excomungou Orno IV e dispen-
sou os sbditos do juramento de fidelidade; INOCNCio IV, deps Frede-
rico II, imperador da Alemanha, no conclio de Lio em 1 245, e o Rei de
Portugal, D, Sancho II, no mesmo ano. BoNIFAc1 OVIII(1 294-1 303) lutou
durante todo o seu ponti fi cado com FILIPE o BELO, rei de Frana. Como
este soberano, sempre falho de dinheiro, quisesse lanar impostos sobre
o clero, sem ter em conta as imunidades eclesisticas (n. 422 n), o Papa
na bula Clericis laicos, recordou os princpios cannicos da Igreja
e proibiu aos clrigos pagar tributo s autoridades seculares.
A pedido do clero francs concedeu depois a devida autorizao. Mas
a luta recomeou de novo e BoNIFAcIOVIIIpublicou contra FI LI PE O BELO
uma srie de bulas, entre as quais a bula Ausculta filie, na qual dizia
que estava constitudo acima dos reis e dos reinos, e a bula Unam
Sanciam, em que depois de recordar a unidade da Igreja, declarava
que este corpo nico no deve ter duas cabeas, mas uma s, Cristo e o
seu Vigrio ; que a Igreja tem em seu poder duas espadas, uma espiri-
tual e outra material, a primeira manejada pela Igreja, a segunda em
favor da Igreja, e que esta deve estar sujeita quela, isto , o poder
espiritual, tem direito a julgar o poder temporal quando errar. Por fi m,
BONI FCI O VIIIexcomungou Filipe o Belo a 1 3 de Abril de 1 303.
464. 2. Acusao. Osinimigosda Igreja acusam
osPapasde terem ultrapassado osseusdireitose reivindicado
um poder ilegtimo.
(1) Questo das investiduras. Quan do um sen h or dava um feudo a
um vassalo, a investidura, isto , a possedo bem outorgado, fazia-seem geral
por meio duma cerimnia simblica, na qual o suserano entregava ao vassalo
uma gleba deterra. uma coroa, um ceptro, ouen to o bculo eo an el, quan do
setratava dealtas dign idades eclesisticas. Como a cada bispado os reis
tin h am an exado um ben eficio oufeudo eclesistico, sucedia queos bispos e
abades recebiam ao mesmo tempo, n o momen to da n omeao o feudo ea
jurisdio eclesistica. Por isso, n o tardaram os reis eimperadores a per-
suadir-sequeo poder espiritual procedia da sua autoridade, como o poder
temporal eque, por con seguin te, podiam suprimir a tradicion al eleio, e
n omear directamen teos bispos eos abades. Os resultados foram lamen tveis,
Os bispados eram con feridos a cortesos in dign os, ouven didos a peso de
ouro (simonia) ao que mais oferecia. Este estado de coisas propagou-se
sobretudo na Alemanha. Para o remediar o Papa proibiu que se recebesse a
investidura dum leigo. A questo das investiduras, particularmente grave
entre GREGRIOVI I eH ENRIQUE I Vda Aleman h a, duroumais demeio sculo,
at concordata de Worms (1122) queestabeleceuden ovo a distino entre o
bispo, como pontifico e como vassalo do imprio.
465. 3. Resposta. A. A interveno dosPapas
nosnegciostemporaisdosEstadoscristosno era ilegtima:
o constitua, de nenhum modo, um abuso de poder.
OsPapaspodiam intervir por doisttuloss a) Pri-
meiro, em virtude do seu poder indirecto sobre ascoisas
temporais, como j demonstrmos(n. 436). 0 poder espi-
ritual, diz BELARMINO, no se intromete nosnegciostempo-
rais, a no ser que se oponham ao fim espiritual, ou sejam
necessriospara o conseguir t nestesdoiscasos, o poder
espiritual pode e deve reprimir o poder temporal e obrig-lo
por todososmeiosque julgue necessrios,
Quando osPapas, antescitados, puniram osprncipes
que abusavam dosseuspoderes, no s com penasespirituais
como a excomunho masat com penastemporaiscomo a
deposio, procederam em virtude do poder espiritual anexo
ao seu cargo supremo e do poder indirecto sobre ascoisas
temporaisque deriva do poder espiritual,
b) . Alm do direito divino, de que acabamosde falar, o
direito pblico do tempo, que se apoiava no livre consenti-
mento dospovose dosprncipes, legitimava a interveno do
papado nosnegciostemporais, Lembremo-nos, com efeito,
que, em virtude deste direito pblico, havia uma estreita
unio entre a Igreja e o Estado, que o Papa era considerado
como chefe natural da cristandade, ao qual pertencia o direito
de dirimir asquestes, e que o prncipe, antesde subir ao
trono, fazia um juramento pelo qual se comprometia a gover-
nar com justia, a proteger a Santa Igreja romana, a defender
a f contra a heresia e no incorrer pessoalmente em excomu-
nho,
Se o prncipe faltava ao seu juramento, se governava
contra osdireitosda Igreja ou contra osjustosinteressesdo
povo, o papado tinha o direito e at o dever de lhe lembrar
oscompromissossagradosque tinha tomado, de o excomun-
gar no caso de recusar-se a cumpri-lose, se fosse preciso, de
o depor e declarar ossbditosdesligadosdo juramento de
fidelidade ( 1 ),
(1 ) Poderia acrescen tar-sequemuitos prn cipes tin h am feito h omen a-
gem da sua coroa cadeira de S. Pedro e tinham- se declarado vassalos do
Papa. Neste caso estavam os reinos de Npoles, Siclia, Portugal, Arago e
o Imprio de C arlos Magno, restaurado pelo Papa Leo III, conhecido pelo
(1 ) OH 0UPIN, op. cit.
540
APOLOGIADAIGREJA
B, A interveno dosPapasnosnegciostemporaisno
era ilegtima ; devemos, ao contrrio, reconhecer que teve
resultados
excelentese beneficiou sobretudo ospequenose
osoprimidos, Naquela poca difcil e rude do feudalismo,
em que tudo dependia dosmaisfortes, s a Igreja possua
fora suficiente para lembrar aosreise aossenhoresque
acima da fora estava o direito.
A prerrogativa, que a Igreja reivindicava de depor osreis
escandalosose de desligar ospovosdo juramento de fideli-
dade, no era usurpao masfreio e contrapeso do poder
temporal, Quando o direito era violado e a justia impotente,
convinha que houvesse algum suficientemente forte e inde-
pendente para se colocar ao lado da moral e da religio
ultrajadas,
Observao. Objecta-se tambm contra a Igreja
1, que houve Papas maus como Estvo VI, Joo XXII,
Bento IX e Alexandre VI ; 2, e que o clero da Idade
Mdia era simonaco e corrupto, J respondemosa esta
objeco e j provmosque nada vale contra a infalibilidade
pontifcia (n, 400), nem contra a santidade da Igreja (n. 379),
7, o SYLLABUS E ACONDENAODAS LIBERDADES
MODERNAS,
466. 1 . Noo e autoridade doutrinal do a Syllabus v.
0 Syllabus (palavra latina que significa ndice) uma coleco de
oitenta proposiesem que esto contidos os principais errosmodernos,
j reprovados ou condenadosnas alocuesconsistoriais, encclicase
outrasletras apostlicas de Pio IX, 0 Syllabus, precedido da Encclica
Quanta cura, apareceu, por ordem do Papa, no dia 8 de Dezembro de
1864, mas a ideia deste catlogo, com os erros da poca sob a forma
que ento revestiam, era muito anterior e tinha j sido sugerida em 1849
pelo cardeal Pecci, arcebispo de Pergia, que depois sucedeu a Pio IX
com o nome de Leo XIII.
nome de Sacro Imprio romano. Por esse motivo, os reis de Frana, da Ger-
mnia e de Itlia eram imperadores por direito pontifcio, em virtude da
coroao feita pelo Papa, coroao que lhes conferia, no soberania especial,
mas dignidade suplementar, mais moral que material e lhes concedia o ttulo
de protectores da Igreja. Em virtude destes actos, o Papa era uma espcie
de suserano a quem as leis da Idade Mdia reconheciam o direito de punir a
.felonia do vassalo que faltasse s suas obrigaes, de retomar o seu feudo
de conferir a. investidura a outro.
OSYLLABUS E ACONDENAODAS LIBERDADES MODERNAS 541
Qual e a autoridade doutrinal do Syllabus? Ser um acto
ex cathedra, como dizem alguns telogos, FRANZELIN, MAllELA, H UR-
TER, PESC H , -- ou no passar dum documento muito autorizado, ao
V.qual todo o catlico deve prestar assentimento sob pena de ser consi
derado como herege? A questo no foi ainda decidida e, portanto, os
catlicospodem livremente ter a opinio que lhes aprouver. Logo, o
Syllabus' no se impe nossa crena como uma definio infalivel,
Pio IX assumiu a responsabilidade do documento, mas, diz o
P. C H OUPIN, suma constituio pontificia, posto que relativa f e sole-
nemente promulgada, no definio ex cathedra, se o Papa no mani-
festa com clareza a vontade de decidir definitivamente a questo por
meio duma sentena absoluta ( 1 ). Por conseguinte, ainda que as pro-
posiescondenadas devam ser rejeitadas com assentimento firme por
todos os catlicos, no se segue que sejam de f as contraditrias.
Quando a proposio condenada qualificada de hertica, a pro-
posio contrria no de f. E preciso, alm disso, para conhecer o
sentido duma proposio condenada no OSOlabus, examinar o documento
donde foi extrada.
467. 2, Acusao. Osadversriosacusam a Igreja
de ter, por meio do Syllabus0, declarado guerra socie-
dade moderna e de se ter mostrado inimiga irreconcilivel
do progresso e da civilizao,
468. 3. Resposta. -- Para reforar a acusao, os
adversriosda Igreja apoiam-se sobretudo nasduasltimas
proposiesdo SYLLABUS que so, por assim dizer, o com-
pndio doserrosmodernos. Prop. LXXIX Todasas
opiniespodem ser livremente admitidase sustentadas,
Prop. LXXX ;0 Pontfice romano deve reconciliar-se com
o progresso, com a liberdade e com a civilizao moderna 0,
Ora, evidente, pelo que respeita a esta ltima propo-
sio, e para nosconvencermosdisso bastard consultar a
alocuo Iamdundum 0 donde foi extrada, --- que o Papa no
pretende de modo algum condenar osverdadeiros progressos
da cincia positiva e dasinveneshumanas. A con-
denao no visa seno o falso progresso e a falsa civili-
zao.
Pro IX tambm no condena todasasliberdadese todos
osliberalismos. Ningum jamaisdefendeu tanto a verdadeira
liberdade como a Igreja catlica ; sustenta a liberdade natu-
N
combatesestiveram tanto em voga entre osRomanos, eram
escolhidosno s entre oscondenados morte, mastambm
entre osescravos,
Tal era a condio da maior parte da humanidade,
bom acrescentar que esta vergonhosa instituio no era
reprovada pela religio pag, mastida por legtima at pelos
filsofosmaisilustres( 1 ).
Se algunsescritoresalgu-
masvezescondenaram osabusos, nunca reprovaram o
.
princpio,
471.-2, Oque a Igreja fez em favor dosescravos.
Antes
de maisnada, no se julgue que a Igreja realizou
de repente a reorganizao social. Asgrandesrevolues
tm de ser precedidaspela evoluo lenta dasideias, pois
a opinio pblica dificilmente abandona asideiasdo ambiente,
astradiese oscostumesinveterados, A transformao
duma sociedade requer, portanto, aco continuada, trabalho
preparatrio de grande envergadura. Foi a Igreja que
empreendeu esse trabalho pela sua doutrina, pela sua legis-
lao e pela sua aco :
a)
Pela sua doutrina. Desde o princpio que a Igreja
comeou a luta contra a escravatura. 0 primeiro o maiselo-
quente intrprete da sua doutrina foi S, PAULO, OApstolo
dasGentes, com habilidade e arte consumadas, estabeleceu
osgrandes princpios da igualdade e da fraternidade, que
so o fundamento da liberdade individual.
Perante ossenhoresorgulhososdo Imprio greco-romano
proclamou que todososhomenstm a mesma origem, foram
remidospelo mesmo sangue, destinados mesma felicidade
e, por conseguinte, so iguaise irmos, J no h dife-
rena, escreve aosGlatas, entre Judeu e Grego, escravo e
livre, homem e mulher, Soistodosaim, em Cristo Jesus
(Gal,, III, 28).
Quando, porm, enuncia osprincpiosque devero pouco
a pouco abolir a escravatura, evita cuidadosamente a agres-
so ostensiva contra ossenhores, a luta de classese a revo-
(1 ) V. acerca deste assunto a Encclica de LEOXIIIcIn plurimis^.
luo demasiado rpida, que comprometeria o bom xito da
sua obra.
Julga maisprudente, por ento, recordar a unse a outros
osdeveres recprocos: aosescravos, a obedincia; aossenho-
res, a bondade. Servos, obedecei aosvossossenhores,
segundo a carne, com respeito e temor e com simplicidade
de corao, como a Cristo. , , Servi-oscom amor, como
quem serve ao Senhor e no a homens, com a certeza de
que receber cada um, do Senhor, ou seja escravo ou livre,
a recompensa pelo bem que fizer, E vs, senhores, fazei o
mesmo, pondo de parte asameaas, como quem sabe que o
Senhor delese vosso est noscuse para Ele no h acei-
tao de pessoas (f VI, 5-9).
b) Pela sua legislao. Sob a influncia da Igreja osimpe-
radoresconvertidosao cristianismo promulgaram leistendentes a melho-
rar a condio do escravo. Para no citar seno algunsexemplos,
C ONSTANTINO proibiu que se marcassem oscondenadosno rosto, onde
reside a imagem da beleza divina , , , e declarou rusde homicdio os
senhoresque pelosmaustratosocasionassem a morte aos seus escravos.
TEODslo ps em liberdade todososfilhosvendidospelospais; HoNxio
acabou para sempre com oscombatesdosgladiadores; JUSTINIANO pro-
mulgou uma lei, segundo a qual, o rapto dasescravasse devia castigar
com as mesmas penas que o dasmulhereslivres; JULIANO APSTATA,
imbudo de todosospreconceitosdo paganismo, foi um dospoucos
imperadoresque no promulgou nenhuma medida em favor dos
escravos.
Asinvasesdosbrbarosno sculo V foram nefastaspara a causa
dosescravos. Masa Igreja, por meio dosnumerososconclios reunidos
desde o sculo VI at ao IX, na Glia, na Bretanha, na Espanha e na
Itlia, continuou a trabalhar contra a escravatura. 0 conclio de
Orleans(51 1 ) e o de Hipona (51 7) concederam aosescravoso direito de
asilo, em virtude do qual, no podiam ser castigados com penas corpo-
rais se se refugiassem numa igreja, ainda mesmo que fossem rus de
crimesgraves
0 conclio de Auxerre nosfinsdo sculo VI e o de Chalons-sur-
-Sane, por meadosdo sculo VII, proibiram que se obrigassem os
escravos a trabalhar ao domingo, Muitos conclios proibiramo comrcio
de escravos; outros, se no ousaram ir to longe, puseram-lhe entraves,
como vemos, por exemplo, no cnon 9, do conclio de Chalons-sur-
-Marne, que proibiu vender escravosfora do reino de Clodoveu n.
Alm disso, o escravo foi admitido pela I greja ao sacerdcio e
profisso monstica, .contanto que obtivesse prvio consentimento do
senhor, ou carta de alforria. Finalmente, osconcliosdo sculo VIII
reconheceram a validez do casamento contrado, com conhecimento de
causa, entre livrese escravos.
544
APOLOGIA DA IGREJA
OSSERVIOSPRESTADOSPELA IGREJA545
35
546 APOLOGIA DA IGREJA
OS SERVIOS PRESTADOS PELAIGREJA547
c) Pelos seus actos. 1 , No exerccio do culto, a Igreja pri-
mitiva no tinha em conta as distines sociais, Entre ricos e pobres,
entre escravos e livres, no h diferena alguma, escrevia o apologista
LACTANCIO. Esta foi uma das principais razes que mais contriburam
para a libertao dos escravos. 0 prprio RENANno teve dificuldade
em reconhec-lo As reunies da Igreja teriam bastado s por si,
escreve no seu Marc-Aurle, para desterrar esta cruel instituio (a es-
cravatura). A antiguidade s pde conservar a escravatura excluindo-a
dos cultos patriticos. Se tivessem tomado parte nos sacrifcios junta-
mente com os senhores, ter-se-iam, levantado moralmente. A reunio na
Igreja era a mais perfeita lio de igualdade religiosa... Uma vez que
o escravo tem a mesma religio que o senhor e que ora no mesmo tem-
plo, a escravatura est prestes a acabar .
2. Aadmisso dos escravos ao sacerdcio e vida monstica,
de que falmos, foi outro grande impulso para o nivelamento das classes.
Sob o burel e sob o vu monsticos no h distino entre senhores e
escravos: uns e outros trabalham e oram em comum confundidos numa
igualdade perfeita,
3, A partir do sculo VI a Igreja, enriquecida com piedosas
doaes de reis e senhores, emprega grande parte dos seus bens em
resgastar inmeros prisioneiros de guerra e escravos, para lhes dar a
liberdade ou, pelo menos, para lhes tornar a vida mais suave e fcil ,
segundo as recomendaes dos Papas e dos conclios,
Tal foi a obra da Igreja no passado, mas o seu zelo no se extin-
guiu ainda. bem conhecida a grandiosa obra empreendida por
LEOXIIIe pelo cardeal LAVIGERIE, no fim do sculo passado, conhecida
pelo nome de obra contra a escravatura, destinada a combater na
Africa o trfico de pretos.
2. AIGREJAE AFAMLIA,
472. A famlia a fonte necessria da vida e da sua
conservao e, por conseguinte, de direito natural e de
origem divina. Contudo, ascondies da famlia, isto , as
relaesentre osseusmembros, podem variar com ostempos
e regies. Vejamoso que foi a famlia na antiguidade e o
que depoisdo cristianismo,
1. A famlia na antiguidade. Antigamente a auto-
ridade absoluta do pai absorvia a dosoutrosmembros,
a) Quase por toda a parte, e sobretudo em Roma, o
direito da criana vida, dependia do livre arbtrio do pai,
0 infanticdio era permitido pelasleise at aprovado pelos
filsofosde ento. Nada maisrazovel, diz SINECA, do
que desembaraar a casa dascoisasinteis, QUINTILIANO
ousa afirmar que matar um homem ordinriamente crime,
masmatar os prprios fillies muitasvezesaco boa,
Se o pai pode matar osfilhos, com maior razo ospode
vender ou dar em refns.
b) A situao da me no era maisvantajosa, No s
no participava no poder paterno, mas, onde existia a poli-
gamia e o divrcio como no Oriente, era verdadeira escrava.
A condio da mulher no era melhor nasnaesmais
civilizadas, como na Grcia e em Roma, Asdonzelasviviam
sob o domnio do pai; depoisde casar passavam para a
tutela do marido, a quem a legislao conferia poderes
quase ilimitados.
473.-2. A famlia na sociedade crist.a) Acriana,
graasao cristianismo, torna-se objecto da maisterna solici-
tude dosseusprogenitores, 0 pai comea a compreender
que osfilhosno so uma propriedade da qual se pode
usar ou abusar, massim criaturasde Deus, resgatadaspelo
sangue de Cristo e predestinadaspara o cu, seresenfim que
devem ser tratadoscom osmaiorescarinhos,
b) 0 cristianismo tambm elevou a dignidade moral
da mulher, inculcando a excelncia da virgindade e a
sublimidade do matrimnio uno e indissolvel. E bom notar
que o cristianismo no exaltou a virgindade, to mal com-
preendida dosantigos, para rebaixar o matrimnio; porque
este foi elevado por J. Cristo dignidade de sacramento e,
portanto, no simplescontrato por maissolene que se
suponha, massinal sagrado que confere graa especial e
simboliza a unio de Jesuscom a Igreja,
Osfeministas dizem que a mulher ainda no ocupa na
sociedade o lugar que de direito lhe compete, Afirmam
tambm que, sob o aspecto poltico, social e econmico,
a sua situao muito inferior do homem, pois, estando
submetida smesmasleise com encargospelo menos
equivalentesaosdo homem, deve tambm gozar dosmesmos
direitos. A Igreja no formulou ainda sobre este assunto
doutrinasprecisas, maspodemosafirmar que jamaisdeixar
de apoiar todo e qualquer esforo tendente a melhorar a
condio da mulher,
I
A
548
APOLOGIADAIGREJA
OS SERVIOS PRESTADOS PELAIGREJA540
S
3. AIGREJAE ASOCIEDADE,
S
Se considerarmosa sociedade, veremosque a Igreja lhe
prestou osmaioresserviosmateriais, intelectuais e morals,
1. Servios prestados na ordem material. AIgreja
trabalhou sempre pelo bem-estar material do povo, que a
resultante dum conjunto de circunstncias, trabalho, econo-
mia, bonscostumes, sem asquaisno h prosperidade
nem felicidade possveis. Na antiguidade todasestasvirtudes
eram desconhecidase o trabalho material considerava-se
como uma degradao para o homem livre. A Igreja, porm,
ensinando 'a grande lei do trabalho, reabilitou-o aosolhosda
humanidade. No contente com pregar a doutrina, entendeu
que o melhor meio de lhe assegurar o xito era apoi-la
com o exemplo. Por isso, entre asprimeirasgeraescrists
reinava intensa actividade,
Osmonges, maisque ningum, trabalharam pela pros-
peridade da Europa arroteando asflorestas, lavrando e
cultivando osdesertose fundando, junto dosmosteiros,
aldeias, vilase cidadesonde em breve floresceram o comr-
cio e a indstria.
Em nossosdias, em que o operrio comea a ocupar
lugar preponderante na sociedade, a Igreja, depoisde ter
elevado a sua dignidade moral, continua a interessar-se pela
sua sorte, como o provam asEnciclicas Rerum Novarum
(16 de Maio de 1891) de Ledo XIII e Quadragsimo anno
(1931) de Pio XI, Osdesejosda Igreja so que asjustas
reivindicaesdosoperriossejam plenamente atendidas.
Mas, ainda que se interessa pelo bem-estar do opera-
riado, no hesita em lembrar- lhe que se tem direitos,
tambm tem deveres. Deste modo, julga prestar causa dos
trabalhadoresmaisrelevantesserviosdo que osdemagogos,
que, fomentando-lhesesperanasvs, osconduzem runa
e ao abismo,
475.-2, Servios prestados na ordem intelectual.
A dar ouvidosa algunsadversriosda Igreja, a instruo s
principiou com a Revoluo francesa, Ate ento, e sobretudo
durante a Idade Mdia, o mundo viveu na ignorncia e no
obscurantismo, A Igreja, que se tinha constitudo mestra
dasnaes, no cumpriu a misso que lhe fora confiada : o
ensino que ministrou limitou-se, quando muito, ascoisas
da f.
Osque assim falam, do provasde imperdovel ignorn-
cia dosfactos, ou de inqualificvel m f. Sem dvida,
houve pocasem que o ensino esteve em decadncia, devido
a circunstnciaspouco propcias; todavia oshistoriadores
imparciais, que estudaram a f undo a questo, viram-se obri-
gadosa confessar que a Igreja ministrou sempre aosclrigos
e ate aosleigosa instruo acomodada ao adiantamento da
poca e snecessidadesde cada um. Do sculo V ao XI, a
Igreja fundou e dirigiu escolasepiscopais, paroquiaise mons-
ticase, no sculo XVI, colocou-se frente do movimento que
impeliu osespritospara a antiguidade grega e latina. Desde
ento nunca deixou de promover ostrabalhosintelectuaise
de fomentar o desenvolvimento dasletras, dasartese das
cincias.
476, 3. Servios prestados na ordem moral. Na
ordem moral j vimoso que a Igreja fez pelosindivduose
pela famlia. Ao mesmo tempo que reivindicava a liberdade
para osindivduos, transformava oscostumespblicos. Aos
governantesensinou que todo o poder vem de Deus e que
deve ser exercido com justia e prudncia. Aossbditospres-
creveu a obedincia e o respeito para com osgovernantes,
baseando-se naquela maxima de Cristo; Dai a Csar o
que de Csar,
Finalmente, melhorou asrelaesentre ospovos, ensi-
nando que todososhomens, sem distino de raa ou de
nacionalidade, so irmos, filhosde Deuse da Igreja e fazen-
do-lhescompreender que era uma monstruosidade tratarem-se
como brbaros.
477. ObjecOo. Osadversriosobjectam que as
naesprotestantesso maispoderosas e esto maisprspe-
ras do que ascatlicase que o seu nvel moral maisele-
vado. Deste facto, que julgam histbricamente incontestvel,
concluem que a prosperidade dasprimeirase a decadncia
dassegundasdevem atribuir-se diversidade de religio.
550APOLOGIADAIGREJA
OS SERVIOS PRESTADOS PELAIGREJA551
Resposta. Devemosdistinguir nesta objeco o aspecto
histrico e o doutrinal ou, por outraspalavras, a questo de
facto e a tese, que com ele se pretende provar,
Se fosse possvel demonstrar que osfactoshistricosno
so o que se afirma, ou no tm o alcance que se lhesatri-
bui, poderamosafirmar que a tese falsa, Massuponhamos
que asnaesprotestantesso, na realidade, superioress
naescatlicas. Seguir-se-, porventura, que a religio a
causa da superioridade duma e da inferioridade dasoutras?
A, A tese. Ser verdade que a religio a causa do
progresso ou da decadncia dasnaes?
a) Notemos, em primeiro lugar, que, ainda mesmo que
o fosse, o protestantismo no seria por esse motivo a verda-
deira religio, 0 fi m primrio da religio no consiste em
trabalhar pela prosperidade material dosseusadeptos, mas
em levar asalmasa Deus, Quando mencionmososservios
materiaisprestadospela Igreja sociedade, no era nossa
inteno demonstrar que o cristianismo, pelo facto de ser a
religio verdadeira, devia atrair asbnosde Deusna ordem
temporal. Limitmo-nosa provar que o bem-estar material
dospovosdevia ser consequncia da doutrina de Cristo, que
tende a tornar oshomensmaistrabalhadores, maisecon-
micose maisvirtuosos; masno pretendemosde modo algum
defender que basta implantar a religio verdadeira num pas
materialmente em decadncia, para o transformar, como por
encanto, numa nao rica e prspera.
b) Venhamosagora ao ponto fundamental da questo,
Em que se apoiam osadversrios, quando afirmam que a
religio protestante causa de prosperidade e a religio cat-
lica causa de decadncia? 0 princpio, em que se fundam,
a teoria do livre exame, que favorece, segundo dizem, o
esprito de iniciativa, o arrojo e a energia, ao passo que os
princpiosdo catolicismo, que impem a adeso a dogmas
obscurose a submisso cega a um poder absoluto, esterili-
zam todasasiniciativas,
A futilidade deste raciocnio evidente. A f nosdogmas,
que no tm relao alguma com osnegcios temporais, e a
obedincia Igreja na ordem espiritual no impedem de
modo nenhum o esprito de iniciativa, Seria ridculo susten-
tar que oscomerciantesou industriaiscatlicosno so to
livrespara tratar osseusnegcioscomo osprotestantes.
c) Acrescentemos, finalmente, que a palavra prosperi-
dade um termo vago, A verdadeira civilizao no se reduz
smente prosperidade material ; parece-nosque, pelo con-
trrio, deve compreender no s osinteressesmateriais, mas
tambm osmoraise osreligiosos. Ospovosmaiscivili-
.,zadosno so aquelesque tm como ideal lnicamente o bem-
-estar e a riqueza, masosque possuem maior grandeza de
alma e vida moral maiselevada, Ora, evidente, que os
princpioscatlicos, que recomendam a caridade, o amor do
prximo, a abnegao de si mesmo e exigem doshomensa
f e sobretudo asboasobras, so muito superioresaosprin-
cpiosprotestantes, Podemos, pois, concluir que a objeco
protestante no se baseia em argumentosslidos,
B. Osfactos. A tese protestante falsa em si e
contrria aosfactos. a) Pelo que diz respeito ao passado,
ningum poder negar que durante muitossculosasnaes
catlicas, como a Frana, a ustria, a Espanha e Portugal
formavam a vanguarda da civilizao. 0 momento, em que
atingiram o seu apogeu, corresponde precisamente quele
em que a vida catlica era maisintensa e osprincpioscris-
tosmaisfielmente observados.
b) Nos tempos recentes, talvez devamosconfessar que
asnaescatlicasesto materialmente inferioressgrandes
naesprotestantes: EstadosUnidos, Inglaterra e Alemanha.
Mas, se admitssemosque a religio a causa desta inferio-
ridade, poderamosdizer que, se osEstadoscatlicosdeca-
ram materialmente, foi por terem sido infiis religio e por
terem cado no indiferentismo religioso e no atesmo prtico.
B ibliografia. Art, I. B REH IER, art. Croisades (Dic. d'Ales),
- LUC H AIRE, Innocent III; La questiond'Orient (Paris). GUILLEUX,
art. Albigeois (Dic. dAles). DECAUZ ONS, Les Albigeois et l'Inquisi-
lion; Les Vaudois et l'Inquisitior (B loud). Mons, DouAls, Les sources
de l'histoire de l'Inquisition(Rev. des Questions historiques, 1 882);
L'Inquisition, ses origines historiques, sa procedure
(Piou). VACAN-
DARD, L' Inquisition (B loud).GUIRAUD, Questions d'histoire e d'archo-
ologie chrtienne (Gabalda). Mons. d'H uLST, Quaresma de 1 895,
5,a C onf.$ AIgreja e o Estado, LANGLOIS, L'Inquisitiond'aprs des
travaux recents (B ellas). ROUQUETTE, L'Inquisitionprotestante..
552APOLOGADAIGREJA A F E A RAZO553
(Blond), GUIRAUD, art. Inquisition (Dic. d'Als). VACANDARD, De la
tolerance religieuse (Bloud). DE LABRIRE, art, Barthelemy (La
Saint) ,(Dic, d'AIs), HELLO, La Saint-Barthelemy (Bloud).VACAN-
DARD, Etudes de critique et d'histoire religieuse (Lecoffre). DIDIER,
La revocation de l'Edit de Nantes (Blond), P. DEVREGILLE, art.
Galile (Dic. d'Als). CHOUPIN, Valeur des decisions doctrinales et
disciplinaires du Saint-Siege (Beauchesne), DEL'EPINOIS, La Question
de Galile (Palm). VACANDARD, Etudes de critique... J. DELA
SERVIRE, art. Boniface VIII (Dic. d'Als),
Art. II. P. ALLARD, Les esclaves chrtiens depuis les premiers
temps de glise... (Lecoffre) ; art. Eselavage (Dic. d'Ales). D'AZ AM-
BUJA, Ce que 1? christianisme a fait pour la femme (Blond). H. TAU-
DIRE, art. Famille (Dic. d'Ates), L. LECLERCQ, Essai d'Apologtique
exprimentale (Duvivier, Tourcoing). Mons, BAUDRILLART, L'Eglise
catholique, la Renaissance, le Protestantisme (Blond), DELABRIRE
Nations protestantes et nations catholiques (Blond), FLAMRION, De
la prospril compare des nations catholiques et des nations protes-
tantes... (Blond). L. FRANCA, A Igreja, a Reforma e a Civilizao
(Rio de Janeiro),
C AL [TULO II. A Fe PERANTE A RAZO E A C INC IA.
1 A. Objeco: Conflito entre a f e a razo.
1, Af pe-
I a) Princpios diversos de conhe-
cimento.
rante a ra-/ B , A f e a) b) No h discordncia, Con-
zo.
razo.curso mtuo.
I
c) A f superior razo. Os
Mistrios.
t A. Objeco: C onflito entre a f e a cincia.
I a) Impossvel no domnio exclu-
2. A f pe- I
r a n t e a{ B . Conflito. { sivo
da cincia.
cincia.
1
, b) Possvel apenasnasquestes
mistas.
t C. Aplicaes Biblia.
DESENVOLVIMENTO
478. Diviso do captulo. Por maisslidose con-
cludentesque sejam osmotivos de credibilidade propostos
pela Apologtica, evidente que perderiam todo o valor se
osadversriosconseguissem demonstrar que a Igreja catlica
ensina dogmasabsurdos, Osracionalistas, julgando encon-
trar aqui campo propcio para atacar a f, afirmam, em nome
da razo e da cincia, que h antagonismo entre estase a
f e que osdoismodosde conhecimento pela f e pela
razo so opostosou, pelo menos, independentesentre si,
Veremosquanto se enganam, determinando 1,: as relaes
entre a f e a razo, e 2. as relaes entre a f e a cincia,
Art, I. A f e a razo.
479. Objeco. Segundo osracionalistas, a f e a
razo so incompatveis, No s impossvel estabelecer
qualquer relao entre elas, mas, como a f exige a adeso
aosmistrios, isto , sverdadesque ultrapassam e desnor-
teiam a inteligncia por serem contraditrias, essasverdades
no se podem crer sem abdicar da razo,
APOLOGIA
DA
IGREJA
555 A FE E ARAZ O
554
APOLOGIA DA IGREJA
480. Resposta. J determinmosno nosso livro,
Doutrina Catlica (n.s282 e 283), asrelaes entre a f
e a razo, e conclumosque no existe a suposta oposio
invocada pelosracionalistas, Apesar da f ser superior
razo, diz o conclio do Vaticano, no pode haver entre
elasverdadeira discordncia, Porque o mesmo Deusque
exige de nsa f nosmistriose nosconfere a luz da razo
e, por conseguinte, impossvel que se contradiga a si mesmo
que uma verdade' esteja em contradio com outra (I).
Consoante a doutrina catlica, so trsascaractersticas
dasrelaesentre a f e a razo a) A f e a razo so
doisprincpiosdistintos de conhecimento, b) Longe de
estar em desacordo, prestam-se auxilio mtuo. c) Sempre
que osdoisprincpiosparecem estar em oposio, a f
superior razo.
A. A f e a razo so princpios distintos. A f e
a razo so doisprincpiosdiversosde conhecimento, dois
caminhos, duasluzesdadaspor Deusao homem para atingir
a verdade, Cada uma tem, portanto, o seu domnio respectivo.
0 domnio da f abrange todasasverdadesreveladas,
algumasdasquais osmistrios so inacessveis razo;
outraspodem ser adquiridaspelasforasnaturaisda inteli-
gncia, masforam reveladaspor Deussimplesmente para
que a totalidade doshomensaspossa conhecer com certeza
e facilidade,
So do domnio da razo asverdades cinciasfsicas
e naturais, histria, literatura, etc. que a inteligncia, s
pelassuasprpriasforas, pode descobrir, Neste campo
senhora absoluta e no est sujeita directamente censura
da Igreja,
B. Entre a f e a razo no h desarmonia, mas
auxlio mtuo. Se ambososprincpiosvm de Deus,
como ensina a doutrina catlica, como podero estar em
contradio? A verdade no pode contradizer a verdade,
Entre a f e a razo, no h nem pode haver discordncia,
mas auxlio mtuo. A razo precede a f, prepara-lhe o
(1 ) C onst. Dei Filius, cap. XV.
caminho, levanta-lhe osalicercesintelectuaisem que a f
se h-de fundar, Em seguida, quando esta possui asver-
dadesreveladas, ainda a razo que asprescruta e analisa,
para astornar inteligveis,
Por sua vez, a f ilumina a razo t impede-a de se extra-
viar atravsda multiplicidade dossistemasfalsose condena-
dospela Igreja. Estimula-a, abrindo-lhe novoshorizontes, e
eleva-a, propondo ssuasinvestigaeso campo vastssimo
dasverdadessobrenaturais.
C, A f superior razo. Expliquemoso sentido
desta frase. J antesdissemosque a razo possui domnio
prprio em que senhora absoluta. Esta subordinao da
razo f diz semente respeito sverdadesmistas e sver-
dadessobrenaturais.
Quanto sprimeiras, isto , sverdadesque so do
domnio da razo, masque tambm dependem da f por terem
sido reveladaspor Deus, como so ; a existncia e a natu-
reza de Deuse da alma humana, a criao do mundo, etc.,
a razo deve conformar-se aosensinamentosinfalveisda
Igreja, nada afirmando que v contra asverdadesdefinidas,
No domnio dosmistrios, a razo est obrigada ainda a
maior sujeio, porque nesse campo apenasinstrumento da
f, como diz o axioma conhecido : philosophia est ancilla
theologiae, quando se trata dosmistrios, Esta expresso,
que tanto escandaliza osfilsofosmodernos, era empregada
quase exclusivamente neste sentido na Idade Mdia, quando
a cincia se encontrava semente em estado de embrio,
Nessa poca o estudo da teologia era o maisimportante de
todose considerado como o centro de tudo o mais ( 1 ).
481. Mas, objectam osracionalistas, osmistrios,
para cuja explicao se exige o concurso da razo, so absur-
dos. Examinai osdogmasfundamentaisda vossa religio
um Deusem trspessoas, o pecado original, Deusfeito
homem, nascimento virginal de Jesus, redeno, pela morte
de um Deusna crdz... Basta enunci-lospara ver que so
contrrios razo.
(1 ) DEBROGLIE, La Croyance religieuse et la Raison.
556APOLOGIA DA IGREJA
A F EA CINCIA557
Resposta. Osmistriosesto acima da razo, masno
a contradizem, A contradio s existe quando se deformam
osdogmascom falsosconceitose termosimprprios,
Tomemosum s exemplo que tiraremosdo livro de SULLY
PRUDHOMMEsopre A verdadeira religio segundo Pascal.
Eiso modo como expe o mistrio da SS,ma Trindade :
Dizer que em Deush trspessoas afirmar que em Deus
existem trsindividualidadesdistintas, Por outro lado, a fr-
mula do mistrio declara que h uma s, a do prprio Deus:
0 Pai Deus, o Filho Deus, o Esprito Santo Deus; as
trspessoasdistintasso um s e o mesmo ser individual.
Se ostelogosexpusessem o dogma desta forma, haveria
com certeza contradio nostermos, De facto, no podemos
conceber trsindividualidadesno mesmo ser individual, Os
_telogos, porm, deixando a Prudhomme o uso dostermos
individualidade e ser individual, assim explicam o mis-
trio da SS,ma Trindade : em Deush urna s natureza subsis-
tente em trs pessoas ou, por outraspalavras, em Deusexiste
uma s natureza que possuda por trs pessoas.
Concluso. 0 que dissemosdo mistrio da SS,ma Trin-
dade, podemosaplic-lo aosoutrosdogmasda Religio cat-
lica ( 1 ). Em nenhum encontraremosa contradio que os
nossosadversriosjulgam encontrar entre a f e a razo, e
podemosconcluir que osdogmasultrapassam a razo, mas
no a contradizem.
Art. II. A f e a cincia.
482. Objeco. Afirmam osracionalistasque o con-
flito entre a f e a cincia no menosevidente que entre a
f e a razo. Geralmente costumam fundar a sua assero
nasnarrativas cientficas da Bblia, que dizem estar em opo-
sio com osdadosda cincia.
483. Resposta. Distinguiremosdoispontosna objec-
o racionalista : a) a tese que afirma, de um modo geral,
(1 ) V. Dout. Cat. n.(.'70, 84, 104, etc.
a existncia dum pretenso confl ito entre a f e a cincia, e
b) assuasaplicaes Bblia.
A. Tese. Osracionalistaspensam que o conflito entre
a f e a cincia irredutvel, pelo facto de esta se fundar no
livre exame e na livre investigao da verdade, e a f no
ser livre no seu mtodo nem nasconcluses. S pode haver
processo cientfico, diz GUNKEL, quando se trata da indagao
da verdade e quando o resultado no fornecido de antemo,
por alguma autoridade, quer nosseuspormenores, quer no
seu conjunto, Desta forma, dizem osracionalistas, uma vez
que o livre exame a condio de toda a investigao cient-
fica, segue-se que o catlico no pode demonstrar cientifica-
mente osmotivosde credibilidade, nem asverdadesque
deve c 1r, poisno pode comear por duvidar dosdogmas,
sem deixar de ser catlico,
Para responder tese racionalista conveniente no
confundir o domnio exclusivo da cincia com o domnio
misto da cincia e da f,
a) Tratando-se do domnio exclusivo da razo e da
cincia, isto , dascinciasque no esto relacionadascom
a f, falso que o sbio catlico no possua a mesma liber-
dade que o protestante ou o racionalista, Pouca impor-
tncia tem para a liberdade de esprito, necessria a um
engenheiro electricista, que ele creia no Alcoro, na Bblia
ou na infalibilidade do Papa, A no ser que se queira sus-
tentar que o electricista, que admite a infalibilidade do Papa
esteja, por isso mesmo, obrigado a crer no que o Papa deter-
minar em assuntosde electricidade. Nesse caso, a nica
resposta seria apontar-lhe o catecismo, onde encontrar bem
delimitadasasmatriasem que recai a infalibilidade pon-
tifcia ( 1 ).
b) Nasquestes mistas, parece primeira vista que o
sbio catlico, ligado pela sua crena, no pode fazer obra
cientfica, porque asconclusesda f podem opor-se sduma
dada cincia ou da filosofia. Ver-se-, pois, obrigado a desem-
penhar o papel de apologista, procurando dispor osfactose os
(1 ) FONSEGRIVE, Catholicisrne et Libre-Peasee, p , 33.
558APOLOGIA DA IGREJA
textosem harmonia com asconclusesque assuascrenas
lhe impem.
Esta antinomia, porm, mesmo no campo misto, menor
do que se afirma, Por que motivo o homem, que acredita em
Deus, na Providncia, no milagre, na existncia da alma espi-
ritual e livre, h-de ser menosapto, para compreender os
factosbiolgicose asrealidadeshistricas, do que o ateu, o
materialista e o determinista ?
Se h preconceitosduma parte tambm osh da outra;
e se osh em ambas, porque que osdo ateu ho-de ser
maisconformes cincia e , investigao da verdade do que
osdo crente? Alm disso, qualquer que seja o ponto de
partida do crente, e supondo at que o seu mtodo seja
menoscientfico, haver porventura direito de rejeitar as
suasconcluses, se recorreu smente cincia para defender
ou demonstrar uma verdade, que ele conhece por outra via,
e se baseou znicamente em argumentosda razo para a
provar?
Concluso. Concluamos, portanto, que s 1) h um
domnio em que o crente, sem deixar de o ser, pode tra-
balhar com verdadeiro esprito cientfico ; 2) existe outro
domnio em que, apesar dum mtodo menoslivre, pode
chegar a conclusesverdadeiramente cientficas, porque se
apoiam na cincia e no nosdadosda f.
484. B, Aplicaes Bblia. -- Osracionalistas, para
provar que h antagonismo entre a f e a cincia, citam
numerosaspassagensda Bblia, em que osdadosda reve-
lao parecem opor-se aosda cincia. Poder-se- fazer ideia
do suposto conflito pelostrsexemplosseguintestiradosdas
descriescosmogrficas, da cosmogonia moisaica e da narra-
o do dilvio,
a) Descries cosmogrficas. -- Aspalavrasempre-
gadaspelosescritoressagrados, quando descrevem o cu, a
terra e osdiversoselementosdo globo, esto muitasvezesem
oposio com ostermosque usam ascinciasda natureza.
Algunsexemplos
1, A abbada celeste representada como um invlucro
slido, Diz o Gnesis (I, 6-7) que o firmamento separa as
AF E ACINCIA
559
guassuperioresdasinferioresque esto sobre a terra, que
ascomportasdo cu se abriram (Gn., VII, 11) e caram
chuvastorrenciais; a cincia moderna demonstrou que a ab-
bada celeste no existe e aschuvasno provm de reserva-
trioscolocadosacima de ns.
2, Osastrosso descritoscomo pontosfixoscolocados
na extenso do firmamento para iluminar a terra e presidir
ao dia e noite (Gn., I, 17-18).
.-,s73. A maneira como em certaspassagensse fala do sol,
supe que este gira em volta da terra (Jos., X, 13; Ed.,
XLVIII, 23), 0 Eclesiastes (I, 5) diz-nosque o sol nasce
e se pe e volta ao seu lugar, donde se levanta de novo.
4, A terra tida como uma superfcie convexa, cavada
em forma de concha, para poder conter osmares, cujasguas
so retidas- pr barreiraslevantadaspor Deus
(Prov, VIII,
28-30) quando na realidade so simplesmente sustentadas
pela fora da gravidade que asatrai para a crusta terrestre.
5, A lebre que osnaturalistasclassificam entre osroe-
dores, no Deuteronmio (XIV, 7) designada como ruminante.
b) Cosmogonia moisaica. Nosdoisprimeiroscap-
tulosdo Gnesis, o escritor sagrado narra a origem dascoisas
e descreve-nosDeusorganizando o mundo em seisdias, por
si mesmo, sem recorrer aco dascausassegundas.
A hiptese de LAPLACE, pelo contrrio, supe que osmundos
se formaram pouco a pouco, por uma evoluo lenta e pro-
gressiva ( 1 ),
Resposta. Haver verdadeira oposio entre a cincia
e a Bblia nasdescriescosmogrficase na comogonia moi-
saica? Essa oposio seria possvel se a Bblia devesse ser
considerada como um livro de cincia, Masno esse o
caso, Osautoressagradosno tinham em vista um fim
cientfico, masapenasreligioso. Osfactosda cincia so
para elesuma questo secundria, Falam dosfenmenosda
natureza e da formao do mundo segundo asaparncias,
servindo-se dosdadosda cincia da poca em que escreveram,
(1 ) V. Doutr. Cat. n 55 e segs.
560
APOLOGIADAIGREJA
A FE E A CINCIA
561
Nestascor,diesningum
poder
ver conflito entre
o seu modo de falar
e o da cincia
actual,
e)
ODiffivio. A narrao
bblica do dilvio
(Gn., VI e
VII) tem sido combatida em nome da histria natural,
da etnografia
e
da geologia.
Contra a tese dum
dilvio uni- versal,
que tivesse inundado toda a terra
e
submergido todos oshomens
e
animais,
argumentam
desta maneira
1,
No I na terra volume de gua suficiente para se
elevar ate aoscumesdasmaisaltasmontanhasque ultrapas-
sam 8.000 metrosde altura. Deusteria, pois, necessidade
de a criar para a fazer desaparecer em seguida,
2,
No no podia fazer entrar na arca um casal de todos
osanimaisexistentes,
3. Se todososhomenspereceram, excepo da
fam-
lia
de No, como se explica a diferenciao dasraas, branca,
negra e
amarela, a qual, segundo osdocumentosda histria,
j existia trsmil anosantesde Cristo?
4, Na terra no se descobre
vestgio
algum de seme-
lhante inundao
. Os
gelogos,
pelo contrdrio, descobriram,
por exemplo, nasmontanhasde Auvergne montesde cinza
e
escrias, provenientesde vulcesextintosantesda apario
do homem, asquais, na hiptese dum dilvio universal,
teriam sido certamente arrastadaspelasdguas,
Resposta. Todasasdificuldadesexpostaspodem fcil
-mente
explicar-se pela simplesrazo de que a
universalidade absoluta do dilvio
nunca foi ensinada pela Igreja como
artigo de f.
Podem, portanto, formular-se vriasopinies
1,a asguasinundaram sbmente a terra habitada ; 2.a ou
pereceu no
dilvio
imicamente a raga de Set
e no
a huma- nidade inteira,
Estesdoissistemasque supem a universalidade
relativa do dilvio,
concordam com ascinciasnaturais
e esto em harmonia com
o
texto do Gnesis. 0 escritor sagrado no
pretendeu falar de regiescomo a Amrica, a Austrlia ou
mesmo outras, cuja existncia com toda a probabilidade
ignorava,
Alm disso, muitasvezesna Sagrada Escritura asexpres-
ses a terra ou mesmo toda a terra , no so empregadas
em sentido
absoluto. Assim,
por exemplo
na
histria de Jos
do Egipto diz-se que
houve
fome em
toda a terra (Gn.
XLI. 56),
Do mesmo modo assevera-nosS. Lucasque, no
dia de Pentecostes, estavam
reunidos em
Jerusalm,
homens
de todas asnaes que h debaixo do
cu (Act. II, 5),
Portanto, nem a f,
nem
a exegese nosimpedem de seguir
a opinio dum dilvio
restrito,
contra cuja realidade a
cincia
nepode apresentar objeces srias.
Concluso
geral. Nem
asdificuldadessuscitadascontra
a Igreja, em nome da razo e
da cincia, nem asnumerosas
objeces que
encontrmos
no decurso deste
longo
trabalho,
podem abalar osfundamentosdo dogma
catlico e o
valor
dasrazes
que temospara crer
. E,
contudo, far-nos-o
essa
justia, em nenhuma
parte da nossa obra, procuramos
diminuir o
valor dosargumentos
contrrios. Esfordmo-nos
at por
apresent-los
com toda a sua fora,
pois julgmos
que esse era um dever de conscincia para com os
adver-
srios,
de cuja boa f
e lealdade
no podemos
duvidar,
e que
seria fazer
injria
verdade,
defend-la
com meios
desleais,
Bibliografia.
BAINVEL, art. Foi (Dic. d' Ales);
La foi et l'acte
de foi
(Beauchesne). CATHERINET, Le r6le de la volonte dans l'acte de
foi (Langres). E. JULIEN, Le
croyant garde-t-il sa liberta
de penser?
(Rev, pr.
d' Ap. 1 907).P, DEBROGLIE,
Les relations entre la
foi et la
raison (Blond). VERDIER, La
ravelatiorz devant
la raison
(Bloud). -
PONSARD, La croyance religieuse
et les aspirations de la
socita contem-
poraine
(Beauchesne). FONSEGRIVE, L'attitude du
catholique devant
la science (Blond). GUIBERT, Les
croyances religieuses
et les sciences
de la nature
(Beauchesne), BRUCKER, art, Deluge
(Dic, d' Als).
36
NDIC E ALFAB TIC O DAS MATRIAS
Onmero colocado depois de cada palavra indica o nmero marginal ;
a letra n refere-se nota do nmero indicado.
A
Abuso (Apelao ab), 429 (n).
Acaso (objeco contra a ordem do
mundo), 45,
Acto puro, 42 (a), F
Actos (dos Apstolos), 31 1 (n).
Acusaes (As principais) contra a
Igreja, 445 e segs,
Agnosticismo, 31 , 31 (n), 65,
Albigenses (Cruzada dos), 446 e seg.
Alma (da Igreja), 384,
Alma humana, existncia, 1 04;
objeco, 1 05; natureza ; a alma
humana e a alma dos animais,
1 06, 1 07; espiritualidade da
alma humana, 1 08; objeco
materialista, 1 09,
Anabaptismo, 362 (a).
Anglicanismo: origem 361 ; dou-
trina 362; estado actual, 363,
Animismo, 1 38, 1 42,
Apcrifos (Evangelhos), 21 4 (n).
Apologtica: definio, 1 ; objecto,
2; fim, 4; importncia, 5; divi-
so, 6; mtodos, 1 0; histria, 1 5,
Apologia, 3.
Apostolicidade, 351 .
Apstolos, 31 7, 31 8 (n),
Artigos (fundamentais), 345, 346.
Atesmo, 61 ; causas, 62; conse-
quncias, 63.
Atributos (de Deus): noo, 68;
espcies. 69; negativos, 69, 70;
morais, 71 , 75,
Auto-de-f, 450,
Bartolomeu (Matana de S.), 453,
456.
Beatificao, 391 .
Bispos (Poderes dos), 41 0 e segs,
Blondel, 1 4, 52 (n).
Bonifcio VIII, 463,
Bramanismo, 1 93.
Breve pontifcio. 401 .
Budismo, 1 94-1 97.
C
Cabido, 388.
Calvinismo: origem, 358; doutrina,
359; estado actual, 360.
Canonizao, 391 (n).
Cardeais, (0 Sacro colgio dos), 404.
Carismas, 31 1 e seg,
Catolicidade, 350.
Causa primeira (Argumento da),
36; objeces, 37 e seg,
Causas finais, 44; objeces, 45, 46.
Censuras (doutrinais), 391 (a).
Cepticismo, 23, 27,
Crebro (0 --- e o pensamento), 1 09.
Cesarismo (Erro do), 434.
China (Religies da), 1 82 e seg,
Cisma grego, 370 e seg.
Comisso bblica, 407.
Conclios: ecumenicidade, 41 4; au-
toridade, 41 5, 41 6 ; utilidade,
41 7; o seu nmero, 41 8,
Conclave, 404 (a).
Concluses (teolgicas), 391 .
564NDICEALFABTICODAS MATRIASNDICEALFABTICODAS MATRIAS565
Confucionismo, 1 84-1 86.
Congregacionalismo, 363 (n).
Congregaes romanas, 402, 406.
Conscincia (Liberdade de), 439,
Consistrios, 405,
Constituies dogmticas, 401 ,
Consultores, 407.
Contingncia (Argumento da), 36,
Cosmogonia (moisaica), 484.
Criao, 81 e seg.
Cristianismo; provas da sua divin-
dade, 206 e seg.; doutrina, 285;
rapidez da sua difuso, 279-288;
maravilhosa conservao, 289.
Critrios da Revelao, 1 55 e seg.
Criticismo kantista, 24, 27, 33,
Cruzadas, 446 e seg.
Cria (Cardeal da), 405 (n).
Dar,>inismo, 92.
Degradao da energia, 40 (n),
Deus (Existncia de), 30; demons-
trabilidade, 31 , 32; erros, 33;
provas, 34; provas cosmolgcas,
35; psicolgicas, 47 e seg.
Determinismo, 1 1 2 e seg.
Didscalos, 31 8 (n),
Dogmticos (Factos), 391 .
Dogmatismo, 27, 28,
Doutores, 31 7, 31 8 (n).
Doutrina crist, 276 e seg., 285,
Dragonadas, 457, 459,
Dualismo, 82 ; maniqueu, 82 (n).
E
Edito de Nantes, 453; revogao,
457, 458, 459.
Eleio; do Papa, 404 (n) ; dos
Bispos, 41 0 (n).
Encclicas, 401 .
Episcopado (Origens do), 31 7, 31 8,
Escolas (A Igreja e as), 423.
Escravatura (A Igreja e a), 470, 471 .
Espcies (Origens das), 87; espcie
humana (unidade da), 1 27 e
segs,
Eternidade da matria, 40,
Evangelhos, 21 4 (n) integridade,
21 5; autenticidade, 21 7; vera-
cidade, 221 .
Evangelistas, 21 4, 31 8 (n).
Evoluo (Teoria da), 40; evolu-
o criadora, 45,
Evolucionista (Moral), 54,
Ex cathedra, 399 (n),
Excluso (Direito de), 404 (n) v.
Veto.
Exrcito da Salvao, 363 (n`,
Experincia individual, 52 (n). Ex-
perincia religiosa (W. James),
1 42.
Factos dogmticos, 391 ,
Famlia (A Igreja e a), 472, 473.
F, (A e a razo), 479 e seg.; a
e a cincia, 492 e seg.
Feiticismo, 1 38,
Fidesmo, 33.
Fixismo, 87, 88, 94.
Fcio, 371 .
Foro (Privilgio do eclesistico),
432,
Fsseis, 93,
Galicanismo (Erro do), 434,
Galileu (0 processo de), 460 e seg,
Gerao espontnea, 40,
Gnosticismo, 31 2, 31 4.
Gregrio VII, 463.
Guerras da religio, 453, 454, 455,
U
Henotesmo, 1 43 (n),
Hierarquia, 308 (n); da Igreja,
386 e seg.
Hindusmo, 1 98 e seg.
Homem; natureza, 1 02; origem, 1 20;
destino, 1 24; antiguidade, 1 30,
1 31 .
Honrio (0 papa), 349.
I
Idealizao (Teoria da), 227.
Igreja; conceito, 300; Jesus Cristo
pensou em fundar uma, 303 e
seg. ; caracteres essenciais da
fundada por Cristo, 308; notas
da verdadeira, 342; consti-
tuio, 385; hierarquia, 386;
a uma sociedade perfeita,
41 9; direitos da , 420 e seg.;
a e as diversas formas de
governo, 443; servios presta-
dos pela , 469 e seg.
Igreja grega, 369 e seg. Igreja (AIta,
Baixa, Larga), 363.
Igrejas separadas do Oriente, 374.
Imanncia (Mtodo da), 1 2, 1 3, 1 4,
Imunidades eclesisticas, 422 (n).
Index, 424; objeco, 425.
ndia (Religies da), 1 92 e seg.
Infalibilidade, 330; existncia, 331
e seg.; sujeito, 335. ; objecto, 390.
Ingerncia dos Papas em negcios
temporais, 463,
Inocncio III, 463.
Inquisio, 450 e seg.
Interdito, 430,
Interpolao, 209 (n).
Intuicionismo, 26,,27, 33,
Investiduras (A questo das), 463,
Islamismo, 201 e seg,
J
Jesus Cristo (Afirmao de) acerca
da sua messianidade, 231 e seg. ;
acerca da sua fi liao divina,
234 e seg.; Jesus confirmou a
sua afirmao com profecias,
255; com milagres, 262; com a
sua Ressurreio, 266 e seg.
Joo (Autenticidade do evangelho
de S.), 220; valor histrico, 228,
Josefismo (Erro do), 434.
Judasmo (actual), 204,
Judeo-cristianismo, 31 4 (n).
Lamarquismo, 91 ,
Legados, 403 (n).
Liberalismo (Erro do), 434.
Liberdade, 1 1 0 e seg.; as liberdades
modernas, 439.
Librio (0 caso do papa), 338,
Lourdes (0 facto de), 1 68.
Lucas (Autenticidade do Evange-
lho de S.), 21 9,
Luteranismo, 355 e seg.
Magia, 1 38.
Magistrio da Igreja, 392.
Maom, 201 .
Marcos (Evangelho de S.), 21 8,
Mrtir, 290 e seg.
Materialismo, 31 ; objeco do
contra a existncia de Deus,
39, 40.
Mateus (Evangelho de S.), 21 7.
Mazdesmo, 1 87 e seg.
Metodistas, 363 (n).
Mtodos da Apologtica, 1 0 e seg.
Milagre, 1 57 e seg.; milagres de
Jesus Cristo, 262 e seg,
Mistrios, 1 49.
Mitracismo, 1 91 .
Modernista (Apologtica), 1 7, 33.
Monofisitas, 339.
Montanismo, 31 2, 31 4.
Mundo (Origem do), 82.
No-juradores (Seita dos), 373 (n).
Naturista (Teoria), 1 42, 1 43.
Neo-bramanismo, 1 98 e seg.
Notas da verdadeira Igreja, 342 e
seg. ; aplicao das ao Protes-
tantismo, 365 e seg.; Igreja
grega, 375 e seg.; Igreja ro-
mana, 379 e seg.
Nncios, 403 (n).
Oficiais diocesanos, 41 2,
Ofcios ou secretarias romanas, 409.
Ontologismo, 33.
Ortodoxos (Protestantes), 364; Igreja
grega , 369.
Oxford (Movimento de), 363 (n).
NDIC E DAS MATRIAS
Pg.
INTRODUAO, Noes gerais,,5
I Parte: Prembulos da f.
SECAOI: DEUS
CAP. PRELIMINAR, -0 problema da certeza1 9
CAP, I. Existncia de Deus30
CAP, II. Natureza de Deus 74
CAP, III, Aco de Deus, Criao e Providncia , , , , 87
SECOII: OHOMEM
CAP, I. --Natureza do homem , ,, .109
CAP. II. Origem e fim do homem, Unidade da espcie humana.
Antiguidade do homem . . , , , , . , 127
SECOIII: RELAES ENTRE DEUS E OHOMEM
CAP. I. --- Religio e Revelao. . .1 48
CAP. IL Critriosda Revelao. 0 Milagre e a Profecia , ,1 73
II Parte: Indagao da verdadeira Religio.
SECOI: ASFALSASRELIGIES
CAP. NICO, As principaisreligiesno crists, , , , , .198
SECAQ II: A DIVINDADE DO CRISTIANISMO
CAP. I. Documentos da Revelao 220
CAP, II.Afirmao de Jesus,. .. 250
CAP, III. Realizao em Jesusdasprofeciasmessinicas.270
CAP, IV.Jesusconfirmou a sua afirmao com profecias, mila-
grese Ressurreio289
CAP, V, Doutrina de Jesus. Rpida difuso, Maravilhosa
conservao. 0 Martrio 318
III Parte: A verdadeira Igreja.
I.Instituio duma Igreja
II, Averdadeira Igreja, Notas. AIgreja romana a
nica que aspossui
SECOIIa CONSTITUIODAIGREJA
I. Hierarquia e poderesda Igreja,
II, Direitosda Igreja. Relaesentre a Igreja e o Estado
SECOIII: APOLOGIADAIGREJA
AIgreja e a Histria
II, AF perante a Razo e a Cincia
Você também pode gostar
- Pastores & Diáconos BíblicosDocumento141 páginasPastores & Diáconos BíblicosShalon OliveiraAinda não há avaliações
- Resumo o Pastor Pentecostal Thomas e TraskDocumento2 páginasResumo o Pastor Pentecostal Thomas e TraskOziel De Oliveira Araujo Araujo0% (1)
- Fichamento A Língua de EuláliaDocumento24 páginasFichamento A Língua de EuláliaJohannShawsperci75% (4)
- Projeto Integrador Relatório FinalDocumento23 páginasProjeto Integrador Relatório FinalMarcoAurelioSilvaCruzAinda não há avaliações
- Exame Do PresbitérioDocumento49 páginasExame Do PresbitérioCharles Wesley Santana100% (1)
- Segurança Da SalvaçãoDocumento29 páginasSegurança Da SalvaçãoGomes Pastor AfonsoAinda não há avaliações
- Fichamento - Perrot, Michelle - Os Excluídos Da HistóriaDocumento4 páginasFichamento - Perrot, Michelle - Os Excluídos Da HistóriaVitoria A FonsecaAinda não há avaliações
- Fichamento Alistair ThomsonDocumento6 páginasFichamento Alistair ThomsonVanessa SimõesAinda não há avaliações
- Massificação Versus Segmentação Dos PúblicosDocumento3 páginasMassificação Versus Segmentação Dos PúblicosEtiene MozartAinda não há avaliações
- SARLO, Beatriz. Tempo Passado (Resumo)Documento9 páginasSARLO, Beatriz. Tempo Passado (Resumo)Ni Ramalho83% (6)
- Alan Myatt - Apologética CristãDocumento36 páginasAlan Myatt - Apologética CristãFabio BarbiAinda não há avaliações
- Apostila de Apologética..Documento13 páginasApostila de Apologética..Adriano Izídio100% (1)
- 1º Lições Bíblicas CPAD 2012Documento11 páginas1º Lições Bíblicas CPAD 2012Wellington Francisco da SilvaAinda não há avaliações
- Apologetica Slides AbdiasDocumento68 páginasApologetica Slides AbdiasAbdias BarretoAinda não há avaliações
- A Declaração de Chicago Sobre A Inerrância Da BíbliaDocumento11 páginasA Declaração de Chicago Sobre A Inerrância Da BíbliaGlauber de AlmeidaAinda não há avaliações
- As Três Doutrinas Centrais Do CristianismoDocumento18 páginasAs Três Doutrinas Centrais Do CristianismoGuilhardes JúniorAinda não há avaliações
- A Ceia Do SenhorDocumento26 páginasA Ceia Do SenhorRobert PadilhaAinda não há avaliações
- Acautelai-Vos Da Apologética! - Teologia BrasileiraDocumento6 páginasAcautelai-Vos Da Apologética! - Teologia BrasileiraISRAEL VICTOR SILVAAinda não há avaliações
- Tom Small - Quem É JesusDocumento47 páginasTom Small - Quem É JesusGersé Jordão100% (1)
- O Muro É de ArmínioDocumento26 páginasO Muro É de ArmínioisaacAinda não há avaliações
- Para Salvar-TeDocumento536 páginasPara Salvar-Tevalenmiguel100% (1)
- O Que Significa Adotar A CFWDocumento12 páginasO Que Significa Adotar A CFWwilsonnascAinda não há avaliações
- Doutrina de Deus (Teísmo)Documento31 páginasDoutrina de Deus (Teísmo)Rivaldo xavier XavierAinda não há avaliações
- FILIPENSES 1.12-17 - O Progresso Do Evangelho Ontem, Hoje e SempreDocumento4 páginasFILIPENSES 1.12-17 - O Progresso Do Evangelho Ontem, Hoje e SemprehueltonmarquesAinda não há avaliações
- Historia Episcopal ReformadaDocumento56 páginasHistoria Episcopal ReformadaJosep RosselloAinda não há avaliações
- Introducao A Teologia Do Novo Testamento PDFDocumento69 páginasIntroducao A Teologia Do Novo Testamento PDFsmilitaosAinda não há avaliações
- A Autoridade Das EscriturasDocumento8 páginasA Autoridade Das EscriturasCarlos GuimaraesAinda não há avaliações
- Winston Wu - Refutando Argumentos de Cristãos Fundamentalistas e EvangelistasDocumento150 páginasWinston Wu - Refutando Argumentos de Cristãos Fundamentalistas e EvangelistasYves NogueiraAinda não há avaliações
- Escatologia Crista Segundo A Vi - Gilson JoseDocumento96 páginasEscatologia Crista Segundo A Vi - Gilson JoseinacioAinda não há avaliações
- Como Entender A Nova Era - Walter MartinDocumento79 páginasComo Entender A Nova Era - Walter MartinIrmãosRemanescentesAinda não há avaliações
- Teologia Dogmática Livro IDocumento21 páginasTeologia Dogmática Livro IGlaucio Feitosa DudaAinda não há avaliações
- Ewerton B Tokashiki Servos Dos Servos de CristoDocumento51 páginasEwerton B Tokashiki Servos Dos Servos de CristoRaul Loyola Roman100% (1)
- O Credo Dos Apóstolos Por Mohler, JR., R. AlbertDocumento168 páginasO Credo Dos Apóstolos Por Mohler, JR., R. AlbertMoisés Amélia Lourenço100% (1)
- Predestinacao - Samuel Falcao PDFDocumento101 páginasPredestinacao - Samuel Falcao PDFSérgio FiuzaAinda não há avaliações
- Bom Caminho - História Da IgrejaDocumento3 páginasBom Caminho - História Da IgrejaRogerinhoRCRAinda não há avaliações
- As Teorias Sobre o Arrebatamento Da IgrejaDocumento4 páginasAs Teorias Sobre o Arrebatamento Da Igrejapelavida2008Ainda não há avaliações
- Cinco Visões Sobre ApologéticaDocumento4 páginasCinco Visões Sobre ApologéticaJosenaldo Junior Carvalho100% (1)
- Manual Da Profecia Biblica Abraao de AlmDocumento229 páginasManual Da Profecia Biblica Abraao de AlmAmnet Henriques HenriquesAinda não há avaliações
- George MullerDocumento3 páginasGeorge MullerValmir da Silva do ValeAinda não há avaliações
- Catolicismo Romano - Parte IDocumento20 páginasCatolicismo Romano - Parte IgguerinoAinda não há avaliações
- Patrística Tertuliano - Da OraçãoDocumento14 páginasPatrística Tertuliano - Da OraçãoJonathan CoimbraAinda não há avaliações
- NossoDeus PrOsielGomesdaSilvaDocumento140 páginasNossoDeus PrOsielGomesdaSilvaDomingos MoreiraAinda não há avaliações
- Exercicio de Teologia FundamentalDocumento4 páginasExercicio de Teologia FundamentalSergio RicardoAinda não há avaliações
- Dez MandamentosDocumento189 páginasDez MandamentosDenis Damiana De Castro Oliveira100% (1)
- Escatologia - Calvim GardnerDocumento194 páginasEscatologia - Calvim GardnerleandroaquarioAinda não há avaliações
- Amilenismo Ise 1Documento15 páginasAmilenismo Ise 1Deon LidiaAinda não há avaliações
- Os Números Na Bíblia - Acaso Ou ProjetoDocumento5 páginasOs Números Na Bíblia - Acaso Ou ProjetoRobson Alves de LimaAinda não há avaliações
- Romanos 10.9-17 - Por Que A Escritura Por Que A PregaçãoDocumento5 páginasRomanos 10.9-17 - Por Que A Escritura Por Que A PregaçãoELI ROCHA SILVAAinda não há avaliações
- Escatologia PDFDocumento43 páginasEscatologia PDFrcalixto1976Ainda não há avaliações
- Redenção - O Símbolo Da Fé Vol. IDocumento10 páginasRedenção - O Símbolo Da Fé Vol. ICaio CardosoAinda não há avaliações
- Apostila de Catecúmenos - Cap 3Documento3 páginasApostila de Catecúmenos - Cap 3CésarLimaAinda não há avaliações
- João Calvino - PsychopannychiaDocumento47 páginasJoão Calvino - PsychopannychiaFellyp CranudoAinda não há avaliações
- A Pura Pregação Da Palavra de Deus - João CalvinoDocumento13 páginasA Pura Pregação Da Palavra de Deus - João CalvinoEmerson Eduardo RodriguesAinda não há avaliações
- 5 Minutos Com DeusDocumento1 página5 Minutos Com DeusDr. Willams0% (1)
- Doutrina Da Salvação Aulas 1 e 2Documento30 páginasDoutrina Da Salvação Aulas 1 e 2Idemberg Dos SantosAinda não há avaliações
- Jerusalém - Um Cálice de TontearDocumento489 páginasJerusalém - Um Cálice de TontearCarlosSalasAinda não há avaliações
- 50 Esbocos de Pregacao No Livro de Evangelho de MarcosDocumento173 páginas50 Esbocos de Pregacao No Livro de Evangelho de MarcosBispo Marcio Augusto AmaralAinda não há avaliações
- Os planos de Deus para a salvação do homem: uma visão cristológico-sistemática do Antigo TestamentoNo EverandOs planos de Deus para a salvação do homem: uma visão cristológico-sistemática do Antigo TestamentoAinda não há avaliações
- A Forma Federativa Do EstadoDocumento17 páginasA Forma Federativa Do EstadoCris SampaioAinda não há avaliações
- Prefacio Livro Ritmica e LevadasDocumento1 páginaPrefacio Livro Ritmica e LevadasTuri ColluraAinda não há avaliações
- Pesquisa OSMDocumento9 páginasPesquisa OSMcontabil096Ainda não há avaliações
- Variação LinguisticaDocumento10 páginasVariação LinguisticaZaira FelipeAinda não há avaliações
- Consciencia e A Jornada Do HeroiDocumento19 páginasConsciencia e A Jornada Do HeroiCarla Rani100% (1)
- Manual de Formação - FormandosDocumento25 páginasManual de Formação - FormandosAna Margarida Ferraz100% (1)
- Texto 2 - Funções Da LinguagemDocumento7 páginasTexto 2 - Funções Da LinguagemDomingos MachadoAinda não há avaliações
- A Audiodescricao Na Escola PDFDocumento13 páginasA Audiodescricao Na Escola PDFPaula Aparecida AlvesAinda não há avaliações
- Testes Unidade 4Documento7 páginasTestes Unidade 4jesuseoreiAinda não há avaliações
- Ortiz. Durkheim - Arquiteto e Herói Fundador PDFDocumento20 páginasOrtiz. Durkheim - Arquiteto e Herói Fundador PDFHelaysa K. G. PiresAinda não há avaliações
- Leia Este Poema de Carlos Queiroz TellesDocumento3 páginasLeia Este Poema de Carlos Queiroz TellesWilson CharlesAinda não há avaliações
- R134 - Mesa Radi Nica de RelacionamentosDocumento3 páginasR134 - Mesa Radi Nica de RelacionamentosÉdipo A RamoneAinda não há avaliações
- Tzvetan TodorovDocumento3 páginasTzvetan TodorovElaine AlvesAinda não há avaliações
- Eduardo Oliveira - Epistemologia Da AncestralidadeDocumento10 páginasEduardo Oliveira - Epistemologia Da AncestralidadewandersonnAinda não há avaliações
- Ativ 28398Documento4 páginasAtiv 28398Joaao SouzaAinda não há avaliações
- Alexandre Rodrigues O Acordo PDFDocumento116 páginasAlexandre Rodrigues O Acordo PDFRogério Do NascimentoAinda não há avaliações
- O Homem e Seus CorposDocumento20 páginasO Homem e Seus Corposana almeida100% (3)
- A Escrita Do Sagrado Na Poesia de António FeijóDocumento107 páginasA Escrita Do Sagrado Na Poesia de António FeijóPedro Fonseca E SilvaAinda não há avaliações
- Teoria Do Ataque MágicoDocumento103 páginasTeoria Do Ataque MágicoÁquila MapAinda não há avaliações
- 6 - A Face Existencial Da Gestalt-TerapiaDocumento10 páginas6 - A Face Existencial Da Gestalt-Terapiakarinny gonçalvesAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro "1964: A CONQUISTA DO ESTADO. Ação Política, Poder e Golpe de Classe"Documento4 páginasResenha Do Livro "1964: A CONQUISTA DO ESTADO. Ação Política, Poder e Golpe de Classe"Gustavo CamargoAinda não há avaliações
- Prova d04 Tipo 001Documento26 páginasProva d04 Tipo 001Francielle SantosAinda não há avaliações
- Como Definir Nossos SonhosDocumento3 páginasComo Definir Nossos SonhosJulio FlavioAinda não há avaliações
- As Pulsões e Seus DestinosDocumento4 páginasAs Pulsões e Seus DestinosViviane PapisAinda não há avaliações