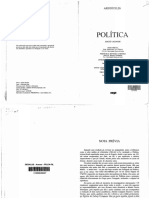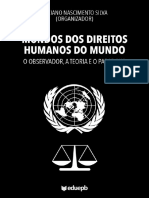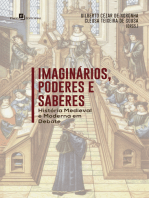Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Weber - e - A - Interpretacao Do Brasil PDF
Weber - e - A - Interpretacao Do Brasil PDF
Enviado por
Claudio André Cláudio AndréTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Weber - e - A - Interpretacao Do Brasil PDF
Weber - e - A - Interpretacao Do Brasil PDF
Enviado por
Claudio André Cláudio AndréDireitos autorais:
Formatos disponíveis
W E B E R E A I N T E R P R E T A O
D O B R A S I L
1
Luiz Werneck Vianna
RESUMO
O ensaio analisa a presena de Max Weber nas interpretaes sobre o processo de
modernizao brasileira, feitas pela perspectiva do "atraso". Tem-se um Weber descortinado
pelo ngulo de suas anlises sobre o Oriente, o qual no seria, assim, o analista das patologias
da modernidade, e sim o das formas patolgicas de acesso ao moderno. Tal presena de
Weber estudada a partir de duas vertentes analticas, dominadas respectivamente pelos
temas do patrimonialismo de Estado (Raymundo Faoro e Simon Schwartzman) e do
patrimonialismo de sociedade civil (Florestan Fernandes e Maria Sylvia de Carvalho Franco).
Palavras-chave: Max Weber; modernizao brasileira; atraso; patrimonialismo.
SUMMARY
This essay analyzes the use of Max Weber in different interpretations of Brazil's modernization
process, which underscore the country's "backwardness". The Weber adopted in these
studies is captured through the lens of his analyses of the East; in other words, rather than the
one who analyzed the pathology of modernity, we find his analysis of the pathological forms
of access to the modern. The author studies Weber's presence in two analytical tendencies,
dominated respectively by the themes of a patrimonial State (Raymundo Faoro and Simon
Schwartzman) or a patrimonial society (Florestan Fernandes and Maria Sylvia de Carvalho
Franco).
Keywords: Max Weber; modernization; backwardness; patrimonialism.
O nvel de maturidade de uma universidade, especialmente em uma
situao perifrica como a nossa, pode ser indicado pela sua capacidade de
apropriar-se do pensamento clssico e, de modo ainda mais seguro, quando a
interpelao aos fundadores de uma certa tradio disciplinar no se limita s
tradues, mas pretende, por esforo prprio, estabelecer o sentido da sua
obra. Entre ns assiste-se a um movimento desse tipo, valendo o registro de
que a universidade americana deve muito da sua significao, em particular
na rea das cincias humanas, dedicao com que se empenhou nessa
direo a partir dos anos 30. A tentativa de apropriao de um clssico um
processo em que, como inevitvel, ele como que nasce outra vez, vindo luz
a partir de perguntas e de inquietaes sobre a nossa realidade, importando,
no caso, a recepo que concedemos a ele no nosso contexto cultural.
MARO DE 1999 33
(1) Texto originalmente apre-
sentado ao Seminrio Interna-
cional Max Weber, organizado
pelo Departamento de Cin-
cias Sociais da Universidade
Nacional de Braslia, em no-
vembro de 1997.
WEBER E A INTERPRETAO DO BRASIL
Marx e Weber, dos pensadores clssicos das cincias sociais, no
somente esto entre os autores mais citados nas dissertaes de mestrado e
nas teses de doutorado da disciplina
2
, como tambm se constituem na
principal referncia da grande controvrsia que anima a literatura sobre a
interpretao do Brasil. Contudo, tem predominado at aqui um tipo de
recepo a eles que enfatiza aspectos parciais das suas teorias, selecionados
em funo das diferentes motivaes dos autores brasileiros que os
mobilizam para suas explicaes do pas. Assim, quanto a Marx, a apropria-
o que se faz do seu trabalho varia, como se sabe, em funo das opes
temticas de seus intrpretes: a valorizao do tema da vontade poltica
como recurso de superao da disjuntiva atraso/moderno, tendo motivado
principalmente nos crculos extra-universitrios uma leitura que
privilegiou os seus textos polticos, que contemplavam a possibilidade de
saltos revolucionrios, dando curso a um marxismo cujo paradigma a
Rssia, enquanto a preferncia pela anlise do processo de imposio do
capitalismo no Brasil, como na grande reflexo social paulista, conduziu a
uma maior aproximao com o modelo de O capital com base no paradigma
ingls.
O "nosso" Weber tem conhecido uma fortuna similar, uma vez que
tem sido convocado pela literatura, predominantemente, para explicar o
atraso da sociedade brasileira, com o que se tem limitado a irradiao da sua
influncia a uma sociologia da modernizao. Da que a mobilizao desse
autor pela perspectiva do atraso se faa associar ao diagnstico que
reivindica a ruptura como passo necessrio para a concluso dos processos
de mudana social que levam ao moderno no caso, com o patrimonia-
lismo ibrico, cuja forma de Estado confinaria com o despotismo oriental.
Tem-se, ento, que uma obra radicalmente inscrita na cultura poltica do
Ocidente, com seus valores universalistas, impasses e promessas de
realizao, seja descortinada pelo ngulo do Oriente e dos caminhos
possveis para a sua modernizao. Assim que o "nosso" Weber incide
bem menos na inquirio das patologias da modernidade do que nas formas
patolgicas de acesso ao moderno.
Weber, como Marx, tem sido, desde os anos 50, quando a cincia
social brasileira recuperou a linha ensastica dos pioneiros na interpretao
do Brasil, como a de Euclides da Cunha, Silvio Romero, Oliveira Vianna,
Caio Prado Jr., Gilberto Freyre e Srgio Buarque de Holanda, uma das
principais marcaes tericas da produo que se voltou para o objetivo de
explicar a singularidade da nossa formao social. Decerto que grande parte
da controvrsia, no campo das explicaes que concorrem entre si, est
vinculada s diferentes concepes intrnsecas aos sistemas de Marx e
Weber, sobretudo as que se manifestam no campo axiolgico, com as
bvias repercusses que da derivam para a anlise do comportamento do
ator social e dos condicionantes exercidos sobre ele pelas estruturas sociais.
A remisso, contudo, obra desses autores nem sempre contempla o que
h de efetivamente diverso entre eles, abdicando das nuanas e da
complexidade das suas construes tericas originais a fim de demarcar
34 NOVOS ESTUDOS N. 53
(2) Cf. Cunha Melo, Manoel
Palcios. As cincias sociais no
Brasil. Rio de Janeiro: tese de
doutorado, Iuperj, 1997.
LUIZ WERNECK VIANNA
oposies, freqentemente idiossincrticas. Assim, por exemplo, com as
relaes entre o Estado e a sociedade civil, em que a "nossa" leitura
dominante de Weber radicaliza a autonomizao da primeira dimenso
diante da segunda, enquanto atribui a Marx, em que pese a sua argumen-
tao em O 18 brumrio e em outros momentos densos da sua obra, uma
concepo na qual desaparecem inteiramente os temas da autonomia da
poltica quanto aos interesses e do Estado quanto sociedade civil, que vo
ser, para citar apenas um autor, o leitmotiv da sociologia poltica de um
pensador marxista do porte de Antnio Gramsci.
O Weber da verso hoje hegemnica nas cincias sociais e na opinio
pblica sobre a interpretao do Brasil tem sido aquele dos que apontam o
nosso atraso como resultante de um vcio de origem, em razo do tipo de
colonizao a que fomos sujeitos, a chamada herana do patrimonialismo
ibrico, cujas estruturas teriam sido ainda mais reforadas com o transplante,
no comeo do sculo XIX, do Estado portugus no solo americano. Desse
legado, continuamente reiterado ao longo do tempo, adviria a marca de uma
certa forma de Estado duramente autnomo em relao sociedade civil,
que, ao abafar o mundo dos interesses privados e inibir a livre-iniciativa,
teria comprometido a histria das instituies com concepes organicistas
da vida social e levado afirmao da racionalidade burocrtica em
detrimento da racional-legal. Ainda segundo essa verso, a ausncia do
feudalismo na experincia ibrica, inclusive no Brasil, aproximaria a forma
patrimonial do nosso Estado tradio poltica do Oriente, onde no se
observariam fronteiras ntidas a demarcar as atividades das esferas pblica
e privada. Raimundo Faoro, no seu clssico Os donos do poder, alm de
avizinhar o iberismo do despotismo oriental, retomando o argumento de
Tavares Bastos e Sarmiento, liberais ibero-americanos do sculo XIX, sugere
a necessidade, motivado pelo seu estudo de caso, de se proceder reviso
da tese de Weber que vincula a emergncia do esprito capitalista tica
calvinista em favor da que sustenta que "somente os pases revolvidos pelo
feudalismo" teriam chegado a adotar o sistema capitalista, integrando nele
a sociedade e o Estado
3
.
No seramos propriamente um caso ocidental, uma vez que, aqui, o
Estado, por anteceder aos grupos de interesses, mais do que autnomo em
face da sociedade civil, estaria empenhado na realizao de objetivos
prprios aos seus dirigentes, enquanto a administrao pblica, vista como
um bem em si mesmo, convertida em um patrimnio a ser explorado por
eles. Inscritos no Oriente poltico
4
, conheceramos um sistema poltico de
cooptao sobreposto ao de representao, uma sociedade estamental
igualmente sobreposta estrutura de classes, o primado do direito adminis-
trativo sobre o direito civil, a forma de domnio patrimonial-burocrtica e o
indivduo como um ser desprovido de iniciativa e sem direitos diante do
Estado.
Tal verso, hegemnica na controvrsia sobre a explicao do Brasil,
procura contrapor a dimenso da fsica dos interesses metafsica brasilei-
ra, historicamente centrada na idia de uma comunho entre o Estado e a
MARO DE 1999 35
(3) Faoro, Raimundo. Os donos
do poder. Porto Alegre/So Pau-
lo: Ed. Globo/Ed. da Universi-
dade de So Paulo, 1975, vol. 1,
p.22.
(4) Simon Schwartzman, ao
conceituar patrimonialismo, ca-
tegoria central do seu influente
Bases do autoritarismo brasi-
leiro (Rio de Janeiro: Campus,
1982, p. 43), no somente cita
o Marx do modo de produo
asitico, como tambm o cls-
sico de K. Wittfogel sobre as
sociedades hidrulicas do des-
potismo oriental.
WEBER E A INTERPRETAO DO BRASIL
nao, investido aquele da representao em geral da sociedade e do papel
de intrprete das suas expectativas de realizao, e sobretudo na noo
de que o interesse do particular, para ter sua legitimidade plenamente reco-
nhecida, deva se mostrar compatvel com o da comunidade nacional. O
capitalismo brasileiro, originrio dessa metafsica, seria, pois, politicamente
orientado, uma modalidade patolgica de acesso ao moderno, implicando
uma modernizao sem prvia ruptura com o passado patrimonial, o qual,
ademais, continuamente se reproduziria, na medida em que as elites
identificadas com ele deteriam o controle poltico do processo de mudana
social. O Estado neopatrimonial, ao restringir a livre manifestao dos
interesses e ao dificultar, com suas prticas de cooptao, a sua agregao
em termos sindicais e, principalmente, polticos, favoreceria a preservao
das desigualdades sociais crnicas ao pas.
Romper com esse Oriente poltico significaria, de um lado, uma
reforma poltica que abrisse o Estado diversidade dos interesses manifes-
tos na sociedade civil, impondo a prevalncia do sistema de representao,
e, de outro, a emancipao desses interesses de qualquer razo de tipo
tutelar. A identificao do carter quase asitico do Estado brasileiro como
obstculo liberdade e a padres igualitrios de convivncia social,
argumento que tem como ponto de partida a sua radical autonomia diante
da sociedade civil e o que seria a separao dramtica entre seus fins
polticos e a esfera dos interesses privados, leva, ento, sugesto de que
a reforma do Estado deve estar dirigida sua abertura a essa esfera,
realizando o seu papel democrtico na administrao e composio dos
diferentes e contraditrios interesses socialmente explicitados. Somente a
fsica dos interesses pode remover a velha tradio metafsica brasileira,
que estaria comprometida com a noo de uma sociedade hierrquica e
desigual.
A ruptura, pois, como em Tavares Bastos no sculo passado, deveria se
aplicar no plano da institucionalidade poltica, especialmente no que diz
respeito forma do Estado, uma vez que, ao se conceder plena liberdade aos
interesses, eles tendem a produzir uma dinmica benfazeja que traz consigo
maior igualdade social. O patrimonialismo marca do Estado, e no da
sociedade, e por isso mesmo, nessa verso interpretativa, ela no comparece
como dimenso analtica, em particular na sua questo agrria: o argumento
cinge-se ao institucional, a reforma na poltica contm em germe a possibili-
dade da boa sociedade. A leitura do tema do patrimonialismo em Weber, ao
voltar-se para o paradigma do Oriente clssico, onde no se conheceu o
direito propriedade individual, direito que, desde os gregos, nasce com o
Ocidente, ento prisioneira do ngulo das instituies polticas, crucialmen-
te do Estado, e da que provm sua nfase na reforma poltica e no na
reforma social. Desse eixo explicativo deriva uma das principais controvr-
sias da literatura, opondo, de um lado, os que advogam, desde Tavares Bastos
aos constituintes de 1891 e aos adeptos de hoje da reforma poltica como base
prvia para a modernizao do pas, que o pas legal deva mudar o pas real,
e, de outro, os que invertem o sentido dessa proposio.
36 NOVOS ESTUDOS N. 53
LUIZ WERNECK VIANNA
Na interpretao que privilegia o fenmeno do patrimonialismo pela
forma do Estado, contudo, o que haveria de oriental na poltica tenderia
a ser deslocado pela afirmao dos interesses o estado de So Paulo ,
com a expanso da agroexportao cafeeira, um primeiro esboo do
Ocidente sobre o qual deveria se assentar a arquitetura institucional da
democracia representativa, removendo-se a pesada carga de um Estado
parasitrio a fim de dar passagem aos interesses e sua livre agregao.
Nesse sentido, conta-se a saga de infortnios da democracia brasileira a
partir das derrotas polticas de So Paulo, que o teriam privado de
universalizar o seu paradigma ocidental. Nessa verso, portanto, a chama-
da Revoluo de 1930 teria retomado o velho fio ibrico de precedncia
do Estado sobre a sociedade civil, a era Vargas entendida como contnua
ao ciclo dominado pelo eixo Pombal-Pedro II, uma projeo do Imprio,
uma vez que expressaria as mesmas "vigas mestras da estrutura" ao
traduzir a realidade patrimonialista na ordem estatal centralizada
5
. Afora o
interregno de hegemonia de So Paulo (1889-1930) ou mesmo de influn-
cia deste estado (1934-1937), a fora da tradio e o peso das estruturas
do Estado induzem a uma determinao, a "todos superior, condutora e
no passivamente moldada", que leva o quadro administrativo a dominar
a cpula. E assim, "em 1945, o ditador j no temia mais a hegemonia
paulista, s possvel na base de ncleos econmicos no dependentes,
como fora a lavoura cafeeira", trazendo os seus interesses para a malha do
Estado, lugar patrimonial de extrao de riqueza e de distribuio de
prebendas, a esta altura vinculando, cartorialmente, o parque industrial
paulista sua administrao
6
.
A Revoluo de 1930 consistiria, pois, em um retorno s razes
patrimoniais, obedecendo ao movimento oculto das estruturas, e no em
uma inveno com que os dirigentes da ordem burguesa, diante da crise de
legitimidade da Primeira Repblica, teriam ampliado o alcance da universa-
lizao do Estado, impondo-lhe maior autonomia quanto esfera dos
interesses no caso, os dominantes em So Paulo , a fim de permitir a
incorporao ao sistema da ordem dos personagens emergentes da vida
urbana, como militares, empresrios, operrios e intelectuais. O feliz
interregno 1889-1930, quando os interesses encontraram representao na
poltica e conformaram o Estado, no contexto institucional da Carta
americana de 1891 e do sistema de dominao formalmente racional-legal
dela derivado, foi, como sabido, o momento republicano em que a esfera
pblica foi apropriada pela esfera privada e em que se solidarizou aquele
sistema de dominao com a ordem patrimonial pela via do sistema poltico
do coronelismo.
O interesse, como instncia isolada como j fora percebido nas
lies clssicas do radicalismo filosfico ingls, em Hegel, Tocqueville, para
no falar de Marx , conduzia ao particularismo na forma do Estado e, nas
condies retardatrias da sociedade brasileira, onde predominava o estatu-
to da dependncia pessoal, tendia a se combinar com as formas de mando
oligrquicas e a sociabilidade de tipo hierrquico que prevaleciam no pas.
MARO DE 1999 37
(5) Faoro, op. cit., vol. 2, p.
725.
(6) Ibidem.
WEBER E A INTERPRETAO DO BRASIL
O primado do interesse na Primeira Repblica, assim, no se confronta com
as formas de dominao tradicionais, antes as subordina, convertendo o
atraso, tal como na exemplar demonstrao de Victor Nunes Leal em seus
estudos sobre o coronelismo, em uma vantagem para o moderno que estaria
representado pela economia dominante em So Paulo, sob a direo de um
patriciado com origem na propriedade fundiria e orientado por valores de
mercado a Prssia paulista ser uma inveno da Primeira Repblica.
Pelo ngulo do Oriente, isto , considerando o patrimonialismo como
um fenmeno de Estado, essa verso weberiana sobre a interpretao do
Brasil, mais do que identificar o atraso como prprio instncia do poltico,
tender a ocultar as relaes patrimoniais que instituem o tecido da
sociabilidade, perdendo de vista, na linguagem da controvrsia do pensa-
mento social brasileiro, "o pas real", especialmente o mundo agrrio, as
relaes de dependncia pessoal que a se estabelecem e de como o seu
paradigma paulista, longe de representar uma linha de oposio entre
atraso e moderno, representao e cooptao, ordem racional-legal e
patrimonialismo, aponta na verdade para uma composio ambgua dessas
polaridades, imprimindo matriz do interesse a marca de um particularismo
privatista antpoda formao da cultura cvica.
Na outra ponta da recepo de Weber, transita-se da perspectiva das
instituies polticas para a da sociologia, com centralidade na questo
agrria e no patrimonialismo de base societal, e, principalmente, do Oriente
para o Ocidente, de cuja histria e processo de desenvolvimento o Brasil
seria um resultado e parte integrante, embora includo nele como um caso
retardatrio e ambguo, uma vez que combinaria em si a forma moderna do
Estado de arquitetura liberal com o instituto da escravido e com a
organizao social de tipo patrimonial. Weber, nessa chave, deixa de ser
mobilizado como uma referncia que se contraponha a Marx na questo da
autonomia do Estado e do poltico em geral, recolhendo-se dele a marcao
terica para a anlise da sociedade "senhorial escravocrata" e a sua
organizao estamental, enquanto em Marx se vo procurar os conceitos
que permitam explicar a inscrio do pas no sistema do capitalismo
mundial e a transio para uma "ordem social competitiva" fundada em uma
estrutura de classes moderna.
Da se v, por conseguinte, a heterogeneidade na recepo brasileira
de Weber, que estaria presente tanto na verso interpretativa dos que
identificam os elementos quase asiticos que teriam presidido a formao
do Estado nacional, em razo do transplante do patrimonialismo de Estado
portugus, como a raiz dos nossos males, como naquela de autores como
Florestan Fernandes, para quem o Estado constituiria "a nica entidade que
podia ser manipulvel desde o incio [...] com vistas sua progressiva
adaptao filosofia poltica do liberalismo"
7
, Maria Sylvia de Carvalho
Franco, segundo a qual a "organizao administrativa desse perodo [dcada
de 1830] fundava-se formalmente no princpio burocrtico de obedincia a
um poder pblico abstratamente definido, legitimado e expresso por
normas racionalmente criadas e legalmente estatudas"
8
, e Jos Murilo de
38 NOVOS ESTUDOS N. 53
(7) Fernandes, Florestan. A re-
voluo burguesa no Brasil. Rio
de Janeiro: Zahar, 1975, p. 35.
(8) Franco, Maria Sylvia de Car-
valho. Homens livres na ordem
escravocrata. So Paulo: IEB-
USP, 1969, p. 116.
LUIZ WERNECK VIANNA
Carvalho, o qual sustenta que a burocracia imperial no teria se constitudo
em um estamento
9
, provocando assim o deslocamento da inquirio sobre
a causa do nosso atraso para o terreno das relaes sociais e do impacto da
natureza patrimonial delas sobre um Estado, em sua concepo original, de
extrao moderna.
Nessa interpretao cujo eixo se encontra na caracterizao do
compromisso que se estabeleceu, a partir da Independncia, entre a ordem
racional-legal e a patrimonial, entre o liberalismo da forma do poltico e as
estruturas econmicas herdadas da Colnia, entre o atraso e o moderno,
compreendido o primeiro como racional ao capitalismo, entre a represen-
tao e a cooptao , o problema da ruptura no deveria estar referido ao
Estado, mas sim s relaes sociais de padro patrimonial, fazendo com que
"toda a conduta dos personagens [venha] entrelaada com a concesso de
mercs, expondo a vigncia do princpio de dominao pessoal, base pouco
propcia para a orientao racional da ao"
10
. Sob esse ngulo, a ruptura
pe-se no registro da longa durao, sendo o resultado de transformaes
moleculares nas relaes tradicionais, historicamente responsveis pela
conteno da afirmao da sociedade de classes entre ns, caracterizando
a revoluo burguesa no pas como dominada pelo andamento passivo e,
como tal, mais bem representada conceitualmente pelo tema da transio
no caso, o da transio da ordem senhorial escravocrata para a ordem social
competitiva.
O processo de diferenciao dos interesses entre Colnia e Metrpo-
le, de onde surgiram o esprito nativista e a adeso ao liberalismo dos
homens que realizaram a Independncia, teria importado uma forma
particular de internalizao da ideologia liberal, em que ela viria a
expressar mais os anseios "de emancipao dos estamentos senhoriais da
'tutela colonial'" do que os de "emancipao nacional"
11
. Concretizada
porm a Independncia, na anlise de Florestan Fernandes, esse movi-
mento se inverte, com a converso do liberalismo em uma fora dinami-
zadora da sociedade civil nascida da Independncia, "uma esfera na qual
se afirma e dentro da qual preenche sua funo tpica de transcender e
negar a ordem existente"
12
. Transcendncia e negao que, na passagem
da sociedade colonial sociedade nacional, iriam exigir processos hist-
ricos de longa durao, no curso dos quais se produziriam, pelo papel da
ideologia e das instituies liberais na "revoluo encapuzada" da Inde-
pendncia, contnuas transformaes moleculares em que se opera, na
expresso daquele autor, o sepultamento do passado
13
. A intensa florao
mercantil que se segue ruptura com o pacto colonial, a nacionalizao
do comrcio exportador, alterando as funes econmicas do senhor rural,
assim como a prpria diferenciao social da resultante, com a criao de
novas ocupaes qualificadas e o estmulo s profisses liberais, teriam
induzido, ento, que uma "parte da sociedade global" viesse a se destacar
"das estruturas tradicionais preexistentes", passando a constituir o seu
"setor livre", "nica esfera na qual a livre competio podia alcanar
alguma vigncia". Sob essa lgica, tem incio, apesar das condies
MARO DE 1999 39
(9) Carvalho, Jos Murilo. A
construo da ordem. Rio de
Janeiro: Campus. 1980, p. 129.
(10) Franco, op. cit., p. 27.
(11) Fernandes, op. cit.. p. 36.
(12) Ibidem, p. 39.
(13) Ibidem, p. 46.
WEBER E A INTERPRETAO DO BRASIL
"socioeconmicas adversas (por causa da persistncia da escravido e do
patrimonialismo), uma rea na qual o sistema competitivo pode coexistir e
chocar-se com o sistema estamental"
14
.
A transio, pois, da ordem senhorial-escravocrata para a ordem social
competitiva cumpre o andamento das revolues passivas, lida na chave
weberiana dos tipos de dominao e das modalidades expressivas de ao
que cada um deles comporta, implicando um processo progressivo de
realizao do moderno em que, por meio da diferenciao societal
basicamente, pela apario e afirmao de novos papis sociais de desem-
penho incompatvel com a ordem tradicional , o sistema de orientao
racional da ao tende a se generalizar, tornando-se por fim hegemnico.
No entanto, em razo da natureza passiva do caminho que o viabiliza como
dominante, o sistema de orientao racional da ao pode coexistir com a
ordem patrimonial, criando para a burguesia a possibilidade de extrair
vantagem tanto do moderno como do atraso: a burguesia "se compromete,
por igual, com tudo que lhe fosse vantajoso: e, para ela, era vantajoso tirar
proveito dos tempos desiguais e da heterogeneidade da sociedade brasilei-
ra, mobilizando as vantagens que decorriam tanto do atraso quanto do
adiantamento das populaes"
15
. Assim, se o Estado nacional nasce
"bastante moderno", apto "modernizao ulterior de suas funes econ-
micas, sociais e culturais", matriz efetiva da expanso do liberalismo no
pas
16
, desde a sua origem mantm a marca de uma convivncia com uma
ordem antittica sua, que, longe de ser impeditiva de sua afirmao, a
torna possvel, sobretudo por consistir na base econmica a partir da qual
ele vai poder operar a sua forma de inscrio no capitalismo mundial.
A trajetria de So Paulo, especialmente a partir do momento em que
a agroexportao do caf veio a se basear no trabalho livre, seria paradig-
mtica de como a afirmao da esfera dos interesses e o sistema de
orientao racional do homo conomicus no teriam sido suficientes para
a imposio da ordem social competitiva, importando, pois, em um novo
cenrio, a reiterao da ambigidade constitutiva formao brasileira: de
um lado, o "clculo exato" do homo conomicus da cultura capitalista do
caf e dos tipos sociais emergentes com a expanso dos negcios e da
industrializao; de outro, no plano da poltica, a preservao do estilo
senhorial, a extrao do consentimento e o exerccio da coero por
mtodos e formas patrimoniais. A ordem competitiva, se prevalece na
economia, no ir produzir os agentes sociais vocacionados para uma
racionalizao do seu mundo, distantes "de uma filosofia poltica [...] que
possa conduzir ao capitalismo como estilo de vida". Como instncia isolada,
o interesse e os agentes sociais que melhor o representam, mesmo na sua
forte manifestao paulista, ficam confinados ao horizonte da esfera
privada, "convertendo-se ao liberalismo das elites tradicionais, [incorporan-
do-se], de fato, aos crculos conservadores e [passando] a compartilhar
formas de liderana e de dominao polticas variavelmente conflitantes ou
inconsistentes com a consolidao da ordem social competitiva [..,]"
17
. O
interesse moderno, em sua forma j especificamente capitalista, ao abdicar
40 NOVOS ESTUDOS N. 53
(14) Ibidem, p. 48, grifos no
original.
(15) Ibidem, p. 204, grifos no
original.
(16) Ibidem, p. 38.
(17) Ibidem, p. 146, grifos no
original.
LUIZ WERNECK VIANNA
do programa de radicalizao do liberalismo, nasce, alm de comprometido
com as prticas de extrair vantagens do atraso como realizar, no mundo
agrrio, a produo de excedente a partir de relaes de dependncia
pessoal , associado a tcnicas de controle social que dissimulem a
existncia da estrutura de classes e impeam a sua livre explicitao.
O fracasso das elites econmicas de So Paulo, no momento da
transio para o trabalho livre e quando se firma o primado das relaes
especificamente capitalistas, em realizar "por cima" a universalizao da
agenda da ordem social competitiva, em nome do cumprimento do
programa liberal-radical de difundir o capitalismo como estilo de vida, teria
como conseqncia destin-la a uma construo "por baixo", cuja orienta-
o estivesse voltada a derruir o padro de heteronomia social prevalecente
na sociedade brasileira, suposto da organizao patrimonial. Tal construo,
por isso mesmo, deveria ter como ponto de partida a afirmao dos
interesses dos indivduos expostos ao estatuto da dependncia pessoal ou
de cidadania precria do ponto de vista poltico e social. O n grdio a ser
cortado, a fim de se encontrar passagem para a ordem social competitiva,
no estaria, ento, no Estado nem no interesse em geral, mas em um certo
tipo de interesse que, ao ser livremente manifestado, fosse dotado da
propriedade de conformar identidades autnomas, instncia nova sem a
qual no se poderia romper efetivamente com o legado da herana
patrimonial.
Nesse novo caminho para a inquirio do carter do patrimonialismo
brasileiro, do qual resulta a troca de foco do Estado para a sociedade, a
percepo da poltica e do Estado deveria ter o exclusivo agrrio como
ponto de partida, dado que somente a se poderia surpreender, no contexto
puro da dominao senhorial, a trama da sociabilidade que envolveria os
indivduos submetidos situao de dependncia pessoal, condio para se
desvendar o modo particular de articulao entre a dimenso do pblico e
a do privado e a do Estado com a sociedade, pondo-se a nu as conexes
internas, vigentes na modelagem da ordem burguesa no pas, entre o plano
do racional-legal e o do patrimonial. Com essa perspectiva sociolgica, que
procura combinar analiticamente os micro e os macrofundamentos respon-
sveis pela formao do Estado, joga-se uma nova luz sobre a dimenso do
interesse, que deixa de ser percebido como o lugar da inovao e de
resistncia ao patrimonialismo, e sim da conservao do status quo.
Maria Sylvia de Carvalho Franco, no seu clssico Homens livres na
ordem escravocrata, ao utilizar o argumento de Weber sobre a singularidade
da organizao burocrtica estatal no Ocidente moderno, demonstra empi-
ricamente como, aqui, nas condies de escassez de recursos que pudessem
suportar a ao do Estado, o processo de expropriao do servidor pblico
dos meios materiais da administrao teria sido apenas formal, na medida
em que, na realidade, boa parte desses meios era financiada com recursos
privados. Foi a pobreza da agncia estatal, e no a sua natureza pretensa-
mente quase oriental, que teria dado como resultado no desejado a fuso
entre o pblico e o privado, permitindo, assim, que o exerccio do poder
MARO DE 1999 41
WEBER E A INTERPRETAO DO BRASIL
originrio do cargo pblico pudesse ser traduzido na busca de fins
estritamente particulares
18
. Investigando as condies de funcionamento,
no sculo passado, das cmaras municipais do Vale do Paraba, a autora
exprime, de modo exemplar, a verso weberiana que inscreve o patrimoni-
alismo brasileiro como de carter societal e de raiz agrria:
... na base do desenvolvimento da burocracia na administrao
pblica, est um carter essencial: o processo de expropriao do
servidor pblico dos meios materiais da administrao, separando-se
com nitidez os recursos oficiais dos bens privados dos funcionrios.
[...] esse processo de expropriao, no Brasil do sculo XIX, foi sustado
pelo insupervel estado de penria a que estavam sujeitos os rgos
pblicos. Embora mantidos os gastos sempre dentro do imprescindvel
preservao dos bens e continuidade dos servios do Estado, mesmo
para esse mnimo, os recursos oficiais eram escassos, compensando-se
essa falta pelas incurses aos bolsos dos cidados e das autoridades. E
o resultado disto foi que, em lugar do funcionrio pblico tornar-se
cada vez mais um executivo que apenas gere os meios da administra-
o, manteve-se preservada a situao em que ele detinha sua proprie-
dade. Isto significa, evidentemente, que ele os podia controlar autono-
mamente, pois ele os possua. Seu era o dinheiro com que pagava as
obras; seu, o escravo cujos servios cedia; sua, a casa onde exercia as
funes pblicas
19
.
Distante, pois, da interpretao que caracteriza o Estado como uma
instncia radicalmente autnoma da sociedade, como na literatura que o
compreende como patrimonial e responsvel pelo atraso, a verso que
identifica o patrimonialismo brasileiro como fenmeno societal o percebe
em chave oposta: a imagem do Estado tutelar no passaria de uma simples
aparncia a dissimular a sua natureza efetiva de Estado instrumento.
Embora moderno, na medida em que sua burocracia administrativa estaria
referida aos princpios da ordem racional-legal, as suas aes seriam
"corrigidas" no plano da vida local os "pequenos reinos" dos senhores de
terras , sendo permanentemente "negado enquanto entidade autnoma e
dotado de competncia para agir segundo seus prprios fins", a vida privada
prolongando-se para dentro da vida pblica, "mantendo, tambm nesta, a
dominao pessoal"
20
.
O elemento retardatrio teria a sua origem na sociedade civil, a partir
da estruturao do modo de propriedade e das relaes de trabalho nela
prevalecentes, e no no Estado, impondo a este uma frmula bifronte,
combinando ambiguamente a dominao racional-legal com a tradicional,
e quela um amorfismo que lhe teria impedido de conhecer, quando da
passagem para o trabalho livre, uma estrutura de classes de tipo capitalista,
o poder pessoal interditando ao seu objeto o "homem pobre" a
42 NOVOS ESTUDOS N. 53
(18) Franco, op. cit., cap. III.
(19) Ibidem, p. 126, grifo no
original.
(20) Ibidem, pp. 135, 138 e
230.
LUIZ WERNECK VIANNA
percepo de si como detentor de direitos e interesses prprios e ao seu
sujeito os grupos dominantes a identificao dos seus objetivos
econmicos comuns a fim de agir com unidade
21
. Dessa forma, para que
a matriz do interesse viesse a produzir seres sociais dotados de autonomia
e de identidade social definida, importaria, de um lado, erradicar as formas
de patrimonialismo societal preservadas no processo de modernizao da
sociedade brasileira, e, de outro, pr fim na tradicional capacidade da
esfera privada de invadir a esfera pblica, convertendo-a em um instru-
mento seu.
O diagnstico formulado por essa interpretao se fazia singularizar,
entre outros motivos, pela compreenso de que atraso e moderno no se
achavam, em virtude da forma de desenvolvimento desigual do capitalismo
brasileiro, em contraposio agonstica, mas combinados, levando acomo-
dao princpios antitticos que se fundiriam de modo heterclito no
Estado, como acima se procurou explicar. Com esse argumento de fundo,
o processo de modernizao capitalista, com base em uma industrializao
politicamente induzida, tal como teve curso a partir de 1930, intensificando-
se nas duas dcadas seguintes, vai ser entendido como uma confirmao, j
em um contexto especificamente capitalista, do compsito em termos de
princpios e de sistema da ordem que teria presidido a nossa formao, uma
vez que ele se cumpriria sem liberar a manifestao da estrutura de classes
e sem deslocar as elites tradicionais do interior do Estado.
O nacional-desenvolvimentismo consistiria na nova prxis burguesa
por meio da qual se garantiria continuidade a essa velha soluo brasileira,
compatibilizando os ideais de modernizao econmica das novas elites
com a preservao do domnio das oligarquias tradicionais que ainda
reteriam grande parte da populao do campo sob o estatuto da dependn-
cia pessoal. Por definio, de sustentao pluriclassista, o regime nacional-
desenvolvimentista consistiria em uma inovao no sistema da ordem ao
admitir, pela via da estrutura corporativa sindical e da outorga da legislao
protetora do trabalho, a incorporao dos trabalhadores do mercado formal
urbano s instituies e ideologia de Estado, impondo a eles, em
contrapartida, uma situao de heteronomia, com o que se esperava reforar
a sua legitimidade e conferir ao seu projeto o simulacro de uma represen-
tao dos interesses da coletividade como um todo
22
.
sobre esse assentamento conceitual que a chamada teoria do
populismo, com uma influncia weberiana mais velada do que explcita
tambm inspirada, em seus incios, pela obra do importante socilogo talo-
argentino Gino Germani
23
, vai encontrar sua base para a explicao do
Brasil, na qual, ao contrrio do eixo analtico que a inspira, alm de se
perder a fina conexo entre atraso e moderno, presente em Fernandes e
Franco, a nfase no macroestrutural vai ceder lugar ao tema da subjetivida-
de, dimenso estratgica em que radicaria a vontade do ator moderno, sem
cuja vigorosa manifestao no se afastariam os constrangimentos estrutu-
rais que impediriam a construo de uma identidade autnoma de classe do
operariado brasileiro moderno
24
.
MARO DE 1999 43
(21) Ibidem, p. 231.
(22) Fernandes, Florestan. A
sociologia numa era de revolu-
o social. 2
a
ed. Rio de Janei-
ro: Zahar, 1976.
(23) Particularmente influente
foi a sua Sociologia de la mo-
dernizacin (Buenos Aires:
Paids, 1969).
(24) Sobre o ponto, ver, de
Francisco Weffort, Sindicatos e
poltica (So Paulo: tese de li-
vre-docncia, USP, s/d), obra
de ampla recepo entre os
cientistas sociais brasileiros nos
anos 70 e 80.
WEBER E A INTERPRETAO DO BRASIL
A teoria do populismo vai se tornar, a partir dos anos 60, particular-
mente depois do golpe militar de 1964, a linguagem comum dos que
entendiam que a misria brasileira se devia ao fato de a racionalidade
ocidental estar, aqui, submersa e condicionada ordem privada de estilo
patrimonial, que se faria preservar nas coalizes pluriclassistas entre elites
modernas e tradicionais e o sindicalismo jurisdicionado pela estrutura
corporativa. O sindicalismo, como lugar de identificao e de agregao
de interesses dos trabalhadores, seria a instncia privilegiada de onde se
poderia impor a ruptura com a forma heterclita de Estado, cuja funo
manifesta consistiria em resguardar, no curso do processo de moderniza-
o, a conservao da tradio e os modos de controle social de carter
extra-econmico sobre a fora de trabalho, isto , no especificamente
capitalistas.
O populismo resultaria da manipulao das massas trabalhadoras, em
sua maioria com origem no mundo rural, mediatizada pela ao carismtica
de um lder, as quais seriam incorporadas ao sistema da ordem pelo duplo
caminho de acesso aos direitos sociais e uso de cursos simblicos de
integrao, com o que se procuraria lev-las abdicao da autonomia
enquanto classe e perda de distino dos seus interesses em favor dos
interesses da coalizo de elites testa do Estado. O carisma, no caso, no
se comportaria como uma ao propiciatria ao encantamento do mundo e
como um fiat do novo, cumprindo o seu papel em um processo de
conservao com mudana controlada, pondo o interesse e no apenas
dos trabalhadores sob a tutela da racionalizao burocrtica do Estado.
O apelo ao carisma seria, ento, um recurso do atraso, e contra ele se
deveria insurgir o interesse do trabalhador, cuja racionalizao nos sindica-
tos reclamaria o mercado como direo principal e no o Estado, que
negaria a construo da sua autonomia , onde o moderno que lhe seria
intrinsecamente constitutivo encontraria campo livre para estabelecer as
razes, ao longo do tempo e a partir "de baixo", de uma nova forma de
Estado.
Como interpretao do Brasil e como ideologia orientada para a ao,
a teoria do populismo nasce sob o registro do interesse moderno dos
trabalhadores industriais e da necessidade da sua emancipao dos meca-
nismos de cooptao por parte do Estado. Nesse sentido, o seu paradigma
o mercado de So Paulo e a sua unidade estratgica de anlise o
sindicalismo daquele estado da Federao. Centrada nos problemas da
representao sindical e poltica dos trabalhadores industriais, essa teoria
relega ao abandono o veio analtico da sociologia agrria e do movimento
das personagens sociais originrias do campo, com o que induz a percepo
do atraso como uma regio social a ser colonizada por aqueles. No toa,
muitas das correntes de opinio da esquerda que, nos anos 70, acolheram
a explicao da teoria do populismo se voltaram, anacronicamente, para a
experincia dos conselhos operrios da poca da juventude de Gramsci em
Turim, na expectativa de mudar a sociedade e o Estado a partir das fbricas.
Nesse particular, a teoria do populismo, inesperadamente, vinha reforar o
44 NOVOS ESTUDOS N. 53
LUIZ WERNECK VIANNA
campo explicativo da verso weberiana de patrimonialismo de Estado, na
medida em que, como ela, se limitava a contrapor coalizo moderno-
atraso, tradicionalmente prevalecente no sistema da ordem, a explicitao
social do moderno, sem poltica e sem alianas com as classes retardatrias
dos setores subalternos: o "operrio" que emerge da teoria do populismo
no est vocacionado, por definio, a se aliar ao campons.
Essas verses weberianas na interpretao do Brasil, distantes entre si,
como se tem procurado demonstrar, guardam, no entanto, algumas afinida-
des, sobretudo o paradigma paulista e a valorizao da matriz do interesse
como estratgicos para a democratizao do pas. Mais substantivamente, o
diagnstico da modernizao operada em chave neopatrimonial, conforme
a primeira verso aqui sumariada, e o da realizada, na segunda verso, sob
o pacto nacional-populista, ambos indicando a necessidade de uma ruptura
histrica com a tradio, apresentam elementos comuns, principalmente na
indicao do papel negativo do Estado na formao da sociedade brasileira
contempornea. Entre tantas, a maior diferena que as distingue est na
compreenso do tema estratgico do interesse, emancipatrio em geral
para uma e em particular para a outra, e somente na medida em que est
associado questo da autonomia e da identidade de classe.
Essas verses fizeram fortuna embora nem sempre estivesse visvel,
em especial em fins da dcada de 80 e no comeo da de 90, o que as
singularizava irredutivelmente e consistiram no suporte ideal das foras
polticas que, aps a promulgao da Constituio de 1988, se fizeram
dominantes na opinio pblica e nos segmentos organizados da sociedade,
vindo mais tarde a assumir configurao partidria no PSDB e no PT, no
por acaso originrios do estado de So Paulo
25
, o primeiro deles, como
notrio, ocupando a Presidncia da Repblica, e o segundo o lugar de maior
partido de oposio do pas. Contudo, a emancipao dos interesses da
poltica dos do Estado no o tem feito virtuoso, assim como a desqualifica-
o da idia de Repblica em favor da de mercado no tem produzido
indivduos dotados de direitos e gozando de iguais oportunidades na vida.
O moderno interesse das elites econmicas de So Paulo, agora como antes,
na Primeira Repblica, somente se faz hegemnico no campo da poltica ao
se coligar com as oligarquias exemplar a aliana governamental entre o
PSDB e o PFL , as quais se utilizam do Estado e dos seus recursos a fim
de reciclar e atualizar o seu domnio e identidade de classe. De outra parte,
o moderno interesse dos trabalhadores industriais, apesar do vigor demons-
trado nas grandes movimentaes sociais dos anos 80 e da relativa fora
eleitoral do partido a que deu nascimento, ao dar as costas ao tema
republicano e se tornar prisioneiro do seu interesse particular, no se vem
revestindo de capacidade de universalizao.
Sob o imprio do interesse, uma dcada depois de promulgada a mais
democrtica Carta constitucional que o pas j conheceu, pode-se constatar,
contra os melhores votos formulados pelas interpretaes dominantes sobre
o Brasil, que a ordem racional-legal no se faz acompanhar necessariamente
de mais justia ademais, com o Executivo ultrapassando o Legislativo em
MARO DE 1999 45
(25) Cf. Barbosa Filho, Rubem.
"FHC: Os paulistas no poder".
In: FHC: Os paulistas no poder.
Niteri: Casa Jorge Editorial,
1995.
WEBER E A INTERPRETAO DO BRASIL
matria de legislao pelo uso das medidas provisrias, nem previsibilidade
ela pode garantir , assim como uma estrutura de classes sociologicamente
"limpa" no erige automaticamente sobre si uma representao poltica que
favorea as maiorias. O moderno, pois, no veio a encantar o mundo dos
brasileiros, pondo-os em um faroeste idlico propcio livre-iniciativa e
realizao de trajetrias individuais venturosas, mas a racionalizar a sua vida
a partir de valores de mercado, como, alis, seria de esperar de uma
previso weberiana.
As linhas principais dessas interpretaes do Brasil se tornaram
idias-fora e se encontraram com os atores que as conduziram concre-
tizao e, nisso, comprovaram o seu carter no arbitrrio , mas seu
xito intelectual e poltico est muito distante dos resultados prticos
previstos nos seus diagnsticos: a malaise, se muda o cenrio, a mesma
e se aprofunda nos nveis de excluso e fragmentao social. Mais do que
isso, o movimento novo que reanima a sociedade vem de um lugar
insuspeitado: do atraso e da ral de quatro sculos, onde o interesse
como se fosse virtual, uma expectativa e no um fato tangvel, fora do
mercado e do mundo dos direitos constitudos, dos trabalhadores sem
terra. Esse movimento , por natureza, republicano, na medida em que se
dirige necessariamente ao Estado e arena pblica a fim de converter
cidadania indivduos destitudos de direitos e at de interesses salvo o
natural de conservar a prpria vida, uma vez que sequer fazem parte da
fora de trabalho, constituindo-se em "sobra" consolidada da populao.
Alm disso, como o seu interesse no se reveste de materialidade, ao
contrrio do que ocorre com o campesinato clssico, para que ele venha
luz so indispensveis a organizao prvia e a concepo de uma
adequada rede social que viabilize sua resistncia nas invases de terra e
nos acampamentos. Dessa forma, ao menos para nascer, o seu interesse
requer a virtude, intrnseca sua manifestao a frmula tocquevilliana do
"interesse bem-compreendido".
Nessa hora em que se esgotam as perspectivas de boa sociedade
contidas nas promessas feitas pelas interpretaes hegemnicas sobre o
Brasil, em que cabia ao moderno, no "mercado" poltico e no mercado
propriamente dito, dar passagem liberdade e igualdade, a relao entre
atraso e Repblica pode apontar para um recomeo. Em primeiro lugar,
porque os seus temas de fundo so o da ampliao da cidadania e o da
defesa da sociabilidade contra o que seria a naturalidade dos mecanismos
de mercado em um mundo globalizado, e em segundo porque importa uma
reabertura da avaliao da nossa histria e, com ela, do que foi a nossa
Ibria, certamente uma repblica de poucos, embora tenha se mostrado
apta incorporao dos setores emergentes na sociedade brasileira, como
se verificava no imediato pr-64. Decerto que ela ficou para trs, como
tambm ficou a idia do Estado nacional como uma comunidade superposta
aos interesses dos indivduos que o compunham.
O interesse sem Repblica, no importa quem seja o seu portador,
vive a lgica do mercado, e a questo reside, ento, na possibilidade de ela
46 NOVOS ESTUDOS N. 53
LUIZ WERNECK VIANNA
ser construda a partir de uma nova sociabilidade que se credencie a resolver
a velha dissociao entre as esferas do pblico e do privado, para o que
ainda so referncias importantes as obras de Tocqueville e Gramsci, assim
como o esforo da teoria contempornea no sentido de fundamentar uma
democracia deliberativa, com todas as suas implicaes sobre uma reforma
tico-moral como a queria Gramsci, por exemplo que venha a
deslocar a questo da eticidade do plano do Estado para o da sociedade
civil. A Repblica um espao comunitrio, em que os interesses tambm
expressam valores e uma certa histria comum; o grande desafio para uma
nova interpretao do Brasil est em abrir o campo de indagaes e
possibilidades a fim de que a fsica moderna dos interesses "bem-compre-
endidos" vale dizer, do interesse dotado de capacidade de universaliza-
o na medida em que tambm venha a expressar valores pblicos se
encontre com a metafsica brasileira
26
, pondo-a sob a sua direo e
traduzindo para o plano da sociabilidade a tradio de valorizao do
pblico que a Ibria praticou no interior do seu Estado, cumprindo assim o
programa republicano de formar uma comunidade de cidados com iguais
direitos vida e realizao pessoal e que tenha a sua histria como um dos
sistemas de orientao que a projetem para a frente.
MARO DE 1999 47
(26) Sobre a metafsica brasi-
leira e suas relaes com o
mundo dos interesses, ver: Re-
zende de Carvalho, Maria Ali-
ce. O quinto sculo Andr
Rebouas e a construo do
Brasil. Rio de Janeiro: tese de
doutorado, Iuperi, 1997; Wer-
neck Vianna, Luiz. A revoluo
passiva: Iberismo e americanis-
mo no Brasil. Rio de Janeiro:
Revan,1997.
Recebido para publicao em
11 de janeiro de 1999.
Luiz Werneck Vianna profes-
sor do Iuperj e da UFRRJ.
Você também pode gostar
- Direito Economico 1Documento57 páginasDireito Economico 1Biche Mussa100% (9)
- Blumenberg 1957 AImitação Da NaturezaDocumento29 páginasBlumenberg 1957 AImitação Da NaturezaJuliana ShioharaAinda não há avaliações
- Aristóteles - Política - (Trad. António Campelo Amaral) - BilíngueDocumento332 páginasAristóteles - Política - (Trad. António Campelo Amaral) - BilíngueSergio de SouzaAinda não há avaliações
- NEDER, Gizlene. Coimbra e Os Juristas Brasileiros.Documento20 páginasNEDER, Gizlene. Coimbra e Os Juristas Brasileiros.JoicinhaaaAinda não há avaliações
- DFD0314 - Antropologia Jurídica - Orlando Villas BoasDocumento62 páginasDFD0314 - Antropologia Jurídica - Orlando Villas BoasmarcelaAinda não há avaliações
- Os intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasNo EverandOs intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasAinda não há avaliações
- O Texto Corpo Voz e Linguagem Hypocritia Gerardo Ramírez VidalDocumento210 páginasO Texto Corpo Voz e Linguagem Hypocritia Gerardo Ramírez VidalΧρήστος Ουρίμπε100% (1)
- Homo Academicus - 2Documento75 páginasHomo Academicus - 2Leticia J. AbeliniAinda não há avaliações
- Max Horkheimer - Teoria Tradicional e Teoria CríticaDocumento38 páginasMax Horkheimer - Teoria Tradicional e Teoria CríticaPhilipe JSAinda não há avaliações
- A Cidade Como Direito - Arlete Moyses RodriguesDocumento12 páginasA Cidade Como Direito - Arlete Moyses RodriguesPaola SantanaAinda não há avaliações
- Luiz Werneck Vianna - Observador PolíticoDocumento441 páginasLuiz Werneck Vianna - Observador PolíticoAndré MagnelliAinda não há avaliações
- ChaguriMarianaMiggiolaro DDocumento394 páginasChaguriMarianaMiggiolaro DEmilly FidelixAinda não há avaliações
- VITULLO - As Outras Teorias Da DemocraciaDocumento144 páginasVITULLO - As Outras Teorias Da DemocraciaGabriel Eduardo VitulloAinda não há avaliações
- Sa Alexandre Franco de Do Decisionismo A Teologia Politica PDFDocumento38 páginasSa Alexandre Franco de Do Decisionismo A Teologia Politica PDFCamargo De Carvalho Oliveira100% (1)
- 1887 - 3254590-Hayden White e A Crise Do HistoricismoDocumento29 páginas1887 - 3254590-Hayden White e A Crise Do HistoricismoGuilherme BombaAinda não há avaliações
- Rihgb2011numero0452 PDFDocumento624 páginasRihgb2011numero0452 PDFGabriel Lima Marques0% (1)
- SÁ, Alexandre. O Problema Da Tolerância Na Filosofia Politica de John Rawls PDFDocumento21 páginasSÁ, Alexandre. O Problema Da Tolerância Na Filosofia Politica de John Rawls PDFHelena PinelaAinda não há avaliações
- O Direito A OlharDocumento24 páginasO Direito A OlharCarlos CostaAinda não há avaliações
- Marilia Andres RibeiroDocumento12 páginasMarilia Andres RibeiroIspaide IdilécioAinda não há avaliações
- Assessoria Jurídica Popular - Christianny Diógenes MaiaDocumento142 páginasAssessoria Jurídica Popular - Christianny Diógenes MaiaLuiz Otávio Ribas100% (1)
- 1 - André-Jean Arnaud (Ed.) - Dicionário Enciclopédico de Teoria e de Sociologia Do Direito - Positivismo JurídicoDocumento7 páginas1 - André-Jean Arnaud (Ed.) - Dicionário Enciclopédico de Teoria e de Sociologia Do Direito - Positivismo JurídicoRaquel P dos Reis0% (1)
- Sobre A Feitura Da Micro-História - José D'assunção BarrosDocumento20 páginasSobre A Feitura Da Micro-História - José D'assunção BarrosHelio Cordeiro100% (1)
- BOITEUX, Elza. O Princípio Da Solidariedade e Os Direitos Humanos de Natureza AmbientalDocumento25 páginasBOITEUX, Elza. O Princípio Da Solidariedade e Os Direitos Humanos de Natureza AmbientalHeloisaAinda não há avaliações
- BONELLI, Maria Da Gloria - O Mercado de Trabalho Dos Cientistas Sociais PDFDocumento15 páginasBONELLI, Maria Da Gloria - O Mercado de Trabalho Dos Cientistas Sociais PDFThiago De Menezes MachadoAinda não há avaliações
- Ril029 PDFDocumento337 páginasRil029 PDFCaelenAinda não há avaliações
- Lenio Luiz Streck - A Revolução Copernicana Do Neoconstitucionalismo e A (Baixa) Compreensão Do Fenômeno No Brasil - Uma AbDocumento34 páginasLenio Luiz Streck - A Revolução Copernicana Do Neoconstitucionalismo e A (Baixa) Compreensão Do Fenômeno No Brasil - Uma AbMateus Barbosa Gomes AbreuAinda não há avaliações
- Resumo - BersteinDocumento3 páginasResumo - BersteinJuliana CarolinaAinda não há avaliações
- 2020 - Cap. - Mundos Dos Direitos Humanos No Mundo - e BookDocumento236 páginas2020 - Cap. - Mundos Dos Direitos Humanos No Mundo - e BookTaigoMLAinda não há avaliações
- A Virada Linguística e o Novos Rumos Da FilosofiaDocumento18 páginasA Virada Linguística e o Novos Rumos Da FilosofiaKárida MateusAinda não há avaliações
- Capítulo 1 História Da Cultura Escrita AutênticaDocumento19 páginasCapítulo 1 História Da Cultura Escrita AutênticaRamona Halley RosárioAinda não há avaliações
- Braudel, Fernand - A Longa Duração in História e Ciências SociaisDocumento18 páginasBraudel, Fernand - A Longa Duração in História e Ciências SociaisFernando Avelar0% (1)
- O Emílio Como Categoria Operatória Do Pensamento RousseaunianoDocumento15 páginasO Emílio Como Categoria Operatória Do Pensamento RousseaunianoHirlaAndersonAinda não há avaliações
- MARX, Karl - Fundamentos Da História IN Marx - Sociologia (Org. Ocatvio Ianni) São Paulo - Ática 1979 Pp. 45-61Documento10 páginasMARX, Karl - Fundamentos Da História IN Marx - Sociologia (Org. Ocatvio Ianni) São Paulo - Ática 1979 Pp. 45-61Valéria Ferraz0% (1)
- DE GIORGI. O Risco Na Sociedade ContemporaneaDocumento10 páginasDE GIORGI. O Risco Na Sociedade ContemporaneaRPMAinda não há avaliações
- AMH 2005 o Direito Luso Brasileiro No Antigo RegimeDocumento488 páginasAMH 2005 o Direito Luso Brasileiro No Antigo RegimeRenata100% (1)
- O Conceito de Jaula de Aço WeberDocumento14 páginasO Conceito de Jaula de Aço WeberThalisson MaiaAinda não há avaliações
- Marcel Mauss - Uma Categoria Do Espírito Humano A Noção de Pessoa A de EuDocumento15 páginasMarcel Mauss - Uma Categoria Do Espírito Humano A Noção de Pessoa A de EuDelton MendesAinda não há avaliações
- A Importancia Da Sofistica Pro Ensino Da FilosofiaDocumento136 páginasA Importancia Da Sofistica Pro Ensino Da Filosofianicacio18Ainda não há avaliações
- ROULAND, N. Roma, Democracia ImpossívelDocumento24 páginasROULAND, N. Roma, Democracia ImpossívelBong Dorameiro CalvinAinda não há avaliações
- Lucien Febvre - Frente Ao Vento: Manifesto Dos Novos AnnalesDocumento2 páginasLucien Febvre - Frente Ao Vento: Manifesto Dos Novos AnnalesRafael Gimenez MendonçaAinda não há avaliações
- Campo Do Poder Segundo Pierre BourdieuDocumento6 páginasCampo Do Poder Segundo Pierre BourdieuLiliane MartinsAinda não há avaliações
- MARUYAMA, Natalia - A Contradição Entre o Homem e o Cidadão - Consciência e Política Segundo J. J. RousseauDocumento169 páginasMARUYAMA, Natalia - A Contradição Entre o Homem e o Cidadão - Consciência e Política Segundo J. J. RousseaupespcAinda não há avaliações
- Daniel Veloso Hirata - Produção Da Desordem e Gestão Da Ordem - Notas para Uma História Recente Do Transporte Clandestino em SPDocumento25 páginasDaniel Veloso Hirata - Produção Da Desordem e Gestão Da Ordem - Notas para Uma História Recente Do Transporte Clandestino em SPalexyztorresAinda não há avaliações
- A Festa e A Cidade - Experiencia Coletiva, Poder e Excedente No Espaco UrbanoDocumento128 páginasA Festa e A Cidade - Experiencia Coletiva, Poder e Excedente No Espaco UrbanoHaroldo Matos100% (1)
- Melo FreireDocumento7 páginasMelo FreireIsabele Mello100% (1)
- Contingencia e Legitimação Raffaele Di GiorgiDocumento18 páginasContingencia e Legitimação Raffaele Di GiorgiJoão Leite Mendonça TavaresAinda não há avaliações
- FICHAMENTO Texto Khun, T. - A Prioridade Dos Paradigmas.Documento3 páginasFICHAMENTO Texto Khun, T. - A Prioridade Dos Paradigmas.Thiago Felício100% (1)
- Miguel Lanzellotti Baldéz - Sobre o Papel Do Direito Na Sociedade Capitalista: Direito InsurgenteDocumento12 páginasMiguel Lanzellotti Baldéz - Sobre o Papel Do Direito Na Sociedade Capitalista: Direito InsurgenteLuiz Otávio RibasAinda não há avaliações
- Jesuitas e Contrarreforma PDFDocumento10 páginasJesuitas e Contrarreforma PDFDiogo SilvaAinda não há avaliações
- Lucia Santaella, Pos Humano Por QueDocumento12 páginasLucia Santaella, Pos Humano Por QueIves RosenfeldAinda não há avaliações
- Payer - Processos, Modos e Mecanismos Da Identificação Entre o Sujeito e A(s) Língua(s)Documento14 páginasPayer - Processos, Modos e Mecanismos Da Identificação Entre o Sujeito e A(s) Língua(s)Matheus RibeiroAinda não há avaliações
- Lourenco Da Conceicao CardosoDocumento116 páginasLourenco Da Conceicao CardosoÉlida LimaAinda não há avaliações
- Manifesto Dos MineirosDocumento6 páginasManifesto Dos MineirosAna Paula Moreira RodriguezAinda não há avaliações
- 8226 29827 1 PBDocumento150 páginas8226 29827 1 PBSales JuniorAinda não há avaliações
- Compendio para Mocidade 1827Documento351 páginasCompendio para Mocidade 1827Anonymous b2Ioivy1bYAinda não há avaliações
- Clam, Jean - Questões Fundamentais de Uma Teoria Da Sociedade. Contingência, Paradoxo, Só-EfetuaçãoDocumento322 páginasClam, Jean - Questões Fundamentais de Uma Teoria Da Sociedade. Contingência, Paradoxo, Só-EfetuaçãoRafaelBluskyAinda não há avaliações
- O Nativo e o NarrativoDocumento12 páginasO Nativo e o NarrativosermolinaAinda não há avaliações
- Direito e Estetica para Uma Critica Da Alienacao Social No Capitalismo PDFDocumento184 páginasDireito e Estetica para Uma Critica Da Alienacao Social No Capitalismo PDFEduardo CardosoAinda não há avaliações
- BOURDIEU Pierre Gostos de Classe e Estilos de Vida PDFDocumento20 páginasBOURDIEU Pierre Gostos de Classe e Estilos de Vida PDFPaulo DiasAinda não há avaliações
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusNo EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAinda não há avaliações
- Imaginários, Poderes e Saberes: História Medieval e Moderna em DebateNo EverandImaginários, Poderes e Saberes: História Medieval e Moderna em DebateNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Resumo Problemas Sociais ContemporâneosDocumento18 páginasResumo Problemas Sociais ContemporâneosPaulo David Gomes100% (1)
- Autonomia PrivadaDocumento15 páginasAutonomia PrivadabrunohooliganAinda não há avaliações
- Concurso ALMG Resultado Preliminar Da Segunda EtapaDocumento46 páginasConcurso ALMG Resultado Preliminar Da Segunda EtapaellenAinda não há avaliações
- Trab. de Grupo - Resumo Do Livro de Ana Nunes de Almeida e Maria Manuel Vieira - A Escola em PortugalDocumento15 páginasTrab. de Grupo - Resumo Do Livro de Ana Nunes de Almeida e Maria Manuel Vieira - A Escola em PortugalPedro CorreiaAinda não há avaliações
- Ecclesia Centenario RepublicaDocumento92 páginasEcclesia Centenario RepublicapapintoAinda não há avaliações
- Planejamento de História - 7 8 9 - WandersonDocumento18 páginasPlanejamento de História - 7 8 9 - WandersonWanderson OliveAinda não há avaliações
- As Tendências Pedagógicas No BrasilDocumento8 páginasAs Tendências Pedagógicas No BrasilJacqueline ParreiraAinda não há avaliações
- NARDI HC Ética, Subjetividade e TrabalhoDocumento226 páginasNARDI HC Ética, Subjetividade e TrabalhoMary KellyAinda não há avaliações
- A Religião e o Pensamento de Rui BarbosaDocumento7 páginasA Religião e o Pensamento de Rui Barbosacello_medeirosAinda não há avaliações
- Resumo A Rebelião Das MassasDocumento14 páginasResumo A Rebelião Das MassasJoão Carlos PinheiroAinda não há avaliações
- Giuseppe Tosi - Direitoss HumanosDocumento394 páginasGiuseppe Tosi - Direitoss Humanostomdamatta28Ainda não há avaliações
- Resenha - HALL, Stuart. A Questão MulticulturalDocumento9 páginasResenha - HALL, Stuart. A Questão MulticulturalKarine Conceicao de OliveiraAinda não há avaliações
- SociologiaDocumento228 páginasSociologiaTiagoAinda não há avaliações
- Capitalismo e Sociabilidade Moderna No Brasil - João Manoel Cardoso de Mello e Fernando NovaesDocumento44 páginasCapitalismo e Sociabilidade Moderna No Brasil - João Manoel Cardoso de Mello e Fernando Novaesedursj6126100% (1)
- Revisão Semana - DutraDocumento9 páginasRevisão Semana - Dutramarina rodriguesAinda não há avaliações
- História Do Pensamento ContemporâneoDocumento138 páginasHistória Do Pensamento ContemporâneoRogério Silva100% (1)
- A Ideologia CalifornianaDocumento14 páginasA Ideologia CalifornianaalneAinda não há avaliações
- Fichamento Dois Conceitos de Liberdade - BerlinDocumento8 páginasFichamento Dois Conceitos de Liberdade - BerlinJuscis MoraisAinda não há avaliações
- Fichamento Filosofia (Cap 18)Documento3 páginasFichamento Filosofia (Cap 18)Lucas PierreAinda não há avaliações
- BourdinDocumento28 páginasBourdinAlexandre RodriguesAinda não há avaliações
- Teste Historia 6 Ano Portugal Na Segunda Metade Do Seculo XIXDocumento4 páginasTeste Historia 6 Ano Portugal Na Segunda Metade Do Seculo XIXFilipa PintoAinda não há avaliações
- O Mundo Pós-Ocidental Introdução Apenas StuenkelDocumento23 páginasO Mundo Pós-Ocidental Introdução Apenas StuenkelAdri Berttali100% (1)
- Resumo 2º TesteDocumento21 páginasResumo 2º TesteSabrina CruzAinda não há avaliações
- Posição Ideológica Dos Alunos Da USPDocumento12 páginasPosição Ideológica Dos Alunos Da USPEd O EdgarAinda não há avaliações
- 1 SMDocumento17 páginas1 SMPedro VillasAinda não há avaliações
- Modernidade e Produção de Subjetividades - Breve Percurso HistóricoDocumento15 páginasModernidade e Produção de Subjetividades - Breve Percurso HistóricoBianca Chagas RibeiroAinda não há avaliações
- Prova PM-SPDocumento24 páginasProva PM-SPGabriel Martins de AlvarengaAinda não há avaliações
- Questionarios Seminarios Do Livro de Justiça, Michael SandelDocumento10 páginasQuestionarios Seminarios Do Livro de Justiça, Michael SandelLarissa PessoaAinda não há avaliações
- 3,0 PontosDocumento2 páginas3,0 PontosOtávio GONÇALVESAinda não há avaliações