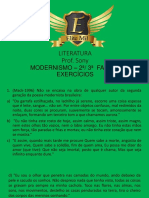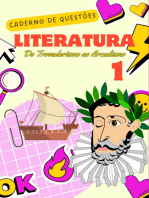Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tendências Contemporâneas
Tendências Contemporâneas
Enviado por
stefaniebuarqueDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tendências Contemporâneas
Tendências Contemporâneas
Enviado por
stefaniebuarqueDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.
br
Exerccios de Literatura
Tendncias Contemporneas
1) (FGV-2005)
Marcel Duchamp, Roda de Bicicleta (1917), ready-made
a) Roda de Bicicleta (1917) faz parte da srie de ready-
mades construdos por Marcel Duchamp e introduz, na
histria da arte, uma nova maneira de produo artstica.
Indique, a partir da reproduo da obra acima, quais so os
elementos inovadores utilizados por Duchamp e explique
por que essa obra considera uma obra de arte.
Andy Warhol, Marilyn Monroe Dourada (1962),
serigrafia e leo sobre tela
b) Marilyn Monroe Dourada, realizado por Andy Warhol,
em 1962, a partir de um retrato da atriz de cinema de
Hollywood publicado nos meios de comunicao, se
aproxima do trabalho de Duchamp. Discorra sobre a
semelhana no mtodo de criao dos dois artistas.
2) (ITA-2002) Leia os seguintes textos, observando que eles
descrevem o ambiente natural de acordo com a poca a
que correspondem, fazendo predominar os aspectos
buclico, cotidiano e irnico, respectivamente:
Texto 1
Marlia de Dirceu
Enquanto pasta, alegre, o manso gado,
minha bela Marlia, nos sentemos
sombra deste cedro levantado.
Um pouco meditemos
Na regular beleza,
Que em tudo quanto vive nos descobre
A sbia Natureza.
Atende como aquela vaca preta
O novilhinho seu dos mais separa,
E o lambe, enquanto chupa a lisa teta.
Atende mais, cara,
Como a ruiva cadela
Suporta que lhe morda o filho o corpo,
E salte em cima dela.
(GONZAGA, Toms Antnio. Marlia de Dirceu. In: Proena
Filho, Domcio. Org. A poesia dos inconfidentes. Rio de
Janeiro, Nova Aguilar, 1996, p. 605.)
Texto 2
Buclica nostlgica
Ao entardecer no mato, a casa entre
bananeiras, ps de manjerico e cravo santo,
aparece dourada. Dentro dela, agachados,
na porta da rua, sentados no fogo, ou a mesmo,
rpidos como se fossem ao xodo, comem
feijo com arroz, taioba, ora-pro-nobis,
muitas vezes abbora.
Depois, caf na canequinha e pito.
O que um homem precisa pra falar,
entre enxada e sono: Louvado seja Deus!
(PRADO, Adlia. Poesia Reunida. 2- ed. So Paulo:
Siciliano, 1992, p. 42.)
Texto 3
Cidadezinha qualquer
Casas entre bananeiras
Mulheres entre laranjeiras
Pomar amor cantar
Um homem vai devagar.
Um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar.
Devagar... as janelas olham.
Eta vida besta, meu Deus.
(ANDRADE, Carlos Drummond. Obra Completa. Rio de
Janeiro: Jos Aguilar Editora, 1967, p. 67.)
Assinale a alternativa referente aos respectivos momentos
literrios a que correspondem os trs textos:
a) Romntico, contemporneo, modernista.
2 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
b) Barroco, romntico, modernista.
c) Romntico, modernista, contemporneo.
d) rcade, contemporneo, modernista.
e) rcade, romntico, contemporneo.
3) (ITA-2002) Observe o estilo do texto abaixo:
Foi at a cozinha.Tomou um gole de ch com uma bolacha
gua-e-sal. Ainda pensou em abandonar o plano. Mas,
como se salvaria? Lavou as mos e o rosto. Saiu de casa.
Trancou o minsculo quarto-e-cozinha. Aluguel atrasado.
Despensa vazia. Contava os trocados para pegar o nibus.
(AUGUSTO, Rogrio. Flores. Cult. Revista Brasileira de
Literatura, n- . 48, p. 34.)
a) Do ponto de vista redacional, que traos permitem
considerar esse texto como contemporneo?
b) De que forma se revela o clima existente nesse breve
texto descritivo-narrativo?
4) (PUC - MG-2007) ... o que me interessa um pouco
exercitar o absurdo, afirma Jos Eduardo Agualusa sobre
sua produo literria.
Em O vendedor de passados, esse exerccio do absurdo
s NO propicia:
a) uma denncia quanto histria e ao cenrio poltico de
Angola.
b) uma crtica s concepes religiosas que negam a
possibilidade de reencarnao.
c) uma discusso acerca dos limites entre o real e o
imaginrio.
d) uma problematizao da narrativa histrica enquanto
detentora da verdade dos fatos.
5) (PUC - MG-2007) Sobre o romance O vestido, de Carlos
Herculano Lopes, INCORRETO afirmar que:
a) desenvolve-se como uma prosa narrativa com certa
modulao potica, decorrente tanto do ritmo da narrao
quanto da incorporao de versos do poema no qual se
baseia.
b) defende, por meio do enredo, a idia de que amar
envolve sacrifcios que no valem a pena.
c) situa as aes num momento e num ambiente ainda
fortemente marcados pelo patriarcalismo, mas j abalados
por algumas iniciativas de liberao feminina.
d) retoma o mito grego de Penlope na figura de ngela
que, como a personagem mtica, espera pacientemente o
retorno de Ulisses.
6) (PUC - MG-2007) Segundo afirma Ruth Silviano Brando
em sua anlise do romance de Carlos Herculano Lopes, o
vestido circula entre as personagens, como um anel que
passa por vrias mos, e tem um valor de signo que
semioticamente fala das protagonistas.
No romance, o vestido s NO signo:
a) da seduo que a mulher exerce sobre o homem.
b) da prpria trajetria de Ulisses, que, no enredo, sempre
est onde o vestido est.
c) do poder destruidor que a amante exerce sobre a
famlia.
d) de um segredo que desvendado pela me a suas
filhas.
7) (PUC - MG-2007) Leia o fragmento de O vestido:
... ele se dirigiu para o cabaret, onde Brbara (...)
rodopiava no salo com um desconhecido, ao som de um
bolero, vindo de uma radiola de pilha. E quando o vosso
pai (1) foi chegando, todos os que estavam ali, os homens,
principalmente (...), todos fizeram silncio. Os copos
voltaram para as mesas, ningum ousou dizer palavra,
nem mesmo para cumpriment-lo (2), e a msica, no
mesmo instante, parou de tocar. No ar, minhas filhas foi
o que todos pressentiram , exalou um cheiro de sangue,
que da a pouco poderia estar fora das veias. Algum
julgou ver, e chegou a comentar baixo com um colega ao
lado, que o vosso pai estava com uma arma na mo (3). O
desconhecido que danava com Brbara, como que
adivinhando a situao, na mesma hora se separou dela,
porm no saiu de onde estava e continuou com as mos
na cintura, em uma atitude de desafio. Eu, querido, ento
ela falou, apontando para o vosso pai e este, na hora,
notou que ela estava bbada , s queria me divertir um
pouco, j que voc me deixou sozinha, sem ao menos
dizer se iria voltar ou no (4).
Sobre a composio de vozes no fragmento acima,
INCORRETO afirmar que:
a) em (1), assinala-se a presena das filhas como
interlocutoras do discurso da me.
b) em (2), a voz da narradora, interrompendo o fluxo da
narrao, em sintonia com a cena vivenciada.
c) em (3), a narradora reproduz um comentrio de um dos
presentes cena.
d) em (4), as palavras de Brbara mesclam-se ao discurso
da narradora.
8) (UEL-1995) Assinale a alternativa cujos termos
preenchem corretamente as lacunas do texto inicial.
Nas dcadas de 50 e 60 surgiram e prosperaram as
chamadas "vanguardas" poticas. Dentre elas, o
movimento da poesia ............................, cujo
experimentalismo na linguagem valoriza o aspecto
....................... .
a) surrealista - imagtico do discurso.
b) neo-simbolista - sensorial das palavras .
3 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
c) neo-romntica - emotivo da composio .
d) lrico-intimista - confessional da fala.
e) concreta - plstico-construtivo do poema.
9) (UEL-2007) Analise a imagem a seguir:
Fonte: SERPA, I. Arte brasileira. Colorama Artes Grficas,
s/d p. 90.
Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a arte
brasileira contempornea (1950- 1980), correto afirmar:
a) A arte brasileira sofreu novas e diversas direes,
quando artistas como Renina Katz e Lygia Clark ligaram-se
a diferentes movimentos estticos como o abstracionismo
e o concretismo.
b) O uso de materiais tradicionais permaneceu na
concepo da arte ao priorizar temas como animais
estranhos e cavaleiros medievais, ricos em detalhes
realistas e pormenores incrustados.
c) Ligada esttica do realismo mgico e propondo uma
reconstruo ilgica da realidade, Tomie Ohtake compe
quadros com formas e cores suaves.
d) Preocupados com os princpios matemticos rgidos, os
abstracionistas como Manabu Mabe, registraram temas
vinculados realidade social com desenhos e composies
gritantes em grandes telas.
e) O concretismo privilegiou elementos plsticos
relacionados expresso figurativa em murais,
tematizando tradies populares brasileiras em manifestos
com experincias intuitivas da arte.
10) (UEL-2007) Com base nos conhecimentos sobre a vinda
da Misso Artstica Francesa ao Brasil (1816-1840),
correto afirmar:
a) O grupo de artistas franceses congregou esforos para
fortalecer os rumos da arte colonial brasileira e
desenvolver temticas relativas ao nacionalismo,
destacando, especialmente, heris da nossa histria.
b) Afastados da mentalidade elitista da Corte instalada no
Brasil, os artistas franceses, especialmente os arquitetos
como Granjean de Montigny, ressaltaro os traos
populares ou nativistas das construes.
c) A contratao de uma misso de artistas franceses,
como Nicolas Antoine Taunay e Jean Baptiste Debret,
trouxe para o ambiente brasileiro as doutrinas estticas e
os conceitos artsticos de origem religiosa e barroca.
d) Os artistas recm-chegados eram renomados no
ambiente artstico europeu e souberam moldar seus
discpulos, como Arajo Porto Alegre, para um formalismo
indiferente realidade brasileira.
e) O prolongamento, at o perodo republicano, de uma
expanso acadmica da pintura, aproximou os artistas
franceses e brasileiros, influenciados pelos debates
ocorridos na Europa dos
movimentos romntico e impressionista.
11) (UEL-2007) Com base nos conhecimentos sobre o
movimento modernista brasileiro, assinale a alternativa
que engloba as imagens que esto a ele associadas:
a) 1, 2 e 6.
b) 1, 3 e 5.
c) 2, 4 e 5.
4 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
d) 3, 4 e 5.
e) 3, 4 e 6.
12) (UEL-2007) Candido Portinari (1903-1962) foi um
importante pintor brasileiro que, por meio de sua arte,
tratou, principalmente, da temtica social, expressando a
cultura e a arte do povo brasileiro, com suas dores e
alegrias. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o
tema, assinale, entre as obras abaixo, quais so as de
Portinari:
a) 1, 2 e 5.
b) 2, 3 e 5.
c) 1, 3 e 6
d) 2, 4 e 6.
e) 3, 4 e 5.
13) (UEMG-2007) Em todas as alternativas, foram
apontados corretamente, traos estilsticos e temticos
presentes na obra POEMAS DOS BECOS DE GOIS E
ESTRIAS MAIS, de Cora Coralina
focalizada, EXCETO:
a) Memorialismo nostlgico e de exaltao
b) Versos livres e uso de regionalismos
c) Engajamento poltico e tom de denncia
d) Oralidade/coloquialidade uso de termos arcaicos
5 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
14) (UEMG-2007) Todas as alternativas abaixo apresentam
comentrios adequados estrutura e forma de
organizao do conto Uma Carta obra O MONSTRO,
de Srgio SantAnna., EXCETO:
a) Um narrador de primeira pessoa utiliza-se de uma carta
para fazer um relato confessional que acaba por
caracterizar a histria de uma paixo, de um desejo.
b) possvel observar no conto variaes no registro
lingstico, quando se percebe a fuso de uma linguagem
vulgar, chula, com um linguajar prximo ao padro culto.
c) A narrativa dirigida por um narrador distanciado dos
fatos, o que explica a sua postura onisciente, quando
interpreta e dirige o ponto de vista das personagens.
d) O texto se articula a partir do ponto de vista de um
narrador de primeira pessoa que comparece na escrita
com suas impresses, sentimentos e emoes.
15) (UEMG-2007) Considerando a narrativa O Monstro,
que d nome obra de Srgio SantAnna, assinale a
alternativa cujo comentrio esteja INCORRETO.
a) O texto rene gneros diversos, tais como, dentre
outros, reportagem, entrevista, alm do prprio gnero
conto.
b) A narrativa mostra em seu contedo histrias
envolvendo paixes exacerbadas que levam ao crime, ao
uso de drogas, ao abuso e depravao sexual.
c) O conto apresenta um leque de temticas que giram em
torno da fragilidade e, ao mesmo tempo, da violncia
instintiva que h na condio humana.
d) Antenor, um dos protagonistas do conto, visto como o
prottipo da maldade, ao induzir Frederica a ter um
relacionamento homossexual com Marieta, sua amante.
16) (UEPB-2006) Considere as afirmaes de trs crticos
literrios brasileiros a respeito da poesia de Carlos
Drummond de Andrade, de Joo Cabral de Melo Neto e do
Concretismo:
I. Partindo-se do dado histrico de que foi No meio
do caminho da renovao da poesia brasileira que a obra
de Drummond comeou a aparecer como portadora de
uma lio potica mais slida, embora, inicialmente, na
direo nacionalista de seus contemporneos, possvel
ver o conjunto de sua obra atravs de duas atitudes
estilsticas. Na verdade, so atitudes complementares, dois
estgios que se prolongam: da objetividade e da
preocupao social. O poeta realmente objetivo, mas no
sentido de que se encontra mais prximo das coisas. A
exibio de termos e construes do portugus brasileiro
vai-se diluindo medida que se aproxima de 1945, quando
comeam a predominar a conteno expressiva e a
experincia tcnica, quase desconhecida dos primeiros
livros. Realmente, com Sentimento do mundo e
principalmente com A rosa do povo que os grandes temas
sociais e populares atingem os mais altos arremessos da
poesia social no Brasil, desde Castro Alves (Gilberto
Mendona Teles).
II. com O engenheiro (1945) e Psicologia da
composio (1947) que o poeta atinge a maturidade
criativa. Joo Cabral passar a se distinguir pelo combate
sistemtico ao sentimentalismo e ao irracionalismo em
poesia, atravs de um processo de desmistificao dos
mitos que a cercam. Ao mesmo tempo que desaliena a
poesia, exibindo-lhe as entranhas, Joo Cabral procede a
uma auto-anlise da composio potica, chegando a
dissociar a imagem fsica da palavra, do seu conceito. Alm
disso, o poeta-engenheiro fraciona os versos com uma
tcnica precisa de cortes que lhes confere uma estrutura,
por assim dizer, arquitetnica, funcional. No h,
entretanto, em Joo Cabral, uma recusa ao humano; h,
isto sim, uma recusa do poeta a se deixar transformar em
joguete de sentimentalismos epidrmicos e a busca do
verdadeiramente humano na linguagem, tomada em si
mesma, como fonte de apreenso sensvel da realidade
(Augusto de Campos).
III. A poesia concreta, ou Concretismo, imps-se, a
partir de 1956, como a expresso mais viva e atuante de
nossa vanguarda esttica. No contexto da poesia brasileira,
o Concretismo afirmou-se como anttese vertente
intimista e estetizante dos anos 40 e reprops temas,
formas e, no raro, atitudes peculiares ao Modernismo de
22 em sua fase mais polmica e mais aderente s
vanguardas europias. Os poetas concretos entenderam
levar s ltimas conseqncias certos processos
estruturais que marcaram o futurismo (italiano e russo), o
dadasmo e, em parte, o surrealismo. So processos que
visam explorar as camadas materiais do significante. A
poesia concreta quer-se abertamente antiexpressionista.
Em termos mais genricos: o Concretismo toma a srio, e
de modo radical, a definio de arte como techn, isto ,
como atividade produtora (Alfredo Bosi).
Assinale a alternativa correta
a) Apenas II e III esto corretas
b) Apenas I e II esto corretas
c) Todas as afirmaes so corretas
d) Apenas III est correta
e) Nenhuma afirmao est correta
17) (UEPB-2006) Os anos de 70 exigiriam um discurso
parte sobre a poesia mais nova que vem sendo escrita. De
um modo geral as chamadas vanguardas mais pragmticas
de 1950- 60 vivem a sua estao outonal de recolha das
antigas riquezas [...] Outras parecem ser as tendncias que
ora prevalecem e sensibilizam os poetas. Limito-me a
mencionar trs delas:
a) Ressurge o discurso potico e, com ele, o verso, livre ou
metrificado;
b) D-se nova e grande margem fala autobiogrfica, com
toda a sua nfase na livre, se no anrquica, expresso do
desejo e da memria;
6 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
c) Reprope-se com ardor o carter pblico e poltico da
fala potica [...] Dois poetas que, desaparecidos em plena
juventude, se converteram em emblemas dessa gerao:
Ana Cristina Cesar e Cacaso, pseudnimo de Antnio
Carlos Brito. Em ambos, o lirismo do cotidiano e a garra
crtica, a confisso e a metalinguagem se cruzavam em
zonas de convvio em que a dissonncia vinha a ser um
efeito inerente ao gesto da escrita.
(Alfredo Bosi)
Analise as proposies e marque a alternativa correta:
I. A poesia de Ana Cristina Cesar traduz o
pensamento de renovao da escrita literria, em seu
tempo, porque se prope a condensar vrias
caractersticas desta nova vertente de pensamento, pois a
autobiografia, o cotidiano, o verso prosaico e outros
expedientes poticos so incorporados linguagem de
suas obras, especificamente de A teus ps.
II. A poesia de Ana Cristina Cesar traduz o
pensamento de renovao da escrita literria, em seu
tempo, porque se prope a condensar caractersticas desta
nova vertente de pensamento, pois a autobiografia, o
cotidiano, o verso prosaico e outros expedientes poticos
no so incorporados linguagem de suas obras,
especificamente de A teus ps.
III. A poesia de Ana Cristina Cesar traduz o
pensamento de renovao da escrita literria, em seu
tempo, porque se prope a condensar caractersticas desta
nova vertente de pensamento, pois a autobiografia, o
cotidiano, o verso prosaico e outros expedientes poticos
so incorporados linguagem de suas obras como
acidente poltico, ou seja, o momento em que vive exige da
poeta uma certa resistncia no mbito da linguagem; logo,
a sua poesia s assim caracterizada porque localizada,
porque restrita a apenas atitudes polticas momentneas,
especificamente em A teus ps.
a) Todas as proposies esto corretas
b) Somente a proposio II est correta
c) Somente a proposio III est correta
d) Somente a proposio I est correta
e) Nenhuma proposio est correta
18) (UEPB-2006) Se a poesia de Ana Cristina Cesar est
inserida na chamada literatura marginal, talvez porque a
linguagem de que se apropria para falar da natureza do
sujeito humano tenha sido no-convencional, no poema
SAMBA-CANO, de A teus ps, a imagem do ser marginal
pode ser vista como duplamente inscrita (marque a
justificativa correta):
SAMBA-CANO
Tantos poemas que perdi.
Tantos que ouvi, de graa,
pelo telefone - ta,
eu fiz tudo pra voc gostar,
fui mulher vulgar,
meia-bruxa, meia-fera,
risinho modernista
arranhado na garganta,
malandra, bicha,
bem viada, vndala,
talvez maquiavlica,
e um dia emburrei-me,
vali-me de mesuras
(era uma estratgia),
fiz comrcio, avara,
embora um pouco burra,
porque inteligente me punha
logo rubra, ou ao contrrio, cara
plida que desconhece
o prprio cor-de-rosa,
e tantas fiz, talvez
querendo a glria, a outra
cena luz de spots,
talvez apenas teu carinho,
mas tantas, tantas fiz...
a) porque a imagem a que o poema faz referncia de
uma mulher vulgar/meia-bruxa, meia-fera/risinho
modernista/ arranhado na garganta/malandra, bicha/bem
viada, vndala e a forma do texto se distancia
tipologicamente da linguagem potica aproximando-se
mais da prosa coloquial.
b) porque o texto remete o leitor a um dilogo com uma
escrita no-autorizada, escrita chula ou do palavro, e
esta linguagem tpica de pessoas de ndole m, como a
que aludida no poema: uma bruxa.
c) porque os termos vulgar, bicha, viada situam na
sociedade certos sujeitos marginais e a fala enunciada pela
personagem do texto denuncia a sua condio quando
ela mesma marginaliza a sua condio de mulher em um
texto cujo ttulo remete o leitor a interpret-la a partir de
um espao fsico tambm marginalizado: aquele onde
nasceu o sambacano.
d) porque a personagem do poema, atravs de uma
linguagem no-autorizada, a linguagem potica, ri da sua
condio de inferior: por ser mulher e por ser vulgar,
concentrando em si aspectos negativos.
e) porque a personagem do poema, em uma linguagem
moderna e tpica de jovens adestrados socialmente, canta
o seu caso de amor no completado, instrumentalizando-
se de estratgias discursivas capazes de enganar o outro e
chamar a ateno para si e para o poema - duas instncias
marginais.
19) (UFBA-2002) Texto I
No, no fcil escrever. duro como quebrar rochas.
Mas voam fascas e lascas como aos espelhados.
Ah que medo de comear e ainda nem sequer sei o nome
da moa. Sem falar que a histria me desespera por ser
simples demais. O que me proponho contar parece fcil e
mo de todos. Mas a sua elaborao muito difcil. Pois
tenho que tornar ntido o que est quase apagado e que
7 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
mal vejo. Com mos de dedos duros enlameados apalpar o
invisvel na prpria lama.
De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexer com
uma coisa delicada: a criao de uma pessoa inteira que na
certa est to viva quanto eu. Cuidai dela porque meu
poder s mostr-la para que vs a reconheais na rua,
andando de leve por causa da esvoaada magreza. E se for
triste a minha narrativa? Depois na certa escreverei algo
alegre, embora alegre por qu? Porque tambm sou um
homem de hosanas e um dia, quem sabe, cantarei loas que
no as dificuldades da nordestina.
Por enquanto quero andar nu ou em farrapos, quero
experimentar pelo menos uma vez a falta de gosto que
dizem ter a hstia. Comer a hstia ser sentir o insosso do
mundo e banhar-se no no. Isso ser coragem minha, a de
abandonar sentimentos antigos j confortveis.
Agora no confortvel: para falar da moa tenho que no
fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por
dormir pouco, s cochilar de pura exausto, sou um
trabalhador manual. Alm de vestir-me com roupa velha
rasgada. Tudo isso para me pr o nvel da nordestina. (...)
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1988. p. 25-6.
Texto II
(...) No, no vou escrever minhas memrias, nem meu
retrato, nem minha biografia. Sou uma personagem de
fico. S existo na minha imaginao e na imaginao de
quem me l. E, naturalmente, para a mulher que me
escreve. Em casa ou na rua, no me sabem.
Por acaso, algum sabe algum, carne e grito sob a capa
do rosto, ordenado e composto em carapaa? (...)
...............................................................................................
.................
Quem a mulher que me escreve? Eu sei, porque eu a
inventei. No entanto, ela no me sabe. Ela pensa que me
tem nas mos para me escrever como quiser. Que ela
saiba, desde o incio. Ela me escrever na medida da minha
prpria determinao. Eu, personagem irremediavelmente
encravada na vida dela. (...)
...............................................................................................
.......................
Meu marido acha que devo viver exclusivamente,
totalmente, exaustivamente para ele. Isto me faz muito
feliz. Na opinio de meus filhos, toda me tem obrigao
de se dedicar de modo absoluto a quem ps no mundo.
Esta a razo da minha vida.
Voc no pode continuar a alimentar esta atitude absurda.
preciso ter conscincia dos prprios direitos, sobretudo
nos dias de hoje, final da dcada de 70, numa cidade como
Salvador. A mulher deve reagir, no se permitir levar pelos
caprichos e exorbitncias da famlia. Voc no pode
continuar a viver assim.
Eu s vivo assim. Minha escolha, meu caminho. A mulher
que me escreve me entrev embaada, sem contorno.
Porque ela pertence minha imaginao, eu a vejo nas
suas linhas, seus recantos. Ela s viver, se eu a imaginar.
Eu s viverei, se ela me escrever. Ns nos encontramos
ligadas por um fio tenso e tnue. No podemos nos
separar.(...)
CUNHA, Helena Parente. Mulher no espelho. So Paulo:
Art, 1985. p. 7, 8 e 16.
Tomando-se como referncia os textos I e II e as obras das
quais foram extrados, quanto ao ponto de vista da
narrao, pode-se inferir:
(01) No texto I, quem fala na primeira pessoa a
personagem Macaba, expressando a dificuldade de
contar sua histria, j que escrever era uma tarefa difcil
para uma nordestina pouco culta.
(02) O narrador do texto I identifica-se como o escritor
da histria, angustiado frente ao desafio de sentir e viver a
personagem, a fim de elucidar, com profundidade, os fatos
que pretende narrar.
(04) O texto II narrado, na primeira pessoa, por uma
personagem feminina, que se rebela e tenta se impor
contra a outra personagem, por ela criada para escrever
sua histria.
(08) No texto II, fica evidente o conflito entre a viso
que a personagem tem de si prpria e aquela que
transmitida pela personagem que escreve sua histria, cuja
viso dos fatos oposta sua.
(16) Em ambos os textos, o narrador onisciente,
tendo pleno domnio sobre suas personagens, cujo destino
determina com preciso antes de concluir a histria.
(32) O contraste mais ntido entre os dois textos que,
em I, o escritor-narrador sente dificuldade de se
aprofundar na vida da personagem e, em II, a personagem
tenta dominar a outra que escreve sobre ela.
(64) Em ambas as obras, as autoras, Clarice Lispector e
Helena Parente Cunha, criam vozes masculinas, que as
representam como narradores de histrias de personagens
femininas.
20) (UFC-2005)
Dizem que os ces vem coisa e O cavaquinho so obras
de dois grandes contistas escolhidos para este exame. A
escolha foi nossa. O sucesso ser seu.
TEXTO 1 - Dizem que os ces vem coisas.
Os ces de raa latiam e uivavam
desesperadamente nos canis (e dizem que os ces vem
coisas). Foi preciso que o tratador viesse acalm-los,
embora eles rodassem sobre si mesmos e rosnassem.
distncia, a piscina quase olmpica, agora deserta: toalhas
esquecidas, o vidro do bronzeador, o cinzento sobre a
mesinha cheio de pontas de cigarro marcadas de batom.
As filas. Algum tangeu o gato que lutava com um
pedao de osso, Lenita fez o prato do marido, preparou
tambm o seu. Mordia a fatia de peru com farofa, quando
se lembrou do filho.
8 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
- Cad o Netinho?!
Certa angustia na voz. Chamou o marido, gritou
pela bab, que se distraa com as outras na varanda. Olhos
espantados e repentino silncio talvez maior que qualquer
outro. Refeies suspensas, uma senhora mantinha no ar o
garfo cheio. Tentavam segurar Lenita. Ela se desvencilhava:
- Cad o Netinho? Cad?
As guas da grande piscina eram tranqilas,
apenas levemente franjadas pelo vento. Boiava sobre elas
uma carteira de cigarros vazia. Mas a moa que se
aproximara parecia divisar um corpo no fundo, preso
escada. Voltaram a afastar Lenita, o marido a envolveu nos
braos possantes, talvez procurando refgio tambm. O
campeo de vlei atirou-se piscina e veio tona
sacudindo com a cabea os cabelos longos: trazia sob o
brao um corpo inerte, flcido, de apenas quatro anos e de
cabelos louros e gotejantes.
O mdico novo, de calo, tentou a respirao
artificial, o boca-a-boca (os lbios de Netinho estavam
arroxeados) e levantou-se sem palavras e sem olhar para
ningum. Lenita solto-se e agarrou-se ao filho:
- Acorde, acorde! Pelo amor de Deus, acorde!
Conseguiam afast-la mais uma vez, quase
desmaiou. A amiga limpava-lhe com os dedos a sobra de
farofa que se grupara ao seu rosto. Os ces de raa
voltavam a latir desesperadamente, e dizem que os ces
vem coisa.
Lenita ficou para sempre com a sensao do corpo
inerte e mole entre os braos. Uma marca, presena, que
procurava desfazer coma as mos. Cabelos louros e
gotejantes. s vezes, ela despertava na noite:
- Acorde, acorde!
A presena tambm daquele instante de silncio
que pesara sobre a piscina. Um pressentimento apenas?
Precisamente o momento em que ela chegara,
transparente e invisvel, e se sentara beira da piscina,
cruzando as pernas longas, antiqssima, atual e eterna.
MOREIRA CAMPOS, Jos Maria (2002). Dizem que os ces
vem coisas.
In. Dizem que os ces vem coisas. Fortaleza: Editora UFC,
p.133-134.
TEXTO 2 - O Cavaquinho
(...)
- O pai demora-se...
- No que ir Vila e voltar tem que se lhe diga...
Via-se bem que estava inquieta. Seria que, como
ele, esperasse por uma prenda?
Cerrou-se a escurido. O aguaceiro agora caa a
cntaros. Pelas frinchas da casa o vento ia dando
punhaladas traioeiras.
- Valha-me Deus!
O lamento da me acabou de encher a cozinha, j
meia testa de fumo.
- Que noite! E aquele homem por l!
Olhou-a com os olhos vermelhos da fogueira de
lenha verde.
De sbito, idia da prenda, que, alegre, o
acompanhara todo o dia, juntou-se-lhe uma outras, triste,
imprecisa, que lhe meteu medo.
- O tio Adriano tambm foi, pois foi?
- Foi.
Novamente um grande silncio caiu entre eles.
Mas durou pouco.
- Eu queria esperar pelo pai!
- Vais cear e dormir...
Embora obrigado, nem o caldo lhe passou pela
garganta, nem o sono, na cama, lhe fechava os olhos. No
escuro ouvia a me chorar, suspirar, e as btegas grossas e
pesadas a mantelar o teclado.
De repente sentiu passos no quinteiro. At que
enfim! Era o pai! O que seria a prenda?
A pessoa que vinha bateu de leve e chamou baixo:
- Maria...
- Quem ? - perguntou a me.
O corao deu-lhe um baque. Ento o tio Adriano
voltava sozinho?!
Ps-se a ouvir, como um bicho aflito.
E da a nada sabia que o pai fora morto num
barulho, e que no stio onde cara com a facada l ficara,
ao lado dum cavalinho que lhe trazia.
TORGA, Miguel (1996), O cavaquinho,
In: Contos da Montanha, Rio de Janeiro, Nova Fronteira p.
62-63.
Assinale a alternativa que contm a afirmao verdadeira
sobre Moreira Campos:
a) a prolixidade e a digresso so destaques de sua
contstica.
b) diferentes gneros textuais se misturam em sua
produo romanesca.
c) o contista cearense desenvolveu uma predileo
explicita por imagem mrbidas.
d) em suas composies v-se a influencia de Ea de
Queiroz e de Machado de Assis.
e) o autor de A grande mosca no copo de leite filiou-se as
fases do Modernismo de 22.
21) (UFC-2005) Dizem que os ces vem coisas.
Os ces de raa latiam e uivavam
desesperadamente nos canis (e dizem que os ces vem
coisas). Foi preciso que o tratador viesse acalm-los,
embora eles rodassem sobre si mesmos e rosnassem.
distncia, a piscina quase olmpica, agora deserta: toalhas
esquecidas, o vidro do bronzeador, o cinzento sobre a
mesinha cheio de pontas de cigarro marcadas de batom.
9 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
As filas. Algum tangeu o gato que lutava com um
pedao de osso, Lenita fez o prato do marido, preparou
tambm o seu. Mordia a fatia de peru com farofa, quando
se lembrou do filho.
- Cad o Netinho?!
Certa angustia na voz. Chamou o marido, gritou
pela bab, que se distraa com as outras na varanda. Olhos
espantados e repentino silncio talvez maior que qualquer
outro. Refeies suspensas, uma senhora mantinha no ar o
garfo cheio. Tentavam segurar Lenita. Ela se desvencilhava:
- Cad o Netinho? Cad?
As guas da grande piscina eram tranqilas,
apenas levemente franjadas pelo vento. Boiava sobre elas
uma carteira de cigarros vazia. Mas a moa que se
aproximara parecia divisar um corpo no fundo, preso
escada. Voltaram a afastar Lenita, o marido a envolveu nos
braos possantes, talvez procurando refgio tambm. O
campeo de vlei atirou-se piscina e veio tona
sacudindo com a cabea os cabelos longos: trazia sob o
brao um corpo inerte, flcido, de apenas quatro anos e de
cabelos louros e gotejantes.
O mdico novo, de calo, tentou a respirao
artificial, o boca-a-boca (os lbios de Netinho estavam
arroxeados) e levantou-se sem palavras e sem olhar para
ningum. Lenita solto-se e agarrou-se ao filho:
- Acorde, acorde! Pelo amor de Deus, acorde!
Conseguiam afast-la mais uma vez, quase
desmaiou. A amiga limpava-lhe com os dedos a sobra de
farofa que se grupara ao seu rosto. Os ces de raa
voltavam a latir desesperadamente, e dizem que os ces
vem coisa.
Lenita ficou para sempre com a sensao do corpo
inerte e mole entre os braos. Uma marca, presena, que
procurava desfazer coma as mos. Cabelos louros e
gotejantes. s vezes, ela despertava na noite:
- Acorde, acorde!
A presena tambm daquele instante de silncio
que pesara sobre a piscina. Um pressentimento apenas?
Precisamente o momento em que ela chegara,
transparente e invisvel, e se sentara beira da piscina,
cruzando as pernas longas, antiqssima, atual e eterna.
MOREIRA CAMPOS, Jos Maria (2002). Dizem que os ces
vem coisas.
In. Dizem que os ces vem coisas. Fortaleza: Editora UFC,
p.133-134.
Pode-se afirmar que o conto Dizem que os ces vem
coisas configura-se como uma narrativa cujo ncleo
temtico decorre da tenso entre:
a) coragem e covardia.
b) revolta e resignao.
c) sabedoria e ignorncia.
d) avareza e generosidade.
e) tranqilidade e desassossego.
22) (UFC-2005) O Cavaquinho
(...)
- O pai demora-se...
- No que ir Vila e voltar tem que se lhe diga...
Via-se bem que estava inquieta. Seria que, como
ele, esperasse por uma prenda?
Cerrou-se a escurido. O aguaceiro agora caa a
cntaros. Pelas frinchas da casa o vento ia dando
punhaladas traioeiras.
- Valha-me Deus!
O lamento da me acabou de encher a cozinha, j
meia testa de fumo.
- Que noite! E aquele homem por l!
Olhou-a com os olhos vermelhos da fogueira de
lenha verde.
De sbito, idia da prenda, que, alegre, o
acompanhara todo o dia, juntou-se-lhe uma outras, triste,
imprecisa, que lhe meteu medo.
- O tio Adriano tambm foi, pois foi?
- Foi.
Novamente um grande silncio caiu entre eles.
Mas durou pouco.
- Eu queria esperar pelo pai!
- Vais cear e dormir...
Embora obrigado, nem o caldo lhe passou pela
garganta, nem o sono, na cama, lhe fechava os olhos. No
escuro ouvia a me chorar, suspirar, e as btegas grossas e
pesadas a mantelar o teclado.
De repente sentiu passos no quinteiro. At que
enfim! Era o pai! O que seria a prenda?
A pessoa que vinha bateu de leve e chamou baixo:
- Maria...
- Quem ? - perguntou a me.
O corao deu-lhe um baque. Ento o tio Adriano
voltava sozinho?!
Ps-se a ouvir, como um bicho aflito.
E da a nada sabia que o pai fora morto num
barulho, e que no stio onde cara com a facada l ficara,
ao lado dum cavalinho que lhe trazia.
TORGA, Miguel (1996), O cavaquinho,
In: Contos da Montanha, Rio de Janeiro, Nova Fronteira p.
62-63.
Coloque V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que
se afirma abaixo.
O cavaquinho representa, no texto:
( ) a confirmao do compromisso do pai.
( ) a materializao dos sonhos da criana.
( ) a comprovao do desapontamento da me.
Assinale a alternativa que corresponde seqncia
correta.
a) V - F - V
b) V - V - F
10 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
c) V - V - V
d) F - V - F
e) F - F - V
23) (UFG-2007) O romance O fantasma de Luis Buuel, de
Maria Jos Silveira, e a pea Calabar, de Chico Buarque e
Ruy Guerra, apresentam direta e indiretamente as
conseqncias do golpe militar de 1964 na realidade
brasileira.
Assim, o enfoque literrio semelhante no que se refere
a) ao processo revisionista dos modos da violncia de
Estado em tempos histricos remotos.
b) captao realista dos modos de rebeldia da juventude
formada num contexto ditatorial.
c) expresso multifacetada da tradio autoritria na
sociedade brasileira.
d) ao tratamento alegrico das formas de atuao poltica
do poder militar.
e) recorrncia temtica da luta poltico-partidria contra
o poder autoritrio vigente.
24) (UFOP-2001) PALHAO
Ao escrever esta pea, onde combate o mundanismo,
praga de sua igreja, o autor quis ser representado por um
palhao, para indicar que sabe, mais do que ningum, que
sua alma um velho catre, cheio de insensatez e de
solrcia. Ele no tinha o direito de tocar nesse tema, mas
ousou faz-lo, baseado no esprito popular de sua gente,
porque acredita que esse povo sofre, um povo salvo e
tem direito a certas intimidades.
(SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. 19ed. Rio de
Janeiro: Agir, 1983. p.23-24).
A partir da leitura do Auto da Compadecida, de Ariano
Suassuna, justifique essa fala da personagem Palhao,
enfatizando o vnculo entre sofrimento e salvao. No se
esquea de mencionar pelo menos um exemplo extrado
do texto para embasar seus argumentos.
25) (UFPB-2006) Sobre a obra Auto da Compadecida, de
Ariano Suassuna, identifique a(s) proposio(es)
verdadeira(s):
01. O autor, embora faa crticas Igreja Catlica,
apresenta alguns valores cristos como a misericrdia, o
perdo e a salvao.
02. A pea dividida em trs atos, marcados pela
mudana total de cenrio e de personagens.
04. Os personagens divinos Manoel (Jesus) e a
Compadecida (Nossa Senhora) expressam, em suas falas,
sentimentos do ser humano: alegria, medo, dvida.
08. Todos os representantes da Igreja Catlica (Padre,
Sacristo, Bispo e Frade) so mortos pelo cangaceiro
Severino e condenados ao purgatrio.
16. A Compadecida, no momento do julgamento,
justifica os atos vergonhosos praticados pelos
personagens, em funo da triste condio do homem,
feito de carne e de sangue.
A soma dos valores atribudos (s) proposio(es)
verdadeira(s) igual a
26) (UFSCar-2002) Texto 1
At o fim
(Chico Buarque)
Quando eu nasci veio um anjo safado
O chato dum querubim
E decretou que eu tava predestinado
A ser errado assim
J de sada a minha estrada entortou
Mas vou at o fim.
Texto 2
Poema de Sete Faces
(Carlos Drummond de Andrade)
Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.
(...)
O anjo um elemento comum aos dois textos.
a) De que forma so tratados os anjos nos textos?
b) Nos versos de Chico Buarque, o querubim decretou;
nos de Drummond, o anjo disse. Qual
a diferena desses verbos na caracterizao do querubim
e do anjo?
27) (UFU/Paies 1Etapa-2005) Considerando que a obra O
mistrio da casa verde, de Moacyr Scliar, uma releitura
de O alienista, de Machado de Assis, marque para as
afirmativas abaixo (V) verdadeira, (F) falsa ou (SO) sem
opo.
1 ( ) As personagens Arturzinho e Simo Bacamarte
tm o mesmo objetivo ao ocuparem a Casa Verde: fundar
uma entidade filantrpica para cuidar dos doentes mentais
que residem na cidade de Itagua.
2 ( ) Ao final da narrativa O mistrio da casa verde, a
casa dividida em duas partes: em uma funciona o clube
dos jovens e, em outra, a sede do Centro Cultural Machado
de Assis.
3 ( ) O alienista e O mistrio da casa verde
apresentam o mesmo final: tanto Simo Bacamarte quanto
Arturzinho e seus amigos sentem-se obrigados a morar na
Casa Verde, em funo de seus desequilbrios emocionais.
11 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
4 ( ) A cincia meu emprego nico; Itagua o
meu universo esta fala identifica a personagem Jorge,
pai de Lcia, quando inicia, todas as sextas-feiras, o
monlogo intitulado O Alienista na Casa Verde, extrado da
obra de Machado de Assis.
28) (Unicamp-1999) O trecho abaixo citado compreende
uma fala importante de Francisca, personagem de Quarup,
a Nando. Essa fala remete ao seu passado com Levindo e
tambm sua situao presente:
- Eu vi o corpo de Levindo, Nando, morto duas vezes, no
mesmo dia. Primeiro no ptio do Engenho da Estrela. O
porto do Engenho estava fechado, a Polcia cercava os
cadveres. Agarrada nas grades, chorando de amor e de
raiva, vi o corpo de Levindo entre os dos camponeses que
tinham ido reclamar salrio atrasado. Meu pai me
abraava pelos ombros, com uma lealdade e um carinho
que eu nunca tinha sentido nele. Levindo no tinha
carregado nenhuma arma e em torno dos camponeses
estavam arrumadas as que carregavam: duas peixeiras,
trs foices. E todos fuzilados, ali. Levindo ensangentado e
empoeirado. Quando eu gritei me levaram embora, mas
fui vigiar o Instituto Mdico Legal na cidade. Quando os
corpos chegaram entrei sozinha, em silncio, e vi Levindo
morto pela segunda vez. Ele e os outros tinham tido as
roupas rasgadas no Instituto, para contagem de buraco de
bala.
a) Quem foi Levindo na vida da comunidade em que viveu?
Qual a sua relao com Francisca?
b) Que importncia ter Levindo no destino de Nando, no
final do romance?
29) (Unitau-1995) "Vivemos numa poca de tamanha
insegurana externa e interna, e de tamanha carncia de
objetivos firmes, que a simples confisso de nossas
convices pode ser importante, mesmo que essas
convices, como todo julgamento de valor, no possam
ser provadas por dedues lgicas.
Surge imediatamente a pergunta: podemos considerar a
busca da verdade - ou, para dizer mais modestamente,
nossos esforos para compreender o universo cognoscvel
atravs do pensamento lgico construtivo - como um
objeto autnomo de nosso trabalho? Ou nossa busca da
verdade deve ser subordinada a algum outro objetivo, de
carter prtico, por exemplo? Essa questo no pode ser
resolvida em bases lgicas. A deciso, contudo, ter
considervel influncia sobre nosso pensamento e nosso
julgamento moral, desde que se origine numa convico
profunda e inabalvel Permitam-me fazer uma confisso:
para mim, o esforo no sentido de obter maior percepo
e compreenso um dos objetivos independentes sem os
quais nenhum ser pensante capaz de adotar uma atitude
consciente e positiva ante a vida.
Na prpria essncia de nosso esforo para compreender o
fato de, por um lado, tentar englobar a grande e complexa
variedade das experincias humanas, e de, por outro lado,
procurar a simplicidade e a economia nas hipteses
bsicas. A crena de que esses dois objetivos podem existir
paralelamente , devido ao estgio primitivo de nosso
conhecimento cientfico, uma questo de f. Sem essa f
eu no poderia ter uma convico firme e inabalvel
acerca do valor independente do conhecimento.
Essa atitude de certo modo religiosa de um homem
engajado no trabalho cientfico tem influncia sobre toda
sua personalidade. Alm do conhecimento proveniente da
experincia acumulada, e alm das regras do pensamento
lgico, no existe, em princpio, nenhuma autoridade cujas
confisses e declaraes possam ser consideradas
"Verdade " pelo cientista. Isso leva a uma situao
paradoxal: uma pessoa que devota todo seu esforo a
objetivos materiais se tornar, do ponto de vista social,
algum extremamente individualista, que, a princpio, s
tem f em seu prprio julgamento, e em nada mais.
possvel afirmar que o individualismo intelectual e a sede
de conhecimento cientfico apareceram simultaneamente
na histria e permaneceram inseparveis desde ento. "
(Einstein, in: O Pensamento Vivo de Einstein, p. 13 e 14,
5a. edio, Martin Claret Editores)
Na frase "... nenhuma autoridade 'cujas' confisses...", a
palavra, entre aspas, no plano morfolgico, sinttico e
semntico :
a) pronome indefinido, complemento nominal, deles.
b) pronome relativo, adjunto adnominal, deles.
c) pronome relativo, complemento nominal, delas.
d) pronome indefinido, adjunto adnominal, delas.
e) pronome relativo, complemento nominal, deles.
30) (UFC-2005) O Cavaquinho
(...)
- O pai demora-se...
- No que ir Vila e voltar tem que se lhe diga...
Via-se bem que estava inquieta. Seria que, como
ele, esperasse por uma prenda?
Cerrou-se a escurido. O aguaceiro agora caa a
cntaros. Pelas frinchas da casa o vento ia dando
punhaladas traioeiras.
- Valha-me Deus!
O lamento da me acabou de encher a cozinha, j
meia testa de fumo.
- Que noite! E aquele homem por l!
Olhou-a com os olhos vermelhos da fogueira de
lenha verde.
12 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
De sbito, idia da prenda, que, alegre, o
acompanhara todo o dia, juntou-se-lhe uma outras, triste,
imprecisa, que lhe meteu medo.
- O tio Adriano tambm foi, pois foi?
- Foi.
Novamente um grande silncio caiu entre eles.
Mas durou pouco.
- Eu queria esperar pelo pai!
- Vais cear e dormir...
Embora obrigado, nem o caldo lhe passou pela
garganta, nem o sono, na cama, lhe fechava os olhos. No
escuro ouvia a me chorar, suspirar, e as btegas grossas e
pesadas a mantelar o teclado.
De repente sentiu passos no quinteiro. At que
enfim! Era o pai! O que seria a prenda?
A pessoa que vinha bateu de leve e chamou baixo:
- Maria...
- Quem ? - perguntou a me.
O corao deu-lhe um baque. Ento o tio Adriano
voltava sozinho?!
Ps-se a ouvir, como um bicho aflito.
E da a nada sabia que o pai fora morto num
barulho, e que no stio onde cara com a facada l ficara,
ao lado dum cavalinho que lhe trazia.
TORGA, Miguel (1996), O cavaquinho,
In: Contos da Montanha, Rio de Janeiro, Nova Fronteira p.
62-63.
Em E da a nada sabia que o pai fora morto num barulho, e
que no stio onde cara com a facada l ficara (linhas 28-
29), os termos em negrito significam, respectivamente:
a) estrondo - vila
b) alvoroo - lugar
c) rebelio - aldeia
d) alarde - chcara
e) motim - povoado.
31) (UFC-2005)
O Cavaquinho
(...)
- O pai demora-se...
- No que ir Vila e voltar tem que se lhe diga...
Via-se bem que estava inquieta. Seria que, como
ele, esperasse por uma prenda?
Cerrou-se a escurido. O aguaceiro agora caa a
cntaros. Pelas frinchas da casa o vento ia dando
punhaladas traioeiras.
- Valha-me Deus!
O lamento da me acabou de encher a cozinha, j
meia testa de fumo.
- Que noite! E aquele homem por l!
Olhou-a com os olhos vermelhos da fogueira de
lenha verde.
De sbito, idia da prenda, que, alegre, o
acompanhara todo o dia, juntou-se-lhe uma outras, triste,
imprecisa, que lhe meteu medo.
- O tio Adriano tambm foi, pois foi?
- Foi.
Novamente um grande silncio caiu entre eles.
Mas durou pouco.
- Eu queria esperar pelo pai!
- Vais cear e dormir...
Embora obrigado, nem o caldo lhe passou pela
garganta, nem o sono, na cama, lhe fechava os olhos. No
escuro ouvia a me chorar, suspirar, e as btegas grossas e
pesadas a mantelar o teclado.
De repente sentiu passos no quinteiro. At que
enfim! Era o pai! O que seria a prenda?
A pessoa que vinha bateu de leve e chamou baixo:
- Maria...
- Quem ? perguntou a me.
O corao deu-lhe um baque. Ento o tio Adriano
voltava sozinho?!
Ps-se a ouvir, como um bicho aflito.
E da a nada sabia que o pai fora morto num
barulho, e que no stio onde cara com a facada l ficara,
ao lado dum cavalinho que lhe trazia.
TORGA, Miguel (1996), O cavaquinho,
In: Contos da Montanha, Rio de Janeiro, Nova Fronteira p.
62-63.
correto afirmar que, com a frase Seria que, como ele,
esperasse por uma prenda? (linha 3), o narrador est:
a) dirigindo-se ao leitor para guiar-lhe a ateno.
b) aludindo indagao que se fizera ao pai do menino.
c) Reforando o ponto de vista onisciente da me do
menino.
d) explicitando a justa causa da inquietao da me do
menino.
e) revelando o que pensava a me acerca da prpria
inquietao.
32) (UFC-2005) O Cavaquinho
(...)
- O pai demora-se...
- No que ir Vila e voltar tem que se lhe diga...
Via-se bem que estava inquieta. Seria que, como
ele, esperasse por uma prenda?
Cerrou-se a escurido. O aguaceiro agora caa a
cntaros. Pelas frinchas da casa o vento ia dando
punhaladas traioeiras.
- Valha-me Deus!
O lamento da me acabou de encher a cozinha, j
meia testa de fumo.
- Que noite! E aquele homem por l!
13 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Olhou-a com os olhos vermelhos da fogueira de
lenha verde.
De sbito, idia da prenda, que, alegre, o
acompanhara todo o dia, juntou-se-lhe uma outras, triste,
imprecisa, que lhe meteu medo.
- O tio Adriano tambm foi, pois foi?
- Foi.
Novamente um grande silncio caiu entre eles.
Mas durou pouco.
- Eu queria esperar pelo pai!
- Vais cear e dormir...
Embora obrigado, nem o caldo lhe passou pela
garganta, nem o sono, na cama, lhe fechava os olhos. No
escuro ouvia a me chorar, suspirar, e as btegas grossas e
pesadas a mantelar o teclado.
De repente sentiu passos no quinteiro. At que
enfim! Era o pai! O que seria a prenda?
A pessoa que vinha bateu de leve e chamou baixo:
- Maria...
- Quem ? - perguntou a me.
O corao deu-lhe um baque. Ento o tio Adriano
voltava sozinho?!
Ps-se a ouvir, como um bicho aflito.
E da a nada sabia que o pai fora morto num
barulho, e que no stio onde cara com a facada l ficara,
ao lado dum cavalinho que lhe trazia.
TORGA, Miguel (1996), O cavaquinho,
In: Contos da Montanha, Rio de Janeiro, Nova Fronteira p.
62-63.
Assinale a alternativa em que a reescrita da passagem De
sbito, idia da prenda, que, alegre, a acompanhara todo
o dia, juntou-se-lhe uma outra, triste, imprecisa, que lhe
meteu medo mantm o sentido e no fere a norma culta
da lngua.
a) De sbito, a idia da prenda, que, alegre, o
acompanhara todo dia, juntou-se-lhe uma outra, triste,
imprecisa, que lhe meteu medo.
b) De sbito, a idia da prenda, que, alegre, o tinha
acompanhado todo dia, juntou-se-lhe a uma outra, triste,
imprecisa, que lhe meteu medo.
c) De sbito, idia da prenda, que, alegre, o tinha
acompanhado o dia todo, juntou-se-lhe uma outra, triste,
imprecisa, que nele meteu medo.
d) De sbito, idia da prenda, que, alegre, o tinha
acompanhado todo o dia, juntou-se-lhe uma outra, triste,
imprecisa, que nele meteu medo.
e) De sbito, idia da prenda, que, alegre, o tinha
acompanhado todo o dia, juntou-se-lhe uma outra, triste,
imprecisa, que lhe meteu medo.
33) (Fameca-2006) TEXTO 1
Lamos juntos um poema de Vinicius de Moraes.
Esbarraste na palavra bratro e pronunciaste bartro,
perguntando: o que ? Eu corrigi tua pronncia, mas no
soube explicar o sentido exato: alguma coisa como
oceano ou labirinto... Vamos ver no dicionrio.
Era abismo precipcio, inferno. E rimos muito.
(Rubem Braga, Ai de ti Copacabana, p. 38)
O autor do primeiro texto o carioca Rubem Braga.
a) Que tipo de gnero o tornou famoso?
b) Cite outros dois gneros, alm da poesia, que tambm
tornaram famoso o escritor citado por ele.
34) (ITA-2005) O livro de contos A Guerra Conjugal, de
Dalton Trevisan, publicado em 1969, reatualiza alguns
temas da fico realista-naturalista do sculo XIX, e
registra de forma crua a vida nos grandes centros urbanos.
Nesse sentido, correto afirmar que nessa obra
a) os casais protagonistas, da mdia e alta burguesia, como
nos romances de Machado de Assis, vivem sempre
conflitos ligados ao adultrio.
b) os protagonistas dos contos esto quase sempre
envolvidos em conflitos conjugais e familiares, que levam
violncia e perverso.
c) a maior parte dos contos retrata dramas de casais
massacrados por um cotidiano miservel e por uma vida
sem perspectivas.
d) quase todos os casais (denominados sempre de Joo e
Maria) vivem dramas naturalistas, gerados por taras e
perverses sexuais.
e) as personagens so de classe mdia; vivem na periferia
de grandes cidades, mergulhadas numa grande misria
existencial e cultural.
35) (Mack-2004) A Jlio Prestes dava movimento e ramos
explorados por um s. O jornaleiro. Dono da banca dos
jornais e das caixas de engraxar, do lugar e do dinheiro, ele
14 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
s agarrava a grana. Engraxar, no; ele l com seus jornais.
Eu bem podia me virar na Estao da Luz.Tambm rendia
l. Fazia ali muito fregus de subrbio e at de outras
cidades. Franco da Rocha, Perus, Jundia Descidos dos
trens, marmiteiros ou trabalhadores do comrcio, das
lojas, gente do escritrio da estrada de ferro, todo esse
povo de gravata que ganha mal. Mas que me largava o
carvo, o moc, a gordura, o maldito, o tutu, o poror, o
mango, o vento, a granuncha. A seda, a gaita, a grana, a
gaitolina (). Aquele um de que eu precisava para me
agentar nas pernas sujas, almoando banana, pastis,
sanduches.
Joo Antnio
Encontra-se, no texto,
a) a tematizao da vida do migrante nordestino, aspecto
muito explorado pelos escritores modernistas da gerao
de 1930, como Jorge Amado e Graciliano Ramos.
b) a sintaxe prolixa, em que predomina o uso de
subordinao, e a abundncia de neologismos,
caracterstica que tambm est presente no regionalismo
universalizante de Guimares Rosa.
c) a tematizao da violncia praticada pelo menor
abandonado nas grandes cidades, aspecto presente na
literatura brasileira desde o incio do sculo XX.
d) uma linguagem marcada por ndices de oralidade, trao
valorizado tambm pelos modernistas da primeira
gerao.
e) a linguagem regionalista do personagem e o
experimentalismo esttico do narrador, que refletem a
principal tendncia estilstica da prosa realista brasileira do
sculo XIX.
36) (PUC - PR-2007) O conto A felicidade clandestina
narra um episdio de crueldade entre adolescentes. O
motivo o emprstimo de um livro de Monteiro Lobato.
Assinale a alternativa que contm a resposta correta para
qualificar a situao narrada.
a) trata da ofegante espera do livro prometido.
b) Trata de um episdio sobre emprstimo de livros numa
biblioteca.
c) trata da gratuidade da opresso de uma adolescente
sobre a outra.
d) trata da soluo mgica representada pela me de uma
das personagens.
e) trata de personagens neurotizadas pela falta de leitura.
37) (PUC-SP-2005) De Vestido de Noiva, pea de teatro de
Nelson Rodrigues, considerando o tema desenvolvido,
NO se pode dizer que aborda
a) o passado e o destino de Alade por meio de suas
lembranas desregradas.
b) o delrio de Alade caracterizado pela desordem da
memria e confuso entre a realidade e o sonho.
c) o mistrio da imaginao e da crise subconsciente
identificada na superposio das figuras de Alade e de
Madame Clessi.
d) o embate entre Alade, com suas obsesses e Lcia, a
mulher-de-vu, antagonista e um dos mveis da ao.
e) a vida passada de Alade revelada no casual achado de
um velho dirio e de um mao de fotografias
38) (PUC-SP-2006) Nelson Rodrigues escreveu Vestido de
Noiva e este texto acabou sendo considerado a grande
renovao da dramaturgia brasileira contempornea. O
que d originalidade e peso ao texto deste autor e
sustenta o interesse da pea
a) o esquema narrativo simples, ou seja, o desastre, a
tentativa de salvar a protagonista Alade,
conseqente morte.
b) o diagnstico de uma realidade social terrvel,
protagonizada pela instituio familiar, cujas
deformaes so provocadas fundamentalmente por
atitudes repressivas.
c) o uso de diferentes planos para narrar os
acontecimentos que do corpo ao texto, quais sejam o da
memria, o da realidade e o da alucinao.
d) o encontro imaginrio entre Alade e Madame Clessi,
simbolizado nos conflitos sexuais e nas
fantasias romnticas de um amor entre uma prostituta e
um adolescente.
e) a absoluta independncia entre os vrios planos da
pea, justificada pela presena marcante da realidade que
proporciona concluso para a intriga.
39) (UECE-2002) HERANA
- Vamos brincar de Brasil?
Mas sou eu quem manda
Quero morar numa casa grande
... Comeou desse jeito a nossa histria.
Negro fez papel de sombra.
E foram chegando soldados e frades
Trouxeram as leis e os Dez-Mandamentos
Jabuti perguntou:
- Ora s isso?
Depois vieram as mulheres do prximo
Vieram imigrantes com alma a retalho
Brasil subiu at o 10 andar
Litoral riu com os motores
Subrbio confraternizou com a cidade
Negro coou piano e fez msica
15 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Vira-bosta mudou de vida
Maitacas se instalaram no alto dos galhos
No interior
o Brasil continua desconfiado
A serra morde as carretas
Povo puxa bendito pra vir chuva
Nas estradas vazias
cruzes sem nome marcam casos de morte
As vinganas continuam
Famlias se entredevoram nas tocaias
H noites de reza e cata-piolho
Nas bandas do cemitrio
Cachorro magro sem dono uiva sozinho
De vez em quando
a mula-sem-cabea sobe a serra
ver o Brasil como vai
Raul Bopp
No poema Herana,
a) revelam-se as influncias dos povos que deram origem
ao brasileiro
b) superestima-se a voz do colonizador portugus
c) minimiza-se a importncia do negro na formao do
povo brasileiro
d) subestima-se a influncia do ndio em nossa cultura
40) (UECE-2002) HERANA
- Vamos brincar de Brasil?
Mas sou eu quem manda
Quero morar numa casa grande
... Comeou desse jeito a nossa histria.
Negro fez papel de sombra.
E foram chegando soldados e frades
Trouxeram as leis e os Dez-Mandamentos
Jabuti perguntou:
- Ora s isso?
Depois vieram as mulheres do prximo
Vieram imigrantes com alma a retalho
Brasil subiu at o 10 andar
Litoral riu com os motores
Subrbio confraternizou com a cidade
Negro coou piano e fez msica
Vira-bosta mudou de vida
Maitacas se instalaram no alto dos galhos
No interior
o Brasil continua desconfiado
A serra morde as carretas
Povo puxa bendito pra vir chuva
Nas estradas vazias
cruzes sem nome marcam casos de morte
As vinganas continuam
Famlias se entredevoram nas tocaias
H noites de reza e cata-piolho
Nas bandas do cemitrio
Cachorro magro sem dono uiva sozinho
De vez em quando
a mula-sem-cabea sobe a serra
ver o Brasil como vai
Raul Bopp
O cotejo das duas partes do texto sugere-nos, como
idia(s) bsica(s) do poema,
I. a diversidade cultural brasileira
II. a precariedade da cultura brasileira
III. a permanncia da tradio na cultura brasileira
correto o que se afirma
a) apenas em I
b) apenas em III
c) em I e II
d) em I e III
41) (UECE-2002) HERANA
- Vamos brincar de Brasil?
Mas sou eu quem manda
Quero morar numa casa grande
... Comeou desse jeito a nossa histria.
Negro fez papel de sombra.
E foram chegando soldados e frades
Trouxeram as leis e os Dez-Mandamentos
Jabuti perguntou:
- Ora s isso?
Depois vieram as mulheres do prximo
Vieram imigrantes com alma a retalho
Brasil subiu at o 10 andar
Litoral riu com os motores
Subrbio confraternizou com a cidade
Negro coou piano e fez msica
16 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Vira-bosta mudou de vida
Maitacas se instalaram no alto dos galhos
No interior
o Brasil continua desconfiado
A serra morde as carretas
Povo puxa bendito pra vir chuva
Nas estradas vazias
cruzes sem nome marcam casos de morte
As vinganas continuam
Famlias se entredevoram nas tocaias
H noites de reza e cata-piolho
Nas bandas do cemitrio
Cachorro magro sem dono uiva sozinho
De vez em quando
a mula-sem-cabea sobe a serra
ver o Brasil como vai
Raul Bopp
Ao dizer que soldados e frades Trouxeram as leis e os Dez-
Mandamentos em vez de dizer que eles trouxeram a
justia ou seu cdigo de direito, e a religio crist ou
o Cristianismo, o poeta enfatiza, por processo
metonmico,
a) o carter de autoritarismo e intransigncia da
colonizao
b) a retido de carter e a religiosidade do colonizador
c) as diferenas culturais entre colonizador e colonizado
d) a civilizao transplantada para o Novo Mundo
42) (UECE-2002) HERANA
- Vamos brincar de Brasil?
Mas sou eu quem manda
Quero morar numa casa grande
... Comeou desse jeito a nossa histria.
Negro fez papel de sombra.
E foram chegando soldados e frades
Trouxeram as leis e os Dez-Mandamentos
Jabuti perguntou:
- Ora s isso?
Depois vieram as mulheres do prximo
Vieram imigrantes com alma a retalho
Brasil subiu at o 10 andar
Litoral riu com os motores
Subrbio confraternizou com a cidade
Negro coou piano e fez msica
Vira-bosta mudou de vida
Maitacas se instalaram no alto dos galhos
No interior
o Brasil continua desconfiado
A serra morde as carretas
Povo puxa bendito pra vir chuva
Nas estradas vazias
cruzes sem nome marcam casos de morte
As vinganas continuam
Famlias se entredevoram nas tocaias
H noites de reza e cata-piolho
Nas bandas do cemitrio
Cachorro magro sem dono uiva sozinho
De vez em quando
a mula-sem-cabea sobe a serra
ver o Brasil como vai
Raul Bopp
A locuo verbal foram chegando empresta ao da
chegada dos soldados e dos frades um sentido de
a) permanncia
b) iteratividade
c) continuidade
d) trmino
43) (UECE-2002) HERANA
- Vamos brincar de Brasil?
Mas sou eu quem manda
Quero morar numa casa grande
... Comeou desse jeito a nossa histria.
Negro fez papel de sombra.
E foram chegando soldados e frades
Trouxeram as leis e os Dez-Mandamentos
Jabuti perguntou:
- Ora s isso?
Depois vieram as mulheres do prximo
Vieram imigrantes com alma a retalho
Brasil subiu at o 10 andar
Litoral riu com os motores
Subrbio confraternizou com a cidade
Negro coou piano e fez msica
17 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Vira-bosta mudou de vida
Maitacas se instalaram no alto dos galhos
No interior
o Brasil continua desconfiado
A serra morde as carretas
Povo puxa bendito pra vir chuva
Nas estradas vazias
cruzes sem nome marcam casos de morte
As vinganas continuam
Famlias se entredevoram nas tocaias
H noites de reza e cata-piolho
Nas bandas do cemitrio
Cachorro magro sem dono uiva sozinho
De vez em quando
a mula-sem-cabea sobe a serra
ver o Brasil como vai
Raul Bopp
Considere as variadas acepes dicionarizadas do
substantivo jabuti: 1. um tipo de rptil de carapaa alta; 2.
denominao de uma tribo indgena brasileira - a tribo dos
jabutis; 3. heri invencvel das histrias indgenas do
extremo norte, cheio de astcia e habilidade; 4. um tipo de
rvore; 5. engenho rudimentar para descaroar algodo.
Pode-se dizer que, ao compor os versos Jabuti perguntou:
/ - Ora s isso? , o poeta consegue
I. indicar, por processo metonmico, todos os ndios
brasileiros
II. sugerir a resistncia dos ndios colonizao
III. sugerir, por meio de uma reao da natureza, a rejeio
cultura do colonizador
correto o que se afirma
a) apenas em I
b) em I e II
c) apenas em II
d) em I, II e III
44) (UEL-2006) Conto ltimo Aviso, de Dalton Trevisan
(1925 - ), presente em O vampiro de Curitiba (1965).
Duas da tarde, Nelsinho viu a fulana descer do nibus.
Na esquina o tal Mcio, com quem trocou olhares. Entrou
no cinema, o sujeito atrs.
Apagada a luz, sentaram-se na ltima fila, a conversar em
voz baixa. De sua cadeira Nelsinho no os podia ouvir.
Certo que no prestavam ateno ao filme. No meio da
sesso, Mcio levantou-se e saiu.
O heri pediu licena, sentou-se ao lado, precisava falar
com ela.
- Est louco? Sabe que sou casada.
Por ele no fazia diferena.
- Olhe que chamo o guarda.
- A, safadinha, pensa que no vi?
- No tem nada com minha vida.
- Eu no. Teu marido pode ter.
- Se disser alguma coisa, conto que me perseguiu.
- Isso velho. De voc eu sei coisas do arco-da-velha.
Ofendida, Odete ergueu-se e, subindo a escada, foi para o
balco. Minutos depois, o rapaz surgiu ao lado.
- Como ? Posso falar com voc? Sabia que teu marido tem
amante? Sabia que eles se encontram noite?
Ainda no sabe, no ? J vi os dois juntinhos em tantos
lugares. Sei que ele pouco demora em casa. Trata voc aos
gritos quando lhe pede dinheiro. Foi seduzido por essa
tipa. Me di o corao ver voc desprezada. a nica de
quem gostei na vida. Tire a mscara dessa sem-vergonha.
Tambm casada. Me de filhos, quem sabe do teu
marido... O homem dela viaja muito. Na sua ausncia, ela
se mostra o que : uma sirigaita. Pode que acontea uma
tragdia quando o marido volte e algum conte.
bobagem brigar com o teu. Sabe como so os homens. So
fracos - no resistem a um palminho de cara bonita.
Cuidado com essa aventureira, que se entrega a ele de
olho fechado. Quer um conselho,
Odete? Olhe, voc d o desprezo. Faa com ele o mesmo
que lhe faz.
Sem responder, a bela foi para a platia, seguida de
Nelsinho. Ameaou contar ao marido assim que chegasse.
Ora, se falasse qualquer coisa, no a surpreendera com
outro? Odete saiu furiosa, esqueceu at a sombrinha. Em
casa, descreveu o incidente sua velha me:
- No se pode ir sozinha ao cinema.
Aconselhada pela velha a nada revelar ao marido. Muito
nervoso, alguma desgraa. Odete insistia, olhos
sonhadores, na loucura do rapaz. Intrig-la com o marido
no era vingana de um doente de paixo?
quela hora o nosso heri telefonava para o marido:
- Boa tarde, seu Artur. Como foi de viagem? Viajar bom
- quando a mulher fica em casa.
- Que histria essa? Quem est falando? No estou
entendendo.
- Aqui um amigo. O nome no interessa. O caso to
delicado. No sei o que diga. Por onde comece. O marido
viaja, a mulher fica de namoro. O senhor merece essa
falseta? Vou contar o que sei... A sua mulher... Ela tem um
amante!
- Canalha! Dou um tiro na boca. Voc prova, seu patife?
Ento, diga. Quem que anda com minha mulher?
- Um tal doutor Mcio.
No sbito silncio, e antes que o palavro explodisse,
Nelsinho desligou. Da folha branca alisou as rugas.
18 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Grande sorriso at o fim da carta, em letra de forma, com
a mo esquerda:
Dr. Mcio
Grande filho da me
Previno-te cuidado! Cuidado!
De hoje em diante vou te perseguir
J no fiz asneira porque no quis manchar o meu nome
De hoje em diante farei meus pensamentos
J considerei tua mulher e teus filhos
Mas como voc covarde s merece uma bala na cabea
E te previno pense bem na tua mulher e teus filhos
E outros inocentes que andam sofrendo no mundo por tua
causa
Covarde sem-vergonha descarado
Pense no futuro do teu lar porque tua vida curta
Se continuar tirando a honra das mulheres casadas
Voc tambm casado e anda corneando os maridos
No s com a minha tem muitas outras
No pense que eu sou um covarde como voc
Tenho coragem para tirar teu miolo fora
Talvez voc no alcance o Ano Novo
Farei uma limpeza em Curitiba
Eu s desejo a vingana
Derramarei o sangue deste desgraado na rua
Cuide do teu plo
o ltimo aviso.
(TREVISAN, Dalton. ltimo aviso. In: O vampiro de Curitiba.
Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 30-33.)
Analise a frase a seguir, presente no primeiro pargrafo, e
assinale a alternativa correta.
Entrou no cinema, o sujeito atrs.
a) Na frase, o verbo refere-se a Nelsinho; o sujeito
Mcio.
b) Na frase, o verbo refere-se a Mcio; o sujeito
Nelsinho.
c) Na frase, o verbo refere-se a Odete; o sujeito Mcio.
d) Na frase, o verbo refere-se a Odete; o sujeito
Nelsinho.
e) Na frase, o verbo refere-se a Mcio; o sujeito
algum annimo.
45) (UEL-2006) Conto ltimo Aviso, de Dalton Trevisan
(1925 - ), presente em O vampiro de Curitiba (1965).
Duas da tarde, Nelsinho viu a fulana descer do nibus.
Na esquina o tal Mcio, com quem trocou olhares. Entrou
no cinema, o sujeito atrs.
Apagada a luz, sentaram-se na ltima fila, a conversar em
voz baixa. De sua cadeira Nelsinho no os podia ouvir.
Certo que no prestavam ateno ao filme. No meio da
sesso, Mcio levantou-se e saiu.
O heri pediu licena, sentou-se ao lado, precisava falar
com ela.
- Est louco? Sabe que sou casada.
Por ele no fazia diferena.
- Olhe que chamo o guarda.
- A, safadinha, pensa que no vi?
- No tem nada com minha vida.
- Eu no. Teu marido pode ter.
- Se disser alguma coisa, conto que me perseguiu.
- Isso velho. De voc eu sei coisas do arco-da-velha.
Ofendida, Odete ergueu-se e, subindo a escada, foi para o
balco. Minutos depois, o rapaz surgiu ao lado.
- Como ? Posso falar com voc? Sabia que teu marido tem
amante? Sabia que eles se encontram noite?
Ainda no sabe, no ? J vi os dois juntinhos em tantos
lugares. Sei que ele pouco demora em casa. Trata voc aos
gritos quando lhe pede dinheiro. Foi seduzido por essa
tipa. Me di o corao ver voc desprezada. a nica de
quem gostei na vida. Tire a mscara dessa sem-vergonha.
Tambm casada. Me de filhos, quem sabe do teu
marido... O homem dela viaja muito. Na sua ausncia, ela
se mostra o que : uma sirigaita. Pode que acontea uma
tragdia quando o marido volte e algum conte.
bobagem brigar com o teu. Sabe como so os homens. So
fracos - no resistem a um palminho de cara bonita.
Cuidado com essa aventureira, que se entrega a ele de
olho fechado. Quer um conselho,
Odete? Olhe, voc d o desprezo. Faa com ele o mesmo
que lhe faz.
Sem responder, a bela foi para a platia, seguida de
Nelsinho. Ameaou contar ao marido assim que chegasse.
Ora, se falasse qualquer coisa, no a surpreendera com
outro? Odete saiu furiosa, esqueceu at a sombrinha. Em
casa, descreveu o incidente sua velha me:
- No se pode ir sozinha ao cinema.
Aconselhada pela velha a nada revelar ao marido. Muito
nervoso, alguma desgraa. Odete insistia, olhos
sonhadores, na loucura do rapaz. Intrig-la com o marido
no era vingana de um doente de paixo?
quela hora o nosso heri telefonava para o marido:
- Boa tarde, seu Artur. Como foi de viagem? Viajar bom
- quando a mulher fica em casa.
- Que histria essa? Quem est falando? No estou
entendendo.
- Aqui um amigo. O nome no interessa. O caso to
delicado. No sei o que diga. Por onde comece. O marido
viaja, a mulher fica de namoro. O senhor merece essa
falseta? Vou contar o que sei... A sua mulher... Ela tem um
amante!
- Canalha! Dou um tiro na boca. Voc prova, seu patife?
Ento, diga. Quem que anda com minha mulher?
- Um tal doutor Mcio.
No sbito silncio, e antes que o palavro explodisse,
Nelsinho desligou. Da folha branca alisou as rugas.
Grande sorriso at o fim da carta, em letra de forma, com
a mo esquerda:
Dr. Mcio
Grande filho da me
Previno-te cuidado! Cuidado!
19 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
De hoje em diante vou te perseguir
J no fiz asneira porque no quis manchar o meu nome
De hoje em diante farei meus pensamentos
J considerei tua mulher e teus filhos
Mas como voc covarde s merece uma bala na cabea
E te previno pense bem na tua mulher e teus filhos
E outros inocentes que andam sofrendo no mundo por tua
causa
Covarde sem-vergonha descarado
Pense no futuro do teu lar porque tua vida curta
Se continuar tirando a honra das mulheres casadas
Voc tambm casado e anda corneando os maridos
No s com a minha tem muitas outras
No pense que eu sou um covarde como voc
Tenho coragem para tirar teu miolo fora
Talvez voc no alcance o Ano Novo
Farei uma limpeza em Curitiba
Eu s desejo a vingana
Derramarei o sangue deste desgraado na rua
Cuide do teu plo
o ltimo aviso.
(TREVISAN, Dalton. ltimo aviso. In: O vampiro de Curitiba.
Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 30-33.)
Analise, a seguir, as frases presentes no conto e assinale a
alternativa correta. Ameaou contar ao marido assim que
chegasse. Ora, se falasse qualquer coisa, no a
surpreendera com outro?.
a) Nelsinho o sujeito de ameaou; o marido Artur;
Odete o sujeito de falasse; Nelsinho o sujeito de
surpreendera; e o outro Mcio.
b) Odete o sujeito de ameaou; o marido Artur;
Nelsinho o sujeito de falasse; a refere-se a Odete; e o
outro Nelsinho.
c) Odete o sujeito de ameaou; o marido Artur;
Odete o sujeito de falasse; a referese a Odete; e o
outro Mcio.
d) Nelsinho o sujeito de ameaou; o marido no
nomeado; Odete o sujeito de falasse; a referese a
Odete; e o outro algum annimo.
e) Odete o sujeito de ameaou; o marido annimo;
Nelsinho o sujeito de falasse; o complemento omitido
de contar a perseguio; e o outro Mcio.
46) (UEL-2006) Conto ltimo Aviso, de Dalton Trevisan
(1925 - ), presente em O vampiro de Curitiba (1965).
Duas da tarde, Nelsinho viu a fulana descer do nibus.
Na esquina o tal Mcio, com quem trocou olhares. Entrou
no cinema, o sujeito atrs.
Apagada a luz, sentaram-se na ltima fila, a conversar em
voz baixa. De sua cadeira Nelsinho no os podia ouvir.
Certo que no prestavam ateno ao filme. No meio da
sesso, Mcio levantou-se e saiu.
O heri pediu licena, sentou-se ao lado, precisava falar
com ela.
- Est louco? Sabe que sou casada.
Por ele no fazia diferena.
- Olhe que chamo o guarda.
- A, safadinha, pensa que no vi?
- No tem nada com minha vida.
- Eu no. Teu marido pode ter.
- Se disser alguma coisa, conto que me perseguiu.
- Isso velho. De voc eu sei coisas do arco-da-velha.
Ofendida, Odete ergueu-se e, subindo a escada, foi para o
balco. Minutos depois, o rapaz surgiu ao lado.
- Como ? Posso falar com voc? Sabia que teu marido tem
amante? Sabia que eles se encontram noite?
Ainda no sabe, no ? J vi os dois juntinhos em tantos
lugares. Sei que ele pouco demora em casa. Trata voc aos
gritos quando lhe pede dinheiro. Foi seduzido por essa
tipa. Me di o corao ver voc desprezada. a nica de
quem gostei na vida. Tire a mscara dessa sem-vergonha.
Tambm casada. Me de filhos, quem sabe do teu
marido... O homem dela viaja muito. Na sua ausncia, ela
se mostra o que : uma sirigaita. Pode que acontea uma
tragdia quando o marido volte e algum conte.
bobagem brigar com o teu. Sabe como so os homens. So
fracos - no resistem a um palminho de cara bonita.
Cuidado com essa aventureira, que se entrega a ele de
olho fechado. Quer um conselho,
Odete? Olhe, voc d o desprezo. Faa com ele o mesmo
que lhe faz.
Sem responder, a bela foi para a platia, seguida de
Nelsinho. Ameaou contar ao marido assim que chegasse.
Ora, se falasse qualquer coisa, no a surpreendera com
outro? Odete saiu furiosa, esqueceu at a sombrinha. Em
casa, descreveu o incidente sua velha me:
- No se pode ir sozinha ao cinema.
Aconselhada pela velha a nada revelar ao marido. Muito
nervoso, alguma desgraa. Odete insistia, olhos
sonhadores, na loucura do rapaz. Intrig-la com o marido
no era vingana de um doente de paixo?
quela hora o nosso heri telefonava para o marido:
- Boa tarde, seu Artur. Como foi de viagem? Viajar bom
- quando a mulher fica em casa.
- Que histria essa? Quem est falando? No estou
entendendo.
- Aqui um amigo. O nome no interessa. O caso to
delicado. No sei o que diga. Por onde comece. O marido
viaja, a mulher fica de namoro. O senhor merece essa
falseta? Vou contar o que sei... A sua mulher... Ela tem um
amante!
- Canalha! Dou um tiro na boca. Voc prova, seu patife?
Ento, diga. Quem que anda com minha mulher?
- Um tal doutor Mcio.
No sbito silncio, e antes que o palavro explodisse,
Nelsinho desligou. Da folha branca alisou as rugas.
Grande sorriso at o fim da carta, em letra de forma, com
a mo esquerda:
20 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Dr. Mcio
Grande filho da me
Previno-te cuidado! Cuidado!
De hoje em diante vou te perseguir
J no fiz asneira porque no quis manchar o meu nome
De hoje em diante farei meus pensamentos
J considerei tua mulher e teus filhos
Mas como voc covarde s merece uma bala na cabea
E te previno pense bem na tua mulher e teus filhos
E outros inocentes que andam sofrendo no mundo por tua
causa
Covarde sem-vergonha descarado
Pense no futuro do teu lar porque tua vida curta
Se continuar tirando a honra das mulheres casadas
Voc tambm casado e anda corneando os maridos
No s com a minha tem muitas outras
No pense que eu sou um covarde como voc
Tenho coragem para tirar teu miolo fora
Talvez voc no alcance o Ano Novo
Farei uma limpeza em Curitiba
Eu s desejo a vingana
Derramarei o sangue deste desgraado na rua
Cuide do teu plo
o ltimo aviso.
(TREVISAN, Dalton. ltimo aviso. In: O vampiro de Curitiba.
Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 30-33.)
Assinale a alternativa cuja personagem apresentada a
nica a quem no se faz referncia de uma traio a seu
cnjuge.
a) Mcio.
b) Odete.
c) Artur.
d) A amante de Artur.
e) A esposa de Mcio.
47) (UEL-2006) Conto ltimo Aviso, de Dalton Trevisan
(1925 - ), presente em O vampiro de Curitiba (1965).
Duas da tarde, Nelsinho viu a fulana descer do nibus.
Na esquina o tal Mcio, com quem trocou olhares. Entrou
no cinema, o sujeito atrs.
Apagada a luz, sentaram-se na ltima fila, a conversar em
voz baixa. De sua cadeira Nelsinho no os podia ouvir.
Certo que no prestavam ateno ao filme. No meio da
sesso, Mcio levantou-se e saiu.
O heri pediu licena, sentou-se ao lado, precisava falar
com ela.
- Est louco? Sabe que sou casada.
Por ele no fazia diferena.
- Olhe que chamo o guarda.
- A, safadinha, pensa que no vi?
- No tem nada com minha vida.
- Eu no. Teu marido pode ter.
- Se disser alguma coisa, conto que me perseguiu.
- Isso velho. De voc eu sei coisas do arco-da-velha.
Ofendida, Odete ergueu-se e, subindo a escada, foi para o
balco. Minutos depois, o rapaz surgiu ao lado.
- Como ? Posso falar com voc? Sabia que teu marido tem
amante? Sabia que eles se encontram noite?
Ainda no sabe, no ? J vi os dois juntinhos em tantos
lugares. Sei que ele pouco demora em casa. Trata voc aos
gritos quando lhe pede dinheiro. Foi seduzido por essa
tipa. Me di o corao ver voc desprezada. a nica de
quem gostei na vida. Tire a mscara dessa sem-vergonha.
Tambm casada. Me de filhos, quem sabe do teu
marido... O homem dela viaja muito. Na sua ausncia, ela
se mostra o que : uma sirigaita. Pode que acontea uma
tragdia quando o marido volte e algum conte.
bobagem brigar com o teu. Sabe como so os homens. So
fracos - no resistem a um palminho de cara bonita.
Cuidado com essa aventureira, que se entrega a ele de
olho fechado. Quer um conselho,
Odete? Olhe, voc d o desprezo. Faa com ele o mesmo
que lhe faz.
Sem responder, a bela foi para a platia, seguida de
Nelsinho. Ameaou contar ao marido assim que chegasse.
Ora, se falasse qualquer coisa, no a surpreendera com
outro? Odete saiu furiosa, esqueceu at a sombrinha. Em
casa, descreveu o incidente sua velha me:
- No se pode ir sozinha ao cinema.
Aconselhada pela velha a nada revelar ao marido. Muito
nervoso, alguma desgraa. Odete insistia, olhos
sonhadores, na loucura do rapaz. Intrig-la com o marido
no era vingana de um doente de paixo?
quela hora o nosso heri telefonava para o marido:
- Boa tarde, seu Artur. Como foi de viagem? Viajar bom
- quando a mulher fica em casa.
- Que histria essa? Quem est falando? No estou
entendendo.
- Aqui um amigo. O nome no interessa. O caso to
delicado. No sei o que diga. Por onde comece. O marido
viaja, a mulher fica de namoro. O senhor merece essa
falseta? Vou contar o que sei... A sua mulher... Ela tem um
amante!
- Canalha! Dou um tiro na boca. Voc prova, seu patife?
Ento, diga. Quem que anda com minha mulher?
- Um tal doutor Mcio.
No sbito silncio, e antes que o palavro explodisse,
Nelsinho desligou. Da folha branca alisou as rugas.
Grande sorriso at o fim da carta, em letra de forma, com
a mo esquerda:
Dr. Mcio
Grande filho da me
Previno-te cuidado! Cuidado!
De hoje em diante vou te perseguir
J no fiz asneira porque no quis manchar o meu nome
De hoje em diante farei meus pensamentos
J considerei tua mulher e teus filhos
Mas como voc covarde s merece uma bala na cabea
E te previno pense bem na tua mulher e teus filhos
21 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
E outros inocentes que andam sofrendo no mundo por tua
causa
Covarde sem-vergonha descarado
Pense no futuro do teu lar porque tua vida curta
Se continuar tirando a honra das mulheres casadas
Voc tambm casado e anda corneando os maridos
No s com a minha tem muitas outras
No pense que eu sou um covarde como voc
Tenho coragem para tirar teu miolo fora
Talvez voc no alcance o Ano Novo
Farei uma limpeza em Curitiba
Eu s desejo a vingana
Derramarei o sangue deste desgraado na rua
Cuide do teu plo
o ltimo aviso.
(TREVISAN, Dalton. ltimo aviso. In: O vampiro de Curitiba.
Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 30-33.)
Com base no conto ltimo aviso e no conjunto de contos
de O vampiro de Curitiba, considere as afirmativas a
seguir.
I. A presena de Nelsinho ostensiva neste conto e
em outros, na condio de uma personagem que circula
pela cidade em busca de se aproveitar de mulheres.
II. O uso de uma linguagem agressiva aparece neste
conto e em outros como demonstrao de relaes
interpessoais marcadas pela deteriorao dos afetos.
III. A narrao de cenas com tonalidades erticas
um recurso que neste conto no aparece com o mesmo
detalhamento como em outros contos em que h
referncias a seios desnudos e beijos ardentes em
episdios com a participao de Nelsinho.
IV. A violncia prometida neste conto, atravs da
ameaa de morte a tiros presente na carta, concretiza-se
em outros contos quando o protagonista assume a
condio de justiceiro, assassinando mulheres e homens
rivais.
Esto corretas apenas as afirmativas:
a) I e II.
b) II e IV.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) I, III e IV.
48) (UEL-2006) Conto ltimo Aviso, de Dalton Trevisan
(1925 - ), presente em O vampiro de Curitiba (1965).
Duas da tarde, Nelsinho viu a fulana descer do nibus.
Na esquina o tal Mcio, com quem trocou olhares. Entrou
no cinema, o sujeito atrs.
Apagada a luz, sentaram-se na ltima fila, a conversar em
voz baixa. De sua cadeira Nelsinho no os podia ouvir.
Certo que no prestavam ateno ao filme. No meio da
sesso, Mcio levantou-se e saiu.
O heri pediu licena, sentou-se ao lado, precisava falar
com ela.
- Est louco? Sabe que sou casada.
Por ele no fazia diferena.
- Olhe que chamo o guarda.
- A, safadinha, pensa que no vi?
- No tem nada com minha vida.
- Eu no. Teu marido pode ter.
- Se disser alguma coisa, conto que me perseguiu.
- Isso velho. De voc eu sei coisas do arco-da-velha.
Ofendida, Odete ergueu-se e, subindo a escada, foi para o
balco. Minutos depois, o rapaz surgiu ao lado.
- Como ? Posso falar com voc? Sabia que teu marido tem
amante? Sabia que eles se encontram noite?
Ainda no sabe, no ? J vi os dois juntinhos em tantos
lugares. Sei que ele pouco demora em casa. Trata voc aos
gritos quando lhe pede dinheiro. Foi seduzido por essa
tipa. Me di o corao ver voc desprezada. a nica de
quem gostei na vida. Tire a mscara dessa sem-vergonha.
Tambm casada. Me de filhos, quem sabe do teu
marido... O homem dela viaja muito. Na sua ausncia, ela
se mostra o que : uma sirigaita. Pode que acontea uma
tragdia quando o marido volte e algum conte.
bobagem brigar com o teu. Sabe como so os homens. So
fracos - no resistem a um palminho de cara bonita.
Cuidado com essa aventureira, que se entrega a ele de
olho fechado. Quer um conselho,
Odete? Olhe, voc d o desprezo. Faa com ele o mesmo
que lhe faz.
Sem responder, a bela foi para a platia, seguida de
Nelsinho. Ameaou contar ao marido assim que chegasse.
Ora, se falasse qualquer coisa, no a surpreendera com
outro? Odete saiu furiosa, esqueceu at a sombrinha. Em
casa, descreveu o incidente sua velha me:
- No se pode ir sozinha ao cinema.
Aconselhada pela velha a nada revelar ao marido. Muito
nervoso, alguma desgraa. Odete insistia, olhos
sonhadores, na loucura do rapaz. Intrig-la com o marido
no era vingana de um doente de paixo?
quela hora o nosso heri telefonava para o marido:
- Boa tarde, seu Artur. Como foi de viagem? Viajar bom
- quando a mulher fica em casa.
- Que histria essa? Quem est falando? No estou
entendendo.
- Aqui um amigo. O nome no interessa. O caso to
delicado. No sei o que diga. Por onde comece. O marido
viaja, a mulher fica de namoro. O senhor merece essa
falseta? Vou contar o que sei... A sua mulher... Ela tem um
amante!
- Canalha! Dou um tiro na boca. Voc prova, seu patife?
Ento, diga. Quem que anda com minha mulher?
- Um tal doutor Mcio.
No sbito silncio, e antes que o palavro explodisse,
Nelsinho desligou. Da folha branca alisou as rugas.
Grande sorriso at o fim da carta, em letra de forma, com
a mo esquerda:
22 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Dr. Mcio
Grande filho da me
Previno-te cuidado! Cuidado!
De hoje em diante vou te perseguir
J no fiz asneira porque no quis manchar o meu nome
De hoje em diante farei meus pensamentos
J considerei tua mulher e teus filhos
Mas como voc covarde s merece uma bala na cabea
E te previno pense bem na tua mulher e teus filhos
E outros inocentes que andam sofrendo no mundo por tua
causa
Covarde sem-vergonha descarado
Pense no futuro do teu lar porque tua vida curta
Se continuar tirando a honra das mulheres casadas
Voc tambm casado e anda corneando os maridos
No s com a minha tem muitas outras
No pense que eu sou um covarde como voc
Tenho coragem para tirar teu miolo fora
Talvez voc no alcance o Ano Novo
Farei uma limpeza em Curitiba
Eu s desejo a vingana
Derramarei o sangue deste desgraado na rua
Cuide do teu plo
o ltimo aviso.
(TREVISAN, Dalton. ltimo aviso. In: O vampiro de Curitiba.
Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 30-33.)
Assinale a alternativa que explica corretamente a
referncia a Nelsinho como um heri.
a) A figura do heri e o uso desse termo sobressaem como
um recurso irnico para dar destaque caracterizao de
uma personagem que se diferencia das demais, tentando
pervert-las.
b) A caracterizao do protagonista como heri decorre de
uma estratgia narrativa que o apresenta como algum
imbudo de boas intenes para combater
comportamentos desajustados, ainda que atravs de
mtodos pouco ortodoxos.
c) A atuao do protagonista como algum que no tem
participao direta na rede de traies apresentada neste
conto e em outros justifica sua condio de heri, uma vez
que ele se distancia da degradao do amor.
d) A apresentao do protagonista como heri provoca um
descompasso com outras figuras hericas do romantismo
pela demonstrao de um comportamento vulgar, mas se
sustenta pela iniciativa de converter vtimas da decadncia
da sociedade.
e) A aluso ao protagonista como heri uma forma de
retratar comportamentos que diferem dos padres de
heri tradicionais, como a busca de obter vantagens e
prazeres num ambiente desprovido de valores romnticos
quanto ao amor e ao sexo.
49) (UEMG-2006) A respeito da obra O PIROTCNICO
ZACARIAS, de Murilo Rubio, S incorreto afirmar que
a) as epgrafes dos contos estabelecem uma relao de
dilogo com o contedo temtico dos mesmos.
b) os contos so marcados pela presena de personagens
cujas aes transitam entre situaes reais e situaes
estranhas, inusitadas, absurdas.
c) a metamorfose, ou seja, a transformao, a mudana
elemento constante no enredo dos contos, em geral.
d) a magia elemento paradoxal e, por isso, descartado no
desenvolvimento temtico dos contos, uma vez que retira
das personagens e das aes a aura do mistrio.
50) (UEMG-2006) Leia, a seguir, a epgrafe do conto O
Edifcio, que integra a obra O Pirotcnico Zacarias:
Chegar o dia em que os teus pardieiros
se transformaro em edifcios;
naquele dia ficars fora da lei.
- Miquias, VII, 11. -
Indique, abaixo, a alternativa cujo trecho se associa
diretamente a esta epgrafe.
a) Empolgado por um delirante contentamento, o
engenheiro distribua gratificaes, desfazia-se em
gentilezas com o pessoal, vagava pelas escadas,
debruava-se nas janelas, dava pulos (...)
b) Inquietante expectativa marcou a aproximao do
800. pavimento. (...) Homens e mulheres,
indiscriminadamente, se atracaram com ferocidade,
transformando o salo num amontoado de destroos.
Enquanto cadeiras e garrafas cortavam o ar, o engenheiro,
aflito, lutava para acalmar os nimos. Um objeto pesado
atingiu-o na cabea(...)
c) Para prolongar o sabor do triunfo, que o cansao
comeava solapar, ocorreu-lhe redigir um circunstanciado
relatrio aos diretores da Fundao, contando os
pormenores da vitria. Demonstraria tambm a
impossibilidade de surgir, no futuro, outras profecias que
pudessem embaraar o prosseguimento das obras.
d) A fim de estimular a camaradagem entre os que
lidavam na construo, desenvolviam-se aos domingos
alegres programas sociais. Devido a esse e outros fatores,
tudo corria tranqilamente, encaminhando-se a obra para
as etapas previstas.
51) (UEMG-2006) Todos os recursos narrativos da obra
Hilda Furaco esto adequadamente apontados nas
alternativas abaixo, EXCETO:
a) Interao autor-leitor
b) Uso da metalinguagem
c) Ausncia da verossimilhana
d) Presena da intertextualidade
23 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
52) (UEMG-2006) Considerando o contexto de poca
apresentado na obra Hilda Furaco, s correto afirmar
que
a) o relato centra-se, principalmente, no imaginrio do
autor, que recria ambiente e cenrio da sua infncia e
adolescncia, desde Santana dos Ferros, priorizando, neste
espao, a vida pacata e feliz do interior.
b) atravs da personagem central, o romance evoca a Belo
Horizonte dos anos 50 e 60, com seus costumes, hbitos,
aspectos polticos e sociais, cdigos morais e religiosos,
destacando, sobretudo, o embate entre a tradio e o
progresso.
c) a obra focaliza, prioritariamente, o contexto poltico e
social da Capital Mineira nos anos 50, enfatizando aspectos
do progresso e do crescimento populacional da cidade que
acabara de inaugurar em seus arredores a famosa Cidade
das Camlias.
d) o contexto central do romance gira em torno da questo
religiosa, tendo em vista os conflitos vivenciados por
religiosos que, semelhana de Frei Malthus, oscilavam
entre os apelos terrenos e msticos.
53) (UEMG-2006) Considerando os episdios narrados em
Hilda Furaco, assinale a alternativa em que NO se
associou corretamente o fragmento transcrito
personagem indicada nos parnteses.
a) ... diga-me, querida Dona Ivone, o que devo fazer no
transe em que me encontro. J pensei em morrer (...) A
verdade que, faltando apenas sete dias para meu
casamento, meu noivo foi acometido pelo chamado Mal
de Hilda, durante sua despedida de solteiro(...) (Bela B.)
b) (...) - afinal, ele no fez segredo disso - estava no
Convento dos Dominicanos degustando a gelia de
jabuticaba, pois teve uma noite de horrores em que
duvidou da existncia de Deus (...) (Frei Malthus)
c) Voltou ao sof, cruzou as pernas, mas s deixou
mostra os joelhos, seus inesquecveis joelhos; tinha um
jeito muito mineiro de falar uai , oc , c ; gostava
da expresso lero - e, rindo, abriu o livro de Moiss
Gikovate (...) (Hilda Furaco)
d) Eu ainda dormia em meu quarto na casa da Rua Cear
quando a vizinha do lado, a moa de olhos cinza que
apareceu no incio desta narrativa, veio dizer que havia
algum querendo falar com urgncia comigo em seu
telefone (...) (narrador-personagem)
54) (UEMG-2006) A respeito da estrutura e da linguagem
presentes na obra Jorge, um brasileiro, de Oswaldo Frana
Jnior, INCORRETO afirmar que
a) a narrativa no segue uma trajetria linear, permitindo a
digresso, atravs da qual os relatos transitam da situao
presente para situaes passadas.
b) o narrador adota uma postura de distanciamento diante
dos fatos, a fim de analisar a si prprio dentro do contexto
vivido.
c) a linguagem do romance apresenta fortes traos de
oralidade, estabelecendo um tom coloquial nos relatos e
comentrios do narrador que, para tanto, cria um
interlocutor.
d) o romance traz a marca da circularidade, uma vez que
tanto a fala inicial do narrador para seu interlocutor
quanto a cena apresentada se repetem ao final da
narrativa.
55) (UEMG-2006) Considerando o aspecto temtico da
viagem em Jorge, um brasileiro, s possvel afirmar que
a) o tema aborda, principalmente, as dificuldades do
homem comum diante das injustias contra ele praticadas
pelo poder poltico e econmico do pas.
b) o narrador se serve da obra para mostrar as dificuldades
do caminhoneiro em tempos de chuva, num pas em que
as estradas no oferecem condies de trfego.
c) a obra traz uma viso panormica do Brasil dos anos 50,
poca de transio para a modernidade, representada,
sobretudo, pela construo de Braslia.
d) a narrativa amplia o sentido do tema, na medida em que
o deslocamento espacial externo de Jorge oferece bases a
ele para outra viagem, em outra dimenso: a busca de si
mesmo.
56) (UEMG-2006) Em todas as alternativas, so pertinentes
os comentrios a respeito da trajetria de Jorge,
personagem central de Jorge, um brasileiro, EXCETO:
a) Jorge tem como patro o senhor Mrio, dono de uma
frota de caminhes e de postos de gasolina.
b) Jorge sai de Belo Horizonte, de nibus, rumo a
Caratinga-MG, com a misso de trazer para a Capital, no
prazo de uma semana, oito carretas carregadas de milho.
c) Em Dionsio-MG, j perto da Capital mineira, Jorge
reencontra Sandra, sua namorada que viera esper-lo
naquela pequena localidade.
d) A chegada a B.H. marca a decepo de Jorge, ao
perceber que o patro no valorizara sua lealdade e
esforo.
57) (UEMG-2006) Aponte a alternativa em que no se
relacionou adequadamente o ttulo da crnica ao
comentrio de seu respectivo contedo.
a) Em Feriados, o autor revela um sentimento de saudades
dos antigos feriados, que eram aguardados e envolvidos
numa aura de prestgio e encantamento.
b) Em Anncio de Joo Alves, o autor evoca um antigo
anncio de jornal para criticar os anncios de hoje -
destitudos da preciso dos termos, da graa e da
moderao no dizer as coisas.
24 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
c) Em Garbo: novidades, o cronista Drummond recria o
mito de Greta Garbo, famosa atriz do cinema nos anos 50,
contracenando com ela nas praias de Copacabana.
d) Em Assemblia Baiana, o autor, em tom de stira e
humorismo, conduz uma crtica poltica, focalizando,
principalmente, o contedo vazio e tedioso dos discursos
parlamentares.
58) (UEPB-2006) O Auto, jogo lingstico de origem
medieval, pea em que certas atitudes consideradas
pecaminosas eram questionadas atravs de uma carga
de humor, foi incorporado produo literria brasileira
(ou literatura feita no Brasil, como bem fez o padre Jos de
Anchieta com a sua escrita evangelizadora e moralstica),
de forma que, mesmo distante no tempo e no espao, este
tipo de texto alcana um vasto pblico, como o caso de O
auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Considerando
os fragmentos abaixo, marque a alternativa correta:
[...]
PADRE
, mas quem vai ficar engraado sou eu, benzendo o
cachorro.
Benzer motor fcil, todo mundo faz isso, mas benzer
cachorro?
JOO GRILO
, Chic, o padre tem razo. Quem vai ficar engraado
ele e
uma coisa benzer o motor do major Antnio de Morais e
outra
benzer o cachorro do major Antnio de Morais.
[...]
BISPO
Ento houve isso? Um cachorro enterrado em latim?
JOO GRILO
E ento? proibido?
BISPO
Se proibido? Deve ser, porque engraado demais para
no
ser. proibido! mais do que proibido! Cdigo Cannico,
Artigo 1627, pargrafo nico, letra k. Padre, o senhor vai
ser
suspenso
[...]
JOO GRILO
mesmo, uma vergonha. Um cachorro safado daquele se
atreve a deixar trs contos para o sacristo, quatro para o
padre
e seis para o bispo, demais.
[...]
BISPO
por isso que eu vivo dizendo que os animais tambm so
criaturas de Deus. Que animal interessante! Que
sentimento
nobre!
a) O Auto da Compadecida mantm relao direta com os
autos medievais a partir somente do tipo formal de texto -
auto - porque o contedo a ser desenvolvido neste tipo de
literatura varia no tempo e no espao de forma que um
escritor contemporneo no poderia recuperar nem
atualizar esta forma textual.
b) Os vcios dos homens e da sociedade so apenas uma
forma bem humorada de perceber o mundo, de entreter a
razo, de valer o texto por si mesmo, independente de
aluso ou denncia a que faa referncia porque o riso, e
somente o riso, o que est em primeiro plano neste tipo
de texto.
c) O Auto da Compadecida no faz nenhuma aluso ao
teatro de Gil Vicente porque dista deste no tempo e no
espao, logo os vcios dos homens e da sociedade no
poderiam ser os mesmos. O texto de Ariano Suassuna
apenas uma pardia dos autos medievais.
d) O Auto da Compadecida no tem carter moralstico
porque a literatura de fico nunca se props a discutir
aspectos relacionados a contextos scio-culturais, uma vez
que se volta para o plano esttico, desconsiderando
qualquer aluso a prticas culturais, a papis sociais e
outros.
e) Os vcios dos homens e da sociedade esto em todas as
peas de Gil Vicente, representados por frades libertinos,
magistrados corruptos, mulheres adlteras [...] tipos que
proliferam quando as sociedades esquecem os valores
ticos e morais (Joo Domingues Maia), caracterstica
observada na pea de Ariano Suassuna O Auto da
Compadecida.
59) (UEPB-2006) A literatura muitas vezes entendida como
tambm espao da confisso proporciona ao leitor
possibilidades de questionamentos de idias criadas,
veiculadas e perpetuadas nas vrias prticas scio-
culturais. A literatura contempornea se apropria dessa
possibilidade de questionamento e investe contra
determinadas prticas sociais s vezes abusivas
(inferiorizao de sujeitos diante de outros, negao dos
diferentes), se compararmos tais prticas aos nveis de
dilogos estabelecidos entre as sociedades e seus
membros hoje. Um dos grandes temas que percorre a
literatura brasileira contempornea diz respeito s formas
como homens e mulheres exercem papis no corpus social
em que se inserem. No poema Samba-Cano, Ana Cristina
Cesar constri um eu-lrico que fala a partir do ponto de
vista feminino. Ariano Suassuna descreve ao longo de seu
auto a imagem da mulher do padeiro. Considerando estes
dois textos como produes da literatura brasileira
contempornea (embora haja uma distncia temporal em
relao aos textos em questo), pode-se dizer que:
I. Os dois sujeitos femininos relacionados no
enunciado acima mantm comportamentos culturais
distintos no corpus social a que dizem respeito porque
esto distantes um do outro quanto ao fator tempo.
25 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
II. Ariano Suassuna representa em O Auto da
Compadecida uma mulher que s rebelde (sexualmente
ela infiel ao marido) porque ainda presa a regras rgidas
que determinam submisso e fidelidade femininas ao
homem, valor aparentemente desconsiderado em Samba-
Cano, uma vez que a mulher ali falando demonstra uma
certa autonomia quanto forma de se relacionar
afetivamente com o outro.
III. A linguagem com que se apodera o eu-lrico de
Samba-Cano demonstra uma liberdade
tpica das mulheres de hoje, que interpretam de forma
igualitria a conquista do outro parceiro, no negando,
mas no tornando muito importante o fato de a equao
homem-mulher dar-se culturalmente na proporo de o
homem conquistar e a mulher ser conquistada.
pertinente afirmar que:
a) Esto corretas apenas as afirmativas I e III
b) Esto corretas apenas as afirmativas II e I
c) Esto corretas apenas as afirmativas II e III
d) Esto corretas todas as afirmativas
e) Nenhuma afirmativa est correta
60) (UFC-2002) Assinale a alternativa em que est correta
a correlao entre o autor e sua obra.
1- Adriano Espnola a - Txi
2 - Clarice Lispector b - O quinze
3 - Joaquim Manoel de Macedo c - A moreninha
4 - Jos Alcides Pinto d - Perto do corao selvagem
5 - Machado de Assis e - Joo Pinto de Maria - biografia de um louco
6 - Rachel de Queiroz
a) 1-a; 2-b
b) 2-b; 3-c
c) 2-d; 4-c
d) 5-c; 3-e
e) 6-b; 4-e
61) (UFC-2007) Texto 1
Leitor, veja o grande azar A sua
filha querida
do nordestino emigrante vai pra
uma iludio
que anda atrs de melhorar padecer
prostituda
da sua terra distante na vala da
perdio
nos centros desconhecidos e alm da
grande desgraa
depressa v corrompidos das
privaes que ela passa
os seus filhos inocentes que lhe
atrasa e lhe inflama
na populosa cidade sabe que
preso em flagrante
de tanta imoralidade por coisa
insignificante
e costumes diferentes seu filho a
quem tanto ama
ASSAR, Patativa do. Emigrao. In: ____. Cordis e
outros poemas. Fortaleza: Edies UFC, 2006, p. 114.
Texto 2
Pobre me! Mulher da vida, vendendo o corpo por uma
migalha! Aquilo, saber daquilo, ouvir falar naquilo,
magoava-o fundamente. Mas a me era uma mulher boa,
limpa, honesta. Que podia fazer? Abandonada no mundo
pelos pais que fugiram na seca, errou de casa em casa,
molecota solta, sem rumo, sem uma pessoa para cuidar
dela. Dizem que era bonita, muito bonita. E terminou
resvalando, caindo.
BEZERRA, Joo Clmaco. A vinha dos esquecidos.
Fortaleza: Edies UFC, 2005, p. 26.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o
enfoque dado, em ambos os textos, :
MULHER PROSTITUIO FEMININA
a) dominada pela figura paterna conseqncia das
dificuldades vividas
b) responsvel pelo seu destino meio de romper com
imposies familiares
c) impotente diante das circunstncias conseqncia das
dificuldades vividas
d) impotente diante das circunstncias meio de romper
com imposies familiares
e) dominada pela figura paterna forma de alcanar
independncia financeira
62) (UFC-2007) Em ambas as obras, A casa e Cordis e
outros poemas,as personagens femininas atuam
marcadamente no:
a) campo, na labuta da lavoura.
b) campo, na caa para alimentar a famlia.
c) armazm, na venda dos frutos colhidos na lavoura.
d) lar, no exerccio da maternidade e das tarefas
domsticas.
e) lar, no comando das atividades realizadas por
subalternos.
63) (UFC-2007) No romance, A casa e Cordis e outros
poemas,a Morte e a fome so, respectivamente, chamadas
de:
a) Moa Caetana e Ela.
b) Rasga-Mortalha e Moa Caetana.
c) velha servial e Moa Caetana.
d) Rasga-Mortalha e Velha-do-Chapu-Grande.
26 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
e) velha servial e Velha-do-Chapu-Grande.
64) (UFC-2007) No romance, A casa e Cordis e outros
poemas, esto presentes as histrias cantadas luz de
velas ou das candeias (p. 72). Sobre este tpico, assinale a
alternativa em que h correspondncia entre personagens
e histrias:
DE ALM-MAR DO SERTO
PERCORRIDO DE TRANCOSO
a) Francisco Campos Damiana
o passador de gado
b) Damiana Francisco Campos
o passador de gado
c) o passador de gado Damiana
Francisco Campos
d) Damiana o passador de gado
Francisco Campos
e) Francisco Campos o passador de gado
Damiana
65) (UFC-2007) Texto 1
Leitor, veja o grande azar A sua
filha querida
do nordestino emigrante vai pra
uma iludio
que anda atrs de melhorar padecer
prostituda
da sua terra distante na vala da
perdio
nos centros desconhecidos e alm da
grande desgraa
depressa v corrompidos das
privaes que ela passa
os seus filhos inocentes que lhe
atrasa e lhe inflama
na populosa cidade sabe que
preso em flagrante
de tanta imoralidade por coisa
insignificante
e costumes diferentes seu filho a
quem tanto ama
ASSAR, Patativa do. Emigrao. In: ____. Cordis e
outros poemas. Fortaleza: Edies UFC, 2006, p. 114.
Texto 2
Pobre me! Mulher da vida, vendendo o corpo por uma
migalha! Aquilo, saber daquilo, ouvir falar naquilo,
magoava-o fundamente. Mas a me era uma mulher boa,
limpa, honesta. Que podia fazer? Abandonada no mundo
pelos pais que fugiram na seca, errou de casa em casa,
molecota solta, sem rumo, sem uma pessoa para cuidar
dela. Dizem que era bonita, muito bonita. E terminou
resvalando, caindo.
BEZERRA, Joo Clmaco. A vinha dos esquecidos.
Fortaleza: Edies UFC, 2005, p. 26.
Texto 3
Pensou em casar com ela
pois grande esmola fazia
tirando aquela donzela
da pobreza em que vivia
e trazendo as outras duas
para a sua companhia
(...)
Ablio ento desposou
a linda Maria Rosa
tirando as duas cunhadas
da pobreza lastimosa
a velha as tratava bem
de uma forma carinhosa
(...)
Ele zelava a mulher
como bondoso senhor
e era para as cunhadas
um sincero protetor
reinava naquela casa
um ambiente de amor
ASSAR, Patativa do. Histria de Ablio e seu cachorro Jupi.
In: ____. Cordis e outros poemas. Fortaleza: Edies UFC,
2006, p. 49-50.
Texto 4
Ela bem moa, a mando do pai, casara fazia j algum
tempo com este Capito Longuinho. Para isso houve
vantajoso escambo entre o pai dela e o dito Capito. A
moa valera lguas de terras e gado. A diferena de idade
entre os dois era pra muito mais de quarenta anos. A moa
era de uma boniteza s.
CAMPOS, Natrcia. A casa. Fortaleza: Edies UFC, 2004, p.
40.
O casamento, em ambos os textos, associa-se:
a) a vantagens materiais.
b) consumao de paixes.
c) ao desejo feminino de procriar.
d) ao estreitamento de laos de afinidade.
e) ao estreitamento de laos de parentesco.
66) (UFC-2007) Percorrendo A casa, deleitando-se com
Cordis e outros poemas, voc jamais habitar A vinha
dos esquecidos. isso a! Participe deste encontro literrio
com Natrcia Campos, Patativa do Assar e Joo Clmaco
Bezerra.
27 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Assinale a alternativa cuja afirmao se aplica s trs
narrativas escolhidas para esta prova.
a) Os eventos so narrados em ordem cronolgica.
b) O desfecho das narrativas j se insinua desde o seu
incio.
c) A ambientao interiorana percorre o enredo das trs
narrativas.
d) A complexidade dos enredos decorre das variaes de
foco narrativo.
e) O incio nostlgico das narrativas cede lugar a episdios
tensos, envoltos em supersties.
67) (UFG-2007) No romance de Maria Jos Silveira, O
fantasma de Luis Buuel, fatos histricos amplamente
conhecidos pelos brasileiros, assim como outros pouco
ressaltados pela histria oficial, so ficcionalizados. Para a
valorizao do factual no ficcional, a autora recorre
a) a manchetes de jornais da poca da elaborao do
romance.
b) a nomes de pessoas, a lugares e a situaes com carter
verossmil.
c) ao foco narrativo em primeira pessoa com interpretao
subjetiva.
d) a datas e aos respectivos acontecimentos em ordem
cronolgica.
e) a descries de cenas do passado desconectadas do
presente.
68) (UFG-2007) Ubirajara, de Jos de Alencar, e O
Fantasma de Luis de Buuel, de Maria Jos Silveira,
representam, respectivamente, as tendncias romntica e
contempornea da literatura brasileira, caracterizadas
a) pela configurao realista do enredo no primeiro e pelo
enquadramento histrico no segundo.
b) pelo tom lendrio constitutivo tanto das personagens de
um quanto do outro.
c) pelo uso enftico da prosa intimista tanto no primeiro
quanto no segundo.
d) pela predominncia da terceira pessoa no primeiro e
variao do foco narrativo no segundo.
e) pela utilizao verossmil do tempo psicolgico no
primeiro e do cronolgico no segundo.
69) (UFMG-1997) Leia com ateno o trecho que se segue,
da obra Sargento Getlio.
Cheguei, como vai todo mundo, muito boa tarde, j vou
indo, licena aqui. Quem se incomoda. Tudo s. Eu mesmo
j pensei de outras maneiras. Ela estava de barriga na
ocasio. Eu alisava a barriga, quando tinha tempo, quando
vinha um sossego, quando quentava, quando deitava,
quando estava neblina, quando aquietava. Parecia um
cachorro, ficava ali, os olhos gazos midos me assuntando.
O barrigo me trazia satisfao, j se adevinhava bem ali e
o embigo bem que j saa um pouco para fora e se podia
sentir passando a mo. Pois ficava alisando de um lado
para o outro, numa banzeira, pensando no bicho l dentro.
Quando matei, nem pensei mais em matar. Matei sem
raiva. Pensei que no, antes da hora, pensei que ia com
muita raiva, mas no fui. Cheguei, olhei, ela deitada assim
e ainda perguntou: que que tem? Ela sabia, no sabia s
disso, tinha certeza que no adiantava fugir, porque eu ia
atrs. A dor de corno, uma dor funda na caixa, uma coisa
tirando a fora por dentro. Nem sei. Uma mulher no
como um homem..
O episdio narrado no ocorre na seqncia dos
acontecimentos que se sucedem durante a jornada do
Sargento Getlio com seu prisioneiro. Apesar de no se
inserir na seqncia principal dos acontecimentos que
compem a narrativa, esse episdio importante para a
composio da personagem Sargento Getlio.
Assinale a alternativa que apresenta uma situao em que
o comportamento do Sargento Getlio pode ser explicado
pelo texto.
a) A cena em que arranca, sem piedade, os dentes do
prisioneiro que est conduzindo.
b) A ocasio em que morre Luzinete, vtima das bombas de
dinamite.
c) A passagem em que se encontra com os emissrios
enviados com o objetivo de faz-lo desistir de levar o
preso.
d) O episdio em que degola um tenente da fora pblica
enviada para captur-lo.
70) (UFMG-1997) A pea "Vestido de noiva", de Nelson
Rodrigues, representou um marco para o teatro brasileiro
principalmente porque:
a) apresenta os processos inconscientes da personagem.
b) atribui grande importncia s personagens femininas.
c) incorpora um acidente de trnsito ao enredo.
d) trata o erotismo de modo explcito.
71) (UFMG-1997) A estrutura fragmentada e lacunar da
pea "Vestido de noiva" , com sua desordem de planos,
tem por finalidade:
a) fixar a vida contempornea num flagrante que a
sintetiza.
b) registrar as tragdias annimas que acontecem
cotidianamente.
c) relegar os acontecimentos exteriores insignificncia
que devem ter.
d) representar a desagregao mental de uma personagem
que vai morrer.
72) (UFMG-1997) As crnicas da obra "Ai de ti,
Copacabana!", de Rubem Braga, em seu conjunto:
a) apresentam uma galeria de tipos populares do Rio de
Janeiro.
28 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
b) informam ao leitor da poca os acontecimentos daquele
tempo.
c) manifestam a viso subjetiva e lrica que o autor tinha
de seu tempo.
d) registram cronologicamente a histria brasileira da
dcada de 50.
73) (UFMG-1997) Leia com ateno o trecho seguinte, de
Antnio Candido.
...vamos pensar um pouco na crnica como gnero.
Lembrar, por exemplo, que o fato de ficar to perto do dia-
a-dia age como quebra do monumental e da nfase.
Em todas as alternativas que se seguem, o cronista Rubem
Braga encontra-se perto do dia-a-dia, distante do
monumental e da nfase, EXCETO em:
a) Ai de ti, Copacabana, porque eu j fiz o sinal bem claro
de que chegada a vspera de teu dia, e tu no viste;
porm minha voz te abalar at as entranhas.
b) Chega o velho carteiro e me deixa uma carta. Quando se
vai afastando eu o chamo: a carta no para mim. Aqui
no mora ningum com este nome, explico-lhe.
c) Ir praia cedo, como na infncia. As ilhas no horizonte
ainda esto veladas pela nvoa da madrugada. O mar
andou bravo esta noite, arrancando algas e mexilhes das
pedras.
d) Outro dia fui, noite, a Santa Tereza, e ontem, tarde,
visitei um amigo na Clnica So Vicente. So raras, porm,
minhas excurses pelas montanhas do Rio, por essa outra
cidade...
74) (UFMG-1997) O texto da obra Sargento Getlio, de
Joo Ubaldo Ribeiro, desvia-se do portugus padro culto.
Esteticamente esse procedimento se justifica porque:
a) a gerao a que pertence o autor utiliza "erros" de
linguagem como provocao.
b) a linguagem narrativa deve se ajustar o ponto de vista
escolhido para a narrao.
c) a lngua portuguesa falada no Brasil apresenta variaes
regionais.
d) o romance se enquadra nas tendncias regionalistas da
literatura brasileira.
75) (UFMG-1997) Embora o coronelismo seja entendido
como uma forma especfica de poder poltico que
floresceu durante a Primeira Repblica, traos dele
permaneceram por muito tempo na histria poltica do
Brasil. Na obra Sargento Getlio podem ser assinalados
resqucios do coronelismo.
Em todas as alternativas que se seguem manifesta-se
diretamente o poder dos "coronis", EXCETO em:
a) No gosto desse servio, no gosto de levar preso.
Avexame. Depois que levar vosmec l, assento os quartos
num lugar e largo essa vida de cigano. S se doutor Z
Antunes pedir muito.
b) Ningum entra numa usina para tirar um cabra. No
gosto disso, contra a lei. Devia ser contra a lei. Por que o
homem tem o direito de passar a vida corrido, atocaiado
numa usina? privilege.
c) Quando matei, nem pensei mais em matar. Matei sem
raiva. Pensei que no, antes da hora, pensei que ia com
muita raiva, mas no fui. Cheguei, olhei, ela deitada assim
e ainda perguntou: que que tem?
d) Vosmec no acredito que tenha visto um homem
resistindo da morte, porque o que me dizem que
vosmec manda, no faz. Est direito, na sua posio.
76) (UFMG-1997) Em Vestido de Noiva, os rudos
indicativos de um acidente de trnsito, repetidos diversas
vezes ao longo da pea:
a) funcionam como um motivo condutor vinculado
infncia da personagem central.
b) pertencem ao plano da alucinao, em que o
atropelamento da personagem principal insistentemente
repetido.
c) realizam um vnculo entre o plano de realidade e os
planos da alucinao e da memria.
d) sugerem os acontecimentos que esto por vir e que s
ocorrem ao final da pea.
77) (UFMG-1994) REDIJA um pequeno texto explicando a
relao do ttulo A DANA DOS CABELOS, de Carlos
Herculano Lopes, com a composio do livro.
78) (UFMG-1998) O ttulo do conto "O iniciado do vento",
de Anbal Machado, refere-se a um personagem. Este
personagem :
a) o juiz do processo.
b) o escrivo da cidade.
c) Zeca da Curva.
d) Jos Roberto.
79) (UFMG-1997) Ao chamar de "Tragdia" sua pea
Vestido de noiva, Nelson Rodrigues distinguiu-a do drama
a) pela diviso do espao cnico em trs planos distintos.
b) pela fatalidade cega que se abate sobre as personagens.
c) pela influncia do teatro grego na concepo de sua
estrutura.
d) pelo uso de uma linguagem nobre, de tom
grandiloquente.
80) (UFMG-2003) Na passagem que se segue, de Cadernos
de Joo, o autor expe uma teoria da poesia:
No curso regular da frase pode uma palavra, uma imagem
ou um movimento imprevisto assumir a fora de uma
29 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
apario e iluminar subitamente toda a estrutura verbal. O
que era neutro e opaco passa ento a irradiar. Como se as
palavras esperassem a privilegiada, portadora do elemento
mgico que leva a todas a transfigurao da poesia.
MACHADO, Anbal M. Cadernos de Joo. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2002. p. 11.
Todas as alternativas apresentam fragmentos de Cadernos
de Joo em que o termo destacado pode ser considerado a
palavra privilegiada, portadora do elemento mgico que
leva a todas a transfigurao da poesia, EXCETO
a) O melhor momento da flecha no o de sua insero no
alvo, mas o da trajetria entre o arco e a chegada - passeio
fremente.
b) Privilegiada semente que brilhars amanh como fruto
na rvore imediata.
c) Contra a montanha, o mamute furioso da escavadeira.
Algum tempo depois, cessa tudo. E deslizamos na estrada
macia.
d) Nada mais aflitivo do que um rio seco e uma piscina
vazia. Nada que mais relembre a vida que se foi, do que
esses dois esqueletos da gua.
81) (UFMG-2003) Com base na leitura de Prosas seguidas
de odes mnimas, de Jos Paulo Paes, INCORRETO
afirmar que essa obra
a) se ocupa, em sua primeira parte - nas prosas -, de temas
relacionados vida atual, ao passo que, na segunda - nas
odes mnimas -, se volta para o passado.
b) tem afinidades com as poticas do sculo XX, como o
modernismo e o concretismo, pois o poeta versifica com
liberdade e confere valor expressivo ao branco da pgina.
c) recupera aspectos do passado pessoal do autor e de sua
famlia e se refere a aspectos do passado histrico
brasileiro e universal.
d) se ocupa de temas srios, como a morte, abordando-os
tanto com circunspeco e gravidade quanto com humor e
leveza.
82) (UFMG-2003) Todas as alternativas apresentam
passagens de Os ratos, de Dyonelio Machado, que podem
ser interpretadas como antecipao do clmax que ocorre
ao final do livro, EXCETO
a) Naziazeno v-se no meio da sala [da repartio],
atnito, sozinho, olhando pra os lados, pra todos aqueles
fugitivos, que se esgueiram, que se somem com ps de
ratos...
b) Os jogadores esto mais uma vez na sua ocupao, com
o seu silncio, os seus passos surdos polvilhados daquele
crepitar fininho...
c) A mo, mergulhada dentro do bolso da cala, ainda
segura o dinheiro. [...] Seus dedos esto ficando suados.
Abre ento a mo, e retira-a aberta e com precauo, para
que no haja perigo dela arrast-lo para fora e o dinheiro
cair, perder-se.
d) Caras que vo e vm. Quase todas, ao passar, pem os
olhos nele. Na maioria so caras paradas, tranqilas fora
de estagnadas. Os casacos so surrados.
83) (UFMG-2003) Todas as alternativas apresentam
fragmentos da srie OS PERSONAGENS, de Cadernos de
Joo, de Anbal Machado, em que esto em jogo valores
morais, EXCETO
a) Era uma criatura to sensvel, crdula e exagerada, que
a mais desprezvel carta annima assumia para ela as
propores de um coro grego.
b) O temor de que a sociedade possa um dia transformar-
se fundamentalmente: Eu tenho defeitos prprios para
vencer nesta.
c) A moa, de to magra e irreal, chegava s vezes a esvair-
se. Quando pressentia qualquer ameaa prxima, corria
rua para se oferecer aos reflexos e verificar se sua
presena ainda repercutia.
d) Era um tipo engraado e maldizente, um virtuose da
malcia. Apenas lhe faltava a dignidade do revoltado.
84) (UFMG-2005) Com base na leitura de A roda do
mundo, de Edimilson de Almeida Pereira e Ricardo Aleixo,
REDIJA um texto, analisando os elementos utilizados pelos
autores na criao de uma potica que valoriza a
heterogeneidade da cultura brasileira.
85) (UFMG-2005) Leia este trecho:
Trs nufragos cegos: Homero, Joyce e Borges, deriva
num mar de palavras. Seu navio bateu numa metfora - a
ponta de um iceberg - e foi ao fundo. Seu bote salva-vidas
levado por uma corrente literria para longe das rotas
mais navegadas, eles s sero encontrados se crticos e
exegetas da guardacosteira, que patrulham o mar, os
descobrirem na vastido azul das lnguas e os resgatarem
de helicptero. E, mesmo assim, se debatero contra o
salvamento. So cegos difceis.
VERSSIMO, Luis Fernando. A eterna privao do zagueiro
absoluto - as melhores crnicas de
futebol, cinema e literatura. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.
p. 167.
Considerando essas reflexes, REDIJA um texto,
interpretando as metforas que remetem ao processo de
composio de obras literrias.
86) (UFMG-2005) Com base na leitura de A eterna privao
do zagueiro absoluto, INCORRETO afirmar que
a) a linguagem da obra explora expresses tpicas de
escritores, torcedores e cinfilos.
b) a obra ironiza trs aspectos bsicos da vida brasileira:
futebol, cinema e literatura.
c) o gnero usado na obra pertence linguagem
jornalstica do Brasil contemporneo.
30 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
d) o ttulo da obra remete ao futebol como um esporte
que pode frustrar os torcedores.
87) (UFMG-2005) Com base na leitura de A roda do
mundo, de Edimilson de Almeida Pereira e Ricardo Aleixo,
CORRETO afirmar que
a) a primeira parte da obra aborda a tradio religiosa do
cristianismo, a partir de uma perspectiva bblica.
b) a segunda parte da obra reverencia a cultura iorub por
meio de cnticos de saudao e louvor a deuses africanos.
c) as duas partes que compem a obra apresentam os
mesmos pontos de vista sobre a cultura afro-descendente
do Brasil.
d) todos os poemas da obra apresentam muitas crticas
excluso cultural dos afro-descendentes.
88) (UFMG-2005) Todos os seguintes trechos, de Nove
noites, de Bernardo Carvalho, so construdos com o
recurso da citao, EXCETO
a) Ele gritou com eles at se calar de repente, como se
tivesse despertado aturdido de um sono profundo.
b) Segundo os Trumai, o sol criou todas as tribos,
exceo dos Suy, descendentes das cobras.
c) Ele sorriu de novo e respondeu orgulhoso e
entusiasmado: Vou estudar os ndios do Brasil.
d) No sabia, eu j disse, que naquela ltima
correspondncia vinha a sua sentena de morte.
89) (UFPB-2006) TEXTO
Herbarium
Todas as manhs eu pegava o cesto e me embrenhava no
bosque, tremendo inteira de paixo quando descobria
alguma folha rara. Era medrosa mas arriscava ps e mos
por entre espinhos, formigueiros e buracos de bichos
(tatu? cobra?) procurando a folha mais difcil, aquela que
ele examinaria demoradamente: a escolhida ia para o
lbum de capa preta. Mais tarde, faria parte do herbrio,
tinha em casa um herbrio com quase duas mil espcies de
plantas. Voc j viu um herbrio? - ele quis saber.
Herbarium, ensinou-me logo no primeiro dia em que
chegou ao stio. Fiquei repetindo a palavra, herbarium.
Herbarium. (...)
Um vago primo botnico convalescendo de uma vaga
doena. (...) Qual doena tinha ele? Tia Marita, que era
alegrinha e gostava de se pintar, respondeu rindo (falava
rindo) que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres.
Tia Clotilde, embutida, reticente, deu aquela sua resposta
que servia a qualquer tipo de pergunta: tudo na vida podia
se alterar menos o destino traado na mo, ela sabia ler as
mos. Vai dormir feito uma pedra. - cochichou tia Marita
quando me pediu que lhe levasse o ch de tlia. Encontrei-
o recostado na poltrona, a manta de xadrez cobrindo-lhe
as pernas. Aspirou o ch. E me olhou: Quer ser minha
assistente? - perguntou soprando a fumaa. A insnia
me pegou pelo p, ando to fora de forma, preciso que me
ajude. A tarefa colher folhas para a minha coleo, vai
juntando o que bem entender que depois seleciono. Por
enquanto, no posso mexer muito, ter que ir sozinha -
disse e desviou o olhar mido para a folha que boiava na
xcara. (...)
Eu mentia sempre, com ou sem motivo. (...) Mas aos
poucos, diante dele, minha mentira comeou a ser dirigida,
com um objetivo certo. Seria mais simples, por exemplo,
dizer que colhi a btula perto do crrego, onde estava o
espinheiro. Mas era preciso fazer render o instante em que
se detinha em mim, ocup-lo antes de ser posta de lado
como as folhas sem interesse, amontoadas no cesto. Ento
ramificava perigos, exagerava dificuldades, inventava
histrias que encompridavam a mentira. At ser decepada
com um rpido golpe de olhar, no com palavras, mas com
o olhar ele fazia a hidra verde rolar emudecida enquanto
minha cara se tingia de vermelho - o sangue da hidra. (...)
Nas cartas do baralho, tia Clotilde j lhe desvendara o
passado e o presente. (...) O que ela previu? Ora, tanta
coisa. De mais importante, s isso, que no fim da semana
viria uma amiga busc-lo, uma moa muito bonita, podia
ver at a cor do seu vestido de corte antiquado, verde-
musgo. Os cabelos eram compridos, com reflexos de
cobre, to forte o reflexo na palma da mo! (...) Fugi para o
campo, os olhos desvairados de pimenta e sal, sal na boca,
no, no vinha ningum, tudo loucura, uma louca varrida
essa tia, inveno dela, inveno pura, como podia? (...)
Lavei os olhos cegos de dor, lavei a boca pesada de
lgrimas, os ltimos fiapos de unhas me queimando a
lngua, no! No. No existia ningum de cabelo de cobre
que no fim de semana ia aparecer para busc-lo, ele no ia
embora nunca mais, NUNCA MAIS! (...)
Quando lhe entreguei a folha de hera com formato de
corao (um corao de nervuras trementes se abrindo em
leque at as bordas verde-azuladas) ele beijou a folha e
levou-a ao peito. Espetou-a na malha do suter: Esta vai
ser guardada aqui. Mas no me olhou nem mesmo
quando eu sa tropeando no cesto. Corri at a figueira,
posto de observao onde podia ver sem ser vista. Atravs
do rendilhado de ferro do corrimo da escada, ele me
pareceu menos plido. A pele mais seca e mais firme a
mo que segurava a lupa sobre a lmina do espinho-do-
brejo. Estava se recuperando, no estava? Abracei o
tronco da figueira e pela primeira vez senti que abraava
Deus.
No sbado, levantei mais cedo. O sol forcejava a nvoa, o
dia seria azul quando ele conseguisse romp-la. (...) Corri
at o crrego. (...) Salvei uma abelhinha das mandbulas de
uma aranha, permiti que a sava-gigante arrebatasse a
aranha e a levasse na cabea como uma trouxa de roupa
31 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
esperneando mas recuei quando apareceu o besouro de
lbio leporino. Por um instante me vi refletida em seus
olhos facetados. Fez meia-volta e se escondeu no fundo da
fresta. Levantei a pedra: o besouro tinha desaparecido mas
no tufo raso vi uma folha que nunca encontrara antes,
nica. Solitria. Mas que folha era aquela? Tinha a forma
aguda de uma foice, o verde do dorso com pintas
vermelhas irregulares como pingos de sangue. Uma
pequena foice ensangentada - foi no que se transformou
o besouro? Escondi a folha no bolso, pea principal de um
jogo confuso. Essa eu no juntaria s outras folhas, essa
tinha que ficar comigo, segredo que no podia ser visto.
Nem tocado. Tia Clotilde previa os destinos mas eu podia
modific-los, assim, assim! e desfiz na sola do sapato o
cupim que se armava debaixo da amendoeira. Fui andando
solene porque no bolso onde levara o amor levava agora a
morte.
Tia Marita veio ao meu encontro, mais aflita e gaguejante
do que de costume. Antes de falar j comeou a rir: Acho
que vamos perder nosso botnico, sabe quem chegou? A
amiga, a mesma moa que Clotilde viu na mo dele,
lembra? Os dois vo embora no trem da tarde, ela linda
como os amores, bem que Clotilde viu uma moa
igualzinha, estou toda arrepiada, olha a, me pergunto
como a mana adivinha uma coisa dessas! (...)
Fui me aproximando da janela. Atravs do vidro (poderoso
como a lupa) vi os dois. Ela sentada com o lbum
provisrio de folhas no colo. Ele, de p e um pouco atrs
da cadeira, acariciando-lhe o pescoo e seu olhar era o
mesmo que tinha para as folhas escolhidas, a mesma
leveza de dedos indo e vindo no veludo da malva-ma.
(...) Quando me viu, veio at a varanda no seu andar
calmo. Mas vacilou quando disse que esse era nosso
ltimo cesto, por acaso no tinham me avisado? O
chamado era urgente, teriam que voltar nessa tarde.
Sentia perder to devotada ajudadora mas um dia, quem
sabe?... Precisaria perguntar tia Clotilde em que linha do
destino aconteciam os reencontros.
Estendi-lhe o cesto mas ao invs de segurar o cesto,
segurou meu pulso: eu estava escondendo alguma coisa,
no estava? O que estava escondendo, o qu? Tentei me
livrar fugindo para os lados, aos arrancos, no estou
escondendo nada, me larga! Ele me soltou mas continuou
ali, de p, sem tirar os olhos de mim. Encolhi quando me
tocou no brao: e o nosso trato de s dizer a verdade?
Hem? Esqueceu nosso trato? - perguntou baixinho.
Enfiei a mo no bolso e apertei a folha, intacta umidade
pegajosa da ponta aguda, onde se concentravam as
ndoas. Ele esperava. Eu quis ento arrancar a toalha de
croch da mesinha, cobrir com ela a cabea e fazer
micagens, hi hi! hu hu! At v-lo rir pelos buracos da
malha, quis pular da escada e sair correndo em ziguezague
at o crrego, me vi atirando a foice na gua, que sumisse
na correnteza! Fui levantando a cabea. Ele continuava
esperando, e ento? No fundo da sala, a moa tambm
esperava numa nvoa de ouro, tinha rompido o sol.
Encarei-o pela ltima vez, sem remorso, quer mesmo?
Entreguei-lhe a folha.
(TELLES, Lygia Fagundes. Oito contos de amor. So Paulo:
tica, 2003, p. 42-49).
No conto Herbarium, a autora
I. explora as emoes e impresses da personagem-
narradora, imprimindo um tom intimista narrativa.
II. descreve, exaustivamente, as emoes e os
aspectos fsicos das personagens.
III. aborda a temtica do sentimento amoroso,
registrando situaes de desencontro afetivo.
Est(o) correta(s ) a(as) afirmativas(s):
a) todas
b) nenhuma
c) apenas I e II
d) apenas I e III
e) apenas II e III
f) apenas I
90) (UFPB-2006) TEXTO
Herbarium
Todas as manhs eu pegava o cesto e me embrenhava no
bosque, tremendo inteira de paixo quando descobria
alguma folha rara. Era medrosa mas arriscava ps e mos
por entre espinhos, formigueiros e buracos de bichos
(tatu? cobra?) procurando a folha mais difcil, aquela que
ele examinaria demoradamente: a escolhida ia para o
lbum de capa preta. Mais tarde, faria parte do herbrio,
tinha em casa um herbrio com quase duas mil espcies de
plantas. Voc j viu um herbrio? - ele quis saber.
Herbarium, ensinou-me logo no primeiro dia em que
chegou ao stio. Fiquei repetindo a palavra, herbarium.
Herbarium. (...)
Um vago primo botnico convalescendo de uma vaga
doena. (...) Qual doena tinha ele? Tia Marita, que era
alegrinha e gostava de se pintar, respondeu rindo (falava
rindo) que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres.
Tia Clotilde, embutida, reticente, deu aquela sua resposta
que servia a qualquer tipo de pergunta: tudo na vida podia
se alterar menos o destino traado na mo, ela sabia ler as
mos. Vai dormir feito uma pedra. - cochichou tia Marita
quando me pediu que lhe levasse o ch de tlia. Encontrei-
o recostado na poltrona, a manta de xadrez cobrindo-lhe
as pernas. Aspirou o ch. E me olhou: Quer ser minha
assistente? - perguntou soprando a fumaa. A insnia
me pegou pelo p, ando to fora de forma, preciso que me
ajude. A tarefa colher folhas para a minha coleo, vai
juntando o que bem entender que depois seleciono. Por
32 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
enquanto, no posso mexer muito, ter que ir sozinha -
disse e desviou o olhar mido para a folha que boiava na
xcara. (...)
Eu mentia sempre, com ou sem motivo. (...) Mas aos
poucos, diante dele, minha mentira comeou a ser dirigida,
com um objetivo certo. Seria mais simples, por exemplo,
dizer que colhi a btula perto do crrego, onde estava o
espinheiro. Mas era preciso fazer render o instante em que
se detinha em mim, ocup-lo antes de ser posta de lado
como as folhas sem interesse, amontoadas no cesto. Ento
ramificava perigos, exagerava dificuldades, inventava
histrias que encompridavam a mentira. At ser decepada
com um rpido golpe de olhar, no com palavras, mas com
o olhar ele fazia a hidra verde rolar emudecida enquanto
minha cara se tingia de vermelho - o sangue da hidra. (...)
Nas cartas do baralho, tia Clotilde j lhe desvendara o
passado e o presente. (...) O que ela previu? Ora, tanta
coisa. De mais importante, s isso, que no fim da semana
viria uma amiga busc-lo, uma moa muito bonita, podia
ver at a cor do seu vestido de corte antiquado, verde-
musgo. Os cabelos eram compridos, com reflexos de
cobre, to forte o reflexo na palma da mo! (...) Fugi para o
campo, os olhos desvairados de pimenta e sal, sal na boca,
no, no vinha ningum, tudo loucura, uma louca varrida
essa tia, inveno dela, inveno pura, como podia? (...)
Lavei os olhos cegos de dor, lavei a boca pesada de
lgrimas, os ltimos fiapos de unhas me queimando a
lngua, no! No. No existia ningum de cabelo de cobre
que no fim de semana ia aparecer para busc-lo, ele no ia
embora nunca mais, NUNCA MAIS! (...)
Quando lhe entreguei a folha de hera com formato de
corao (um corao de nervuras trementes se abrindo em
leque at as bordas verde-azuladas) ele beijou a folha e
levou-a ao peito. Espetou-a na malha do suter: Esta vai
ser guardada aqui. Mas no me olhou nem mesmo
quando eu sa tropeando no cesto. Corri at a figueira,
posto de observao onde podia ver sem ser vista. Atravs
do rendilhado de ferro do corrimo da escada, ele me
pareceu menos plido. A pele mais seca e mais firme a
mo que segurava a lupa sobre a lmina do espinho-do-
brejo. Estava se recuperando, no estava? Abracei o
tronco da figueira e pela primeira vez senti que abraava
Deus.
No sbado, levantei mais cedo. O sol forcejava a nvoa, o
dia seria azul quando ele conseguisse romp-la. (...) Corri
at o crrego. (...) Salvei uma abelhinha das mandbulas de
uma aranha, permiti que a sava-gigante arrebatasse a
aranha e a levasse na cabea como uma trouxa de roupa
esperneando mas recuei quando apareceu o besouro de
lbio leporino. Por um instante me vi refletida em seus
olhos facetados. Fez meia-volta e se escondeu no fundo da
fresta. Levantei a pedra: o besouro tinha desaparecido mas
no tufo raso vi uma folha que nunca encontrara antes,
nica. Solitria. Mas que folha era aquela? Tinha a forma
aguda de uma foice, o verde do dorso com pintas
vermelhas irregulares como pingos de sangue. Uma
pequena foice ensangentada - foi no que se transformou
o besouro? Escondi a folha no bolso, pea principal de um
jogo confuso. Essa eu no juntaria s outras folhas, essa
tinha que ficar comigo, segredo que no podia ser visto.
Nem tocado. Tia Clotilde previa os destinos mas eu podia
modific-los, assim, assim! e desfiz na sola do sapato o
cupim que se armava debaixo da amendoeira. Fui andando
solene porque no bolso onde levara o amor levava agora a
morte.
Tia Marita veio ao meu encontro, mais aflita e gaguejante
do que de costume. Antes de falar j comeou a rir: Acho
que vamos perder nosso botnico, sabe quem chegou? A
amiga, a mesma moa que Clotilde viu na mo dele,
lembra? Os dois vo embora no trem da tarde, ela linda
como os amores, bem que Clotilde viu uma moa
igualzinha, estou toda arrepiada, olha a, me pergunto
como a mana adivinha uma coisa dessas! (...)
Fui me aproximando da janela. Atravs do vidro (poderoso
como a lupa) vi os dois. Ela sentada com o lbum
provisrio de folhas no colo. Ele, de p e um pouco atrs
da cadeira, acariciando-lhe o pescoo e seu olhar era o
mesmo que tinha para as folhas escolhidas, a mesma
leveza de dedos indo e vindo no veludo da malva-ma.
(...) Quando me viu, veio at a varanda no seu andar
calmo. Mas vacilou quando disse que esse era nosso
ltimo cesto, por acaso no tinham me avisado? O
chamado era urgente, teriam que voltar nessa tarde.
Sentia perder to devotada ajudadora mas um dia, quem
sabe?... Precisaria perguntar tia Clotilde em que linha do
destino aconteciam os reencontros.
Estendi-lhe o cesto mas ao invs de segurar o cesto,
segurou meu pulso: eu estava escondendo alguma coisa,
no estava? O que estava escondendo, o qu? Tentei me
livrar fugindo para os lados, aos arrancos, no estou
escondendo nada, me larga! Ele me soltou mas continuou
ali, de p, sem tirar os olhos de mim. Encolhi quando me
tocou no brao: e o nosso trato de s dizer a verdade?
Hem? Esqueceu nosso trato? - perguntou baixinho.
Enfiei a mo no bolso e apertei a folha, intacta umidade
pegajosa da ponta aguda, onde se concentravam as
ndoas. Ele esperava. Eu quis ento arrancar a toalha de
croch da mesinha, cobrir com ela a cabea e fazer
micagens, hi hi! hu hu! At v-lo rir pelos buracos da
malha, quis pular da escada e sair correndo em ziguezague
at o crrego, me vi atirando a foice na gua, que sumisse
na correnteza! Fui levantando a cabea. Ele continuava
esperando, e ento? No fundo da sala, a moa tambm
esperava numa nvoa de ouro, tinha rompido o sol.
Encarei-o pela ltima vez, sem remorso, quer mesmo?
Entreguei-lhe a folha.
(TELLES, Lygia Fagundes. Oito contos de amor. So Paulo:
tica, 2003, p. 42-49).
Lygia Fagundes Telles explora, ao longo do conto, aspectos
psicolgicos da personagem-narradora que, ora se deixa
33 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
levar pelo sentimento amoroso, ora pelo desejo de
vingana. Exemplos desses sentimentos esto presentes,
respectivamente, nos trechos:
a) ...com o olhar ele fazia a hidra verde rolar emudecida
enquanto minha cara se tingia de vermelho (linhas 22-23)
/ Precisaria perguntar Tia Clotilde em que linha do
destino aconteciam os reencontros. (linhas 59-60).
b) ... e desfiz na sola do sapato o cupim que se armava
debaixo da amendoeira. (linhas 48-49) / Enfiei a mo no
bolso e apertei a folha, intacta umidade pegajosa da
ponta aguda,... (linha 66).
c) Mas era preciso fazer render o instante em que se
detinha em mim,... (linha 19) / Abracei o tronco da
figueira e pela primeira vez senti que abraava Deus.
(linhas 37-38).
d) ... e desfiz na sola do sapato o cupim que se armava
debaixo da amendoeira. (linhas 48-49) / Mas que folha
era aquela? Tinha a forma aguda de uma foice,... (linha
44).
e) Mas era preciso fazer render o instante em que se
detinha em mim,... (linha 19) / Mas que folha era
aquela? Tinha a forma aguda de uma foice,... (linha 44).
f) Precisaria perguntar Tia Clotilde em que linha do
destino aconteciam os reencontros. (linhas 59-60) /
Abracei o tronco da figueira e pela primeira vez senti que
abraava Deus. (linhas 37-38).
91) (UFPB-2006) TEXTO
Herbarium
Todas as manhs eu pegava o cesto e me embrenhava no
bosque, tremendo inteira de paixo quando descobria
alguma folha rara. Era medrosa mas arriscava ps e mos
por entre espinhos, formigueiros e buracos de bichos
(tatu? cobra?) procurando a folha mais difcil, aquela que
ele examinaria demoradamente: a escolhida ia para o
lbum de capa preta. Mais tarde, faria parte do herbrio,
tinha em casa um herbrio com quase duas mil espcies de
plantas. Voc j viu um herbrio? - ele quis saber.
Herbarium, ensinou-me logo no primeiro dia em que
chegou ao stio. Fiquei repetindo a palavra, herbarium.
Herbarium. (...)
Um vago primo botnico convalescendo de uma vaga
doena. (...) Qual doena tinha ele? Tia Marita, que era
alegrinha e gostava de se pintar, respondeu rindo (falava
rindo) que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres.
Tia Clotilde, embutida, reticente, deu aquela sua resposta
que servia a qualquer tipo de pergunta: tudo na vida podia
se alterar menos o destino traado na mo, ela sabia ler as
mos. Vai dormir feito uma pedra. - cochichou tia Marita
quando me pediu que lhe levasse o ch de tlia. Encontrei-
o recostado na poltrona, a manta de xadrez cobrindo-lhe
as pernas. Aspirou o ch. E me olhou: Quer ser minha
assistente? - perguntou soprando a fumaa. A insnia
me pegou pelo p, ando to fora de forma, preciso que me
ajude. A tarefa colher folhas para a minha coleo, vai
juntando o que bem entender que depois seleciono. Por
enquanto, no posso mexer muito, ter que ir sozinha -
disse e desviou o olhar mido para a folha que boiava na
xcara. (...)
Eu mentia sempre, com ou sem motivo. (...) Mas aos
poucos, diante dele, minha mentira comeou a ser dirigida,
com um objetivo certo. Seria mais simples, por exemplo,
dizer que colhi a btula perto do crrego, onde estava o
espinheiro. Mas era preciso fazer render o instante em que
se detinha em mim, ocup-lo antes de ser posta de lado
como as folhas sem interesse, amontoadas no cesto. Ento
ramificava perigos, exagerava dificuldades, inventava
histrias que encompridavam a mentira. At ser decepada
com um rpido golpe de olhar, no com palavras, mas com
o olhar ele fazia a hidra verde rolar emudecida enquanto
minha cara se tingia de vermelho - o sangue da hidra. (...)
Nas cartas do baralho, tia Clotilde j lhe desvendara o
passado e o presente. (...) O que ela previu? Ora, tanta
coisa. De mais importante, s isso, que no fim da semana
viria uma amiga busc-lo, uma moa muito bonita, podia
ver at a cor do seu vestido de corte antiquado, verde-
musgo. Os cabelos eram compridos, com reflexos de
cobre, to forte o reflexo na palma da mo! (...) Fugi para o
campo, os olhos desvairados de pimenta e sal, sal na boca,
no, no vinha ningum, tudo loucura, uma louca varrida
essa tia, inveno dela, inveno pura, como podia? (...)
Lavei os olhos cegos de dor, lavei a boca pesada de
lgrimas, os ltimos fiapos de unhas me queimando a
lngua, no! No. No existia ningum de cabelo de cobre
que no fim de semana ia aparecer para busc-lo, ele no ia
embora nunca mais, NUNCA MAIS! (...)
Quando lhe entreguei a folha de hera com formato de
corao (um corao de nervuras trementes se abrindo em
leque at as bordas verde-azuladas) ele beijou a folha e
levou-a ao peito. Espetou-a na malha do suter: Esta vai
ser guardada aqui. Mas no me olhou nem mesmo
quando eu sa tropeando no cesto. Corri at a figueira,
posto de observao onde podia ver sem ser vista. Atravs
do rendilhado de ferro do corrimo da escada, ele me
pareceu menos plido. A pele mais seca e mais firme a
mo que segurava a lupa sobre a lmina do espinho-do-
brejo. Estava se recuperando, no estava? Abracei o
tronco da figueira e pela primeira vez senti que abraava
Deus.
No sbado, levantei mais cedo. O sol forcejava a nvoa, o
dia seria azul quando ele conseguisse romp-la. (...) Corri
at o crrego. (...) Salvei uma abelhinha das mandbulas de
uma aranha, permiti que a sava-gigante arrebatasse a
aranha e a levasse na cabea como uma trouxa de roupa
esperneando mas recuei quando apareceu o besouro de
lbio leporino. Por um instante me vi refletida em seus
olhos facetados. Fez meia-volta e se escondeu no fundo da
34 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
fresta. Levantei a pedra: o besouro tinha desaparecido mas
no tufo raso vi uma folha que nunca encontrara antes,
nica. Solitria. Mas que folha era aquela? Tinha a forma
aguda de uma foice, o verde do dorso com pintas
vermelhas irregulares como pingos de sangue. Uma
pequena foice ensangentada - foi no que se transformou
o besouro? Escondi a folha no bolso, pea principal de um
jogo confuso. Essa eu no juntaria s outras folhas, essa
tinha que ficar comigo, segredo que no podia ser visto.
Nem tocado. Tia Clotilde previa os destinos mas eu podia
modific-los, assim, assim! e desfiz na sola do sapato o
cupim que se armava debaixo da amendoeira. Fui andando
solene porque no bolso onde levara o amor levava agora a
morte.
Tia Marita veio ao meu encontro, mais aflita e gaguejante
do que de costume. Antes de falar j comeou a rir: Acho
que vamos perder nosso botnico, sabe quem chegou? A
amiga, a mesma moa que Clotilde viu na mo dele,
lembra? Os dois vo embora no trem da tarde, ela linda
como os amores, bem que Clotilde viu uma moa
igualzinha, estou toda arrepiada, olha a, me pergunto
como a mana adivinha uma coisa dessas! (...)
Fui me aproximando da janela. Atravs do vidro (poderoso
como a lupa) vi os dois. Ela sentada com o lbum
provisrio de folhas no colo. Ele, de p e um pouco atrs
da cadeira, acariciando-lhe o pescoo e seu olhar era o
mesmo que tinha para as folhas escolhidas, a mesma
leveza de dedos indo e vindo no veludo da malva-ma.
(...) Quando me viu, veio at a varanda no seu andar
calmo. Mas vacilou quando disse que esse era nosso
ltimo cesto, por acaso no tinham me avisado? O
chamado era urgente, teriam que voltar nessa tarde.
Sentia perder to devotada ajudadora mas um dia, quem
sabe?... Precisaria perguntar tia Clotilde em que linha do
destino aconteciam os reencontros.
Estendi-lhe o cesto mas ao invs de segurar o cesto,
segurou meu pulso: eu estava escondendo alguma coisa,
no estava? O que estava escondendo, o qu? Tentei me
livrar fugindo para os lados, aos arrancos, no estou
escondendo nada, me larga! Ele me soltou mas continuou
ali, de p, sem tirar os olhos de mim. Encolhi quando me
tocou no brao: e o nosso trato de s dizer a verdade?
Hem? Esqueceu nosso trato? - perguntou baixinho.
Enfiei a mo no bolso e apertei a folha, intacta umidade
pegajosa da ponta aguda, onde se concentravam as
ndoas. Ele esperava. Eu quis ento arrancar a toalha de
croch da mesinha, cobrir com ela a cabea e fazer
micagens, hi hi! hu hu! At v-lo rir pelos buracos da
malha, quis pular da escada e sair correndo em ziguezague
at o crrego, me vi atirando a foice na gua, que sumisse
na correnteza! Fui levantando a cabea. Ele continuava
esperando, e ento? No fundo da sala, a moa tambm
esperava numa nvoa de ouro, tinha rompido o sol.
Encarei-o pela ltima vez, sem remorso, quer mesmo?
Entreguei-lhe a folha.
(TELLES, Lygia Fagundes. Oito contos de amor. So Paulo:
tica, 2003, p. 42-49).
No desfecho da narrativa, a personagem-narradora
I. realiza, concretamente, o seu projeto de vingana,
ao querer arrancar a toalha de croch da mesinha,...
(linha 67).
II. demonstra sua indiferena pelo primo, ao ...sair
correndo em ziguezague at o crrego,... (linhas 68-69).
III. revela uma transformao do seu mundo interior,
ao entregar a folha ao primo, encarando-o ...pela ltima
vez,... (linha 71).
Est(o) correta(s ) a(s) afirmativa(s):
a) todas
b) nenhuma
c) apenas I e II
e) apenas II e III
d) apenas I e III
f) apenas III
92) (UFPR-2002) Em um de seus livros, o jornalista Ruy
Castro assim se referiu a Rubem Braga: "Quando lanou
sua primeira coletnea, O Conde e o passarinho, em 1936,
teve de escolher entre as 2 mil crnicas que j publicara. A
que dava o ttulo ao livro continha a frase que iria defini-lo
para sempre: 'A minha vida sempre foi orientada pelo fato
de eu no pretender ser conde'. Vale a pena fazer as
contas. Quando optou pelo lado do passarinho, Rubem
ainda no completara 23 anos".
(CASTRO, R. Ela carioca. So Paulo: Companhia das
Letras, 1999. p. 326.)
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
( ) A expresso "optou pelo lado do passarinho" diz
respeito ao tom de humildade que se encontra nas
crnicas de Rubem Braga, autor que privilegiou temas
cotidianos e que retratou personagens annimas.
( ) Nos textos de 200 crnicas escolhidas, Rubem
Braga se distancia da linguagem jornalstica tpica por sua
visada subjetiva, concretizada na recorrncia do discurso
em primeira pessoa, de que exemplo a frase citada por
Ruy Castro no texto acima.
( ) Ruy Castro erra ao dizer que a frase de Rubem
Braga o definiria "para sempre", j que, nas crnicas
posteriores Segunda Guerra Mundial, seu texto ficaria
muito mais acadmico, com uma linguagem mais fcil de
associar ao "conde" do que ao "passarinho".
( ) Fora dos jornais ou das revistas para os quais
foram escritas, as crnicas de Rubem Braga perdem seu
vigor, e o leitor tem dificuldade de entend-las, j que no
tem acesso s informaes jornalsticas que originalmente
as acompanhavam.
35 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
( ) A variedade de tons perceptvel nos vrios textos
de 200 crnicas escolhidas deve-se versatilidade da
crnica, que admite tanto a confisso quanto a
reportagem, o lirismo como o drama.
93) (UFSC-2005) Texto 5
O homem disse que tinha de ir embora - antes queria me
ensinar uma coisa muito importante:
- Voc quer conhecer o segredo de ser um menino feliz
para o resto da vida?
- Quero - respondi.
O segredo se resumia em trs palavras, que ele pronunciou
com inten-sidade, mos nos meus ombros e olhos nos
meus olhos:
- Pense nos outros.
Na hora achei esse segredo meio sem graa. S bem mais
tarde vim a entender o conselho que tantas vezes na vida
deixei de cumprir. Mas que sempre deu certo quando me
lembrei de segui-lo, fazendo-me feliz como um menino.
SABINO, Fernando. O menino no espelho. 64 ed. Rio de
Janeiro: Record, 2003, p. 17-18.
Considerando o Texto 5, CORRETO afirmar que:
01. os pronomes sublinhados no trecho: sem-pre deu
certo quando me lembrei de segui-lo (linhas 15 e 16) fazem
referncia, respectivamente, ao menino Fernando e ao
homem Fernando.
02. o fragmento: Mas que sempre deu certo quando
me lembrei de segui-lo (linhas 15-16) aponta uma causa
cuja conseqncia est presente em: fazendo-me feliz
como um menino (linhas 16-17).
04. o trecho: S bem mais tarde vim a entender o
conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir (linhas
13 a 15) pode ser substitudo por: bem mais tarde que
vim a entender o conselho que tantas vezes na vida deixei
de cumprir, j que tanto a expresso s como que so
recursos lingsticos indicadores de nfase.
08. a expresso verbal deixei de cumprir (linhas 14 e
15) foi empregada para indicar anterioridade ao marco
temporal passado vim a entender (linha 13).
16. a palavra que nas trs ocorrncias sublinhadas no
texto (linhas 1, 8 e 14) est funcionando como pronome
relativo, pois ao mesmo tempo em que liga oraes
tambm aponta para um antecedente.
94) (UFSC-2005) Texto 5
O homem disse que tinha de ir embora - antes queria me
ensinar uma coisa muito importante:
- Voc quer conhecer o segredo de ser um menino feliz
para o resto da vida?
- Quero - respondi.
O segredo se resumia em trs palavras, que ele pronunciou
com inten-sidade, mos nos meus ombros e olhos nos
meus olhos:
- Pense nos outros.
Na hora achei esse segredo meio sem graa. S bem mais
tarde vim a entender o conselho que tantas vezes na vida
deixei de cumprir. Mas que sempre deu certo quando me
lembrei de segui-lo, fazendo-me feliz como um menino.
SABINO, Fernando. O menino no espelho. 64 ed. Rio de
Janeiro: Record, 2003, p. 17-18.
Assinale a(s) proposio(es) CORRETA(S) a respeito de O
menino no espelho, de Fernando Sabino e do Texto 5.
01. O protagonista pode ser comparado a um heri
quixotesco, ou bem-intencionado, uma vez que est
sempre em busca de conflitos para resolv-los, como
quando salva a galinha de virar molho pardo ou quando
liberta todos os pssaros do viveiro do vizinho.
02. A atmosfera de infncia, de aventuras e de
invenes, evidenciada em episdios como o da revelao
da Sociedade Secreta Olho de Gato, perpassa toda a
narrativa.
04. A inverso O menino e o homem (prlogo)
versus O homem e o menino (eplogo) pode ser
aproximada epgrafe do livro O menino o pai do
homem, de William Wordsworth, evocando a idia de que
o menino Fernando determinou o homem Fernando.
08. O detalhamento descritivo na criao de ce-nas
abundante em todo o romance, como possvel perceber
em: Quando chovia... todo mundo levando e trazendo
baldes, bacias, panelas, penicos... me divertia a valer
quando uma nova goteira aparecia (p. 13).
16. um romance biogrfico, em flash-back, em que
o narrador/protagonista relata aventuras da infncia de
seu pai, como se pode constatar no Texto 5.
95) (UFSC-2005) Sobre o livro A colina dos suspiros, de
Moacyr Scliar, CORRETO afirmar que:
01. o narrador inicia por comparar Pau Seco a Roma,
dizendo que as duas cidades foram construdas sobre
colinas.
02. por meio de metforas e comparaes, o
narrador evoca o mundo do futebol, como nas expresses
assinaladas: Jogando, Rubinho era um demnio... o menino
um gnio... Ele, jogador profissional?... Como Pel e
Garrincha.... (p. 38-39).
04. a passagem: A consorte olhou-o, furibunda, mas
optou por aceitar a desculpa (p. 15) caracteriza a
linguagem grandiloqente (suntuosa), utilizada por Scliar
em todo o romance.
08. o livro discute questes sociais, polticas e ticas.
O trecho: Anto Rocha ainda tentou ponderar que entre
36 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
jazigo perptuo e tmulo comum havia diferena (p. 27)
exemplo de, pelo menos, uma dessas questes.
16. As expresses at e j, no trecho: Roma um
nome que at hoje impe respeito; j a denominao Pau
Seco tem sido motivo de piadas e brincadeiras (p. 5),
servem para estabelecer contraposio entre Roma e Pau
Seco. No primeiro caso, coloca o lugar em posio
superior e, no segundo caso, em plano mais baixo.
96) (UFSC-2005) Com base na leitura de A roda do mundo
e de Minha formao, INCORRETO afirmar que
a) ambas as obras se caracterizam como autobiogrficas.
b) Minha formao se localiza no gnero memorialstico.
c) os autores, em A roda do mundo, apresentam versos
africanos tradicionais.
d) os autores, nas duas obras, se apropriam de termos de
outras culturas.
97) (UFSC-2006) Podem-se estabelecer relaes entre as
obras indicadas para este Vestibular, o contexto scio-
cultural e outros textos.
Com base nesta considerao, assinale a(s)
proposio(es) abaixo que esteja(m) CORRETA(S).
01. Embora em contextos diferentes, os escrito-res se
utilizam de recursos recolhidos dos costumes populares
para a composio de seus textos. Assim, Jorge de Lima, no
poema Xang, faz o apelo: So Marcos, S. Manos /
com o signo-de-salomo, que pode ser comparado ao
mesmo recurso utilizado por Franklin Cascaes, quando
ensina os remdios contra as bruxas: ervas, alho e a cruz
de sino saimo.
02. O romance O imprio caboclo, de Donaldo
Schler, utiliza-se da Guerra do Paraguai como tema
principal. Da mesma forma, Euclides da Cunha utiliza-se da
temtica histrica da Guerra de Canudos para compor Os
sertes.
04. A profecia, utilizada como anncio de cats-trofes,
pode ser lida tanto nas palavras de Antnio Conselheiro,
personagem de Euclides da Cunha, como na figura do paj,
construda no texto de Werner Zotz. Os dois personagens
alertam para o fim de um mundo, de um povo, de uma
cultura.
08. Os imigrantes de diferentes nacionalidades
constituem temtica freqente dos ficcio-nistas brasileiros,
que retratam as diferentes culturas formadas no Brasil por
esse processo histrico. assim que Brs, Bexiga e Barra
Funda, de Antnio de Alcntara Machado, e O fantstico
na Ilha de Santa Catarina, de Franklin Cascaes, retratam a
cultura italiana no sul do Brasil.
16. Em 200 crnicas escolhidas, Rubem Braga
confirma o gnero textual que d nome obra, por
apresentar textos com assuntos do dia-a-dia relacionados
natureza, mocidade, ao amor vida simples, por meio
de uma linguagem clara e com certo tom de informalidade.
32. H uma notvel intertextualidade entre os livros
Novos poemas, de Jorge de Lima e A rosa do povo, de
Carlos Drummond de Andrade, pois os dois so compostos
de poemas.
98) (UFSC-2007)
1
5
TEXTO 1 - Fala, Kleid. Bem que tu poderias. Tu que a tudo assististe. Tu que tudo guardaste. V s.
Estou sozinho. To velho por fora e por dentro, que mal posso conter a avalanche de todas as
lembranas. Um mundo de vises que passaram por ns. Tu te lembras? Quando voltei do enterro da
Grossmutter te perguntei como era a minha me. Eu no me lembro dela. Morreu moa, eu e as minhas
irms muito pequenas. Como seria a minha me alem, tocadora de violino, segundo contava a v
Sacramento? Ela no existiu para mim. Meu pai era um sujeito danado de alegre. Bebedor de bier e
sempre fazendo travessuras. Era uma criana grande que foi morrer na Segunda Guerra, s por amor
Alemanha. Pensava que Hitler era o Deus. LAUS, Lausimar. O guarda-roupa alemo. 4. ed.
Florianpolis: Ed. da UFSC, 2006, p. 129-130.
Considerando o TEXTO 1 e o romance O guarda-roupa
alemo, assinale a(s) proposio(es) CORRETA(S).
01. A narrativa constitui-se das memrias de Homig, o
ltimo Ziegel, que dialoga com Kleiderschrank, o guarda-
roupa.
02. O guarda-roupa personificado: ele assistiu histria,
testemunha dos fatos que aconteceram na casa dos
alemes e depositrio de um grande segredo da
matriarca da famlia.
04. As palavras em idioma alemo: Kleiderschrank,
Grossmutter e bier so vestgios de que o romance se
passa em uma pequena cidade da Alemanha.
08. Dentro do romance, as referncias a Hitler, Segunda
Guerra e Alemanha apontam o quanto os problemas da
Alemanha se refletiram duramente nos colonos da Regio
do Vale do Itaja, em Santa Catarina.
16. A v Sacramento, tpica aoriana, personifica a mistura
de raas que aconteceu com a vinda dos imigrantes para
Santa Catarina. Seu convvio com a famlia Ziegel
exemplo da harmonia entre aorianos e alemes na regio.
32. A famlia Ziegel no conseguiu manter as tradies
vindas da Alemanha, j que assimilou com tranqilidade os
costumes da regio que a acolheu.
99) (UFSC-2007)
1
TEXTO 1
- Fala, Kleid. Bem que tu poderias. Tu que a tudo
assististe. Tu que tudo guardaste. V s. Estou sozinho.
To velho por fora e por dentro, que mal posso conter
a avalanche de todas as lembranas. Um mundo de
37 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
5
vises que passaram por ns. Tu te lembras? Quando
voltei do enterro da Grossmutter te perguntei como era
a minha me. Eu no me lembro dela. Morreu moa, eu
e as minhas irms muito pequenas. Como seria a minha
me alem, tocadora de violino, segundo contava a v
Sacramento? Ela no existiu para mim. Meu pai era um
sujeito danado de alegre. Bebedor de bier e sempre
fazendo travessuras. Era uma criana grande que foi
morrer na Segunda Guerra, s por amor Alemanha.
Pensava que Hitler era o Deus.
LAUS, Lausimar. O guarda-roupa alemo. 4. ed.
Florianpolis: Ed. da UFSC, 2006, p. 129-130.
Ainda em relao ao TEXTO 1, assinale a(s) proposio(es)
CORRETA(S).
01. Em V s (linha 2), o verbo se encontra no modo
imperativo; porm, houve um deslize quanto norma
padro da lngua; a forma adequada seria Veja s, j que
o narrador utiliza a 2
a
pessoa do singular para referir-se a
Kleid.
02. O trecho mostra a inteno do narrador de dialogar
com o guarda-roupa, o que percept-vel atravs do
vocativo utilizado em Fala, Kleid.
04. O narrador sabe que a me tinha aptido para tocar
um instrumento musical graas aos relatos de v
Sacramento.
08. Os verbos poderias, assististe, seria e foi esto todos no
pretrito perfeito, o que significa dizer que representam
aes acabadas, como ocorre na sentena: Naquela poca,
as brincadeiras faziam a platia muito feliz.
16. O narrador achava que, se preciso, deveria dar a vida
pela Alemanha e que Hitler deveria ser to respeitado
quanto Deus.
32. Segundo o narrador, a avalanche (linha 2) de suas
lembranas era fruto da avanada idade de Kleid, que
estava velho por fora e por dentro.
100) (UFSC-2007)
1
5
TEXTO 2
H mais de meio sculo, continuou. Eu era
moleque, e eles uns curumins que j carregavam tudo,
iam dos barcos para o alto da praa, o dia todo assim.
Eu vendia tudo, de porta em porta. Entrei em centenas
de casas de Manaus, e quando no vendia nada, me
ofereciam guaran, banana frita, tapioquinha com caf.
Em vinte e poucos, por a, conheci o restaurante do
Galib e vi a Zana... Depois, a morte do Galib, o
nascimento dos gmeos...
HATOUM, Milton. Dois irmos. So Paulo: Companhia
das Letras, 2000, p. 133.
Com relao ao TEXTO 2 e ao romance Dois irmos,
assinale a(s) proposio(es) CORRETA(S).
01. No Texto 2, o narrador principal da histria (Nael, filho
de Omar) cede espao para um narrador secundrio
(Halim, pai de Omar) resumir sua saga de imigrante
libans.
02. A narrativa apresenta um drama familiar e a
conflituosa relao entre os dois irmos gmeos, Yacub e
Omar.
04. Nael, personagem/narrador perturbado pela dvida
quanto sua filiao, reconstri a memria da famlia
libanesa, que , tambm, a sua prpria
memria/identidade.
08. O excerto apresenta os principais elementos da
narrativa de Hatoum: romance ambientado em Manaus; o
narrador, Galib, mascate, conhece Zana, filha do dono de
um restaurante, e pai dos gmeos Yacub e Omar (foco da
discrdia familiar).
16. So recorrentes, em obras de fico ou que
representam diferentes culturas, as disputas entre irmos
gmeos, a exemplo de Caim e Abel, Esa e Jac, mas que,
diferentemente de Yacub e Omar, encontram uma sada
harmoniosa para o conflito.
32. Embora os dois irmos sejam gmeos, Omar
chamado de o caula, o que denuncia o tratamento
desigual dado, pela me, aos dois personagens principais e
criticado pela irm dos gmeos, Rnia.
64. Nael, o narrador, filho da ndia Domingas e de Omar,
filho de imigrante libans. Nael simboliza a mistura das
raas resultante dos processos de imigrao, que se deu de
forma tranqila e equilibrada.
101) (UFSC-2007)
1
5
TEXTO 2
H mais de meio sculo, continuou. Eu era
moleque, e eles uns curumins que j carregavam tudo,
iam dos barcos para o alto da praa, o dia todo assim.
Eu vendia tudo, de porta em porta. Entrei em centenas
de casas de Manaus, e quando no vendia nada, me
ofereciam guaran, banana frita, tapioquinha com caf.
Em vinte e poucos, por a, conheci o restaurante do
Galib e vi a Zana... Depois, a morte do Galib, o
nascimento dos gmeos...
HATOUM, Milton. Dois irmos. So Paulo: Companhia
das Letras, 2000, p. 133.
38 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Ainda considerando o TEXTO 2, assinale a(s)
proposio(es) CORRETA(S).
01. Em Eu era moleque, e eles uns curumins que j
carregavam tudo (linhas 1-2) houve, na segunda orao,
elipse de um verbo, cuja compreenso possvel a partir
da leitura da orao anterior.
02. Em vinte e poucos, por a, [...] (linhas 4-5)
corresponde semanticamente a Quando eu tinha vinte e
poucos anos...
04. Na frase Entrei em centenas de casas de Manaus
(linha 3), pode-se substituir a forma verbal por entrava,
sem prejuzo do sentido.
08. Na ltima sentena do excerto, o paralelismo sinttico
obtido atravs da omisso dos verbos em nada prejudicou
a compreenso do texto.
16. No trecho apresentado, a expresso por a (linha 5)
faz referncia ao local onde o casal Galib e Zana se
conheceu.
102) (UFSC-2007)
1
5
TEXTO 3
Quando a noite est escura, e cai o vento noroeste,
v-se dois vultos brancos como a neve atravessarem o
mar, vindos da Ilha do Mel Ponta Grossa, e irem
costeando at a Ponta da Pedreira. Dali se
transformam em duas pombas brancas, e voam pelo
mesmo caminho que vieram; porm ento so
perseguidas por trs corvos que procuram agarr-las
com seus bicos hediondos, grasnando horrivelmente:
chegando bem no meio do mar, os corvos se
transformam em Meninos queimados, e lanam gritos
to agudos que fazem acordar as crianas em seus
beros, iluminando todo o mar com o claro de suas
caudas inflamadas.
CASTRO, Ana Lusa de Azevedo. D. Narcisa de Villar. 4.
ed. Florianpolis: Ed. Mulheres, 2000, p. 126.
Com base no TEXTO 3 e no romance D. Narcisa de Villar,
assinale a(s) proposio(es) CORRETA(S).
01. O livro, nos moldes da esttica romntica de Jos de
Alencar, conta a histria de D. Narcisa e de Leonardo, que
vivem um amor impossvel e morrem por esse amor.
02. A narradora, muito presente em todo o romance,
relata uma lenda do imaginrio popular trazida de Portugal
e mantida por sua famlia.
04. A oposio entre pombas brancas e corvos
representa a luta entre o bem e o mal, proposta na
narrativa.
08. Os trs corvos so os trs irmos de D. Narcisa que,
metamorfoseados, ainda carregam as caractersticas dos
colonizadores, retratados no romance como ricos, mas
humildes e caridosos.
16. O recurso da comparao do ser humano com
elementos da natureza, a exemplo de vul-tos brancos
como a neve (linhas 1-2), destoa do tom geral da esttica
romntica, qual se pode filiar a obra.
32. Pode-se concluir, de acordo com o excerto, que, aps a
morte, os bons sero recompensa-dos e os maus,
perdoados.
64. D. Narcisa o prottipo da herona romntica (pura,
boa, defensora do bem), trao que carrega consigo aps a
morte, transformando-se em smbolo da paz.
103) (UFSC-2007)
1
5
TEXTO 3
Quando a noite est escura, e cai o vento noroeste,
v-se dois vultos brancos como a neve atravessarem o
mar, vindos da Ilha do Mel Ponta Grossa, e irem
costeando at a Ponta da Pedreira. Dali se
transformam em duas pombas brancas, e voam pelo
mesmo caminho que vieram; porm ento so
perseguidas por trs corvos que procuram agarr-las
com seus bicos hediondos, grasnando horrivelmente:
chegando bem no meio do mar, os corvos se
transformam em Meninos queimados, e lanam gritos
to agudos que fazem acordar as crianas em seus
beros, iluminando todo o mar com o claro de suas
caudas inflamadas.
CASTRO, Ana Lusa de Azevedo. D. Narcisa de Villar. 4.
ed. Florianpolis: Ed. Mulheres, 2000, p. 126.
Considerando ainda o TEXTO 3, assinale a(s)
proposio(es) CORRETA(S).
01. De acordo com a norma culta, na frase v-se dois
vultos brancos como a neve atravessarem o mar [...]
(linhas 1-2) h problema de concordncia verbal, uma vez
que o verbo v deveria estar no plural, por ter como
sujeito dois vultos brancos como a neve.
02. Em ... trs corvos que procuram agarr-las... (linhas
4-5), o pronome oblquo faz referncia palavra crianas
(linha 7).
04. Em Dali se transformam em duas pombas brancas
(linha 3), houve elipse do sujeito que pode ser resgatado
no perodo anterior.
08. De acordo com as informaes do Texto 3, possvel
avistar os vultos brancos como a neve atravessarem o
39 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
mar (linhas 1-2) sob duas condies: que a noite esteja
escura e sem vento noroeste.
16. Em ... lanam gritos to agudos que fazem acordar as
crianas em seus beros (linhas
6-7) temos, na segunda orao, uma relao de
conseqncia.
32. Os vocbulos est, v-(se), porm, trs, agarr-(las),
sublinhados no Texto 3, recebem acento grfico pela
mesma regra, ou seja, por serem todos oxtonos, condio
suficiente para que os vocbulos sejam acentuados.
104) (UFSC-2007) Com relao s obras Relatos escolhidos,
de Silveira de Souza, A legio estrangeira, de Clarice
Lispector e Comdias para se ler na escola, de Luis
Fernando Verissimo, assinale a(s) proposio(es)
CORRETA(S).
01. Os trs livros de contos apresentam narrativas curtas,
cenas do cotidiano, com certa dose de bom humor e crtica
social.
02. As narrativas de Silveira de Souza refletem o mundo
que cerca o homem com seus desencontros; os
transtornos que podem ser interpretados pelo inslito; o
absurdo ou o mistrio que cercam os personagens, a
exemplo do despropsito representado pelo crescimento
desmedido do brao esquerdo de Nomia.
04. As narrativas de Clarice Lispector apresentam enredo
linear, previsvel, a exemplo de cenas que mostram a
fragilidade dos animais diante do ser humano, o que pode
ser observado na morte do pintinho no conto A legio
estrangeira.
08. O humor matria-prima de Verissimo. Porm, suas
crnicas no levam somente ao riso, mas tambm
reflexo sobre os temas do nosso cotidiano, como
equvocos, violncia e mudana de sentido das coisas da
vida.
16. No conto Os pequenos desencontros, de Silveira de
Souza, um casal percebe-se sem sada no meio de uma
cidade tumultuada, de gentilezas formais e de sorrisos
impessoais, o que demonstra a angstia do homem diante
de uma realidade desumana.
32. Clarice Lispector, em seus escritos realistas, tenta
explicar questes polmicas, como ocorre no texto
intitulado O ovo e a galinha, em que responde
tradicional pergunta: Quem nasceu primeiro, o ovo ou a
galinha?.
105) (UFSCar-2002) Texto 1
At o fim
(Chico Buarque)
Quando eu nasci veio um anjo safado
O chato dum querubim
E decretou que eu tava predestinado
A ser errado assim
J de sada a minha estrada entortou
Mas vou at o fim.
Texto 2
Poema de Sete Faces
(Carlos Drummond de Andrade)
Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.
(...)
Os dois textos no s se assemelham com relao ao tema
de que tratam, como tambm estruturao.
a) Que tema desenvolvido em ambos os textos ?
b) Qual a semelhana na estrutura entre eles? D um
exemplo.
106) (UFU-2006) Leia os versos do poeta Ferreira Gullar.
(...)
Quantas tardes numa tarde!
e era outra, fresca,
debaixo das rvores boas a tarde
na praia do Jenipapeiro
(...)
Muitos
Muitos dias h num dia s
porque as coisas mesmas
os compem
com sua carne (ou ferro
que nome tenha essa
matria tempo
suja ou
no)
(...)
impossvel dizer
em quantas velocidades diferentes
se move uma cidade
a cada instante
Melhores poemas.
Com relao ao fragmento acima, marque a afirmativa
correta.
a) O poeta faz uma reflexo sobre a simultaneidade e a
temporalidade das coisas, excluindo, implicitamente, a
reflexo da temporalidade humana.
b) As lembranas e associaes evocadas pela memria
atualizam o passado, fazendo-o repetir-se sem alteraes,
como se v na primeira estrofe.
c) A assimetria dos versos e a forma como so dispostos no
papel representam um estilo literrio e desconsideram o
tratamento temtico do texto.
40 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
d) Os versos so marcados pela idia de simultaneidade,
tanto da lembrana quanto da existncia real das coisas, o
que leva o poeta reflexo sobre o tempo.
107) (UFU-2006) Em 30 de julho deste ano, comemora-se o
centenrio de nascimento do poeta gacho Mario
Quintana. Seu estilo plural incorpora, ao longo da
produo potica, o parnasianismo, o simbolismo, o
modernismo.
Leia o poema seguinte e marque a afirmativa INCORRETA.
Poeminho do contra
Todos esses que a esto
Atravancando o meu caminho,
Eles passaro...
Eu passarinho!
Mario Quintana. Poesia Completa.
a) A regularidade mtrica, as rimas ricas, a postura
descritiva, o tema elevado e a linguagem clssica fazem
desse poema um exemplar do parnasianismo.
b) No se pode dizer que o poema simbolista somente
porque apresenta musicalidade na linguagem e evoca o
smbolo do pssaro para definir a subjetividade do poeta.
c) O poema modernista: usa linguagem coloquial, vale-se
da brevidade, da surpresa, do humor e da ironia para
versar sobre o tema das difceis relaes humanas.
d) H ambigidade nos dois ltimos versos: ao mesmo
tempo em que seus detratores so maiores e tero vida
efmera (passaro), o poeta, menor (passarinho),
permanecer.
108) (UFV-2005) O conto O monstro, de Srgio
Santanna, narra a histria do estupro e do assassinato de
uma jovem - Frederica - que sofria de deficincia visual. A
respeito deste conto, marque a afirmativa INCORRETA:
a) O tema central do conto a violncia, tratada de forma
simplista e banal tal como aparece nos jornais
sensacionalistas que, rotineiramente, estampam as suas
primeiras pginas com crimes hediondos.
b) O narrador tenta desvendar, atravs da conscincia do
assassino, as causas que o levaram a cometer o crime.
c) A linguagem jornalstica, tambm presente no conto,
misturada com reflexes de cunho psicolgico e filosfico
sobre os limites humanos.
d) O conto origina-se do mesmo mote que inspira os
romances policiais, mas se diferencia deles porque parte, a
priori, do assassino j conhecido.
e) A estrutura pela qual formada o conto - perguntas e
respostas - deixa entrever nos parnteses abertos, antes
das respostas do entrevistado, a sensibilidade do
assassino.
109) (UFV-2005) Nos contos Uma Carta e As cartas no
mentem jamais, de Srgio Santanna, encontramos
caractersticas da narrativa ps-moderna, isto , da
produo literria contempornea. Assinale a alternativa
que contm uma caracterstica dessa narrativa:
a) O paradoxo entre os acontecimentos reais e
transcendentais.
b) A linguagem como instrumento de construo de
sentidos.
c) O bucolismo das paisagens rurais contrapondo com as
cenas urbanas.
d) A presena de narrativas longas e descritivas, como no
Romantismo.
e) A mistura de elementos da natureza e da cultura
estrangeira.
110) (Unicamp-2003) Leia atentamente o poema abaixo,
de autoria de Cacaso:
H UMA GOTA DE SANGUE
NO CARTO POSTAL
eu sou manhoso eu sou brasileiro
finjo que vou mas no vou minha janela
a moldura do luar do serto
a verde mata nos olhos verdes da mulata
sou brasileiro e manhoso por isso dentro
da noite e de meu quarto fico cismando
[na beira de um rio
na imensa solido de latidos e araras
lvido
de medo e de amor
(Antonio Carlos de Brito (CACASO), Beijo na boca. Rio de
Janeiro, 7 Letras, 2000. p. 12.)
a) Este poema de Cacaso (1944-1987) dialoga com vrias
vozes que falaram sobre a paisagem e o homem
brasileiros. Justifique a referncia ao carto postal do
ttulo, atravs de expresses usadas na primeira estrofe.
b) O poema se constri sobre uma imagem suposta de
brasileiro. Qual essa imagem?
c) Quais as expresses poticas que desmentem a
felicidade obrigatria do eu do poema?
111) (Unicamp-2000) Um quarup, a ser organizado por
ndios de rea prxima ao posto do Servio de Proteo
aos ndios, no Brasil Central, uma das idias mais
constantes do segundo e terceiro captulos do romance
Quarup, que Antnio Callado publicou em 1967. No se
trata de uma insistncia aleatria: o terceiro captulo
culmina com o relato daquela festa ritualstica, que, nesse
caso, envolve vrios acontecimentos decisivos para uma
boa compreenso da obra.
a) aquele quarup coincide no romance com a notcia de
um acontecimento trgico, que teria abalado o quadro
poltico brasileiro. Que acontecimento foi esse? Que outro
fato poltico vinculado com aquele acontecimento
41 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
referido no romance em pginas imediatamente
precedentes ao relato do quarup?
b) por que um dos protagonistas diz que aquele ser
provavelmente o ltimo quarup daquela tribo?
112) (Unicamp-2004) Considera-se a estria da pea
Vestido de noiva (1943), de Nelson Rodrigues, um marco
na renovao do teatro brasileiro.
a) Cite a principal novidade estrutural da pea e comente.
b) Por que no encerramento da pea uma rubrica indica
que a Marcha Nupcial e a Marcha Fnebre devem ser
executadas simultaneamente?
113) (Unifesp-2003) A questo seguinte baseia-se no
poema concreto Epithalamium II, de Pedro Xisto (1901-
1987).
Pressupostos tericos da Poesia Concreta propem a
realizao de um poema-objeto, isto , uma obra que
informa por meio de sua prpria estrutura (estrutura =
contedo); valoriza, entre outros elementos, o espao em
branco da pgina, como produtor de sentidos, e a
utilizao de formas visuais. Em vrias edies de
Epithalamium II (epitalmio = canto ou poema nupcial),
aparecem as seguintes indicaes: he = ele; & = e; S =
serpens; h = homo; e = Eva. Observe o poema, e,
medianteas indicaes do autor, aponte, dentre as
alternativas, aquela que mais se aproxima da mensagem
da obra.
a) As trs letras, dispostas de modo a produzir uma
imagem visual, denotam que o homem e a mulher,
representados pelos pronomes pessoais, em ingls, foram
coisificados e, aps, separados um do outro, pelo pecado
original (Ado e Eva).
b) A letra S, que desenha e escreve She, ao mesmo tempo
que compe as formas sinuosas de uma serpente (=
pecado), parece que enlaa o he. Poderia evocar, por um
lado, que os gneros humanos se completam, um no
outro, e, por outro, a supremacia da feminilidade sobre a
masculinidade, j que he (= ele) configurado no interior
de She (= ela).
c) O &, que se desenha no poema, revela, por um lado, a
desintegrao mulher/homem (representados em ingls)
e, por outro, a situao dos seres humanos no mundo
capitalista. Isto se justifica pelo fato de & lembrar a forma
com que se designa a razo social das empresas.
d) O significado do poema se esgota na simples
contemplao do mesmo, como se fosse o logotipo de
uma empresa. O She e o he comparecem como artifcios
provocativos que disfaram os significados de si prprios.
Neste sentido, masculinidade e feminilidade se anulam.
e) No h hierarquia entre She (= ela) e he (= ele), uma vez
que esses pronomes pessoais esto desenhados em forma
vertical no espao branco da pgina, e no
horizontalmente, como seria comum na poesia tradicional.
114) (UECE-2002) HERANA
- Vamos brincar de Brasil?
Mas sou eu quem manda
Quero morar numa casa grande
... Comeou desse jeito a nossa histria.
Negro fez papel de sombra.
E foram chegando soldados e frades
Trouxeram as leis e os Dez-Mandamentos
Jabuti perguntou:
- Ora s isso?
Depois vieram as mulheres do prximo
Vieram imigrantes com alma a retalho
Brasil subiu at o 10 andar
Litoral riu com os motores
Subrbio confraternizou com a cidade
Negro coou piano e fez msica
Vira-bosta mudou de vida
Maitacas se instalaram no alto dos galhos
No interior
o Brasil continua desconfiado
A serra morde as carretas
Povo puxa bendito pra vir chuva
Nas estradas vazias
cruzes sem nome marcam casos de morte
As vinganas continuam
Famlias se entredevoram nas tocaias
H noites de reza e cata-piolho
Nas bandas do cemitrio
Cachorro magro sem dono uiva sozinho
De vez em quando
a mula-sem-cabea sobe a serra
ver o Brasil como vai
Raul Bopp
42 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
A articulao das duas partes do texto feita,
principalmente, pelo (a)
a) notao de lugar, no interior
b) significao da forma verbal continua
c) substantivo Brasil
d) pelo uso da quadra, que repete o formato da estrofe
inicial
115) (UEPB-2006) Observe, abaixo, os captulos de
romances e os comentrios sobre eles, em seguida assinale
a alternativa correta:
Memrias pstumas de Brs Cubas (Machado de Assis,
1881)
Captulo LV
O velho dilogo de Ado e Eva
BRS CUBAS
. . . . ?
VIRGNIA
. . . .
BRS CUBAS
. . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRGNIA
. . . . . !
BRS CUBAS
. . . . . .
VIRGNIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRS CUBAS
. . . . . . . . .
VIRGNIA
. . . .
BRS CUBAS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! . . .
. . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
VIRGNIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
BRS CUBAS
. . . . . . !
VIRGNIA
. . . . . . !
Memrias sentimentais de Joo Miramar (Oswald de
Andrade, 1924):
MONT-CENES
O alpinista
De alpenstock
Desceu
Nos Alpes
Zero (Igncio de Loyola Brando, 1975)
LIO DE GEOGRAFIA
Colmbia: 1.283.400 km, caf, algodo e cana-de-acar,
trigo e milho, United Fruit, petrleo, moeda oficial: o peso.
Adeus, adeus
Acaba de embarcar, de mudana para a University of
Michigan, o cientista Carlos Correia, a maior autoridade do
pas em comunicaes eletrnicas. Ganhando aqui um
salrio pouco acima do mnimo e sem condies de
pesquisa, o sr. Carlos Correia preferiu se retirar por uns
tempos at que a situao melhore.
Livre associao
Cine odeon, paratodos, robinhood com errol flynn,
perfume canoe (dana), balas de hortel, pegar nos peitos
das meninas, tim holt, hopalong cassidy, bill Elliot, roy
rogers, ken maynard, zorro, bang-bang, cllia. Pam, tapam,
rataplam, cr, puuuuuuuuu (peido) when
bguin the beguine, bandera rossa, pim, pim, pim, pim,
pim, clap, clap, clop
I. Os captulos demonstram a influncia nociva dos
meios de comunicao de massa na literatura, fazendo-a
perder sua essncia literria em prol de uma incorporao
da linguagem vulgar que falamos no dia a dia. Nestes
captulos, a lngua para poucos da literatura perde valor,
o que explica a baixa qualidade da literatura moderna no
Brasil.
II. Os captulos citados revelam que o romance
brasileiro vem mantendo um dilogo fecundo e constante
com os meios de comunicao do mundo capitalista
moderno: o dinamismo da pgina de jornal em Machado
de Assis, a montagem cinematogrfica em Oswald de
Andrade, o ritmo fragmentrio da televiso em Igncio de
Loyola Brando.
III. Os fragmentos romanescos citados so exemplos,
na literatura brasileira, da tradio de ruptura com o
realismo tradicional e o regionalismo, visando a absoro
da cultura urbana e da viso de mundo do homem das
cidades.
IV. Embora parte integrante de um romance, os
captulos acima citados so exemplos de uma instigante
tendncia da literatura brasileira moderna e
contempornea que faz interagir o romance com outras
formas literrias, rompendo o limite entre a prosa e a
poesia. Como outros textos da literatura brasileira
moderna, Memrias pstumas de Brs Cubas, Memrias
sentimentais de Joo Miramar e Zero criam captulos de
romance que mais se parecem com poemas em prosa do
que com captulos de romance.
a) Apenas os comentrios II, III e IV esto corretos;
b) Apenas o comentrio I est correto;
c) Apenas os comentrios I e II esto corretos;
d) Todos os comentrios esto corretos;
e) Nenhum comentrio est correto.
116) (UFBA-2002) Texto:
O Ssamo
43 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
- Abre-te, Ssamo! Gritava o Raul, no meio do silncio
pasmado da assistncia.
A fiada estava apinhada naquela noite. Mulheres, homens
e crianas. As mulheres a fiar, a dobar ou a fazer meia, os
homens a fumar e a conversar, e a canalhada a dormitar
ou nas diabruras do costume. Mas chegou a hora do Raul
e, como sempre, todos arrebitaram a orelha s histrias
do seu grande livro. Em Urros, ao lado da instruo da
escola e da igreja, a primeira dada a palmatoadas pelo
mestre e a segunda a bofetes pelo prior, havia a do Raul,
gratuita e pacfica, ministrada numa voz quente e hmida,
que ao sair da boca lhe deixava cantarinhas no bigode.
- Abre-te, Ssamo! - e o antro, com seu deslumbrante
recheio, escancarou-se em sedutor convite...
As crianas arregalavam os olhos de espanto. Os homens
estavam indecisos entre acreditar e sorrir. As mulheres
sentiam todas o que a Lamega exprimiu num comentrio:
- O mundo tem cousas!...
Urros, em plena montanha, uma terra de ovelhas. Ao
romper de alva, ainda o dia vem longe, cada corte parece
um saco sem fundo donde vo saindo movedios novelos
de l. Quem olha as suas ruelas a essa hora, v apenas um
tapete fofo, ondulante, pardo do lusco-fusco, a cobrir os
lajedos. Depois o sol levanta-se e ilumina os montes. E
todos eles mostram amorosamente nas encostas os
brancos e mansos rebanhos que tosam o panasco macio. A
riqueza da aldeia so as crias, o leite e aquelas nuvens
merinas que se lavam, enxugam e cardam pelo dia fora, e
nas fiadas se acabam de ordenar. Numa loja gado, ao
quente bafo animal, junta-se o povo. Todos os moradores
se cotizam para a luz de carboneto ou de petrleo, e o
sero comea. no inverno, nas grandes noites sem- fim,
que se goza na aldeia essa fraternidade. H sempre
novidades a discutir, amoriscos tentar,apagadas fogueiras
que preciso reacender, e, sobretudo, h o Raul a
descobrir cartapcios ningum sabe como e a l-los com
tal sentimento ou com tanta graa que ou faz chorar as
pedras ou rebentar um morto de riso.
Daquela feita tratava-se de uma histria bonita, que metia
uma grande fortuna escondida na barriga de um monte. E
o rapazio, principalmente, abria a boca de
deslumbramento. Todos guardavam gado na serra. E a
todos ocorrera j que bem podia qualquer penedo dos que
pisavam estar prenhe de tesouros imensos. Mas que uma
simples palavra os pudesse abrir - isso que no lembrara
a nenhum.
Da gente mida que escutava, o mais pequeno era o
Rodrigo, guicho, imaginativo, e por isso com fama de
amalucado. (...)
(...) E de manhzinha, o Rodrigo, contra o costume,
esgueirou-se sozinho para a serra da Forca atrs do
rebanho. A histria do Raul tinha-lhe encandescido os
miolos. Necessitava por isso de solido e de apagar o
incndio sem testemunhas. A serra da Forca longe e
feia. Tem pasto, mas de que vale?! O passado deixou ali
tanto grito perdido, tanto cadver insepulto, tanta alma
penada, que at mesmo as ladainhas da primavera se
desviam e passam de largo. Mas nos stios assim
amaldioados que o povo, talvez para as preservar da
coscuvilhice da razo, gosta de plantar lendas bonitas e
aliciantes. E v de inventar que havia um tesoiro escondido
naquele ermo de maldio. Encontr-lo que era difcil.
Enterrado entre penedias, guardado por mil fantasmas,
quem teria coragem de tentar a empresa? Ningum. E o
monte escomungado l continuava azulado na distncia,
agreste e assombrado.
O Rodrigo, porm, resolvera quebrar o encanto. E, s
pedradas ao gado, ao nascer do sol tinha-o na frente.
Ia simplesmente rasgar o vu do mistrio. Ia imitar o
ladro da histria, com a diferena apenas de que uma vez
dentro da caverna no se esqueceria, como o outro, das
palavras mgicas que lhe assegurariam a retirada.
E de alma tranqila, mas a tremer de emoo,
solenemente, o pequeno feiticeiro ergueu a mo e gritou:
- Abre-te, Monte da Forca!
A sua imaginao ardente acreditava em todos os
impossveis. Tinha certeza de que o Ssamo da histria do
Raul existira realmente. Por isso ouviu com serenidade e
confiana o eco da prpria voz a regressar ferido das
encostas. Tudo requeria o seu tempo.
Irreais, os horizontes perdiam-se ao longe esfumados e
frios. Vago, o rebanho, volta, tosava a erva
mansamente. Impreciso, o gemido da ovelha queixosa no
conseguia transpor o limiar da conscincia do pastor.
Transfigurado, o Rodrigo estava entregue ao milagre.
Ordenara-o e esperava por ele.
- Abre-te, Monte da Forca! - gritou de novo, j enfadado de
uma espera que no cabia na iluso.
Qualquer coisa volta pareceu tremer, e o corao do
pequeno saltou.
- Abre-te! - reforou angustiado.
Mas os horizontes comearam a tomar crueza e sentido, o
rebanho avolumou-se, e o balido da ovelha aflita subiu
mais.
Era mentira! - e pelo seu rosto infantil e desiludido uma
lgrima desceu desesperada.
- Era mentira... - repetiu, debruado sobre a alta fraga, a
soluar.
Tudo nele tinha a verdade da inocncia. (...)
E a primeira vez que tirava a prova quela confiana, que
tentara ver de perto a miragem, acordava cruamente
trado!
Valeu-lhe a feliz condio de criana. Ele ainda a chorar e
j a mo do esquecimento a enxugar-lhe os olhos. Breve
como vem, breve se vai o pranto dos dez anos.
A ovelha chamava sempre. E o balido insistente acabou
por acord-lo para a realidade simples da sua vida de
pastor.
Ergueu-se, desceu da alta fraga enganadora, e, de ouvido
atento, foi direto ao queixume.
- Olha, era a Rola...
44 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Um cordeiro acabara de nascer e a me lambia-o. O outro
estava ainda l dentro, no mistrio do ventre fechado.
TORGA, Miguel. O Ssamo. Novos contos da montanha. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p.103-9.
O conto O Ssamo contm as seguintes informaes:
(01) O prior, o mestre e Raul, considerados como
responsveis pela instruo em Urros, atuam de uma
mesma maneira, apesar de estarem vinculados a
diferentes instituies.
(02) A histria contada por Raul provoca reaes
diversas: os homens hesitam em acreditar, as mulheres
ficam reflexivas e as crianas se espantam e sonham.
(04) O antro deslumbrante, mencionado na histria
contada por Raul, se transforma, na memria do povo da
aldeia, numa fortuna escondida na barriga de um monte
(08) A possibilidade de haver tesouros contidos nas
serras jamais passara pela cabea dos jovens guardadores
de ovelhas, e, agora, todos procuravam um meio de ter
acesso a eles.
(16) As palavras de Rodrigo documentam o
desenvolvimento de seu sonho, indo da desconfiana at a
plena realizao.
(32) A realidade recompe o sonho e o mistrio, no
final do conto, atravs da presena da vida na forma de um
cordeirinho nascido do ventre fechado de Rola.
(64) Rodrigo, por ter apenas dez anos e ser bastante
inexperiente, tem mais dificuldade de reagir a uma
desiluso.
117) (UFBA-2002) Texto:
O Ssamo
- Abre-te, Ssamo! Gritava o Raul, no meio do silncio
pasmado da assistncia.
A fiada estava apinhada naquela noite. Mulheres, homens
e crianas. As mulheres a fiar, a dobar ou a fazer meia, os
homens a fumar e a conversar, e a canalhada a dormitar
ou nas diabruras do costume. Mas chegou a hora do Raul
e, como sempre, todos arrebitaram a orelha s histrias
do seu grande livro. Em Urros, ao lado da instruo da
escola e da igreja, a primeira dada a palmatoadas pelo
mestre e a segunda a bofetes pelo prior, havia a do Raul,
gratuita e pacfica, ministrada numa voz quente e hmida,
que ao sair da boca lhe deixava cantarinhas no bigode.
- Abre-te, Ssamo! - e o antro, com seu deslumbrante
recheio, escancarou-se em sedutor convite...
As crianas arregalavam os olhos de espanto. Os homens
estavam indecisos entre acreditar e sorrir. As mulheres
sentiam todas o que a Lamega exprimiu num comentrio:
- O mundo tem cousas!...
Urros, em plena montanha, uma terra de ovelhas. Ao
romper de alva, ainda o dia vem longe, cada corte parece
um saco sem fundo donde vo saindo movedios novelos
de l. Quem olha as suas ruelas a essa hora, v apenas um
tapete fofo, ondulante, pardo do lusco-fusco, a cobrir os
lajedos. Depois o sol levanta-se e ilumina os montes. E
todos eles mostram amorosamente nas encostas os
brancos e mansos rebanhos que tosam o panasco macio. A
riqueza da aldeia so as crias, o leite e aquelas nuvens
merinas que se lavam, enxugam e cardam pelo dia fora, e
nas fiadas se acabam de ordenar. Numa loja gado, ao
quente bafo animal, junta-se o povo. Todos os moradores
se cotizam para a luz de carboneto ou de petrleo, e o
sero comea. no inverno, nas grandes noites sem- fim,
que se goza na aldeia essa fraternidade. H sempre
novidades a discutir, amoriscos tentar,apagadas fogueiras
que preciso reacender, e, sobretudo, h o Raul a
descobrir cartapcios ningum sabe como e a l-los com
tal sentimento ou com tanta graa que ou faz chorar as
pedras ou rebentar um morto de riso.
Daquela feita tratava-se de uma histria bonita, que metia
uma grande fortuna escondida na barriga de um monte. E
o rapazio, principalmente, abria a boca de
deslumbramento. Todos guardavam gado na serra. E a
todos ocorrera j que bem podia qualquer penedo dos que
pisavam estar prenhe de tesouros imensos. Mas que uma
simples palavra os pudesse abrir - isso que no lembrara
a nenhum.
Da gente mida que escutava, o mais pequeno era o
Rodrigo, guicho, imaginativo, e por isso com fama de
amalucado. (...)
(...) E de manhzinha, o Rodrigo, contra o costume,
esgueirou-se sozinho para a serra da Forca atrs do
rebanho. A histria do Raul tinha-lhe encandescido os
miolos. Necessitava por isso de solido e de apagar o
incndio sem testemunhas. A serra da Forca longe e
feia. Tem pasto, mas de que vale?! O passado deixou ali
tanto grito perdido, tanto cadver insepulto, tanta alma
penada, que at mesmo as ladainhas da primavera se
desviam e passam de largo. Mas nos stios assim
amaldioados que o povo, talvez para as preservar da
coscuvilhice da razo, gosta de plantar lendas bonitas e
aliciantes. E v de inventar que havia um tesoiro escondido
naquele ermo de maldio. Encontr-lo que era difcil.
Enterrado entre penedias, guardado por mil fantasmas,
quem teria coragem de tentar a empresa? Ningum. E o
monte escomungado l continuava azulado na distncia,
agreste e assombrado.
O Rodrigo, porm, resolvera quebrar o encanto. E, s
pedradas ao gado, ao nascer do sol tinha-o na frente.
Ia simplesmente rasgar o vu do mistrio. Ia imitar o
ladro da histria, com a diferena apenas de que uma vez
dentro da caverna no se esqueceria, como o outro, das
palavras mgicas que lhe assegurariam a retirada.
E de alma tranqila, mas a tremer de emoo,
solenemente, o pequeno feiticeiro ergueu a mo e gritou:
- Abre-te, Monte da Forca!
A sua imaginao ardente acreditava em todos os
impossveis. Tinha certeza de que o Ssamo da histria do
Raul existira realmente. Por isso ouviu com serenidade e
45 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
confiana o eco da prpria voz a regressar ferido das
encostas. Tudo requeria o seu tempo.
Irreais, os horizontes perdiam-se ao longe esfumados e
frios. Vago, o rebanho, volta, tosava a erva
mansamente. Impreciso, o gemido da ovelha queixosa no
conseguia transpor o limiar da conscincia do pastor.
Transfigurado, o Rodrigo estava entregue ao milagre.
Ordenara-o e esperava por ele.
- Abre-te, Monte da Forca! - gritou de novo, j enfadado de
uma espera que no cabia na iluso.
Qualquer coisa volta pareceu tremer, e o corao do
pequeno saltou.
- Abre-te! - reforou angustiado.
Mas os horizontes comearam a tomar crueza e sentido, o
rebanho avolumou-se, e o balido da ovelha aflita subiu
mais.
Era mentira! - e pelo seu rosto infantil e desiludido uma
lgrima desceu desesperada.
- Era mentira... - repetiu, debruado sobre a alta fraga, a
soluar.
Tudo nele tinha a verdade da inocncia. (...)
E a primeira vez que tirava a prova quela confiana, que
tentara ver de perto a miragem, acordava cruamente
trado!
Valeu-lhe a feliz condio de criana. Ele ainda a chorar e
j a mo do esquecimento a enxugar-lhe os olhos. Breve
como vem, breve se vai o pranto dos dez anos.
A ovelha chamava sempre. E o balido insistente acabou
por acord-lo para a realidade simples da sua vida de
pastor.
Ergueu-se, desceu da alta fraga enganadora, e, de ouvido
atento, foi direto ao queixume.
- Olha, era a Rola...
Um cordeiro acabara de nascer e a me lambia-o. O outro
estava ainda l dentro, no mistrio do ventre fechado.
TORGA, Miguel. O Ssamo. Novos contos da montanha. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p.103-9.
A leitura do texto acima e do livro do qual foi retirado
permite concluir:
(01) Miguel Torga, nos contos desse livro, enfoca a
montanha e seus habitantes, criticando-os duramente.
(02) O Ssamo fala apenas da vida cotidiana de uma
aldeia, registrando fatos com a inteno de denunciar a
explorao do trabalho infantil.
(04) A descrio do amanhecer feita em dois
momentos - antes e depois de surgir o sol - que mostram
diferentes vises de uma mesma paisagem.
(08) Os moradores de Urros, aldeia que vive da criao
de ovelhas, na montanha, organizam sua convivncia
social fazendo seres em uma loja de gado.
(16) A Serra da Forca, distante de Urros, um local
sem pasto para as ovelhas e, por isso, evitado pelos
pastores por ser considerado amaldioado.
(32) A paisagem que cerca o Monte da Forca
percebida nitidamente por Rodrigo, durante todo o
perodo em que l permanece.
(64) A realidade, aps a desiluso, comea a mostrar-
se para Rodrigo em substituio ao seu sonho.
118) (UFBA-2002) Texto:
O Ssamo
- Abre-te, Ssamo! Gritava o Raul, no meio do silncio
pasmado da assistncia.
A fiada estava apinhada naquela noite. Mulheres, homens
e crianas. As mulheres a fiar, a dobar ou a fazer meia, os
homens a fumar e a conversar, e a canalhada a dormitar
ou nas diabruras do costume. Mas chegou a hora do Raul
e, como sempre, todos arrebitaram a orelha s histrias
do seu grande livro. Em Urros, ao lado da instruo da
escola e da igreja, a primeira dada a palmatoadas pelo
mestre e a segunda a bofetes pelo prior, havia a do Raul,
gratuita e pacfica, ministrada numa voz quente e hmida,
que ao sair da boca lhe deixava cantarinhas no bigode.
- Abre-te, Ssamo! - e o antro, com seu deslumbrante
recheio, escancarou-se em sedutor convite...
As crianas arregalavam os olhos de espanto. Os homens
estavam indecisos entre acreditar e sorrir. As mulheres
sentiam todas o que a Lamega exprimiu num comentrio:
- O mundo tem cousas!...
Urros, em plena montanha, uma terra de ovelhas. Ao
romper de alva, ainda o dia vem longe, cada corte parece
um saco sem fundo donde vo saindo movedios novelos
de l. Quem olha as suas ruelas a essa hora, v apenas um
tapete fofo, ondulante, pardo do lusco-fusco, a cobrir os
lajedos. Depois o sol levanta-se e ilumina os montes. E
todos eles mostram amorosamente nas encostas os
brancos e mansos rebanhos que tosam o panasco macio. A
riqueza da aldeia so as crias, o leite e aquelas nuvens
merinas que se lavam, enxugam e cardam pelo dia fora, e
nas fiadas se acabam de ordenar. Numa loja gado, ao
quente bafo animal, junta-se o povo. Todos os moradores
se cotizam para a luz de carboneto ou de petrleo, e o
sero comea. no inverno, nas grandes noites sem-
fim, que se goza na aldeia essa fraternidade. H sempre
novidades a discutir, amoriscos tentar,apagadas
fogueiras que preciso reacender, e, sobretudo, h o Raul
a descobrir cartapcios ningum sabe como e a l-
los com tal sentimento ou com tanta graa que ou
faz chorar as pedras ou rebentar um morto de riso.
Daquela feita tratava-se de uma histria bonita,
que metia uma grande fortuna escondida na barriga de um
monte. E o rapazio, principalmente, abria a boca de
deslumbramento. Todos guardavam gado na serra. E a
todos ocorrera j que bem podia qualquer penedo dos que
pisavam estar prenhe de tesouros imensos. Mas que uma
simples palavra os pudesse abrir - isso que no lembrara
a nenhum.
46 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
Da gente mida que escutava, o mais pequeno era
o Rodrigo, guicho, imaginativo, e por isso com fama de
amalucado. (...)
(...) E de manhzinha, o Rodrigo, contra o costume,
esgueirou-se sozinho para a serra da Forca atrs do
rebanho. A histria do Raul tinha-lhe encandescido os
miolos. Necessitava por isso de solido e de apagar o
incndio sem testemunhas. A serra da Forca longe e
feia. Tem pasto, mas de que vale?! O passado deixou ali
tanto grito perdido, tanto cadver insepulto, tanta alma
penada, que at mesmo as ladainhas da primavera se
desviam e passam de largo. Mas nos stios assim
amaldioados que o povo, talvez para as preservar da
coscuvilhice da razo, gosta de plantar lendas bonitas e
aliciantes. E v de inventar que havia um tesoiro escondido
naquele ermo de maldio. Encontr-lo que era difcil.
Enterrado entre penedias, guardado por mil fantasmas,
quem teria coragem de tentar a empresa? Ningum. E o
monte escomungado l continuava azulado na distncia,
agreste e assombrado.
O Rodrigo, porm, resolvera quebrar o encanto. E, s
pedradas ao gado, ao nascer do sol tinha-o na frente.
Ia simplesmente rasgar o vu do mistrio. Ia imitar o
ladro da histria, com a diferena apenas de que uma vez
dentro da caverna no se esqueceria, como o outro, das
palavras mgicas que lhe assegurariam a retirada.
E de alma tranqila, mas a tremer de emoo,
solenemente, o pequeno feiticeiro ergueu a mo e gritou:
- Abre-te, Monte da Forca!
A sua imaginao ardente acreditava em todos os
impossveis. Tinha certeza de que o Ssamo da histria do
Raul existira realmente. Por isso ouviu com serenidade e
confiana o eco da prpria voz a regressar ferido das
encostas. Tudo requeria o seu tempo.
Irreais, os horizontes perdiam-se ao longe esfumados e
frios. Vago, o rebanho, volta, tosava a erva
mansamente. Impreciso, o gemido da ovelha queixosa no
conseguia transpor o limiar da conscincia do pastor.
Transfigurado, o Rodrigo estava entregue ao milagre.
Ordenara-o e esperava por ele.
- Abre-te, Monte da Forca! - gritou de novo, j enfadado de
uma espera que no cabia na iluso.
Qualquer coisa volta pareceu tremer, e o corao do
pequeno saltou.
- Abre-te! - reforou angustiado.
Mas os horizontes comearam a tomar crueza e sentido, o
rebanho avolumou-se, e o balido da ovelha aflita subiu
mais.
Era mentira! - e pelo seu rosto infantil e desiludido uma
lgrima desceu desesperada.
- Era mentira... - repetiu, debruado sobre a alta fraga, a
soluar.
Tudo nele tinha a verdade da inocncia. (...)
E a primeira vez que tirava a prova quela confiana, que
tentara ver de perto a miragem, acordava cruamente
trado!
Valeu-lhe a feliz condio de criana. Ele ainda a chorar e
j a mo do esquecimento a enxugar-lhe os olhos. Breve
como vem, breve se vai o pranto dos dez anos.
A ovelha chamava sempre. E o balido insistente acabou
por acord-lo para a realidade simples da sua vida de
pastor.
Ergueu-se, desceu da alta fraga enganadora, e, de ouvido
atento, foi direto ao queixume.
- Olha, era a Rola...
Um cordeiro acabara de nascer e a me lambia-o. O outro
estava ainda l dentro, no mistrio do ventre fechado.
TORGA, Miguel. O Ssamo. Novos contos da montanha. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p.103-9.
Texto :
Parei na varanda; ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o
corao parecendo querer sair-me pela boca fora. No me
atrevia a descer chcara, e passar ao quintal vizinho.
Comecei a andar de um lado para o outro, estacando para
amparar-me,e andava outra vez e estacava. Vozes
confusas repetiam o discurso do Jos Dias:
Sempre juntos...
Em segredinhos...
Se eles pegam de namoro...
Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas
amareladas que me passastes direita ou esquerda,
segundo eu ia ou vinha, em vs me ficou a melhor parte da
crise, a sensao de um gozo novo, que me envolvia em
mim mesmo, e logo me dispersava, e me trazia arrepios, e
me derramava no sei que blsamo interior. s vezes dava
por mim, sorrindo, um ar de riso de satisfao, que
desmentia a abominao de meu pecado. E as vozes
repetiam-se confusas:
Em segredinhos...
Sempre juntos...
Se eles pegam de namoro...
Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa,
murmurou de cima de si que no era feio que os meninos
de quinze anos andassem nos cantos com as meninas de
quatorze; ao contrrio, os adolescentes daquela idade no
tinham outro ofcio, nem os cantos outra utilidade. Era um
coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda
que nos velhos livros. Pssaros, borboletas, uma cigarra
que ensaiava o estio, toda a gente viva do ar era da
mesma opinio.
Com que ento eu amava Capitu, e Capitu a mim?
Realmente, andava cosido s saias dela, mas no me
ocorria nada entre ns que fosse deveras secreto. (...) E
comecei a recordar esses e outros gestos e palavras, o
prazer que sentia quando ela me passava a mo pelos
cabelos, dizendo que os achava lindssimos. Eu, sem fazer
o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais
lindos que os meus. Ento Capitu abanava a cabea com
uma grande expresso de desengano e melancolia, tanto
mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente
admirveis; mas eu retorquia chamando-lhe maluca.
47 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
...............................................................................................
..............................................
Tudo isto me era agora apresentado pela boca de Jos
Dias, que me denunciara a mim mesmo, e a quem eu
perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera, e o que
pudesse vir de um e de outro. Naquele instante, a eterna
Verdade no valeria mais que ele, nem a terna Bondade,
nem as demais Virtudes eternas. Eu amava Capitu! Capitu
amava-me!
E as minhas pernas andavam, desandavam, estacavam,
trmulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro
palpitar da seiva, essa revelao da conscincia a si
prpria, nunca mais me esqueceu, nem achei que lhe fosse
comparvel qualquer outra sensao da mesma espcie.
Naturalmente por ser minha. Naturalmente tambm por
ser a primeira.
ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Obra completa. Rio de
Janeiro: Jos Aguilar, 1962. v.1, p.818-20.
Sobre os textos apresentados, de Miguel Torga e de
Machado de Assis, e as obras das quais foram retirados,
pode-se afirmar:
(01) Nesse conto, Miguel Torga analisa tipos rsticos,
criadores de ovelhas, e Machado de Assis, no seu texto,
personagens urbanas e da classe mdia.
(02) No conto, o cenrio parte vital do enredo,
enquanto, no trecho do romance, a varanda apenas uma
referncia para as reflexes do personagem.
(04) Rodrigo e Bentinho tm suas histrias contadas,
respectivamente, por um narrador onisciente e por um
narrador-personagem que se vale da prpria memria.
(08) Os dois principais personagens - o do conto e o
do romance - apresentam uma ingenuidade infantil, que
superada, em ambos, por uma anlise dos prprios
sentimentos.
(16) Nos textos examinados, verifica-se que os dois
autores tratam a paisagem de forma semelhante.
(32) Obras universais pelo tema que assumem, a
primeira se desenvolve em uma paisagem rural, e a
segunda d nfase descrio da paisagem urbana.
(64) Ambos os escritores, - um portugus e outro
brasileiro - filiam-se a um mesmo movimento literrio e
revelam identidade na forma de apresentar as emoes
humanas.
119) (Unicamp-2003) Leia com ateno o poema que
segue:
Sida*
aqueles que tm nome e nos telefonam
um dia emagrecem - partem
deixam-nos dobrados ao abandono
no interior duma dor intil muda
e voraz
arquivamos o amor no abismo do tempo
e para l da pele negra do desgosto
pressentimos vivo
o passageiro ardente das areias - o viajante
que irradia um cheiro a violetas noturnas
acendemos ento uma labareda nos dedos
acordamos trmulos confusos - a mo queimada
junto ao corao
e mais nada se move na centrifugao
dos segundos - tudo nos falta
nem a vida nem o que dela resta nos consola
a ausncia fulgura na aurora das manhs
e com o rosto ainda sujo de sono ouvimos
o rumor do corpo a encher-se de mgoa
assim guardamos as nuvens breves os gestos
os invernos o repouso a sonolncia
o evento
arrastando para longe as imagens difusas
daqueles que amamos e no voltaram
a telefonar.
Al Berto**. Horto de Incndio. Lisboa, Assrio e Alvim,
1997.
*Sida: sndrome de imuno-deficincia adquirida, a
denominao que em pases europeus deu-se doena
conhecida no Brasil como aids.
**O autor do poema atualmente um dos mais
reconhecidos poetas em Portugal.
a) Considerando o tema deste poema, como se pode
entender a frase aqueles que tm nome?
b) Na segunda estrofe, o poema fala em arquivar o amor e
em pressentir vivo o passageiro ardente. Analise essa
aparente contradio.
c) Na quarta estrofe, quando o poema sugere a
transformao da intensidade amorosa em carncia (tudo
nos falta), um verso traduz com perfeio a conjugao
entre a intensidade amorosa e seu esvaziamento. Qual
esse verso?
120) (Unicamp-2002) Muito mais do que ser um romance
de ao, A Sibila, de Agustina Bessa-Lus, busca uma
espcie de compreenso das motivaes psicossociais que
sustentam a histria de uma famlia rural tpica do Norte
do Portugal. O texto abaixo uma excelente prova disso:
Contudo, Quina tinha obtido para si uma contribuio no
convvio com certa fauna que ela jamais frequentara - a
sociedade. Passou a ser admitida numa ou noutra casa
fidalga, onde o seu gnio pitoresco, de conselheira que
48 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
brinca com a gravidade das prprias sentenas, lhe
suscitou um relativo sucesso. Teve amigas nessas mulheres
que tanto mais se honram quanto mais razes de despeito
encontram entre si, e entregam os seus segredos quela
de quem temem a rivalidade. Quina tornou-se
indispensvel para presidir obscuramente nesse mundo
secreto, ntimo, sem artifcio, em que os espartilhos se
afrouxam, os cabelos se apresentam eriados de ganchos e
de papelotes, e o rosto apeia a sua mscara cheia de
farfalhices de sentimentos, poder atractivo, fludo de
mentiras e intensssimas fadigas de ateno. Ali, ela era
bem-vinda, nesses boudouirs negros, assistindo ao
demolhar dos calos em gua salgada, aplicao de
receitas aparentadas de perto com velhas indicaes de
magia e a fsica primitiva - a urina que suavizava o cieiro da
pele, o leite de mulher para as dores de ouvidos, as presas
de corneta como amuleto, frmulas, preceitos que
mantinham um sabor de harm e de barbrie e elas
cumpriam a ocultas com essa f pelas coisas em que o
mistrio uma garantia de possibilidades. Ainda que
simulem obedecer e optar pelo vanguardismo dos
costumes, as mulheres so rebarbativas s inovaes.
a) Transcreva o trecho que indica mais claramente que o
mundo privado das mulheres muito diferente do mundo
social, pblico.
b) Qual a relao entre o trecho que voc transcreveu e o
ltimo perodo do fragmento acima?
c) Deduza, a partir do texto, como o narrador considera
esse mundo social, externo, em oposio ao universo
ntimo e secreto das mulheres.
121) (Unicamp-2000) Ficou o Padre Bartolomeu Loureno
satisfeito com o lano, era o primeiro dia, mandados assim
ventura, para o meio duma cidade afligida de doena e
luto, a esto vinte e quatro vontades para assentar no
papel. Passado um ms, calcularam ter guardado no frasco
um milheiro de vontades, fora de elevao que o padre
supunha ser bastante para uma esfera, com o que segundo
frasco foi entregue a Blimunda. J em Lisboa muito se
falava daquela mulher e daquele homem que percorriam a
cidade de ponta a ponta, sem medo da epidemia, ele atrs,
ela adiante, sempre calados, nas ruas por onde andavam,
nas casas onde no se demoravam, ela baixando os olhos
quando tinha de passar por ele, e se o caso, todos os dias
repetido, no causou maiores suspeitas e estranhezas, foi
por ter comeado a correr a notcia de que cumpriam
ambos penitncia, estratagema inventado pelo padre
Bartolomeu Loureno quando se ouviram as primeiras
murmuraes.
No trecho acima, extrado de Memorial do Convento de
Jos Saramago aparecem duas personagens centrais do
romance, num momento decisivo para o desenrolar de um
episdio muito significativo do livro e que ocupa boa
poro da primeira parte deste.
a) qual esse episdio e o que tm a ver com ele as
personagens Blimunda e padre Bartolomeu Loureno?
b) ao lado do episdio a que se est referindo o trecho
acima, o romance relata um outro, que o da construo
do convento que se passa num outro espao. Faa uma
analogia entre as condies de vida nesse outro espao,
Mafra, com aquelas existentes em Lisboa, tais como se
podem depreender do trecho citado.
49 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
GABARITO
1) a) Roda de Bicicleta, de Marcel Duchamp, um gesto
revolucionrio. Com esse ready-made, o autor prope
uma antiarte, uma provocao. Nega em sua essncia a
funo esttica embelezadora da obra de arte. De forma
irreverente, posiciona-se contra os estatutos da esttica
tradicional, questionando a aura sublime e o papel da arte,
ao deslocar objetos pr-fabricados de seu contexto
habitual e destitu-los de suas funes cotidianas. Sua arte
est em instigar o espectador a ver o conhecido sob um
novo prisma.
b) Andy Warhol utiliza imagens produzidas e massificadas
pela indstria cultural: Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor,
Elvis Presley, Coca-Cola, sopas Campbell so alguns dos
cones representados em seus trabalhos. Como Marcel
Duchamp, ele no pretende ser um filtro espiritual do
mundo nem apresentar uma viso estetizada da realidade.
O cotidiano, que veiculado nos jornais, na TV e no
cinema, reapresentado em seus quadros de forma que o
banal se transforma em antiarte.
2) Alternativa: D
3) a) Perodos articulados por coordenao (sintaxe
parattica ou "estilo telegrfico")
Palavras e expresses que remetem coloquialidade
b) O clima de angstia e opresso fica evidente no cenrio
sufocante, (Trancou o minsculo quarto-e-cozinha.), na
falta de recursos da personagem (Aluguel atrasado.
Despensa vazia.") e nas dvidas e inquietaes que
marcam a personagem (Ainda pensou em abandonar o
plano. Mas, como se salvaria?).
4) Alternativa: B
5) Alternativa: B
6) Alternativa: C
7) Alternativa: B
8) Alternativa: A
9) Alternativa: A
10) Alternativa: D
11) Alternativa: B
12) Alternativa: D
13) Alternativa: C
14) Alternativa: C
15) Alternativa: D
16) Alternativa: C
17) Alternativa: D
18) Alternativa: A
19) Resposta: 66
20) Alternativa: D
21) Alternativa: E
22) Alternativa: B
23) Alternativa: C
24) O sofrimento na Terra ser recompensado pela
felicidade no Cu.
Povo que sofre povo salvo, conforme a crena popular.
25) Resposta: 21
26) a) O anjo de Drummond vem desenhado bem no
estilo grave que lhe impe a lngua literria, culta; j o
anjo de Chico Buarque, vem no estilo bem popular com
que o autor o coloca na sua composio safado, chato
e menos culto, bem na linhagem dos malandros que
costumam ser brindados nas composies do autor.
b) O verbo dizer passa apenas a idia neutra de uma
informao; j decretar deixa clara a imposio a que
parece no pode o sujeito esquivar-se de obedecer. A
prpria figura do querubim, na escala angelical superior
do simples anjo, o que justifica a diferente escolha lexical.
27) Resposta: 1F
2V
3F
4V
28) a) Levindo: estudante que coloca sua vida na defesa de
causas sociais, notadamente da luta camponesa, noivo de
Francisca.
b) Os destinos de Levindo e Nando esto ligados no s
pelo amor que ambos tm por Francisca, como tambm
pela conscincia poltica. No final de Quarup, Nando
assume os ideais e a identidade de Levindo, ingressando
na luta armada.
29) Alternativa: C
50 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
30) Alternativa: B
31) Alternativa: A
32) Alternativa: C
33) a) Novela.
b) Conto e teatro.
34) Alternativa: D
35) Alternativa: D
36) Alternativa: A
37) Alternativa: E
38) Alternativa: C
39) Alternativa: A
40) Alternativa: D
41) Alternativa: A
42) Alternativa: C
43) Alternativa: D
44) Alternativa: C
45) Alternativa: C
46) Alternativa: E
47) Alternativa: D
48) Alternativa: E
49) Alternativa: D
50) Alternativa: B
51) Alternativa: C
52) Alternativa: B
53) Alternativa: A
54) Alternativa: B
55) Alternativa: D
56) Alternativa: C
57) Alternativa: C
58) Alternativa: E
59) Alternativa: C
60) Alternativa: A
61) Alternativa: C
62) Alternativa: D
63) Alternativa: E
64) Alternativa: E
65) Alternativa: A
66) Alternativa: C
67) Alternativa: B
68) Alternativa: D
69) Alternativa: D
70) Alternativa: A
71) Alternativa: D
72) Alternativa: C
73) Alternativa: A
74) Alternativa: B
75) Alternativa: C
76) Alternativa: C
77) Pessoal
78) Alternativa: C
79) Alternativa: B
80) Alternativa: A
81) Alternativa: A
82) Alternativa: D
83) Alternativa: C
84) Resposta pessoal do aluno.
51 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
85) As metforas so muitas. A imagem de Nufragos
cegos nos remete possvel idia de que o escritor no
consegue ver o mundo exterior, ficando preso s imagens
e construes que habitam o seu imaginrio, remete-nos
possvel idia de alienao do processo criativo; a
metfora, representando o iceberg, pode ser
interpretada como um recurso perigoso no processo de
criao, pois pode levar o autor ao fundo do mar de
palavras, ou seja, lev-lo ao afastamento da compreenso
de sua criao por parte do pblico, o que o isola numa
corrente literria qualquer, obscura e pouco conhecida,
por afast-los das rotas mais navegadas, das obras mais
lidas e compreendidas. A imagem dos patrulhadores
costeiros representados pelos crticos literrios outra
metfora que representa (ou critica) o fato de esses
crticos serem responsveis pelo salvamento dos
escritores, num processo de resgate das obras e
interpretao para o leigo, o leitor comum, levando, ento,
os escritores de volta civilizao.
86) Alternativa: B
87) Alternativa: B
88) Alternativa: A
89) Alternativa: D
90) Alternativa: E
91) Alternativa: F
92) V
V
F
F
V
93)
01 02 04 08 16
F V V V F
TOTAL = 14
94)
01 02 04 08 16
V V V V F
TOTAL = 15
95)
01 02 04 08 16 32
V V F V V F
TOTAL = 27
96) Alternativa: A
97) Resposta: 21
Alternativas Corretas: 01, 04 e 16
98) 01- V
02- V
04- F
08- V
16- F
32- F
64- F
Resposta: 11
99) Resposta: 06
01-F
02-V
04-V
08-F
16-F
32-F
64-F
100) Resposta: 07
01-V
02-V
04-V
08-F
16-F
32-F
64-F
101) Resposta: 13
01-V
02-F
04-V
08-V
16-F
32-F
64-F
102) Resposta: 69
01-V
02-F
04-V
08-F
16-F
32-F
64-V
103) Resposta: 24
01-F
02-F
04-F
08-V
52 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
16-V
32-F
64-F
104) Resposta: 26
01-F
02-V
04-F
08-V
16-V
32-F
64-F
105) a) O tema comum aos dois textos o desajustamento
da vida do personagem, que o autor denomina
afrancesadamente de gaucherie. um destino errado
que o poeta se vale do anjo torto para responsabilizar;
esse mesmo anjo que Chico Buarque mais cinicamente
chama de anjo safado, o chato dum querubim.
b) Em que pese Buarque e Drummond fazerem uso de
versos livres, existe rima em Buarque e os versos brancos
de Drummond serem bastante representativos do
movimento literrio a que pertenceu, as estruturas so
semelhantes: iniciam-se os dois com oraes
subordinadas adverbiais temporais quase praticamente
iguais - Quando nasci... e Quando eu nasci... - , para
chegarem ao principal , que introduzem a
circunstncia em que se d a ao central - a maldio do
anjo.
106) Alternativa: D
107) Alternativa: A
108) Alternativa: A
109) Alternativa: B
110) a) Alm do ttulo - uma referncia clara a H uma
gota de sangue em cada poema, de Mrio de Andrade - h
vrias referncias a outras vozes, como a moldura do
luar do serto - referncia msica Luar do Serto, de
Catulo da Paixo Cearense - e a verde mata nos olhos
verdes da mulata - referncia a Os Olhos Verdes da
Mulata, de Vicente Paiva.
b) A do brasileiro malandro, manhoso. eu sou manhoso
eu sou brasileiro / finjo que vou mas no vou
c) Expresses como e de meu quarto fico cismando, na
imensa solido e lvido de medo e de amor negam a
felicidade obrigatria do poeta.
111) a) O acontecimento, cuja notcia coincide com o
quarup, a morte-suicdio de Getlio Vargas. O anncio
desse acontecimento precedido ou prenunciado pelo
tumultuado episdio no qual teria sido ferido o jornalista e
poltico Carlos Lacerda, inimigo confesso de Vargas.
b) O protagonista que afirma isso Otvio. Refere-se ele
ao fato de que aquela tribo est em extino. Lembre-se
que ele dizia que Canato preparava o velrio e a
comedoria de Uranaco, mas ningum iria fazer o mesmo
por Canato.
112) a) A principal novidade estrutural da pea a
utilizao de vrios planos simultneos (que esto no palco
ao mesmo tempo, e a cena passa de um para outro
rapidamente).
So trs planos: a realidade, a memria e a alucinao. A
pea procura pr em cena personagens vivas e
personagens mortas, que existem apenas na memria dos
vivos, mas que desse modo interferem em suas aes.
Espera-se que o candidato aponte esta diviso de planos
associados e mostre o uso simultneo de referncias
temporais distintas.
b) A Marcha Nupcial indica o casamento de Pedro com
Lcia enquanto a Marcha Fnebre remete ao enterro de
Alade, irm de Lcia. A execuo simultnea das marchas,
proposta pela rubrica, procura tornar evidente os
acontecimentos que se misturam no desfecho da histria.
113) Alternativa: B
114) Alternativa: B
115) Alternativa: A
116) Resposta: 86
117) Resposta: 29
118) 2+6+64=70
119) a) aqueles que tm nome refere-se aos enfermos
que carregam um doena conhecida apenas por uma sigla,
uma doena cujo nome no se usa pronunciar.
b) Embora no se possa mais amar fisicamente a pessoa
que partiu/morreu, possvel mant-la prxima atravs da
memria.
c) a ausncia fulgura na aurora das manhs
120) a) O trecho o seguinte: Quina tornou-se
indispensvel para presidir obscuramente nesse mundo
secreto, ntimo, sem artifcio, em que os espartilhos se
afrouxam, os cabelos se apresentam eriados de ganchos e
de papelotes, e o rosto apeia a sua mscara cheia de
farfalhices de sentimentos, poder atractivo, fludo de
mentiras e intensssimas fadigas de ateno.
53 | Projeto Medicina www.projetomedicina.com.br
b) A relao que se estabelece no caso entre
conservadorismo natural da mulher e sua aparente
afinidade com as coisas mais modernas.
c) O mundo social seria exposto, artificial e falso.
121) a) O episdio a que se refere o fragmento citado o
da construo da passarola, ao que comandada pelo
Padre Bartolomeu Loureno. Blimunda e seu marido
Baltasar Sete-Sis auxiliam o padre em seu
empreendimento. A participao de Blimunda decisiva,
pois ela quem se responsabiliza por capturar as vontades
que faro a passarola erguer-se do solo.
b) O outro episdio o que d nome ao romance. Trata-se
da construo do grande mosteiro em Mafra. Do mesmo
modo como em Lisboa, onde est a sede do poder
monrquico portugus, espalha-se a misria e a fome, em
Mafra, aqueles que constrem o convento, smbolo da
ostentao real e da religio, padecem da opresso e de
condies precrias de sobrevivncia.
Você também pode gostar
- Apostila Arteterapia para CriançasDocumento56 páginasApostila Arteterapia para CriançasGiovanna GarciaAinda não há avaliações
- Questões 2º Ano - TCDocumento17 páginasQuestões 2º Ano - TCCarina SiqueiraAinda não há avaliações
- Revisão Enem LiteraturaDocumento32 páginasRevisão Enem LiteraturaRegina PortelaAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Composição ArtísticaDocumento8 páginasFundamentos Da Composição Artísticasammyfly618100% (1)
- Modular Parnasianismo Simbolismo Pré ModernismoDocumento5 páginasModular Parnasianismo Simbolismo Pré ModernismoEdir AlonsoAinda não há avaliações
- Suplemento Pernambuco #194: Sylvia Plath, 90 anos, e os ecos de uma poeta do futuro.No EverandSuplemento Pernambuco #194: Sylvia Plath, 90 anos, e os ecos de uma poeta do futuro.Ainda não há avaliações
- ResistIsol WordDocumento52 páginasResistIsol WordpaulokassioAinda não há avaliações
- Parnasianismo - Lista de Questões de VestibularesDocumento5 páginasParnasianismo - Lista de Questões de VestibularesNícolasGGAinda não há avaliações
- Revisão de Enem - LiteraturaDocumento54 páginasRevisão de Enem - LiteraturaKelly Mendes100% (2)
- GABARITO MODERNISMO NO BRASIL 1 Geração PDFDocumento7 páginasGABARITO MODERNISMO NO BRASIL 1 Geração PDFJohn Anthony0% (1)
- Apc 7º Ano - Máscaras Africanas 2º BimestreDocumento2 páginasApc 7º Ano - Máscaras Africanas 2º BimestredkskainAinda não há avaliações
- Simulado Pré-ModernismoDocumento1 páginaSimulado Pré-ModernismoKarine EdersonAinda não há avaliações
- Literatura RevisãoDocumento2 páginasLiteratura RevisãoLiliana VenancioAinda não há avaliações
- Arte Abstrata No Brasil Almerinda Lopes - Introdução PDFDocumento18 páginasArte Abstrata No Brasil Almerinda Lopes - Introdução PDFMax Advert100% (1)
- Lista de Exercícios de Revisão - 301Documento7 páginasLista de Exercícios de Revisão - 301Lourenço BeccoAinda não há avaliações
- 2 Série - Lista de Recuperação - Literatura - GenovevaDocumento11 páginas2 Série - Lista de Recuperação - Literatura - GenovevaLuísa RibeiroAinda não há avaliações
- Modernismo 04.06.Documento15 páginasModernismo 04.06.Marcelo MendoncafilhoAinda não há avaliações
- Atividades de Arte 9º AnoDocumento9 páginasAtividades de Arte 9º AnoANA PAULA DA SILVA VON ZESCHAUAinda não há avaliações
- Geração de 45Documento18 páginasGeração de 45paulokassioAinda não há avaliações
- Questoes de Literatura EnemDocumento15 páginasQuestoes de Literatura EnemSandra Polliane SilvaAinda não há avaliações
- 75885-Equipamentos Eletricos - DisjuntoresDocumento37 páginas75885-Equipamentos Eletricos - Disjuntorespaulokassio100% (1)
- Exercicios Modernismo Literatura PortuguesDocumento4 páginasExercicios Modernismo Literatura PortuguesSilvana Dos AnjosAinda não há avaliações
- Curso 204464 Aula 01 50b2 SimplificadoDocumento95 páginasCurso 204464 Aula 01 50b2 SimplificadopaulokassioAinda não há avaliações
- Atividade Arte Abstrata e Figurativa - 2º BimDocumento2 páginasAtividade Arte Abstrata e Figurativa - 2º Bimcharles aleixoAinda não há avaliações
- Escolas LiteráriasDocumento6 páginasEscolas LiteráriasEdir Alonso100% (1)
- Prova 1 AnoDocumento4 páginasProva 1 AnoIres BritoAinda não há avaliações
- Literatura Silvio LucioDocumento10 páginasLiteratura Silvio LuciosilvinholiraAinda não há avaliações
- Simulado 2ºbim 2EMDocumento4 páginasSimulado 2ºbim 2EMCarla Pacheco FalcãoAinda não há avaliações
- Plataforma Elite Mil Live Revisão Geral I - EsaDocumento32 páginasPlataforma Elite Mil Live Revisão Geral I - EsaDevair FiorottiAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre Gêneros LiteráriosDocumento7 páginasExercícios Sobre Gêneros LiteráriosmazzdownloaderAinda não há avaliações
- Literatura RespondidaDocumento4 páginasLiteratura RespondidaPaulo césar Souza limaAinda não há avaliações
- Avaliação Progressão 2019Documento9 páginasAvaliação Progressão 2019Wilson FerrariAinda não há avaliações
- Atividade Avaliatória Presencial de Observação Direta - ModernismoDocumento5 páginasAtividade Avaliatória Presencial de Observação Direta - ModernismoJéssica Esgoti UlianaAinda não há avaliações
- A Literatura e Os Vestibulares - Modernismo - Questões de 81 A 120Documento16 páginasA Literatura e Os Vestibulares - Modernismo - Questões de 81 A 120A BancaAinda não há avaliações
- Smuladinho 60x45Documento15 páginasSmuladinho 60x45home maiaAinda não há avaliações
- Extensivo - Aula Exercícios 05-11Documento8 páginasExtensivo - Aula Exercícios 05-11MilaAinda não há avaliações
- Exercicios Modernismo LiteraturaDocumento37 páginasExercicios Modernismo LiteraturaJunior Santos100% (2)
- ESA LITERATURA - Ex. - Pré-Modernismo e Vanguardas Europeias IIDocumento12 páginasESA LITERATURA - Ex. - Pré-Modernismo e Vanguardas Europeias IIarthurjacob7585Ainda não há avaliações
- BARROCODocumento7 páginasBARROCOgiselle_azevedo29Ainda não há avaliações
- Estudos Independentes ArteDocumento4 páginasEstudos Independentes ArteGeo HonoritasAinda não há avaliações
- Exercícios Site 3º Ano - PortuguêsDocumento8 páginasExercícios Site 3º Ano - PortuguêsFernando RaposoAinda não há avaliações
- Gêneros LiteráriosDocumento6 páginasGêneros LiteráriosmansaomargaridadinizfrancotvprAinda não há avaliações
- SimbolismoDocumento6 páginasSimbolismolibratoAinda não há avaliações
- Testes de Literatura Romantismo para EstudoDocumento5 páginasTestes de Literatura Romantismo para EstudovalesktedeAinda não há avaliações
- Plataforma Elite Mil Modernismo 1 Fase ExerciciosDocumento17 páginasPlataforma Elite Mil Modernismo 1 Fase ExerciciosSonyellen FerreiraAinda não há avaliações
- Atividade Modernismo - 3o AnoDocumento6 páginasAtividade Modernismo - 3o AnoAline Castro de OliveiraAinda não há avaliações
- Literatura No EnemDocumento55 páginasLiteratura No EnemMaria Luíza100% (1)
- Questões Sobre Realismo e NaturalismoDocumento11 páginasQuestões Sobre Realismo e NaturalismoMike NunesAinda não há avaliações
- 3º BimestreDocumento3 páginas3º BimestreRaimundo Nonato Sousa0% (1)
- Plataforma Elite Mil Modernismo 2 Fase ExerciciosDocumento20 páginasPlataforma Elite Mil Modernismo 2 Fase ExerciciosDevair FiorottiAinda não há avaliações
- Questões EnemDocumento6 páginasQuestões EnemEdir AlonsoAinda não há avaliações
- Exercícios - Literatura - 4 Bim.Documento4 páginasExercícios - Literatura - 4 Bim.josevitoroliveiradelima0Ainda não há avaliações
- Literatura Questões ESA ESPCEXDocumento5 páginasLiteratura Questões ESA ESPCEXJonkácioAinda não há avaliações
- Estudo para Prova FaapDocumento26 páginasEstudo para Prova FaapLucas MatiasAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa Especial - ExameDocumento8 páginasAtividade Avaliativa Especial - ExameLorena ReisAinda não há avaliações
- Literatura No Enem PDFDocumento56 páginasLiteratura No Enem PDFLucas HenriqueAinda não há avaliações
- Literatura Rodrigo Paes 2 SérieDocumento4 páginasLiteratura Rodrigo Paes 2 SérieJúlioMaiaAinda não há avaliações
- Prova 6Documento5 páginasProva 6Silvio Lucio GiarolaAinda não há avaliações
- Questões Pós ModernismoDocumento6 páginasQuestões Pós ModernismoCelson Morais100% (1)
- Prova de Língua Portuguesa (2º Ano)Documento3 páginasProva de Língua Portuguesa (2º Ano)Inara Fernanda Silva de MoraisAinda não há avaliações
- Simulado Literatura 3 Ano - 1 - BimestreDocumento5 páginasSimulado Literatura 3 Ano - 1 - BimestreCacia PimentelAinda não há avaliações
- A Sonata de Deus e o diabolus:: música, cinema e pensamento modernistaNo EverandA Sonata de Deus e o diabolus:: música, cinema e pensamento modernistaAinda não há avaliações
- Por uma história da literatura brasileira contemporânea: De 1975 a 2021No EverandPor uma história da literatura brasileira contemporânea: De 1975 a 2021Ainda não há avaliações
- Um mês de poesia com Manoel BandeiraNo EverandUm mês de poesia com Manoel BandeiraAinda não há avaliações
- Curso-183331-Aula-00-50f7-Completo FinalDocumento40 páginasCurso-183331-Aula-00-50f7-Completo FinalpaulokassioAinda não há avaliações
- 62924-43 - Filtros em Fonte de AlimentaçãoDocumento20 páginas62924-43 - Filtros em Fonte de AlimentaçãopaulokassioAinda não há avaliações
- 36905-Contator e ReléDocumento6 páginas36905-Contator e RelépaulokassioAinda não há avaliações
- LVC Pop ArtDocumento153 páginasLVC Pop ArtMariane SouzaAinda não há avaliações
- A Pintura Na Arte - 8ºDocumento2 páginasA Pintura Na Arte - 8ºCamilla BastosAinda não há avaliações
- A Forma 6 e 7 AnoDocumento13 páginasA Forma 6 e 7 AnoVALDERICE LIMA CEREMAinda não há avaliações
- Atividades Complementares 3 Ano 1BDocumento111 páginasAtividades Complementares 3 Ano 1BhardleoneAinda não há avaliações
- Questionário I - Arte, Corpo e MovimentoDocumento4 páginasQuestionário I - Arte, Corpo e MovimentoFábio Lessa100% (1)
- Tese Doutor David SantosDocumento533 páginasTese Doutor David Santosmaria_666Ainda não há avaliações
- A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL - ExercíciosDocumento10 páginasA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL - ExercíciosAndré PfisterAinda não há avaliações
- Panorama Das Artes PlasticasDocumento3 páginasPanorama Das Artes PlasticasAneliseAinda não há avaliações
- Imagem Cognição, Semiótica, Mídia.Documento13 páginasImagem Cognição, Semiótica, Mídia.Gabriela HenkemeierAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa Preliminar Eliel Baia 4Documento99 páginasProjeto de Pesquisa Preliminar Eliel Baia 4Eliel BaíaAinda não há avaliações
- 4ºbimestre. AtividadeextraDocumento2 páginas4ºbimestre. AtividadeextraProf.Júlia Beatriz100% (1)
- Cubismo Características e Fases 1Documento26 páginasCubismo Características e Fases 1joao BorgesAinda não há avaliações
- GestoSuspensãoMusicalidade AntonioHerciDocumento20 páginasGestoSuspensãoMusicalidade AntonioHerciAntonio Herci Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- Expressionismo AbstratoDocumento4 páginasExpressionismo Abstratowiliam motaAinda não há avaliações
- @bookstorelivros Ensaios Sobre Arte PDFDocumento110 páginas@bookstorelivros Ensaios Sobre Arte PDFIvan OliverAinda não há avaliações
- Conteúdo Arte Ensino Médico BNCCDocumento9 páginasConteúdo Arte Ensino Médico BNCCPaulo Henrique Roseghini dos SantosAinda não há avaliações
- Lucas Arruda: 'A Única Razão para Chamar Minhas Obras de Paisagens É Cultural'Documento14 páginasLucas Arruda: 'A Única Razão para Chamar Minhas Obras de Paisagens É Cultural'COMTRARIO PereiraAinda não há avaliações
- Colaborar - Av2 - História Da ArteDocumento5 páginasColaborar - Av2 - História Da Arteaxxdesigner santosAinda não há avaliações
- Obrigatoria 1 - Arte e SimbologiaDocumento33 páginasObrigatoria 1 - Arte e SimbologiaRosanilda RodriguesAinda não há avaliações
- Como Escrever o Futuro - REIS - Paulo - Roberto - de - Oliveira-1Documento13 páginasComo Escrever o Futuro - REIS - Paulo - Roberto - de - Oliveira-1Luana HauptmanAinda não há avaliações
- Material para o 2º Ano - 3º BimestreDocumento4 páginasMaterial para o 2º Ano - 3º BimestrePedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Arte ContemporâneaDocumento54 páginasArte ContemporânealuziagcredAinda não há avaliações
- Impressionismo Conclusão CriticaDocumento3 páginasImpressionismo Conclusão CriticaDuda OliveiraAinda não há avaliações
- Marco Vinhal Portfolio ArteDocumento44 páginasMarco Vinhal Portfolio ArteRenato FreitasAinda não há avaliações