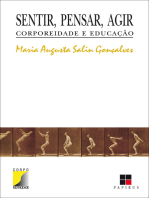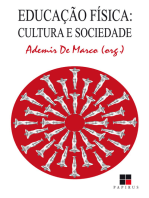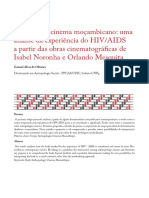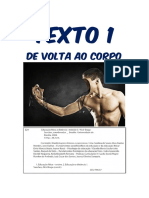Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cultura de Movimento
Cultura de Movimento
Enviado por
Raquel F. PinheiroDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cultura de Movimento
Cultura de Movimento
Enviado por
Raquel F. PinheiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CULTURA DE MOVIMENTO: REFLEXES A PARTIR DA RELAO
ENTRE CORPO, NATUREZA E CULTURA1
Maria Isabel Brando de Souza Mendes*
Terezinha Petrucia da Nbrega**
RESUMO
A cultura de movimento compreendida como critrio organizador do
conhecimento da Educao Fsica. Diante da relevncia desse conceito para a
rea, buscamos ampliar as reflexes no que se refere s relaes entre corpo,
natureza e cultura, por meio de aproximaes epistemolgicas entre estudos
que problematizam as oposies inconciliveis na leitura desses fenmenos.
Diante das anlises realizadas, ressaltou-se que a cultura de movimento
compreendida a partir do entrelaamento entre corpo, natureza e cultura pode
provocar os debates tericos e as intervenes na Educao Fsica, ligando
prticas, modos de ser, de fazer e de viver diferentes realidades sociais e
histricas.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo Natureza Cultura Conhecimento
INTRODUO
Existem vrios discursos que se referem organizao do conhecimento da
Educao Fsica, como o discurso da aptido fsica, da aprendizagem motora,
do desenvolvimento motor, que, em sua abordagem desenvolvimentista,
priorizam os estudos das Cincias Naturais. Outros discursos amparados pelas
Cincias Humanas e Sociais procuram ultrapassar as explicaes naturalizantes
do movimento humano e concebem o objeto da Educao Fsica como
fenmeno cultural. Destacam-se, ento, o termo cultura corporal proposto
pelo Coletivo de Autores (1992), o termo cultura corporal de movimento
proposto por Mauro Betti (1996) e por Valter Bracht (1992, 1999) e a cultura do
movimento proposto por Elenor Kunz (1991, 1994).
Diante dessa diversidade de referenciais existentes e no intuito de contribuir
com o debate argumentativo sobre o conhecimento da Educao Fsica,
resolvemos interrogar a cultura do movimento compreendida como proposio
epistemolgica.
O termo cultura do movimento tem sido divulgado na Educao Fsica brasileira
a partir dos estudos do professor Elenor Kunz (1991), professor da Universidade
Federal de Santa Catarina, quando ele retornou da Alemanha, onde realizou
seus estudos de doutoramento. Este termo compreendido como critrio
organizador do conhecimento da Educao Fsica escolar.
A proposta do professor Elenor Kunz (1991) ultrapassa a concepo de
movimento humano reduzida a um fenmeno meramente fsico, tido
estritamente como um deslocamento do corpo no espao, presente na viso de
educao que o autor questiona. Ao considerar o ser humano que realiza o
movimento, essa proposta passa a reconhecer as significaes culturais e a
intencionalidade do movimento humano. Para tanto, o autor problematiza a
concepo mecanicista de corpo e de movimento, na qual o corpo est
separado do mundo, buscando fundamentos na concepo fenomenolgica de
corpo e de movimento, ou seja, na ideia de que o ser humano inseparvel do
mundo em que vive. Essa concepo do autor se fundamenta por meio do
conceito de corpo-relacional proposto por Tamboer (1985 apud KUNZ, 1991).
Uma primeira reflexo refere-se ao significado desse conceito a partir da
palavra alem Bewegungskultur, sendo definido como:
um termo genrico para objetivaes culturais, onde os movimentos dos seres
humanos sero os mediadores do contedo simblico e significante, que uma
determinada sociedade ou comunidade criou. Pode ser encontrado de forma
especfica em quase todas as culturas: em danas, jogos de movimento,
competies e teatro. A este contedo cultural correspondem comportamento
de movimento especfico da cultura com orientaes dos sentidos
determinados. Esse comportamento de movimento geral, quer dizer no
ativado somente na atualizao das formas culturais. Mesmo absorvendo
movimentos de outras culturas, eles sero efetuados no esquema tradicional
daquela cultura. Pode ser observado quando ns usamos formas de
movimentos da cultura asitica (leste) ou como Eichberg (1976) descreve a
forma de jogar futebol das pessoas da Indonsia, que diferente da nossa.
Neste comportamento expresso ao mesmo tempo uma conscincia
(compreenso) corporal. a base como as pessoas se relacionam com o seu
meio, como pensam, agem, sentem e entendem. (DIETRICH, 1985, p. 279)2.
Nessa definio, as noes de comportamento e conscincia corporal indicam
uma compreenso fenomenolgica para responder as questes do movimento
humano e suas relaes com a cultura. Na definio de Dietrich (1985),
percebemos que o termo cultura do movimento compreendido como termo
genrico para objetivaes culturais, nas quais os movimentos so os
mediadores do contedo simblico, referindo-se forma como os povos se
movimentam. Todos os povos se movimentam, caminham, correm, saltam,
rolam ou praticam esportes, mas tambm se relacionam. A este contedo
cultural corresponde comportamento de movimento, formas de movimentar-se,
caracterizando assim uma cultura de movimento. Nesse sentido, o conceito de
cultura de movimento refere-se s relaes existentes entre essas formas de se
movimentar e a compreenso de corpo de uma determinada sociedade,
comunidade, de uma cultura.
Na abordagem do conhecimento da Educao Fsica proposta por Kunz (1991),
a nfase encontra-se nos processos de ensino-aprendizagem dos movimentos,
configurando uma acepo pedaggica extremamente fecunda para a rea. Por
outro lado, o tema do corpo do ponto de vista fenomenolgico tem sido
estudado por vrios autores na rea, tais como Le Boulch (1987), Santin (1987),
Moreira (1992), Srgio (1994) e Nbrega (2000). Nota-se, na maioria desses
estudos, uma leitura da fenomenologia influenciada pela sua relao com a
Psicologia e com a Educao no que se refere aos conceitos de esquema
corporal, corpo-prprio e motricidade que contriburam para ampliar os
conceitos e o ensino da Educao Fsica no que se refere ao corpo e ao
movimento. Reconhecemos essas contribuies como sendo vlidas, bem como
apontamos para a existncia de outras leituras da fenomenologia, em especial
do pensamento de Merleau-Ponty, por exemplo, com os campos da esttica, das
cincias cognitivas e da histria, que tambm podem contribuir para a
configurao epistemolgica e pedaggica da rea, algumas dessas
mencionadas ao longo desse artigo.
Este texto, de natureza filosfica, encontra na fenomenologia de Merleau-Ponty,
destacando, sobretudo, a sua discusso sobre as relaes entre corpo, natureza
e cultura, a referncia fundamental para o dilogo com as Cincias Humanas e
a Educao Fsica.
A NATUREZA ENIGMTICA
Ao colocar em debate a natureza, de forma diferenciada de como essa era
explicada nas Cincias Naturais, reduzida meramente ao conjunto dos objetos
dos sentidos, Maurice Merleau-Ponty (2000, p. 4) faz a seguinte afirmao: a
natureza um objeto enigmtico, um objeto que no inteiramente objeto; ela
no est inteiramente diante de ns. o nosso solo, no aquilo que est diante,
mas o que nos sustenta.
Merleau-Ponty (2000) tinha o objetivo de aprofundar os estudos sobre essa
temtica nas aulas que realizava no Collge de France. Desejava esclarecer
alguns pontos, no sentido de ultrapassar a compreenso de natureza concebida
por Ren Descartes, ou seja, discordava da compreenso de uma natureza
verdadeira e imutvel.
Na compreenso cartesiana, a natureza no considerada viva, e sim como
matria inanimada, criada e controlada por Deus por meio de leis mecnicas
exteriores. Tais leis, embasadas na Matemtica e na Fsica clssica,
reconheciam o corpo humano como capaz de ser moldado (MERLEAU-PONTY,
2000). O pensamento de Merleau-Ponty (2000) representa uma crtica rigorosa
s vises essencialistas do ser, atendo-se inicialmente s noes de
comportamento e de percepo para chegar a uma ontologia do ser selvagem,
a filosofia do corpo nesse filsofo vai se configurando nas imbricaes do corpo
no mundo. No h mais sentido em considerar o ser, a natureza, o corpo, a
histria de modo determinado, como podemos observar nas teses
fenomenolgicas produzidas desde a fenomenologia da percepo, passando
pelos ensaios estticos, polticos at chegar s notas inacabadas de sua
ontologia.
Merleau-Ponty (2000), ao considerar a natureza viva, contrape-se concepo
cartesiana. Este reconhece que a relao da natureza com o ser humano
recproca e de co-pertena. Uma relao dinmica, na qual a prpria natureza
capaz de esclarecer sobre a nossa relao conosco e com os outros seres.
Conforme o conceito de natureza viva, proposto por Merleau-Ponty (2000),
compreendemos que o corpo humano, ao fazer parte da totalidade complexa
que a natureza, no pode ser considerado como algo superior em relao aos
outros seres.
O corpo humano, ao estar atado ao mundo em que vive, cria movimentos e, ao
mover-se, cria sentidos, desequilibra, inverte. Sobre a relao entre corpo e
mundo, o autor afirma: Qualquer que seja o modo pela qual a compreendamos
(a idealidade cultural), ela j brota e se espalha nas articulaes do corpo
estesiolgico (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 197). Prolongamentos do corpo,
dobras do corpo no mundo, uma percepo selvagem, posto que
indeterminada. A ontologia do ser selvagem em Merleau-Ponty (1964), como
ser da criao, ultrapassa as determinaes que atravessam o corpo, mas o
corpo se dobra, desdobra, cria novos arranjos, performances, sentidos.
Nesse contexto, nosso corpo guarda e cria a histria que nos concebe como
indivduos da espcie humana, desde que nascemos. A espcie humana
universal, perpetuada graas interao entre indivduos de grupos diferentes,
responsveis pela diversidade individual e tnica. De acordo com a teoria da
exogamia, a diversidade fundamental para a manuteno dos seres humanos
(LVI-STRAUSS, 1976).
Cada organismo existe a partir de uma clula, a qual possui certas estruturas
iniciais e esta estrutura inicial resultado da histria da filogenia. Dando
continuidade historicidade do corpo, vamos construindo outra histria
mediante nossas experincias de vida. O corpo humano possui a mesma
organizao dos seres vivos, porm, com estrutura diferente, vai adquirindo
originalidade medida que interage com o entorno. A histria de mudanas na
estrutura de um organismo em interaes com o meio, ou seja, a ontogenia
denominada de deriva estrutural. Nesta:
As mudanas estruturais que ocorrem so contingentes com as interaes
o meio. No so determinadas pelas circunstncias do meio, mas
contingentes com elas, porque o meio apenas desencadeia no ser
mudanas estruturais. E vice-versa: o meio muda de maneira contingente
as interaes com o organismo. (MATURANA, 2001, p. 82).
com
so
vivo
com
Formado por uma dinmica molecular, o corpo vai se organizando e se
reorganizando mediante as provocaes advindas do ambiente, das pessoas e
da sociedade com as quais convivemos, sendo ao mesmo tempo agente
perturbador, modificando-as.
O corpo humano possui historicidade tanto na estrutura orgnica quanto nas
interaes com a cultura em que se convive, o que desmistifica a ideia de que
s os estudos culturais reconhecem a historicidade do corpo. Desse modo, a
Biologia passa a reconhecer as diversidades individuais e culturais,
desautorizando, portanto, a ideia da mundializao de um corpo padro. A
mundializao de um corpo padro problematizada por Ana Mrcia Silva em
seu artigo Corpo e Diversidade Cultural e no seu livro Corpo, Cincia e
Mercado, quando a autora tece crticas aos estudos da Educao Fsica que se
pautam na Medicina do Esporte (SILVA, 2001a, 2001b).
Desse modo, ressaltamos que o corpo humano possui histria. A historicidade
do corpo faz com que se modifique constantemente e que os gestos adquiram
significados novos mediante as experincias que vo ocorrendo, como bem
demonstram os estudos de Gleyse (1997); Soares (2001, 2007), entre outros.
Por meio dos gestos somos capazes de expressar smbolos e esconder outros,
formando, portanto, a linguagem do corpo. Por possuir espacialidade e
temporalidade prprias3, cada corpo vai adquirindo percepes de acordo com
o mundo que lhe especfico. Cada corpo mantm relaes com o espao em
que est inserido, com os outros animais, seja da mesma espcie ou de
espcies diferentes. O comportamento simblico inseparvel dos esquemas
inatos, uma vez que o modo como o animal faz uso do seu corpo para beber,
para se alimentar ou at mesmo para a funo da excreo, sempre
acompanhado de um cerimonial, variando, enfim, conforme as espcies
(MERLEAU-PONTY, 2000).
Norval Baitello Junior (1997) apresenta um episdio interessante em que
podemos perceber a inseparabilidade do comportamento simblico e dos
esquemas inatos quando refere-se a um quadro clnico de afeces masculinas.
O autor relata que o paciente fala para o mdico que o seu jato de urina no
tem mais fora, ou que s consegue urinar sentado, situao pela qual nunca
imaginou passar. Nesse sentido, o urinar longe demonstra o imaginrio
masculino da potncia e do poder:
A prpria urina constitui-se um texto da cultura, to prenhe de significados e
histrias que se foram juntando ao prprio objeto, de maneira que sua
complexidade cresce permanentemente, desde suas origens animais, passando
por seu percurso-mtico-religioso e ritual, aos quais se somam os
conhecimentos cientficos. (BAITELLO JUNIOR, 1997, p.117).
Desse modo, em vez de ser considerada em posio antagnica natureza, a
cultura emerge da natureza e retroage sobre ela. Natureza e cultura, apesar de
serem conceitos diferenciados, comunicam-se sem oposies. Cabe considerar
a compreenso de cultura como:
produto de emergncias de complexidades oriundas da natureza, no se
distingue dessa ltima seno pela singularidade, sempre eventual, de uma
comunicao hipercomplexa e aberta, consciente ou inconsciente. [...] ,
sobretudo, marcada pela manuteno/metamorfose dos registros da memria
primordial e histrica de todos os homens e de cada um deles. (ALMEIDA, 1997,
p. 39).
A cultura constituda pelo conjunto de textos produzidos pelo ser humano, no
apenas construes da linguagem verbal, mas tambm mitos, rituais, gestos,
ritmos, jogos, entre outros. Os textos da cultura so considerados, tambm,
sistemas comunicativos que obedecem s regras e normas preconizadas pela
cultura vigente. O que no impede de culturas diferentes se comunicarem. A
cultura o macrossistema comunicativo que perpassa todas as manifestaes e
como tal deve ser compreendido para que se possam compreender assim as
manifestaes culturais individualizadas (BAITELLO JNOR, 1999, p .18). A
comunicao entre as diversas culturas permite que as criaes do homem,
como a msica, o cinema, as danas, os jogos e os brinquedos atravessem
fronteiras.
Percebemos, portanto, que corpo, natureza e cultura se interpenetram atravs
de uma lgica recursiva. O que biolgico no ser humano encontra-se
simultaneamente infiltrado de cultura. Todo ato humano biocultural.
Os gestos, considerados bioculturais, expressam a nossa prpria vida individual
e coletiva porque tm um sentido histrico. As dimenses histricas, por no
serem consideradas imutveis, mostram que a intencionalidade dos gestos
expressa a maneira nica de existir no ato do momento vivido, uma vez que o
corpo humano, por estar atado ao mundo por meio de uma relao dinmica,
atribui sentidos que se renovam conforme a situao. Portanto, em relao
histria, no h uma palavra, um gesto humano, mesmo distrados ou
habituais, que no tenham significao (MERLEAU-PONTY, 1999, p.16).
CULTURA DE MOVIMENTO
A cultura de movimento, ao envolver a relao entre corpo, natureza e cultura,
configura-se como um conhecimento que vai sendo construdo e reconstrudo
ao longo de nossas vidas e da histria. Um conhecimento marcado pela
linguagem sensvel, que emerge do corpo e revelada no movimento que
gesto, abarcando os aspectos bioculturais, sociais e histricos, no se
resumindo s manifestaes de jogos, danas, esportes, ginsticas ou lutas,
mas abrangendo as diversas maneiras como o ser humano faz uso do ser corpo,
ou seja, como cria e vivencia as tcnicas corporais4. Um conhecimento que
permite a compreenso do mundo por meio do corpo em movimento no
ambiente, cultura e histria. A linguagem sensvel revelada pela
movimentao do corpo no tempo e no espao de cada indivduo e da
comunidade. Somos capazes de criar e recriar, e, ao mesmo tempo em que nos
expressamos, conseguimos nos comunicar.
Pensar que a cultura de movimento envolve a relao entre corpo, natureza e
cultura por meio de uma lgica recursiva pensar que as tcnicas corporais
influenciadas pelo funcionamento orgnico e pelas trocas culturais, ao mesmo
tempo em que criam e recriam os jogos, as danas, os esportes, as lutas ou as
ginsticas, provocam mudanas tanto no organismo quanto na sociedade em
que esto inseridas.
Podemos perceber essa recursividade quando acontece algum distrbio na
comunicao intraorgnica, como psicopatologias, distrbios metablicos e
hormonais, podendo ocorrer desequilbrios nos cdigos da linguagem ou
comprometer a capacidade de criar e imaginar. As criaes humanas tambm
podem influenciar os cdigos primrios, ou seja, aqueles relacionados ao
conjunto do funcionamento orgnico, assim:
um determinado espetculo, um poema ou um romance, um ritual, uma dana,
uma pea musical ou teatral, ou at mesmo a narrativa empolgada de uma
partida esportiva podem emocionar algum at as lgrimas, afetando, ainda
que por momentos, seu equilbrio biolgico, ou seja, alterando o ritmo e a
qualidade da comunicao intraorgnica. (BAITELLO JNIOR, 1999, p. 41).
Percebemos que os textos da cultura, como as danas, os jogos, os esportes, as
lutas ou as ginsticas possuem uma relao constante com os cdigos do
funcionamento orgnico e com os cdigos da linguagem. Destacamos ainda que
Mauss (1974), ao reconhecer que os atos corporais so fenmenos
biopsicosociolgicos, j se empenhava em tecer relaes entre a Biologia e a
cultura, uma vez que reconhecia que determinadas tcnicas corporais
influenciavam os fenmenos biolgicos.
Com relao significao dessas prticas corporais, percebemos que possuem
significados originais de acordo com o local em que foram produzidas, podendo
mudar conforme o novo contexto e a interpretao das pessoas que a
vivenciam ou apreciam. Nesse sentido, o simbolismo das tcnicas corporais
varia conforme a educao, as diferentes experincias vividas e as trocas
culturais. Em determinado local, uma atitude corporal pode ser permitida e em
outro pode ser proibida, como ressalta Mauss (1974).
Ao serem criados no local ou advindos de outro lugar, os jogos, as danas, os
esportes, as lutas ou as ginsticas vo sendo recriados pelos seus participantes.
Novos usos do corpo surgem, adquirem outros sentidos e os objetivos tambm
se alteram. Essa capacidade de atravessar bairros, cidades, estados e pases,
alm de ocorrer pelo fato de serem considerados como sistemas comunicativos,
tambm sofrem influncia do que valorizado nas sociedades em que esto
inseridos e acabam sucumbindo aos ditames da economia de mercado e da
espetacularizao. No podemos deixar de ressaltar o que defende Baitello
Jnior (1999), ou seja, se reconhecermos os cdigos especficos de cada cultura
possvel compreend-la; o que possibilita a comunicao entre culturas
diferenciadas.
CONSIDERAES FINAIS
Os jogos, as danas, os esportes, as lutas ou as ginsticas so criaes que
surgem da necessidade de perpetuar o seu criador, que morre, mas ao mesmo
tempo consegue sobreviver por meio desses acervos, desafiando e vencendo a
prpria morte e os limites que a vida impe. Essas criaes so recriadas por
meio de novas descobertas, de novas interpretaes dos indivduos e das
sociedades e so transmitidas por geraes, por diferentes grupos e pocas.
Elas possuem normas especficas e independentes, mas podem se alastrar
pelas diversas sociedades, permitindo as trocas culturais.
Os sujeitos, ao reunirem-se para vivenciar ou apreciar determinada prtica
corporal, contribuem com a construo do espao social. Espao esse que vai
sendo construdo individual e coletivamente. As diferenas e semelhanas nas
prticas, nas preferncias, nas escolhas, podem ser observadas no estudo de
Mendes (2002). A autora investigou as manifestaes da cultura de movimento
da Vila de Ponta Negra, comunidade de Ponta Negra em Natal, no Rio Grande
do Norte. No contexto pesquisado, o Boi de Reis, o bodyboard, as caminhadas,
os saltos e os rolamentos na areia da praia, as subidas nas rvores, os jogos
como sinuca, tot, alm de outras prticas corporais identificadas, podem ser
consideradas como possuidoras de diferenas simblicas e constituem uma
verdadeira linguagem, contribuindo com a representao do local em que esto
inseridas.
A compreenso de cultura de movimento entendida a partir do entrelaamento
entre corpo, natureza e cultura, poder contribuir para que os professores
ofeream contedos na Educao Fsica escolar relacionados realidade dos
educandos, com o propsito de favorecer uma leitura crtica do mundo. Os
professores podero ter como ponto de partida contedos que valorizem as
singularidades de cada comunidade, discutindo e problematizando as
hierarquizaes culturais. Alm disso, os professores podero despertar em
seus alunos a elaborao de sugestes para as problemticas identificadas.
Compreender a cultura de movimento a partir do entrelaamento entre corpo,
natureza e cultura tambm pode contribuir para que os alunos tenham acesso a
manifestaes culturais de outros contextos sociais, com possibilidades de se
estabelecer reflexes sobre as diversidades culturais, sobre as aproximaes e
as diferenas com suas realidades e a possibilidade de trocas culturais,
contribuindo com a comunicao entre os sujeitos de vrias localidades do
mundo.
Os professores podero propor prticas educativas que permitam a
compreenso das influncias das manifestaes da cultura de movimento, de
modo que, alm dos estudantes perceberem as alteraes que provocam em
cada corpo, percebam que as mudanas orgnicas ocorrem mediante as
relaes com o mundo e so expressas por meio dos gestos e, portanto, no
esto dissociadas dos aspectos culturais.
Desse modo, a cultura de movimento compreendida a partir do entrelaamento
entre corpo, natureza e cultura pode provocar debates tericos e intervenes
na Educao Fsica, ligando prticas, modos de ser, de fazer e de viver
diferentes realidades sociais e histricas.
NOTAS
* Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte,
Brasil.
** Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte,
Brasil.
1 O artigo apresentado foi realizado a partir de reflexes originadas de
dissertao de mestrado defendida no Programa de Ps-Graduao em
Educao da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2002. Para essa
publicao acrescenta-se uma ampliao das reflexes sobre a fenomenologia,
em particular o pensamento de Merleau-Ponty.
2 Grifo nosso.
3 No sentido de que o corpo no est no espao e no tempo maneira dos
objetos. A corporeidade uma maneira original de ser e estar no mundo. O
corpo produz uma reflexo visto que sensvel e sentiente; mvel e movente;
ttil e tocante.
4 As tcnicas corporais referem-se s maneiras como os homens, sociedade
por sociedade e de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos
(MAUSS, 1974, p. 211). O conceito de tcnicas corporais, apresentado por
Marcel Mauss (1974), contribui para a superao da ideia de que a tcnica
necessariamente est vinculada a um padro de movimento.
MOVEMENT CULTURE: REFLECTIONS FROM THE RELATION
BETWEEN BODY, NATURE, AND CULTURE
ABSTRACT
Movement culture is here understood as a knowledge organizing criterium in
Physical Education. Considering the concepts relevance in the field, we have
tried to produce a broader reflection in terms of the relations between body,
nature, and culture, by making epistemological approximations between
research studies which problematize irreconcilable oppositions in how such
phenomenons are read. Analysis results have highlighted that movement
culture, when understood as the intertwining of body, nature, and culture may
cause theoretical debate and intervention in physical education which links
practices with ways of being, of doing, and of living different social realities and
histories.
KEYWORDS: Body Nature Culture Knowledge
CULTURA DEL MOVIMIENTO: REFLEXIONES DE LA RELACIN
ENTRE EL CUERPO, LA NATURALEZA Y LA CULTURA
RESUMEN
La cultura del movimiento se entiende como criterio organizador del
conocimiento de la Educacin Fsica. Delante de la importancia de este
concepto para el rea, buscamos ampliar las reflexiones cuanto a las relaciones
entre el cuerpo, la naturaleza y la cultura, por medio de acercamientos
epistemolgicos entre los estudios que problematizan las oposiciones
inconciliables en la lectura de estos fenmenos. Ante de las anlisis realizadas
se resaltou que la cultura del movimiento, comprendida a partir del
entrelazamiento entre el cuerpo, naturaleza y la cultura puede provocar las
discusiones tericas y las intervenciones en la Educacin Fsica, unir prcticas,
maneras de ser, de hacer y de vivir distintas realidades sociales e histricas.
PALABRAS-CLAVE: Cuerpo Naturaleza Cultura Conocimiento
REFERNCIAS
ALMEIDA, M. da C. Complexidade, do casulo borboleta. In: CASTRO, G. de et
al. (Orgs.). Ensaios de complexidade. Porto Alegre: Sulina, 1997. p. 25-45.
BAITELLO JUNIOR, N. Sndrome da mquina. In: CASTRO, G. de et al. (orgs.).
Ensaios de complexidade. Porto Alegre: Sulina, 1997. p. 115-121.
______. O animal que parou os relgios: ensaios sobre comunicao, cultura e
mdia. So Paulo: Annablume, 1999.
BETTI, M. Por uma teoria da prtica. Revista Motus Corporis. Rio de Janeiro, v. 3,
n. 2, p. 73-127, 1996.
BRACHT, V. Educao Fsica e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister,
1992.
______. Educao Fsica e cincia: cenas de um casamento (in)feliz. Iju: Ed.
UNIJU, 1999.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia de ensino de educao fsica. So Paulo:
Cortez, 1992.
DIETRICH, K. Traditioneller sport herausforderung der deutschen
sportfoerdeung? SPORTWISSENSCHAFT. Traduo livre de Hannalice Gottschalck
Cavalcanti a partir do texto original, v. 3, p. 277-293, 1985.
GLEYSE, Jacques. L instrumentalisation du corps: une archologie de la
rationalisation instrumentale du corps, de l ge classique l poque
hypermoderne. Paris : L Harmattan, 1997.
KUNZ, E. Educao Fsica: ensino & mudanas. Iju: Uniju, 1991.
______. Transformao didtico-pedaggica do esporte. Iju: Uniju, 1994.
LE BOULCH, Jean. Rumo a uma cincia do movimento humano. Traduo Jeni
Wolff. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1987.
LVI-STRAUSS, C. As estruturas elementares do parentesco. Traduo de
Mariano Ferreira. Petrpolis: Vozes; So Paulo: Edusp 1976.
MATURANA, H. Cognio, cincia e vida cotidiana. Traduo de Cristina Magro e
Victor Paredes. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001.
MAUSS, M. Sociologia e antropologia. Traduo de Lamberto Puccinelli. So
Paulo: EPU/Edusp, 1974.
MENDES, M. I. B. S. Corpo e cultura de movimento: cenrios epistmicos e
educativos. 2002. 137f., Dissertao (Mestrado em Educao) Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2002.
MERLEAU-PONTY, M. Le visible et linvisible. Paris : Gallimard, 1964.
______. Fenomenologia da percepo. 2. ed. Traduo de Carlos Alberto Ribeiro
de Moura. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
______. A natureza: notas: cursos no Collge de France. Traduo de lvaro
Cabral. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
MOREIRA, W. W. Educao Fsica uma abordagem fenomenolgica. Campinas:
Editora da Unicamp, 1992.
NBREGA, T. P. Corporeidade e Educao Fsica: do corpo-objeto ao corposujeito. Natal: Editora da UFRN, 2000.
SANTIN, S. Educao Fsica: uma abordagem filosfica da corporeidade. Iju:
UNIJUI, 1987.
SRGIO, M. Para uma epistemologia da motricidade humana. 2 a ed. Lisboa:
Compendium, 1994.
SILVA, A. M. Corpo e diversidade cultural. Rev. Bras. Cienc. Esporte, v. 23, n. 1,
p. 87-98, set. 2001.
______. Corpo, cincia e mercado: reflexes acerca da gestao de um novo
arqutipo da felicidade. So Paulo: Autores Associados, 2001b.
SOARES, C. (Org.). Corpo e Histria. Campinas: Autores Associados, 2001.
______. Pesquisas sobre o corpo: cincias humanas e educao. Campinas:
Autores Associados,
Você também pode gostar
- Trabalho Pronto - Cultura Do Movimento - 1 EntregaDocumento5 páginasTrabalho Pronto - Cultura Do Movimento - 1 Entregajosi802001Ainda não há avaliações
- EDUCAÇÃO PSICOMOTORA - LE BOULCH E VITOR DA FONSECA (Modo de Compatibilidade)Documento29 páginasEDUCAÇÃO PSICOMOTORA - LE BOULCH E VITOR DA FONSECA (Modo de Compatibilidade)Márcio Costa Dantas93% (14)
- Sentir, pensar, agir: Corporeidade e educaçãoNo EverandSentir, pensar, agir: Corporeidade e educaçãoNota: 2 de 5 estrelas2/5 (1)
- Paper Cultura e Movimento GuidoDocumento5 páginasPaper Cultura e Movimento GuidoMayara Fernanda MayaraAinda não há avaliações
- BRACHT - Cultura Corporal de Movimento PDFDocumento14 páginasBRACHT - Cultura Corporal de Movimento PDFDouglas SantosAinda não há avaliações
- Consciencia Corporal PDFDocumento7 páginasConsciencia Corporal PDFSol Cruz100% (1)
- Anais I Simposio Internacional Sobre Consciencia 2006Documento271 páginasAnais I Simposio Internacional Sobre Consciencia 2006Ismael De Sousa Silvério100% (2)
- Apostila de História Da Educação FísicaDocumento19 páginasApostila de História Da Educação Físicadenny12345689% (55)
- Fichamento DescartesDocumento8 páginasFichamento DescartesElaineAinda não há avaliações
- Aula 1 Estabilidade Das Construções PDFDocumento33 páginasAula 1 Estabilidade Das Construções PDFLarissa SorianiAinda não há avaliações
- Alça JCB 214-3c para Base Rompedor Atlas Copco 302-ModelDocumento140 páginasAlça JCB 214-3c para Base Rompedor Atlas Copco 302-ModelMichel Clayton100% (1)
- BRACHT Cultura Corporal de MovimentoDocumento14 páginasBRACHT Cultura Corporal de MovimentoPablo100% (1)
- Moura Lopes, Cristiane - Do Confinamento Ao AcolhimentoDocumento15 páginasMoura Lopes, Cristiane - Do Confinamento Ao AcolhimentoFernando Martín LozanoAinda não há avaliações
- Educação Física e Marcel Mauss - Contribuições AntropológicasDocumento5 páginasEducação Física e Marcel Mauss - Contribuições AntropológicasMaiara DouradoAinda não há avaliações
- Historia Do Corpo e Da Corporeidade Nas Ciencias A Educacao Fisica e A Cultura CorporalDocumento15 páginasHistoria Do Corpo e Da Corporeidade Nas Ciencias A Educacao Fisica e A Cultura CorporalFerAinda não há avaliações
- 13 Uma Concepção Dialógica e Uma Teoria Do Movimento HumanoDocumento19 páginas13 Uma Concepção Dialógica e Uma Teoria Do Movimento HumanoKiran GorkiAinda não há avaliações
- Linguagem Corporal 1a12 PDFDocumento70 páginasLinguagem Corporal 1a12 PDFRenata De Negreiros Mendes100% (5)
- Kunz Fenomenologia, Movimiento HumanoDocumento28 páginasKunz Fenomenologia, Movimiento HumanoTania PebeAinda não há avaliações
- Semiótica e Educação FísicaDocumento16 páginasSemiótica e Educação FísicagilgmmAinda não há avaliações
- Reflexões Históricas e Antropológicas Sobre A Educação FísicaDocumento13 páginasReflexões Históricas e Antropológicas Sobre A Educação FísicaClube CapixabaAinda não há avaliações
- Paradigma Da Corporeidade - CsordasDocumento46 páginasParadigma Da Corporeidade - Csordascerebromente50% (2)
- Aula 02 - Corporeidade e MotricidadeDocumento23 páginasAula 02 - Corporeidade e MotricidadeFrancisco Ronald Viturino TeixeiraAinda não há avaliações
- Livro-Texto - Unidade II METODOLOGIA DE ARTE E MOVIMENTO CORPOREIDADEDocumento29 páginasLivro-Texto - Unidade II METODOLOGIA DE ARTE E MOVIMENTO CORPOREIDADEJacqueline TavaresAinda não há avaliações
- O Corpo Glorioso Um Dialogo Entre Merleau-Ponty eDocumento21 páginasO Corpo Glorioso Um Dialogo Entre Merleau-Ponty emarianacontaseteAinda não há avaliações
- Apostila Versão FinalDocumento28 páginasApostila Versão FinalJuliana MontenegroAinda não há avaliações
- Documento Fundamental - Sessão Teórica 7Documento5 páginasDocumento Fundamental - Sessão Teórica 7Elisa RoscaAinda não há avaliações
- Corporeidade e Ed FisicaDocumento6 páginasCorporeidade e Ed FisicaThanandraPSRochaFerreiraAinda não há avaliações
- 6 Ed. Artigo 7 - O Corpo Que DançaDocumento10 páginas6 Ed. Artigo 7 - O Corpo Que DançaItalo FortesAinda não há avaliações
- Fichamento Paulo Ventura 02Documento5 páginasFichamento Paulo Ventura 02Jaqueline RosalAinda não há avaliações
- Modelo de Portfólio ExemploDocumento12 páginasModelo de Portfólio ExemploRaimundo Ribeiro MachadoAinda não há avaliações
- Corpo, Natureza e Cultura: Contribuições para A Educação - Mendes e NóbregaDocumento14 páginasCorpo, Natureza e Cultura: Contribuições para A Educação - Mendes e NóbregaThaise NardimAinda não há avaliações
- Psicomotricidade RelacionalDocumento16 páginasPsicomotricidade RelacionalcamsAinda não há avaliações
- Resumo-Humanismo Texto 01 Ao 08 - Faculdade VidalDocumento17 páginasResumo-Humanismo Texto 01 Ao 08 - Faculdade VidalFernanda MoreiraAinda não há avaliações
- Corporeidade e Ação Profissional Na ReabilitaçãoDocumento16 páginasCorporeidade e Ação Profissional Na ReabilitaçãoViniihAraujoAinda não há avaliações
- Texto - o Corpo Como Vetor Semântico Na Educação Física Uma Perspectiva A Partir de Le BretonDocumento3 páginasTexto - o Corpo Como Vetor Semântico Na Educação Física Uma Perspectiva A Partir de Le BretonM Sousa RodriguesAinda não há avaliações
- Trabalho - Pronto - Correcao FinalDocumento6 páginasTrabalho - Pronto - Correcao Finaljosi802001Ainda não há avaliações
- Corpo, Experiência e PerformanceDocumento12 páginasCorpo, Experiência e PerformanceFabio FerreiraAinda não há avaliações
- SIQUEIRA, EULER DAVID. 2007 - Introdução À Antropologia: Conceito, História e ObjetivosDocumento5 páginasSIQUEIRA, EULER DAVID. 2007 - Introdução À Antropologia: Conceito, História e ObjetivosAthos AsanoAinda não há avaliações
- Ceja Ed Fisic Fasc 1 Unid 2Documento20 páginasCeja Ed Fisic Fasc 1 Unid 2Paulo FrontelmoAinda não há avaliações
- 11n2 08DBB PDFDocumento8 páginas11n2 08DBB PDFyuricruz25Ainda não há avaliações
- Filosofos e A Educação Fisica Por IvaldoDocumento7 páginasFilosofos e A Educação Fisica Por IvaldoIvaldo J. SilvaAinda não há avaliações
- Fenomenologia e Educação Física - Uma Revisão Dos Conceitos de Corpo e MotricidadeDocumento10 páginasFenomenologia e Educação Física - Uma Revisão Dos Conceitos de Corpo e MotricidadefudelioAinda não há avaliações
- Sentirpensar Sob Olhar AutopoiéticoDocumento20 páginasSentirpensar Sob Olhar AutopoiéticoWilson Dos Santos Souza100% (1)
- Educação Somática PDFDocumento8 páginasEducação Somática PDFPatrícia GrilloAinda não há avaliações
- Educação Somática PDFDocumento8 páginasEducação Somática PDFPatrícia GrilloAinda não há avaliações
- 161 351 1 SM PDFDocumento11 páginas161 351 1 SM PDFneoAinda não há avaliações
- Escobar e Taffarel - Cultura Corporal e Os Dualismos NecesáriosDocumento9 páginasEscobar e Taffarel - Cultura Corporal e Os Dualismos NecesáriosLeonan Ferreira100% (1)
- Teo RicoDocumento22 páginasTeo RicoEster SaraAinda não há avaliações
- Mapa ConceitualDocumento7 páginasMapa ConceitualSheila SilvaAinda não há avaliações
- Merleau-Ponty - Movimentos Do Corpo e Do PensamentoDocumento10 páginasMerleau-Ponty - Movimentos Do Corpo e Do PensamentoLuiz Todeschini100% (1)
- Corpo No Cinema Moçambicano PDFDocumento19 páginasCorpo No Cinema Moçambicano PDFErica GiesbrechtAinda não há avaliações
- Neira GramorelliDocumento15 páginasNeira GramorelliKaroline NascimentoAinda não há avaliações
- Texto 4 - Leitura Prévia 3º e 4º Encontros - PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS - PPC PDFDocumento27 páginasTexto 4 - Leitura Prévia 3º e 4º Encontros - PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS - PPC PDFKatia DisegnaAinda não há avaliações
- Unid. 1 - Texto 1 - Corpo e Movimento - de Volta Ao CorpoDocumento16 páginasUnid. 1 - Texto 1 - Corpo e Movimento - de Volta Ao CorpoAlisson CardosoAinda não há avaliações
- Psicologia Da Educação e Da Aprendizagem Tele Aula 1Documento15 páginasPsicologia Da Educação e Da Aprendizagem Tele Aula 1Isabela NapomucenoAinda não há avaliações
- 01 Teorias PedagógicasDocumento10 páginas01 Teorias PedagógicaselaineAinda não há avaliações
- Relatório Disciplina: Antropologia Da Educação - Aula 2Documento4 páginasRelatório Disciplina: Antropologia Da Educação - Aula 2Gabryela LobatoAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre o Corpo GregoDocumento14 páginasReflexões Sobre o Corpo GregoNelson Carvas JrAinda não há avaliações
- Psicologia e Educação No Movimento Da Escola NovaDocumento24 páginasPsicologia e Educação No Movimento Da Escola NovaMirian LinharesAinda não há avaliações
- Educação, Gênero e Violência: práticas culturais a serviço da desigualdadeNo EverandEducação, Gênero e Violência: práticas culturais a serviço da desigualdadeAinda não há avaliações
- Educação em busca de sentido: Pedagogia inspirada em Viktor FranklNo EverandEducação em busca de sentido: Pedagogia inspirada em Viktor FranklAinda não há avaliações
- Planejamento, Execução e Avaliação No Enisno - A Busca de Um DesejoDocumento16 páginasPlanejamento, Execução e Avaliação No Enisno - A Busca de Um DesejoIsmael De Sousa SilvérioAinda não há avaliações
- Contribuições Da Avaliação Mediadora para A Melhoria Da Qualidade Da Educação PDFDocumento3 páginasContribuições Da Avaliação Mediadora para A Melhoria Da Qualidade Da Educação PDFIsmael De Sousa SilvérioAinda não há avaliações
- Contribuições Da Avaliação Mediadora para A Melhoria Da Qualidade Da Educação PDFDocumento3 páginasContribuições Da Avaliação Mediadora para A Melhoria Da Qualidade Da Educação PDFIsmael De Sousa SilvérioAinda não há avaliações
- A Origem Do HomemDocumento4 páginasA Origem Do HomemIsmael De Sousa Silvério100% (1)
- A Importância Do Autoconhecimento - Você Já Está No CaminhoDocumento6 páginasA Importância Do Autoconhecimento - Você Já Está No CaminhoIsmael De Sousa SilvérioAinda não há avaliações
- Hobbes e Locke Semelhanças e DiferençasDocumento7 páginasHobbes e Locke Semelhanças e DiferençasIsmael De Sousa SilvérioAinda não há avaliações
- Gestão Da EscolaDocumento256 páginasGestão Da EscolaBeatriz_Moires_533981% (16)
- Atuação Do Fisioterapeuta Na Atenção Básica À Saúde Uma Revisão Da Literatura BrasileiraDocumento9 páginasAtuação Do Fisioterapeuta Na Atenção Básica À Saúde Uma Revisão Da Literatura BrasileiraIsmael De Sousa SilvérioAinda não há avaliações
- 11FQA Ficha Trab Ini F1.1 - N.º 1Documento5 páginas11FQA Ficha Trab Ini F1.1 - N.º 1Ines GomesAinda não há avaliações
- Velocidade de Fase e GrupoDocumento25 páginasVelocidade de Fase e GrupoThiago RobertoAinda não há avaliações
- Movimento Harmônico SimplesDocumento43 páginasMovimento Harmônico SimplesTaís Zamunér CalociniAinda não há avaliações
- 1) Equilíbrio Estático e DinâmicoDocumento6 páginas1) Equilíbrio Estático e Dinâmicobrunogomes1748bAinda não há avaliações
- UNIP - Universidade Paulista - DisciplinaOnline - Sistemas de Conteúdo Online para Alunos - 3Documento12 páginasUNIP - Universidade Paulista - DisciplinaOnline - Sistemas de Conteúdo Online para Alunos - 3Rodrigo ViniciusAinda não há avaliações
- 03-Ap3 Enem Semestral - FísicaDocumento124 páginas03-Ap3 Enem Semestral - FísicaCassio Silva FerreiraAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa Física IV - Pronta!Documento5 páginasAtividade Avaliativa Física IV - Pronta!Kelly Gomes FerreiraAinda não há avaliações
- LISTA VetoresDocumento2 páginasLISTA VetoresJoão Gabriel Da Silva VazAinda não há avaliações
- Tempo de ReverberaçãoDocumento29 páginasTempo de ReverberaçãoVanessa Elaine GelainAinda não há avaliações
- Material Enem FisicaDocumento108 páginasMaterial Enem FisicalechambarelliAinda não há avaliações
- Provao 2º Ano FisicaDocumento3 páginasProvao 2º Ano FisicaMarcioSergioBispoAinda não há avaliações
- Trabalho de FisicaDocumento2 páginasTrabalho de FisicaAlberto José TovelaAinda não há avaliações
- Apostila Dinamica VeicularDocumento124 páginasApostila Dinamica VeicularJoão Arthur Bessa100% (4)
- Ficha de Leitura 8a Classe - 2020Documento11 páginasFicha de Leitura 8a Classe - 2020Carlos OscarAinda não há avaliações
- Ficha - Fisica 3Documento8 páginasFicha - Fisica 3BeltonAlbertoMeneteBetinhoAinda não há avaliações
- Criatividade para Memorizar Formulas PDFDocumento13 páginasCriatividade para Memorizar Formulas PDFJoão FranciscoAinda não há avaliações
- Lista de Exercício Revisão - p2Documento5 páginasLista de Exercício Revisão - p2Mackenzie WeasleyAinda não há avaliações
- Apostila Vibração PetrobrásDocumento43 páginasApostila Vibração PetrobrásDaniel Ferreira QueirozAinda não há avaliações
- PiãoDocumento4 páginasPiãoFabiano Queiroz SoaresAinda não há avaliações
- Como Escolher o Perfil Adequado para Uma Certa Carga - ALU-CEKDocumento7 páginasComo Escolher o Perfil Adequado para Uma Certa Carga - ALU-CEKEvertonAinda não há avaliações
- 3a Avaliacao FISICA 1Documento3 páginas3a Avaliacao FISICA 1Cleyton RastaAinda não há avaliações
- Movimento ParabólicoDocumento5 páginasMovimento ParabólicoFrancisco SilvaAinda não há avaliações
- Vibrações Mecânicas - Sistema Com 2 GL (Vibração Livre Não Amortecida)Documento6 páginasVibrações Mecânicas - Sistema Com 2 GL (Vibração Livre Não Amortecida)André Zardo CruberAinda não há avaliações
- Unipós RioDocumento211 páginasUnipós RioJoel Félix0% (1)
- Postulados de de BroglieDocumento27 páginasPostulados de de BroglieUalas MagalhaesAinda não há avaliações
- MECÂNICADocumento44 páginasMECÂNICATatiane SantiagoAinda não há avaliações