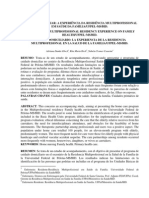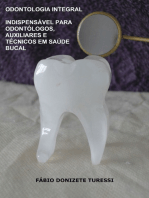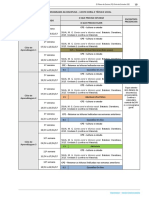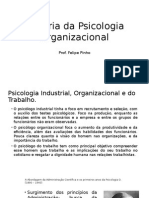Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Atendimento Domiciliar Ao Idoso - Problema Ou Solucao
Atendimento Domiciliar Ao Idoso - Problema Ou Solucao
Enviado por
Marcielle FonsecaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Atendimento Domiciliar Ao Idoso - Problema Ou Solucao
Atendimento Domiciliar Ao Idoso - Problema Ou Solucao
Enviado por
Marcielle FonsecaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
986
ARTIGO ARTICLE
Atendimento domiciliar ao idoso:
problema ou soluo?
Home care for the elderly: problem or solution?
Ciro Augusto Floriani 1
Fermin Roland Schramm
1 Escola Nacional de Sade
Pblica, Fundao Oswaldo
Cruz, Rio de Janeiro, Brasil.
Correspondncia
C. A. Floriani
Escola Nacional
de Sade Pblica,
Fundao Oswaldo Cruz.
Rua Leopoldo Bulhes 1480,
Rio de Janeiro, RJ
21041-210, Brasil.
cirofloriani@terra.com.br
Abstract
Introduo
Home care for the elderly has become an important health care tool in both developed and developing countries. However, several ethical, social, and operational concerns have received insufficient attention, and the Brazilian literature
on this theme is limited. Starting with a bibliographic review on home care, this paper takes a
bioethical approach to potential problems arising from this growing and important patient
care modality. A broader ethical approach is
needed to implement home care for the elderly,
with policies to protect the patient, family, and
caregiver, aimed at improving the quality of this
program format.
O crescimento do atendimento domiciliar (AD)
no Brasil recente, datando da ltima dcada
do sculo XX 1. A difuso desta modalidade de
prestao de servios ocorre tanto no setor privado quanto no setor pblico, fazendo parte da
pauta de discusso das polticas de sade que,
pressionadas pelos altos custos das internaes hospitalares, buscam sadas para uma melhor utilizao dos recursos financeiros 2.
O AD envolve vrios atores sociais em uma
rede complexa de relaes, gerando situaes
de conflitos de interesses e de valores entre esses atores 3,4. Neste artigo, iremos, inicialmente, conceituar o AD e procuraremos contextualiz-lo em nossa realidade para, em seguida,
descrevermos aspectos problemticos e conflituosos, do ponto de vista moral, a partir de reviso da literatura que aborda questes ticas
em relao ao AD, a maior parte dela com enfoque centrado no idoso. Discutiremos alguns
desses conflitos dentro de uma perspectiva da
biotica de proteo, concluindo pela necessidade de elaborar uma agenda que considere os
atores mais vulnerveis neste processo, ou seja, o paciente, sua famlia e o cuidador. Com isso, esperamos estar contribuindo para o aperfeioamento do AD, no momento em que este
passa a ser includo na Poltica Nacional do
Idoso com a criao da Assistncia Domiciliar
Geritrica (http://www.saude.gov.br/aude/apli
Bioethics; Aged; Family; Medical Care; Aging
Health
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 20(4):986-994, jul-ago, 2004
ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO
cac.../noticias_detalhes.ctm?co_seq_noticias=
290, acessado em 25/Nov/2002) e a ser disciplinado pelo Conselho Federal de Medicina (http:
//www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/
2003/1668_2003.htm, acessado em 27/Jun/2003).
Definindo atendimento domiciliar
O termo AD aqui empregado no sentido amplo de home care, compreendendo uma gama
de servios realizados no domiclio e destinados ao suporte teraputico do paciente. Estes
servios vo desde cuidados pessoais de suas
atividades de vida diria (higiene ntima, alimentao, banho, locomoo e vesturio), cuidados com sua medicao e realizao de curativos de ferimentos, cuidados com escaras e
ostomias, at o uso de alta tecnologia hospitalar como nutrio enteral/parenteral, dilise,
transfuso de hemoderivados, quimioterapia e
antibioticoterapia, com servio mdico e de
enfermagem 24 horas/dia, e uma rede de apoio
para diagnstico e para outras medidas teraputicas. Tambm esto includos neste conceito o chamado suporte comunitrio (voluntrios, servios de associaes comunitrias,
transporte) e realizao de tarefas externas, como ida a um banco ou a uma farmcia 4.
Objetivos do atendimento domiciliar
Os objetivos do AD so: contribuir para a otimizao dos leitos hospitalares e do atendimento ambulatorial, visando a reduo de custos; reintegrar o paciente em seu ncleo familiar e de apoio; proporcionar assistncia humanizada e integral, por meio de uma maior aproximao da equipe de sade com a famlia; estimular uma maior participao do paciente e
de sua famlia no tratamento proposto; promover educao em sade; ser um campo de ensino e pesquisa 5. Referindo-se ao idoso, o AD insere-se dentro de um modelo gerontolgico
que visa, na medida do possvel, a reinserir o
idoso na comunidade, preservando ao mximo
sua autonomia, buscando a recuperao de sua
independncia funcional 2 e procurando mant-lo um cidado ativo, participativo, produtivo e afetivo 6 (p. 97). Assim, os potenciais benefcios com o AD seriam a diminuio das
reinternaes e dos custos hospitalares; a reduo do risco de infeco hospitalar; a manuteno do paciente no ncleo familiar e o aumento da qualidade de vida deste e de seus familiares 7,8. Alm do mais, o domiclio oferece-
ria um lugar seguro ao idoso, protegendo-o do
meio, evitando com isso sua institucionalizao, tanto em nvel hospitalar quanto asilar 4.
J os critrios de elegibilidade para a aceitao
no AD costumam levar em considerao os seguintes aspectos: estabilidade clnica; rede de
suporte social (cuidador, famlia, amigos, voluntrios etc.); ambiente apropriado; avaliao
profissional das demandas existentes; suporte
financeiro 9 (p. 10).
Contextualizao do atendimento domiciliar
Os pacientes, que at pouco tempo atrs eram
tratados basicamente nos hospitais, so agora
transferidos o mais rapidamente possvel para
seus domiclios, onde continuaro seus tratamentos, com programas de reabilitao, de recuperao ou de cuidados paliativos. Com o
passar do tempo surgem situaes conflituosas entre os diversos atores envolvidos: o paciente, a famlia, os cuidadores, o provedor e o
gestor de sade, envolvendo processos decisrios difceis 4. Estas situaes de tenso e de
conflito emergem dentro de um contexto maior
onde alguns aspectos devem ser levados em
considerao: (1) h uma crescente tendncia
dos administradores hospitalares em otimizar
as internaes e reinternaes, pressionados
pelos altos custos, com uma maior racionalizao do tempo de permanncia do paciente no
hospital, maior rotatividade dos leitos, diminuio dos custos hospitalares e, nesse sentido, para o gestor, o AD apresenta-se como sendo uma opo importante 1,2; (2) h um modelo de formao mdica centrado no hospital,
com uma gama de recursos disposio do
mdico, sendo este um local onde ele tende a
se sentir mais familiarizado e mais seguro para
atuar; (3) existe uma concepo amplamente
difundida na comunidade de ser o hospital lugar de excelncia para diagnstico e tratamento; (4) o domiclio um local onde o poder estabelecido pertence ao paciente ou aos membros daquela famlia, no sendo, portanto, territrio natural de atuao do profissional de
sade 10; (5) o sistema de institucionalizao
asilar freqentemente associado a abandono,
confinamento e excluso social, gerando reflexos negativos na sociedade, o que leva muitas
famlias a optarem pela permanncia do idoso
no domiclio 11; (6) h uma populao que vive
em uma realidade geogrfica e social muitas
vezes desfavorvel, em reas de difcil acesso e
com domiclios em precrias condies, o que
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 20(4):986-994, jul-ago, 2004
987
988
Floriani CA, Schramm FR
pode trazer, como conseqncia, a excluso de
pacientes que poderiam se beneficiar com o
AD; (7) a mulher, que como veremos adiante
costuma ser um dos atores fundamentais no
AD, representa, na atualidade, importante esteio financeiro familiar, o que pode comprometer sua atividade de cuidadora e vice-versa,
a atividade de cuidadora podendo vir a interferir no seu emprego.
Dentro desta perspectiva, podemos perceber que o campo do AD, onde interagem seus
diferentes atores, carrega conflitos de natureza
moral, e alguns desses conflitos pretendemos
apresentar a seguir.
A biotica da proteo
e o atendimento domiciliar
Considerando que a biotica surgiu em resposta aos crescentes conflitos e dilemas de natureza moral relacionados, dentre outras prticas,
com aes no mbito das polticas de sade e
com os avanos tecnolgicos aplicados ao setor
sade 12,13,14 e que, para alguns autores, constitui um campo pluridisciplinar 15 ou interdisciplinar 16, no qual se utilizam vrias ferramentas disciplinares para tentar compreender
e resolver os conflitos morais que surgem, nas
sociedades complexas e diferenciadas contemporneas, das aes humanas sobre qualquer
sistema e processo vivo, pode-se razoavelmente afirmar que a biotica visa a proteger os pacientes morais contra os efeitos daninhos e irreversveis que podem resultar dos atos dos agentes morais 17. Por isso, tal concepo de biotica pode aplicar-se tambm s prticas do AD.
Com efeito, sabe-se que o AD visto como
uma alternativa internao hospitalar prolongada e aos crescentes custos associados,
conforme j salientado. Assim, a implantao
do AD, tanto na esfera pblica quanto na privada, torna-se cada vez mais uma realidade em
nosso meio, com uma importante dimenso
moral, visto que pode implicar conseqncias
daninhas e existencialmente irreversveis para
os doentes ou pacientes morais. No caso especfico em exame aqui, o processo decisrio
pode ser descrito como um cenrio de escassez de recursos, no qual o gestor da sade deve
trabalhar e mostrar resultados, tomando decises pautadas por indicadores econmicos e
que devem, portanto, ser respeitadas por qualquer gestor que se queira tecnicamente pragmtico, isto , preocupado com a otimizao
dos meios efetivamente disponveis e que pretenda, tambm, atuar de forma moralmente
legtima, isto , aceitvel por qualquer agente
social razovel e imparcial. No entanto, dentro
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 20(4):986-994, jul-ago, 2004
desta perspectiva biotica, h questes que
mereceriam ser aprofundadas devido a seu carter problemtico.
Aspectos moralmente problemticos
identificados ao longo da implantao
dos programas de atendimento domiciliar
com respeito ao cuidador
J est bem estabelecido o perfil do cuidador
informal de idosos: costuma ser do sexo feminino, filha ou esposa (muitas vezes idosa) que,
com freqncia, divide esta atividade com seus
afazeres dirios como, por exemplo, cuidar das
crianas; alm disso, sabe-se que em algum
momento esse cuidador pode ter problemas
com seu emprego ou mesmo perd-lo 18. Podemos imaginar o nus desta rdua e desgastante tarefa, forjada numa repetitividade diria incessante, muitas vezes durante anos, com sobrecarga de atividades no seu cotidiano, sendo
quase sempre uma atividade solitria e sem
descanso, que pode lev-lo a um isolamento
afetivo e social 19. Soma-se a isto o fato de, em
determinadas situaes, o cuidador sentir-se
enganado e abandonado pelo provedor do AD,
principalmente quando esses cuidados ocorrem por vrios anos seguidos 20. Sabe-se, tambm, que o cuidador enfrenta rupturas de vnculos, tem sua sade deteriorada, no tem frias e tem baixa participao social 21. descrita, tambm, a perda do poder aquisitivo da famlia, com a progresso da doena do paciente
22. Muitas cuidadoras, principalmente aquelas
que trabalham fora de casa, dividem a funo
de cuidadora com crianas e adolescentes, que
passam a ser os responsveis pela maior parte
dos cuidados dirios 18,23. Para o cuidador, portanto, trata-se no s de uma sobrecarga nas
atividades, mas tambm de uma ameaa sua
sade, j que muitos adoecem ou agravam problemas de sade j existentes. Porm, no s
os aspectos negativos so relevantes, ainda que
sejam os mais estudados, mas transformaes
positivas so relatadas por cuidadores que passaram a ter suas vidas modificadas, dando a elas
um sentido at ento inexistente, com uma experincia interior de crescimento e de transformao 3,24.
A relao entre o cuidador e o idoso dependente complexa e, dependendo do perfil psicolgico de ambos, poder ser muito difcil,
principalmente em relao autonomia do
idoso que, apesar de estar dependente e frgil,
muitas vezes tem expectativas de exercit-la
to plenamente quanto em seu passado 25. O
cuidador pode interpretar erroneamente, na
continuidade repetitiva dos cuidados dirios,
ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO
que a inabilidade de um idoso em fazer algo seja igual incapacidade dele tomar decises.
Com isso, pode impor seu modo de realizar as
atividades, no ouvindo os desejos e anseios
legtimos do idoso, com eroso da autonomia
deste e acentuao de um modelo paternalista
de cuidados: os domiclios so os lugares naturais e escolas para prticas paternalistas 26 (p.
170). claro que o paternalismo nem sempre
um problema j que, muitas vezes, refere-se a
prticas que em princpio visam a proteger o
paciente; porm, no caso do cuidador no considerar a vontade do idoso competente e no
respeitar o exerccio de sua autonomia, esta situao deve ser encarada como sendo moralmente problemtica. Com efeito, este modo de
agir tende a ser a tnica da relao principalmente levando-se em conta o longo tempo em
que duram tais cuidados, podendo o paternalismo ser acentuado pela tendncia de se olhar
para o idoso como infantilizado em suas atitudes e desejos 4,26. Neste sentido, abusos de poder por parte do cuidador tm sido relatados,
tais como agresses, impacincia e ressentimentos, e o fato de o cuidador ser contratado
tambm no assegura, necessariamente, um
atendimento livre dessas idiossincrasias.
Uma situao especialmente preocupante
diz respeito ao idoso cuidar de idoso, situao
descrita como sendo a de idoso jovem cuidando
de idoso idoso 18 (p. 625). Podendo estar tambm acometido por mltiplas co-morbidades,
esse cuidador idoso ir encontrar dificuldades
para conseguir cuidar do paciente, descuidando
de sua prpria sade e, assim, comprometendo
e agravando a condio clnica de ambos.
Questes morais referentes ao cuidador
Pode-se, por exemplo, perguntar o quanto as
atividades dirias do cuidador, forjadas na repetitividade, muitas vezes de anos, so de fato
benficas para o paciente idoso, visto que elas
pretenderiam sempre, em ltima instncia proteger o real, ou suposto, beneficirio do ato de
cuidado? Como aes paternalistas, freqentemente presentes nas aes dos cuidadores, podem ser transformadas em aes efetivamente
teraputicas e at onde elas implicam, de fato,
seqelas no idoso? Por outro lado, quem arcar
com os potenciais danos fsicos, emocionais,
sociais e existenciais do cuidador? Em outras
palavras, ser que, nesses casos, o paternalismo pode ser visto como sendo tambm protetor, de fato, de todos os envolvidos pelo ato do
cuidar, sendo, por isso mesmo, moralmente
justificado? Ou ser que paternalismo e proteo so de fato antinmicos, visto que a prti-
ca correta dos pais com os filhos implicaria
tambm o tornar a criana progressivamente
autnoma, capaz de tomar suas decises, ao
passo que o paternalismo seria de fato a negao desta competncia?
Aspectos moralmente problemticos
identificados ao longo da implantao
dos programas de atendimento
domiciliar com respeito ao provedor
do atendimento domiciliar
Para Collopy et al. 4, os pacientes estariam sendo deslocados de modo mais rpido e mais doentes para o domiclio quicker and sicker
devido aos custos das internaes hospitalares.
Arras & Dubler 3 descrevem situaes de tenso e conflitos vivenciadas pelo paciente e sua
famlia em relao ao tempo de permanncia
hospitalar, bem como dificuldade destes em
compreenderem o significado e o valor do AD,
oferecido como alternativa vivel e segura.
A propaganda utilizada pelo provedor do
AD junto ao usurio incorpora a mesma tecnologia biomdica utilizada pela propaganda hospitalar, numa tentativa de demonstrar ser o domiclio to seguro, ou mais, do que o hospital 3.
Alm disso, profissionais de sade formados
com enfoque intervencionista podem trazer
problemas no domiclio, agindo por ansiedade
e por sentirem a necessidade de terem de fazer
alguma coisa, podendo gerar um ambiente de
desconfiana e de tenso 4.
H famlias e pacientes que impem condies ao provedor do AD com respeito ao perfil
racial e de classe do cuidador que passar a
conviver em seus domiclios 4,21, com potenciais conflitos de natureza discriminatria.
Questes morais referentes ao provedor
do atendimento domiciliar
De que modo, e at onde, tm sido levadas em
considerao as escolhas autnomas do paciente idoso, partindo-se da premissa tica de
que a preservao da autonomia do paciente,
durante o maior tempo possvel, pode nortear
moralmente o AD gerontolgico, visto que, em
ltima instncia, o que conta o potencial benefcio do paciente, objeto real, ou suposto, do
cuidado? Que medidas de suporte e amparo
so de fato oferecidas pelos programas de AD e
que medidas protetoras estaro nas pautas de
deliberao dos gestores da sade com relao
ao paciente, famlia e ao cuidador? Ser legtimo, do ponto de vista moral, que sejam executadas estratgias de convencimento junto ao
usurio, movidas por objetivos que podem es-
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 20(4):986-994, jul-ago, 2004
989
990
Floriani CA, Schramm FR
tar vinculados, nica e exclusivamente, reduo de custos, conduzindo ao surgimento de
um mercado de reserva lucrativo como nico
parmetro, logo, a uma espcie de reducionismo econmico da complexidade do real sanitrio, que pode ser vista, por exemplo, como
uma injustificvel tirania de uma esfera de
justia sobre as demais 27? Uma vez implantado o AD do tipo internao domiciliar, como ficar o acesso a ele pela populao mais desfavorecida, muitas vezes com domiclios sem as
mnimas condies para sua instalao? A
quem, de fato, se destina esse tipo especfico
de AD e a quem ele deveria, legitimamente, se
destinar? Ainda dentro do contexto da internao domiciliar, qual a qualificao do profissional de enfermagem que fica no domiclio e,
que tipo de vnculo esse profissional e o mdico estabelecem com o paciente e a famlia? Como sero possveis diagnsticos precoces e,
por conseguinte, intervenes bem sucedidas
se, muitas vezes, esto no domiclio profissionais de enfermagem despreparados para fazer
diagnsticos e se no h visitas mdicas dirias
a esses pacientes, como seria de se esperar
quando h uma internao?
Aspectos moralmente problemticos
identificados ao longo da implantao
dos programas de atendimento domiciliar
com respeito ao domiclio
Segundo Arras & Dubler 3, o fato realmente novo com o advento do AD, principalmente em
relao ao uso de alta tecnologia, consiste na
hipermedicalizao deste domiclio. Para esses autores, essa transferncia das aes mdicas para a vida privada levanta a questo de
que tipo de casa e de famlia ns queremos que
a sociedade adote, e a que preo?, pois corremos o risco de tornar alguns domiclios em meros satlites das instituies mdicas 3 (p. S20).
Com isso, o AD corre o risco de ser encarado
apenas como uma mudana de local de tratamento e no como uma mudana de filosofia
nos cuidados administrados ao idoso 4. Com
efeito, a transformao do domiclio pela internao domiciliar pode levar o AD a ser um complexo fenmeno social que melhora a vida para
muitos pacientes graves, minando para outros
as condies que tendem a promover importantes benefcios sociais e oportunidades 3 (p. S20).
Questes morais referentes ao domiclio
De que modo e quanto a experincia de um
domiclio adaptado ao tratamento com alta
tecnologia hospitalar ir afetar as pessoas que
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 20(4):986-994, jul-ago, 2004
vivem nesse domiclio? No se estar invadindo e desorganizando este espao ntimo, onde
as relaes cotidianas daquela famlia foram
construdas? Ainda dentro desse contexto: lcito que se transfira alta tecnologia mdica aos
domiclios, com tomadas de deciso direcionadas por modelos intervencionistas, tornando,
com isso, os domiclios meros satlites dos
hospitais, mas sem a necessria competncia
para atuar, de fato, como tais? Ou: que tipos de
acordos podem ser e so moralmente legtimos
entre a equipe do AD e a famlia, j que esta detm o poder por estar em seu territrio?
Outros aspectos morais geradores
de conflitos
O paciente e a famlia estariam sentindo-se pressionados pelos planos de sade para adeso ao
AD 3. Segundo Ruddick 26, h pacientes que preferem ficar e serem cuidados num ambiente
hospitalar e dever-se-ia, portanto, respeitar este
desejo, principalmente quando a doena est
em curso avanado, com deteriorao fsica.
Em relao adeso mdica, pelo menos
nos pases desenvolvidos, h uma certa resistncia ao AD. Os fatores apontados para isto
so a baixa remunerao, a inconvenincia
quanto ao deslocamento e ao tempo demandado, a qualidade dos cuidados no domiclio, os
aspectos legais relacionados a determinados
procedimentos mdicos no domiclio e a perda
do poder e de controle 3,28. Alm disso, estaria
havendo uma fragmentao das responsabilidades quanto aos procedimentos no domiclio,
com enfraquecimento da relao mdico/paciente, justamente o oposto do apregoado pela
propaganda sobre os benefcios do AD, a qual
sugere que o AD fortalece esse vnculo. No contexto dos cuidados a longo prazo no domiclio,
os enfermeiros estariam sentindo-se menos
pressionados do que nas instituies hospitalares, obtendo uma maior carga de responsabilidade e de autoridade 3, desenvolvendo um
olhar prprio 10.
Os programas de AD de longa permanncia
no necessariamente reduzem os custos, mas
podem trazer benefcios para o paciente, a famlia e para o cuidador, tais como aumento na
satisfao com a qualidade de vida e aumento
na ateno e na confiana em relao aos cuidados domiciliares. Esta foi uma das concluses do National Long Term Care Demonstration 29, estudo multicntrico realizado nos Estados Unidos em 1982, que avaliou, durante
um ano e seis meses, 6 mil idosos fragilizados
inseridos em um AD do tipo case management
(atendimento mdico ambulatorial, suporte
ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO
telefnico contnuo e visitas no domiclio). Para Weissert 30, esses programas deveriam ser
baseados nos seus benefcios ao usurio e no
na possibilidade de reduo de custos. No Brasil ainda no temos, at a presente data, estudos desta magnitude.
Diante do exposto e voltando aos objetivos
do AD descritos por Osmo & Castellanos 5, podemos constatar que: a otimizao dos leitos e
a reduo de custos hospitalares, em nosso
meio, uma necessidade premente e que o AD
do tipo internao domiciliar parece estar se
mostrando como sendo uma alternativa vivel,
sob este prisma; a reorganizao da rede ambulatorial faz-se necessria e o AD do tipo case
management poderia ser uma alternativa j
que, comprovadamente, traz significativos benefcios ao usurio, ainda que com acrscimo
nos custos; a reintegrao do paciente em seu
ncleo familiar e de apoio nem sempre desejada pelo usurio e, no caso do idoso, pode sofrer resistncia por parte da famlia impondo a
esta um nus significativo; a delicada relao
entre o cuidador e o idoso dependente mostra
que a humanizao (palavra invariavelmente
encontrada nos textos, sem ser exatamente definida) est, muitas vezes, longe de acontecer e
que o domiclio e a proximidade da equipe de
sade no so garantias disto. Acreditamos que
no o domiclio e, portanto, no necessariamente o local que humaniza a relao teraputica, mas, sim, o interesse emptico que o profissional desenvolve pelo paciente. Assim sendo, surge a pergunta: a que preo, com que
propsito e a quem cabe o nus de oferecer
famlia uma maior participao no tratamento? Durante os meses ou anos seguintes continuar a equipe do AD a dar suporte ou tender
a acomodar-se, gerando sensao de excluso
e de abandono nesses familiares?
Questes morais relacionadas
dignidade do morrer
Em casos j diagnosticados como irreversveis,
de acordo com a melhor cincia mdica existente, no se estaro transferindo e perpetuando no domiclio aes intervencionistas que
prolongam a vida indefinidamente, sem necessariamente conservar, tambm, sua qualidade,
com decises que poderiam ter sido discutidas, de maneira mais apropriada, no hospital?
Ou, em casos de progresso da doena de base,
com irreversibilidade do quadro clnico, levando perda importante da qualidade de vida do
paciente e a despeito da otimizao medicamentosa, qual dever ser a conduta, ao mesmo
tempo pragmaticamente eficaz e moralmente
legtima, que seja norteadora da equipe do AD,
em especial a do mdico assistente? Questes
como estas, que surgem no contexto do AD, dizem respeito ao suporte da vida, como, por
exemplo, a manuteno de nutrio enteral/parenteral 31 ou ao quanto deve ser razoavelmente investido no diagnstico e tratamento da doena ou de complicaes que possam surgir
32,33 ; dizem respeito, tambm, dignidade do
morrer, e em relao a este aspecto, acreditamos que a questo principal no deva ser onde
se morre, mas, sim, como e de que modo se
morre. Ou ainda, a um olhar mdico crtico e
criterioso em relao polifarmcia, freqentemente utilizada, com a conseqente iatrogenia medicamentosa, fato muito comum na populao idosa, agravando ainda mais o j delicado estado clnico do paciente 34. O que se sugere aqui uma reflexo sobre se possvel salvar essa vida, com que qualidade, e, na total
impossibilidade disto, nos dizeres de uma mdica intensivista, o quanto possvel o que eu
tenho chamado de salvar uma morte: a ajudar
o paciente a preservar conforto e dignidade,
apesar da doena esmagadora, a ajudar a famlia a compreender a inevitabilidade da morte e
como a seu tempo ela pode ser apropriada, e como se encaminhar no processo de luto. Salvar
mortes, eu dei-me conta, to importante e gratificante quanto salvar vidas 35 (p. 777).
Sendo o AD um modelo de prestao de
servios estruturado no contexto das polticas
de sade, destinado a uma populao com especificidades bem definidas como, por exemplo, os doentes crnicos idosos, e devido ao fato de encerrar em seu desenvolvimento uma
srie de implicaes ticas e sociais 3, fruto das
inter-relaes entre seus diversos atores, podese acreditar que este campo constitui, de modo
enftico, um mbito privilegiado de polticas
de proteo, que devem ser pensadas e realizadas, contemplando os grupos de maior vulnerabilidade, isto , os de fato mais desamparados. No caso especfico do AD, entendemos que
este carter protetor deva ser voltado para o
paciente e sua famlia, onde freqentemente
gestado o cuidador. Isto parece ser especialmente relevante quando se est diante de pacientes idosos com doenas terminais, muitas
vezes envoltos em um ambiente de frieza, sofrimento e abandono.
Concluso
Como tentamos mostrar, os cuidados administrados no domiclio suscitam importantes
questes bioticas, visto que dizem respeito a
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 20(4):986-994, jul-ago, 2004
991
992
Floriani CA, Schramm FR
aes que podem ter efeitos irreversveis indesejveis sobre os destinatrios dos atos do
AD. Por isso, pensamos que, pelo menos em
parte, elas poderiam ser minimizadas se os
mdicos tivessem por hbito conversar abertamente com os pacientes sobre suas expectativas de vida, sobre a morte e sobre um uso razovel de tecnologia no domiclio, ajudandoos na melhor escolha possvel para sua qualidade de vida 36.
Para tanto, diante do crescimento significativo do AD na ltima dcada, preciso distinguir programas que simplesmente aumentam
a carga de cuidados nos domiclios, daqueles
que se preocupam com a qualidade de tais cuidados e com as conseqncias que podem resultar deste tipo de abordagem 37. Por isso, torna-se necessria a construo de uma melhor
agenda de polticas de fiscalizao do AD, que
esteja voltada para nossa realidade, com dados
mais consistentes sobre sua segurana, eficcia e efetividade, alm de maiores estudos relacionados qualidade de vida de seus usurios
e aos aspectos bioticos envolvidos. Em outros
termos, no basta apenas preparar um cuidador do ponto de vista tcnico, condio certamente necessria do ponto de vista da aceitabilidade de uma prtica que possa ser considerada competente, mas preciso, tambm, estruturar intervenes junto a esse cuidador,
que possam ser consideradas, tambm, legtimas, de acordo com os anseios morais existentes e resultantes do sentimento de desamparo que afeta concretamente quem sofre e
no quer, por boas razes, entregar os pontos.
Com efeito, de acordo com Topinkov 21, tais
intervenes devem ser pensadas, programadas e estabelecidas em diferentes nveis (fsico,
psicolgico, social e financeiro) e no basta
apenas ter uma equipe para atuar, mas ainda
necessrio saber que tipo de interveno pretendido e se essa interveno , alm de pragmaticamente desejvel, tambm moralmente
legtima.
Assim sendo, preciso ter um olhar crtico
sobre o AD, ponderando seus aspectos positivos e negativos do ponto de vista da efetiva
proteo dos usurios, tendo, em particular,
conscincia de que, na pauta das definies e
nos processos decisrios de sua implantao,
os princpios ticos e bioticos sejam de fato
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 20(4):986-994, jul-ago, 2004
considerados 3,30,38. Neste mbito, acreditamos
que polticas que sejam efetivas pragmaticamente e legtimas moralmente, de acordo com
o ethos social vigente, isto , que protejam de fato os agentes mais desamparados, so imprescindveis para abarcarem as mltiplas questes
geradas pelo AD. Consideramos tambm que,
do ponto de vista da corroborao, ou da refutao, da pertinncia de uma biotica da proteo aqui proposta, seja necessrio um maior
nmero de trabalhos qualificados, que busquem aprofundar a discusso sobre os possveis desdobramentos prticos do AD, contribuindo, com isto, para o aperfeioamento desse modelo teraputico.
Em relao ao AD oferecido como parte das
estratgias dos cuidados no fim da vida (com
uma referncia especial aos doentes com cncer, mas, evidentemente, no se restringindo a
eles) sabemos que este um campo frtil para
aes compassivas e acreditamos que a biotica da proteo tem aqui importante contribuio, ajudando na construo de programas de
AD que de fato protejam esses pacientes, norteando esses programas para a construo de
modelos onde as condutas dos profissionais
envolvidos, em especial a dos mdicos, sejam
no somente corretas do ponto de vista tcnico (imprescindveis), mas tambm amorosas e
empticas.
Para concluir e para visualizar melhor o
que deveria ser feito, acreditamos que preciso nos perguntarmos com que objetivo estamos entrando no domiclio de algum que precisa de nossa ajuda, sendo que devemos voltar
nosso olhar para o entendimento das reais necessidades do idoso e daquela famlia envolvidos, numa poca em que as diretrizes econmicas parecem ocupar papel preponderante
nas tomadas de deciso, muitas vezes desconsiderando a prpria vocao histrica da economia, a qual, como diz a filologia, significa a
norma (moral) que (deve) guiar o ambiente (onde vivemos). Por isso, aquilo que ir vigorar
vai depender, fundamentalmente, das intenes e atitudes dos agentes morais que somos ou que deveramos ser para pr ordem
em nossas inter-relaes entre agentes e pacientes morais, isto , entre quem tem por vocao proteger e quem deve ser protegido.
ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO
Resumo
Referncias
O atendimento domiciliar ao idoso tem se tornado um
importante instrumento de assistncia nos ltimos
anos, tanto nos pases desenvolvidos quanto nos pases em desenvolvimento. Vrios aspectos ticos, sociais
e operacionais tm sido negligenciados e a literatura
nacional escassa em relao a esta temtica. A partir
de reviso bibliogrfica em atendimento domiciliar,
este artigo enfoca, do ponto de vista biotico, os potenciais problemas advindos com a implantao dessa
crescente e importante modalidade de atendimento.
Conclui ser necessrio um maior direcionamento tico
na implantao do atendimento domiciliar, com polticas de proteo ao paciente, famlia e ao cuidador,
visando a aperfeioar a qualidade dos programas oferecidos.
1.
Biotica; Idoso; Famlia; Cuidados Mdicos; Sade do
Idoso
5.
Colaboradores
C. A. Floriani contribuiu na elaborao do artigo. F. R.
Schramm colaborou na discusso e reviso final do
artigo.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Mendes W. Home care: uma modalidade de assistncia sade. Rio de Janeiro: Universidade
Aberta da Terceira Idade, Universidade do Estado
do Rio de Janeiro; 2001.
Gordilho A, Srgio J, Silvestre J, Ramos LR, Freire
MPA, Espindola N, et al. Desafios a serem enfrentados no terceiro milnio pelo setor sade na
ateno integral ao idoso. Rio de Janeiro: Universidade Aberta da Terceira Idade, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro; 2000.
Arras J, Dubler NN. Bringing the hospital home:
ethical and social implications of high-tech home
care. Hastings Cent Rep 1994; 24:S19-28.
Collopy B, Dubler N, Zuckerman C. The ethics of
home care: autonomy and accommodation. Hastings Cent Rep 1990; 20 Suppl:S1-16.
Osmo AA, Castellanos PL. Os cuidados a domiclio: da deciso poltica gesto de programas.
http:/www.ufrgs.br/pdgs/Cuidadomicilio.htm
(acessado em 03/Abr/2000).
Sayeg MA. Envelhecimento bem sucedido e o autocuidado: algumas reflexes. Arquivos de Geriatria e Gerontologia 1998; 2:96-8.
Dolben LW. Servio de atendimento de enfermagem residencial. In: Duarte YAO, Diogo MJ, organizadores. Atendimento domicilirio um enfoque
gerontolgico. So Paulo: Atheneu; 2000. p. 575-82.
Monteiro CP, Monteiro JL. Internao domiciliria. In: Duarte Y, Diogo M, organizadores. Atendimento domicilirio um enfoque gerontolgico.
So Paulo: Atheneu; 2000. p. 584.
Duarte YAO, Diogo MJ. Atendimento domicilirio
um enfoque gerontolgico. So Paulo: Atheneu;
2000.
Liaschenko J. The moral geography of home care.
ANS Adv Nurs Sci 1994; 17:16-26.
Pavarini SC, Neri AL. Compreendendo dependncia, independncia e autonomia no contexto
domiciliar: conceitos, atitudes e comportamentos. In: Duarte Y, Diogo M, organizadores. Atendimento domicilirio um enfoque gerontolgico.
So Paulo: Atheneu; 2000. p. 49-69.
Jonsen AR. A chronicle of ethicl events: 1940s to
1980s. In: Jonsen AR, editor. A short history of
medical ethics. New York/Oxford: Oxford University Press; 2000. p. 99-114.
Kuhse H, Singer P. What is bioethics? A historical
introduction. In: Kuhse H, Singer P, editors. A
companion to bioethics. Oxford: Blackwell Publishers; 1998. p. 3-11.
Mori M. A biotica: sua natureza e histria. Humanidades 1994; 9:333-41.
Hottois G. Biothique. In: Hottois G, Missa JN,
editor. Nouvelle encyclopdie de biothique. Bruxelas: De Boeck; 2001. p. 124-31.
Ladrire J. Del sentido de la biotica. Acta Bioethica 2000; 6:199-218.
Schramm FR. Biotica para qu? Revista Camiliana da Sade 2002; 1:14-21.
Stone R, Cafferata GL, Sangl J. Caregivers of the
frail elderly: a national profile. Gerontologist
1987; 27:616-26.
Brody EM. Women in the middle and family help
to older people. Gerontologist 1981; 21:471-80.
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 20(4):986-994, jul-ago, 2004
993
994
Floriani CA, Schramm FR
20. Levine C. The loneliness of the long-term care
giver. N Engl J Med 1999; 340:1587-90.
21. Topinkov E. Family caregiving for the elderly: are
there ways to meet the need? In: Callahan D, ter
Meulen RHJ, Tupinkov E, editors. A world growing old: the coming health care challenges. Washington DC: Georgetown University Press; 1995. p.
106-16.
22. George LK, Gwyther LP. Caregiver well-being: a
multidimensional examination of family caregivers of demented adults. Gerontologist 1986;
26:253-9.
23. Brody E. Parent care as a normative family stress.
Gerontologist 1985; 25:19-29.
24. Mendes PMT. Cuidadores: heris annimos do
cotidiano. In: Karsch UM, organizador. Envelhecimento com dependncia: revelando cuidadores. So Paulo: Educ; 1998. p. 171-97.
25. Neri AL. Bem-estar e estresse em familiares que
cuidam de idosos fragilizados e de alta dependncia. In: Neri AL, organizador. Qualidade de vida e idade madura. Campinas: Papirus Editora;
2000. p. 237-85.
26. Ruddick W. Transforming homes and hospitals.
In: Arras J, editor. Bringing the hospital home:
ethical and social implications of high-tech home
care. Baltimore: The Johns Hopkins University
Press; 1995. p. 166-79.
27. Walzer M. Spheres of justice: a defense of pluralism and equality. New York: Basic Books; 1983.
28. Keenan JM, Fanale JE. Home care: past and present, problems and potencial. J Am Geriatr Soc
1989; 37:1076-83.
29. Kemper P. The evaluation of the national long
term care demonstration 10. Overview of the findings. Health Serv Res 1988; 23:161-74.
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 20(4):986-994, jul-ago, 2004
30. Weissert WG. The national channeling demonstration: what we knew, know now and still need
to know. Health Serv Res 1988; 23:175-87.
31. Vernon MJ. Decisions on life-sustaining therapy:
nutrition and fluid. In: Rai GS, editor. Medical
ethics and the elderly: practical guide. Amsterdam: Harwood Academic Publishers; 1999. p. 3953.
32. American Medical Association. Medical futility in
end-of-life care: report of the council on ethical
and judicial affairs. JAMA 1999; 281:937-41.
33. Emanuel EJ, Emanuel LL. The promise of a good
death. Lancet 1998; 351 Suppl 2:21-9.
34. Nascimento JSF. Farmacologia e teraputica na
velhice. In: Freitas EV, Py L, Neri AL, Canado FAX,
Gorzoni ML, Rocha SM, organizadores. Tratado
de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. p. 618-23.
35. Nelson JE. Saving lives and saving deaths. Ann Intern Med 1999; 130:776-7.
36. Pousada L. High-tech home care for elderly persons: what, why and how much? In: Arras J, editor. Bringing the hospital home: ethical and social implications of high-tech home care. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 1995.
p. 107-28.
37. Barusch AS. Programming for family care of elderly dependents: mandates, incentives, and service rationing. Soc Work 1995; 40:315-22.
38. Kanoti GA. Home care: a shifting of ethical responsabilities. Cleve Clin Q 1985; 52:351-4.
Recebido em 30/Jun/2003
Verso final reapresentada em 09/Dez/2003
Aprovado em 08/Mar/2004
Você também pode gostar
- Aula 01 - Ética No Cuidado Domiciliar - Enf. e Assistência DomiciliarDocumento38 páginasAula 01 - Ética No Cuidado Domiciliar - Enf. e Assistência DomiciliarMarcio Soares50% (2)
- Teixeira SM Politica Social Contemporânea - A Familia Como ReferênciaDocumento15 páginasTeixeira SM Politica Social Contemporânea - A Familia Como ReferênciaHelderSouza50% (2)
- Projeto Pesquisa para Mestrado FiocruzDocumento10 páginasProjeto Pesquisa para Mestrado FiocruzCLAUDIA AMORIMAinda não há avaliações
- Mentoria Parental SleepTalkDocumento17 páginasMentoria Parental SleepTalkSergio Sacht100% (1)
- Tenda Espirita MirimeDocumento20 páginasTenda Espirita MirimeWilliam VelascoAinda não há avaliações
- 12 - EjilaxeboráDocumento2 páginas12 - EjilaxeboráRac A Bruxa100% (7)
- Atendimento DomiciliarDocumento16 páginasAtendimento DomiciliarMarcia ImperatoriAinda não há avaliações
- SAVASSI, LCM DIAS, MF. Visita Domiciliar. Grupo de Estudos em Saúde Da Família.Documento4 páginasSAVASSI, LCM DIAS, MF. Visita Domiciliar. Grupo de Estudos em Saúde Da Família.Barbara MarcussoAinda não há avaliações
- Acolhimento e Escuta No Processo de TrabalhoDocumento17 páginasAcolhimento e Escuta No Processo de Trabalhosarah almeidaAinda não há avaliações
- O Que Significa o Termo Home CareDocumento15 páginasO Que Significa o Termo Home CareIsabel Cristina Dos SantosAinda não há avaliações
- Saúde Mental Nos Ciclos Da Vida 3Documento31 páginasSaúde Mental Nos Ciclos Da Vida 3Diogo alvesAinda não há avaliações
- A Influencia Do Modelo Flexineriano Na Consulta de EnfermagemDocumento22 páginasA Influencia Do Modelo Flexineriano Na Consulta de EnfermagemEunice PessanhaAinda não há avaliações
- Processo de Viver Humano 1Documento9 páginasProcesso de Viver Humano 1Maytê MachadoAinda não há avaliações
- Acolhimento Humanizaçao AtendimentoDocumento29 páginasAcolhimento Humanizaçao AtendimentoRenata De PaulaAinda não há avaliações
- Atividade 01-03Documento5 páginasAtividade 01-03nubianeassistentesocialAinda não há avaliações
- Humanização Na Atenção A Saúde Do IdosoDocumento12 páginasHumanização Na Atenção A Saúde Do IdosoAlice CarolineAinda não há avaliações
- Princípios Éticos Como Norteadores No Cuidado DomiciliarDocumento9 páginasPrincípios Éticos Como Norteadores No Cuidado DomiciliarRosatalia AngelAinda não há avaliações
- Apostilas - Agente de Saúde, Agente de Endemias, Enfermagem Básica, Técnicas de Pronto Socorro e Recep. em ClínicasDocumento90 páginasApostilas - Agente de Saúde, Agente de Endemias, Enfermagem Básica, Técnicas de Pronto Socorro e Recep. em ClínicasSheilla CostaAinda não há avaliações
- Unidade 1Documento12 páginasUnidade 1Pedro AtuanAinda não há avaliações
- Artigo - Estratégia de Humanização Na Assistencia para Alcançar Excelência No Ambiente HospitalarDocumento10 páginasArtigo - Estratégia de Humanização Na Assistencia para Alcançar Excelência No Ambiente HospitalarPatricia SilvaAinda não há avaliações
- Pré Projeto Estresse Do Cuidador Familiar FinalDocumento14 páginasPré Projeto Estresse Do Cuidador Familiar FinalpatriciavidalsatoAinda não há avaliações
- SUS 30 Anos.Documento6 páginasSUS 30 Anos.Marcus BorgónAinda não há avaliações
- PROJETO ACOLHIMENTO HUMANIZAção ACOMPANHANTESDocumento9 páginasPROJETO ACOLHIMENTO HUMANIZAção ACOMPANHANTESMilena DantasAinda não há avaliações
- Acolhimento e Desmedicalização SocialDocumento10 páginasAcolhimento e Desmedicalização SocialguiramossensAinda não há avaliações
- Aula 01Documento18 páginasAula 01DSSSouza SouzaAinda não há avaliações
- Cuidados Paliativos - Volume2 PDFDocumento456 páginasCuidados Paliativos - Volume2 PDFAmanda Yuri MizobataAinda não há avaliações
- Demanda Espontânea Experiência Da Equipe GOI Et Al ANODocumento5 páginasDemanda Espontânea Experiência Da Equipe GOI Et Al ANOLuiz Cesar Rodrigues VieiraAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Pacientes OncológicosDocumento16 páginasArtigo Sobre Pacientes OncológicosCristiane EllwangerAinda não há avaliações
- Pre ProjetoDocumento23 páginasPre ProjetoAlexandra VieiraAinda não há avaliações
- A Educação Como Instrumento de Mudança Na Prestação de Cuidados para IdososDocumento14 páginasA Educação Como Instrumento de Mudança Na Prestação de Cuidados para IdososRomulo GemaqueAinda não há avaliações
- Saude Mental - Resumo P1Documento12 páginasSaude Mental - Resumo P1Psicológo Yuri RodriguesAinda não há avaliações
- Etica SaudeDocumento11 páginasEtica Saudehiago vieiraAinda não há avaliações
- Relatório SimpósioDocumento8 páginasRelatório SimpósioJessica MonteiroAinda não há avaliações
- Disciplina Processo de Cuidar em EnfermagemDocumento55 páginasDisciplina Processo de Cuidar em EnfermagemBrenna Fernanda100% (1)
- Paper Unidade GavioesDocumento13 páginasPaper Unidade Gavioesajdigitalmarketing2023Ainda não há avaliações
- A Educação em Saúde Na Prática Do PSFDocumento12 páginasA Educação em Saúde Na Prática Do PSFruantcharleAinda não há avaliações
- Bioetica Unidade IIIDocumento12 páginasBioetica Unidade IIIFranciane Moreira de PaivaAinda não há avaliações
- N2 Intervençoe em Saude - Prof. André Vieira Final 01Documento7 páginasN2 Intervençoe em Saude - Prof. André Vieira Final 01Érica CostaAinda não há avaliações
- Barbosa, 2016Documento8 páginasBarbosa, 2016JUAN FELIPE PATIÑO RIOSAinda não há avaliações
- Cuidados Paliativos Psicologo PDFDocumento12 páginasCuidados Paliativos Psicologo PDFDeraldo Cerqueira CerqueiraAinda não há avaliações
- Aula Território Família ComunidadeDocumento28 páginasAula Território Família ComunidadeKaina Solanda Veras MachadoAinda não há avaliações
- A Visita Domiciliar Como Uma EstratÈgia Da AssistÍncia No DomicÌlioDocumento21 páginasA Visita Domiciliar Como Uma EstratÈgia Da AssistÍncia No DomicÌliojana silvaAinda não há avaliações
- TREINO 12 - Medicina FamiliarDocumento2 páginasTREINO 12 - Medicina FamiliarMaira MacielAinda não há avaliações
- Estrategia Saude Da Familia Reflexao Sobre Algumas de Suas PremissasDocumento10 páginasEstrategia Saude Da Familia Reflexao Sobre Algumas de Suas PremissasTHKLEINAinda não há avaliações
- CONAHP - Resenha 1Documento2 páginasCONAHP - Resenha 1carolkochenAinda não há avaliações
- Importância Da Enfermagem Na Saúde Do Idoso 2.0Documento7 páginasImportância Da Enfermagem Na Saúde Do Idoso 2.0Luana SobralAinda não há avaliações
- Artigo AcolhimentoDocumento10 páginasArtigo AcolhimentoDayana FrancoAinda não há avaliações
- Atenção Domiciliar: Desafios para A Promoção Da Saúde de IdososDocumento6 páginasAtenção Domiciliar: Desafios para A Promoção Da Saúde de Idososdiaspalma.medAinda não há avaliações
- Artigo 57 SerDocumento17 páginasArtigo 57 SerFrancisco RochaAinda não há avaliações
- Visita Domiciliar - Lócus Privilegiado Das Ações de Educação PDFDocumento15 páginasVisita Domiciliar - Lócus Privilegiado Das Ações de Educação PDFEmersonAinda não há avaliações
- Pisam Cap5 Final4Documento23 páginasPisam Cap5 Final4baiabaiaAinda não há avaliações
- A INFLUENCIA DO MODELO FLEXINERIANO NA CONSULTA DE ENFERMAGEM RevisadoDocumento21 páginasA INFLUENCIA DO MODELO FLEXINERIANO NA CONSULTA DE ENFERMAGEM RevisadoEunice PessanhaAinda não há avaliações
- Serviço Social No SAE Crato - Um Ponto de Efetivação de Laços Na Rede de SaúdeDocumento24 páginasServiço Social No SAE Crato - Um Ponto de Efetivação de Laços Na Rede de SaúdeAndrea Maria Façanha VenâncioAinda não há avaliações
- Enfermagem Na Capacitação Do Autocuidado Gestão Dos Regimes TerapêuticosDocumento24 páginasEnfermagem Na Capacitação Do Autocuidado Gestão Dos Regimes TerapêuticosBruno RodriguesAinda não há avaliações
- Politicas de Saude: Relatório Sobre o Trabalho Na Maternidade de São GonçaloDocumento7 páginasPoliticas de Saude: Relatório Sobre o Trabalho Na Maternidade de São GonçaloGabriela AlexandriaAinda não há avaliações
- Gestão em EAPDocumento10 páginasGestão em EAPVictória CasimiroAinda não há avaliações
- Texto Da Unidade 3 - Educação em Saúde - Devemos InsistirDocumento5 páginasTexto Da Unidade 3 - Educação em Saúde - Devemos Insistirpandinha gamerAinda não há avaliações
- Artigo Envelhecimento CaldasDocumento9 páginasArtigo Envelhecimento CaldasDébora SchlotefeldtAinda não há avaliações
- A Saúde Da Família em Situação de Exclusão SocialDocumento7 páginasA Saúde Da Família em Situação de Exclusão SocialruantcharleAinda não há avaliações
- Internação Domiciliar e Internação Hospitalar: Semelhanças e Diferenças No Olhar Do Cuidador FamiliarDocumento9 páginasInternação Domiciliar e Internação Hospitalar: Semelhanças e Diferenças No Olhar Do Cuidador FamiliarJOceline CostaAinda não há avaliações
- Humanização No Atendimento de Uma UbsDocumento25 páginasHumanização No Atendimento de Uma UbsGraciane FariaAinda não há avaliações
- Hospitalidade Humanização e Hotelaria em SaudeDocumento11 páginasHospitalidade Humanização e Hotelaria em SaudePatricia SilvaAinda não há avaliações
- Diversidade Na Aprendizagem de Pessoas Portadoras Com Necessidades EspeciaisDocumento204 páginasDiversidade Na Aprendizagem de Pessoas Portadoras Com Necessidades EspeciaisAna Elisa Pires100% (1)
- ProgramaCurricularLGP Es PDFDocumento87 páginasProgramaCurricularLGP Es PDFsandraexplicaAinda não há avaliações
- Terapia FamiliarDocumento23 páginasTerapia FamiliarWaldenberg Denise Assunção100% (1)
- Christine Feehan - Caminhantes Fantasmas 9 - Ruthless GameDocumento1.281 páginasChristine Feehan - Caminhantes Fantasmas 9 - Ruthless GameJuliana Gregorio100% (1)
- Temáticas Da Poética PessoanaDocumento2 páginasTemáticas Da Poética PessoanaAna Cristina SilvaAinda não há avaliações
- HOW PSYCHOANALYSIS TraduçãoDocumento23 páginasHOW PSYCHOANALYSIS TraduçãoCaroline ProençaAinda não há avaliações
- Fichamento Lucas Schuch Teorias Da Comunicação LUIS MAURO SÁ MARTINODocumento34 páginasFichamento Lucas Schuch Teorias Da Comunicação LUIS MAURO SÁ MARTINOLucas SchuchAinda não há avaliações
- Aplicação Da Versão Brasileira Da Escala de Avaliação Clínica Da Demência (Clinical Dementia Rating-CDR) em Amostras de Pacientes Com Demência PDFDocumento5 páginasAplicação Da Versão Brasileira Da Escala de Avaliação Clínica Da Demência (Clinical Dementia Rating-CDR) em Amostras de Pacientes Com Demência PDFAnne MoraisAinda não há avaliações
- Masculinidade Na História - Uma Construção Cultural Da Diferença Entre Os Sexos - SILVA, Sérgio GomesDocumento6 páginasMasculinidade Na História - Uma Construção Cultural Da Diferença Entre Os Sexos - SILVA, Sérgio GomesGilmar Camargo100% (1)
- Chomsky e o InatismoDocumento19 páginasChomsky e o InatismoJose VitorAinda não há avaliações
- 1069 Borgescfm PDFDocumento264 páginas1069 Borgescfm PDFLrbAeiAinda não há avaliações
- TILD DomingasDocumento22 páginasTILD Domingascordoba030582Ainda não há avaliações
- FALAS SISTÊMICAS - Frases de Cura - SANDRA SANTOSDocumento10 páginasFALAS SISTÊMICAS - Frases de Cura - SANDRA SANTOSAdriana Menezes Fernandez100% (2)
- Coaching de CarreiraDocumento14 páginasCoaching de CarreiraKatia VegaAinda não há avaliações
- 121 Natal de Sabina - Francisca Clotilde - Chico Xavier - Ano 1972 PDFDocumento7 páginas121 Natal de Sabina - Francisca Clotilde - Chico Xavier - Ano 1972 PDFMarjorie PfandeyAinda não há avaliações
- As 7 Leis Da FelicidadeDocumento57 páginasAs 7 Leis Da FelicidadeSilvio Di AntônioAinda não há avaliações
- Cap 2 PsicopedagogiaDocumento24 páginasCap 2 PsicopedagogiasumarsellmerAinda não há avaliações
- A Transicao Dimensional Do Planeta Terra Leandro PiresDocumento21 páginasA Transicao Dimensional Do Planeta Terra Leandro PiresAna FernandesAinda não há avaliações
- Crono Canto CoralDocumento2 páginasCrono Canto Coralcesar_brunoAinda não há avaliações
- Planejamento LuDocumento12 páginasPlanejamento LuLuciana BiegasAinda não há avaliações
- LEITURA CIENTÍFICA - Ficha de LeituraDocumento14 páginasLEITURA CIENTÍFICA - Ficha de LeituraBruno StorckmannAinda não há avaliações
- Cifra Vida ReluzDocumento67 páginasCifra Vida ReluzNatália AraújoAinda não há avaliações
- Sistema LímbicoDocumento19 páginasSistema LímbicoLeni Barros100% (1)
- História Da Psicologia OrganizacionalDocumento25 páginasHistória Da Psicologia OrganizacionalFelipe PinhoAinda não há avaliações
- A Utilizacao de Jogos No Processo Ensino Aprendizagem de MatematicaDocumento331 páginasA Utilizacao de Jogos No Processo Ensino Aprendizagem de MatematicaRosana MendesAinda não há avaliações
- Destaques Pedras - 01Documento13 páginasDestaques Pedras - 01Ricardo SoaresAinda não há avaliações
- A Beira Da BrechaDocumento49 páginasA Beira Da BrechaMelissa JaegerAinda não há avaliações