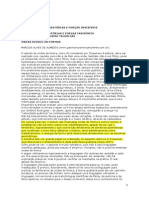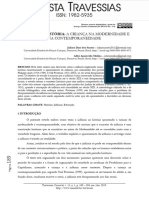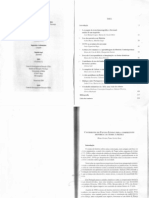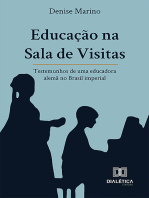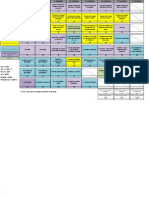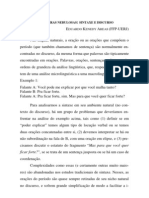Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Infância Na Idade Média
A Infância Na Idade Média
Enviado por
Tatiana Vieira de LimaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Infância Na Idade Média
A Infância Na Idade Média
Enviado por
Tatiana Vieira de LimaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.
com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
A INFNCIA NA IDADE MDIA (SC. XIV AO XVI)1: DISCUSSES
PERTINENTES2
THE CHILDHOOD IN THE MIDDLE AGE ( XIV XVI ) CONCERNING
ISSUES
Carlos Eduardo Strher3
Cssia Simone Kremer4
RESUMO: O enfoque dessa anlise est concentrado em alguns aspectos relacionados
forma como a infncia medieval apresentada na historiografia atual e a representao de
crianas em algumas obras do pintor flamengo Pieter Bruegel, o Velho. O estudo da
Histria da infncia, apesar de recente, envolve discursos de muitas reas de conhecimento
e discusses acirradas. O processo histrico que envolve este conceito inclui questes que
vo alm dos fatores biolgicos, dependendo do contexto e das condies scio-culturais, e
considerando a produo discursiva e os lugares sociais atribudos infncia em diferentes
pocas. Utilizou-se por metodologia a pesquisa bibliogrfica visando o debate
historiogrfico e a anlise de imagem. Busca-se apontar diferentes anlises sobre as
concepes da presena ou ausncia do sentimento de infncia na Idade Mdia. A
importncia da discusso a respeito da infncia medieval no est localizada na busca de
veracidade em cada argumentao, mas na polifonia discursiva que atravessa, diferindo nas
concepes de infncia, ou seja, a forma como as crianas so percebidas e inseridas nas
sociedades.
PALAVRAS-CHAVE: infncia. Histria. Historiografia. Arte
ABSTRACT: The focus of this analysis is concentrated in some aspects related to the way
the medieval childhood appears on the current historiography and the representation of
children in some works of the Flemish painter Pieter Bruegel, the Elder. The study of
Childhood History, in spite of recent, mixes speeches from many knowledge areas and
tense argues. The History process witch involves this concept includes issues that go
beyond the biological factors depending on the context and conditions of the sociocultural, considering the productions discourse and the social place gave to childhood in
different eras. The bibliographic research has been used as methodology, aimed with the
historiographical debate and the analysis of image. The objective is pointing different
1
A delimitao temporal baseada na classificao de Hilrio Franco Jnior, que, em sua obra
Idade Mdia: Nascimento do Ocidente (So Paulo, SP: Brasiliense, 2001), nomeia os sculos XIV a
XVI de Baixa Idade Mdia.
2
Estudo orientado pela Prof Dr Cristina Ennes da Silva, docente e pesquisadora do Centro
Universitrio Feevale (Novo Hamburgo-RS).
3
Acadmico do 6 semestre de Histria do Centro Universitrio Feevale (Novo Hamburgo-RS) e
Bolsista de Iniciao Cientfica da instituio, vinculado ao Grupo de Pesquisa Cultura e Memria da
Comunidade. E-mail: carloseduardo@feevale.br.
4
Acadmica do 5 semestre de Histria do Centro Universitrio Feevale. E-mail:
cassiaskremer@yahoo.com.br.
1
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
analyses about the conceptions of the presence or absence of the sense of childhood in
the Middle Age. The importance of the discussion about the Medieval Childhood is not
placed on search the truth in each argument but in polyphonic discourse, which crosses, in
differing conceptions of childhood, or the way children are perceived and placed on
societies.
KEY WORDS: Childhood. History. Historiography. Art
Esse estudo prope-se a analisar alguns aspectos relacionados forma como a
infncia medieval apresentada na historiografia atual e a representao de crianas em
algumas obras do pintor flamengo Pieter Bruegel, o Velho. Interessa-nos enfocar as
concepes de diferentes historiadores para o termo infncia no perodo medieval, bem
como o papel que as crianas desempenhavam nessa sociedade, a partir da viso dos
adultos, pois, para Tucker5 (1995), a infncia , pois, em grande medida, resultado das
expectativas dos adultos. (p. 21).
Para o desenvolvimento dessa investigao, utilizamos a pesquisa bibliogrfica,
seguindo as etapas definidas por Medeiros6 (2000): escolha do assunto, elaborao do plano
de trabalho, identificao, localizao, compilao, fichamento, anlise e interpretao e
redao. Buscou-se analisar diferentes abordagens de autores atuais sobre a infncia, tendo
em vista que as fontes relacionadas ao assunto so restritas.
Alm disso, no tocante a imagens, fundamentamos nossa anlise na teorizao de
Paiva7 (2002), que afirma as leituras das imagens so sempre realizadas no presente, em
direo ao passado. Isto , ler uma imagem sempre pressupe partir de valores,
problemas, inquietaes e padres do presente, que, muitas vezes, no existiram ou eram
muito diferentes no tempo da produo do objeto, e entre seu ou seus produtores. (p. 31).
Para esse estudo utilizamos alguns quadros do pintor flamengo Pieter Bruegel, o Velho, que
constituem uma das poucas representaes iconogrficas que remetem ao perodo, pois,
mesmo pintados no sculo XVI, mantm resqucios da cultura e da mentalidade medieval.
Um problema enfrentado por historiadores que abordam a temtica proposta a
escassez de fontes sobre a infncia em diferentes momentos do passado histrico. O
5
TUCKER, M.J. (1995). El nio como principio e fin. La infancia em la Inglaterra de los
siglos XV e XVI. In. De Mause, L. Historia de la infancia (p. 255-85). Madrid, Alianza. In: HEYWOOD,
Colin. Uma Histria da Infncia. Porto Alegre: Artmed, 2004.
6
MEDEIROS, Joo Bosco. Redao Cientfica. 4 ed. So Paulo: Atlas, 2000.
7
PAIVA, Eduardo Frana. Histria & Imagens. Belo Horizonte: Autntica, 2002.
2
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
perodo medieval apresenta obstculos ainda maiores nesse aspecto, considerando que
grande parte das fontes origina-se de um grupo minoritrio da sociedade medieval,
sobretudo homens, do clero e da aristocracia, que pouco participavam da vida domstica e
da educao das crianas.
A maior parte do debate historiogrfico da atualidade em torno da histria da
infncia tem sua gnese no estudo clssico de Aris (1981), Lenfant et la vie familiale sous
lAncien Rgime (1960)8. O autor afirma que a sociedade medieval ignorava a infncia, ou
seja, faltava um sentiment de lenfance, a conscincia da particularidade infantil. Esse descaso
seria explicado pela alta taxa de mortalidade, que dificultava a formao de vnculos
afetivos entre pais e filhos. Isso porque
a passagem da criana pela famlia e pela sociedade era muito breve e
muito insignificante para que tivesse tempo ou razo de forar a
memria e tocar a sensibilidade. (...) Se ela morresse ento, como muitas
vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era
no fazer muito caso, pois uma outra criana logo a substituiria. A
criana no chegava a sair de uma espcie de anonimato. (ARIS: 1981,
p. 10).
Contudo, Aris9 (1981) aponta um sentimento superficial pela criana, chamado
paparicao, que era reservado a ela em seus primeiros anos de vida, enquanto ela ainda
era uma coisinha engraadinha. As pessoas se divertiam com a criana pequena como com
um animalzinho, um macaquinho impudico. (ARIS: 1981, p. 10).
A descoberta da infncia, segundo o autor, se daria somente no perodo
moderno, atravs da famlia burguesa e da instituio escolar.
Isso quer dizer que a criana deixou de ser misturada aos adultos e de
aprender a vida diretamente, atravs do contato com eles. A despeito
das muitas reticncias e retardamentos, a criana foi separada dos
adultos e mantida distncia numa espcie de quarentena, antes de ser
solta no mundo. (...) A famlia tornou-se o lugar de uma afeio
necessria entre os cnjuges. (ARIS: 1981, p. 11-12).
Para Aris (1981) e Heywood10 (2004), a idia de infncia estava ligada idia de
dependncia. Os termos relacionados infncia (pueri, adolescens, efebo, kneht, enfant, poupart,
bambini, valet, boy) no eram originados de fatores biolgicos. Aris (1981) afirma que
8
O estudo original de Philippe Aris foi publicado no Brasil com o ttulo Histria Social da
Criana e da Famlia (Rio de Janeiro: TLC, 1981).
9
ARIS, Philippe. Histria Social da Criana e da Famlia. Rio de Janeiro: LTC, 1981.
10
HEYWOOD, Colin. Uma Histria da Infncia. Porto Alegre: Artmed, 2004.
3
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
s se saia da infncia ao se sair da dependncia, ou, ao menos, dos graus
mais baixos da dependncia. Essa a razo pela qual as palavras ligadas
infncia iriam subsistir para designar familiarmente, na lngua falada,
os homens de baixa condio, cuja submisso aos outros continuava a
ser total: por exemplo, os lacaios, os auxiliares e os soldados. (p. 42).
Segundo Orme11 (2003), havia divergncias entre os tericos medievais quanto ao
significado da infncia de acordo com o sexo, o status social e outros aspectos. Snell12
(2007) salienta que a falta de um termo especfico para designar esse perodo da vida no
pode ser interpretada como uma prova de que no havia essa distino entre adultos e
crianas, pois outros termos, como feudalismo, tambm no eram empregados. Observase, portanto, que, ao invs de esquecida ou ignorada, a infncia na Idade Mdia foi antes
definida de forma imprecisa, j que a prpria noo de tempo, para os medievais, no era
relevante.
Aris (1981) analisou a arte medieval e, quase no encontrando a presena da
criana, concluiu que no havia lugar para ela nesta sociedade. difcil crer que essa
ausncia se devesse incompetncia ou falta de habilidade. mais provvel que no
houvesse lugar para a infncia nesse mundo. (p. 50). Nos poucos casos em que a criana
aparecia, era retratada como um adulto em miniatura. O fato dos trajes infantis serem
iguais aos dos adultos reforaria esta hiptese. Este enfoque alcanou grande aceitao
entre psiclogos, socilogos e filsofos, alm de medievalistas renomados, como Le Goff13
(1995), que chegou inclusive a perguntar: Teria havido crianas no Ocidente medieval?
(p. 44).
Heywood (2004) aborda a problemtica sob outro prisma, ao dizer que, por estar
focada em temas religiosos, a arte medieval excluiu no s a infncia, mas uma grande
variedade de temas:
os artistas estavam mais preocupados em transmitir o status e a posio
de seus retratados do que com a aparncia individual. Ademais, nem
todos aceitam a idia de que a transio para representaes mais
realistas de crianas na pintura e na escultura, a partir do sculo XII,
revela uma descoberta da infncia do ponto de vista artstico. Alguns
historiadores afirmam, de forma contundente, que isso representou
mais uma redescoberta e imitao dos modelos gregos e romanos por
parte dos artistas do Renascimento do que um novo interesse nas
11
ORME, Nicholas. Medieval Children. Yale University Press, EUA, 2003.
SNELL, Melissa. The Medieval Child. Acesso em 23/10/2007.Disponvel em:
http://historymedren.about.com/od/medievalchildren/Medieval_Children.htm. Acesso em 23/10/2007.
13
LE GOFF, Jacques. A Civilizao do Ocidente Medieval. 2 ed. Lisboa: Estampa, 1995.
12
4
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
crianas a seu redor. Em suma, Aris parece pensar que o artista pinta
aquilo que todos vem, ignorando todas as questes complexas
relacionadas forma como a realidade mediada na arte. (p. 25).
Outro aspecto abordado por Aris (1981), e reafirmado por Badinter14 (1985),
buscando exemplificar o que consideram a negligncia em relao infncia, o hbito das
mes entregarem as crianas s amas-de-leite, alm de mandarem-nas, desde cedo (em
torno dos 7 anos), para trabalhar no servio domstico em casas burguesas ou junto de
mestres nas oficinas. O servio domstico se confundia com a aprendizagem, como uma
forma muito comum de educao. Segundo Aris (1981), era atravs do servio domstico
que o mestre transmitia a uma criana, no ao seu filho, mas ao filho de outro homem, a
bagagem de conhecimentos, a experincia prtica e o valor humano que pudesse possuir.
(p. 228).
Heywood (2004), entretanto, afirma que o envio de crianas s amas-de-leite,
muitas vezes, consistia na nica opo diante de uma situao familiar precria. Da mesma
forma, o trabalho, como necessidade de sobrevivncia, no era desvalorizado e a educao
dava-se, principalmente, pelo aprendizado prtico. Para Snell (2007), em uma sociedade
predominantemente agrria, a unidade familiar era a base da economia. Nada era mais
vlido do que filhos para ajudar na lavoura e filhas para os trabalhos domsticos.
importante salientar que os filhos eram a razo para o casamento. Nas pequenas e grandes
cidades, as crianas eram os trabalhadores e aprendizes que fariam o negcio crescer. Entre
a nobreza, seriam as responsveis pela perpetuao do nome da famlia e por incrementar
seus laos familiares atravs de casamentos arranjados ainda no bero. Orme (2003) e
MacLehose15 (1999) destacam a criana como um ser ativo na sociedade, j que era regida
por uma legislao prpria, era retratada na literatura e na msica e constitua uma
preocupao da Igreja, que considerava necessrio batiz-la.
Postman16 (1999), falando da inveno e do desaparecimento da infncia, destaca o
importante papel que a leitura teve nesse processo de separao da idade infantil da idade
14
BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado. O Mito do Amor Materno. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1985.
15
MacLEHOSE, William. 'A Tender Age': Cultural Anxieties over the Child in the Twelfth
ans Thirteenth Centuries. Johns Hopkins University, EUA, 1999.
16
POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infncia. Rio de Janeiro: Graphia, 1999.
5
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
adulta. Para ele, este rompimento foi causado pelo controle das informaes e do acesso
aos saberes por parte das crianas. Na Idade Mdia, no havia informao exclusiva aos
adultos, de modo que todos poderiam ter acesso a tudo que constitua a convivncia
cotidiana, baseada na comunicao oral:
num mundo oral no h um conceito muito preciso de adulto e,
portanto, menos ainda de criana. Esta a razo pela qual, em todas as
fontes, descobre-se que na Idade Mdia a infncia terminava aos sete
anos. Por que aos sete? Porque nessa idade que as crianas dominam a
palavra. [...] Num mundo letrado, as crianas precisam transformar-se em
adultos. (POSTMAN: 1999, p. 28).
Outro ponto enfocado por Postman (1999) referente ausncia do sentimento de
vergonha na poca medieval.
A idia de esconder os impulsos sexuais era estranha aos adultos, e a
idia de proteger as crianas dos segredos sexuais desconhecida. (...)
Realmente, na Idade Mdia era bastante comum os adultos tomarem
liberdades com os rgos sexuais das crianas. Para a mentalidade
medieval tais prticas eram apenas brincadeiras maliciosas. (p. 31).
Para Heywood (2004), Aris (1981) faz uma anlise da infncia centrada no
presente. Isso quer dizer que ele buscou evidncias da concepo de infncia do sculo
XII na Europa medieval. Como no encontrou esses indcios, passou diretamente
concluso de que o perodo no tinha qualquer conscincia dessa etapa da vida. (p. 26).
Alm disso, o autor destaca que tais fontes so reveladoras apenas das camadas sociais que
tinham o privilgio de ter acesso ao uso das mesmas, o que deixa de fora todo um
segmento das classes em desvantagem. Contudo, a maior contribuio de Aris est em
inaugurar um novo caminho de pesquisas e indagaes histricas sobre a infncia, da qual
todos os estudos posteriores partiram.
Pieter Bruegel17, o Velho, um dos poucos entre os pintores medievais e os
renascentistas que dedicou algum espao para a infncia em suas obras. Tendo vivido
17
Pintor nascido por volta de 1525 em Breda, no Brabante (hoje Holanda). H poucos relatos
sobre os detalhes de sua vida. Sabe-se que comeou a estudar com Pieter Coecke, pintor e desenhista de
tapearias, de quem posteriormente tornou-se genro. Em 1551, inscreve-se na Guilda de So Lucas e
trabalha em um ambiente de constantes trocas culturais. No ano seguinte, viaja pela Frana e Itlia,
pintando extraordinrios desenhos das paisagens dos Alpes. Influenciou-se da obra de Hieronymus
Bosch, marcando algumas caractersticas de sua arte. Seus filhos, Pieter (o Jovem) e Jan, seguem o
exemplo do pai e tornam-se, porm ficando distantes de seu talento. Os historiadores da arte o chamaram
de Velho, para diferenci-lo de seus descendentes. Seus contemporneos, que riam de suas brincadeiras
e achavam cmicos os seus quadros, o cognominaram o Engraado. Em nossos dias, finalmente, ele
6
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
durante o pleno florescimento renascentista das cidades flamengas, o universo que
elegeu para seus quadros foi o das pequenas aldeias rurais e o cotidiano dos
camponeses. Essas imagens, mesmo pintadas no sculo XVI, mantm resqucios da
cultura e da mentalidade medieval.
Hauser18 (2000) afirma que os artistas renascentistas no apresentavam uma descrio
da realidade em geral, mas, consciente e intencionalmente, sua verso, sua interpretao
de realidade. (p. 412). Pelas caractersticas de sua obra, Bruegel foi chamado de
Campons, e, segundo esse autor,
as pessoas caram no erro de imaginar que uma arte que retrata a vida de
gente simples destina-se tambm a pessoas simples, quando, na
realidade, ocorre o oposto. Usualmente, s as camadas da sociedade que
pensam e sentem de modo conservador buscam na arte uma imagem de
seu prprio modo de vida, o retrato de seu prprio ambiente social. As
classes oprimidas que lutam por ascender desejam ver a representao
de condies de vida que elas prprias consideram um ideal a atingir,
mas no o gnero de condies que esto tentando liberta-ser. Somente
as pessoas que lhes so superiores vem com sentimentalismo as
condies de vida simples. (HAUSER: 2000, p. 412).
Para Beckett19 (2006), a alcunha campons [a Bruegel]20 especialmente
imprpria, pois tratava-se de um homem viajado e muitssimo culto (p. 167). A nica
justificativa cabvel para tal adjetivao, segundo o autor, est no fato de que,
freqentemente, ele pintou camponeses, em obras que alguns consideram satricas, mas
outros julgam conter elevada carga de piedade e terna preocupao. (p. 168). Para
Burke21 (2004), o estudo das imagens de Bruegel permite analisar as representaes
urbanas dos habitantes do campo, afirmando que alguns pequenos detalhes sugerem
uma inteno cmica ou satrica. (p. 172).
chamado de Bruegel dos camponeses, devido sua predileo por pintar a vida no campo. Pieter
Bruegel deixou de usar h no sobrenome (Brueghel) em 1559.
18
HAUSER, Arnold. Histria Social da Arte e da Literatura. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
19
BECKETT, Wendy. Histria da Pintura. So Paulo: Editora tica, 2006.
20
Grifo nosso.
21
BURKE, Peter. Testemunha ocular. Histria e imagem. Bauru, SP: EDUSC, 2004.
7
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
Bruegel dedicou um quadro especificamente temtica da infncia, chamado Jogos
Infantis22 (1560). Para Hagen23 (1995), os trajes das crianas so indcio de que elas eram
tratadas como adultos pequenos nos quadros de Bruegel:
os vestidos, os aventais e tocados das meninas eram parecidos com os
das mes e os cales, os gibes e as cotas dos rapazinhos eram
idnticos aos pais. Existiam poucos brinquedos na poca: pies, cavalos
de madeira, bonecas e molinetes montados em grandes hastes. A maior
parte das crianas de Bruegel passava bem sem eles ou utilizava bexigas
de porco, ossinhos, tonis, aros de tonis, ou seja, objetos que tinham a
mo. (p. 31)
Figura 1: Jogos Infantis
A pintura retrata mais de duzentas e cinqenta crianas, no existindo na histria da
arte exemplo de maior catlogo de brincadeiras ou de mtodos infantis para exercitar o
corpo. Hagen (1995) tambm sugere outra interpretao obra: No como a
descoberta das realidades da vida, no como um inventrio folclrico, mas como um
22
Figura 1.
HAGEN, Rainer; HAGEN, Rose-Marie. Pieter Bruegel, o Velho. Cerca de 1525-1569
Camponeses, loucos e demnios. Benedikt Taschen, 1995.
23
8
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
aviso lanado aos adultos para que no desperdicem a vida, como se fosse uma
brincadeira de crianas. (p. 33).
A obra fascina e desconcerta, pois no prope uma perspectiva esttica fixa ao
olh-la. No existe, pois, um lugar, ideal para o espectador. Deve aproximar-se, mas ao
mesmo tempo manter uma certa distncia. S ao afastar-se ter uma viso do conjunto,
s aproximando-se ver as pequenas ocupaes, esses personagens e esses rostos
animarem-se, de fato. (HAGEN: 1995, p. 33). Essas interpretaes aproximam-se do
que Manguel24 chama de imagem como enigma, em que todos os elementos funcionam
como uma palavra secreta que o espectador instigado a decifrar, como se deslindasse
uma charada. (2003: p.61)
Um olhar atento permite perceber que a obra mostra crianas sem expresso facial,
trajadas como adultos, que deixam muito cedo as brincadeiras para ingressar em um
mundo de trabalho e responsabilidade. Contudo, elas esto dedicando-se a jogos e
brincadeiras, numa postura que, aparentemente, contradiz a sisudez dos rostos e
vestimentas. E pode indicar, numa primeira anlise, o limite estreito entre ser criana e
deixar de s-lo. Mais de 80 jogos so identificados neste quadro renascentista, que
aparece, inclusive, como capa de livros sobre a infncia.
Outro quadro do pintor, O Burro na Escola25 (1556), apresenta dezenas de crianas
sentadas com livrinhos na mo e um burro desempenhando o papel de professor.
Segundo Hagen (1995),
a populao das provncias flamengas desfrutava de um elevado nvel de
instruo. Um viajante italiano afirmaria mesmo que todos sabiam ler e
escrever. Bruegel troa do ardor no estudo dos seus contemporneos. A
legenda diz: Mesmo que um asno v escola no passa a ser cavalo. (p.
33).
24
MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: Uma histria de amor e dio. So Paulo: Companhia
das Letras, 2003.
25
Figura 2.
9
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
Figura 2: O Burro na Escola
No irnico quadro O Combate do Carnaval e da Quaresma26 (1559), em meio s stiras de
catlicos e protestantes, Bruegel pinta crianas brincando com pies, sem chamar
ateno em meio a adultos ocupados nas mais variadas tarefas.
Figura 3: O Combate do Carnaval e da Quaresma (detalhe)
26
Figura 3.
1
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
Na ilustrao O Arraial de Hoboken27 (1559), enquanto a maioria dos personagens se
diverte, bebe, gira numa ciranda ou atira com arco, um homem vestido de bobo arrasta
duas crianas pela mo. Hagen (1995) afirma: Com esta figura o pintor recorda que no
quer apenas distrair o espectador com os divertimentos festivos. A sua mensagem : a
loucura e o descuido desviam do bom caminho. (p. 50).
Figura 4: O Arraial de Hoboken
Em O Recenseamento de Belm28, Bruegel transfere o episdio bblico para uma fria
paisagem do inverno dos Pases Baixos, mostrando um aglomerado de pessoas se
dirigindo a uma hospedaria. Enquanto isso, sem que ningum preste ateno, as
crianas divertem-se no gelo com os seus patins, os seus pies e um tamborete
transformado em tren. (HAGEN: 1995, p. 49).
27
28
Figura 4.
Figura 5.
1
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
Figura 5: O Recenseamento de Belm (detalhe)
No Banquete de casamento campons29, Bruegel mostra, em primeiro plano, uma criana que
lambe uma tigela vazia, usando um chapu muito grande para ela, enquanto os adultos
se divertem e se fartam em um banquete campons. A criana passa despercebida aos
olhos alheios, que se preocupam unicamente com a comida. Vivendo num mudo em
que a fome era eminente, os desejos alimentares eram habituais.
Figura 6: Banquete de casamento campons
Percebe-se, nos quadros de Bruegel, que as crianas compartilhavam com os
adultos os jogos, as vestimentas, os brinquedos, os contos de fadas. A vida nas aldeias
29
Figura 6.
1
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
era externa, mesmo no inverno, e as crianas esto presentes nos mesmos ambientes
que os adultos. No esto, exceto em Jogos Infantis, ocupando a posio de destaque,
porm, parecem, em meio a um mundo em parte comum, viver num espao isolado,
prprio para si ou apenas ignoradas pelos adultos pela trivialidade de sua presena.
Conforme Paiva (2002), os contextos diferenciados do [...] significados e juzos
diversos s imagens. O distanciamento no tempo entre o observador, o objeto de
observao e o autor do objeto tambm imprime diferentes entendimentos. (p. 31).
Dessa forma, no possvel buscar na arte de Bruegel respostas para indagaes
contemporneas sobre a infncia, mas tentar compreender, no contexto em que ele
viveu, os elementos que influenciaram suas representaes.
De uma forma geral, muitos aspectos convergem nos estudos sobre a infncia, apesar de
no existirem consensos absolutos. Neste sentido, concordamos com a anlise de Aris
de que um maior protagonismo infncia surge somente no perodo moderno,
juntamente com a construo da idia de indivduo e todas as transformaes sociais
desencadeadas pelo desenvolvimento do capitalismo. Os autores posteriores buscaram
relativizar suas idias, adicionando novos elementos conforme as dimenses de espao e
tempo, porm reconhecendo o mrito de seu trabalho.
Para Aris (1981), no advento do perodo moderno, a famlia e a escola retiraram
juntas a criana da sociedade dos adultos:
A escola confiscou uma infncia outrora livre num regime disciplinar
cada vez mais rigoroso, que nos sculos XVIII e XIX resultou no
enclausuramento total do internato. A solicitude da famlia, da Igreja,
dos moralistas e dos administradores privou a criana da liberdade que
ela gozava entre os adultos. Infligiu-lhe o chicote, a priso, em suma, as
correes reservadas aos condenados das condies mais baixas. Mas
esse rigor traduzia um sentimento muito diferente da antiga indiferena:
um amor obsessivo que deveria dominar a sociedade a partir do sculo
XVIII. (ARIS: 1981, p. 278).
Na atualidade, proliferam-se os estudos sobre as questes que envolvem a criana e
a infncia, no havendo consenso entre os pesquisadores acerca de uma definio precisa
ou mesmo de um conceito nico. Como sugere Archard30 (1993), todas as sociedades, em
30
ARCHARD, David. Chidren: rights and chilhood. London: Routledge, 1993. In:
HEYWOOD, Colin. Uma Histria da Infncia. Porto Alegre: Artmed, 2004.
1
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
todas as pocas, tiveram um conceito de infncia, a noo de que as crianas so
diferenciadas dos adultos. O que difere, porm, so as concepes de infncia, ou seja, a
forma como as crianas so percebidas e inseridas nas sociedades. A sociedade
contempornea, ao dedicar enorme ateno aos primeiros anos de vida, busca organizar a
vivncia infantil em etapas, conforme o desenvolvimento fsico e mental. A sociedade
medieval, ao no conferir um tratamento diferenciado infncia, concedeu-lhe uma
importncia nica, pois fazia de sua vivncia cotidiana um conjunto de experincias que era
compartilhado por todos, adultos e crianas.
Referncias
Bibliogrficas:
ARCHARD, David. Chidren: rights and chilhood. London: Routledge, 1993. In:
HEYWOOD, Colin. Uma Histria da Infncia. Porto Alegre: Artmed, 2004;
ARIS, Philippe. Histria Social da Criana e da Famlia. Rio de Janeiro: LTC, 1981;
BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado. O Mito do Amor Materno. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1985;
BECKETT, Wendy. Histria da Pintura. So Paulo: tica, 2006;
BRUEGEL. Gnios da pintura. So Paulo: Abril Cultural, 1967;
BURKE, Peter. Testemunha ocular. Histria e imagem. Bauru, SP: EDUSC, 2004;
FRANCO JNIOR, Hilrio. A Idade Mdia: Nascimento do Ocidente. So Paulo, SP:
Brasiliense, 2001;
HAGEN, Rainer; HAGEN, Rose-Marie. Pieter Bruegel, o Velho. Cerca de 1525-1569
Camponeses, loucos e demnios.Benedikt. Taschen, 1995;
HAUSER, Arnold. Histria Social da Arte e da Literatura. So Paulo: Martins Fontes,
2000;
HEYWOOD, Colin. Uma Histria da Infncia. Porto Alegre: Artmed, 2004;
LE GOFF, Jacques. A Civilizao do Ocidente Medieval. 2 ed. Lisboa: Estampa, 1995;
MacLEHOSE; 'A Tender Age': Cultural Anxieties over the Child in the Twelfth ans
Thirteenth Centuries. EUA: Johns Hopkins University, 1999;
1
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: Uma histria de amor e dio. So Paulo:
Companhia das Letras, 2003;
MEDEIROS, Joo Bosco. Redao Cientfica. 4 ed. So Paulo: Atlas, 2000;
ORME, Nicholas; Medieval Children. Yale University Press, EUA, 2003;
PAIVA, Eduardo Frana. Histria & Imagens. Belo Horizonte: Autntica, 2002;
POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infncia. Rio de Janeiro: Graphia, 1999;
TUCKER, M.J. (1995). El nio como principio e fin. La infancia em la Inglaterra de
los siglos XV e XVI. In. De Mause, L. Historia de la infancia (p. 255-85). Madrid, Alianza.
In: HEYWOOD, Colin. Uma Histria da Infncia. Porto Alegre: Artmed, 2004.
Documentais:
BRUEGEL, Pieter, o Velho. Jogos Infantis. 1560. leo sobre madeira. 118 x 161 cm.
Kunsthistorisches Museum, Viena;
___________. O Arraial de Hoboken. (pormenor). 1559. Gravura contempornea,
segundo um desenho de Pieter Bruegel, o Velho;
___________. O Banquete de casamento campons. 1568. leo sobre madeira. 114 x
164 cm. Kunsthistorisches Museum, Viena;
__________. O Burro na Escola. Pena e tinta-da-china. 23,2 x 30,2 cm. Berlin, Staatliche
Museen zu Berlin Preusischer Kulturbesitz, Kupfersitchkabinett;
___________. O Combate do Carnaval e da Quaresma. 1559. leo sobre madeira, 118
x 164,5 cm. Viena, Kunsthistoriches Museum Wien;
________. O Recenseamento de Belm. 1566. Painel de madeira, 115,5 x 164,5 cm.
Bruxelas, Muses Royaux das Beaux-Arts de Belgique.
Virtuais:
SNELL, Melissa. The Medieval Child. Acesso em 23/10/2007.Disponvel em:
http://historymedren.about.com/od/medievalchildren/Medieval_Children.htm
1
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Travessias nmero 01 revistatravessias@gmail.com
Pesquisas em educao, cultura, linguagem e arte.
1
Carlos Eduardo Strher, Cssia Simone Kremer www.unioeste.br/travessias
Você também pode gostar
- APOSTILA Produçao Audiovisual PDFDocumento80 páginasAPOSTILA Produçao Audiovisual PDFTeddy Fontes de Almeda100% (3)
- Atividade Transitividade VerbalDocumento3 páginasAtividade Transitividade VerbalMARILENE LANCI BORGES100% (2)
- Fatores de Dialetação Do Latim Vulgar - Substrato-Superestrato-AdstratoDocumento22 páginasFatores de Dialetação Do Latim Vulgar - Substrato-Superestrato-AdstratoFelipe Ferreira Dos SantosAinda não há avaliações
- Ondas Microvibratórias e Forças InvisíveisDocumento4 páginasOndas Microvibratórias e Forças InvisíveisHenrique Manuel Beleza Vaz100% (1)
- A Infância e sua educação: Materiais, práticas e representaçõesNo EverandA Infância e sua educação: Materiais, práticas e representaçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Infância e Seus Lugares: Um Olhar MultidisciplinarNo EverandInfância e Seus Lugares: Um Olhar MultidisciplinarAinda não há avaliações
- O Grande Livro de Feitiços Práticos Magia Diária Que Funciona - Judika IllesDocumento320 páginasO Grande Livro de Feitiços Práticos Magia Diária Que Funciona - Judika IllesCamus TrindadeAinda não há avaliações
- Historia Da CriançaDocumento4 páginasHistoria Da CriançaAdriana Caversan100% (1)
- O Conceito de Infância No Decorrer Da HistóriaDocumento4 páginasO Conceito de Infância No Decorrer Da HistóriaShirley ChrisostomoAinda não há avaliações
- Se Você Disser Que Eu DesafinoDocumento171 páginasSe Você Disser Que Eu DesafinoAmanda MotaAinda não há avaliações
- Psicologia Da Infância e AdolescênciaDocumento70 páginasPsicologia Da Infância e AdolescênciaoribierAinda não há avaliações
- Infância e Literatura - Patrícia CorsinoDocumento16 páginasInfância e Literatura - Patrícia CorsinoLidiane Araújo100% (1)
- A Construção Social Do Conceito de InfânciaDocumento15 páginasA Construção Social Do Conceito de InfânciaVanderlei LimaAinda não há avaliações
- Literatura Infantil - Origens - Visões Da Infância - Traços Populares - AZEVEDO PDFDocumento10 páginasLiteratura Infantil - Origens - Visões Da Infância - Traços Populares - AZEVEDO PDFMariaLuiza23100% (1)
- Conceito de InfanciaDocumento17 páginasConceito de InfanciaSelena Almeida JonesAinda não há avaliações
- Breve Histórico Da Criança No BrasilDocumento6 páginasBreve Histórico Da Criança No BrasilnicolyAinda não há avaliações
- Criança e InfânciaDocumento4 páginasCriança e InfânciaMatheus Soares100% (1)
- BOTTO Carlota O Desencantamento Da CriançaDocumento26 páginasBOTTO Carlota O Desencantamento Da CriançaAbgail Prado100% (1)
- NEVES, Castanheira. Metodologia JurídicaDocumento31 páginasNEVES, Castanheira. Metodologia Jurídicaisa_horejs100% (2)
- Reforço Outubro e NovembroDocumento8 páginasReforço Outubro e NovembroEmy LyAinda não há avaliações
- fgarcia,+Gerente+da+revista,+Artigo+07Documento17 páginasfgarcia,+Gerente+da+revista,+Artigo+07ngcarvalho88Ainda não há avaliações
- História Da Infância :reflexões Acerca de Algumas Concepções CorrentesDocumento12 páginasHistória Da Infância :reflexões Acerca de Algumas Concepções CorrentesFrancieli100% (1)
- Historia Da Infancia Reflexoes Acerca de Algumas Concepcoes CorrentesDocumento13 páginasHistoria Da Infancia Reflexoes Acerca de Algumas Concepcoes CorrentesSamara AiresAinda não há avaliações
- Educacao Infantilprocesso Historico Na Europa e No BrasilDocumento10 páginasEducacao Infantilprocesso Historico Na Europa e No BrasilmarianaAinda não há avaliações
- Texto ComplementarDocumento14 páginasTexto ComplementarMauricio RianAinda não há avaliações
- Texto Reflexivo - FEI 2022.2Documento4 páginasTexto Reflexivo - FEI 2022.2Felipe AugustoAinda não há avaliações
- O Conceito de Infancia No Decorrer Da HistoriaDocumento8 páginasO Conceito de Infancia No Decorrer Da HistoriamiabrantespereiraAinda não há avaliações
- A Construção Social Do Conceito de InfânciaDocumento17 páginasA Construção Social Do Conceito de Infânciaalgoz36Ainda não há avaliações
- Infância e História MóduloDocumento9 páginasInfância e História MóduloJoão Miguel Ana PaulaAinda não há avaliações
- A Infância Na Visão de Philippe Àries E Neil PostmanDocumento9 páginasA Infância Na Visão de Philippe Àries E Neil PostmanPatriciaClaudiaAinda não há avaliações
- Antropologia Da CriançaDocumento16 páginasAntropologia Da CriançacartolafilmeAinda não há avaliações
- KUHLMANN Infancia Construcao Social e HistoricaDocumento18 páginasKUHLMANN Infancia Construcao Social e HistoricaMiriam Aguair100% (1)
- A Construção Histórica Da Infância Lembrança Do Seu Passado.Documento11 páginasA Construção Histórica Da Infância Lembrança Do Seu Passado.Mariana TomazAinda não há avaliações
- Aprincipal motivação em estudar essa temática deveDocumento17 páginasAprincipal motivação em estudar essa temática devemedeirosjustosAinda não há avaliações
- Concepções de Infâncias IndígenasDocumento8 páginasConcepções de Infâncias IndígenasRosimar LocatelliAinda não há avaliações
- Concepção Moderna de InfânciaDocumento17 páginasConcepção Moderna de InfânciahelenasuzzanaAinda não há avaliações
- Atividade 2 SCI 2022Documento3 páginasAtividade 2 SCI 2022João Dantas Dos Anjos NetoAinda não há avaliações
- Ser Criança Indígena: Vozes Que Ecoam Suas Culturas Da InfânciaDocumento22 páginasSer Criança Indígena: Vozes Que Ecoam Suas Culturas Da InfânciaLílian GonçalvesAinda não há avaliações
- AULA 2 Infâncias e Crianças - Ainda Incógnitas para Nós AdultosDocumento19 páginasAULA 2 Infâncias e Crianças - Ainda Incógnitas para Nós AdultosAna Beatriz Da SilvaAinda não há avaliações
- 2942-Texto Do Artigo-10811-3-10-20131213Documento19 páginas2942-Texto Do Artigo-10811-3-10-20131213Gioconda GhiggiAinda não há avaliações
- TeoricoDocumento22 páginasTeoricosildineia de andrade ranghettiAinda não há avaliações
- O Sentimento de Infância Na Perspectiva de Philippe ArièsDocumento8 páginasO Sentimento de Infância Na Perspectiva de Philippe ArièsHeloisa CarreiroAinda não há avaliações
- Guia Da Disciplina Educação InfantilDocumento48 páginasGuia Da Disciplina Educação Infantildaiana silva da paixao100% (1)
- A Sociologia Da InfanciaDocumento15 páginasA Sociologia Da Infancialurdes costaAinda não há avaliações
- LIVRO - Fundamentos - Da - Educacao - Infantil - Aulas01 - A - 04Documento58 páginasLIVRO - Fundamentos - Da - Educacao - Infantil - Aulas01 - A - 04aqueleprofeAinda não há avaliações
- Texto 2 - Diferentes Concepções Da Infância e Adolescência - A Importância Da Historicidade para Sua Construção - Ana Maria Monte Coelho FrotaDocumento7 páginasTexto 2 - Diferentes Concepções Da Infância e Adolescência - A Importância Da Historicidade para Sua Construção - Ana Maria Monte Coelho FrotaMesalas SantosAinda não há avaliações
- TEXTO 3 - A Invenção Da InfânciaDocumento15 páginasTEXTO 3 - A Invenção Da InfânciaMillenaBezerraAinda não há avaliações
- Infância À Francesa - Uma Análise Da Literatura Infantil A Partir de Rousseau-1Documento17 páginasInfância À Francesa - Uma Análise Da Literatura Infantil A Partir de Rousseau-1Hugo SantosAinda não há avaliações
- 1 Série - Conhecimentos Didáticos Pedagógicos em Educacao Infantil.Documento6 páginas1 Série - Conhecimentos Didáticos Pedagógicos em Educacao Infantil.Nivia VillelaAinda não há avaliações
- Arquivo PoesiaecidadanianaescolaessarimacolaDocumento12 páginasArquivo PoesiaecidadanianaescolaessarimacolaJuliana da PazAinda não há avaliações
- 1 - A Compreensão Da Infância Como Construção Sócio HistóricaDocumento12 páginas1 - A Compreensão Da Infância Como Construção Sócio HistóricaEmily LimaAinda não há avaliações
- ASSIS. André Ferraz S. de - Infâncias e Teatros (2017. P. 26-31)Documento6 páginasASSIS. André Ferraz S. de - Infâncias e Teatros (2017. P. 26-31)AndréFerrazAinda não há avaliações
- Childhood and History The Child in ModerDocumento16 páginasChildhood and History The Child in ModerDiana CrimuAinda não há avaliações
- A Infância PesquisadaDocumento16 páginasA Infância PesquisadaINSTITUTO ALANAAinda não há avaliações
- Artigo Complementar - A Infância A Partir de Um Olhar Sócio-HistóricoDocumento10 páginasArtigo Complementar - A Infância A Partir de Um Olhar Sócio-HistóricoRafaela MeloAinda não há avaliações
- Arqueologia Da InfanciaDocumento6 páginasArqueologia Da Infanciavivicruz.bastosAinda não há avaliações
- Dibs - em Busca de Si Mesmo - Virginia M (1) (1) - AxlineDocumento19 páginasDibs - em Busca de Si Mesmo - Virginia M (1) (1) - AxlineBaruc FontesAinda não há avaliações
- A Invencao Da InfanciaDocumento11 páginasA Invencao Da InfanciaPaticene Fone PaticeneAinda não há avaliações
- A Infancia A Partir de Um Olhar SociohistoricoDocumento12 páginasA Infancia A Partir de Um Olhar SociohistoricoMarianne MenesesAinda não há avaliações
- Contributos Do Uso Das Lendas para A Compreensão Histórica - Da Teoria A PraticaDocumento17 páginasContributos Do Uso Das Lendas para A Compreensão Histórica - Da Teoria A PraticaAndressa GarciaAinda não há avaliações
- 2018 Capliv LgalvesajsalesDocumento10 páginas2018 Capliv LgalvesajsalesCarla MonteiroAinda não há avaliações
- Literatura Infantil Ricardo Azevedo PDFDocumento10 páginasLiteratura Infantil Ricardo Azevedo PDFKarla NielsAinda não há avaliações
- Bebês - Alma GottliebDocumento24 páginasBebês - Alma GottliebEleonora Simões X Gesner RechiliêAinda não há avaliações
- Educação na Sala de Visitas: testemunhos de uma educadora alemã no Brasil imperialNo EverandEducação na Sala de Visitas: testemunhos de uma educadora alemã no Brasil imperialAinda não há avaliações
- Higiene, educação e assistência no fim do império: O caso do asilo de meninos desvalidos (1875-1889)No EverandHigiene, educação e assistência no fim do império: O caso do asilo de meninos desvalidos (1875-1889)Ainda não há avaliações
- Por entre vestígios historiográficos: memórias das práticas docentes na Escola Almerinda CostaNo EverandPor entre vestígios historiográficos: memórias das práticas docentes na Escola Almerinda CostaAinda não há avaliações
- Língua Inglesa - Apostila 1Documento32 páginasLíngua Inglesa - Apostila 1Mauro DuarteAinda não há avaliações
- Fluxograma InglesDocumento2 páginasFluxograma InglesBolos GourmetAinda não há avaliações
- 6 Ano ClezioDocumento87 páginas6 Ano Cleziocurso violaoAinda não há avaliações
- PREPOSIÇÕESDocumento2 páginasPREPOSIÇÕESFernanda Ruviaro CherobiniAinda não há avaliações
- Orações Subordinadas Substantivas Conteúdo e AtividadesDocumento24 páginasOrações Subordinadas Substantivas Conteúdo e AtividadesSimone.Morais PereiraAinda não há avaliações
- Crase 2Documento26 páginasCrase 2shefilaAinda não há avaliações
- Chuva Choveu Manual Do Professor Vol 1Documento63 páginasChuva Choveu Manual Do Professor Vol 1Marco Firme100% (1)
- Livro Dislexia e Escrita Espalhada - Pedagogia e Neurociência Cognitiva.Documento89 páginasLivro Dislexia e Escrita Espalhada - Pedagogia e Neurociência Cognitiva.Giselle LiraAinda não há avaliações
- A Anatomia Do Drama Resumo - ConcluidoDocumento21 páginasA Anatomia Do Drama Resumo - ConcluidoAnonymous SXMJ8pyLAinda não há avaliações
- Todo Incluso É Incluído, Mas Nem Todo Incluído É Incluso - VEJADocumento4 páginasTodo Incluso É Incluído, Mas Nem Todo Incluído É Incluso - VEJAEder OliveiraAinda não há avaliações
- Plano de Curso Anual 2021 1o AnoDocumento66 páginasPlano de Curso Anual 2021 1o AnoAdemir FelipeAinda não há avaliações
- APLICABILIDADES SEMIÓTICAS A PARTIR DAS PRODUÇÕES DOS ALUNOS EM DESIGN Regiane Caminni Pereira Da Silva1Documento22 páginasAPLICABILIDADES SEMIÓTICAS A PARTIR DAS PRODUÇÕES DOS ALUNOS EM DESIGN Regiane Caminni Pereira Da Silva1Omega ZeroAinda não há avaliações
- Texto e Intertexto em Tutaméia - Guimarães Rosa (Dissertação)Documento201 páginasTexto e Intertexto em Tutaméia - Guimarães Rosa (Dissertação)Sabrina Barros XimenesAinda não há avaliações
- ARTIGO Sobre Sintaxe e DiscursoDocumento11 páginasARTIGO Sobre Sintaxe e DiscursoAlessandra VieiraAinda não há avaliações
- A Lexicologia e A Teoria Dos Campos LexicaisDocumento12 páginasA Lexicologia e A Teoria Dos Campos LexicaisFábio FrohweinAinda não há avaliações
- 5 Ano T1Documento63 páginas5 Ano T1Marisa Francisca Galdeano Marra100% (1)
- Planos 8 AnoDocumento11 páginasPlanos 8 AnoVanessa MeloAinda não há avaliações
- 4 KROEBER. O SuperorgânicoDocumento22 páginas4 KROEBER. O SuperorgânicoJoel MendesAinda não há avaliações
- Trabajo 1 3 TrimestreDocumento4 páginasTrabajo 1 3 TrimestreAdrianaAinda não há avaliações
- Provazdiagnsticaz 6 ZalunozokDocumento16 páginasProvazdiagnsticaz 6 Zalunozokroseli ferreira CavalcanteAinda não há avaliações
- Aula 06 - Acentuação Gráfica V PDFDocumento2 páginasAula 06 - Acentuação Gráfica V PDFThiago BarreiraAinda não há avaliações
- Mapa Linguagens em Ação Português PNLD 2021 Objeto 2 Editora ModernaDocumento4 páginasMapa Linguagens em Ação Português PNLD 2021 Objeto 2 Editora ModernaAntonia AgrellaAinda não há avaliações