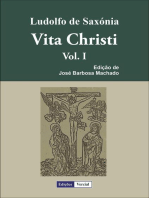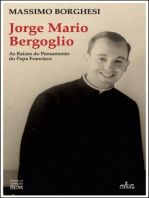Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
GARDEIL, Henri-Dominique - Iniciação À Filosofia de São Tomás de Aquino PDF
GARDEIL, Henri-Dominique - Iniciação À Filosofia de São Tomás de Aquino PDF
Enviado por
Marlon AparecidoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GARDEIL, Henri-Dominique - Iniciação À Filosofia de São Tomás de Aquino PDF
GARDEIL, Henri-Dominique - Iniciação À Filosofia de São Tomás de Aquino PDF
Enviado por
Marlon AparecidoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
H. D. Gardeil INICIAO FILOSOFIA DE S.
TOMS DE AQUINO
H. D. Gardeil
INICIAO FILOSOFIA DE S. TOMS DE AQUINO
PRIMEIRA
PARTE:
INTRODUO
GERAL E
LGICA
SEGUNDA
PARTE:
COSMOLOGIA
TERCEIRA
PARTE:
PSICOLOGIA
QUARTA
PARTE:
METAFISICA
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/00-index.htm2006-06-01 12:18:15
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA:Index.
H. D. Gardeil
Iniciao Filosofia de S. Toms de Aquino
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA
ndice Geral
INTRODUO HISTRICA E LITERRIA.
NOO GERAL DE FILOSOFIA.
INTRODUO LGICA.
A PRIMEIRA OPERAO DO ESPRITO.
A DEFINIO E A DIVISO.
UNIVERSAIS, PREDICVEIS E
PREDICAMENTOS.
A SEGUNDA OPERAO DO ESPIRITO.
O SILOGISMO.
A INDUO.
A DEMONSTRAO.
TPICOS - SOFISMAS - RETRICA.
CONCLUSO.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/0-LOGICA.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:15
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA:Index.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/0-LOGICA.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:15
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA:Index.
H. D. Gardeil
Iniciao Filosofia de S. Toms de Aquino
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA
ndice Geral
INTRODUO.
OS PRINCPIOS DO SER MVEL.
A NATUREZA.
AS CAUSAS DO SER MVEL.
O MOVIMENTO.
AS CONCOMITANTES DO MOVIMENTO.
PRIMEIRA PARTE: INFINITO, LUGAR, VAZIO
E ESPAO.
AS CONCOMITANTES DO MOVIMENTO.
SEGUNDA PARTE: O TEMPO.
A PROVA DO PRIMEIRO MOTOR.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/0-Fisica.htm2006-06-01 12:18:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TERCEIRA PARTE: PSICOLOGIA:Index.
H. D. Gardeil
Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino
TERCEIRA PARTE: PSICOLOGIA
ndice Geral
PREFCIO
INTRODUO
A VIDA E SEUS GRAUS
DEFINIO ARISTOTLICA DA ALMA
AS POTNCIAS DA ALMA
A VIDA VEGETATIVA
A VIDA SENSITIVA: O CONHECIMENTO
SENSVEL
O CONHECIMENTO INTELECTUAL. POSIO
DO TRATADO DA INTELIGNCIA
NOO GERAL DO CONHECIMENTO
O OBJETO DA INTELIGNCIA HUMANA
O OBJETO PRPRIO DA INTELIGNCIA
HUMANA
O OBJETO ADEQUADO DA INTELIGNCIA
HUMANA
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/0-Psicologia.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TERCEIRA PARTE: PSICOLOGIA:Index.
A INTELIGNCIA HUMANA E A VISO DE
DEUS
FORMAO DO CONHECIMENTO
INTELECTUAL
A ATIVIDADE DA INTELIGNCIA
A VOLTA S IMAGENS
O PROGRESSO DO CONHECIMENTO
HUMANO
O CONHECIMENTO DO SINGULAR E DO
EXISTENTE
O CONHECIMENTO DA ALMA POR SI
MESMA
CONCLUSO: POSIO DA TEORIA DO
CONHECIMENTO INTELECTUAL EM S.
TOMS
A VONTADE
A VONTADE E AS OUTRAS FACULDADES
DA ALMA
O LIVRE ARBTRIO
A ALMA HUMANA
CONCLUSO
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/0-Psicologia.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TERCEIRA PARTE: PSICOLOGIA:Index.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/0-Psicologia.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QUARTA PARTE: METAFSICA :Index.
H. D. Gardeil
Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino
QUARTA PARTE: METAFSICA
ndice Geral
INTRODUO
O SER
O SER - ESTUDO CRITICO
OS TRANSCENDENTAIS EM GERAL
OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O
UNO.
OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O
VERO.
OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O
BEM.
OS TRANCENDENTAIS. CONCLUSO.
AS CATEGORIAS
A SUBSTNCIA
OS ACIDENTES
O ATO E A POTNCIA
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/0-METAFISICA.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QUARTA PARTE: METAFSICA :Index.
ESSNCIA E EXISTNCIA
A CAUSALIDADE
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/0-METAFISICA.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:16
LOGICA: I INTRODUO HISTRICA E LITERRIA , Index.
I
INTRODUO HISTRICA E LITERRIA
ndice
1. O problema intelectual da Cristandade no tempo
de S. Toms.
2. Cristandade e cultura antiga.
3. A obra realizada at o sculo XIII.
4. A Introduo da Filosofia de Aristteles no
Ocidente.
5. As grandes etapas na vida de S. Toms.
6. Problemas relativos s obras de S. Toms.
7. As Obras de S. Toms quanto ao seu gnero
literrio.
8. Os processos medievais de ensino.
9. Classificao, quanto ao gnero literrio, das
obras de S. Toms.
10. Os comentrios sbre Aristteles.
11. O Comentrio sbre as Sentenas.
12. As Sumas.
13. Outras obras.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA0.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:16
LOGICA: I INTRODUO HISTRICA E LITERRIA , Index.
14. A Escola Tomista e a influncia de S. Toms.
15. Os grandes comentadores de S. Toms e as
controvrsias teolgicas dos sculos XVI e XVII.
16. O movimento tomista contemporneo.
17. Obras de S. Toms.
18. Exposies gerais da filosofia de S. Toms.
19. Tbuas e repertrios.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA0.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:16
LOGICA: II NOO GERAL DE FILOSOFIA , Index.
II
NOO GERAL DE FILOSOFIA
ndice
1. Natureza da Filosofia.
2. Filosofia e experincia.
3. Filosofia e cincias.
4. Filosofia e Teologia.
5. Diviso segundo Aristteles e S. Toms.
6. As classificaes modernas e a Escolstica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA1.htm2006-06-01 12:18:16
LOGICA: III INTRODUO LGICA , Index.
III
INTRODUO LGICA
ndice
1. Definio da Lgica.
2. Objeto formal da Lgica.
3. A Lgica como cincia e arte.
4. As trs operaes do esprito.
5. Lgica Formal e Lgica Material.
6. Subdivises da Lgica do raciocnio.
7. O pensamento e sua expresso verbal.
8. Bibliografia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA2.htm2006-06-01 12:18:17
LOGICA: IV A PRIMEIRA OPERAO DO ESPRITO , Index.
IV
A PRIMEIRA OPERAO DO ESPRITO
ndice
1. A simples apreenso.
2. O conceito.
3. Extenso e compreenso dos conceitos.
4. Relaes entre a compreenso e a extenso.
5. As espcies de conceitos.
6. O trmo.
7. Definio do termo.
8. Diviso dos trmos.
9. Teoria do nome e do verbo.
10. A diviso sujeito - cpula - predicado.
11. Os trmos como partes do silogismo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA3.htm2006-06-01 12:18:17
LOGICA: V A DEFINIO E A DIVISO , Index.
V
A DEFINIO E A DIVISO
ndice
1. Razo de ser da definio.
2. Natureza da definio.
3. Espcies da definio.
4. Leis da definio.
5. Definio da diviso.
6. Espcies de divises.
7. Leis da diviso.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA4.htm2006-06-01 12:18:17
LOGICA: VI UNIVERSAIS, PREDICVEIS E PREDICAMENTOS , Index.
VI
UNIVERSAIS, PREDICVEIS E PREDICAMENTOS
ndice
1. Introduo.
2. Dos universais.
3. A objetividade ou a realidade do universal.
4. A causa do universal.
5. A propriedade essencial do universal.
6. Dos predicados.
7. Os predicveis em particular.
8. O indivduo.
9. Dos predicamentos.
10. Os trmos unvocos, equvocos, anlogos.
11. Os predicamentos.
12. Os post-predicamentos.
13. Concluso: a primeira operao no conjunto do
pensamento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:17
LOGICA: VI UNIVERSAIS, PREDICVEIS E PREDICAMENTOS , Index.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:17
LOGICA: VII A SEGUNDA OPERAO DO ESPIRITO , Index.
VII
A SEGUNDA OPERAO DO ESPIRITO
ndice
1. Definio do julgamento.
2. Processos de formao do julgamento.
3. A propriedade do julgamento.
4. A enunciao
5. O discurso, "oratio".
6. Enunciao e atribuio.
7. Extenso e compreenso no julgamento.
8. Diviso da enunciao.
9. As enunciaes simples.
10. Os julgamentos de relao.
11. Propriedades das enunciaes.
12. Os quatro modos da oposio.
13. A oposio das proposies.
14. O caso dos futuros contingentes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:18
LOGICA: VII A SEGUNDA OPERAO DO ESPIRITO , Index.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:18
LOGICA: VIII O SILOGISMO , Index.
VIII
O SILOGISMO
ndice
1. Lugar do raciocnio no conhecimento humano.
2. Natureza do raciocnio.
3. Divises do raciocnio.
4. Natureza e divises do silogismo.
5. O silogismo categrico.
6. O silogismo hipottico.
7. Silogismo hipottico e silogismo categrico.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA7.htm2006-06-01 12:18:18
LOGICA: IX A INDUO , Index.
IX
A INDUO
ndice
1. O problema da induo.
2. Noo da induo.
3. Observao histrica.
4. Definio da induo.
5. Induo e silogismo.
6. Induo completa e induo incompleta.
7. O fundamento da induo.
8. Os mtodos da induo.
9. A induo e os mtodos da definio em
Aristteles.
10. A induo em Francis Bacon.
11. Os cnones de Stuart Mill.
12. O mtodo experimental.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA8.htm2006-06-01 12:18:18
LOGICA: X A DEMONSTRAO , Index.
X
A DEMONSTRAO
ndice
1. Introduo.
2. A natureza da demonstrao.
3. Definio da causa final.
4. Definio pela causa material.
5. Os elementos da demonstrao.
6. O sujeito.
7. A propriedade.
8. Os princpios.
9. As espcies da demonstrao.
10. A Cincia.
11. O lugar da cincia entre os hbitos intelectuais.
12. Principio da classificao das cincias.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA9.htm2006-06-01 12:18:18
LOGICA: XI TPICOS - SOFISMAS - RETRICA , Index.
XI
TPICOS - SOFISMAS - RETRICA
ndice
1. Os Tpicos.
2. Refutaes Sofisticas.
3. A Retrica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA10.htm2006-06-01 12:18:18
LOGICA: XII CONCLUSO , Index.
XII
CONCLUSO
ndice
1. Valor e importncia da Lgica Aristotlica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-LOGICA11.htm2006-06-01 12:18:19
FISICA: I INTRODUO, Index.
I
INTRODUO
ndice
1. Promio.
2. O problema da cosmologia aristotlica.
3. Objeto e divises da filosofia da natureza.
4. Elementos bibliogrficos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica0.htm2006-06-01 12:18:19
FISICA: II OS PRINCPIOS DO SER MVEL, Index.
II
OS PRINCPIOS DO SER MVEL
ndice
1. Promio.
2. Objeto e plano do primeiro livro da fsica.
3. Teoria dos trs princpios. Postulado
fundamental.
4. Os contrrios so princpios.
5. Necessidade de um terceiro trmo.
6. Soluo da dificuldade do eleatismo.
7. Concluso.
8. Gerao absoluta e mutaes acidentais.
9. A estrutura das substncias corporais.
10. Matria, forma, composto substancial.
11. Os elementos.
12. Quantidade e qualidade do ser mvel.
13. Natureza da quantidade e espcies de
quantidade.
14. A quantidade realmente distinta da
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:19
FISICA: II OS PRINCPIOS DO SER MVEL, Index.
substncia.
15. A realidade das qualidades sensveis.
16. Concluses: o hilemorfismo e as outras teorias
da matria.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:19
FISICA: III A NATUREZA, Index.
III
A NATUREZA
ndice
1. Introduo.
2. Definio da natureza.
3. A natureza matria e sobretudo forma.
4. Natureza, violncia e arte.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica2.htm2006-06-01 12:18:19
FISICA: IV AS CAUSAS DO SER MVEL, Index.
IV
AS CAUSAS DO SER MVEL
ndice
1. Introduo.
2. As causas e seus modos.
3. A noo de causa no peripatetismo.
4. As quatro causas.
5. As causas intrnsecas.
6. As causas extrnsecas.
7. Os modos das causas.
8. Os sistemas das causas.
9. O acaso.
10. Teorias criticadas por Aristteles.
11. Definio de acaso.
12. Significao geral da teoria de Aristteles.
13. Teleologia e necessidade.
14. A finalidade na natureza.
15. A necessidade na natureza.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:19
FISICA: IV AS CAUSAS DO SER MVEL, Index.
16. Concluso: o mtodo em Fsica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:19
FISICA: V O MOVIMENTO, Index.
V
O MOVIMENTO
ndice
1. Introduo.
2. Definio do movimento.
3. Movimento, motor e mvel.
4. O movimento o ato do mvel.
5. Motor e movido tm um s e mesmo ato.
6. Movimento, ao e paixo.
7. As espcies de movimento.
8. Natureza do movimento local.
9. A causa do movimento local.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica4.htm2006-06-01 12:18:20
FISICA: VI AS CONCOMITANTES DO MOVIMENTO PRIMEIRA PARTE: INFINITO, LUGAR, VAZIO E ESPAO, Index.
VI
AS CONCOMITANTES DO MOVIMENTO
PRIMEIRA PARTE: INFINITO, LUGAR, VAZIO E ESPAO
ndice
1. O infinito.
2. Razes alegadas em favor do infinito.
3. No h infinito em ato.
4. O infinito, contudo, existe de uma certa maneira.
5. O infinitamente divisvel ou contnuo.
6. O lugar, o vazio e o espao.
7. O problema do lugar.
8. A definio da lugar.
9. A funo do lugar na cosmologia aristotlica.
10. Reflexes sbre a teoria do lugar.
11. A teoria do vazio.
12. O espao.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:20
FISICA: VI AS CONCOMITANTES DO MOVIMENTO PRIMEIRA PARTE: INFINITO, LUGAR, VAZIO E ESPAO, Index.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:20
FISICA: VII AS CONCOMITANTES DO MOVIMENTO SEGUNDA PARTE: O TEMPO, Index.
VII
AS CONCOMITANTES DO MOVIMENTO
SEGUNDA PARTE: O TEMPO
ndice
1. Introduo.
2. A natureza do tempo.
3. A realidade do tempo.
4. A unidade do tempo e sua medida.
5. Noes conexas. A noo de eternidade.
6. A noo de "oevum"
7. A noo de "durao".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica6.htm2006-06-01 12:18:20
FISICA: VIII A PROVA DO PRIMEIRO MOTOR, Index.
VIII
A PROVA DO PRIMEIRO MOTOR
ndice
1. Introduo.
2. Fim exato e plano do Livro VIII.
3. A eternidade do movimento.
4. Diviso dos movimentos e repousos e
demonstrao do primeiro motor. Colocao do
problema.
5. Tudo que movido movido por um outro.
6. Necessidade de um primeiro motor imvel,
eterno, nico.
7. Necessidade de um primeiro mvel.
8. Determinao do movimento causado pelo
primeiro motor.
9. O primeiro motor sem grandeza.
10. Concluso: Reflexes sbre a demonstrao de
Aristteles e comparao com a "prima via" de S.
Toms.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica7.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:20
FISICA: VIII A PROVA DO PRIMEIRO MOTOR, Index.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-Fisica7.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:20
PSICOLOGIA: PREFCIO, Index.
PREFCIO
ndice
PREFCIO
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA0.htm2006-06-01 12:18:21
PSICOLOGIA: INTRODUO, Index.
INTRODUO
ndice
1. NOO GERAL DA PSICOLOGIA
2. OBJETO DA PSICOLOGIA
3. MTODO DA PSICOLOGIA.
4. FONTES E BIBLIOGRAFIA
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA1.htm2006-06-01 12:18:21
PSICOLOGIA: A VIDA E SEUS GRAUS, Index.
A VIDA E SEUS GRAUS
ndice
1. CARACTERES DISTINTIVOS DO VIVENTE.
2. DEFINIO FORMAL DE VIDA.
3. OS GRAUS DA IMANNCIA VITAL.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA2.htm2006-06-01 12:18:21
PSICOLOGIA: DEFINIO ARISTOTLICA DA ALMA, Index.
DEFINIO ARISTOTLICA DA ALMA
ndice
1. O PROBLEMA DA ALMA.
2. A CRTICA AO MECANICISMO.
3. A CRTICA AO DUALISMO PLATNICO.
4. ANIMISMO ARISTOTLICO.
5. CONSEQNCIAS E COROLRIO.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA3.htm2006-06-01 12:18:21
PSICOLOGIA: AS POTNCIAS DA ALMA, Index.
AS POTNCIAS DA ALMA
ndice
1. INTRODUO.
2. A ESSNCIA DA ALMA NO PODE SER SUA
POTNCIA.
3. A ESPECIFICAO DAS POTNCIAS DA ALMA.
4. DIVISO DAS POTNCIAS E DIVISES DA
ALMA.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA4.htm2006-06-01 12:18:21
PSICOLOGIA: A VIDA VEGETATIVA, Index.
A VIDA VEGETATIVA
ndice
1. INTRODUO.
2. A FUNO NUTRITIVA.
3. A FUNO DE CRESCIMENTO.
4. A FUNO DE GERAO.
5. CONCLUSO: O SISTEMA DA VIDA
VEGETATIVA.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA5.htm2006-06-01 12:18:22
PSICOLOGIA: A VIDA SENSITIVA: O CONHECIMENTO SENSVEL, Index.
A VIDA SENSITIVA: O CONHECIMENTO SENSVEL
ndice
1. INTRODUO.
2. OS SENTIDOS EXTERNOS
3. O PROBLEMA DA SENSAO EM
ARISTTELES.
4. PASSIVIDADE E ATIVIDADE DOS SENTIDOS EM
S. TOMS.
5. A "SPECIES" SENSVEL.
6. O OBJETO DO CONHECIMENTO SENSVEL.
7. O REALISMO DO CONHECIMENTO SENSVEL.
8. POTNCIAS SENSVEIS E "MEDIUM".
9. O NMERO DOS SENTIDOS EXTERNOS.
10. A TEORIA ARISTOTLICA DA VISO.
11. OS SENTIDOS INTERNOS
12. O "SENSUS COMMUNIS".
13. A IMAGINAO.
14. "ESTIMATIVA" E "COGITATIVA".
15. A MEMRIA SENSVEL.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:22
PSICOLOGIA: A VIDA SENSITIVA: O CONHECIMENTO SENSVEL, Index.
16. A AFETIVIDADE SENSIVEL E O PODER DE SE
MOVER
17. AS POTNCIAS AFETIVAS
18. OS ATOS DO APETITE SENSVEL.
19. A FACULDADE MOTORA
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:22
PSICOLOGIA: O CONHECIMENTO INTELECTUAL. POSIO DO TRATADO DA INTELIGNCIA, Index.
O CONHECIMENTO INTELECTUAL. POSIO DO
TRATADO DA INTELIGNCIA
ndice
1.INTRODUO
2. PRIMADO DA INTELIGNCIA.
3. SIGNIFICADO DA TEORIA PERIPATTICA DA
INTELIGNCIA.
4. O ESTUDO DA INTELIGNCIA EM S. TOMS
5. PLANO DO ESTUDO DA INTELIGNCIA.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA7.htm2006-06-01 12:18:22
PSICOLOGIA: NOO GERAL DO CONHECIMENTO, Index.
NOO GERAL DO CONHECIMENTO
ndice
1. A AMPLITUDE ILIMITADA DO SER DOTADO DE
CONHECIMENTO.
2. A IDENTIDADE ENTRE A INTELIGNCIA E O
INTELIGVEL NO ATO DO CONHECIMENTO.
3. A RECEPO IMATERIAL DAS FORMAS.
4. A IMATERIALIDADE, CONDIO
FUNDAMENTAL DO CONHECIMENTO.
5. O SER E A EXISTNCIA INTENCIONAL
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA8.htm2006-06-01 12:18:22
PSICOLOGIA: O OBJETO DA INTELIGNCIA HUMANA, Index.
O OBJETO DA INTELIGNCIA HUMANA
ndice
1. INTRODUO
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA9.htm2006-06-01 12:18:22
PSICOLOGIA: O OBJETO PRPRIO DA INTELIGNCIA HUMANA, Index.
O OBJETO PRPRIO DA INTELIGNCIA HUMANA
ndice
1. DISCUSSO DAS TEORIAS ANTECEDENTES.
2. A ALMA, PELA SUA INTELIGNCIA, CONHECE
OS CORPOS (A. 1).
3. A ALMA NO CONHECE O CORPO PELA SUA
PRPRIA ESSNCIA (A.2).
4. A ALMA NO CONHECE AS COISAS POR
IDIAS INFUSAS OU INATAS (A. 3).
5. A ALMA NO PODE CONHECER POR MEIO DE
"SPECIES" VINDO DE FORMAS SEPARADAS (A.4).
6. EM QUE SENTIDO A ALMA CONHECE NAS
"RAZES ETERNAS" (A. 5).
7. CONCLUSO: NOSSO CONHECIMENTO
INTELECTUAL PROCEDE DAS COISAS SENSVEIS.
(A. 6, 7, 8)
8. DEFINIO DO OBJETO PRPRIO DA
INTELIGNCIA HUMANA. CARTER DSTE
OBJETO PRPRIO.
9. COMPARAO COM O OBJETO PRPRIO DAS
OUTRAS INTELIGNCIAS.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA10.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:23
PSICOLOGIA: O OBJETO PRPRIO DA INTELIGNCIA HUMANA, Index.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA10.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:23
PSICOLOGIA: O OBJETO ADEQUADO DA INTELIGNCIA HUMANA, Index.
O OBJETO ADEQUADO DA INTELIGNCIA HUMANA
ndice
1. INTRODUO.
2. O OBJETO ADEQUADO DA INTELIGNCIA
HUMANA O SER CONSIDERADO EM TDA A
SUA AMPLITUDE.
3. ENTRETANTO A INTELIGNCIA HUMANA NO
ATINGE DA MESMA MANEIRA O QUE PERTENCE
E O QUE NO PERTENCE A SEU OBJETO
PRPRIO.
4. COROLRIO: UNIDADE DA FACULDADE
INTELECTUAL.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA11.htm2006-06-01 12:18:23
PSICOLOGIA: A INTELIGNCIA HUMANA E A VISO DE DEUS, Index.
A INTELIGNCIA HUMANA E A VISO DE DEUS
ndice
1. POSIO DO PROBLEMA.
2. SIGNIFICAO DO DESEJO NATURAL DE VER
A DEUS.
3. CONCLUSO: FACULDADE DO SER OU
FACULDADE DO DIVINO?
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA12.htm2006-06-01 12:18:23
PSICOLOGIA: FORMAO DO CONHECIMENTO INTELECTUAL, Index.
FORMAO DO CONHECIMENTO INTELECTUAL
ndice
1. INTRODUO.
2. O INTELECTO AGENTE E A ABSTRAO DO
INTELIGVEL. POSIO FILOSFICA DO
PROBLEMA.
3. O PROBLEMA HISTRICO DO INTELECTO
AGENTE.
4. NATUREZA DO INTELECTO AGENTE.
5. FASE PREPARATRIA SENSVEL DA
ABSTRAO.
6. A AO DO INTELECTO AGENTE.
7. O INTELECTO POSSVEL E A RECEPO DA
"SPECIES"
8. O INTELECTO POSSVEL UMA POTNCIA
PASSIVA.
9. RECEPO DA "SPECIES"
10. PAPEL DA "SPECIES" NO ATO INTELECTUAL.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA13.htm2006-06-01 12:18:23
PSICOLOGIA: A ATIVIDADE DA INTELIGNCIA, Index.
A ATIVIDADE DA INTELIGNCIA
ndice
1. INTRODUO.
2. A INTELECO
3. O VERBO MENTAL
4. O VERBO: TRMO RELATIVO OU TRMO
LTIMO DO CONHECIMENTO?
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA14.htm2006-06-01 12:18:24
PSICOLOGIA: A VOLTA S IMAGENS, Index.
A VOLTA S IMAGENS
ndice
1. INTRODUO.
2. PROVA EXPERIMENTAL.
3. JUSTIFICAO RACIONAL.
4. CONCLUSO: SOLIDARIEDADE DAS
ATIVIDADES INTELECTUAL E IMAGINATIVA.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA15.htm2006-06-01 12:18:24
PSICOLOGIA: O PROGRESSO DO CONHECIMENTO HUMANO, Index.
O PROGRESSO DO CONHECIMENTO HUMANO
ndice
1. INTRODUO
2. O PRIMEIRO DADO DA INTELIGNCIA E A
APREENSO DA ESSNCIA.
3. O "DISCURSUS" INTELECTUAL.
4. COROLRIO: O CONHECIMENTO COMO
ATIVIDADE.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA16.htm2006-06-01 12:18:24
PSICOLOGIA: O CONHECIMENTO DO SINGULAR E DO EXISTENTE, Index.
O CONHECIMENTO DO SINGULAR E DO EXISTENTE
ndice
1. INTRODUO.
2. O CONHECIMENTO DOS SINGULARES
3. O CONHECIMENTO DA EXISTNCIA CONCRETA
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA17.htm2006-06-01 12:18:24
PSICOLOGIA: O CONHECIMENTO DA ALMA POR SI MESMA, Index.
O CONHECIMENTO DA ALMA POR SI MESMA
ndice
1. INTRODUO.
2. O PROBLEMA COLOCADO A S. TOMS
3. A EXEGESE DE S. TOMS
4. CONCLUSES E COROLRIOS
5. APNDICE: O CONHECIMENTO DAS
REALIDADES SUPERIORES
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA18.htm2006-06-01 12:18:24
PSICOLOGIA: CONCLUSO: POSIO DA TEORIA DO CONHECIMENTO INTELECTUAL EM S. TOMS, Index.
CONCLUSO: POSIO DA TEORIA DO CONHECIMENTO
INTELECTUAL EM S. TOMS
ndice
1. INTRODUO.
2. POSIO HISTRICA DA DOUTRINA TOMISTA.
3. SITUAO COM RELAO AO PENSAMENTO
MODERNO.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA19.htm2006-06-01 12:18:25
PSICOLOGIA: A VONTADE, Index.
A VONTADE
ndice
1. INTRODUO. NOO DE VONTADE.
2. DIVISES GERAIS DA AFETIVIDADE
3. EXISTNCIA E NATUREZA DA VONTADE.
4. PRESENA DO AMADO NAQUELE QUE AMA.
5. OS ATOS DE VONTADE.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA20.htm2006-06-01 12:18:25
PSICOLOGIA: A VONTADE E AS OUTRAS FACULDADES DA ALMA, Index.
A VONTADE E AS OUTRAS FACULDADES DA ALMA
ndice
1. INTRODUO.
2. A SUPERIORIDADE DA INTELIGNCIA SBRE A
VONTADE.
3. A MOO DA VONTADE SBRE AS OUTRAS
POTNCIAS.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA21.htm2006-06-01 12:18:25
PSICOLOGIA: O LIVRE ARBTRIO, Index.
O LIVRE ARBTRIO
ndice
1. DELIMITAO DA NOO PSICOLGICA DE
LIBERDADE.
2. EXISTNCIA E NATUREZA DO LIVRE ARBTRIO.
3. LIBERDADE E DETERMINISMO.
4. CONCLUSO: POSIO DA DOUTRINA
TOMISTA DA LIBERDADE.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA22.htm2006-06-01 12:18:25
PSICOLOGIA: A ALMA HUMANA, Index.
A ALMA HUMANA
ndice
1. PRELIMINARES
2. A NATUREZA DA ALMA HUMANA
3. A ESTRUTURA INTELECTIVA DA ALMA
HUMANA.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA23.htm2006-06-01 12:18:25
PSICOLOGIA: CONCLUSO, Index.
CONCLUSO
ndice
1. REFLEXES FINAIS
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-PSICOLOGIA24.htm2006-06-01 12:18:26
METAFISICA: INTRODUO , Index.
INTRODUO
ndice
1. NOO GERAL DA METAFSICA
2. A METAFISICA COMO SABEDORIA.
3. A METAFSICA COMO CINCIA DO QUE EST
SEPARADO DA MATRIA
4. A METAFSICA COMO CINCIA DO SER
ENQUANTO SER
5. METAFFSICA E CRITICA DO CONHECIMENTO
6. O ESTUDO DA METAFISICA EM ARISTTELES E
EM S. TOMS
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA0.htm2006-06-01 12:18:26
METAFISICA: O SER , Index.
O SER
ndice
1. O PONTO DE PARTIDA DA METAFISICA
2. SENTIDO DA NOO DE SER
3. O PROBLEMA DA ESTRUTURA DA NOO DE
SER
4. NOTA SBRE O ESTUDO DA ANALOGIA EM S.
TOMS E SEUS DISCPULOS
5. A TEORIA DA ANALOGIA
6. A ANALOGIA DO SER
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA1.htm2006-06-01 12:18:26
METAFISICA: O SER - ESTUDO CRITICO , Index.
O SER - ESTUDO CRITICO
ndice
1. INTRODUO.
2. A CRITICA DO REALISMO
3. O PONTO DE PARTIDA DE UMA
EPISTEMOLOGIA TOMISTA
4. AS TENTATIVAS FEITAS PARA CONSTITUIR UM
REALISMO CRTICO TOMISTA.
5. RAZES PROFUNDAS DAS ATITUDES
CRITICISTAS E IDEALISTAS.
6. FUNDAMENTO AUTNTICO DO REALISMO
7. OS PRIMEIROS PRINCIPIOS
8. O PRINCPIO DE NO CONTRADIO.
9. O PRINCPIO DE IDENTIDADE.
10. OUTROS PRINCPIOS.
11. OBSERVAO. ORIGEM E FORMAO DOS
PRIMEIROS PRINCPIOS.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA2.htm2006-06-01 12:18:26
METAFISICA: OS TRANSCENDENTAIS EM GERAL , Index.
OS TRANSCENDENTAIS EM GERAL
ndice
1. INTRODUO.
2. FORMAO DA COLEO DOS
TRANSCENDENTAIS.
3. NATUREZA DAS NOES TRANSCENDENTAIS.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA3.htm2006-06-01 12:18:26
METAFISICA: OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O UNO. , Index.
OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O UNO.
ndice
1. FORMAO DA TEORIA DO UNO.
2. A UNIDADE TRANSCENDENTAL.
3. OS MODOS DA UNIDADE.
4. A MEDIDA PRPRIA DA UNIDADE.
5. O MLTIPLO OPOSTO AO UNO.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA4.htm2006-06-01 12:18:27
METAFISICA: OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O VERO. , Index.
OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O VERO.
ndice
1. FORMAO DA TEORIA DO VERO.
2. VERDADE LGICA, VERDADE ONTOLGICA.
3. A VERDADE LGICA.
4. A VERDADE ONTOLGICA.
5. O FALSO.
6. APNDICE: O PRINCPIO DE RAZO DE SER.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA5.htm2006-06-01 12:18:27
METAFISICA: OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O BEM. , Index.
OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O BEM.
ndice
1. FORMAO DA TEORIA.
2. A NATUREZA DO BEM.
3. BEM E CAUSA FINAL.
4. AS MODALIDADES DO BEM.
5. O MAL ENQUANTO OPOSTO AO BEM.
6. APNDICE: O PRINCPIO DE FINALIDADE.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA6.htm2006-06-01 12:18:27
METAFISICA: OS TRANCENDENTAIS. CONCLUSO., Index.
OS TRANCENDENTAIS. CONCLUSO.
ndice
1. O SISTEMA DOS TRANSCENDENTAIS
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA7.htm2006-06-01 12:18:27
METAFISICA: AS CATEGORIAS , Index.
AS CATEGORIAS
ndice
1. INTRODUO S CATEGORIAS.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA8.htm2006-06-01 12:18:28
METAFISICA: A SUBSTNCIA , Index.
A SUBSTNCIA
ndice
1. EXISTNCIA DA SUBSTNCIA.
2. NATUREZA E PROPRIEDADES DA SUBSTNCIA
3. DIVISES DA SUBSTNCIA.
4. PROBLEMAS RELATIVOS SUBSTNCIA.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA9.htm2006-06-01 12:18:28
METAFISICA: OS ACIDENTES , Index.
OS ACIDENTES
ndice
1. A NOO DE ACIDENTE.
2. O SISTEMA DOS ACIDENTES.
3. A QUALIDADE.
4. A RELAO
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA10.htm2006-06-01 12:18:28
METAFISICA: O ATO E A POTNCIA , Index.
O ATO E A POTNCIA
ndice
1. ORIGEM DAS NOES DE ATO E POTNCIA.
2. A POTNCIA.
3. O ATO.
4. RELAES ENTRE O ATO E A POTNCIA.
5. CONCLUSO: O ATO E A POTNCIA COMO
PRINCPIOS ORGANIZADORES DE TDA A
METAFSICA TOMISTA.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA11.htm2006-06-01 12:18:28
METAFISICA: ESSNCIA E EXISTNCIA , Index.
ESSNCIA E EXISTNCIA
ndice
1. INTRODUO.
2. O PROBLEMA DA DISTINO REAL.
3. HISTRICO DO PROBLEMA.
4. PROVAS DA DISTINO REAL.
5. SENTIDO EXATO DESTA DISTINO.
6. DA COMPOSIO DAS SUBSTNCIAS CRIADAS
E DA SIMPLICIDADE DO SER INCRIADO.
6. ORIGINALIDADE DA TEORIA TOMISTA DO SER.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA12.htm2006-06-01 12:18:28
METAFISICA: A CAUSALIDADE , Index.
A CAUSALIDADE
ndice
1. INTRODUO.
2. O ESTUDO DA CAUSALIDADE EM
ARISTOTELES E EM S. TOMS
3. A CAUSALIDADE EM TEOLOGIA.
4. JUSTIFICAO CRITICA DA CAUSALIDADE
5. A EXPERINCIA DA CAUSALIDADE.
6. O PRINCPIO DE CAUSALIDADE.
7. A CAUSA PRIMEIRA
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/1-METAFISICA13.htm2006-06-01 12:18:29
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.1.
H. D. Gardeil
Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA
I
INTRODUO HISTRICA E LITERRIA
1. O problema intelectual da Cristandade no tempo de S. Toms.
A obra de S. Toms considerada, mais ainda do que a de outros
grandes filsofos, como um imponente monumento, encarado
fcilmente como uma pea nica e fora de todo contexto histrico.
certo que, no que toca verdade, tem-se de reconhecer que esta
obra tem um valor absoluto e, portanto, transcendente. A olh-la
mais de perto, porm, percebe-se que ela traz igualmente, sob
muitos aspectos, a marca do seu tempo. Isso evidente no que diz
respeito ao gnero literrio de seus escritos e um pouco menos,
talvez, no tocante ao seu contedo. Chegar-se-, portanto, a uma
compreenso mais adequada do pensamento de S. Toms quando
se levar em conta as condies concretas de sua formao e a
maneira pela qual ela foi expressa. com relao a ste ponto de
vista que iremos nos situar nesta primeira parte.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-1.htm2006-06-01 12:18:29
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.2.
2. Cristandade e cultura antiga.
At os tempos modernos, o pensamento do Ocidente estve
condicionado por um acontecimento maior: o encontro da
mensagem evanglica ou, da sabedoria crist, com a cultura da
antigidade. Todos os grandes problemas intelectuais giravam at
ento, em trno dessa conjuno. Teramos de esperar o fim da
Renascena para que os espritos se vissem dominados por outras
preocupaes, nascidas do choque da prpria sabedoria crist,
ento tda penetrada pelo helenismo, com uma concepo das
coisas que o progresso das cincias e das tcnicas renovara
completamente. O intersse no mais em trno de um passado
que sobrevive, mas de um futuro que se delineia. Voltando ao
problema geral do helenismo e do cristianismo, tentemos
inicialmente dar uma idia dessas duas fras.
O que impressiona no primeiro instante, a oposio entre a
sabedoria evanglica e a sabedoria pag, que o Apstolo deveria
acentuar de maneira to brilhante: oposio concernente ao
princpio dessas sabedorias, de um lado a f, do outro a razo
natural; oposio relativa a seus contedos, uma vez que o
cristianismo se apresenta sobretudo como uma mensagem de
salvao, enquanto que a sabedoria antiga se ordenava para uma
viso cientificamente organizada do mundo; oposio, finalmente,
quanto aos destinatrios: os simples, as multides, clientela
privilegiada do Evangelho, em face das classes cultivadas que
visavam principalmente as lies dos filsofos da Grcia. O
Cristianismo a sabedoria da Cruz, que parece nada ter em comum
com a sabedoria do mundo.
Entretanto, observando melhor, verifica-se logo que entre as duas
sabedorias h tambm pontos de contato. No se pode deixar de
reconhecer, com efeito, que a mensagem crist bem mais provida
de filosofia do que nos pareceu a princpio. No h na Escritura,
doutrinas, a do Logos por exemplo, bastante prximas das
concepes gregas, para que se tenha invocado, a seu respeito,
uma influncia determinante do pensamento pago? Ao inverso, no
encontramos nos tesouros da sabedoria helnica muitos elementos
que j prenunciam o Cristianismo?
Se, portanto, entre os dois grandes fatres culturais era de se prever
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:29
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.2.
uma luta, que efetivamente se realizou, tentativas de harmonizao
ou de assimilao recproca no podiam deixar de se produzir. A
histria dessas tentativas, mais ou menos bem sucedidas, a
prpria histria do pensamento cristo durante quinze sculos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:29
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.3.
3. A obra realizada at o sculo XIII.
O problema se coloca desde as primeiras geraes crists, No
sculo II, So Justino se esfora por explicitar as relaes de uma
sabedoria pag que apreciava, e a que no pde totalmente
renunciar, com a f pela qual derramar o seu sangue No sculo
seguinte, sabe-se, em Alexandria que necessric buscar o centro
intelectual ativo da cristandade. Ali, Clemente; em seu
PROTRPTICOS Ou em seus STROMATEIS, prossegue a obra de
conciliao. No sculo V, com Santo Agostinho, Bocio e o PseudoDionsio, que se tornaro como que os trs preceptores do Ocidente
medieval, se conclui esta primeira fase da assimilao viva da
filosofia grega. A que resultados exatamente se chegou at ento?
Em santo Agostinho encontramos o primeiro grande sistema de
filosofia crist. No que no pensamento dste Doutor um conjunto
especulativo orgnico se ache constitudo por fora da f, mas, sim,
que o exerccio terico da razo a reconhecido como legtimo e
que, de fato, considervel a parte da especulao filosfica. A obra
original de santo Agostinho, com relao ao pensamento antigo,
sobretudo representada pela assimilao do neo-platonismo, ento
a filosofia mais atuante, e cuja pea mestra era a teoria das idias. O
Doutor de Hipone, colocando as "idias" em Deus, conseguia dar
uma unidade satisfatria ao mundo de Plato e ao da Bblia. Esta
tarefa de assimilao das especulaes platnicas ser continuada
paralelamente, algumas dcadas mais tarde, por Dionsio que tda a
Idade Mdia identificaria com o discpulo de Arepago. Aristteles,
por sua vez, ser introduzido sobretudo por Bocio, graas ao qual
sua obra atingir as escolas do Ocidente. Mas capital observar
aqui que o Aristteles dos escritos de Bocio quase
exclusivamente o Aristteles do Organon. Quando o conjunto dos
tratados do Estagirita se perder, dle no restar prticamente
seno esta parte de sua filosofia.
Se se tentar, portanto, estabelecer o balano do que possui o
Ocidente logo depois da queda de Roma e da submerso de sua
cultura pelos brbaros, deve-se enumerar, em primeiro plano com as
artes liberais, herana da literatura do baixo-imprio, sse conjunto
de concepes neo-platnicas que Dionsio e sobretudo Santo
Agostinho, haviam incorporado sua viso crist do mundo, e a
Lgica de Aristteles, conservada por Bocio. Todo o resto da
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:30
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.3.
filosofia antiga, ou quase, vai se perder. A poca patrstica termina,
pois, antes que a obra da confrontao das duas sabedorias tenha
podido ser conduzida a seu trmo. A tarefa mais rdua, a
assimilao do sistema de Aristteles, est apenas comeada. Vai
ser necessrio esperar que novamente surja o conflito helenismocristianismo, para que a totalidade do primeiro dstes conjuntos
volte a ser colocada em circulao.
No se pode deixar de invocar, aqui, grandes etapas percorridas
pelo pensamento cristo antes da maior crise do sculo XIII, crise a
que S. Toms ser justamente chamado a dar uma soluo. A
reconstruo da cultura ocidental data da Renascena carolngea.
necessrio, porm, esperar o sculo X11 para que a vida intelectual
tome uma verdadeira amplitude. At ento permanece em voga
sobretudo o conjunto das idias divulgadas pelos mestres que j
apresentamos. Entretanto, os acontecimentos decisivos se
preparam: o conjunto da filosofia de Aristteles est em vias de ser
traduzido, e misturado aos comentrios dos rabes e dos Judeus,
comea a penetrar nas escolas do Ocidente. com essa nova
introduo do peripatetismo na cristandade que se inicia
efetivamente a histria do pensamento de S. Toms.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:30
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.4.
4. A Introduo da Filosofia de Aristteles no Ocidente.
As primeiras tradues latinas que deviam possibilitar ac Ocidente o
conhecimento das principais partes da obra do Es. tagirita, foram
empreendidas na segunda metade do sculc XII. Eram tradues
feitas do rabe, e num ambiente que estava, ento em estreito
contato com a cultura muulmana de Toledo. Juntamente com os
escritos de Aristteles, foi tra duzido um certo nmero de escritos
de seus comentadores anti gos (Alexandre de Aphrodise,
Thmistius, Philopon) e rabe-judeus (Alkindi, Alfarabi, Avicena,
Avicebron).
A leitura dstes tratados, que abrem um nvo mundo aos
professres de teologia cristos, provocou um verdadeiro choque.
Temos um sinal inequvoco disto na srie de interdies de que
foram objeto por parte das autoridades eclesisticas que temiam um
pensamento aparentemente to pouco assimilvel. O problema que,
no fundo, ste acontecimento levantava diante da inteligncia crist
era o da escolha entre uma filosofia de inspirao peripattica, e
uma outra, que at ento tivera o apoio dos telogos, e que era
dominada pela influncia de Plato. Tentemos representar o que
podiam trazer para o pensamento cristo, de positivo e de negativo,
as especulaes das duas grandes filosofias.
O platonismo se apresentava garantido pelo seu reconhecimento de
um mundo superior, o das idias, e de uma intuio direta dsse
mundo. A partir dsse ponto mximo, o universo se desenvolvia
hierrquicamente, segundo um processo de emana o no qual se
exprimia a causalidade divina. No homem, a distino da alma com
relao ao corpo se via particularmente acentuada. Em face dsse
idealismo espiritualista, no qual o acrdo com o pensamento
religioso parecia to fcil de se realizar, em vista da impreciso de
alguns de seus temas que o tornavam mais fcilmente flexvel, o
aristotelismo, pelo contrrio, apresentava-se como um empirismo
cientfico. Sua doutrina do conhecimento, sua antropologia, sua
fsica, tinham mais clareza e objetividade. Em metafsica havia
igualmente progresso no que concernia determinao dos
conceitos fundamentais, assim como no seu rigor sinttico. Mas
para um cristo, alm de algumas incertezas, essa metafsica
oferecia dificuldades considerveis. A eternidade do mundo e da
matria, admitidas como postulados, no vo de encontro ao dogma
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-4.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:30
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.4.
da criao? A espiritualidade do conhecimento humano, sua aptido
para atingir as verdades superiores, no se encontram
comprometidas pela implicao por demais marcante da vida
intelectual na dos sentidos? Pode-se falar ainda de Causa criadora e
de Providncia, com ste ato puro concentrado sbre si mesmo, que
coroa o sistema? Essas lacunas e essas obscuridades, assim como
uma ambincia positiva e cientfica, colocaro os pensadores
religiosos, tanto os do Islam quanto os do Cristianismo, em guarda
contra as especulaes do Estagirita. Dominados por seu valor
racional sem par, les no podero evitar de se perguntar se os
valres religiosos, que evidentemente colocam acima de tudo, no
sairiam perdendo em aliar-se com um pensamento espiritualmente
to pouco acolhedor.
Essa atitude de reserva mais ou menos hostil em relao obra
reconquistada de Aristteles ser, no incio do sculo XIII, a mais
comum. Por causa da influncia dominante que no cessar de
exercer sbre os espritos o pensamento do doutor de Hipona, falarse- a seu respeito de agostinismo. Ao lado de alguns seculares e
de muitos pregadores, ste movimento doutrinal abranger o
conjunto dos mestres franciscanos, tendo Alexandre de Hales e S.
Boaventura na liderana.
Num outro extremo, no ltimo tero do sculo, um grupo de mestres
da Universidade de Paris se inclinar, com Siger de Brabant, no
sentido de uma aceitao de um aristotelismo de estrita obedincia,
tal como propunha o grande comentador rabe Averrois. Teses
essenciais do pensamento cristo, como Providncia e imortalidade
pessoal da alma, encontrar-se-o seriamente comprometidas.
Atravs de censuras rigorosas, impostas em 1270 e em 1277, o
Bispo de Paris, tienne Tempier, tentar reprimir os
empreendimentos dsse aristotelismo por demais ortodoxo.
Antes dstes ltimos acontecimentos, uma posio intermediria
surgiu, - onde se mantinha o respeito pelo dogma cristo e se
buscava conservar tudo o que o no-platonismo agostiniano havia
podido trazer de bom, mas onde se testemunhava uma slida
confiana no valor dos princpios e mtodos de Aristteles, adotada
pelos dois grandes mestres dominicanos, Alberto Magno e Toms
de Aquino: o primeiro voltado mais para o mundo fsico e mais
interessado pela cincia, porm mais ecltico e menos profundo; o
segundo conseguindo afinal, com seu gnio de sntese superior, a
obra de assimilao, pelo cristianismo, dessa filosofia de Aristteles
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-4.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:30
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.4.
que parecia destinada a destru-lo.
Em resumo, esta a significao histrica e a posio do
pensamento de S. Toms de Aquino.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-4.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:30
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.5.
5. As grandes etapas na vida de S. Toms.
Todos os fatos da vida de S. Toms esto longe de serem
conhecidos com preciso, e sbre pontos importantes ficamos
ainda na incerteza. A Historia EccIesiae de Ptolomeu de Lucques
(1312-1317 ), a Historia beati Thomae de Aquino de Guilherme de
Tocco (em trno de 1311) e os Atos dos processos de canonizao
de Npoles (1319) e de Fossanova (1321) constituem os documentos
de base de sua biografia. Entre os trabalhos modernos destacam-se
primeiramente os do Padre Mandonnet op (+1936) e de Mons.
Grabmann (+ 1948). O Pe. Walz op, no Dict. de Thol. cath., art. S.
Toms, apresenta uma boa exposio da questo. Eis aqui,
simplesmente enumeradas, as grandes etapas da vida de S. Toms.
Origem. S. Toms nasceu provvelmente em 1225 no Castelo de
Roccasecca, perto da cidade de Aquino, no Reino de Npoles.
Pertencia a uma famlia de grandes senhores, aliados do imperador
e devotados sua causa.
Em Monte-Cassino (1230-1239) . Aos cinco anos de idade, o jovem
Toms confiado, por seus pais, para sua primeira educao,
abadia vizinha de Monte-Cassino. Pode-se crer que o desejo de v-lo
um dia na direo do clebre mosteiro no deixou de influir nesta
deciso.
Na Universidade de Npoles (1239-1244). S. Toms aperfeioa sua
formao literria e comea seus estudos de filosofia em Npoles,
onde tem, em particular, como mestres: Martinho de Dacie (para a
Lgica) e Pedro o Irlands (para a Fsica).
Entrada na Ordem Dominicana (1244-1245 ). Em 1244, o jovem
estudante toma o hbito dos Pregadores, no convento de San
Domenico de Npoles. Descontentes, os pais prendem e escondem
o novio que, depois de diversas peripcias, conseguir finalmente
a liberdade de seguir sua vocao.
Os estudos na Ordem de So Domingos (1245-1252). muito
provvel que S. Toms tenha sido inicialmente estudante no
Studium de Saint-Jacques de Paris (1245-1247) , e tenha seguido seu
mestre Alberto Magno Colnia, onde aperfeioou sua formao
(1247-1252) .
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:30
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.5.
S. Toms, bacharel em Paris. (1252-1256). Designado para lecionar
em Paris, que era ento o centro intelectual da cristandade, S.
Toms comeou, de acrdo com o costume, por "ler" a Bblia de
maneira contnua e rpida (Cursorie), durante dois anos. Depois,
durante outros dois anos, comentou as Sentenas de Pedro
Lombardo.
S. Toms, mestre em Paris (1256-1259) . Admitido como mestre ao
mesmo tempo que So Boaventura, S. Toms comenta a Bblia
(ordinarie), realiza suas primeiras questes disputadas (De Veritate),
e empreende a composio da Summa Contra Gentiles.
Estadia na Itlia (1259-1268) . A pedido do Papa, S. Toms vai Itlia
para a exercer as funes de leitor da Cria. Acompanha esta a
Anagni, a Orvieto e volta a Roma. Sua atividade intelectual ento
das mais intensas: ensina a Sagrada Escritura (curso ordinrio para
mestres), discute numerosas questes, conclui o Contra Gentiles,
compe a Catena Aurea, comenta Aristteles, inicia a Suma
Teolgica, etc.
Professor pela segunda vez em Paris (1269-1272) . Chamado a Paris
por ocasio da crise intelectual provocada pelo movimento
averroista, S. Toms toma posio na polmica e prossegue
incansvelmente na sua tarefa de professor e de escritor
(comentrios da Sagrada Escritura, de Aristteles, Questes
Disputadas, Suma Teolgica, opsculos diversos).
Professor em Npoles (1271-1273). Designado para assumir a
direo do nvo Studium generale em Npoles, S. Toms tem, alm
dos trabalhos habituais de mestre, uma notvel atividade apostlica.
Convocao ao Conclio de Lyon, doena, morte. (1274). A pedido de
Gregrio IX, S. Toms parte para participar do Conclio de Lyon.
Durante a viagem fica doente e morre, a 7 de maro, na abadia
cisterciense de Fossanova.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:30
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.6.
6. Problemas relativos s obras de S. Toms.
Falecido aos 49 anos, S. Toms teve uma prodigiosa atividade como
professor e escritor: tdas as matrias filosficas e teolgicas
estudadas em seu tempo foram abordadas por le. Dos numerosos
trabalhos que le deixou, alguns (lies, questes disputadas),
representam o fruto direto de seu ensino. Outros (Sumas, opsculos
diversos) so composies livres. Alguns dstes trabalhos foram
escritos por le prprio, outros smente ditados, e h ainda os que
foram simplesmente reportados. Alm disto, observar-se- que
numerosos apcrifos se encontram na compilao clssica dos
Opera omnia, que no foram compostos com uma verdadeira
preocupao crtica. Na edio Vivs por exemplo, a mais completa
de tdas, so encontrados 140 escritos, agrupados em 32 volumes,
sem qualquer ordem cronolgica, no havendo possibilidade de se
distinguir o que e o que no verdadeiramente de S. Toms. Estas
observaes - e se poderiam fazer outras anlogas mostram que a
obra literria do nosso Doutor comporta muitos problemas.
A primeira questo que se pode colocar a respeito das obras de um
autor , evidentemente, o de sua autenticidade. Na Idade Mdia,
parece no ter havido um escrpulo excessivo no que diz respeito
propriedade literria e, por outro lado, pode ter havido rros ou
fantasias dos copistas, sem contar que numerosos manuscritos
circulam annimos. Assim, no de admirar que menos de meio
sculo aps sua morte, tenha se tornado to difcil fixar com
exatido a lista das obras de S. Toms. Para prevenir ste
inconveniente, procurou-se ento organizar catlogos: nas primeiras
dcadas do sculo XIV foi lanada tda uma srie dles. Esses
catlogos permanecem como documentos de primeira ordem para
determinar a autenticidade dos escritos de nosso Doutor, mas
infelizmente les no coincidem entre si de maneira perfeita. Por
outro lado, visvel que tambm no foram compostos com
suficiente preocupao crtica. Portanto, tomados isoladamente, o
seu testemunho nem sempre decisivo.
Diante dessas dificuldades, os editres da Piana (sculo XVI), se
contentaro em colocar prudentemente parte uma srie de escritos
que les qualificaram de duvidosos. Os primeiros trabalhos de
crtica realmente sria a sse respeito so os de dois dominicanos,
do incio do sculo XVIII, os Padres chard e De Rubeis. Hoje, a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-6.htm (1 of 4)2006-06-01 12:18:31
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.6.
questo foi inteiramente reformulada, notadamente pelo Pe.
Mandonnet (Les crits authentiques de saint Thomas d'Aquin, 2.a
ed., Fribourg (Suisse), 1910) e por Mons. Grabmann.
A que resultados se chegou? Pode-se dizer que de um modo geral
chegou-se a um acrdo sbre a autenticidade ou no, de quase cada
uma das obras em questo. Se subsistem algumas dvidas, estas se
referem smente a alguns opsculos de pouca importncia. Para o
fundamento da doutrina, em todo caso, nenhum problema srio se
coloca sob sse ponto de vista. - Na prtica, poder-se- utilizar o
quadro preparado pelo Pe. Mandonnet, em seus crits authentiques.
Este quadro agrupa 140 escritos, 75 marcados como autnticos e 65
como apcrifos. Estes ltimos, apressemo-nos em diz-lo,
constituem de fato menos da dcima parte do conjunto e no
compreendem qualquer das obras mais importantes. O estudante de
filosofia notar que a Summa totius logicae, algumas vzes utilizada
nas exposies do pensamento de S. Toms, no dle.
O estabelecimento da cronologia das obras de S. Toms coloca
problemas mais rduos ainda. Alguns pontos importantes esto
entretanto assegurados e a. classificao aproximativa das grandes
obras est quase tda realizada. Ns nos contentaremos aqui em
remeter o leitor ao artigo citado, do Pe. Walz, que d, em quadro, o
estado atual das pesquisas.
Pode-se perguntar em que medida exigido para o estudo de S.
Toms, o conhecimento da cronologia de suas obras. Em se
tratando de uma filosofia em perptuo desenvolvimento, a de um
Plato, por exemplo, ou a de um Fichte, claro que no se pode
deixar de seguira ordem cronolgica de seus escritos, sob pena de
cair-se na maior das confuses. No caso de S. Toms essa ordem
no to necessria, quanto ao conjunto de seu pensamento. A
parte o caso das Sentenas e de alguns opsculos que de maneira
manifesta representam um estado primitivo e menos elaborado de
sua doutrina, pode-se dizer que le se afirma, desde o Contra
Gentiles e o De Veritate, em plena e lcida posse do que ser sua
sntese definitiva. O que imediatamente, mais impressiona em S.
Toms a fundamental estabilidade de um pensamento to
rpidamente tornado adulto. Admitido isso, resta que le pode ter
evoludo em alguns pontos particulares. Pelo menos a primeira fase
de sua doutrina tem muito a ganhar quando considerada parte. H
vantagem, portanto, em certos casos, e sse o caso das
Sentenas, em se levar em conta a cronologia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-6.htm (2 of 4)2006-06-01 12:18:31
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.6.
Praticamente, o principiante em filosofia, para quem escrevemos,
poder observar as seguintes discriminaes sumrias:
Primeiro
perodo de
juventude
(1252-1256) :
Comentrios
sbre as
Sentenas,
assim como
os
opsculos:
De ente et
essentia, De
principiis
naturae, De
Trinitate.
Primeiro
perodo de
professorado
em Paris,
Incio da
estadia na
Itlia (12561264) :
Questes
disputadas
De Verilate,
Contra
Gentiles.
Perodo de
plena
maturidade
(1264-1274) :
outras
questes
disputadas,
Comentrios
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-6.htm (3 of 4)2006-06-01 12:18:31
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.6.
de
Aristteles,
Suma
Teolgica,
etc.
Observar que o Compendium theologiae no , como durante muito
tempo se acreditou, a ltima obra de S. Toms.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-6.htm (4 of 4)2006-06-01 12:18:31
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.7.
7. As Obras de S. Toms quanto ao seu gnero literrio.
Ao primeiro contato, o leitor moderno das grandes obras medievais
no pode deixar de ficar confundido pelos mtodos de exposio
nelas utilizados. H, evidentemente, muita diferena com relao aos
nossos livros atuais. Portanto, no ser suprfluo, para introduzir ao
estudo de S. Toms, dizer alguma coisa sbre os processos
literrios da poca. Como os autores de ento, antes de tudo, so
professres e, como os escritos que les deixaram so em grande
parte fruto de sua atividade professoral, ser til uma informao a
respeito desta. (Para todo ste pargrafo, Cf. CHENU, Introduction d
l 'etude de saint Thomas d'Aquin; Paris, Vrin, 1950).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-7.htm2006-06-01 12:18:31
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.8.
8. Os processos medievais de ensino.
Tda a pedagogia medieval base de leitura de textos:
"Duas coisas
principalmente
concorrem
para a
aquisio da
cincia, a
leitura e a
meditao"
Hughes S.
Victor
Didascalicon,
L.1,c.1
Atravs da meditao d-se a assimilao pessoal da doutrina,
enquanto que pela leitura ela transmitida a outrem, ou dle
recebida. Este ltimo processo to usado como mtodo de ensino
que o professor toma o nome de "leitor... lector", e o prprio ato de
ensinar consiste em "ler. . . legere". Lem-se, por exemplo, as
Sentenas. Observar-se- que ste costume de ler os textos no
deve deixar de ter relao com a tradicional lectio monstica, a qual
era smente um meio de edificao.
Essa prtica generalizada da leitura se deve, por um lado, ao
respeito muito grande que ento se tinha pelos textos escritos. So
poucos os que os possuem, e os livros, at a inveno da imprensa,
eram raros e preciosos. So verdadeiros tesouros que se
exploravam com o maior cuidado. Pode-se supor, por outro lado,
que a teologia, base de textos, no deixou de ter uma influncia
sbre o mtodo das outras disciplinas.
Seja como fr, essa prtica da "leitura" fazia com que os autores que
se liam fssem respeitados. O texto sagrado porque le a
expresso do pensamento de um mestre reconhecido. Assim que,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-8.htm (1 of 4)2006-06-01 12:18:31
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.8.
ao lado da autoridade sem par da Sacra pagina, a Idade Mdia
venerar a autoridade dos Padres, a de S. Agostinho em particular,
dos quais jamais se poder apontar um rro. Ao lado das
autoridades prpriamente sagradas, haver as autoridades do
terreno profano cujos textos sero "lidos" tambm com o maior
respeito: os de Aristteles em filosofia e de Donat em gramtica, os
de Ccero e Quintiliano em retrica, os de Galileu em medicina, os do
Corpus luris em direito. Isto faz com que haja, em um nvel inferior
ao da escrita inspirada que evidentemente est parte, todo um
escalonamento de autoridades de maior ou menor pso, a dos
Sancti, a dos Philosophi e finalmente a dos Magistri, que se tem
plena liberdade de no seguir.
Na prtica, a "leitura" escolar se revestia de formas bastante
variadas. Podia comportar smente breves anotaes, chamadas
glosas, que figuravam nos manuscritos entre as linhas (glossa
interlinearis) ou nas margens (glossa marginalis). As vzes o
comentrio do mestre se estendia em uma ampla exposio, como
por exemplo os comentrios de S. Toms sbre Aristteles. Outras
vzes, ainda, o mestre que lia desenvolvia pessoalmente o
pensamento do autor em questo, ou o parafraseava, como no caso
de Avicena ou de Alberto o Grande.
No h dvida de que sse mtodo de "leitura" das autoridades, que
a princpio foi a fonte de um enriquecimento e de um
desenvolvimento autnticos da vida intelectual, poderia levar com o
tempo, ao perigo de afastar, cada vez mais a ateno dos objetos
reais, para se concentrar na anlise abstrata das frmulas e das
noes. A escolstica decadente incorrer nessa falta que a
conduzir a um verbalismo bastante vazio. Porm sses excessos
no condenam o mtodo no que le pde ter de fecundo durante
tanto tempo.
Um texto necessriamente apresenta dificuldades ou, se se prefere,
faz surgir questes: assim que o leitor ser naturalmente
conduzido da lectio quaestio que significa na ordem literria, que
os Comentrios se sobrecarregaro de Questes.
Essas questes podem nascer, seja de uma expresso que exigia
maior preciso, seja de uma frmula que se prestava a equvoco,
seja do confronto de vrias interpretaes contrrias, etc.
Progressivamente, cada vez mais tomando corpo, essas explicaes
complementares vo tender a se tornar a prpria forma do ensino
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-8.htm (2 of 4)2006-06-01 12:18:31
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.8.
escolar. Por exemplo, o que se deu com o comentrio das
Sentenas de S. Toms, onde a exposio de Lombardo fica
reduzida, simplesmente, a uma muito breve divisio textus, enquanto
a doutrina do comentador se estende amplamente em longas sries
de artigos.
Mera dificuldade textual a princpio, a Questo se tornou um simples
processo de exposio cuja autonomia se afirmava cada vez mais.
Coloca-se em questo os problemas, no porque se tenha dvidas
realmente sbre suas solues, mas porque se acredita que assim
les sero melhor apresentados. Da dificuldade original no resta
mais, nesse estgio, seno a frmula, comandada por um "Utrum"
ou um "Quomodo", seguidas de uma forma estereotipada de
soluo. sse processo se tornou um gnero literrio prprio, que
logo se separou da expositio textus, da qual no mais do que uma
superfetao.
A soluo de uma questo, sobretudo a partir do sic et non de
Abelardo, colocava em jgo, naturalmente, opinies ou autoridades
contrrias. Alguns se contentavam em expr o conflito em uma obra
escrita, mas tambm havia quem preferisse coloc-lo em cena, por
meio de um debate pblico, onde os contraditores seriam
personagens vivos. De processo literrio, a questo passava ento
para o gnero dos exerccios acadmicos: surgia a Questo
disputada. No sculo XIII, sse exerccio ter um lugar to
importante, que ao lado das lies e dos sermes que lhe eram
designados, cada mestre deveria, obrigatriamente, realizar
disputas: "legere, disputare, praedicare", tais so suas funes
habituais.
bom saber que os textos das Questes disputadas, encontrados
nas obras dos mestres medievais, no reproduzem ao p da letra a
disputa realizada na sesso solene de defesa das teses, mas sim um
arranjo metdico das anotaes tomadas logo aps, e que, alm
disto, deviam ser dadas em aulas, dentro do currculo normal numa
segunda reunio.
No seio dsse gnero de exerccios escolares desenvolve-se um tipo
especial de questes disputadas, o Quodlibet, assim denominado
porque, por ocasio dessas reunies podiam-se levantar no
importa que questes considerao do mestre defensor. Os
Quodlibets eram realizados duas vzes por ano, antes das festas do
Natal e da Pscoa e se revestiam de uma particular solenidade. Podefile:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-8.htm (3 of 4)2006-06-01 12:18:31
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.8.
se imaginar o quanto deviam exigir, da parte do mestre, de incomura
solidez e universalidade de saber! O certo que a essa prova nem
todos se submetiam e, as colees de Quodlibets so relativamente
raras. O intersse dessas questes reside mais na atualidade dos
assuntos tratados do que na amplitude das exposies, qual
fatalmente,, prejudicavam a disperso e o imprevisto das
discusses.
Os esclarecimentos precedentes nos colocam finalmente em
condio de compreender a razo e de perceber o intersse dos
artigos que compem muitas obras medievais, e em particular a
Suma Teolgica de S. Toms. O artigo, tal como se encontra nessas
obras, no seno a reduo das grandes disputas que acabam de
ser descritas. Da mesma forma que elas, le comea por uma
questo, "Circa primum quaeritur...", aps o que vem a discusso,
formada antes de tudo pelo enunciado do pr ("videtur quod..."), e
do contra ("sed contra..."), que no correspondiam necessriamente
tese sustentada pelo autor, embora na Suma Teolgica seja ste o
caso mais freqente. Na realidade, essas preliminares constituem
como que um primeiro manejar de armas, que a determinao
magistral contida no corpo do artigo ("respondeo, dicendum
quod. . . ") vem concluir. Finalmente vm as respostas aos
argumentos "contra", onde de ordinrio nota-se a preocupao de
salvaguardar, atravs de distines convenientes, a parte de
verdade que podiam conter as objees.
Sob a tcnica um pouco pesada e uniforme dessas Sumas
medievais esconde-se uma vida intensa de discusses e de
pesquisas expressivas de uma poca em que a curiosidade e a
agilidade intelectual foram notveis. B possvel que sse formalismo
tenha tido seus inconvenientes, porm ele foi sobretudo um
instrumento de anlise e de exposio de incontestvel eficcia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-8.htm (4 of 4)2006-06-01 12:18:31
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.9.
9. Classificao, quanto ao gnero literrio, das obras de S.
Toms.
Todos os gneros literrios acima definidos se encontram nas obras
de S. Toms: lies, seguidas de explicaes, nos comentrios
filosficos e escritursticos; sistemas de questes ainda ligadas a
um texto, como no caso de tdas as Sentenas e do De Trinitate;
Questes disputadas e Quodlibets; escritos sistemticos
independentes, mas onde se encontra ainda a diviso em questo, a
Suma teolgica, por exemplo;, obras mais livres, agrupadas de
ordinrio sob o ttulo de opsculos; finalmente vrias sries de
sermes ou de collationes, aos quais seria necessrio acrescentar,
para ser completo, alguns trechos de poesia religiosa.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-9.htm2006-06-01 12:18:31
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.10.
10. Os comentrios sbre Aristteles.
Os comentrios constituem a base de todo estudo direto da filosofia
de S. Toms. Disso decorre seu intersse para ns. Parece terem
sido temas de aulas privadas dadas pelo mestre a seus irmos de
religio.
Sabe-se que no sculo XIII os textos de Aristteles, da mesma forma
que os de outros autores gregos, no foram prticamente acessveis
aos ocidentais seno em tradues latinas. Que texto teria S. Toms
podido consultar? O trabalho de traduo de Aristteles parece ter
sido efetuado em trs etapas. At a metade do sculo XII tem-se um
conjunto de tradues feitas principalmente do grego das quais
algumas remontam a Bocio. No final dsse sculo, provocando a
crise de que j falamos, novas tradues foram feitas, porm agora
do rabe que por sua vez no remontava, sem dvida, ao texto
primitivo seno atravs de verses srias. evidente que os
resultados s poderiam ser muito imperfeitos. Para remediar sse
estado de coisas, decidiu-se refazer o trabalho, partindo do grego. S.
Toms deve ter sido um dos incentivadores dsse trabalho de
aperfeioamento. Em todo caso, foi a seu pedido que Guillaume de
Moerbeke, que ento se achava com ele na curia pontifical, se
dedicou, a partir do texto original grego, a fazer uma nova verso
latina. Foi essa verso que serviu habitualmente a S. Toms em seus
comentrios, e que se acha nas edies de suas obras. Muito literal,
ela se recomenda mais pela sua preciso concisa do que por sua
elegncia.
No dizer de Ptolomeu de Lucca, S. Toms utilizou um nvo mtodo
em seus comentrios mais rigoroso do que o comumente usado.
Substituiu a parfrase um pouco vaga pela anlise precisa de tdas
as particularidades do texto, completada alis por um esfro de
reconstruo sinttica do tratado. Acrescentemos que, se teve a
preocupao pelo detalhe, e isso algumas vezes at mincia,
nosso Doutor se manifestava como autntico filsofo, jamais
perdendo de vista os princpios nem o conjunto. Anlise e sntese se
conjugam, assim, numa harmonia genial.
No h dvida de que comentando Aristteles, S. Toms desejou, ao
mesmo tempo, penetrar no pensamento autntico do filsofo e
descobrir, sob sua orientao, a verdade objetiva. Do ponto de vista
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-10.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:32
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.10.
exegtico, deve-se reconhecer que sua obra representa a mais feliz
realizao de seu tempo. Regra geral, a interpretao do texto
perspicaz e fiel; hoje ainda utilizada para compreender Aristteles.
Entretanto, apesar de seguir conscientemente seu mestre, S. Toms
permanece um filsofo pessoal. Seu comentrio, portanto, exprime
tambm o seu prprio pensamento. Deve-se to smente observar
que, ligado s idias de um outro, ele no tem aqui tda a liberdade
suficiente para desenvolver as suas, sendo necessrio, para ter-se
uma idia integral de sua filosofia, recorrer s outras de suas obras
onde ela se desenvolve com plena independncia.
Iniciada talvez na metade do perodo italiano de sua vida
professoral, a obra de comentrio de S. Toms prosseguiu at o fim
de sua carreira. Aproximadamente ir dos anos 1265-66 a 1274.
Como subsistem muitas dvidas quanto data precisa de cada
comentrio, bastar darmos aqui sua relao, seguindo a ordem
clssica do Corpus aristotlico:
Perihermeneias
(autntico at
II, I. 2 inclus.).
Segundos
Analticos.
Fsica (em 8
livros).
De coelo et
mundo
(autntico at
III, I. 8 inclus.).
De
generatione
(aut. at I, I. 17
inclus.).
Meteorolgicos
(aut. at II, I. 10
inclus.).
De anima (em
3 livros).
De sensu, De
memoria.
Metafsica
(coment. dos
12 prim.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-10.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:32
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.10.
livros).
tica a
Nicmaco.
Poltica (aut.
at III, I. 6
inclus.).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-10.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:32
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.11.
11. O Comentrio sbre as Sentenas.
Sabe-se que o intersse dsse comentrio deve-se ao fato de que
le representa o pensamento de juventude de S. Toms. Pertence,
alis, a um tipo de obra to clssica na Idade Mdia que no ser
intil dizer alguma coisa a seu respeito.
O ensino dos mestres da Faculdade de Teologia estava ligado
leitura da Bblia e, a primeira iniciao nesse domnio se fazia
seguindo o texto das Sentenas de Pedro Lombardo. A explicao
dessa obra durava dois anos e era confiada a um auxiliar do mestre
que, por essa razo, tinha o ttulo de bacharel em sentenas.
Normalmente, portanto, um comentrio sbre as Sentenas
correspondia ao incio da carreira de um telogo.
Compostas em trno de 1150 pelo bispo de Paris, Pedro Lombardo,
as Sentenas constituam uma coleo bastante completa das
principais questes teolgicas, estando estas repartidas em quatro
livros, tendo por objeto: o primeiro, Deus uno e trino; o segundo, a
criao; o terceiro, a redeno e a graa; o quarto, os sacramentos e
os fins ltimos. sse trabalho est longe de apresentar uma
estrutura sistemtica comparvel das futuras Sumas, porm isso
mesmo contribuiu para seu sucesso pois dava mais lugar livre
interpretao. Por outro lado, as Sentenas se recomendavam por
sua ortodoxia e por uma larga informao escriturstica e patrstica.
Um tal conjunto de qualidades, ao mesmo tempo positivas e
negativas, devia assegurar obra de Lombardo um destino
absolutamente excepcional: durante vrios sculos servir de
manual de teologia e pode-se avaliar em centenas o nmero de
comentrios que foram conservados.
O texto que possumos corresponde ao curso efetuado por S. Toms
no Studium parisiense de saint Jacques, durante os anos 1254-1256
(com possveis retoques feitos um pouco mais tarde). sse texto se
liga ao gnero da lectio em seu estado de evoluo para a quaestio.
Cada um dos livros de Lombardo dividido em um certo nmero de
"distines" (48 no primeiro livro; 44 no segundo; 40 no terceiro; 50
no quarto), repartidas algumas vzes em vrias "lies".
Obrigatriamente, distines ou lies se articulam segundo um
plano tripartido compreendendo: uma divisio textus, anlise lgicogramatical, bastante sucinta, do texto; um conjunto de quaestiones,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-11.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:32
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.11.
subdivididas em artigos e s vzes em questinculas: finalmente
uma expositio textus ou uma expositio litterae, onde o autor repassa
muito rpidamente o texto estudado e resolve as ltimas
dificuldades. Todo sse aparato, minuciosamente ordenado,
desagrada um pouco ao leitor moderno, habituado a exposies
contnuas e mais livres. Pelo menos ns conhecemos agora sua
origem e podemos ver sua razo de ser.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-11.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:32
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.12.
12. As Sumas.
S. Toms clebre em tda parte por sua Suma teolgica. Sabe-se
menos, em contraposio, que esta obra pertence a um gnero
literrio muito difundido em seu tempo. Mons. Glorieux (art. Sommes
thologiques, no Dict. de Th. cath.) divide as sumas medievais em
trs grupos, de inteno e de estrutura diferentes: as Sumas
compilaes, onde domina a preocupao da compilao completa,
porm no organizada sistemticamente (florilgios de textos
escritursticos ou patrsticos, por exemplo. Na obra de S. Toms, a
Catena aurea); as Sumas abreviadas, onde sobretudo se busca a
brevidade exata (gnero lxico ou catecismo); as sumas
sistemticas finalmente, que visam dar um ensinamento de conjunto
orgnicamente estruturado. neste ltimo grupo que se encontram
as duas grandes Sumas de S. Toms.
A Suma contra os Gentios uma obra apologtica que teria sido
escrita a pedido de Raimundo de Pennafort, mestre geral dos
pregadores, por ocasio do problema da converso dos mouros do
reino de Valncia, recentemente reconquistado pelos cristos. Devese observar, entretanto, que os argumentos apresentados no visam
unicamente aos muulmanos. Os "gentios" so tambm os
herticos, os judeus, os pagos, em uma palavra todos os
heterodoxos. H concordncia em datar o incio da Contra Gentiles
no final do primeiro ensinamento do mestre (1258
aproximadamente). A obra teria sido terminada na Itlia (por volta de
1263-64) .
Devido ao lugar considervel que os argumentos racionais tm na
Contra Gentiles, confere-se s vzes a esta obra, em paralelismo
com a "Suma teolgica", o ttulo de "Suma filosfica". Tal
designao totalmente inexata, como ressalta do conjunto de seu
contedo e, de sua inteno, formalmente expressa em vrias
passagens, que a defesa das verdades da f. Trata-se, portanto, de
uma apologia da f catlica, sistemticamente valorizada em face
dos no-crentes e de suas objees.
A Summa Contra Gentiles foi dividida pelo prprio S. Toms (cf. I, c.
9 e IV, proemium) em duas grandes partes. A primeira tem como
objeto as verdades da f accessveis razo, Deus (1. I), a
processo das criaturas a partir de Deus (1, II), a ordenao das
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-12.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:32
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.12.
criaturas a Deus como ao seu fim (1. III). A segunda tem como objeto
as verdades que ultrapassam a razo, quer dizer, os mistrios da f,
a Santssima Trindade, a Encarnao, a Beatitude sobrenatural (1.
IV). interessante observar que, diferentemente do que fz nas
Sentenas ou na Suma teolgica, S. Toms no usou nesta obra o
processo clssico da quaestio. Os argumentos que prope em trno
de cada assunto sucedem-se em pequenos pargrafos concisos
sem aparente ligao orgnica.
A Suma teolgica no fruto de um ensino escolar. Tambm no ,
propriamente falando, uma obra de circunstncia. Ela representa
mais uma iniciativa pessoal do mestre, realizada na inteno de
auxiliar os estudantes principiantes. Como observa le no Prefcio
da obra, stes encontram nas exposies habituais trs espcies de
dificuldades: multiplicao de questes, artigos e argumentos
inteis, falta de disposio metdica nas razes alagadas que
aparecem ao sabor das circunstncias do texto comentado ou por
ocasio das disputas e, finalmente, a fadiga e a confuso que
resultam da repetio dos mesmos argumentos. A fim de evitar
sses inconvenientes, S. Toms se props a expr a verdade crist
com brevidade e clareza (breviter ac dilucide), quando a matria o
permitia. fcil de se constatar que a apresentao exterior da
Suma est perfeitamente adaptada a sses fins: diviso simples e
regular em partes, questes, artigos; reduo do nmero das
objees, geralmente a apenas trs, com um nico argumento sed
contra; determinao sob forma condensada e clara, da doutrina, no
corpo do artigo; finalmente, breve resposta s objees. Basta
comparar a Suma Teolgica com outras obras da poca para que
estas vantagens imediatamente apaream.
A cronologia da Suma a seguinte: a I. Pars dataria da segunda
metade da estadia na Itlia (a partir de 1266); a II. Pars
corresponderia, sem dvida, ao segundo ensinamento parisiense
(1269-1272) ; a III. Pars, finalmente, teria sido realizada em Npoles,
onde S. Toms a deixou inacabada (fim de 1273). O suplemento (a
partir da q. 70) no seno uma compilao de textos das
Sentenas, redigido por Reinaldo de Piperno, secretrio e confidente
do santo.
A Suma Teolgica est construda sbre o plano, alis perfeitamente
clssico, da processo das criaturas e de seu rotrno a Deus,
retrno ste de incio considerado de maneira mais abstrata e do
ponto de vista da moralidade e, depois, na perspectiva da
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-12.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:32
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.12.
Encarnao redentora ou do Christus, via. Bastar lembrar aqui os
ttulos destas grandes divises:
I. P. De
Deus uno e
trino, e da
processo
das
criaturas a
partir de
Deus.
II. P. Da
volta da
criatura
racional
para Deus.
I-IIae, em
seus
princpios
gerais; IIIIae,
segundo as
virtudes
particulares.
III. P. Do
Cristo que,
enquanto
homem,
para ns o
caminho da
volta para
Deus.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-12.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:32
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.13.
13. Outras obras.
O estudo da filosofia de S. Toms supe ainda o auxlio constante
de duas outras sries de obras importantes. A primeira delas
constituda pelas Questes disputadas, onde freqentemente se
encontram os mais profundos desenvolvimentos de sua doutrina. J
suficiente o que dissemos sbre o gnero literrio dessas obras.
Acrescentemos, simplesmente, que as questes mais utilizadas em
filosofia so, em primeira linha, o importante conjunto De Veritate, e,
depois dle o De potentia. As questes De anima, De spiritualibus
creaturis e De inalo devem tambm ser consultadas.
A segunda srie compreende todo um grupo de opsculos, de
tamanho alis muito varivel, entre os quais no se pode deixar de
assinalar, para a filosofia: o De principiis naturae, o De aeternitate
mundi, o De ente et essentia, o De unitate intellectus, e o comentrio
sbre o De causis, obra de Proclus, bastante conhecida na Idade
Mdia, de cuja inautenticidade aristotlica S. Toms foi o primeiro a
suspeitar.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-13.htm2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.14.
14. A Escola Tomista e a influncia de S. Toms.
Neste pargrafo, pretendemos expr apenas uma viso
extremamente sumria do movimento intelectual que se acha sob a
influncia de S. Toms.
Quando vivo ainda, S. Toms j suscitava ao mesmo tempo
discpulos fervorosos e adversrios decididos. Na prpria Ordem
dos Pregadores, a resistncia sua doutrina foi suficientemente
sria para que um personagem to importante como ROBERT
KILWARDBY arcebispo de Canturia, ousasse condenar algumas de
suas teses. Entretanto, a maioria de seus irmos em religio no
tardaram em se declarar de seu lado, e, desde o fim do sculo XIII,
os Captulos Gerais Dominicanos tomaram oficialmente posio a
seu favor. Fora da Ordem, no faltam tambm testemunhos mais
laudativos, entre les, notadamente, o de GIL DE ROMA, mestre
geral dos Eremitas de santo Agostinho, discpulo alis bastante
pessoal do mestre. E, logo, o ttulo significativo de Doctor communis
consagrar sua reputao.
A mais viva oposio, no sculo XIII, vem principalmente do grupo
dos telogos, sobretudo franciscanos, que permanecem mais
estritamente ligados tradio agostiniana. A essa oposio, e s
reaes que ela devia suscitar, se liga tda uma literatura polmica,
chamada corretrios, que marca os avanos do pensamento de S.
Toms no curso das dcadas que se seguiram sua morte. Entre
seus partidrios, destacam-se dois inglses, GUILHERME DE
MAKELFIELD e RICHARD KLAPWELL, um mestre de Saint Jacques
chamado JEAN GUIDORT, e o mestre geral da Ordem, HERV DE
NDLEC.
O primeiro comentrio prpriamente dito da Suma teolgica foi feito
por um regente de Toulouse, JEAN CAPROLUS (t 1444), que
escreveu Defensiones theologicae Divi Thomae.
Nesse meio tempo, S. Toms havia sido canonizado por Joo XXII,
em 18 de julho de 1323. Ser declarado Doutor da Igreja universal
por S. Pio V, em 21 de abril de 1557.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-14.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.14.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-14.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.15.
15. Os grandes comentadores de S. Toms e as controvrsias
teolgicas dos sculos XVI e XVII.
Aps um perodo de menor fecundidade, o movimento dos estudos
escolsticos retoma um nvo vigor no incio do sculo XVI. Na
literatura tomista, essa renovao se traduz sobretudo pela
produo de tda uma srie de comentrios da Suma que, pelo
menos nas escolas dominicanas, tornara-se o livro regular de texto.
Os mestres tomistas mais clebres dessa poca so:
A. Mestres dominicanos.
CAIETANO (14681534). Thomas de
Vio, cardeal
Caietano, homem
de uma notvel
atividade
intelectual que
exercia funes de
primeiro plano:
mestre geral dos
Pregadores (15071510) ; e legado do
papa na Alemanha
(1517) . Escreveu
perto de 150 obras
entre as quais 120
opsculos de
teologia.
conhecido
sobretudo pelo
seu comentrio
literal da Suma
onde, com uma
rigorosa preciso
e grande clareza,
se esfora por
seguir com a
maior exatido
possvel, o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-15.htm (1 of 7)2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.15.
pensamento de S.
Toms. Seu
tomismo, muito
ortodoxo no
conjunto, guarda
uma certa
liberdade, com
algumas ousadias.
A obra de
Caietano se
apresenta, em
uma boa parte,
como uma defesa
de S. Toms
contra a
metafsica do
sculo XVI, onde
so visados
notadamente o prnominalismo de
Durando de SaintPourain e a
filosofia de Duns
Scot.
SYLVESTRE DE
FERRARA (14761538), conhecido
sobretudo pelo
seu excelente
comentrio da
Contra Gentiles.
Estimulado por
FRANCISCO DE
VITTORIA (14801546), deveria
surgir, entre os
frades Pregadores
de Salamanca, um
movimento de
pensamento
teolgico tomista
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-15.htm (2 of 7)2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.15.
particularmente
brilhante. Como o
intersse dessa
escola no se
estende
diretamente
filosofia, achamos
suficiente apenas
alinhar, aqui, os
nomes de seus
principais
mestres: Melchior
Cano (1509-1560);
Domingos Soto
(1494-1560); Pedro
de Soto (15181563 ) ;
Bartolomeu de
Medina (15281580); Domingos
Banes (15281604 ) .
Um lugar parte
deve ser dado
aqui a JOO DE
SO TOMS (15891644) que, alm de
um Cursos
theologicus
aprecivel, deixou
um Cursos
philosophicus
onde se encontra
uma exposio
metdica e
relativamente
completa da
filosofia
especulativa.
Discpulo
incontestvelmente
fiel e profundo de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-15.htm (3 of 7)2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.15.
S. Toms, le no
teme desenvolver
o pensamento do
mestre, mesmo
em pontos onde
le foi menos
explicito. Em
filosofia tomista,
ser sempre de
grande proveito
consult-lo, com a
condio de no
se atribuir
uniformemente ao
mestre o que foi
dito pelo seu
comentador.
B. Mestres jesutas.
Tendo S.
Incio
determinado
aos seus
filhos que
seguissem,
no sem
guardar uma
certa
liberdade, o
pensamento
do Doutor
Anglico, no
tardou que
nascesse
entre os
jesutas um
importante
movimento de
filosofia e de
teologia
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-15.htm (4 of 7)2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.15.
tomista. Entre
os nomes que
ilustram sse
movimento,
devem ser
citados
particularmente
os de:
FRANCISCO
TOLET (15321596), LUS
MOLINA (15361600),
GABRIEL
VASQUEZ
(1551-1604),
LONARDO
LESSIUS (15541623).
Em filosofia
deve ser
lembrado
sobretudo o
nome de
FRANCISCO
SUAREZ (15481617) .
Professor na
clebre
universidade
portugusa de
Coimbra, autor
de numerosas
obras, Suarei
escreveu o
primeiro
grande tratado
escolstico de
metafsica,
independente
do texto de
Aristteles,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-15.htm (5 of 7)2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.15.
suas
Disputationes
metaphysicae.
Esprito
conciliante, le
se esfora por
seguir um
caminho
mdio, onde,
apesar de se
inspirar em S.
Toms, no
teme acolher
algumas idias
de origem
scotista ou
nominalista.
Seu ecletismo
bem informado
e claro, teve
uma imensa
influncia
sbre o ensino
posterior da
escolstica.
Apesar de
tudo Suarei
representa um
tomismo, se
no alienado,
pelo menos
fraco e diludo.
C. Mestres carmelitas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-15.htm (6 of 7)2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.15.
Do ponto de vista
da teologia
tomista, um lugar
notvel caberia
aos Carmelitas
de Salamanca, os
"Salmanticenses",
devido ao
importante
Cursos
theologicus que
les organizaram.
Os 20 volumes
dessa obra,
escrita entre 1631
e 1701, so 0
fruto da
colaborao de
quatro ou cinco
professres.
Esse cursos, um
pouco prolixo e
difuso, , no
conjunto, fiel a S.
Toms. Algumas
de suas teses,
entretanto, so
pessoais.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-15.htm (7 of 7)2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.16.
16. O movimento tomista contemporneo.
E sabido que, aps um perodo de recolhimento no sculo XVIII 'e no
incio do sculo XIX, a vida intelectual foi retomada com intensidade
na Igreja. Em um documento que teve grandes repercusses, a
encclica Aeterni Patris(1879), o papa Leo XIII aconselhou um
retrno a S. Toms. Foge de nossa pretenso apresentar, a no ser
sob a forma de um esbo, a histria de um movimento de
pensamento que at hoje agita profundamente a Igreja
contempornea. Seus resultados doutrinais, que logo vieram se
acrescentar aos de pesquisas histricas e crticas cada vez mais
ativas, tm sido incontestvelmente muito considerveis.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-16.htm2006-06-01 12:18:33
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.17.
17. Obras de S. Toms.
Alm da edio Piana (1570-1571), que a primeira coleo das
Opera omnia, devem-se destacar as duas outras colees completas
atualmente em uso:
-a
edio
chamada
de
Parma
(18621873 ),
em 25
volumes
e
-a
edio
Vivs,
de
Paris,
(18711880 e
18891890)
em 34
volumes.
A edio crtica definitiva ser a Leonina, da qual smente 16
volumes, contendo as duas Sumas e os comentrios lgicos e
fsicos, apareceram at esta data. A Suma teolgica vem
acompanhada do comentrio de Caietano. A Contra Gentiles, vem
acompanhada do Comentrio de Sylvestre de Ferrara.
Edies parciais de grande nmero de obras de S. Toms se acham
seja em Lethielleux (Paris), seja em Marietti (Turin).
Com relao s tradues francesas, necessrio assinalar pelo
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-17.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:34
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.17.
menos o conjunto da Suma teolgica da edio da Rvue des
Jeunes (60 volumes aproximadamente j lanados ou em fase de
acabamento: texto, traduo, notas explicativas.)
Com relao a Aristteles, o leitor poder consultar as tradues
francesas de TRICOT (Paris, Vrin) que so suficientes (Escritos
Lgicos, De anima, Metafisica, alguns escritos fsicos).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-17.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:34
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.18.
18. Exposies gerais da filosofia de S. Toms.
Para uma iniciao geral, recomendam-se em primeiro lugar, em
francs, as obras dos trs mestres universalmente reconhecidos:
A. - D.
SERTILLANGES,
diversos
trabalhos e
particularmente
Saint Thomas
d'Aquin (2 vol.,
28 d., Paris,
Aubier, 1940).
J. MARITAIN,
Elments de
philosophie: I ,
Introduction; II,
L'ordre des
concepts
(Paris, Tqui,
1920-1923) e a
sntese do
conjunto que
constitui Les
degrs du
savoir (Paris,
Descle de
Brouwer, 1935).
E. GILSON, Le
Thomisme
(Paris, Vrin, 50
d. 1944).
Entre os manuais de filosofia tomista em francs basta assinalar: o
Trait de Philosophie de R. JOLIVET (I, Logique et Cosmologie; II,
Psychologie; III, Mtaphysique; IV, Morale) (Lyon, Vitte, 1939 e seg.)
e o Manuel de Philosophie thomiste de H. COLLIN, reeditado por R.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-18.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:34
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.18.
TERRIBILINI (I, Logique, Ontologie, Esthtique; II, Psychologie:
Paris, Tqui, 1949-1950).
A Universidade de Louvain iniciou a publicao de um conjunto de
cursos de inspirao tomista. O iniciante teria proveito em consultar
sobretudo: l'Introduction la Philosophie, de L. DE RAEYMAEKER
(Ire d., Louvain, 1938).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-18.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:34
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.0, C.19.
19. Tbuas e repertrios.
Existe uma tbua ideolgica da obra de S. Toms, a Tabula aurea de
ALBERTO DE BERGAMO (os 2 ltimos vol. da ed. Vivs).
Para a bibliografia geral relativa ao tomismo, cf. MANDONNET e
DESTREZ, Bibliographie Thomiste, (Paris, 1921). - Desde 1923, o
Bulletin thomiste (Le Saulchoir) d uma bibliografia lgica e crtica
de tdas as publicaes relativas a S. Toms e sua doutrina.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA0-19.htm2006-06-01 12:18:34
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.1.
II
NOO GERAL DE FILOSOFIA
1. Natureza da Filosofia.
Em seu sentido mais geral, a filosofia no seno o que comumente
se entende por sabedoria. A denominao mesma de filosofia
remontaria a Pitgoras que, por modstia, e considerando que a
sabedoria prpriamente s poderia convir a Deus, teria reivindicado
somente o ttulo de "philosophos", isto , amigo da sabedoria.
A acreditarmos no que est escrito no incio da Metafsica, a busca
filosfica teria como origem o desejo inato de saber, desejo que se
traduz pela surprsa ou admirao que se sente diante das coisas
que ainda no se sabe e que se deseja compreender. Partindo desta
constatao, vamos explicitar, com Aristteles, a noo de filosofia,
distinguindo-a progressivamente das outras grandes formas do
saber, quais sejam o conhecimento comum e experimental, as
cincias e a teologia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-1.htm2006-06-01 12:18:34
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.2.
2. Filosofia e experincia.
Em um grau inteiramente inferior do conhecimento, observa
Aristteles (Metaf., A. C. I, 980 a 19), encontramos a sensao, tipo
de conhecimento que temos em comum com os animais. Estes j
tm uma perfeio mais ou menos grande segundo a sensao se
acompanhe ou no de memria. Da memria, com efeito, nasce, por
acumulao de lembranas, a experincia.
Com o homem, ns nos elevamos mais alto, at ao nvel da arte e do
raciocnio. A arte aparece quando, de uma multido de noes
experimentais, se desprende um nico julgamento universal
aplicvel a todos os casos semelhantes. Com efeito, formar o
julgamento de que tal remdio aliviou Cllias, atingido por tal
doena, depois Scrates, depois vrios outros individualmente
considerados, o fato da experincia. Porm declarar que tal
remdio aliviou a todos os indivduos atingidos pela mesma doena,
isto j pertence arte. Com a arte ns estamos no plano do
conhecimento verdadeiramente racional, que se distingue do grau
inferior do saber, nisso que o homem no se contenta mais em
constatar simplesmente a existncia dos fatos, mas procura-lhe
tambm a razo explicativa ou a causa. A cincia, que se encontra
no mesmo nvel, acrescenta arte o carter de conhecimento
desinteressado. O sbio busca o saber pelo saber, e sem se
preocupar diretamente com sua utilidade ou aceitao.
Destas consideraes resulta que a filosofia, que eminentemente
cincia, um conhecimento pelas causas:
"Philosophia
est cognitio
per
causas".
Na mesma ordem de idias procurou-se, hoje, precisar as relaes
da filosofia com o senso comum, que tambm uma forma no
cientificamente elaborada de conhecimento. Basta reproduzir aqui a
concluso do estudo que Maritain consagrou a sse assunto
(lements de Philosophie thomiste, 1. Introduction gnrale Ia
philosophie, pp. 87-94) : "A filosofia no fundamentada sbre a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.2.
autoridade do senso comum tomado como consenso geral ou como
instinto comum da humanidade, ela deriva todavia do senso comum
se se considera nle a inteligncia dos princpios imediatamente
evidentes. Ela superior ao senso comum como o estado perfeito
ou "cientfico" de um conhecimento verdadeiro superior ao estado
imperfeito ou "vulgar" dste mesmo conhecimento. Todavia, a
filosofia pode ser, por acidente, julgada pelo senso comum".
Exprimindo-se assim, Maritain entende colocar a filosofia tomista, na
qual le pensa, entre as afirmaes simplistas da escola escocesa, e
algumas pretenses da crtica moderna. A filosofia no tem de
buscar outro fundamento seno ela mesma, sendo ela o estado
superior e cientfico da possesso dos princpios. Todavia, ela est
em acrdo e em continuidade com o conhecimento vulgar dsses
mesmos princpios. Disto pode-se concluir, como precedentemente,
que a filosofia se distingue das formas comuns do saber pelo seu
carter de cincia ou de conhecimento explicativo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.3.
3. Filosofia e cincias.
A filosofia uma cincia, mas h outras disciplinas que merecem
ste ttulo: a matemtica ou a fsica, por exemplo. Como estas
formas de saber se distinguem umas das outras?
Para Aristteles, a diferena procede de que a filosofia no explica
pelas mesmas causas que as cincias particulares. As causas
formam, com efeito, uma ordem, uma hierarquia; existem causas
inferiores e causas de grau mais elevado. Uma vez que eu descobri
uma causa, posso procurar a causa dessa causa, e assim
sucessivamente. . . desta maneira que eu explicaria
sucessivamente o eclipse pela interposio da lua, a interposio
pelas leis mecnicas do sistema solar, estas leis pela gravitao, a
gravitao, talvez, pela estrutura da matria, e a matria por Deus. A
filosofia , nessa linha de procura, a explicao pelas causas mais
elevadas, pelas causas primeiras, quer dizer, por causas que se
bastam a si mesmas e alm das quais nada mais h a procurar. Tal
a razo formal pela qual a filosofia se distingue das cincias
particulares. Rigorosamente falando, esta definio s convm, de
maneira adequada, metafsica. Entretanto, ela pode ser estendida a
todos os domnios do saber, lgica, cosmologia, psicologia etc., por
onde, independentemente do caminho trilhado, se tem acesso
tambm ao nvel superior de explicao.
Pode-se observar, alis, que as causas mais elevadas so ao mesmo
tempo as mais universais: a gravitao, por exemplo, explica mais
fatos do que tal lei particular de mecnica celeste e Deus, que est
no pice, explica tudo. Portanto, absolutamente nada h que no
esteja compreendido no objeto da filosofia, a qual tem, desta forma,
o mximo de extenso. Assim que podemos dizer, em concluso,
que "a filosofia o conhecimento pelas causas primeiras e
universais":
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-3.htm (1 of 5)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.3.
"Sapientia
est
cognitio
per primas
et
universales
causas".
Encontrar-se- uma exposio desenvolvida desta doutrina no incio
da Metafsica (A, C. 1-2; cf. Coment. de S. T., 1, 1. 1-3) . Ela se acha
excelentemente condensada neste texto da Suma contra os Gentios
(III, e. 25):
"H em todo
homem um
desejo
natural de
conhecer a
causa
daquilo que
percebe. ,
portanto, em
conseqncia
da
admirao
sentida em
face dos
objetos, mas
cuja causa
lhe
permanece
escondida,
que o
homem se
pe a
filosofar.
Uma vez
descoberta a
causa, seu
esprito se
tranqiliza.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-3.htm (2 of 5)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.3.
Mas a busca
no cessa
at que se
tenha
chegado
primeira
causa,
porque s
quando esta
conhecida
que se
considera
conhecer de
uma maneira
perfeita."
"Naturaliter
inest omnibus
hominibus
desiderium
cognoscendi
causas eorum
quae videntur:
unde propter
admirationem
eorum quae
videbantur,
quorum causa
latebant,
homines
primo
philosophari
caeperunt;
invenientes
causam
quiescebant.
Nec sistit
inquisitio
quousque
perveniamus
ad primam
causam, et
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-3.htm (3 of 5)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.3.
tunc perfecte
nos scire
arbitramur
quando
primam
causam
cognoscimus".
Tendo distinguido filosofia e cincias, resta-nos precisar suas
respectivas relaes. Esta questo, por demais complexa, no pode
ser convenientemente elucidada em uma simples introduo.
Digamos em sntese que, por um lado, a filosofia, a ttulo de
sabedoria, tem um certo poder de organizao superior, e mesmo de
apreciao dos resultados, ou de julgamento, em face das cincias
inferiores; e que, por outro lado, estas cincias guardam no interior
de seu domnio prprio sua autonomia, quanto ao mtodo que
empregam e sua realizao. Esta soluo, observa Maritain, ainda
um meio-trmo entre as afirmaes extremas daqueles que colocam,
como Descartes, as cincias particulares em continuidade imediata
com a filosofia, e daqueles para quem a filosofia nada teria de
comum com as cincias.
De fato, a linha de diviso da filosofia e das cincias est longe de
permanecer constante. Na antigidade e na Idade Mdia, a filosofia
teve tendncia a absorver o conjunto dos conhecimentos cientficos.
Tdas as cincias da natureza lhe pertenciam. Smente as
matemticas e, em um outro domnio, as artes tcnicas, podiam se
prevalecer de uma existncia relativamente independente. No corpo
unificado do saber cientfico, a metafsica tem evidentemente um
lugar eminente, pois ela constitui a Filosofia primeira, a fsica tendo
por sua vez, em Aristteles, o lugar de Filosofia segunda. Depois da
Renascena o saber ficou mais fragmentado. Ao lado dos filsofos,
aparecem os sbios, no sentido moderno da palavra e,
independentemente da filosofia, se multiplicam disciplinas
particulares pretendendo estabelecer-se por si mesmas. Depois das
matemticas, foram em seguida as cincias da natureza que
reivindicaram um estatuto autnomo. Hoje, com a constituio de
uma psicologia ou de uma sociologia cientfica, a especializao
atingiu o prprio domnio das coisas do esprito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-3.htm (4 of 5)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.3.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-3.htm (5 of 5)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.4.
4. Filosofia e Teologia.
A filosofia sempre reivindicou as prerrogativas de cincia suprema,
de uma sabedoria, sapientia. Porm os cristos conhecem uma
outra sabedoria que para les tem mesmo mais valor, a teologia.
Haveria, portanto, duas sabedorias?
Em princpio, no pode haver e no h seno uma nica Sabedoria,
que a de Deus. Mas como h, do ponto de vista da criatura, duas
ordens, a ordem natural e a ordem sobrenatural, deve-se
reconhecer, do lado do homem, a existncia de duas cincias
supremas correspondentes, a sabedoria natural e a sabedoria
sobrenatural. O que distingue formalmente estas duas sabedorias
sua luz, o lumen: a primeira, a filosofia, est sob o lumen rationis, e
a segunda, a teologia, sob o lumen lidei. A filosofia considera as
verdades enquanto elas so acessveis razo, e a teologia
enquanto reveladas) Disto resulta que, tendo sua luz e, portanto,
seus princpios prprios, a filosofia uma cincia autnoma e que,
remontando at causa primeira, ela bem merece o ttulo de
sabedoria. Entretanto, ela no deixa de ser inferior teologia,
porque s indiretamente atinge Deus, a partir das criaturas, e
sobretudo porque o lumen rationis menos elevado que o lumen
lidei.
Provindo de uma mesma fonte, que a Sabedoria divina, e tendo
objetos que parcialmente coincidem (algumas verdades so comuns
razo e f), filosofia e teologia tm necessriamente relaes
recprocas. Trs afirmaes principais podem explicit-las.
Existe harmonia entre as duas sabedorias. Devido sua origem
comum que a Sabedoria divina, filosofia e teologia no podem se
contradizer em face de um mesmo objeto. No h duas verdades,
como sustentaram mais ou menos abertamente os averroistas ou,
como se diz de maneira corrente, existe acrdo entre a razo e a f.
A teologia tem um poder extrnseco de regncia sbre a filosofia. A
ttulo de sabedoria suprema, a teologia pode exercer e de fato tem
exercido uma dupla influncia sbre a filosofia. Uma influncia
positiva antes de tudo, de direo, na medida em que ela prope
filosofia problemas ou solues de ordem filosfica, e sbre os
quais os filsofos no tinham pensado. Foi assim, por exemplo, que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-4.htm (1 of 4)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.4.
histricamente, o problema da criao e a afirmao correlativa da.
dependncia absoluta das criaturas com relao a Deus, entraram
no plano da especulao racional. Deve-se, entretanto, especificar
que esta influncia de direo, por mais real e eficaz que seja,
permanece de alguma forma exterior filosofia, que possui seus
princpios e seu mtodo prprio. - Uma influncia negativa de
salvaguarda. Sem ter de intervir no prprio processo da reflexo
filosfica, a teologia tem, a ttulo de sabedoria suprema, o direito de
julgar as concluses desta, e portanto, de as declarar falsas se elas
so manifestamente contrrias a seus dados mais certos. ste poder
pertence evidentemente teologia, nicamente na medida em que as
proposies filosficas tenham qualquer relao com o dado
revelado.
A filosofia fornece teologia seu instrumento racional.
A filosofia, por sua vez, presta servio teologia assegurando-lhe o
conjunto dos instrumentos racionais que lhe so necessrios para
se constituir em cincia. Como nesta funo ela permanece,
entretanto, sempre subordinada cincia do revelado, diz-se-que ela
age a ttulo de serva da teologia, ancilla theologiae.
ste problema das relaes entre a filosofia e a teologia, que aqui
no pudemos seno aflorar, foi objeto de uma reflexo contnua no
curso da histria do pensamento cristo, e no podia deixar de ser
assim, uma vez que o esprito humano se via solicitado pelos dois
lados ao mesmo tempo.
At o sculo XIII, o pensamento cristo ocidental foi sobretudo
representado por esta grande corrente de especulaes que,
remontando ao doutor de Hippone, conhecida sob o nome de
agostinismo. Pensava-se ento como telogo, ou como cristo,
utilizando-se evidentemente dos recursos do pensamento racional,
mas sem se ter a preocupao de desenvolver sistemticamente a
ste. A teologia absorvia de certa forma a filosofia, a tal ponto que o
limite dos dois saberes permanecia um pouco incerto. - A
descoberta, no sculo XIII, da fsica e da metafsica de Aristteles,
colocando os cristos pela primeira vez em face de um poderoso
sistema racional foi ocasio para uma grande perturbao nos
espritos. O problema das relaes entre as duas sabedorias surgiu,
ento, e de maneira por demais aguda. S. Toms iria superar essa
crise dando, de maneira muito clara filosofia, seu estatuto
autnomo de cincia, sem por isso, evidentemente, subtra-Ia
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-4.htm (2 of 4)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.4.
regulamentao suprema da sabedoria revelada. - No sem
intersse assinalar que, hoje, essa questo tem sido de nvo objeto
de vivas discusses na Frana, discusses suscitadas por estudos
de Brhier que pretende sustentar, sem razo, que a filosofia
medieval no era uma verdadeira filosofia, uma vez que havia: sido
elaborada sob o domnio do dogma. (cf. sbre ste debate, La
philosophie chrtienne, Juvisy, 1933).
Juntando um a um todos os elementos que acabamos de explicitar,
distinguindo sucessivamente a filosofia da experincia, das cincias
e da teologia, chegamos a uma frmula, desta vez completa:
"A filosofia
o
conhecimento,
pelas causas
primeiras e
mais
universais,
obtido luz
da razo
natural" .
...
Philosophia
est
cognitio
per primas
et
universales
causas
sub lumine
naturali
rationis.
Uma ltima dificuldade se coloca. At aqui temos considerado a
filosofia sobretudo sob o seu aspecto de conhecimento
desinteressado ou de cincia especulativa. No vemos porm nela,
de maneira corrente, tambm uma arte de viver, quer dizer, uma
cincia essencialmente prtica? No h nela, por ste fato, uma
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-4.htm (3 of 4)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.4.
dualidade de objeto, comprometendo necessriamente a unidade do
saber? - Responderemos a esta dificuldade fazendo observar que o
princpio ltimo da ordem especulativa , ao mesmo tempo,
princpio primeiro da ordem prtica. Nle, tdas as linhas de
causalidade e de explicao se encontram. Deus, concretamente,
ao mesmo tempo causa do ser e do agir que nle encontram, um e
outro, sua razo de ser. No h, portanto, seno uma s sabedoria
que , ao mesmo tempo, especulativa e prtica. Precisemos,
entretanto, que nas condies de fato do destino do homem, que
sobrenatural, a filosofia moral, por si mesma, incapaz de
determinar o fim ltimo da vida e de indicar os meios que permitiro
eficazmente atingi-lo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-4.htm (4 of 4)2006-06-01 12:18:35
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.5.
5. Diviso segundo Aristteles e S. Toms.
Aristteles e, em seguida, S. Toms nos deixaram uma teoria da
organizao do saber que, a despeito de algumas incertezas,
slida em suas grandes linhas.
A diviso mais geral do saber a que se encontra na Metafsica (E,
c. I), exposta tambm em outros lugares: cincias especulativas,
prticas e tcnicas (literalmente "poiticas", de poiein, fazer). As
cincias especulativas ou teorticas so aquelas que no tm outro
fim seno o puro conhecimento. As cincias prticas e as cincias
tcnicas so ordenadas ao. As cincias prticas concernem
ao humana ou moral (ao imanente, dir-se-, porque tal ao no
sai do sujeito) e, as tcnicas, atividade exterior ou fabricao
(ao transitiva, quer dizer que sai do sujeito para um objeto). Essas
cincias tcnicas so, no sentido mais geral dado aqui a ste trmo,
as artes. Assim aparecem, em Aristteles, as divises supremas do
saber. Como se v, o ponto de vista da finalidade do saber que as
diferencia.
S. Toms adotou essa diviso geral unificando, s vzes, os dois
ltimos grupos, uma vez que, um e outro tendo uma finalidade
prtica, tm uma afinidade particular. Porm no primeiro livro de seu
comentrio sbre as ticas, em um texto notvel, le distingue uma
quarta ordem de conhecimentos filosficos, a rationalis philosophia
(lgica). Aristteles no a havia mencionado em sua classificao,
sem dvida porque a considerava mais como o instrumento geral,
organon, da filosofia, do que como uma uma de suas partes. De
qualquer forma, eis o que diz S. Toms:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-5.htm (1 of 8)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.5.
" prprio do
sbio pr
ordem nas
coisas.
A razo disso
que a
sabedoria a
perfeio
suprema da
razo e o
prprio da
razo
conhecer a
ordem...
Ora, uma
ordem pode
relacionar-se
com a razo
de quatro
maneiras
diferentes.
H uma
ordem que a
razo no
estabelece,
mas apenas
conhece e
considera:
a ordem das
coisas da
natureza.
H uma outra
que a prpria
razo, ao
mesmo
tempo que a
conhece, a
estabelece
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-5.htm (2 of 8)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.5.
(considerando
facit), dentro
de sua
prpria
atividade:
quando, por
exemplo, ela
ordena seus
conceitos
uns com
relao aos
outros, bem
como os
smbolos
dsses
conceitos,
que so
palavras
dotadas de
significao.
A terceira
ordem
aquela em
que a razo,
ao mesmo
tempo que a
conhece, a
estabelece,
desta vez nas
operaes da
vontade.
A quarta
ordem, enfim,
a que a
razo, ao
mesmo
tempo que
conhece,
estabelece,
nas coisas
exteriores de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-5.htm (3 of 8)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.5.
que ela
prpria
causa: um
armrio, uma
casa, por
exemplo.
Ora, como a
atividade da
razo s se
torna perfeita
por um
hbito,
conclui-se
que as
diversas
cincias se
dividem
exatamente
segundo
essas
diferentes
ordens que a
razo
considera
como algo
que lhe
prprio.
Com efeito,
cabe
filosofia da
natureza
tomar como
objeto a
ordem que a
razo
humana
considera
mas no
estabelece.
A ordem que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-5.htm (4 of 8)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.5.
a razo
humana
conhece e
estabelece
em seu
prprio ato,
constitui a
filosofia
racional
(lgica)...
A ordem das
aes
voluntrias
pertence s
especulaes
da filosofia
moral...
A ordem,
finalmente,
que a razo
estabelece
quando
conhece, nas
coisas que
lhes so
exteriores,
constitui as
artes
mecnicas".
Deixando de lado o caso da lgica, que pode ser encarado seja
como instrumento de tda a filosofia (Aristteles, habitualmente),
seja como uma cincia especial (S. Toms no texto precedente), ste
quadro corresponde bem diviso tripartida clssica do
aristotelismo, e ns poderemos, em definitivo, adotar a classificao
seguinte:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-5.htm (5 of 8)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.5.
Rationalis
philosophia
vel Logica
(Cincia ou
Organon)
Philosophia
speculativa
Philosophia
practica
(Activa:
Moralis
philosophia;
Factiva:
Artes)
No menos importante a subdiviso, feita por Aristteles, das
cincias teorticas ou especulativas em trs partes, segundo o que
se chama os trs graus de abstrao. Essa diviso no tem por
princpio a distino exterior ou material dos objetos, mas uma
distino de estrutura inteligvel ou notica: o grau de
imaterialidade. Quanto mais um objeto de cincia imaterial, quer
dizer, elevado acima das condies da matria, mais le inteligvel
em si, mais o conhecimento que se tem dle de um grau elevado.
Na filosofia de S. Toms, o fundamento profundo e a razo prpria
da inteligibilidade como, alis, da capacidade intelectual, a
imaterialidade. Os homens, assim, so mais elevados do que os
animais na escala dos sres dotados de conhecimento. E os anjos,
por sua vez, o so mais do que os homens.
Isto psto, vejamos como se definem os trs graus de abstrao e,
por ste mesmo fato, as trs grandes partes da filosofia terica que
lhes correspondem. O primeiro esfro da inteligncia abstrativa
consiste em considerar as coisas sensveis independentemente de
seus caracteres individuais: o homem, por exemplo, sem o que
prprio a cada homem em particular. Neste caso, eu abstraio de "tal
matria" ou da "matria individual", a matria signata vel individuali,
conservando os caracteres sensveis comuns, materia sensibilis. A
ste primeiro grau de abstrao corresponde a filosofia da natureza
ou cosmologia, a fsica de Aristteles. O segundo esfro da
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-5.htm (6 of 8)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.5.
inteligncia abstrativa consiste em considerar as coisas
independentemente de suas qualidades sensveis e de seus
movimentos, para reter to smente as determinaes de ordem
quantitativa, figura geomtrica, relaes numricas, etc . . . Mantmse, entretanto, ainda neste nvel, o que na matria se relaciona com a
ordem quantitativa: a matria inteligvel, materia intelligibilis. A ste
segundo grau de abstrao correspondem as cincias matemticas.
Finalmente, a inteligncia abstrativa considera as coisas
independentemente de tda matria, no retendo seno as suas
determinaes absolutamente imateriais: abstrao separativa da
matria inteligvel e do movimento: a materia intelligibili et motu. Ao
terceiro grau de abstrao corresponde a metafsica (filosofia
primeira ou teologia conforme as designaes de Aristteles). E S.
Toms conclui (Metafsica, VI, 1. 1, n.o 1166):
"H,
portanto,
trs partes
na filosofia
teortica: a
matemtica,
a fsica e a
teologia,
que a
filosofia
primeira".
"... tres ergo
sunt partes
philosophiae
theoricae,
scilicet
mathematica,
physica et
theologia
quae est
philosophia
prima."
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-5.htm (7 of 8)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.5.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-5.htm (8 of 8)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.6.
6. As classificaes modernas e a Escolstica.
Na filosofia moderna, a questo da classificao das cincias se
complicou e se desenvolveu considervelmente. Est inteiramente
fora de nossas pretenses nos determos na histria desta
renovao. Entretanto, no podemos aqui nos desinteressar
totalmente de algumas concepes que, provindo de sistemas mais
recentes, acabaram por agir de modo bastante profundo sbre a
doutrina tradicional que expusemos, resultando numa verdadeira
transformao desta.
Na origem da evoluo a respeito da qual vamos falar, deve ser
lembrada a influncia principal da classificao do filsofo alemo
Wolff (sculo XVIII). Wolff, em seus famosos manuais, distinguia
inicialmente trs grandes gneros de conhecimento: o
conhecimento histrico (experimental), o conhecimento filosfico e
o conhecimento matemtico. As matemticas se viam assim
excludas da filosofia. Depois, considerando que nossa alma tem
duas faculdades principais, a inteligncia e a vontade, e que elas
podem igualmente falhar, le designa duas outras partes da filosofia
para dirigi-Ia: a lgica, para a razo, e a filosofia prtica para a
vontade. Finalmente, observando que existem noes gerais
comuns a tda a filosofia, le coloca ainda parte uma seco
especial, a ontologia. As principais partes da filosofia so portanto,
na ordem em que convm estud-las: a lgica, a ontologia, a fsica, a
cosmologia, a teologia natural, a filosofia prtica. Haveria muito a
dizer a respeito desta classificao e sbre os princpios que a
inspiraram. Basta aqui observar que ela introduz duas importantes
inovaes: a diviso da fsica em uma cosmologia e em uma
psicologia nitidamente separadas, e a da metafsica em ontologia e
em teodicia. Da por diante, numerosos manuais, mesmo em
filosofia aristotlica, adotaro essas subdivises e sses ttulos.
Na poca contempornea, novos domnios do saber filosfico
tiveram a tendncia de se constituir de maneira independente;
pensamos especialmente na sociologia, que muito se desenvolveu
e, na teoria crtica do conhecimento. Ainda aqui, a escolstica julgou
dever-se mostrar receptiva.
Que devemos pensar, em tomismo autntico, dessa evoluo da
classificao recebida dos antigos? Certamente, nada impede que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.1, C.6.
se faam subdivises e mesmo que se multipliquem nos grandes
planos do saber; porm, algumas destas subdivises podem ser
feitas de uma maneira inoportuna, correndo o risco de comprometer
a solidez do edifcio.
No h dvida, por exemplo, de que a constituio universalmente
recebida agora, de uma psicologia separada da filosofia da natureza,
se ela se justifica, tem o inconveniente de encobrir a continuidade
no menos real destas duas disciplinas. De conseqncia mais
deplorvel ainda, apresenta-se o desmembramento da metafsica, a
nica sabedoria dos antigos, em ontologia, teodicia e, algumas
vzes, em crtica. Neste ponto pelo menos, o uso, que tem sua
origem em Wolff, deve ser abandonado. Uma nica cincia suprema,
a metafsica, tem valor crtico, e terminando em Deus como em seu
trmo natural. Levando-se em conta essas observaes, pode-se
organizar da maneira seguinte uma exposio moderna da filosofia
de S. Toms:
I. Lgica
(cincia
propedutica)
II. Filosofia
da natureza psicologia
(em
continuidade)
III. Metafsica
(incluindo
Teodicia e
Crtica)
IV. Moral e
Sociologia
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA1-6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.1.
III
INTRODUO LGICA
1. Definio da Lgica.
da natureza do homem dirigir-se pela razo. Porm, esta faculdade
no exerce seu poder de direo apenas sbre atividades que lhe
sejam exteriores e dependam de outras potncias, tais como a
vontade ou a sensibilidade. Ela dirige igualmente os seus prprios
atos e, nesta ao de dirigir como nas outras, ela ajudada por uma
tcnica especial: a arte racional ou Lgica, que a torna apta a
realizar sua tarefa com xito. De uma maneira geral, pode-se definir
esta arte com S. Toms: "a arte que dirige o prprio ato da razo,
quer dizer, que nos faz proceder, neste ato, com ordem, com
facilidade e, sem rros".
"ars...
directiva
ipsius
actus
rationis;
per quam
scilicet
homo in
ipso actu
rationis
ordinate
et
faciliter
et sine
errore
procedat".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.1.
Poster.
Analt.
I, L
1, n 1
Porm a atividade racional, objeto da lgica, interessa a outras
partes da filosofia. Se, por exemplo, eu vier a concluir que a alma
imortal porque, no sendo composta ela incorruptvel, eu toquei
em uma questo metafsica, a da imortalidade da alma, coloquei um
fato de conscincia do qual a psicologia poder reivindicar a anlise,
e, ao mesmo tempo, utilizei as leis lgicas do raciocnio. Estes trs
pontos de vista formalmente distintos se encontram em tda e
qualquer atividade do esprito. , portanto, indispensvel definir a
Lgica com mais preciso a fim de distingu-la da metafsica e
sobretudo da psicologia, com as quais fcilmente se levado a
confundi-la.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:36
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.2.
2. Objeto formal da Lgica.
A definio aquilo que nos manifesta a essncia ou a natureza de
uma coisa, o que ela : quid est. Nos sres da natureza, a definio
designa principalmente a forma, que o princpio de determinao.
A definio das potncias e das disposies que se relacionam com
seu exerccio (tecnicamente, os "habitus") se depreende a partir do
objeto, que representa, na circunstncia, um papel anlogo ao da
forma para as substncias materiais. Diz-se que as potncias e suas
disposies operativas so especificadas por seus objetos, como os
sres da natureza o so por sua forma: potentiae vel habitus
specificantur ab objecto. A vista assim especificada pela cr, a
inteligncia pelo ser, o habitus matemtico pelo ser quantificado.
Isto se deve ao fato de que, potncias e habitus no so, em sua
prpria essncia seno tendncias, e uma tendncia no tem
significao a no ser pelo fim ou pelo objeto para o qual
orientada.
Em filosofia escolstica, distingue-se o objeto material e o objeto
formal. O objeto material constituido pela realidade total que se
encontra em face da potncia ou do habitus: as coisas visveis, por
exemplo, para a vista. O objeto formal o ponto de vista preciso que
visado pela potncia ou pelo habitus: o colorido no exemplo
precedente. S o objeto formal pode servir de princpio de
especificao, uma vez que, uma mesma realidade material pode ser
considerada sob vrios pontos de vista diferentes: o nariz achatado
por exemplo, sob seu aspecto fsico ou segundo sua curva
geomtrica.
Se a lgica pois, uma disposio dessa potncia operativa que a
inteligncia, e portanto um habitus, definir-se-, como as realidades
de sua ordem, ou seja, por seu objeto. E, conseqentemente, por
sse objeto que ela se distinguir das outras disciplinas.
O objeto formal da lgica o ser de razo lgico ou as segundas
intenes.
Vamos explicar, logo de incio, o que se deve entender por ser de
razo. S. Toms (Metaf., IV, 1. 4, n. 547) distingue duas modalidades
essenciais do ser da natureza, ou o ser real, e o ser de razo. O ser
real aqule que existe ou pode existir independentemente de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.2.
qualquer considerao do esprito. O mundo que me rodeia, com
tdas as suas possibilidades efetivas de transformao, pertence
realidade do ser que, pense-se ou no se pense nela, existe. O ser
de razo aqule que, apesar de estar representado maneira de
um ser real, no pode existir independentemente do pensamento
que o concebe. Por exemplo, as privaes, as negaes e um certo
nmero de relaes. O nmero negativo, o gnero animal no
existem, como tais, seno na inteligncia que os representa. Os
escolsticos distinguem ainda o ser de razo fundamentado na
realidade, cum fundamento in re, do ser de razo no fundamentado
na realidade, sine fundamento in re. O primeiro, embora no exista
verdadeiramente seno no esprito, tem um fundamento objetivo; o
segundo seria pura construo subjetiva. O ser de razo se divide
em negaes e relaes. Essa diviso essencial e necessria, pois
o ser de razo s pode ser ou alguma coisa que, por natureza, se
oponha realidade, ou ento esta categoria mais exterior e,
portanto, mais independente da substncia que a relao.
O ser de razo lgico pertence a esta ltima categoria da relao de
razo. Ele designa o objeto de nosso pensamento considerado no
entrelaamento de relaes que le recebe no esprito, pelo fato de
ser le concebido pelo prprio esprito. Se, por exemplo, eu formo
os conceitos de "homem" ou de "animal", stes conceitos,
considerados em sua universalidade, no existem como tais na
realidade. Da mesma forma, se eu pronuncio ste julgamento: "o
homem um animal", o trmo "homem" em sua funo de sujeito, e
o trmo "animal" considerado com predicado, no tm
evidentemente realidade seno no esprito que julga. Observe-se
todavia, que les no so sem fundamento na realidade uma vez que
correspondem a uma ordem real das naturezas e dos indivduos.
Percebe-se melhor, agora, como o ponto de vista prprio da lgica
se distingue do da metafsica e do da psicologia. Como o metafsico,
ou o fsico, o lgico est voltado para o objeto do conhecimento,
porm no o estuda em sua natureza ou em suas propriedades: le o
considera smente segundo a ordem das relaes que se situam na
vida racional. Como o psiclogo, o lgico observa a atividade do
esprito, mas enquanto aqule se detm no aspecto subjetivo do
pensamento ou em sua qualidade fsica, ste no retm seno a
ordem Qbjetiva engendrada por seu prprio funcionamento: ordo
quem ratio considerando facit in proprio actu, diz S. Toms.
Poder-se- dizer, na terminologia escolstica, que a psicologia
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.2.
considera de incio o conceito formal, quer dizer a idia enquanto
atividade do esprito, a metafsica ou a fsica o conceito objetivo em
seu contedo de realidade positiva, enquanto que a lgica considera
igualmente o conceito objetivo, porm enquanto le organizado
pelo pensamento. Assim, no exemplo proposto acima, da
demonstrao da imortalidade da alma, o metafsico se interessar
pela relao de natureza que se associa incorruptibilidade e,
portanto, imortalidade da alma; o psiclogo pelos atos da
inteligncia; o lgico pelas condies formais do concatenamento
dos trs conceitos de alma, considerada como sujeito, de
imortalidade, considerada como predicado, e de incorruptibilidade,
em sua funo de trmo mdio.
Para concluir, diremos, firmados nas explicaes precedentes, que a
metafsica considera o objeto pensado, a psicologia o pensamento
do objeto, e a lgica o objeto do pensamento.
O objeto da lgica tambm freqentemente caracterizado pela
expresso de segundas intenes. Que devemos entender por isto?
As primeiras intenes designam 'nossos conceitos considerados
em sua relao imediata com a realidade, ou em sua aptido para
represent-la; correspondem ao olhar direto do esprito sbre as
coisas. Por segundas intenes, deve-se entender stes mesmos
conceitos nas relaes objetivas que les recebem pelo fato de
serem pensados. O conceito de "homem", por exemplo, considerado
como primeira inteno, exprime a realidade mesma da natureza
humana; a ttulo de segunda inteno, le designa esta natureza
humana no estatuto de idia universal de que ela se revestiu no
esprito. A filosofia da realidade se detm nas primeiras intenes,
enquanto que a lgica vai s segundas intenes que no so outra
coisa seno o ser de razo lgica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.3.
3. A Lgica como cincia e arte.
J tradio fazer a seguinte pergunta: a lgica uma cincia ou
uma arte? Para Aristteles, a cincia o conhecimento
desinteressado pelas causas, cognitio per causas; e a arte, o
conhecimento enquanto regula a atividade exterior, recta rabo
factibilium. No se pode certamente recusar lgica o ttulo de
cincia, uma vez que ela pretende explicar pelas causas, e mesmo
pelas causas as mais elevadas; o silogismo, por exemplo, pode ser
justificado por reduo aos primeiros princpios da vida do esprito.
A lgica nos leva, portanto, a um conhecimento cientfico das
atividades racionais. Entretanto, a lgica tambm, e mesmo de
preferncia, uma arte, porque ela preceptiva e pretende regular a
atividade do esprito. S. Toms, que reconhecia lgica as
prerrogativas e o ttulo de cincia, rationalis scientia, a v de
preferncia em sua funo de arte, considerando-a mesmo a arte por
excelncia, dirigindo as outras artes: ais artium. A denominao de
Organon ou de instrumento, que prevaleceu para designar o corpo
dos escritos lgicos de Aristteles, est dentro do sentido desta
interpretao. A lgica aparece portanto, em definitivo, em
peripatetismo, mais como uma introduo filosofia, como uma
propedutica do que como uma de suas partes integrantes. Tudo o
que acabamos de dizer se deduz claramente dste texto do
Comentrio de S. Toms sbre os Segundos Analticos (I, 1. I, ns 12) do qual j citamos um fragmento:
"...
necessrio
que exista
uma certa
arte que
dirija o
prprio
ato da
razo,
graas
qual o
homem
possa
proceder
neste ato
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-3.htm (1 of 4)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.3.
com
ordem,
facilidade
e sem
rro.
Trata-se
da arte
lgica ou
cincia
racional.
A qual
racional
no
smente
no
sentido
em que
ela
conforme
razo, o
que
comum a
tdas as
artes, mas
tambm
pelo fato
de que ela
se
relaciona
ao prprio
ato da
razo
como
sua
matria
prpria.
Eis
porque,
nos
dirigindo
no ato da
razo, de
onde as
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-3.htm (2 of 4)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.3.
artes
procedem,
ela parece
ser a arte
das
artes."
" ... ars
quaedam
necessaria
est, quae
sit
directiva
ipsius
actus
rationis;
per quam
scilicet
homo in
ipso actu
rationis
ordinate et
faciliter et
sine errore
procedat.
Et haec est
ars logica,
id est
rationalis
scientia.
Quae non
solum
rationalis
est ex hoc
quod est
secundum
rationem,
quod est
omnibus
artibus
commune;
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-3.htm (3 of 4)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.3.
sed etiam
ex hoc
quod est
circa
ipsum
actum
rationis
sicut circa
propriam
materiam.
Et ideo
videtur
esse ars
artium;
quia in
actu
rationis
nos dirigit,
a quo
ommes
artes
procedunt."
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-3.htm (4 of 4)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.4.
4. As trs operaes do esprito.
A lgica, como se viu, a cincia e a arte da atividade racional do
esprito. O ato prprio dessa atividade o raciocnio, quer dizer, o
"discurso" organizado pelo qual se avana no conhecimento da
verdade. Porm, h outros atos ou outras operaes que entram
como elementos na estrutura do raciocnio. A primeira tarefa que se
impe a de distinguir e de definir essas diversas atividades, o que
nos assegurar um primeiro princpio de diviso de nossa cincia.
Uma anlise elementar permite distinguir trs operaes do esprito.
A simples apreenso, ato simples do esprito, dirigida para um
objeto simples ou concebido como tal. a atividade elementar da
vida do pensamento, aquela pela qual se apreendem noes simples
tais como: "homem", "quadrpede", "branco".
O julgamento, ato igualmente indiviso, mas aplicado sbre um
objeto complexo: nome-verbo, ou sujeito-cpula-predicado. Ex.: "a
chuva cai", "ste muro branco". No h julgamento sem que haja
pelo menos dois trmos presentes, mas o julgamento nem por isto
deixa de ser uma atividade simples, uma vez que le a afirmao
ou a negao da prpria unidade dsses dois trmos. S. Toms
designa habitualmente essa operao pelas significativas
expresses de "compositio" e de "divisio", segundo o julgamento
seja afirmativo ou negativo.
O raciocnio, principal objeto da lgica, um ato complexo, aplicado
sbre uma matria complexa. essencialmente, uma marcha, um
progresso do esprito, a partir de verdades reconhecidas, para a
aquisio de novas verdades. Vejamos, por exemplo, ste raciocnio
disposto em silogismo:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-4.htm (1 of 5)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.4.
Todo
ser
que se
dirige
pela
razo
livre.
Ora, o
homem
se
dirige
pela
razo.
Logo
o
homem
livre.
visvel que de duas verdades reconhecidas nas duas primeiras
proposies eu passo aquisio de uma terceira verdade, que se
acha expressa na concluso.
Tais so as trs operaes do esprito. fcil reconhecer que o
raciocnio, terceira operao do esprito, constitudo
essencialmente de julgamentos, segunda operao do esprito, e
que stes, por sua vez, tm como elementos simples apreenses, a
primeira operao do esprito.
Alguns lgicos modernos, impressionados pelo lugar
excepcionalmente importante que o julgamento tem na vida do
esprito, pretenderam fazer dle a atividade elementar e primeira do
pensamento. Segundo essa concepo, a primeira operao do
esprito desaparece, ou pelo menos aparece smente como uma
diviso abstrata do julgamento, que fica smente le, como um ato
real e completo. - Temos de reconhecer, com sses lgicos que o
julgamento constitui, sob um certo ponto de vista, a atividade mais
perfeita do esprito. O prprio raciocnio tem como trmo um
julgamento-concluso. Porm no menos verdade que,
anteriormente ao julgamento, a simples apreenso permanece a
atividade elementar do pensamento, e uma atividade
psicolgicamente discernvel. O julgamento, com efeito,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-4.htm (2 of 5)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.4.
essencialmente uma sntese de dois trmos preexistentes. Como
que essa sntese poderia ter uma realidade se os trmos que ela
pressupe no foram apreendidos anteriormente?
Se se levam em conta as distines que acabamos de estabelecer,
poder-se- dividir a lgica em trs partes, correspondendo cada uma
delas a uma das trs operaes do esprito, e das quais as duas
primeiras sero como uma introduo terceira:
Lgica da
simples
apreenso
Lgica do
julgamento
Lgica do
raciocnio
Essa diviso corresponde prpria ordem do Organon de
Aristteles que trata: nas Categorias, da simples apreenso; no
Perihermeneias, do julgamento; e nos Analticos e livros seguintes,
do raciocnio (cf. S. Toms, II Analticos, I, 1. 3, ns 4-6, e
Perihermeneias, I, 1. 1, n.os 1-2). Eis aqui ste ltimo texto, que traz
um bom resumo do que acabamos de dizer:
" ... existe uma dupla
operao da inteligncia:
por uma, denominada
"inteleco dos
indivisveis" (indivisibilium
inteligentia), essa
faculdade percebe a
essncia de cada coisa,
nela mesma.
A outra operao a da
inteligncia que compe e
que divide.
Deve-se acrescentar uma
terceira operao, a do
raciocnio, pela qual a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-4.htm (3 of 5)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.4.
razo, partindo do que
conhecido, vai procura
do que desconhecido.
Dessas operaes, a
primeira ordenada para
a segunda, visto que no
pode haver composio e
diviso seno entre
objetos de simples
apreenso.
A segunda, por sua vez,
ordenada para a terceira
visto que necessrio
que se parta de uma certa
verdade conhecida, qual
a inteligncia d seu
assentimento, para atingirse a certeza sbre coisas
ignoradas.
Sendo a lgica chamada a
cincia racional, segue-se
necessriamente que
suas consideraes
devem tomar como objeto
aquilo que tem relao
com essas trs operaes
da razo.
O que concerne
primeira operao da
inteligncia, a saber, do
que concebido em uma
simples percepo dessa
faculdade Aristteles trata
nos livros dos
Predicamentos.
O de que se relaciona
com a segunda operao,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-4.htm (4 of 5)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.4.
quer dizer a enunciao
afirmativa e negativa, le
trata no livro do
Perihermeneias.
Das coisas, finalmente,
que so relativas
terceira operao, le
trata no livro dos
Primeiros Analticos e nos
livros seguintes, onde se
analisa o silogismo
considerado em si mesmo
e as diversas espcies de
silogismos e de
argumentaes das quais
se serve a razo para ir de
uma coisa outra."
A tradio aristotlica e mesmo, em larga escala, a lgica moderna
retomaram essa diviso da "ars logica" segundo as trs operaes
do esprito. Porm Aristteles, sob um outro ponto de vista, props
uma outra distino - a da forma e da matria do raciocnio - que,
vindo interferir com a precedente, no se deu sem complicar as
coisas, sobretudo pelo fato de que a escolstica posterior estendeu
o seu uso a tda a lgica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-4.htm (5 of 5)2006-06-01 12:18:37
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.5.
5. Lgica Formal e Lgica Material.
O objeto principal da lgica o raciocnio, sendo que as outras
operaes do esprito so consideradas sobretudo enquanto
componham os elementos dste ltimo. Porm o raciocnio pode ser
considerado sob dois pontos de vista diferentes. Consideremos,
com efeito, ste silogismo:
Tudo
que
imaterial
imortal.
Ora, a
alma
imaterial.
Logo a
alma
imortal.
Para que ste raciocnio seja justo, necessrio que a ordem das
proposies que o compem (sua forma) seja correta. necessrio,
em segundo lugar, que cada uma de suas proposies tomadas
parte (sua matria) seja lgicamente verdadeira. Haver, portanto,
condies formais e condies materiais quanto exatido de um
raciocnio. O prprio Aristteles consagrou esta distino tratando
em dois livros diferentes, os Primeiros e os Segundos Analticos,
destas duas ordens de condies. S. Toms, por sua vez, a retoma,
justificando-a da seguinte maneira:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-5.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:38
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.5.
"... a certeza
do julgamento
que se obtm
ao trmo de
um processo
resolutivo
depende, seja
to smente da
forma do
silogismo, e
disto que se
ocupa o livro
dos Primeiros
Analticos, que
tem como
objeto o
silogismo
considerado
em si; seja, por
outro lado, do
fato de que , se
lida com
proposies
evidentes por
si mesmas e
necessrias
em sua
matria, e
disto que se
ocupa o livro
dos Segundos
Analticos, que
trata do
silogismo
demonstrativo."
Em seguida, como j o dissemos, aplicou-se esta distino a tda a
lgica, inclusive da simples apreenso e do julgamento. Tal
extenso nos parece contestvel. Se certo, com efeito, que o
raciocnio comporta condies de verdade formais e materiais
distintas, se certo que se pode, ainda, discernir no julgamento,
como o prprio S. Toms o observa, essas duas ordens de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-5.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:38
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.5.
condies, - no se pode conceber que se aplique tal distino a
simples trmos. A distino de lgica formal e lgica material no
tem, portanto, uma aplicao universal, e prticamente melhor,
seguindo os passos de Aristteles, no lev-la em conta, seno no
tocante ao estudo do raciocnio.
Os autores que generalizaram essa distino de lgica formal e
lgica material freqentemente denominam a primeira Lgica Menor
e a segunda Lgica Maior. Na realidade essa diviso pretende
sobretudo responder a uma questo de dificuldade dos problemas
tratados, sendo portanto, de ordem pedaggica. Os problemas da
Lgica Menor seriam mais simples e mais fceis de compreender do
que os que se reservavam para a Lgica Maior. sse cuidado de
guardar para mais tarde as questes mais rduas teve, como
resultado, sobrecarregar a Lgica Maior de discusses metafsicas,
por isso mesmo completamente deslocadas num esquema de lgica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-5.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:38
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.6.
6. Subdivises da Lgica do raciocnio.
O Organon compreende tda uma srie de livros consagrados ao
raciocnio, dividindo-se sses livros segundo consideram essa
operao do esprito sob o ponto de vista da matria.
Os Primeiros Analticos tratam ex professo do raciocnio formal.
sse raciocnio para Aristteles essencialmente o silogismo ou
deduo. Porm em vrias passagens le apresenta um outro tipo
de raciocnio, a induo, estudado muito rpidamente mas sbre o
qual os modernos se detero, com intersse. Uma exposio
completa da lgica formal do raciocnio deve, portanto, comportar
duas seces que tratem respectivamente do silogismo e da
induo.
Os Segundos Analticos, os Tpicos, a Refutao dos sofismas e,
analgicamente, a Retrica, tratam das condies materiais do
raciocnio. O primeiro dstes livros estuda a demonstrao
cientfica, aquela que, partindo de premissas certas, chega a uma
concluso certa; o segundo trata da demonstrao provvel, a qual,
no repousando seno em premissas provveis, no pode conduzir
seno a uma concluso igualmente provvel. A Refutao dos
sofismas considera especialmente os raciocnios que, tendo a
aparncia da verdade, so entretanto falsos, seja em razo de vcios
de forma, seja por defeitos devidos matria. S. Toms resume tudo
isso neste texto dos Segundos Analticos (I, 1. I, n. 5)
"H, com
efeito, um
processo da
razo que
conduz ao
necessrio,
no qual no
possvel que
haja
falsificao
da verdade:
por sse
processo
que se atinge
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-6.htm (1 of 4)2006-06-01 12:18:38
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.6.
a certeza da
cincia. H
um outro,
cuja
concluso
verdadeira
na maioria
dos casos,
sem que,
todavia, haja
necessidade.
H,
finalmente,
um terceiro
em que a
razo se
afasta da
verdade por
haver
negligenciado
algum
princpio que
seria
necessrio
levar em
conta."
Considerando tdas essas distines e, levando-se em conta a
Retrica, arte da persuaso oratria cuja estrutura lgica , em
Aristteles, paralela dos outros tipos de raciocnio, obtemos, para
o conjunto da lgica, o seguinte mapa orgnico que ser o plano
geral de nosso curso:
I. Os elementos do raciocnio
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-6.htm (2 of 4)2006-06-01 12:18:38
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.6.
1. A
simples
apreenso
(c. I).
2. O
julgamento
(c. II).
II. Teoria do raciocnio
1. O
raciocnio
formalmente
considerado:
o silogismo
(c. III), a
induo (c.
IV).
2. O
raciocnio
materialmente
considerado:
demonstrao
cientfica (c.
V),
demonstrao
provvel (c.
VI),
persuaso
oratria (c.
VI).
3. Os
raciocnios
falaciosos ou
Sofismas (c.
VI).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-6.htm (3 of 4)2006-06-01 12:18:38
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.6.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-6.htm (4 of 4)2006-06-01 12:18:38
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.7.
7. O pensamento e sua expresso verbal.
Uma ltima questo se coloca nesta introduo: a das relaes do
prprio pensamento com os sinais vocais ou escritos, pelos quais
le se exprime. A lgica tem, evidentemente, como objeto essencial
a atividade prpria do esprito, suas operaes mentais. Entretanto,
ela no lanar fora de seu horizonte todo o sistema de sinais
exteriores que vem como que reforar aquela atividade. Os dois
estudos, o do pensamento em sua realidade espiritual e o de sua
expresso pela linguagem, tm obrigatriamente de ser solidrios,
uma vez que os sinais exteriores no tm outra finalidade seno
manifestar, to fielmente quanto possvel, a atividade do
pensamento. Deve-se acrescentar que a considerao do discurso
falado, que mais fcilmente analisvel, ser de grande ajuda no
estudo dos movimentos mais fugidos da vida do pensamento que
le deseja exprimir.
Salvo indicaes especiais, o que ser dito neste curso sbre os
sinais valer proporcionalmente para o pensamento e vice-versa.
Deve-se observar que, em linguagem lgica, designa-se, s vzes,
pela mesma palavra, o trabalho mental e o sinal verbal
correspondente, enquanto que em outros casos empregam-se
palavras diferentes. O mapa seguinte d, para cada uma das
operaes do esprito, o vocabulrio correspondente aos dois nveis
de expresso.
OPERAES
1. Simples
apreenso
2.
Julgamento
3.
Raciocnio
TRABALHO MENTAL
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-7.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:38
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.7.
1. Conceito
2.
Proposio
ou juzo
3. Raciocnio
ou
argumentao
SINAL ORAL
1. Trmo
2. Proposio
3. Raciocnio
ou
argumentao
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-7.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:38
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.2, C.8.
8. Bibliografia.
Os textos de base so: os livros do Organon de Aristteles e os
comentrios correspondentes de S. Toms sbre o Perihermeneias
e os Segundos analticos.
Das obras clssicas da escola tomista destacar-se- sobretudo a
Lgica do Cursus philosophicus de Joo de S. Toms.
Recomendamos, de modo especial, L'Ordre des Concepts, t. II dos
lments de Philosophie de J. Maritain (Paris, Tqui, 1923) .
Queremos afirmar uma vez por tdas que, sbre um certo nmero de
pontos, nosso curso devedor dos esclarecimentos trazidos por
ste ltimo trabalho.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA2-8.htm2006-06-01 12:18:39
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.1.
IV
A PRIMEIRA OPERAO DO ESPRITO
1. A simples apreenso.
O mais simples elemento que entra na composio do raciocnio o
conceito ou o trmo. A primeira questo que se coloca a seu
respeito a de sua formao ou da operao pela qual le
constitudo. Essa operao, j o dissemos, a simples apreenso.
De uma maneira geral assim se define essa operao: o ato pelo
qual a inteligncia percebe a essncia de uma coisa, quidditas, sem
afirmar ou negar o que quer que seja a seu respeito
Operatio
qua
intellectus
aliquam
quidditatem
intelligit,
quin
quidquam
de ea
affirmet vel
neget.
Esta operao tem como primeiro carter a simplicidade.
Simplicidade, de incio, quanto ao objeto. sse objeto a essncia
da coisa, quer dizer, o que se exprime quando se deseja responder
questo quid est, o que ? Responde-se, portanto, por um trmo
simples: um "homem", um "animal". Em si, a essncia alguma
coisa de simples. As vzes, verdade, empregar-se- para exprimi-Ia
um trmo complexo, "animal racional", "homem branco", porm
essas complexidades no so objeto de simples apreenso a no
ser na medida em que conservam uma certa unidade. O objeto da
simples apreenso sempre encarado como sendo uma unidade,
assim com muita pertinncia que S. Toms definiu essa operao:
a inteligncia dos indivisveis, indivisibilium intelligentia. O ato pelo
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-1.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:39
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.1.
qual o esprito percebe essa essncia indivisvel das coisas le
prprio simples, quer dizer, no implica em nenhuma sntese, em
nenhum movimento como acontece no julgamento e no raciocnio.
uma viso simples: uma simples apreenso.
Em segundo lugar, sse ato caracteriza-se por seu modo abstrato. A
quididade representa a natureza de uma coisa em geral,
independentemente de suas condies de realizao, em tal ou tal
indivduo. Designa, por exemplo, "o homem" e no tal homem
particular, Scrates, Plato. Sob sse aspecto, a simples apreenso
se distingue de tda e qualquer viso intuitiva dos sres em sua
existncia concreta atual. sse modo concreto ser, ns o veremos,
caracterstico da segunda operao do esprito.
Finalmente, a simples apreenso tem, como propriedade distintiva,
na ordem do conhecimento, o ser sem verdade nem falsidade. Ela
no afirma nem nega, apenas percebe, sem mais, o objeto que lhe
apresentado. O julgamento, pelo contrrio, que sempre implica em
afirmao ou negao, ocasionar necessriamente uma
qualificao de verdade ou de falsidade. O conceito de "homem" no
nem verdadeiro nem falso, enquanto que necessriamente
verdadeiro ou falso afirmar: "ste animal um homem".
Concluamos fazendo uma importante observao. A leitura de S.
Toms e dos escolsticos deixa freqentemente a impresso de que,
em seu esprito, a simples apreenso atinge e esgota com um s
olhar a essncia ou a natureza profunda das coisas. No homem, por
exemplo, ela revelaria repentinamente o que exprime a definio
clssica, "o homem um animal racional". uma maneira bem
simplificada de representar as coisas. As primeiras percepes da
inteligncia so, evidentemente, muito gerais e muito confusas.
lentamente, depois de um laborioso esfro, que se chega a precisar
e a distinguir os conceitos. De fato, muitas noes ficaro sempre
mal definidas em nosso esprito. Ora, em lgica, onde se faz a teoria
do raciocnio ideal, no se leva em conta, prticamente, essa
imperfeio efetiva de nosso pensamento e se manipula os
conceitos como se les estivessem sempre bem determinados.
importante lembrar que essa simplificao da vida real do esprito,
necessria para assegurar seu funcionamento lgico, no exprime
freqentemente, seno de maneira muito imperfeita, a essncia das
naturezas mesmas que se considera.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-1.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:39
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.1.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-1.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:39
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.2.
2. O conceito.
O conceito aquilo que o esprito forma ou esprime em sua primeira
operao. le se distingue do trmo, escrito ou oral, que o seu
sinal exterior. No podemos esquecer que o lgico se coloca aqui,
em seu estudo, sob o ponto de vista das segundas intenes, isto ,
do ser de razo lgico. Portanto, le no considera imediatamente o
conceito nem como ato da inteligncia, nem em seu contedo de
realidade, mas no conjunto das relaes de razo que sse conceito
adquire no exerccio do pensamento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-2.htm2006-06-01 12:18:39
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.3.
3. Extenso e compreenso dos conceitos.
Um conceito apresenta anlise lgica dois aspectos dignos de
nota.
Primeiramente, h um certo contedo pelo qual le se manifesta a
ns e se distingue dos outros conceitos. Salvo para o caso das
primeirssimas noes, sse contedo poder ser dissecado em um
certo nmero de notas ou de caracteres distintivos. Por exemplo, no
conceito "homem" distinguir-se-o as notas "vivente", "animal",
"racional". O conjunto das notas que caracterizam um conceito
chamado sua compreenso. Em si, a compreenso de um conceito
implica tudo o que exprime sua definio: gnero e diferena
especfica. Pode-se incluir tambm suas propriedades necessrias.
A compreenso ser, portanto,
o
conjunto
das notas
que
constituem
um
conceito e
o
distinguem
dos
outros
conceitos.
Se agora consideramos o conceito em sua funo de universal,
vemos que le tem necessriamente relao com um certo nmero
de sujeitos: o conceito "animal", por exemplo, relaciona-se com as
diferentes espcies animais e com os indivduos que elas
compreendem. Chamar-se-, pois, extenso
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:39
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.3.
o conjunto
dos
sujeitos
englobados
por um
conceito.
Observemos que no se trata somente, nesta definio, dos sujeitos
atualmente existentes, mas tambm de todos os sujeitos possveis,
mesmo daqueles que no sero mais. O conceito de "homem" se
estende a todos aqules que possuem, possuram ou podero
possuir a natureza humana. Quando se trata dos indivduos, a
extenso de um conceito , portanto, indefinida e no muda com a
variao de seu nmero real.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:39
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.4.
4. Relaes entre a compreenso e a extenso.
Como tda a orientao da lgica pode depender da significao
precisa que se d doutrina da compreenso e da extenso dos
conceitos, importa explicitar um pouco mais essa doutrina.
Para algumas filosofias, com tendncia nominalista, a realidade ,
antes de tudo, o singular, e o conhecimento intelectual a apreenso
do singular. Segundo tais concepes, a extenso se torna
naturalmente o carter primordial do conceito, no sendo ste seno
um nome comum formado pelo esprito para agrupar indivduos.
Raciocinar seria antes de tudo classificar. Tem-se a o que se
poderia chamar uma lgica de tipo extensionista.
Para outros, ao contrrio, os realistas, no sentido medieval dsse
trmo, a realidade verdadeira antes de tudo a essncia, a natureza
das coisas, e o conhecimento passa a ser a percepo das
essncias. A compreenso torna-se, neste caso, a nota essencial do
conceito, que imediatamente expressivo de uma natureza. Chegase aqui, ao inverso, a uma lgica de tipo compreensionista.
A filosofia de S. Toms, que um conceitualismo realista, tem uma
posio intermediria, mais prxima, entretanto, do realismo. Os
conceitos se caracterizam de incio e, se distinguem, por seu
contedo ou por sua compreenso, que por isso mesmo sua nota
fundamental, mas lhe igualmente essencial ter uma extenso
determinada. Raciocinar , antes de tudo, associar naturezas, mas
ao mesmo tempo classificar conceitos e sujeitos. A lgica de S.
Toms , portanto, ao mesmo tempo e indissoluvelmente,
compreensionista e extensionista. Essa idia se encontrar na base
mesma de uma s teoria do silogismo.
fcil concluir, em vista do que foi explicado, que a compreenso e
a extenso esto em razo inversa uma da outra: uma crescendo, a
outra decresce, e inversamente. O conceito de "homem", "animal
racional", tem assim uma extenso menor do que o de "animal", mas
tem uma compreenso maior, porque contm em si o carter
especfico "racional" que no foi expresso no conceito genrico de
"animal".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-4.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:40
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.4.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-4.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:40
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.5.
5. As espcies de conceitos.
Pode-se dividir e classificar os conceitos sob diferentes pontos de
vista. No nos deteremos aqui seno nas distines que se
relacionam imediatamente com as noes de compreenso e de
extenso, deixando as outras divises para o estudo da teoria do
trmo, dos predicveis e dos predicamentos.
Do ponto de vista da compreenso, distinguem-se os conceitos em
simples e complexos segundo que o contedo que les exprimem
atualmente seja tambm simples ou complexo: "homem" um
conceito simples, "animal racional", um conceito complexo.
Conceitos concretos e abstratos. Os primeiros significam a essncia
da coisa com o seu sujeito: "homem". Os segundos significam a
ssencia sem o seu sujeito: "humanidade". Essa diversidade se
deve ao modo de abstrao.
Do ponto de vista da extenso, em si mesmo, todo conceito
universal, quer dizer, le tem tda a sua extenso. Mas no exerccio
do pensamento pode-se ser levado a restringir essa extenso a uma
parte smente dos sujeitos aos quais sse conceito convm. Em
lugar, por exemplo, de considerar o conceito "homem" como se
relacionando a "todo homem", no se retm seno uma parte desta
coletividade: "ste homem", "algum homem". Chega-se assim
seguinte diviso que representa um papel capital na lgica
peripattica:
Conceito
universal:
extenso
no
restrita:
"todo
homem"
Conceito
particular:
extenso
restrita a
um
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:40
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.5.
grupo:
"algum
homem"
Conceito
singular:
extenso
reduzida
a um s:
"Scrates"
O conceito tomado em tda sua extenso freqentemente
chamado: universal distributivo.
Distingue-se tambm, do ponto de vista dos sujeitos, o conceito
coletivo, (que no pode ser realizado seno em um grupo de
sujeitos: exrcito, sociedade) e o conceito divisivo (que se encontra
integralmente em cada sujeito: soldado, scio).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:40
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.6.
6. O trmo.
No tendo a linguagem outra finalidade a no ser a de exprimir o
pensamento, devemos naturalmente encontrar nela os elementos do
pensamento. assim que ao conceito corresponde o trmo, oral ou
escrito, que prticamente no seno uma representao daqule.
O que se dir de um, do ponto de vista lgico, valer sem reserva
especial para o outro.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-6.htm2006-06-01 12:18:40
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.7.
7. Definio do termo.
A questo do trmo e a questo mais geral da linguagem, so
tratadas por Aristteles nos quatro primeiro captulos do
Perihermeneias, e por S. Toms em seu Comentrio a sses
captulos.
De maneira geral, define-se o trmo: uma "voz" (uma palavra) que
tem uma significao convencionada:
vox
significativa
ad
placitum.
A segunda parte desta definio destaca justamente o aspecto
convencional da linguagem. Um sinal pode, com efeito, ser natural
ou convencional. natural o sinal cuja significao est includa na
essncia mesma do fato. A fumaa, por exemplo, sinal natural do
fogo, o gemido, do sofrimento. convencional o sinal cuja
determinao depende de uma escolha livre. Um ramo de oliveira ,
convencionalmente, sinal de paz. A linguagem, em seu conjunto e
em seus elemento&, o prprio tipo do sinal convencional.
Mas, de que, exatamente, a linguagem um sinal? O sinal aquilo
que representa uma coisa diferente de si. Para S. Toms, aquilo que
significado imediatamente pelo trmo o conceito: eu falo para
exprimir meu pensamento. No menos certo que, quando eu falo,
sobretudo para dizer alguma coisa, isto , para fazer conhecer uma
realidade. Dir-se- que, por sse motivo, o trmo significa
principalmente a coisa expressa pelo conceito. luz desta
explicao que ser necessrio entender a frmula clssica de S.
Toms:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-7.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:40
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.7.
voces sunt
signa
conceptuum
et
conceptus
sunt signa
rerum.
Dever-se- observar, alm disso, que os trmos, voces, no so
sinais da mesma maneira que os conceitos. Os trmos no contm
as coisas que les prprios significam, les somente conduzem a
elas como a qualquer coisa de distinto. Os conceitos, ao contrrio,
representam as coisas e mesmo, sob um certo ponto de vista, na
medida em que exprimem a essncia, les so as prprias coisas
que representam. Os escolsticos, Joo de S. Toms em particular,
fizeram essa distino. O trmo o que les chamam um sinal
instrumental, enquanto que o conceito um sinal formal.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-7.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:40
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.8.
8. Diviso dos trmos.
Vamos encontrar, com muitas outras, as distines j feitas a
respeito do conceito. Para colocar um pouco de ordem em tdas
essas divises, pode-se fazer uma distino que S. Toms prope
no Perihermeneias (l, 1. 1, n. 5). Os trmos, diz le, podem ser
considerados sob trs pontos de vista: enquanto significam
absolutamente as simples inteleces, enquanto so partes das
enunciaes ou julgamentos, enquanto so elementos constitutivos
dos raciocnios. Tomemos essa distino como base de nossa
classificao dos trmos e, pela mesma razo, dos conceitos.
Os trmos considerados em si mesmos podem ser
Simples ou
complexos
Concretos
ou
abstratos
Singulares,
particulares,
universais
Coletivos
ou
divisivos.
Unvocos,
anlogos,
equvocos
Gnero,
espcie,
diferena,
prprio,
acidente
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-8.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:41
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.8.
A diviso dos termos como partes da enunciaofoi exposta por
Aristteles nos primeiros captulos do Perihermeneias. O primeiro
discernimento que aqui se impe o das partes essenciais e das
partes accessrias da enunciao; a lgica prticamente no ter de
se ocupar dos primeiros. As partes essenciais da enunciao so os
trmos categoremticos (significativi), que representam diretamente
alguma coisa no entrando na enunciao para modificar um outro
trmo.
Exemplo: "homem", "branco", "cair.". H duas espcies dles: o
nome e o verbo. As partes acessrias da enunciao so os trmos
sincategoremticos (consignificativi) que no tm significao
seno enquanto modificam um elemento essencial do discurso. So
os adjetivos, qualificativos, ("uma bela casa"); as preposies e os
advrbios ("faz muito calor").
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-8.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:41
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.9.
9. Teoria do nome e do verbo.
Como dissemos, so stes os elementos lgicos essenciais da
enunciao. Tda enunciao compreende, necessriamente, pelo
menos um nome e um verbo: dois nomes isolados ou dois verbos
constituem apenas um conjunto sem significao prpria, enquanto
que um nome e um verbo so suficientes para constituir uma
verdadeira proposio: "a chuva cai".
O nome e o verbo se distinguem profundamente pela maneira pela
qual les significam a coisa que representam. O nome faz abstrao
da existncia no tempo, representando as coisas como estveis,
mesmo se sua natureza , na realidade, mvel: "homem", "branco"
"queda". o aspecto essncia que assim se acha expresso. O
verbo, pelo contrrio, inclui em sua significao a existncia atual.
le representa as coisas em sua mutao, em seu vir-a-ser, como
sujeitas a modificaes no tempo. o lado da existncia das coisas
que aqui colocado em relvo. O verbo essencial ser o verbo ser
que as outras formas verbais contm de maneira pelo menos
implcita. Nome e verbo se combinam e se completam, assim, no
discurso, o primeiro exprimindo o aspecto de determinao estvel,
o segundo aspecto d atualidade mutvel das coisas.
Temos agora, condies para compreender a definio que se d,
sintetizando tdas essas observaes, a essas duas espcies de
trmos:
O nome
um trmo
significativo
de maneira
intemporal
do qual
nenhuma
parte tem
significao
por si s, e
que finito
e direto:
vox
significativa
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-9.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:41
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.9.
ad
placitum,
sine
tempore,
cujus nulla
pars
significat
separata,
finita,
recta.
Vox significativa ad placitum exprime a prpria definio do trmo,
sinal convencional. Sine tempore indica o carter distintivo do nome
que abstrai do tempo ou, mais profundamente, da existncia atual.
Cujus nulla pars significat separata exclui os discursos ou os
trmos complexos. Observe-se que por trmos complexos entendese aqui aqules em que cada parte teria uma significao relativa ao
conjunto ("arco-iris"). No se trata de slabas que, isoladas,
poderiam ter uma significao sem qualquer relao com o todo,
"livra-ria". Finita exclui os trmos que seriam indeterminados:
Aristteles d como exemplo "no-homem" que, com efeito, nada
designa de preciso. Recta exclui os casos de dedicao de um
nome: "de Filon", "a Filon": sses casos, como tais, relacionam o
trmo a um outro e o impedem, assim, de ter uma significao
prpria ou como nome.
O verbo um trmo significativo no tempo, do qual ne nhuma parte
tem significao por si prpria, que finito, de tempo direto, e
relaciona-se sempre ao predicado: vox significativa ad placitum,
cum tempore, cujus nulla pars significat separata, finita et recta, et
eorum quae de altero praedicantur semper est nota.
Vox significativa ad placitum exprime a definio do trmo. Cum
tempore distingue o verbo do nome. Cujus nulla pars significat
separata exclui os verbos compostos. Finita exclui os verbos
indefinidos ou indeterminados "no passa bem", "no est doente".
Recta exclui os tempos passados ou futuros "le passou bem", "le
passar bem". ste detalhe tem sua importncia porque torna
patente que Aristteles no desejou visar, ao afirmar que o verbo
significava cum tempore, a diversidade passado-presente-futuro,
mas smente o modo presente. O passado e o futuro "declinam" da
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-9.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:41
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.9.
significao prpria do verbo. Et de eorum quae praedicantur
semper est nota exclui o particpio e o infinitivo, que podem se
relacionar tanto ao sujeito quanto ao predicado ("viver um bem")
enquanto que o verbo se mantm sempre do lado do predicado.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-9.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:41
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.10.
10. A diviso sujeito - cpula - predicado.
Os trmos essenciais da enunciao, como acabamos de ver, so o
nome e o verbo, mas os lgicos falam freqentemente de uma outra
diviso em trs trmos: sujeito - cpula predicado. Esta diviso, que
parece ter sua origem na teoria do silogismo onde, o sujeito e o
predicado so os elementos essenciais, pode ser reduzida
precedente da maneira que segue. O verbo realiza na proposio
uma funo de ligao entre o sujeito e o nome-predicado; a ste
ttulo ns o chamamos cpula. Essa ligao no outra coisa seno
a afirmao mesma do ser, explicitamente expresso ou
implicitamente contido no verbo: "o tempo est bom"), "o sol brilha"
- " brilhante". Tda proposio pode, portanto, ser do tipo nomesujeito, verbo-cpula, nome-predicado.
A diviso sujeito-cpula-predicado se distingue, portanto, da diviso
nome-verbo, no fato de que esta coloca em evidncia a funo
copulativa do verbo e de que ela separa o nome-predicado. Em
oposio, ela no exprime de maneira to explicita os aspectos de
estabilidade e de atualidade, que a diviso nome-verbo coloca to
bem em relvo. Pode-se dizer que essa diviso em nome-verbo
mais essencial proposio que a outra, porque necessrio
sempre que os trmos sejam a explcitos, enquanto que a cpula e
o predicado podem ser significados pelo mesmo trmo. Os
escolsticos chamam proposies de secundo adjacente quelas
onde cpula e predicado esto unidos: "a chuva cai"; e proposies
de tertio adjacente quelas onde les so distintos: "o tempo est
bom".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-10.htm2006-06-01 12:18:41
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.11.
11. Os trmos como partes do silogismo.
Os "trmos silogsticos" so os ltimos elementos do silogismo ou
raciocnio dedutivo. les so em nmero de trs: o sujeito, o
predicado, o trmo mdio. O sujeito e o predicado so os trmos
que se encontram na proposio concluso. O trmo mdio sujeito
ou predicado em cada uma das premissas. Exemplo:
Tudo o
que
imaterial
(M)
imortal
(P).
Ora, a
alma(S)
imaterial
(M).
Logo a
alma(S)
imortal
(P).
Observe-se que essa diviso no leva em conta a cpula nem o
verbo em sua funo de cpula. que, ns o veremos em seguida, o
silogismo no tem como funo construir, a verdade pela afirmao,
mas sim inferi-Ia a partir de princpios que se supem verdadeiros. A
cpula no entra, portanto, a ttulo de elemento formal no raciocnio,
ainda que ela seja necessria para a formao das proposies que
so como que sua matria.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-11.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:41
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.3, C.11.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA3-11.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:41
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.1.
V
A DEFINIO E A DIVISO
1. Razo de ser da definio.
A primeira operao do esprito ordenada percepo da essncia
das coisas, que ela exprime em conceitos. Mas de fato, devido
fraqueza de nossa inteligncia, ns no percebemos essa essncia
seno de maneira confusa, quer dizer, no distinta. , portanto,
necessrio utilizar processos auxiliares para suprir essa imperfeio
de nossa primeira percepo das coisas. sses processos,
denominados em escolstica modi sciendi, so, para a primeira
operao do esprito, a definio e a diviso. A diviso permite
distinguir e ordenar as partes que esto compreendidas nas
totalidades confusas que se apresentam a nosso esprito, enquanto
que a definio delimita cada uma das essncias e manifesta
claramente sua natureza. No final dsse trabalho de diviso e de
definio, supondo que se possa chegar a seu trmo, o dado nos
aparecer ordenado, classificado, cada parte estando distinta das
outras e manifesta em si mesma.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-1.htm2006-06-01 12:18:42
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.2.
2. Natureza da definio.
A definio um trmo complexo que torna explcita a natureza da
coisa ou a significao do trmo:
Oratio
naturam rei
aut
significationem
termini
exponens.
Daremos algumas precises. Antes de tudo, a definio no um
trmo simples. O objeto deve ser uno em sua essncia, mas como
se trata justamente de deslindar a confuso na qual esta
primitivamente se acha apresentada, tal no pode se dar seno por
algum discurso ou alguma frase, oratio, ou por um trmo complexo.
ste trmo necessriamente composto de dois elementos: um
elemento genrico, ou quase genrico, que marca o aspecto pelo
qual o objeto a definir se assimila aos objetos da classe superior ou
gnero, e um elemento especfico, ou quase especfico, que
denuncia a diferena que o distingue dstes mesmos objetos. Na
definio do tringulo, "polgono de trs lados", o elemento genrico
"polgono", o tringulo pertence ao gnero "polgono"; "de trs
lados" designa o carter especfico: o tringulo se distingue dos
outros polgonos visto que le uma figura "de trs lados".
Em segundo lugar, a definio, se bem que ela seja um trmo
necessriamente complexo, depende da primeira operao do
esprito e no da segunda. No h na definio nem afirmao de ser
nem, prpriamente falando, verdade ou falsidade: h a simples
associao de uma "razo" genrica e de uma determinao
especfica. Julgamentos tero podido intervir na formao de uma
definio, poder-se- mesmo enunciar uma definio em um
julgamento: "o tringulo um polgono de trs lados", mas a
definio como tal resta sempre uma simples percepo do esprito.
Finalmente, no h definio, prpriamente falando, seno do
universal. O singular como tal no pode ser definido: omne
individuum inef fabile. Isto se deve a que a individualidade depende
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:42
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.2.
das condies materiais, as quais tm uma indeterminao que
provm de sua prpria natureza.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:42
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.3.
3. Espcies da definio.
A definio tpica a definio essencial pelo gnero e diferena
especfica: "animal racional". Prticamente no se atinge quase a
ste ideal e deve-se contentar em definir as naturezas por caracteres
secundrios ou mais exteriores. Freqentemente define-se pelas
propriedades: "o ferro um metal que tem tal cr, fundindo a tal
temperatura" etc.; ou ento pelas causas extrnsecas eficientes ou
finais: "um relgio um instrumento destinado a indicar a hora". Poder-se-, finalmente, se contentar em definir o trmo, definio
nominal, baseando-se na significao comum das palavras ou
etimologia. Como tudo isso tem sempre uma relao com a
verdadeira natureza das essncias, as definies dsse tipo podem
tambm ter o seu valor. De ordinrio prticamente dando sua
definio nominal que Aristteles e S. Toms comeam o estudo de
uma noo. Por exemplo: "religio" ser relacionado com "religare",
tornar a ligar. Num gnero mais fantasista citemos as definies
etimolgias de "monumentum" de "monet mentem", e de "lapis" de
"ladere pedem". Eis aqui, numa certa ordem, os principais tipos de
definio:
Definio
nominal: expe
a significao
do trmo.
Definio real:
expe o que a
coisa
significada.
Definio
extrnseca:
pelas causas
exteriores
eficiente e final.
Definio
intrnseca:
pelos elementos
necessriamente
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:42
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.3.
ligados
essncia.
Definio
descritiva: pelas
propriedades,
pelos efeitos.
Definio
essencial fsica,
pelas partes
fsicas,
essenciais,
matria e forma.
Definio
essencial
racional, pelo
gnero e pela
diferena
especfica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:42
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.4.
4. Leis da definio.
So as condies s quais deve se submeter uma definio para ser
correta.
A. A
definio
no deve
conter o
definido.
B. A
definio
deve ser
convertvel
ao
definido,
quer
dizer,
convir a
todo o
definido e
s ao
definido.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-4.htm2006-06-01 12:18:42
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.5.
5. Definio da diviso.
Dissemos que, como a definio, a diviso era um processo lgico
que tinha por finalidade suprir a insuficincia do olhar imediato de
nosso esprito. A definio nos permite delimitar as essncias
particulares e torn-las manifestas, enquanto que a diviso distingue
os elementos dos conjuntos complexos e confusos que a
experincia nos apresenta. Pode-se defini-la como um trmo
complexo que distingue em suas partes uma coisa ou um nome
significativo:
Oratio rem
vel
nomem
per suas
partes
distribuens
Como a definio, a diviso tambm um trmo complexo, no
comportando nem afirmao, nem negao: ela pertence tambm
primeira operao do esprito. Distinguem-se, em tda a diviso, trs
elementos: o todo que se divide, suas partes, e o fundamento da
diviso. O fundamento designa o ponto de vista formal com relao
ao qual feita a diviso (a diviso em azul, branco, vermelho, tem
assim como fundamento a cr) : le , portanto, o elemento
determinante dessa operao, e prticamente sbre le que ser
necessrio dirigir a ateno quando se efetuar divises.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-5.htm2006-06-01 12:18:42
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.6.
6. Espcies de divises.
A classificao das espcies de divises difcil de se estabelecer,
devido tanto multiplicidade dos "todos" e portanto das "partes"
que se foi levado a distinguir, quanto s variaes no uso das
denominaes. Eis o que parece ser o mais comumente aceito:
A. O todo
lgico, totum
universale,
divide-se em
suas partes
subjectivas,
partes
subjectivae.
a prpria
diviso do
universal em
seus gneros
e espcies
subordinadas.
As partes do
todo lgico
no se
encontram
seno em
potncia no
todo e no so
atualizados
seno pela
diviso: o
universal
"animal", por
exemplo, no
contm seno
potencialmente
os caracteres
distintivos das
diversas
espcies
animais.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-6.htm (1 of 5)2006-06-01 12:18:43
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.6.
B. O todo
atual, totum
essentiale,
divide-se em
suas partes
essenciais,
partes
essentiales:
partes fsicas
(matria e
forma); partes
racionais
(gnero e
diferena
especfica).
C. O todo
quantitativo
ou integral,
totum
integrale,
divide-se em
suas partes
integrantes,
partes
integrales: a
casa em suas
partes, o
corpo em
seus
membros.
D. O todo
virtual ou
potestativo,
totum
potentiale,
divide-se
segundo suas
diversas
virtualidades
ou funes,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-6.htm (2 of 5)2006-06-01 12:18:43
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.6.
partes
potentiales.
uma diviso
da ordem das
potncias
ativas da qual
S. Toms far
grande uso
em teologia,
como alis da
diviso em
partes
integrantes.
Dir-se-, por
exemplo, que
as partes
potenciais da
alma so a
parte
vegetativa, a
parte sensitiva
e a parte
racional, ou
que as sete
ordens so as
partes
potenciais do
sacramento
da ordem, ou
que uma
virtude tem
tais e tais
partes
potenciais.
E. Ao lado
dessas
espcies de
diviso, que
so chamadas
per se, porque
o fundamento
tomado da
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-6.htm (3 of 5)2006-06-01 12:18:43
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.6.
prpria coisa
que se divide,
h as divises
acidentais, per
accidens, quer
dizer, as
divises que
se
fundamentam
sbre um
elemento
adventcio. Os
autores
distinguem,
nesta ordem,
os trs casos
seguintes:
-o
sujeito
dividido
por seus
acidentes:
o homem
em
branco,
negro,
amarelo
etc.
-o
acidente
por seus
sujeitos:
o branco
em neve,
papel etc.
-o
acidente
por seus
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-6.htm (4 of 5)2006-06-01 12:18:43
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.6.
acidentes:
o branco
em doce,
amargo
etc.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-6.htm (5 of 5)2006-06-01 12:18:43
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.4, C.7.
7. Leis da diviso.
- Que
tdas as
partes
igualem o
todo.
- Que
nenhuma
parte
iguale ou
exceda o
todo.
- Que o
fundamento
de uma
diviso
seja o
mesmo em
relao a
tdas as
suas
partes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA4-7.htm2006-06-01 12:18:43
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.1.
VI
UNIVERSAIS, PREDICVEIS E PREDICAMENTOS
1. Introduo.
O livro das Categorias que se relaciona mais especialmente com a
primeira operao do esprito, teve, na Idade Mdia, um papel
extraordinrio. Isso decorre do fato de que foi justamente at o
sculo XIII um dos mais raros escritos conservados de Aristteles.
Mas as coisas se complicam quando se sabe que sse livro foi
geralmente utilizado com uma introduo que o neoplatnico
Porfrio (Sc. III D . C.) havia composto para le. Essa introduo, a
famosa Eisagoge, figurava, alis, na traduo deixada por Bocio.
Encontra-se a um estudo dos cinco trmos gerais: gnero, espcie,
diferena, prprio e acidente (donde o subttulo, De quinque
vocibus) que tomaram o nome de Predicveis.
As circunstncias fizeram com que a ateno dos filsofos
medievais se prendesse a uma simples frase do pequeno livro de
Porfrio, na qual levantava-se a questo da realidade ou da
objetividade das idias universais. Essa questo foi ento de tal
forma discutida que pode-se asseverar, sem mdo de errar, que, em
trno dela dividiram-se as grandes tendncias especulativas da
poca. As Categorias de Aristteles foram, portanto, includas na
escolstica, sobrecarregadas como que, de um duplo prefcio: o
pequeno tratado de Porfrio-Bocio e o conjunto de discusses
sbre o problema dos universais que se ligou a le. Da nasceu o
costume escolar de tratar sucessivamente dos universais, dos
predicveis e dos predicamentos (categorias). Os autores reservam,
de ordinrio, essas questes para a Lgica Maior. Trataremos dles
aqui mesmo, no mbito da primeira operao do esprito, deixando
s outras partes da filosofia os longos desenvolvimentos estranhos
lgica e que com tanta preferncia a sobrecarregam.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:43
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.1.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:43
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.2.
2. Dos universais.
O famoso texto de Porfrio-Bocio que originou a querela dos
universais assim redigido:
"No que
concerne
aos gneros
e s
espcies:
ser que
subsistem
nles
mesmos ou
no estariam
les contidos
a no ser
nas puras
concepes
intelectuais?
So les
substncias
corporais ou
incorporais?
Finalmente,
so les
separados
das coisas
sensveis ou
esto
implicados
nelas,
encontrando
a sua
consistncia?
Recuso-me a
responder."
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:44
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.2.
"Mox de
generibus
et
speciebus
illud
quidem
sive
subsistunt
sive in
soles
nudisque
intellectibus
posita sunt,
sive
substantia
corporalia
sunt an
incorporalia,
et utrum
separata a
sensibilibus
an in
sensibus
posita et
circa ea
constantia,
dicere
recusabo."
As trs questes que Porfrio levanta aqui, e que le se recusa, alis,
a resolver, tm ligao, igualmente, com a realidade e com a
objetividade das idias universais. Observar-se- sem dificuldade
que as duas ltimas dependem, para sua soluo, da primeira, em
trno da qual todo o debate se fixou: as idias de gnero e de
espcie (os universais) subsistem em si prprias, quer dizer na
realidade, ou' no teriam existncia a no ser na inteligncia?
prpriamente um problema de metafsica, o que no interessa
lgica seno na medida em que ajuda a melhor perceber a natureza
do universal. Portanto, no trataremos dle aqui, seno de maneira
suscinta, e sobretudo maneira de concluso.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:44
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.2.
De uma madeira geral, pode-se definir o universal como "alguma
coisa que apta a se encontrar em muitas":
"Unum
aptum
inesse
multis".
Representa como que o elemento comum a um conjunto de sujeitos
que se chamam seus inferiores e aos quais, em conseqncia, le
pode ser atribudo: assim "animal" um universal com relao s
diferentes espcies animais; "homem" um universal relativamente
a Scrates, Plato etc. O universal o conceito lgico, quer dizer, a
idia na razo.
Numerosos autores (cf. JOO DE S. TOMS, Logica IIa P., q. 3,
Prmmium) colocam em discusso, a respeito do universal, estas trs
questes que iremos considerar suscintamente: a objetividade do
universal, a causa do universal, a propriedade caracterstica do
universal.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:44
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.3.
3. A objetividade ou a realidade do universal.
Trata-se do mesmo problema colocado no Eisagoge: as idias gerais
existem como tais no esprito ou fora do esprito smente? As
respostas a esta questo se dividem entre trs orientaes
filosficas que j assinalamos. Os realistas, na linha de Plato,
tinham a tendncia a realizar o universal fora do esprito: a
verdadeira realidade o "homem" ou a natureza humana real. Os
nominalistas, ao contrrio, partindo da convico de que o real
autntico no se encontra seno nos indivduos, tendiam por sua
vez a reduzir o universal a um simples nome coletivo, representativo
do conjunto dos indivduos. A idia do "homem", por exemplo, no
representaria verdadeiramente a natureza humana, mas supriria to'
smente o lugar da coletividade dos homens na linguagem e no
pensamento. ,Para o realismo moderado, o conceitualismo-realismo
como se diz, os universais exprimem bem a verdadeira natureza das
coisas, mas seu estado de universalidade no lhe conferido seno
pelo esprito; sob este aspecto les no existem seno no
pensamento. A noo comum que eu formo do "homem" se
encontra nos homens reais, Scrates, Plato etc., os quais
participam da mesma natureza humana mas, esta noo no se
reveste de seu estado de universalidade seno no esprito que a
concebe como aplicvel indiferentemente a todos os indivduos
homens. O universal representa realmente as naturezas, mas vistas
em um estado de subjetividade: a teoria do realismo moderado.
Esta doutrina, que a de S. Toms, foi assim resumida por Gredt
(Logica, 4.a ed. p. 96):
"Insunt in
mente
nostra
conceptus
vere
universales,
quibus a
parte rei
respondet
natura his
conceptibus
expressa.
Nihilominus
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:44
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.3.
haec
natura, ut a
parte rei
existit, non
est
universalis
sed
singulares".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:44
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.4.
4. A causa do universal.
Trata-se ainda de uma questo de metafsica do conhecimento ou de
psicologia racional. A pergunta a seguinte: quais as operaes do
esprito pelas quais le forma um universal?
Inicialmente, pr uma abstrao. A inteligncia extrai dos singulares
que esto na origem de nosso conhecimento a natureza que
comum a todos. Por exemplo, da observao das diversas espcies
animais, tira-se a noo de "natureza animal". Esta noo
considerada ao trmo desta atividade abstrativa do esprito, o que
se chama o universal metafsico. No ainda o universal em seu
estado perfeito, porque a natureza considerada, mesmo guardando
ainda uma ordem radical relativamente aos sujeitos dos quais ela foi
extrada, ento apreendida como isolada, como natureza pura. Por
uma espcie de comparao ou de relacionamento, o esprito volta
ento aos sujeitos dos quais a natureza universal foi tirada e
reconhece que essa natureza universal convm a sses sujeitos e
pode, portanto, lhes ser atribuda. Tem-se, ento, o verdadeiro
universal, o universal lgico, quer dizer, o conceito considerado em
suas relaes com seus inferiores. Enquanto o universal metafsico
corresponde s primeiras intenes, o universal lgico da ordem
das segundas intenes. Em lgica, evidentemente, dsse tipo de
universal de que iremos nos ocupar.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-4.htm2006-06-01 12:18:44
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.5.
5. A propriedade essencial do universal.
Essa propriedade no outra seno a praedicabilitas, ou a aptido
essencial para ser predicado. Todo universal, implicando em sua
prpria natureza uma relao com seus inferiores, pode, por esta
razo, lhes ser sempre atribudo. O universal "animal", que foi tirado
dos diversos tipos de animais e que tem relao com todos os
animais possveis, poder ser atribudo a qualquer um dentre les:
"o co animal" etc. A aptido para ser predicada a propriedade
caracterstica ou, em linguagem aristotlica, a propriedade do
universal. Essa aptido evidentemente, como tdas as entidades
lgicas, da ordem da relao de razo. - A atribuio ou praedicatio
o ato pelo qual se efetua sse relacionamento do universal com os
seus sujeitos. Pertence segunda operao do esprito. Os autores
(cf. JOO DE S. TOMS, Logica, IIa P, q. 5) freqentemente estudam
aqui esta operao. Parece-nos prefervel consider-la na operao
lgica qual ela pertence.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-5.htm2006-06-01 12:18:44
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.6.
6. Dos predicados.
A teoria dos predicados remonta de maneira imediata ao Eisagoge
de Porfrio que a fixou no estado no qual ela se perpetuar em
seguida. Porm, a idia dessa teoria, assim como seus principais
elementos, j haviam sido claramente expostos nos Tpicos (I, C. I e
segs.): os predicados j aparecem a como sendo os ttulos mais
gerais de atribuio. Sem entrar em maiores detalhes, mostraremos
simplesmente que a lista aristotlica dos predicados no coincide
exatamente com a de Porfrio-Bocio, pois compreende smente
quatro predicados: definio, propriedade, gnero e acidente.
Os predicados so as diversas espcies de conceitos universais.
Essa diviso tem sua raz na prpria propriedade do universal
lgico: sua aptido a ser predicado. Como, com efeito, as noes
universais convm a seus inferiores de muitas maneiras diferentes,
elas exercem sua funo de predicado de maneira igualmente
diferente, o que ocasiona uma diversidade nos prprios conceitos,
que se vem por ste fato, divididos segundo as diversas espcies
de "predicveis".
Porfrio distinguiu cinco espcies de predicveis: gnero, espcie,
prprio e acidente. Eis como se pode justificar essa diviso. H, j o
dissemos, tantos predicveis quantas as maneiras de se relacionar
ao sujeito. Ora, um predicado pode representar, seja a essncia do
sujeito, seja alguma coisa que lhe acrescentada.
Se o predicado significa a essncia, ou le a significa inteira e temse a espcie, species: "homem", ou le significa a parte a determinar
dessa essncia, e tem-se o gnero, genus: "animal", ou le significa
a parte que determina a precedente, e tem-se a diferena especfica,
differentia: "racional".
Se o predicado significa alguma coisa que acrescentada
essncia, ou se trata de alguma coisa que lhe pertence
necessriamente, e tem-se o prprio, proprium: "a propriedade de
rir", para o homem, ou se trata de alguma coisa que no lhe
sobrevm seno acidentalmente, e tem-se o acidente predicvel,
accidens, que necessrio no confundir com o acidente
predicamental: "a qualidade de francs".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:44
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.6.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:44
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.7.
7. Os predicveis em particular.
O gnero pode ser definido como um universal relativo a inferiores
especficamente diferentes uns dos outros, e que lhes pode ser
atribudo exprimindo sua essncia de maneira incompleta:
"Universale
respiciens
inferiora
specie
differentia
et quod
praedicatur
de illis in
quid
incompleta".
A primeira parte desta definio indica a prpria natureza do gnero:
um universal cujos inferiores so espcies; a segunda parte
acentua a propriedade do gnero, sua aptido a exprimir a prpria
essncia, o quid do sujeito, mas smente de maneira incompleta.
Assim "animal" exprime a essncia do homem mas de maneira
incompleta; quando se diz: "o homem um animal", na verdade
exprime-se o que le , mas incompletamente.
A espcie um universal que pode ser atribudo a seus inferiores
exprimindo sua essncia de maneira completa:
Universale
respiciens
inferiora et
quod
praedicatur
de illis in
quid
complete.
A espcie se distingue do gnero pelo fato de que ela exprime
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-7.htm (1 of 4)2006-06-01 12:18:45
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.7.
completamente o que so seus inferiores. Se eu digo: "Pedro um
homem", exprimo completamente sua essncia.
A diferena especfica um universal que pode ser atribudo a seus
inferiores por modo de qualificao essencial:
Universale
respiciens
inferiora et
quod
praedicatur
de illis in
quale
quid.
Observar-se- que a diferena especfica, bem como o gnero e a
espcie, exprime a essncia do sujeito, seu quid, mas sob um modo
especial. A diferena determina o gnero e o qualifica. Donde a
preciso qualis ajuntada ao gnero de atribuio que, no fundo, no
deixa nunca de ser um quid: "O homem racional".
O prprio um universal que exprime por modo de qualificao
alguma coisa que sobrevm acidentalmente essncia, mas lhe
atribuda necessriamente:
Universale
quod
praedicatur
de pluribus
in quale,
accidentaliter
et
necessario.
Nesta definio, quale significa o modo qualitativo da predicao;
accidentaliter indica que se trata de um elemento que no da
prpria essncia do sujeito; necessario, finalmente, faz a distino
entre o prprio e o acidente, pois o acidente no qualifica
necessriamente o sujeito. - O prprio freqentemente definido
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-7.htm (2 of 4)2006-06-01 12:18:45
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.7.
como "o que convm a todo, ao nico e sempre":
Quod
convenit
omni,
soli et
semper.
Esta frmula, que vem de Porfrio-Bocio, designa o prprio em
sentido estrito. Para compreend-la necessrio completar: omni
individuo e soli speciei. Com isso, quer-se significar que a
propriedade pertence a tda a espcie e s espcie. A "capacidade
de rir", por exemplo, se encontra em todo homem e s na espcie
humana: dir-se-, prprio do homem poder rir. O prprio neste
sentido se liga diferena especfica. Se se considera que uma
espcie ltima se obtm determinando progressivamente os
gneros mais elevados por diferenas sucessivas, poder-se- dizer
que uma mesma espcie tem muitas propriedades, mas s a que se
liga sua ltima diferena ser verdadeiramente seu "prprio". O
prprio sendo para Aristteles, portanto, uma modalidade bem
determinada, caracterstica de cada essncia, tda a teoria da
demonstrao cientfica se liga a esta noo. Observe-se que, aquilo
que se chama comumente de "propriedades" de uma coisa, de um
corpo, pode-se ligar ao prprio e mesmo o exprimir, se bem que,
nesse caso, se trata de apenas uma manifestao mais ou menos
exterior.
O acidente predicvel um universal que pode ser atribudo a uma
multido, de maneira qualitativa, acidental e contingente:
Universale
quod
praedicatur
de pluribus
in quale,
accidentaliter
et
contingentes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-7.htm (3 of 4)2006-06-01 12:18:45
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.7.
Contingenter, nesta definio, marca a diferena do prprio e do
acidente: o acidente no est necessriamente ligado essncia.
o que, da maneira mais explicita, exprime a definio de Bocio:
aquilo que se acrescenta ou se separa sem que haja corrupo do
sujeito,
Quod adest
et abest
praeter
subjecti
corruptionem.
Dormir, ser branco ou preto, so assim acidentais com relao
espcie humana.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-7.htm (4 of 4)2006-06-01 12:18:45
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.8.
8. O indivduo.
Os gneros e as espcies formam uma hierarquia de trmos dos
quais os mais elevados so atribuveis queles que lhes so
inferiores. Para o alto, no sentido da universalidade crescente,
atinge-se, como o veremos, aos gneros supremos; para baixo, parase nas espcies ltimas, assim chamadas porque abaixo delas no
se pode mais encontrar espcies subordinadas mas smente
indivduos. Os gneros intermedirios podem ser ditos espcies
com relao aos gneros superiores, mas espcie ltima que
convm plenamente o nome de espcie: species.
Nesta perspectiva, o indivduo representa o ltimo sujeito de tda
atribuio, aqule que no pode ser atribudo a nenhum outro seno
a le prprio e ao qual tdas as noes superiores podero ser
atribudas. O indivduo no sendo um universal, no um
predicvel.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-8.htm2006-06-01 12:18:45
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.9.
9. Dos predicamentos.
Com a questo dos predicamentos abordamos o prprio contedo
do livro das Categorias. ste contedo se divide em trs partes, das
quais a ltima de autenticidade discutida, mas geralmente
reconhecida.
A primeira parte (c. 1-3) uma espcie de introduo
compreendendo diversas distines das quais a mais importante a
do trmo em homnimos, sinnimos e parnimos. Os escolsticos
denominaram esta introduo: De ante-prcsdicamentis.
A segunda parte (c. 4-9) , que constitui o corpo do livro, trata das
categorias ou predicamentos.
A terceira parte (c. 10-15), os Post-praedicamenta dos escolsticos,
consagrada s noes gerais que dominam a distino dos
predicamentos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-9.htm2006-06-01 12:18:45
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.10.
10. Os trmos unvocos, equvocos, anlogos.
At o presente, consideramos o conceito como sendo participado
igualmente por todos os seus inferiores. "Animal" convm em tda a
sua significao e, idnticamente, s diversas espcies animais;
uma espcie no mais ou menos ou de modo diferente "animal" do
que outra, o homem, por exemplo, no mais animal do que o boi. A
razo significada pelo mesmo nome idntica em todos os sujeitos.
Esse trmo denominado sinnimo, por Aristteles (mais tarde ser
chamado unvoco), o verdadeiro universal lgico que se pode
definir:
Quorum
nomen
commune
est, et
ratio per
nomen
significata
simpliciter
eadem.
Mas h outros casos onde s o nome comum, enquanto que as
diversas coisas que le significa so totalmente dissemelhantes:
"animal, diz Aristteles, tanto um homem real quanto um homem
em pintura; estas duas coisas, com efeito, no tm em comum
seno o nome, enquanto que a noo designada pelo nome
diferente" (Categorias, I, c. I). Paralelamente, o trmo "gallus"
designa ao mesmo tempo o gauls e o galo. stes trmos so
homnimos, ou equvocos. So definidos:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-10.htm (1 of 6)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.10.
Quorum
nomen
commune
est et
ratio per
nomen
significata
simpliciter
diversa.
Uma anlise mais acurada mostraria que a alguns trmos
correspondem, nos inferiores aos quais les so atribudos,
naturezas ou razes que so sob alguns aspectos as mesmas, e sob
outros aspectos diferentes. Por exemplo, o trmo "bom", aplicado a
um homem, a um problema, a uma fruta, significa em cada coisa
uma certa bondade mas que no em cada caso, do mesmo gnero:
a bondade do homem no idnticamente a de um problema etc. Dizse que se trata de um trmo anlogo. Tais trmos se definiro:
Quorum
nomen
commune
est, ratio
vero per
nomen
significata
simpliciter
diversa,
secundum
quid
eadem.
Sob ste ponto de vista, pode-se portanto distinguir trs espcies de
trmos: unvocos, anlogos e equvocos, stes dois ltimos no
representando, alis, qualquer conceito definido. Teremos ocasio
de voltar, em metafsica, a esta diviso capital. Aqui, basta que a
formulemos de nvo, com S. Toms, neste belo texto (Metaf., IV, 1. I,
n. 535)
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-10.htm (2 of 6)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.10.
"Deve-se saber
que qualquer
coisa pode ser
atribuda a
diversos
sujeitos de
vrias
maneiras: ore
segundo um
contedo
absolutamente
idntico e dizse ento que
le lhes
atribudo
univocamente
(animal, por
exemplo,
atribudo ao boi
ou ao cavalo);
ora segundo
contedos
absolutamente
diferentes e dizse neste caso
que lhes so
atribudos
equivocamente
(co, por
exemplo,
atribudo ao
astro ou ao
animal); ora
segundo
contedos que
so em parte
diversos e em
parte no
diversos:
diversos, na
medida em que
implicam
maneiras de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-10.htm (3 of 6)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.10.
ser diferentes,
e unos na
medida em que
essas maneiras
de ser se
relacionem a
algo de uno e
de idntico; tal
atribuio dizse que feita
analgicamente,
quer dizer, de
maneira
proporcional,
porquanto cada
atributo
relacionado
quela coisa
una e idntica,
mas segundo
sua maneira
prpria de ser."
"Sed sciendum
est, quod
aliquid
praedicatur de
diversis
multipliciter:
quandoque
quidem
secundum
rationem
omnino eadem,
et tunc dicitur
de eis univoce
praedicari,
sicut animal de
equo et bove.
Quandoque
vero secundum
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-10.htm (4 of 6)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.10.
rationes
omnino
diversas, et
tunc dicitur de
eis aequivoce
praedicari,
sicut canis de
sidere et
animali.
Quandoque
vero secundum
rationes, quae
partim sunt
diversae et
partim non
diversae:
diversa quidem
secundum
quod diversas
habitudines
important,
unge autem
secundum
quod ad unum
aliquid et idem
istae diversae
habitudines
referentur, et
illud dicitur
analogice
praedicari id
est
proportionaliter,
prout
unumquodque
secundum
suam
habitudinem ad
illud unum
refertur".
Observemos que Aristteles, nas Categorias; no tratou
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-10.htm (5 of 6)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.10.
expressamente dos "anlogos". Os "parnimos", denominativa, de
que le fala, so coisas que "diferindo de uma outra pelo caso,
recebem sua denominao do prprio nome de que se origina:
assim, de gramtica vem gramtico e, de coragem, homem
corajoso". Essa denominao tem uma certa relao com o anlogo,
porm no lhe corresponde exatamente.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-10.htm (6 of 6)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.11.
11. Os predicamentos.
A lista dos predicamentos que em aristotelismo tem um lugar to
importante, apresenta-se, no primeiro livro do Organon, como uma
coleo dos modos mais gerais do ser. A les so apresentados em
nmero de dez. Em outras partes a lista se ver um pouco reduzida.
A tradio escolstica consagrou a lista completa de dez. Eis como
Aristteles a apresentou: (Categ., C. 4, 1 b 25) .
"As
expresses
sem
qualquer
ligao
significam
a
substncia,
a
quantidade,
a
qualidade,
a relao,
o lugar, o
tempo, a
posio, a
possesso,
a ao, a
paixo.
substncia,
para o
dizer em
uma s
palavra,
por
exemplo,
homem,
cavalo;
quantidade,
por
exemplo,
do
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-11.htm (1 of 7)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.11.
tamanhode
dois
cvados,
do
tamanho
de trs
cvados;
qualidade,
branco,
gramtico;
relao,
menor,
maior;
lugar, no
Liceu, no
Forum;
tempo,
ontem, no
ltimo
ano;
posio,
le est
deitado,
le est
sentado;
possesso,
le est
calado,
le est
armado;
ao, le
corta, le
queima;
paixo, le
se queima,
se corta."
As categorias constituem como que a ltima resposta e, a mais
profunda, s questes que se podem colocar sbre a natureza das
coisas. O que isto? Uma substncia, uma qualidade, ser a ltima
resposta.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-11.htm (2 of 7)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.11.
Perguntou-se como Aristteles teria constitudo sua relao das
categorias. Pretenderam alguns que tinha sido a partir de uma
anlise das formas da linguagem. Ns julgamos que se tal anlise
pde, com efeito, esclarecer Aristteles a ste respeito, parece,
entretanto, mais fundamentado descobrir nessa lista uma origem
emprica ou indutiva, a partir do dado exterior.
Em seguida houve quem quisesse demonstrar que ste quadro das
categorias era necessrio e suficiente. As razes apresentadas no
so certamente sem valor, mas necessrio no esquecer que se
trata de uma sistematizao posterior descoberta das categorias.
Categoria, no sentido etimolgico da palavra, significa predicado e,
de fato, nove das dez categorias enumeradas por Aristteles so
aptas a se tornarem predicados; apenas a substncia, a que designa
o primeiro sujeito, faz exceo. Essa particularidade nos permite
dividir o conjunto das categorias em dois grupos gerais, dos quais o
primeiro no contm seno uma nica categoria, a substncia,
sendo que o segundo une tdas as categorias que podem ser
atribudas substncia, os acidentes. Estes podem ser divididos,
por afinidade, em quatro classes:
- Os
acidentes
fundamentais:
quantidade,
qualidade,
relao;
- os que tm
relao com
a atividade:
ao, paixo;
- os que
situam as
coisas:
tempo, lugar,
posio;
- um
predicamento
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-11.htm (3 of 7)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.11.
extrnseco:
possesso.
As categorias, divises essenciais do ser, podem, em conseqncia
ser ordenadas da seguinte maneira:
Ens:
substantia,
accidentia.
Accidentia:
1.
Quantitas,
qualitas,
relatio. 2.
Actio,
passio. 3.
Quando,
ubi,
situs. 4.
Habitus.
Este esquema representa o que se chama a diviso do ser segundo
os dez predicamentos: ens dividitur secundum decem
praedicamenta. Essa diviso se situa, de incio, sob o ponto de vista
metafsico ou das primeiras intenes, e neste sentido que
Aristteles certamente a compreendeu. Mas pode-se dar-lhe uma
significao prpriamente lgica, quer dizer, consider-la sob o
ponto de vista das segundas intenes, como iremos fazer.
Metafsicamente considerados, os predicamentos exprimem os
modos gerais do ser, mas cada um dles pode, por sua vez, ser
relacionado com as modalidades mais particulares do ser, onde o
ser se encontra: a substncia, por exemplo, com as substncias
espirituais, corporais, etc. Obtm-se, assim, a classe de todos os
sres que so substncia. Como a substncia e os outros
predicamentos so os atributos mais elevados, les podem, por
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-11.htm (4 of 7)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.11.
extenso, ser chamados gneros: so os gneros supremos, abaixo
dos quais se ordenam os gneros menos elevados at s espcies,
ltimas. A srie ordenada dos gneros e das espcies, comandada
por um dos dez predicamentos, se chama um predicamento lgico.
Pode-se defini-lo:
Series
generum et
specierum
sub uno
supremo
genere
ordinatorum.
Subordinando-se a cada um dos dez predicamentos uma srie de
gneros e de espcies, obtm-se uma classificao geral em que
tda modalidade de ser ter o seu lugar, e que poder servir de base
para as definies. Precisemos logo que se trata a de uma viso
totalmente terica que, apesar das aparncias, no difcil de
realizar. Os autores costumam representar, para o caso mais
accessvel da substncia, a srie ordenada dos gneros e das
espcies que, partindo do gnero supremo, substncia, desce at a
uma de suas ltimas espcies, o homem.
O esquema assim estilizado a famosa rvore de Porfrio.
Arbor
porphyriana:
Substantia:
materialis,
immaterialis.
Substantia
materialis:
corpus.
Corpus:
Animatum,
inanimatum.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-11.htm (5 of 7)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.11.
Corpus
animatum:
Vivens.
Vivens:
Sensibile,
insensibile.
Vivens
sensibile:
animal.
Animal:
Rationale,
irrationale.
Animal
rationale:
homo.
Homo:
Socrates,
Plato,
Aristotelis.
Essa ordenao dos gneros e das espcies da substncia
certamente bem fundamentada, uma vez que se baseia sbre a
diferenciao das grandes classes ou reinos da natureza. Mas no
se deve esperar dela mais do que ela pode dar. Ela no apresenta,
com efeito, seno as linhas do predicamento substncia, que pela
srie das diferenas, material, animada, sensvel, racional, chega a
uma nica das espcies de substncias concretas, o homem. As
diferenas correspondentes, imaterial, animado, insensvel,
irracional, que permanecem indeterminadas, deixam aberto o mundo
muito mais dificilmente penetrvel das hierarquias anglicas e dos
reinos minerais, vegetais e animais. Observemos, alm disso, que as
definies que se podem formar por gneros e diferenas
especficas "o homem animal racional" etc. no tm sentido a no
ser que se tenha compreendido verdadeiramente as diferenas e os
gneros superiores: diga-se isto para que no se acredite que a
filosofia pode dar lugar a um psitacismo vazio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-11.htm (6 of 7)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.11.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-11.htm (7 of 7)2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.12.
12. Os post-predicamentos.
O carter de lxico que apresenta em seu conjunto o livro das
categorias se afirma mais claramente ainda na ltima parte da obra.
Aps ter estudado separadamente cada uma das categorias, tarefa
que deixamos metafsica, Aristteles passa definio e
subdiviso de cinco noes um pouco sem nexo, nas quais pode-se,
contudo, reconhecer a propriedade comum de pertencerem a todos
os predicamentos ou a alguns. So elas a oposio, a prioridade, a
simultaneidade, o movimento, o ter.
O movimento, motus, que s se encontra nas categorias de
substncia, de quantidade, de qualidade e de lugar, deve ser
estudado em fsica.
A prioridade, prioritas, e a simultaneidade, simultaneitas, so
noes correlativas. A prioridade, qual se ope diretamente a
posterioridade, exprime o modo segundo o qual uma coisa precede
uma outra. Aristteles distingue cinco espcies de prioridade, que
podem ser reduzidas a duas principais: a prioridade segundo o
tempo, que a prioridade tipo (ex.: a anterioridade do pai com
relao ao filho), e a prioridade segundo a natureza (ex.: a da alma
com relao s suas potncias). A simultaneidade a negao da
prioridade e da posterioridade.
O ter, habere, exprime uma outra maneira de um ser relacionar-se
com um outro. o modo de convenincia entre duas coisas que faz
dizer que uma possuda pela outra: tudo o que se acha expresso
pelo verbo ter nos seus mais variados usos: ter febre, ter trinta anos
etc. Assinale-se que Aristteles distingue cinco modos de ter.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-12.htm2006-06-01 12:18:46
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.13.
13. Concluso: a primeira operao no conjunto do
pensamento.
Vimos que a primeira operao do esprito tem como objeto a
essncia das coisas, quidditas, que ela abstrai dos dados sensveis
e que ela percebe em seguida como "universal", relacionando-a com
os sujeitos aos quais ela pode ser atribuda. Considerada no
conjunto da vida do esprito, essa operao representa um duplo
papel.
Por sua natureza, ela o ato pelo qual o esprito percebe a essncia
das coisas, assimila essa essncia, sendo que cada essncia lhe
aparece manifesta em si prpria e distinta das demais essncias.
Mas, como nossa potncia de abstrao por demais fraca para que
possamos atingir a sse resultado de um s lance, temos de tentar
alcan-lo, caminhando progressivamente, por etapas. O ponto de
partida dessa marcha a apreenso confusa dos dados da
experincia. Seu discernimento e ordenao se far em seguida,
graas a um duplo processo: inicialmente, por diviso, que o meio
prprio e adaptado a essa tarefa; e se a diviso se revela impotente
para esclarecer o complexo primitivo, lanamos mo do mtodo de
coleo. Isto , parte-se dos dados mais particulares e procura-se
discernir o que les tm entre si de comum e de diferente. Ao nvel
da primeira operao do esprito, sses mtodos correspondem aos
dois processos essenciais do raciocnio: deduo e induo. A meta
ideal dessa marcha do esprito na anlise do dado a definio,
ponto culminante da primeira operao. Pela definio, as essncias
se tornam manifestas ao esprito e se vem, ao mesmo tempo,
colocadas em seu lugar na classificao geral dos gneros e das
espcies. As definies autnticas, pelo gnero e diferena
especfica, so, j o dissemos, dificilmente alcanadas. Apesar
disso, o processo que elas desencadeiam permanece inteiramente
caracterstico da atividade de simples apreenso.
Existe, portanto, uma atividade original de simples apreenso que
tem valor por si prpria. Mas essa atividade ainda no d um
conhecimento acabado das coisas, a quididade que ela atinge
diretamente, ainda abstrai da existncia, ou da realidade concreta.
necessrio, portanto, que uma segunda operao do esprito
intervenha, tomando dessa vez como objeto sse aspecto de
existncia: ipsum esse. Face a essa segunda atividade do esprito, a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-13.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:47
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.5, C.13.
simples apreenso representa o papel de operao preliminar. Ela
constitui os trmos que sero associados ou dissociados pelos
julgamentos: antes de tudo os predicados, pois a propriedade do
universal precisamente sua aptido a ser predicado; e,
subsidiriamente os sujeitos, pois os trmos universais,
comparados aos que lhes so superiores, podem ter a funo de
sujeitos.
Essa maneira de encarar a primeira operao do esprito como
preparatria segunda e sendo perfectiva do conhecimento,
certamente legtima.
Mesmo assim no se deve esquecer que a simples apreenso uma
atividade do pensamento que atinge, na ordem da percepo da
essncia, a um certo resultado absoluto, ao qual nada se tem a
acrescentar.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA5-13.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:47
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.1.
VII
A SEGUNDA OPERAO DO ESPIRITO
1. Definio do julgamento.
O julgamento o ato psicolgico que corresponde segunda
operao do esprito. Pode-se defini-lo com Aristteles e S. Toms:
um ato da inteligncia que une ou divide por afirmao ou negao
actio
intellectus
qua
componit
vel dividit
affirmando
vel
negando.
O que impressiona de incio no julgamento que le uma atividade
complexa, uma associao de vrios trmos, enquanto que a
primeira operao era simples. Mas isso no o que caracteriza
mais profundamente ste ato; podia j haver complexidade na
simples apreenso, para a definio por exemplo. O que especifica e
distingue o julgamento a afirmao ou negao que se acha
expressa pelo verbo ser ou pela negao no ser, verbo que est
sempre explcita ou implicitamente contido nessa operao: "O leo
um animal", "Pedro joga" =Pedro jogador.
V-se, portanto, que enquanto a primeira operao atingia a
essncia da coisa, a segunda operao considera de preferncia sua
existncia, que ela afirma ou nega. Ela completa assim e conduz a
seu trmo o esfro de percepo da realidade total que havia sido
comeada pela simples apreenso. Dir-se- que, enquanto o objeto
da primeira operao do esprito a quidditas, o da segunda o
ipsum esse (cf. I. Sent., D. 19, q. 5, a. I, ad 7) :
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:47
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.1.
Prima
operatio
respicit
quidditatem
rei,
secunda
respicit
ipsum
esse.
O julgamento v a existncia, a realidade atual das coisas. da
maior importncia tomar conscincia dsse fato quando se aborda o
estudo dessa operao. sua marca distintiva; e ainda sob ste
ponto de vista que poderemos dividi-la. Observemos, todavia, desde
logo que, o ser afirmado no julgamento analgico. Quem diz ser,
diz necessriamente ordem existncia, realidade. Mas h vrias
maneiras de ordem existncia. Pode-se existir em si ou smente
em um outro, em ato ou em potncia, pode-se mesmo existir
smente na razo (ser de razo). H, paralelamente, julgamentos de
diversos tipos: concretos, abstratos, etc. Todos sses julgamentos
implicam igualmente afirmao ou negao de ser, mas segundo
modalidades diferentes. Exemplos: "Pedro homem", "Pedro
branco", "o homem vivente", "o quadrado um retngulo", "o vcio
condenvel", "o sujeito um trmo".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:47
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.2.
2. Processos de formao do julgamento.
A psicologia se aplica em precisar a srie dos atos que asseguram a
integridade de um julgamento. Distinguem-se, assim, como que
cinco tempos nessa operao:
A. A apreenso
de dois trmos.
B. Seu
relacionamento.
C. A percepo
de sua
convenincia
ou de sua no
con venincia.
D. A afirmao
dessa
convenincia
ou dessa no
conve nincia.
E. A expresso
em um verbo
mental daquilo
que assim
concebido, ou
a enunciao.
Por exemplo, se eu julguei que "a msica um repouso",
inicialmente concebi os trmos "msica" e "repouso", eu os
comparei, percebi sua convenincia, tda esta atividade preparatria
situando-se no plano da primeira operao do esprito ou da simples
apreenso das coisas; depois, refletindo sbre o meu ato, vi que a
convenincia constatada entre as noes de "msica" e de
"repouso" correspondiam realidade, que a composio que eu
efetuava em meu esprito existia mesmo nas coisas; aderindo ao
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:47
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.2.
testemunho dessa viso refletida, afirmei, , isto assim, isto que eu
disse, "": eis a enunciao acabada: "a msica um repouso". Tais
so as atividades, evidentemente muito estreitamente associadas,
que integram um julgamento: uma viso objetiva, depois, a partir de
uma viso refletida, a afirmao e a expresso do que se v e afirma.
Esta anlise do julgamento certamente no seria reconhecida como
autntica por numerosos filsofos modernos, para quem a relao
anterior aos trmos e os coloca de algum modo depois dela.
Segundo esta maneira de ver, a operao elementar do esprito o
julgamento, a simples apreenso no correspondendo seno a uma
diviso abstrata dste. De bom grado reconheceremos com sses
filsofos que o pensamento humano no atinge o seu estado
perfeito seno no julgamento, que finaliza a percepo total da
realidade; mas h, anteriormente a essa operao, uma primeira
atividade da qual j tivemos ocasio de assinalar a originalidade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:47
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.3.
3. A propriedade do julgamento.
A propriedade do julgamento, que decorre imediatamente de sua
natureza, a verdade ou a falsidade. Quer dizer que quando o
esprito julga le necessriamente verdadeiro ou falso: verdadeiro,
se a composio ou a diviso que le estabelece entre dois trmos
corresponde efetivamente que se acha na realidade; falsa, no caso
contrrio. "Pedro matemtico" um julgamento verdadeiro se
Pedro mesmo matemtico; seno, falso. O julgamento se
distingue por isso da primeira operao do esprito, que em si no
era nem verdadeira nem falsa. Esta doutrina, comumente sustentada
por S. Toms, est bem resumida no seguinte texto (I.a p.a, q. 16, a.
2)
"A
inteligncia
pode
conhecer
sua
conformidade
com a coisa
inteligvel,
todavia ela
no a
percebe no
momento em
que ela
apreende a
quididade de
uma coisa.
Porm,
quando ela
julga que a
coisa
realmente tal
nela mesma,
que ela a
concebe,
que essa
faculdade
conhece e
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-3.htm (1 of 4)2006-06-01 12:18:47
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.3.
exprime pela
primeira vez
a verdade. E
ela o faz
compondo e
dividindo.
Porque, em
tda
proposio,
ou ela aplica
a uma coisa
significada
pelo sujeito
uma forma
significada
pelo
predicado,
ou ela o
nega. Eis
porque,
falando
prpriamente,
a verdade
est na
inteligncia
que compe
e que divide,
e no nos
sentidos, ou
na
inteligncia
enquanto ela
percebe a
quididade
das coisas."
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-3.htm (2 of 4)2006-06-01 12:18:47
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.3.
"Intellectus
autem
conformitatem
sui ad rem
intelligibilem
cognoscere
potest: sed
tamen non
apprehendit
eam,
secundum
quod
cognoscit de
aliquo quod
quid est. Sed
quando
judicat rem
ita se habere
sicut est
forma, quam
de re
apprehendit,
tunc primo
cognoscit, et
dicit verum.
Et hoc facit
componendo
et dividendo.
Nam in omni
propositione
aliquam
formam
significatam
per
prxdicatum,
vel applicat
alicui rei
significatae
per
subjectum
vel removet
ab ea... Et
ideo proprie
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-3.htm (3 of 4)2006-06-01 12:18:47
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.3.
loquendo
veritas est in
intellectu
componente
et dividente,
non autem in
sensu, neque
in intellectu
cognoscente
quod quid
est".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-3.htm (4 of 4)2006-06-01 12:18:47
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.4.
4. A enunciao
O julgamento o ato do esprito que compe ou divide afirmando ou
negando; a enunciao o trmo dsse ato, o que se diz ou se
pronuncia julgando. esta expresso do julgamento que interessa
ao lgico, o ato como tal diz respeito psicologia. Como para a
primeira operao do esprito, iremos considerar paralelamente a
expresso mental e o sinal verbal do pensamento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-4.htm2006-06-01 12:18:48
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.5.
5. O discurso, "oratio".
Aristteles inaugura, no Perihermeneias, seu estudo da segunda
operao do esprito, com um captulo (c. 4) sbre o discurso em
geral. Segundo a definio que dada neste local, o discurso, ou
mais simplesmente a frase, "oratio", um conjunto verbal cujas
partes, tomadas separadamente, tm uma significao como trmos
e no como afirmao ou negao:
vox
significativa
ad
placitum
cujus
partes
separatae
aliquid
significant
ut dictio
non ut
affirmatio
vel
negatio.
Dito de outra forma: o discurso tem, como elementos, simples
trmos. Esta afirmao no vem sem dificuldades, uma vez que
comum encontrarmos enunciaes que tm como partes
proposies j constitudas. Ex.: "Se chover, a terra se molhar".
ste caso especial das enunciaes ditas "compostas" no est
compreendido na definio que acabamos de dar, a qual no
considera seno as enunciaes "simples" que so o prprio tipo da
enunciao.
Na seqncia do livro, Aristteles distingue o discurso imperfeito
que deixa o esprito como que em suspenso "homem justo", "de
passagem", e o discurso perfeito que apresenta algo como que
acabado, definido: "Pedro justo". O discurso perfeito se subdivide
em enunciao e em argumentao, formas expressivas
correspondentes segunda e terceira operao do esprito, e em
discurso prtico (ordenativo), em que entra um elemento de inteno
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-5.htm (1 of 4)2006-06-01 12:18:48
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.5.
voluntria. Os discursos prticos so de quatro espcies, segundo
S. Toms
"Do fato de
que a
inteligncia
ou a razo
no tem como
funo
unicamente o
conceber nela
mesma a
verdade
objetiva, mas
tambm o
dirigir e
ordenar as
outras coisas
de acrdo
com o que ela
concebeu,
resulta que,
sendo a
prpria
concepo do
esprito
significada
pelo discurso
enunciativo,
deve haver
outras formas
de discurso
que exprimam
a ordem
segundo a
qual a razo
exerce sua
funo de
direo. Ora,
um homem
pode ser
ordenado pela
razo de um
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-5.htm (2 of 4)2006-06-01 12:18:48
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.5.
outro, a trs
atos:
primeiramente,
a prestar
ateno; a
isso
corresponde
o discurso
vocativo. Em
segundo lugar
a dar uma
resposta
vocal, e a isso
corresponde
o discurso
interrogativo.
Em terceiro
lugar, a
executar, e a
isso
corresponde:
relativamente
aos inferiores
o discurso
imperativo e
com relao
aos
superiores o
discurso
deprecativo,
ao qual se
liga o
discurso
optativo, uma
vez que o
homem no
tem outro
meio de agir
sbre aqule
que lhe
superior pela
expresso de
um desejo".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-5.htm (3 of 4)2006-06-01 12:18:48
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.5.
Perihermeneias,
I, L 7, n 5
E S. Toms conclui que, j que nenhuma destas formas de discurso
exprime o verdadeiro ou o falso, smente a enunciao
prpriamente dita vai interessar lgica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-5.htm (4 of 4)2006-06-01 12:18:48
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.6.
6. Enunciao e atribuio.
Os elementos gramaticais da enunciao so, ns o sabemos, o
sujeito (S), a cpula (C) e o predicado (P). O sujeito e o predicado
so os elementos materiais da enunciao, enquanto que a cpula,
que representa um papel anlogo ao da forma que determina a
matria, pode ser considerado como o seu elemento formal.
Considerada em sua unidade, a enunciao, expresso do
julgamento, apresenta-se essencialmente como uma atribuio,
praedicatio, quer dizer como a conjuno ou a disjuno de dois
extremos, segundo haja ou no convenincia entre les. "Pedro
musico": quando eu pronuncio esta enunciao, eu atribuo a
qualidade de "msico" (P) a "Pedro" (S) . O ponto de vista
inteiramente formal visado pelo lgico no julgamento , portanto, a
relao de convenincia ou de no convenincia entre os dois
trmos, a qual fundamenta a atribuio efetiva.
Segundo a natureza desta relao, pode-se distinguir vrios modos
de atribuio. Quando o sujeito e o predicado so absolutamente
semelhantes, tem-se a praedicatio identica ou atribuio do mesmo
ao mesmo "o homem homem". Quando o sujeito e o predicado,
apesar de convir um ao outro em um mesmo sujeito, no so
formalmente idnticos, tem-se a praedicatio formalis: a atribuio
normal "o homem um bpede". ste segundo modo de atribuio
se subdivide em praedicatio essentialis (per se) e em praedicatio
accidentalis (per accidens), segundo o predicado convenha ao
sujeito em razo de sua essncia, necessriamente ou no
(contingentemente).
A atribuio formal essencial, ou necessria, evidentemente
aquela que pode interessar ao lgico, porque da atribuio idntica
nada se pode tirar, e a atribuio acidental est fora da certeza
cientfica. S. Toms, em seguida a Aristteles (11 Anal., 1, 1. 10),
analisa com cuidado sse tipo de atribuio e nle distingue vrios
modos, segundo o predicado exprima a prpria essncia do sujeito
ou um elemento que se liga necessriamente a ela. a famosa teoria
dos quatuor modi dicendi per se (no se diz praedicandi, porque
smente trs dstes modos podem ser atribudos).
O primeiro modo, primus modus dicendi per se, corresponde ao
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:48
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.6.
caso em que o predicado pertena prpria essncia do sujeito,
seja exprimindo-a totalmente (definio: o homem animal
racional"), seja exprimindo-se smente em parte: "o homem
animal", "o homem racional".
O segundo modo, secundus modus dicendi per se, corresponde ao
caso em que o predicado exprime uma propriedade da essncia: "o
homem tm o poder de rir".
O terceiro modo, tertius modus dicendi per se, no , como observa
S. Toms, um modo de atribuio mas de existncia: a designao
do modo de realidade da substncia que existe por si prpria e no
em um outro e no pode, por ste fato, ser atribuda a nenhum outro:
"Pedro".
O quarto modo, quartus modus dicendi per se, temi ligao com a
relao de causalidade eficiente; o predicado, ou antes, o verbo
predicado, exprime a causalidade prpria do sujeito que lhe assim
atribudo: "o pintor pinta", " o mdico cura".
Alm dessa relao dos modos de predicao, S. Toms,
observando que um conceito pode ser tomado concretamente
"homem", ou abstratamente "humanidade", estabeleceu as regras a
aplicar quando o sujeito e o predicado so concretos ou abstratos.
Pode-se dizer, por exemplo: "o homem animal", "a humanidade
animalidade", mas no "o homem a animalidade". Entretanto,
correto dizer-se: "Deus sua divindade".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:48
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.7.
7. Extenso e compreenso no julgamento.
O sujeito e o predicado, sendo universais, entram, cada um, no
julgamento com seu tipo de extenso e de compreenso. Assim
que se pode dizer que o predicado, que forma, determina a
compreenso do sujeito. Em "Pedro msico" eu declaro que a
qualidade de ser msico pertence a Pedro. Pode-se igualmente dizer
que, julgando, eu classifico o sujeito na extenso do predicado:
Pedro, na enunciao precedente, est classificado no nmero dos
msicos. - Aps o que foi dito do conceito, percebe-se que stes
dois pontos de vista se combinam no julgamento, que assim ao
mesmo tempo determinao da compreenso do sujeito, e anlise
da extenso do predicado. Todavia, o ponto de vista da
compreenso tendo prioridade, pode-se concluir que julgar , antes
de tudo, determinar a compreenso do sujeito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-7.htm2006-06-01 12:18:49
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.8.
8. Diviso da enunciao.
As divises essenciais de uma operao se tomam a partir de seu
objeto. Ora, a enunciao, trmo do julgamento, tem como objeto o
prprio ser que ela afirma, ipsum esse. Portanto, sob o ponto de
vista do ser afirmado que se efetuaro as divises essenciais
relativas a esta operao: haver tantos tipos gerais de enunciaes
quantos os modos especficos de afirmao do ser. Dentre les, a
filosofia escolstica conservou os trs principais.
As enunciaes simples. - O predicado um esse essencial ou
acidental, recebido num sujeito que preenche a funo de
substncia ou de suposto: "homem", "bpede", "gramtico"
atribudo a "Pedro". As enunciaes correspondentes: "Pedro
homem" etc., so ditas simples ou categricas, porque h uma
simples atribuio de um predicado a um sujeito. Dir-se- que se
tem a um julgamento de inerncia, para distinguir ste caso, onde
apenas se afirma que o predicado convm (inere) ao sujeito, daquele
em que se precisa o modo dessa inerncia (proposies modais).
As enunciaes compostas. - O predicado afirmado exprime, neste
caso, o lao existente entre enunciaes simples. Ex.: "Se a chuva
cai, a terra molhada".
Tais enunciaes so ditas de conjuno ou compostas; a cpula
no mais o verbo "", mas partculas tais como "ou", "se", "e". Vse que se trata de um caso' muito diferente do precedente: a
modalidade de ser que se afirma no mais uma parte da essncia
ou um acidente de um sujeito, mas o prprio lao (causalidade ou
coexistncia) que une vrias realidades. Os elementos de tal
enunciao so j enunciaes constitudas; da lhes vem a
denominao de enunciao composta (ou hipottica). Entretanto,
no se trata ainda de um verdadeiro raciocnio, uma vez que no
existe ainda, prpriamente falando, um movimento do esprito a
partir de verdades adquiridas em direo a uma nova verdade. -A
enunciao composta, que tem seu fundamento na pluralidade do
ser e nas relaes que resultam dessa pluralidade, corresponde, no
mbito da segunda operao do esprito diviso e definio no
mbito da primeira, que so atividades relativas pluralidade das
essncias e a suas relaes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-8.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:49
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.8.
As enunciaes modais. - O predicado afirmado o prprio modo de
ligao dos dois trmos de um julgamento " necessrio que o justo
seja recompensado". Estes modos, afetando a cpula ou o verbo,
so, ns o veremos, o possvel, o impossvel, o necessrio, e o
contingente. A afirmao assim constituda tem como objeto a
modalidade de ipsum esse que ela considera.
A teoria dos modais longamente desenvolvida por Aristteles no
Perihermeneias; a das proposies compostas, ao contrrio, no
remonta seno lgica estica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-8.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:49
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.9.
9. As enunciaes simples.
A enunciao simples constitui o tipo normal de atividade da
segunda operao do esprito; as outras espcies de enunciao
so modos derivados, e supem sempre em sua base a simples
atribuio. As enunciaes simples so constitudas de um
predicado, que com a cpula-verbo tem a funo de forma
determinante, e de um sujeito. Dividir-se-o as enunciaes simples,
seja sob o ponto de vista da forma (diviso essencial), seja sob o
ponto de vista da matria, (diviso dita acidental).
Sob o ponto de vista da forma ou da qualidade, as enunciaes
simples se dividem em afirmativas e negativas. Eu comparo o
predicado e o sujeito, e se vejo que les se convm na realidade,
afirmo sua ligao: "o homem um animal"; se vejo, ao contrrio,
que les no se convm, nego que haja ligao: "o homem no um
puro esprito". Note-se que, do lado do esprito, h igualmente nos
dois casos uma aproximao, uma ligao dos dois trmos
presentes; na realidade, sbre a relao objetiva que se porta a
afirmao ou a negao.
Sob o ponto de vista da matria ou do sujeito, distingue-se
principalmente, o que corresponde diviso paralela dos trmos, as
proposies universais "todo homem mortal", particulares, "algum
homem filsofo", singulares "Pedro filsofo", e indefinidas "o
homem mortal". Estas ltimas proposies no so evidentemente
utilizveis em lgica, seno na medida em que podem ser reduzidas
a um dos tipos precedentes.
Sob o ponto de vista da cpula ou do verbo, pode-se ainda
estabelecer distines secundrias:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-9.htm (1 of 5)2006-06-01 12:18:49
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.9.
Enunciaes
necessrias,
quando a
ligao
afirmada
necessria:
"o homem
capaz de rir",
contingentes,
se a ligao
contingente:
".`Pedro
msico";
impossveis,
se ela
impossvel:
"Pedro um
anjo". A
modalidade
da afirmao
no estando
ainda
explicitamente
expressa,
ainda no se
trata, em
nenhum
dstes casos,
de
verdadeiras
proposies
modais.
Enunciaes
no passado,
no presente
ou no futuro,
segundo o
tempo em
que esteja o
verbo: se so
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-9.htm (2 of 5)2006-06-01 12:18:49
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.9.
verdadeiras,
tais
enunciaes
sero sempre
verdadeiras.
Todavia,
aquelas que
dizem
respeito a um
futuro
contingente,
"o mundo
acabar em
mil anos" so
um caso
especial
sbre o qual
voltaremos a
falar.
Aplicao lgica dessas divises. - Em lgica interessam
especialmente as enunciaes necessrias (as nicas que podem
entrar em raciocnios rigorosamente cientficos) e, sob o ponto de
vista da quantidade, as universais e as particulares. As singulares,
quanto s suas propriedades lgicas, podem ser prticamente
assimiladas s universais. stes so, portanto, os principais tipos
de proposies estudadas, considerando-se sua distino em
afirmativas e negativas:
A.
Universais
afirmativas:
"todo
homem
animal"
E.
Universais
negativas:
"nenhum
homem
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-9.htm (3 of 5)2006-06-01 12:18:49
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.9.
anjo"
I.
Particulares
afirmativas:
"algum
homem
filsofo"
O.
Particulares
negativas:
"algum
homem
no
filsofo".
A acepo dos trmos sendo, como o vimos, dependente da forma
especial das diversas proposies, cada um dos tipos que
acabamos de distinguir impe ao sujeito e ao predicado condies
particulares no que concerne sua compreenso e sua extenso.
O sujeito , regra geral, tomado em tda a sua compreenso,
manifestando-se sua extenso pelas partculas: todo, nenhum,
algum etc.
As regras relativas ao predicado so as seguintes. Em tda
afirmativa, o predicado tomado particularmente "todo homem
(algum) animal"; em tda negativa, o predicado tomado
universalmente "algum homem no (todo) anjo"; em tda
afirmativa, o predicado tomado em tda a sua compreenso "todo
homem (tudo o que ) animal"; em tda negativa, o predicado
tomado smente em uma parte de sua compreenso "algum homem
no (uma parte do que ) filsofo".
Relaes da afirmao com a negao. - A distino das
proposies em afirmativas e em negativas particularmente
importante. Gerando a oposio dita de contradio, -no , ela
dar lugar ao primeiro princpio da vida do esprito, o princpio da
no-contradio. Do mesmo modo estar na base da teoria da
oposio das proposies.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-9.htm (4 of 5)2006-06-01 12:18:49
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.9.
Pode-se perguntar quem tem a prioridade: a afirmao ou a
negao? S. Toms (Perihermeneias, I, 1. 8, n. 3) responde que, sob
trs pontos de vista, a prioridade cabe afirmao: sob o ponto de
vista da coisa, o esse tem prioridade sbre o non esse; sob o ponto
de vista da inteligncia, tda diviso pressupe uma composio;
sob o ponto de vista da linguagem, a negao um sinal que se
acrescenta afirmao e, portanto, menos simples que ela.
A negao tem entretanto um papel essencial na vida do esprito
humano que, no percebendo imediatamente a essncia das coisas
e sua diferenciao, procede por discriminao progressiva do
dado. Ao nvel da primeira operao do esprito (ordem dos
conceitos), essa discriminao se d por divises; no da segunda
operao do esprito (ordem do ser concreto), ela se efetua por
negaes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-9.htm (5 of 5)2006-06-01 12:18:49
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.10.
10. Os julgamentos de relao.
Os lgicos escolsticos no fizeram um estudo especial dos
julgamentos em que a modalidade afirmada parece ser uma relao:
"Pedro menor que Paulo", "seis igual a cinco mais um". Os
lgicos modernos, ao contrrio, devido sobretudo ao
desenvolvimento alcanado pelas cincias matemticas, em que a
relao tem um lugar essencial, detiveram-se mais longamente
sbre o caso. Alguns (Lachelier em La proposition et le syllogisme)
acham que relao corresponde um tipo de pensamento
lgicamente diferente daquele que a lgica do tipo clssico
considerava, dito de inerncia. De sorte que, para o julgamento,
seria necessrio considerar parte Os julgamentos de relao, que
teriam uma estrutura inteiramente original. Neste caso, no haveria
mais sujeito e predicado ligados pela cpula "", nem afirmao de
dependncia de um predicado a um sujeito mas, dois. trmos
igualmente sujeitos que se ligariam por uma relao que' no seria
mais uma relao de inerncia. Na proposio "Fontainebleau
menor do que Versalhes", por exemplo, no se deve considerar
"Versalhes" como o predicado de "Fontainebleau", mas
"Fontainebleau" e "Versalhes" como dois sujeitos que so
colocados em relao de comparao, sob o ponto de vista do
tamanho, por um ato de sntese original que no mais uma
atribuio simples.
Deve-se concordar com os adeptos desta teoria em que a relao
incontestvelmente um modo de ser inteiramente original, e que do
ponto de vista lgico pode ser proveitoso fazer um estudo especial
das formas de pensamento a ela relacionadas. Porm achamos que
no existe uma lgica da relao totalmente por fora dos princpios
e das leis da lgica dita de inerncia. Em todo julgamento, em
particular, deve-se distinguir um sujeito e um predicado, e o
julgamento ser sempre essencialmente afirmao e negao de ser.
Como a relao, sob o ponto de vista da realidade, parece ser
intermediria entre vrios "sujeitos", poder-se- interpretar em dois
sentidos diferentes os julgamentos que com ela se relacionam: ou
fazendo de um dos sujeitos reais o sujeito lgico:
"Fontainebleau" (S) "" (C) "menor que Versalhes" (P) (o sujeito ,
neste julgamento, "Fontainebleau", e o predicado "menor que
Versalhes"); - ou tomando como sujeito a relao indeterminada e
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-10.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:49
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.10.
como predicado sua determinao afirmada: "a relao de
Fontainebleau com Versalhes" (S) "" (C) "uma relao do menor
com o maior" (P). - No primeiro caso, foi afirmada a inerncia de um
sujeito real (esse in). No segundo caso, foi considerado seu prprio
ser de relao (esse ad). Mas tanto em uma como em outra destas
interpretaes houve, tal como em todo julgamento ordinrio, uma
certa atribuio de um predicado a um sujeito. A afirmao de ser
que est implicada em todo pensamento , ao nvel da segunda
operao do esprito, essencialmente de tipo atributivo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-10.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:49
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.11.
11. Propriedades das enunciaes.
As enunciaes, consideradas como um todo e umas em relao s
outras, tm propriedades. A mais essencial dessas propriedades a
oposio, que decorre do prprio carter de afirmao ou de
negao que necessriamente apresenta todo julgamento. Quando
eu declaro que "ste objeto branco", estou afirmando, por isso
mesmo, uma oposio a tda outra proposio que possa ser-lhe
contrria, tal como: "ste objeto no branco".
A noo de "oposio" tem um lugar considervel nos escritos
lgicos de Aristteles. estudada, em particular, quando se trata da
proposio, no Perihermeneias (a partir do c. 6), mas j tinha sido
encontrada antes, a respeito dos trmos (Categorias, c. 10 e ll); (ef.
igualmente: Metafsica, A, c. 10 e I, c. 4 e seg.). Ler a ste respeito,
em Le Systme d'Aristote de Hamelin o captulo consagrado
oposio (p. 128 e seg.).
possvel descobrir-se, na filosofia anterior, uma dupla origem para
esta teoria: na fsica pr-socrtica, por um lado, onde j se dava
grande importncia contrariedade das qualidades, quente-frio,
sco-mido, e onde se concebia a mudana como a passagem de
um contrrio a outro contrrio; por outro lado, nas especulaes
sbre a possibilidade da atribuio (as de Antstene, notadamente),
onde se supunha necessriamente admitida a excluso
parmenidiana do ser e do no-ser. -Na filosofia moderna, essa noo
da oposio foi de nvo posta em evidncia: alguns idealistas,
Hegel, Hamelin, e sob um outro ponto de vista Meyerson, a
consideram prticamente como o fato primitivo ou o dado essencial
sbre o qual deve repousar tda a metafsica.
A teoria aristotlica, para voltar a ela, compreende duas peas
principais que iremos considerar sucessivamente: 1. uma teoria
geral da oposio com sua distino em quatro tipos fundamentais;
2. a teoria especial da oposio das proposies.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-11.htm2006-06-01 12:18:50
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.12.
12. Os quatro modos da oposio.
"A oposio de
um trmo a um
outro se d de
quatro maneiras:
h a oposio dos
relativos, a dos
contrrios, a da
privao da
possesso e a da
afirmao da
negao. - A
oposio, em
cada um dsses
casos, pode
exprimir-se
esquemticamente
da seguinte
maneira: a dos
relativos, como o
duplo metade; a
dos contrrios,
como o mal ao
bem; a da
privao da
possesso, como
a cegueira vista;
a da afirmao da
negao, como:
le est sentado,
le no est
sentado".
Categorias
C. 10
Passemos em revista cada um dstes tipos de oposio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-12.htm (1 of 5)2006-06-01 12:18:50
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.12.
A oposio dos relativos. - relativo um trmo que, em sua
essncia, relaciona-se a um outro e no pode, em conseqncia, ser
concebido sem essa relao a le: o duplo duplo em relao
metade, e o conhecimento conhecimento em funo de um
cognoscvel. Observemos que os relativos no so verdadeiros
opostos, uma vez que a oposio prpriamente dita comporta uma
excluso de seus trmos um com relao ao outro (a afirmao
exclui a negao); o relativo, ao contrrio, no pode existir seno
com relao a seu contrrio, que o completa de alguma forma (o
conhecimento supe a prpria realidade de um conhecvel).
A oposio dos contrrios. - Ao contrrio dos relativos, os
contrrios no podem ser ditos um do outro. No se diz "o frio do
quente". les se colocam, um em face do outro, repelindo-se
mutuamente. Trata-se de uma verdadeira oposio. O que
distinguir os contrrios dos dois ltimos tipos de oposio ser o
lao, a comunidade que les conservam ainda sob sua mtua
incompatibilidade: les se excluem em um mesmo sujeito, no
podendo ste receber ao mesmo tempo os dois contrrios, quente e
frio por exemplo, mas permanecendo o suporte presuntivo de um e
de outro. Por outro lado, na oposio dos contrrios subsiste o que
se chama uma comunidade de gnero: assim, o branco e o prto se
excluem no mesmo gnero, cr. Alguns contrrios, para Aristteles,
no admitem intermedirios, o par e o impar por exemplo; outros o
comportam, o prto e o branco entre os quais h inmeros matizes
tais como o cinza.
A oposio privao-possesso. - Este tipo de oposio comporta
uma negao mais radical do que a contrariedade: no h mais
comunidade de gnero entre um "hbito" e sua "privao", mas
smente de sujeito. O exemplo clssico dste tipo de oposio o
da viso e de sua privao, a cegueira: em um mesmo sujeito, stes
extremos se excluem. necessrio precisar que no se pode falar
de privao ou de seu oposto a no ser que a perfeio em questo
deva efetivamente se achar no sujeito considerado: a pedra no
"privada" da viso, mas um vidente o , uma vez que le se acha em
condies nas quais normalmente deveria ver.
A oposio dos contraditrios. - Trata-se da mais forte de tdas as
oposies e, como se ver, o funcionamento mesmo de tda
oposio: um dos partidos exclui completamente o outro, sem que
subsista entre les nada de comum. Esta oposio se realiza
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-12.htm (2 of 5)2006-06-01 12:18:50
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.12.
essencialmente entre a afirmao e a negao, quer dizer no
julgamento: "Scrates est doente". - "Scrates no est doente";
ela se liga imediatamente propriedade de verdade ou de falsidade
que pertence necessriamente ao julgamento.
Esta classificao que acabamos de estabelecer, seguindo a
concepo de Aristteles, dirige-se, como se v, no sentido -de uma
oposio cada vez mais acentuada. Partindo da relatividade, que no
uma verdadeira excluso, ela chega negao absoluta ou
contradio. uma gradao que aparece bem clara neste texto de
S. Toms:
"Primo enim
dicit quot
modis
dicuntur
opposita;
quia quatuor
modis,
scilicet
contradictoria,
contraria,
privatio et
habitus et ad
aliquid.
Aliquid enim
contraponitur
alteri vel
opponitur,
aut ratione
dependentiae,
quo dependet
ab ipso, et sic
sunt opposita
relative. Aut
ratione
remotionis,
quia scilicet
unum
removet
alterum.
Quod quidem
contingit
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-12.htm (3 of 5)2006-06-01 12:18:50
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.12.
tripliciter. Aut
enfim totaliter
removei nihil
relinquens, e
sic est
negatio. Aut
relinquit
subjectum
solum, et sic
est privatio.
Aut relinquit
subjectum et
genus, et sic
est
contrarium.
Nam
contraria non
sunt solum in
eodem
subjecto, sed
etiam in
eodem
genere."
Metaf.,
V, L
12, n
922
Importa observar que a oposio, tal como acabamos de defini-Ia e
de dividi-Ia, conforme a teoria exposta nas Categorias, , antes de
tudo, uma oposio dos conceitos e, correlativamente, das coisas
que les representam. Entretanto, j nesse esquema, a oposio de
contradio no se realiza a no ser no julgamento; no seno de
uma maneira derivada e imprpria que se pode transpor para os
conceitos uma tal oposio, ex.: "doente" - "no doente", pois o
trmo negativo "no doente" um trmo indeterminado.
Se nos lembrarmos de que esta oposio est na raiz dos outros
tipos de oposio, dever-se- concluir que efetivamente a oposio
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-12.htm (4 of 5)2006-06-01 12:18:50
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.12.
antes uma propriedade do julgamento ou da enunciao. sob
ste prisma que iremos agora estud-la: ao lado da contradio que
j conhecemos, iremos encontrar, paralelamente com o esquema
dos trmos, tipos atenuados de repulsa, bem como a contrariedade
e a subcontrariedade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-12.htm (5 of 5)2006-06-01 12:18:50
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.13.
13. A oposio das proposies.
sse tipo de oposio, que se pode chamar de lgica, em
comparao com a oposio dos conceitos que, resultando
imediatamente da natureza das coisas, pode ser chamado de fsico,
apresenta um intersse muito prtico na arte do raciocnio. Com
efeito, j que as proposies se excluem com relao verdade ou
falsidade, pode-se concluir sbre a verdade ou a falsidade de uma
desde que se conhea o seu oposto.
Quando que duas proposies podem ser chamadas de opostas?
Quando, pode-se responder, se afirma ou se nega o mesmo
predicado de um mesmo sujeito. A oposio das proposies assim
se define:
affirmatio
et negatio
eiusdem
de
eodem.
Evidentemente, essa definio no se aplica s oposies das
universais afirmativas - particulares afirmativas, nem das universais
negativas -particulares negativas, que diferem smente por sua
quantidade. Observemos, por outro lado, que se o sujeito e o
predicado devem ter a mesma significao, nos dois opostos,
podem entretanto ter quantidades diferentes.
A oposio das proposies ter graus, na medida em que a
afirmao e a negao se destruam mais ou menos completamente,
deixando ou no solues intermedirias.
Na oposio de contradio h pura e simples destruio da
alternativa oposta. Duas contraditrias no podem, portanto, ser ao
mesmo tempo falsas ou verdadeiras: uma sendo verdadeira, a outra
ser necessriamente falsa e reciprocamente. Forma-se a
contraditria mudando-se a qualidade e a quantidade da proposio
em questo: "todo homem justo" - "algum homem no justo".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-13.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:50
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.13.
Na oposio de contrariedade, modifica-s apenas a qualidade,
permanecendo imutvel a quantidade dos sujeitos, quer dizer,
universal. Devido a ste fato subsistir entre as duas proposies
uma certa comunidade, e a destruio no ser to absoluta. Duas
contrrias no podero ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas
podero ser tdas duas falsas, porque a possibilidade de
proposies intermedirias permanece. Ex.: "todo homem justo" "nenhum homem justo". Estas duas proposies so igualmente
falsas se verdade que "algum homem justo".
Na oposio de subcontrariedade, a quantidade no muda, porm as
duas proposies so particulares: elas no podero ser falsas ao
mesmo tempo, mas podero ser tdas duas verdadeiras: "algum
homem justo" -"algum homem no justo".
Nota. - Duas proposies singulares, "Pedro justo" - "Pedro no
justo", se opem de maneira contraditria e no contrria, sendo
que a quantidade do sujeito no mudou; com efeito, no h
nenhuma possibilidade de solues intermedirias, como era o caso
das proposies com sujeito universal ou particular.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-13.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:50
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.6, C.14.
14. O caso dos futuros contingentes.
As proposies universais sendo necessrias e, portanto,
determinadas quando sua verdade, no oferecem dificuldades
especiais em sua oposio. O mesmo se d com relao s
proposies que tm objetos contingentes; passados ou presentes,
uma vez que sua verdade ou sua falsidade se acham tambm fixadas
de maneira certa: verdade, por exemplo, e ser sempre verdade
dizer que "Napoleo morreu em Santa Helena". O mesmo no se d
quando se trata de futuros contingentes, quer dizer que podem
existir ou no existir: a verdade ou a falsidade das proposies que
lhes dizem respeito no pode, evidentemente, se achar determinada
antecipadamente. Veja-se, por exemplo esta proposio e seu
oposto: "haver uma batalha naval amanh" - "no haver batalha
naval amanh". Se declaramos que uma destas duas proposies, a
primeira por exemplo, verdadeira, a batalha ser ento no mais
um acontecimento contingente, porm um acontecimento
necessrio, o que contrrio hiptese. Deve-se concluir, portanto,
com Aristteles que, mesmo que no se possa precisar qual destas
duas opostas a verdadeira, elas se excluem indeterminadamente:
supondo-se que uma seja verdadeira, a outra ser necessriamente
falsa. Porm nem uma nem outra, tomadas isoladamente, pode ser
chamada falsa ou verdadeira. Assim se encontra salvaguardada a
contingncia do mundo (In Perihermeneias, c. 9, 18 a 34).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA6-14.htm2006-06-01 12:18:51
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.1.
VIII
O SILOGISMO
1. Lugar do raciocnio no conhecimento humano.
Estudamos at aqui as duas primeiras operaes do esprito:
simples apreenso e julgamento. Pela simples apreenso o esprito
apreende a "quididade" abstrata das coisas; pelo julgamento le
afirma o ser concreto. Estas duas operaes, mesmo supondo uma
atividade anterior do esprito,: eram na realidade atividades simples
e como que imveis: eram atos do intellectus ut intellectus.
Porm diferentemente de Deus e dos anjos que, sendo simples
inteligncias, percebem em um nico objeto intelectual tudo o que
pode estar contido nle ou depender dle, o homem no tem seno
apreenses primitivas imperfeitas e confusas: le no esgota
imediatamente seu objeto. O julgamento, composio e diviso, e os
atos complexos que se ligam primeira operao, definio e
diviso, j permitiam associar e desenvolver alguns elementos do
dado. Mas a organizao de conjunto dste dado supe uma terceira
operao, essencialmente discursiva, o raciocnio, obra da
inteligncia humana como tal, intellectus ut ratio, definindo-se o
homem como um animal dotado de razo:
"Fazer ato de
simples
inteleco
(intelligere),
no outra
coisa, com
efeito, do que
apreender de
modo
absoluto a
verdade das
coisas,
enquanto
que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-1.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:51
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.1.
raciocinar
consiste em
passar de um
objeto
percebido a
um outro
objeto
percebido,
visando
entrar na
possesso
da verdade
inteligvel.
Disto advm
que os anjos
os quais,
segundo o
modo de sua
natureza,
possuem de
maneira
perfeita o
conhecimento
da verdade
inteligvel,
no se vm
sujeitos a
proceder
indo de um
objeto a
outro, pois
que captam
de modo
absoluto e
sem
discursos, a
verde
inteligvel...
Os homens,
pelo
contrrio,
chegam ao
conhecimento
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-1.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:51
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.1.
da verdade
inteligvel
indo de um
objeto a
outro... Eis
porque les
so
chamados
racionais. ,
portanto,
evidente que,
raciocinar
est para o
ato de
simples
inteleco,
assim como
mover-se
est para o
repouso, ou
como
adquirir est
para ter."
ST
I,
79,
8
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-1.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:51
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.2.
2. Natureza do raciocnio.
S. Toms, em seu comentrio aos Segundos Analticos, assim define
o raciocnio:
"O terceiro ato
da razo
corresponde
quilo que o
prprio da
razo, a saber:
ir de um objeto
percebido a
um outro
objeto
percebido, de
tal maneira
que pelo que
conhecido,
chega-se ao
conhecimento
daquilo que
desconhecido".
Tertius
autem
actus
rationis est
secundum
id quod est
proprium
rationis,
scilicet
discurrere
ab uno in
aliud, ut
per id quod
est notum
deveniat in
cognitionem
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:51
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.2.
ignoti.
II
Anal.
I, L.
I,
n.4
Devemos distinguir nesta definio trs elementos - discurrere: o
raciocnio um "discurso", quer dizer, na ordem do pensamento, um
movimento. S. Toms, no texto citado mais acima, comparava as
outras operaes do esprito ao repouso; o raciocnio
essencialmente movimento. Observe-se que esta operao
conservar sempre uma certa unidade, que ela no ser uma
simples justaposio de atos, porm esta unidade ser a de um
movimento, de um discurso ab uno in aliud: todo movimento se
efetua entre dois trmos. Aqui, o antecedente e o conseqente; o
antecedente o conjunto das verdades que prviamente foram
admitidas e que permite adquirir uma verdade nova, expressa pelo
conseqente per: esta partcula define o modo segundo o qual se
passa do antecedente ao conseqente. O que no se d por modo
de simples sucesso, mas de causalidade. Neste movimento de
ordem intelectual e imanente que o raciocnio, o antecedente
causa do conseqente. Nem a justaposio de dois trmos, nem
mesmo a justaposio de vrios julgamentos constitui, portanto, um
verdadeiro raciocnio. Esta operao supe necessriamente uma
dependncia, na ordem da verdade, por modo de causalidade.
necessrio, igualmente, que haja passagem de uma verdade a uma
outra verdade. Nem na converso nem na oposio das proposies
h prpriamente raciocnio, porque, mesmo que haja dependncia
na verdade das proposies em causa, no h, na realidade,
presena de duas verdades diferentes: a segunda proposio no
faz seno traduzir, com uma construo diferente, o que a primeira
j exprimia. Ex.: "nenhum homem anjo" enuncia a mesma verdade
que "nenhum anjo homem". Se, portanto, eu posso legitimamente
concluir sbre a verdade de uma dessas proposies porque sei que
a outra verdadeira, no posso dizer que fiz um raciocnio, uma vez
que no deduzi uma outra verdade. Sbre ste assunto pode-se
consultar Stuart Mill (Lgica, L. II, C.1) onde le demonstrou que, a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:51
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.2.
passagem de uma verdade a uma outra expresso da mesma
verdade, no constitui um raciocnio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:51
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.3.
3. Divises do raciocnio.
Vimos que o raciocnio pode ser considerado sob dois pontos de
vista diferentes: formalmente, quer dizer, em sua disposio lgica e
materialmente, quer dizer, quanto a seu contedo. Ter-se-,
portanto, um estudo formal e um estudo material do raciocnio.
O estudo formal do raciocnio, sbre o qual nos deteremos
inicialmente, se subdivide em duas seces correspondentes aos
dois grandes tipos clssicos desta operao: o silogismo ou
deduo, que se pode caracterizar de uma maneira geral como
sendo o raciocnio que vai do mais universal ao menos universal, e a
induo que , em sentido inverso, a passagem do particular ao
universal.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-3.htm2006-06-01 12:18:51
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.4.
4. Natureza e divises do silogismo.
Aristteles assim define o silogismo, no livro que consagra ao seu
estudo (I Anal. I, C. I, 24 b 18) : "um discurso no qual, uma vez que
certas realidades so afirmadas, alguma outra realidade diferente
resultar necessriamente delas, pelo simples fato de que elas
foram afirmadas." Tal definio parece convir a tdas as formas de
raciocnio necessrio. Restringida, entretanto, ao silogismo, parece
querer dar a entender que, para Aristteles, no havia nenhuma
outra forma apodtica de raciocnio seno o prprio silogismo.
Distinguem-se duas grandes espcies de silogismo: o silogismo
categrico, no qual a maior uma proposio categrica, e o
silogismo hipottico, no qual a maior uma proposio hipottica
ou composta. Se observamos, por outro lado, que existem formas
particulares de silogismo, derivadas das precedentes, poderemos
prticamente dividir nosso estudo em trs pargrafos tratando
respectivamente: do silogismo categrico, do silogismo hipottico e
das formas particulares do silogismo. Como o silogismo categrico
o que tem maior utilidade e como le se encontra na base de todos
os outros, ser principalmente sbre le que deteremos mais a
nossa ateno.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-4.htm2006-06-01 12:18:52
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.5.
5. O silogismo categrico.
O silogismo categrico uma argumentao em cujo antecedente se
associam dois trmos a um mesmo terceiro, de modo que se possa
inferir da um conseqente em. que stes dois trmos possam ou
no convir entre si (Gredt):
argumentatio,
in cujus
antecedente
comparantur
duo termini
cum uno
eodemque
tertio ut
exinde
inferatur
consequens
quod enuntiat
illos duos
terminos inter
se convenire
vel non
convenire.
Se se analisar esta definio. constatar-se- que o silogismo
categrico se compe necessriamente de trs trmos, e que se
pode exprimir as relaes supostas entre les, em trs proposies.
Nas duas primeiras, que constituem a antecedente, o trmo
intermedirio ser sucessivamente comparado aos dois extremos;
na terceira, que exprime o conseqente, os dois extremos se vero
associados entre si. Exemplo:
Antecedente:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-5.htm (1 of 6)2006-06-01 12:18:52
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.5.
O que
espiritual
(M)
imortal
(T)
Ora, a
alma
humana
(t)
espiritual
(M)
Conseqente:
Logo, a
alma
humana
(t)
imortal
(T)
Chama-se:
- Trmo
Maior (T), o
predicado
da
concluso
- Trmo
Menor (t), o
sujeito da
concluso
- Trmo
Mdio (M), o
trmo
comum das
premissas
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-5.htm (2 of 6)2006-06-01 12:18:52
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.5.
Premissas,
as
proposies
que
constituem
o
antecedente.
- Premissa
Maior, a
premissa
que contm
o trmo
maior
- Premissa
Menor, a
que contm
o trmo
menor
Concluso,
a
proposio
conseqente
Observe-se, e isto muito importante, que no pensamento e
linguagem correntes, no se desenvolvem habitualmente raciocnios
silogsticos em premissas e concluso. Dir-se-, por exemplo, muito
simplesmente: "A alma humana imortal porque ela espiritual".
Porm sempre possvel proceder-se a esta decomposio, porque
em tda deduo h necessriamente trs trmos e, portanto, trs
proposies. Em lgica, onde se procura pr em evidncia tdas as
ligaes do pensamento, representar-se- normalmente a deduo
dentro de sua figurao assim desenvolvida.
At aqui, s fizemos uma anlise descritiva do silogismo. Convm
voltarmos sua definio para que possamos nos dar conta
exatamente de sua natureza e, assim, nos colocarmos em condies
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-5.htm (3 of 6)2006-06-01 12:18:52
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.5.
de refutar as crticas feitas por alguns modernos, contra esta forma
de raciocnio, por a haverem mal compreendido.
A questo que se coloca a seguinte: o silogismo ser
essencialmente determinao do particular contido no universal,
assim como o parece sugerir a definio comumente proposta? Ou,
no seria, antes, uma espcie de identificao dos dois extremos em
virtude ou em razo do trmo mdio, e assim, as relaes de
universalidade e de particularidade no passariam de um aspecto
dependente dsse mesmo trmo mdio?
Segundo a primeira dessas concepes, o silogismo
essencialmente explicao do contedo implcito das afirmaes
mais gerais. Destia forma eu diria:
Todos os
ocupantes
desta
casa
foram
mortos
Ora,
Pedro era
um
dsses
ocupantes
Logo,
Pedro foi
morto
Ao silogismo assim apresentado ope-se uma dupla objeo. Tratase, diz-se, de uma tautologia. No se faz seno repetir na concluso
o que j se afirmava na maior. O silogismo incapaz de fazer
progredir o conhecimento; le pode ser til para classificar ou
verificar o que j se sabe, porm, como instrumento de descoberta,
de uma esterilidade perfeita. Ou ento se acusa o silogismo de
implicar em um crculo vicioso. Se eu posso dizer, no exemplo
precedente, que todos os ocupantes da casa foram mortos, porque
eu havia constatado que Pedro, que era um dles, estava
efetivamente morto. A maior s verdadeira se eu puder antes,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-5.htm (4 of 6)2006-06-01 12:18:52
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.5.
verificar a concluso. , portanto, raciocinar em crculo, pretender
deduzir a concluso "Pedro foi morto", da maior que j a supunha
como certa.
Essas objees s tm razo de ser se se concebe, como os
nominalistas, o universal como sendo uma coleo de casos
particulares, e se se interpreta o silogismo como a determinao de
um dos casos particulares do universal assim compreendido.
Porm, tal no se d. Na realidade, o silogismo essencialmente a
identificao dos dois extremos em virtude ou em razo de um
trmo mdio. Quando eu declaro que "Pedro contemplativo porque
le filsofo", eu estou afirmando que o predicado "contemplativo"
pertence ao sujeito "Pedro", em razo do mdio "filsofo". O trmo
mdio constitui o elemento dinmico efetivo do raciocnio; le que
traz a luz: concluir assentir, sob a presso do trmo mdio. H,
verdade, um progresso em direo do menos universal (ou ao no
mais universal), mas isto no seno um segundo aspecto do
silogismo, que antes de tudo uma operao de mediao causal
pelo trmo mdio.
Concluiremos, portanto, que no verdadeiro silogismo h progresso
de conhecimento que, a identificao do predicado e do sujeito no
pode ser conhecida antes que a vejamos sob a luz do antecedente,
que sua razo prpria.
Da mesma forma, no se deve dizer que le um crculo vicioso,
porque as premissas no so simplesmente a coleo de casos
particulares somados, mas um verdadeiro universal necessrio, que
se justifica por le prprio ou por verdades mais elevadas. - Os
exemplos que, primeira vista, parecem justificar as objees no
so, de fato, silogismos autnticos. guando eu declaro que "Pedro
foi morto porque todos os ocupantes da casa foram mortos", eu
volto a uma experincia primitiva que estava na origem de minha
induo: "todos os ocupantes da casa foram mortos"; porm, a
maior, a, no verdadeira mente universal e o trmo mdio, os
ocupantes da casa, no razo explicativa da concluso. Em tudo
isso no h seno classificaes ou ligaes materiais, mas no
silogismo no sentido pleno da palavra.
O critrio que acabamos de estabelecer est ligado ao duplo aspecto
compreensionista e extensionista que se pode distinguir no
silogismo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-5.htm (5 of 6)2006-06-01 12:18:52
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.5.
Se se l o silogismo sob o prisma da compreenso, dir-se- que o
trmo maior faz parte da compreenso do trmo menor porque le
faz parte da compreenso do mdio, a qual por sua vez est
compreendida no menor: "contemplativo" faz parte da compreenso
de "Pedro" porque faz parte da compreenso de "filsofo", que, ela
mesma, est compreendida tia de "Pedro".
Se, ao contrrio, se l o silogismo sob o prisma da extenso, dir-se-
que o trmo menor faz parte da extenso do trmo maior, porque le
faz parte da extenso do trmo mdio, a qual est compreendida na
do trmo maior: "Pedro" "comtemplativo" porque Pedro est
compreendido na extenso de "filsofo", que por sua vez est
compreendido na de "contemplativo".
Essas duas leituras de um silogismo so legtimas, sob a condio
de que no sejam consideradas como exclusivas uma da outra. O
processo silogstico coloca em ao stes sistemas de relaes
concernentes a compreenso e a extenso. Absolutamente falando,
a interpretao compreensiva fundamental, porm, na lgica
silogstica, deter-se- de preferncia nas relaes de extenso. Eis
porque, alis, as regras que passaremos a formular, relativas a ste
ponto de vista particular, apenas podero assegurar uma parte das
condies de verdade do silogismo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-5.htm (6 of 6)2006-06-01 12:18:52
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.6.
6. O silogismo hipottico.
Chama-se silogismo hipottico o silogismo no qual a maior
constituda por uma proposio hipottica e a menor assegura ou
destri uma das partes da maior.
Exemplo:
Se a
terra
gira
ela
se
move
Ora,
a
terra
gira
Logo
ela
se
move
Podem-se distinguir quatro espcies de proposies hipotticas:
condicionais, conjuntivas, disjuntivas, copulativas. Mas, como das
copulativas no se pode, em lgica, nada retirar, de vlido, restam
trs espcies de maiores que do trs formas diferentes de
silogismos hipotticos: o silogismo condicional, o conjuntivo e o
disjuntivo. Exemplos das duas ltimas formas:
Disjuntivo:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-6.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:52
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.6.
Ou o
crculo
uma
curva
ou
uma
reta
Ora, o
crculo
uma
curva
Logo,
ele
no
uma
reta
Conjuntivo:
O
homem
no
pode ao
mesmo
termpo
servir a
Deus e
a
Mammon
Ora, ele
serve a
Deus
Logo,
ele no
serve a
Mammon
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-6.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:52
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.6.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-6.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:52
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.7.
7. Silogismo hipottico e silogismo categrico.
Na lgica moderna, a questo das relaes do silogismo categrico
e do silogismo hipottico deu lugar a diversas discusses
(Lachelier, Goblot). Sem descer a todos os detalhes da controvrsia,
mostraremos que:
A. O
silogismo
hipottico
uma
forma de
raciocnio
que difere
do
silogismo
categrico;
B. O
silogismo
hipottico
supe o
silogismo
categrico
o qual
permanece
o tipo
essencial
da
deduo.
A. Pode-se sempre resolver um silogismo hipottico em um ou dois
silogismos categricos correspondentes. Consideremos stes dois
silogismos:
Primeiro:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-7.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:53
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.7.
Se
Pedro
corre
le
se
move
Ora,
Pedro
corre
Logo
Pedro
se
move
Segundo:
Tudo
o
que
corre
se
move
Ora,
Pedro
corre
Logo
Pedro
se
move
Nos dois casos chega-se mesma concluso. Pode-se deduzir disto
que se raciocinou da mesma maneira? No, porque no silogismo
categrico (II), eu tiro de uma proposio universal, uma proposio
particular que a se achava em potncia, ou, se se prefere, eu ligo
dois extremos com um trmo mdio. No silogismo hipottico (I), eu
no posso dizer que a concluso "Pedro se move" estava contida
apenas em potncia na maior; de certa maneira, ela a j se achava
em ato. Alm disto, eu no estou ligando dois extremos com um
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-7.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:53
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.7, C.7.
mdio; "Pedro" e "se move" j estavam hipotticamente unidos na
maior. Na realidade, no silogismo hipottico eu no combino trmos
mas proposies. A maior a afirmao de um elo existente entre
duas proposies, a menor assegura ou suprime uma dessas
proposies, do que resulta, em concluso, a afirmao ou a
destruio da outra posio. Eu raciocino sbre relaes de verdade
j estabelecidas, o que no a mesma coisa que raciocinar sbre
ligaes de trmos: o silogismo uma forma de raciocnio original,
como a proposio hipottica uma forma de afirmao igualmente
original.
B. Entretanto, fcil ver que esta maneira de raciocinar
(hipotticamente) supe o silogismo categrico. Os trmos j se
acham associados antes que se comece a raciocinar. A maior "se a
terra roda ela se move", supunha que j se sabia que a afirmao
particular, "a terra se move", dependia da afirmao mais geral "tudo
o que gira se move", de onde ela procedia por silogismo categrico.
O silogismo categrico permanece, assim, na base do silogismo
hipottico que est como que enxertado nle. Aristteles podia, no
sem razo, limitar seu estudo ao silogismo categrico, modo
essencial e originrio do raciocnio dedutivo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA7-7.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:53
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.1.
IX
A INDUO
1. O problema da induo.
A terceira operao do esprito, o raciocnio, encontra sua razo de
ser na fraqueza da inteligncia humana que, no podendo esgotar de
imediato a inteligibilidade dos objetos por ela percebidos, v-se na
obrigao de proceder de acrdo com um modo complexo: em
virtude de uma primeira verdade suposta como adquirida, o
antecedente, ela conclui por uma nova verdade, o conseqente.
A mais perfeita forma do raciocnio o silogismo ou a deduo, no
qual o esprito infere o conseqente porque o antecedente lhe faz
ver a razo. H, neste processo do pensamento, explicao
verdadeira e necessitante, pela interveno do trmo mdio. A
inteligncia se move no plano inteligvel, ao mesmo tempo que
desce ao menos universal.
Mas a deduo supe princpios (as premissas do silogismo), e
definies, especialmente a do trmo mdio, no podendo ste
representar sua funo de ligao entre os dois outros trmos se le
prprio no conhecido. Por exemplo, a maior "todo homem
mortal" no tem sentido se eu no souber o que "o homem", sem o
que eu no poderia dizer que le "mortal".
Por outro lado, se a deduo supe, como seu ponto de partida,
alguns princpios e algumas definies, ela no poder,
evidentemente provar os seus pressupostos, sem cair em crculo
vicioso. E se stes podem, em alguns casos, ser estabelecidos
atravs de outras demonstraes, sempre devero subsistir pelo
menos alguns princpios e algumas demonstraes primeiras que
no sero demonstradas. Ser necessrio, portanto, que uma nova
operao intervenha aqui para nos assegurar de seus pressupostos.
De maneira geral, esta operao geradora dos princpios no
demonstrveis da deduo a induo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:53
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.1.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:53
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.2.
2. Noo da induo.
Compreendida em seu sentido mais amplo, a induo o processo
do esprito que nos permite passar dos dados mais particulares da
experincia aos princpios e s noes primeiras de onde sairo as
demonstraes.
O conhecimento humano, com efeito, no comea pelo inteligvel,
mas pelo sensvel, quer dizer pela percepo das coisas singulares
e mutveis. A partir da, nossa inteligncia, que tem o universal
como objeto, forma por abstrao as noes e os princpios
universais. Em seu sentido mais geral, a induo atinge tda essa
passagem do singular percebido pelos sentidos, ao universal objeto
primeiro da inteligncia ( o significado habitual da "epagoge" de
Aristteles). Psicolgicamente, e na prtica da atividade de
pensamento, isso supe todo um conjunto muito complexo de
operaes. No nos esqueamos que, o que vai seguir agora,
apenas o esquema lgico essencial do problema, aqule que nos
interessa.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-2.htm2006-06-01 12:18:53
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.3.
3. Observao histrica.
A idia da induo e, em uma certa medida, sua teoria, remontam a
Aristteles (Ver em particular: I Anal., II, C. 23, 68 b 8, e Top., I, C. 12,
105 a 10), porm o Estagirita se estendeu bem menos sbre esta
questo do que sbre o silogismo, deixando pontos obscuros. Pelo
menos, afirmou le muito claramente que ao lado do silogismo h
um outro processo do esprito, o "epagoge", que distinto daquele,
e que marca a passagem do singular ao universal. Na Idade Mdia, a
induo foi mais especialmente estudada por Alberto Magno e por
Scot que apresentaram os primeiros elementos de um mtodo
experimental. S. Toms teve certamente a percepo ntida do
problema e de sua soluo, porm em nenhuma parte le se
estendeu suficientemente (ver entretanto seu Comentrio aos II
Anal., II, L. 20, n. 8 e segs., onde mais explcito). Os modernos, ao
contrrio, em conseqncia do desenvolvimento das cincias
experimentais, deram grande importncia induo. Assinalemos
simplesmente que seus trabalhos obedecem a uma dupla
preocupao: busca dos mtodos cientficos da induo e
determinao de seu fundamento filosfico.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-3.htm2006-06-01 12:18:53
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.4.
4. Definio da induo.
Nos Tpicos (I, C. 12, 105 a 12), Aristteles define de maneira muito
geral a induo como "a passagem dos casos particulares ao
universal", e prope ste exemplo: "se o mais hbil pilto aqule
que sabe, e se se verifica o mesmo com relao ao cocheiro, o
homem que sabe quem em cada caso o melhor".
Explicitando as condies da passagem ao universal, pode-se dizer
(Maritain) que "a induo um raciocnio pelo qual, partindo-se de
dados particulares suficientemente enumerados chega-se a uma
verdade universal". Seja ste outro exemplo de Aristteles (I Anal., II,
C. 23, 68 a 19):
O
homem,
o
cavalo,
eo
burro
vivem
muito
tempo
Ora
(todos
os
animais
sem fel
so o
homem,
o
cavalo
eo
burro)
Logo
todos
os
animais
sem fel
vivem
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-4.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:54
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.4.
muito
tempo.
A partir de uma srie, supostamente suficiente, de observaes
sbre a longevidade dos animais sem fel, eu chego a uma
concluso, de valor universal, sbre a longevidade de todos os
animais desta categoria.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-4.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:54
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.5.
5. Induo e silogismo.
Compreendemos melhor a estrutura original do raciocnio indutivo
comparando-a com um raciocnio silogstico que lhe seja paralelo.
Com efeito, pode-se imaginar que a partir de princpios mais
elevados, um silogismo chegue mesma concluso que uma
induo. Exemplo:
Induo:
Pedro,
Paulo
etc . . .
so
mortais
Ora,
Pedro,
Paulo . . .
so
todos
homens
Logo
todo
homem
mortal.
Silogismo:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-5.htm (1 of 5)2006-06-01 12:18:54
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.5.
Tudo o
que
composto
de
matria
mortal
Ora, todo
homem
composto
de
matria
Logo
todo
homem
mortal
Nos dois casos, obtm-se a mesma concluso universal: "todo
homem mortal". Porm, os pontos de partida foram diferentes: no
caso da induo, partiu-se da enumerao de experincias
particulares; no do silogismo, de verdades universais. - Os trmos
mdios igualmente foram diferentes; para o silogismo, era uma
razo que manifestava a convenincia do sujeito e do predicado com
a concluso; no caso da induo, era uma enumerao de casos
singulares que era considerada suficiente para que se pudesse
chegar afirmao universal. Seria mesmo mais exato dizer que na
induo no h, prpriamente falando, trmo mdio, quer dizer, um
trmo determinado que ligue os extremos, mas smente uma
enumerao que representa o papel dle.
Aristteles (I Anal. II, C. 23, 68 a 33) exprime a diferena entre essas
duas formas de raciocnio da seguinte forma: "De certa maneira, a
induo se ope ao silogismo: ste prova, pelo trmo mdio, que o
extremo maior pertence ao terceiro trmo; aquela prova, pelo
terceiro trmo, que o extremo maior pertence ao trmo mdio.
Verificar-se- isto fcilmente no seguinte exemplo, onde induo e
silogismo esto invertidos:
Silogismo:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-5.htm (2 of 5)2006-06-01 12:18:54
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.5.
Todos
os
animais
sem fel
(M)
vivem
muito
tempo
(T)
Ora, o
homem,
o
cavalo,
o burro
(t) so
animais
sem fel
(M)
Logo,
o
homem,
o
cavalo,
o burro
(t)
vivem
muito
tempo
(T)
Induo:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-5.htm (3 of 5)2006-06-01 12:18:54
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.5.
O
homem,
o
cavalo,
o burro
(t)
vivem
muito
tempo
(T)
Ora,
todos
os
animais
sem fel
(M) so
o
homem,
o
cavalo,
o burro
(t)
Logo,
todos
os
animais
sem fel
(M)
vivem
muito
tempo
(T)
Para verificar a frmula de Aristteles necessrio determinar M, T,
t no silogismo, depois transport-lo com sua significao para a
induo. O mdio no verdadeiramente mdio seno no silogismo.
Observao. - A verdadeira induo deve ter como fim no o coletivo
como tal, quer dizer, a coleo dos singulares enumerados, mas o
universal, incluindo em potncia um nmero indeterminado de
sujeitos. - A induo completa, da qual falaremos em breve, um
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-5.htm (4 of 5)2006-06-01 12:18:54
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.5.
caso especial no qual a coleo comporta um nmero determinado
de indivduos.
No caso privilegiado da percepo dos primeiros princpios ou
noes simples, a induo chega s evidncias: eu percebo que o
todo, absoluta e universalmente falando, maior do que a parte.
Porm quase sempre, nas cincias e na prtica da vida, esta
operao no chega a atingir ste grau de certeza: ela atinge a
julgamentos universais, mas sem que a razo dstes seja evidente.
No h verdadeiro trmo mdio, no se v a razo formal de ser da
concluso. A concluso a que se chega , antes, em trno da
existncia: se os casos foram suficientemente enumerados, pode-se
legitimamente assegurar-se do julgamento universal.
Decorre disto que, regra geral, a concluso de uma induo
smente provvel, porque permanece sempre um certo hiato entre a
soma dos casos particulares observados e o universal que se infere:
h, portanto, sempre possibilidade de rro. Se observei que o cobre,
o ferro, o ouro etc., se dilatam com o calor, eu poderia, se minhas
experincias foram suficientes, concluir legitimamente que todos os
metais se dilatam com o calor. Entretanto, no o posso afirmar com
certeza absoluta porque, talvez, tal metal que eu no conhea no se
dilate efetivamente com o calor. Na induo cientfica eu no "vejo"
e por isto que guardo sempre um certo receio de me enganar,
formido errandi, o que o carter distintivo do conhecimento
provvel.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-5.htm (5 of 5)2006-06-01 12:18:54
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.6.
6. Induo completa e induo incompleta.
A induo completa quando se inferiu um universal aps ter-se
enumerado todos os casos singulares que se acham compreendidos
abaixo dle. Exemplo:
As
plantas,
os
animais,
os
homens
se
movem
por si
prprios
Ora,
todos
os
corpos
viventes
so
plantas,
animais,
homens
Logo,
todos
os
corpos
viventes
se
movem
por si
prprios.
Supe-se que no h seno as trs espcies enumeradas de corpos
viventes. Se, portanto, verificou-se que cada uma destas espcies
possua movimento por si prprio, pode-se concluir que todo corpo
vivente se move por si prprio. Tal induo conduz certeza:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-6.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:54
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.6.
como um caso limite e perfeito desta operao. Os antigos
consideraram com uma ateno especial esta forma privilegiada do
raciocnio indutivo que, na verdade, bem rara, porm seria falso
afirmar que les no tivessem conhecido outra.
A induo incompleta aquela na qual a enumerao das partes
subjetivas do universal no completa. Ex.:
Esta
poro
de gua
ferve a
100,
esta
outra
tambm,
aquela
etc.
Logo, a
gua
ferve a
100 .
Quando a enumerao das partes suficiente, infere-se
legitimamente uma concluso universal, que porm no deixa de ser
apenas provvel. sse tipo de induo o que habitualmente se
encontra nas cincias, e com le que os lgicos modernos mais se
preocupam.
Poder-se-ia perguntar se raciocnios do tipo dste:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-6.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:54
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.6.
Pedro,
Andr,
Tiago
etc . . .
estavam
no
Cenculo
Ora,
Pedro,
Andr,
Tiago
ete . . .
so
todos os
apstolos
Logo,
todos os
apstolos
estavam
no
Cenculo.
devem ser considerados como verdadeiras indues (completas).
No h, lembremo-nos disto, verdadeiro raciocnio se no h
progresso na ordem da verdade. Seria o caso de perguntar se a
afirmao coletiva "todos os apstolos" acrescenta alguma coisa
soma das afirmaes individuais, "Pedro" etc.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-6.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:54
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.7.
7. O fundamento da induo.
At aqui, descrevemos e analisamos o raciocnio indutivo, porm
ainda no legitimamos filosficamente o seu emprgo. Colocado
parte o caso especial da induo completa, o que acontece, nesse
tipo de raciocnio, que se passa de alguns singulares a um
universal que os ultrapassa: o cobre, o ferro, o ouro se dilatam com
o calor, logo todo metal se dilata com o calor. O que nos autoriza a
passar de algum a todo? Este o problema do princpio ou do
fundamento da induo.
Observemos, inicialmente que a induo, no podendo ser reduzida
ao silogismo, no poder ser justificada pelos princpios dste.
Pode-se perfeitamente colocar em silogismo a matria de uma
induo, no porm sua forma. Ademais, quando se diz: "O que
verdade quanto a vrias partes suficientemente enumeradas de um
certo sujeito universal verdade quanto a ste sujeito universal",
atinge-se a um princpio muito exato. Mas chegou-se ao fundo do
problema? O que se trata precisamente de saber, como uma certa
enumerao, incompleta por hiptese, pode apesar disto ser
suficiente.
A razo metafsica profunda que h uma correspondncia
aproximativa entre o mundo da existncia e o da essncia, entre os
fatos e o direito, entre a experincia e as leis. O universo criado
pode ser considerado como uma hierarquia de essncias dotadas de
determinadas propriedades. Todo sse conjunto permanece
escondido para ns (pelo menos em sua maior parte) e no se nos
revela seno pelo complexo dos fatos concretos e singulares da
experincia. Porm, e precisamente o que legitimar o raciocnio
indutivo, sse complexo de fatos no se d sem relaes com as
determinaes necessrias das essncias e de suas propriedades.
As causas agem cada uma conforme sua natureza e, na maioria dos
casos, produzem os mesmos efeitos no mundo da experincia. A
constncia das relaes, no nvel dos fatos, poder assim ser
interpretada como o sinal de uma necessidade de direito,
correspondendo ao plano das naturezas. H, portanto, possibilidade
de se chegar dos fatos da experincia s determinaes necessrias
que so a causa formal dles, quer dizer, de fazer indues.
A induo se acha, assim, fundamentada porm, permanece a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-7.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:55
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.7.
dificuldade prtica de saber quando um conjunto de observaes de
fato autoriza uma induo. Quando que se pode dizer que uma
enumerao suficiente? Quando, responderemos, o mesmo fato se
reproduzir no maior nmero de casos e nas circunstncias as mais
variadas possveis. A tcnica prtica dessa utilizao variada e
calculada da experincia provm dos mtodos da induo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-7.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:55
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.8.
8. Os mtodos da induo.
A induo consiste, assim, em se atingir, a partir da constatao de
um certo nmero de fatos singulares, a uma afirmao universal
correspondente. Sob o ponto de vista prtico, o que dificulta poder
discernir quando a enumerao ser suficiente para que se possa,
com garantias convenientes, proceder inferncia do universal. Em
princpio, quando a ligao ou a causa procurada tiver sido
constatada em uma suficientemente grande variedade de casos. Os
mtodos da induo no tero outro objeto seno o de variar, de
maneira calculada, o conjunto das condies nas quais um
fenmeno se reproduz ou no, para autorizar indues vlidas com
o mximo de segurana. Observe-se que sses mtodos no
constituem o prprio processo lgico da induo; les apenas o
preparam e o garantem, protegendo-o das causas de rro. No mais
que a prpria induo, sses mtodos no nos faro, portanto, ver
com necessidade o trmo inferido; les no podero seno
aumentar a probabilidade da concluso.
O objetivo visado pelo mtodo indutivo no exatamente o mesmo
entre os antigos e entre os modernos. Em filosofia aristotlica
pretendia-se chegar s formas, quer dizer, s definies essenciais;
os modernos no tm habitualmente outras ambies seno
determinar leis ou ligaes constantes. Essa diferena
considervel sob o ponto de vista dos resultados efetivos, mas no
atinge seno indiretamente as consideraes metdicas, de sorte
que se pode muito bem adotar as teorias mais modernas em lgica
aristotlica. isso que parece nos autorizar uma ampliao aqui, de
nosso horizonte habitual, dando, ao lado das concepes de
Aristteles, aquelas, tornadas clssicas, de Francis Bacon e de
Stuart Mill.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-8.htm2006-06-01 12:18:55
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.9.
9. A induo e os mtodos da definio em Aristteles.
digno de nota que Aristteles, embora tenha manifestado uma
inclinao muito pronunciada pelas questes de mtodos, e tenha,
por outro lado, atribudo experincia excepcional importncia na
formao do conhecimento, no tenha deixado seno uma teoria
pouco segura da induo. Ao contrrio de Plato, le afirma,
continuamente que, todo conhecimento nos vem dos sentidos, quer
dizer, do particular. E no nos tenha mostrado de maneira clara
como, dste ponto de partida inevitvel, se possa chegar a essas
definies universais que, em seu mtodo, so as verdadeiras
chaves da demonstrao cientfica. Deve-se reconhecer, entretanto,
que le realizou um certo nmero de tentativas para determinar os
mtodos da definio, o que nle corresponde a nossos mtodos de
induo. Ns nos contentaremos em indicar, sbre ste tema cujo
estudo nos levaria longe demais, os artigos do Pe. Roland-Gosselin,
OP. De l'induction chez Aristote (Rvue des sciences philophiques et
thologiques, 1910, p. 39-48); Les mthodes de la dfinition chez
Aristote (ibid., p. 236-252, 661-675).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-9.htm2006-06-01 12:18:55
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.10.
10. A induo em Francis Bacon.
A teoria da induo constitui a pea central do clebre trabalho de F.
Bacon, o Novum organon. Aps ter, em uma "pars destruens",
purgado o esprito de todos os preconceitos, "dolos", que o
impedem de progredir na cincia, Bacon se volta para a definio e o
mtodo desta. O intuito terica da cincia , para Bacon, a
descoberta das "formas", objetivo que, diga-se de passagem, tem
mais afinidade com o ideal aristotlico do que com a cincia
moderna. Eis como se deve proceder:
Inicialmente, procura-se recolher o conjunto dos fatos experimentais
(historia generalis) depois, organizam-se sses fatos em mapas:
Mapa das
presenas,
agrupando
todos os
fatos em
que se
acredita
encontrar a
forma que
se procura.
Mapa das
ausncias,
onde se
renem os
fatos em
que a forma
procurada
se ache
ausente.
Mapa dos
graus: onde
so
consignados
os fatos nos
quais a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-10.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:55
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.10.
forma em
questo
existe em
diferentes
graus.
Comea ento o trabalho prpriamente dito da induo, que se
efetua em duas "instncias" principais. Exclui-se, de incio, as
naturezas que no podem ser a forma procurada, depois tenta-se
determin-la positivamente. Essas operaes constituem a
"vindemiatio prima". Terminada a primeira vindima, recorre-se s
"auxilia inductionis": Bacon havia previsto nove sries delas.
Entretanto apenas nos deixou uma nica, a das "praerrogativa
instantiarum", fatos que tm o privilgio de nos colocar na trilha da
definio procurada. Assinalemos simplesmente que existem 27
dessas categorias.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-10.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:55
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.11.
11. Os cnones de Stuart Mill.
Em seu Sistema de lgica, Mill nos deixou tda uma teoria da
induo, e particularmente um conjunto de regras ou cnones que
aperfeioam os mapas de Bacon. De fato, le tem um objetivo
bastante diferente do de seu ilustre predecessor. Enquanto ste
pretendia atingir "formas", pela induo, Mill busca fixar as ligaes
necessrias entre causas e efeitos, seja procurando o efeito prprio
de uma dada causa, seja, ao contrrio, esforando-se em ir do efeito
causa. Mill constituiu assim quatro mtodos (ou cinco, se se
considera que o 1. e o 2. combinados formam um mtodo especial)
que le resume em outros tantos cnones.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-11.htm2006-06-01 12:18:55
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.12.
12. O mtodo experimental.
Os mtodos da induo no so seno a parte central do mtodo
experimental. ste ltimo pretende ditar regras sbre o conjunto dos
processos que utilizam as disciplinas que se fundamentam sbre a
experincia, enquanto que o primeiro s diz respeito passagem
lgica do particular ao universal. Os principais problemas colocados
pela metodologia das cincias experimentais, sem contar os da
prpria induo, parecem ser o do papel da hiptese na pesquisa e o
das relaes da induo e da deduo no mtodo. Uma exposio
geral dstes problemas ser encontrada em Les thories de
l'induction et de l'exprimentation de Lalande, e na obra clssica de
Claude Bernard: Introduction l'tude de Ia mdecine exprimentale.
Apndice. - Observe-se simplesmente que o raciocnio por
semelhana pode ser encarado como um processo racional no qual,
de um ou de vrios fatos, se infere um outro fato particular.
Exemplo:
Pedro,
Paulo,
Tiago
foram
curados
por tal
remdio . . .
Logo,
Joo ser
igualmente
curado por
sse
remdio.
Tal raciocnio pode ser figurado analiticamente por uma induo que
seria seguida de uma deduo:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-12.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:56
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.8, C.12.
Pedro,
Paulo,
Tiago
foram
curados
por tal
remdio . . .
Logo, todo
homem
curado por
sse
remdio
Ora, Joo
homem
Logo,
Joo ser
curado por
sse
remdio.
O exemplo que Aristteles considera como a forma retrica da
induo, no seno um esbo de induo destinado a tornar mais
aecessvel ou mais sensvel uma verdade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA8-12.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:56
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.1.
X
A DEMONSTRAO
1. Introduo.
At o presente, consideramos o raciocnio sob o ponto de vista de
sua estrutura lgica, independentemente do valor das proposies
que le contm. Porm, pode-se tambm considerar esta operao
em seu contedo, em sua matria, quer dizer, segundo a certeza de
suas proposies. Assim vista, a demonstrao pode, ento, se
apresentar sob duas formas principais: no caso em que as
premissas do silogismo em questo so certas, tem-se o que se
chama um silogismo demonstrativo ou cientfico; no caso em que
essas premissas so simplesmente provveis, tem-se um silogismo
dialtico ou provvel, sendo aplicadas nos dois casos as mesmas
leis formais.
Aristteles, que havia analisado as regras formais do silogismo nos
Primeiros Analticos, consagrou seus Segundos analticos ao estudo
do silogismo demonstrativo. ste livro, que um dos mais
completos de sua obra, ao mesmo tempo como que o centro do
Organon, uma vez que a lgica tem como objeto essencial a
constituio de uma teoria da cincia demonstrativa, ideal jamais
abandonado aqui. Sabe-se que S. Toms escreveu um comentrio
sbre sse trabalho (cf. sobretudo I, 1. I a 25) . Encontrar-se-
igualmente uma interessante exposio no Cursus de Joo de S.
Toms (Logica, II.a p.a, q. 24-25) .
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-1.htm2006-06-01 12:18:56
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.2.
2. A natureza da demonstrao.
Na trilha de Aristteles, a filosofia tradicional conservou duas
definies da demonstrao: a primeira por sua causa final; a
segunda, que se liga precedente, por sua causa material ou por
seus elementos constitutivos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-2.htm2006-06-01 12:18:56
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.3.
3. Definio da causa final.
A demonstrao essencialmente um silogismo, e um silogismo
que conduz cincia.
Demonstratio
est
syllogismus
faciens
scire.
, portanto, a noo de cincia ou de "saber" que comanda a prpria
noo de demonstrao. Ora, a cincia definida de maneira geral,
por Aristteles, como o conhecimento pelas causas.
Scire est
cognoscere
causam
propter
quam res
est, quod
hujus
causa est,
et nora
potest
aliter se
habere.
Como essas so noes absolutamente essenciais ao aristotelismo,
vamos voltar, com algumas precises a mais, a estas definies da
cincia e de seu instrumento prprio, o silogismo demonstrativo (cf.
ARISTOTELES, II Anal., I, C. 2, 71 b 9. Com. de S. Toms, 1, 4, n. 2).
O trmo cincia tomou entre os modernos um significado ao mesmo
tempo mais geral e mais vago: poder-se-ia estend-lo prticamente a
todo o conhecimento metdico, organizado e dotado de um grau
suficiente de certeza. Entre os antigos, scientia pode ter, s vzes,
seu sentido ampliado, porm, em aristotelismo, deve-se restringi-lo,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:56
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.3.
como j o dissemos, a um objeto muito mais limitado e preciso, o
conhecimento pelas causas: "Estimamos possuir a cincia de uma
coisa de uma maneira absoluta, e no maneira dos Sofistas, que
uma maneira puramente acidental, quando estamos certos de que
conhecemos a causa pela qual a coisa , quando sabemos que essa
causa a causa dessa coisa, e que alm disto;, no possvel que a
coisa seja diferente do que ela .
De acrdo com ste texto, o conhecimento cientfico supe trs
condies: o conhecimento da causa; a percepo de sua relao
com o efeito ou de sua aplicao a ste; e, conseqentemente, a
necessidade da coisa que se acha causada e que no pode ser de
outro modo seno como .
Que que se deve entender aqui exatamente pelo trmo causa?
Exatamente aquilo que, comumente, a gente pensa quando fala de
causa! A causa o que faz uma coisa existir, quod dat esse rei
alterium, e isto acontece dentro das quatro linhas clssicas de
causalidade. Se analisarmos o fato mais detidamente, observaremos
que a causa designa, em primeiro lugar, um elemento ontolgico
objetivo: a causa aquilo que faz ser. Considerada porm em sua
relao com a inteligncia, a causa passa a ter, igualmente, valor de
razo explicativa. t; por isso que a causa intervm na demonstrao:
considera-se uma coisa demonstrada quando se percebe a razo de
seu ser.
O carter prprio dsse conhecimento pela causa o de poder-se
chegar ao necessrio. Segundo esta concepo, o contingente como
tal, ou o mero provvel, no figuram como objeto da cincia, que se
v muito restringido, por ste fato. As cincias da natureza, em
grande parte, tambm lhes escapam. S resta, em seu conjunto, o
domnio das matemticas e, em um nvel superior, o da metafsica.
V-se agora porque o silogismo o processo lgico que mais
exatamente se proporciona cincia. A cincia o conhecimento
pela razo de ser; ora, fazer um silogismo no outra coisa seno
justificar, por um trmo mdio explicativo, a dependncia de um
predicado a um sujeito, quer dizer, explicar pela causa. A cincia
aristotlica ser essencialmente composta de silogismos que
chegam a concluses necessrias, seguindo um processo de
causalidade ao mesmo tempo metafsico e lgico.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:56
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.3.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:56
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.4.
4. Definio pela causa material.
Os elementos de que uma coisa constituda dependem de' seu fim.
Se uma casa construda com tais materiais, porque ela
destinada a nos abrigar das intempries. A natureza dos elementos
do silogismo demonstrativo acha-se do mesmo modo determinada
por sua finalidade: chegar a concluses cientficas ou necessrias.
Donde, a definio de Aristteles que explicita as condies de tal
silogismo:
Demonstratio
est
syllogismus
constans ex
veris,
primis,
immediatis,
prioribus,
notioribus,
causisque
conclusionis.
Sem entrar na explicao detalhada destas condies, que iremos
reencontrar mais adiante digamos simplesmente que as trs
primeiras dentre elas, vens, primis, immediatis, se relacionam
imediatamente com o carter de verdade que deve ter o raciocnio
demonstrativo, enquanto que as trs ltimas condies, prioribus,
notioribus, causisque interessam anterioridade das premissas
sbre a concluso.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-4.htm2006-06-01 12:18:57
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.5.
5. Os elementos da demonstrao.
O captulo 1. dos II Analticos consagrado ao estudo do que
necessrio conhecer antes da demonstrao, de proecognitis, e
freqentemente Aristteles volta a sse assunto neste livro. Antes
de precisar com le a natureza dste pr-conhecimento, observemos
trs coisas.
Pode-se tratar de pr-conhecimento seja dos elementos necessrios
para que haja demonstrao (e do que se tratar aqui), seja do prconhecimento da concluso (a concluso virtualmente conhecida
nos princpios antes de o ser atualmente no trmo da
demonstrao).
H dois modos possveis de pr-conhecimento, como alis de todo
conhecimento: o pr-conhecimento da natureza de uma coisa, quid
sit, e o de sua existncia an sit (quia est).
Como tda demonstrao consiste em atribuir uma propriedade,
passio propria, a um sujeito, subjectum, por meio de premissas
representando o papel de princpios, principia, dever-se- colocar a
questo do pr-conhecimento relativamente a cada um dsses
elementos. Trataremos sucessivamente do pr-conhecimento do
sujeito, da propriedade e dos princpios, depois relacionaremos com
ste ltimo ponto tudo o que Aristteles disse dos princpios, nos
Segundos Analticos (Cf. Texto IX B, p. 209).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-5.htm2006-06-01 12:18:57
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.6.
6. O sujeito.
Para Aristteles, devemos conhecer ao mesmo tempo, relativamente
ao sujeito da demonstrao, que le , an est, e o que le , quid est.
Se por um lado, com efeito, no incio de uma pesquisa cientfica, no
se coloca a questo da existncia do sujeito cujas propriedades se
desejar conhecer -ela pressuposta - por outro lado, deve-se
conhecer a natureza dsse sujeito, o que le , sem o que jamais se
poderia conhecer a natureza do trmo mdio, e em conseqncia,
no se poderia jamais proceder demonstrao. A determinao de
uma propriedade pressupe, portanto, que seja pr-conhecida a
existncia e a natureza do sujeito ao qual ela pertence. o que
afirma S. Toms (11 Anal., 1, 1. 2, n. 3)
"O sujeito,
por sua
parte, tem
uma
difinio, e
seu existir
no depende
da
propriedade,
uma vez que
le j
conhecido
anteriormente
ao existir de
sua
propriedade.
Segue-se
que
necessrio
prviamente
saber do
sujeito "o
que le " e
"que le
existe".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:57
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.6.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:57
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.7.
7. A propriedade.
o que se atribui ao sujeito da demonstrao, quer dizer o
predicado da concluso. Propriedade, notemo-lo bem, deve aqui ser
tomada em seu sentido preciso, isto o proprium, predicvel de
Aristteles, aquilo que pertence como prprio e necessriamente a
uma natureza. A demonstrao tem na lgica aristotlica um papel
preciso e relativamente limitado: manifestar sse proprium das
essncias das quais se supe conhecida a definio. - Que devemos
conhecer da propriedade, antes da demonstrao? No se pode, no
sentido pleno destas palavras, conhecer nem sua existncia como
propriedade dste sujeito, nem sua natureza, uma vez que uma e
outra so fundamentadas sbre o sujeito e que a atribuio ao
sujeito justamente o que est em questo. necessrio,
entretanto, ter uma certa noo da propriedade, sem o que no se
poderia falar dela. Em outras palavras, necessrio possuir a seu
respeito uma certa definio nominal, quid nominis, (Cf. S. Toms,
ibidem).
"Da
propriedade,
ao contrrio,
pode-se saber
"o que ela ",
porque, como
foi provado
na Metafsica,
os acidentes
tm, de uma
certa maneira,
uma
definio.
Quanto ao
"existir" da
propriedade
ou de
qualquer
acidente, le
um "existir"
em um
sujeito, o que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-7.htm (1 of 2)2006-06-01 12:18:57
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.7.
concludo
na
demonstrao.
No se pode,
portanto,
conhecer de
maneira
antecedente o
existir, mas
smente a
natureza da
propriedade."
S. Toms precisa, depois, que sse pr-conhecimento do quid est de
uma propriedade smente pr-conhecimento do quid nominis, a
essncia de uma propriedade no podendo ser perfeitamente
conhecida seno em sua dependncia do sujeito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-7.htm (2 of 2)2006-06-01 12:18:57
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.8.
8. Os princpios.
So as verdades que, na demonstrao, so a razo da atribuio do
predicado ao sujeito. No se trata prpriamente de saber o que elas
so, uma vez que no se define uma enunciao, mas smente se
elas so, ou mais exatamente se elas so verdadeiras (Cf. S. Toms,
ibidem).
"As coisas
complexas
no se
definem,
("homem
branco"
no tem
definio),
e muito
menos
ainda uma
enunciao.
Resulta
disto, j
que o
princpio
uma
enunciao,
que no se
pode saber
prviamente
dle "o que
le ", mas
to
smente se
"le
verdadeiro".
Vejamos aqui resumidamente as concluses mais importantes dos
Segundos Analticos a respeito dos princpios. Por princpios, se
entendem de incio, no que se segue, as duas premissas de cada
demonstrao silogstica. Mas deve-se notar que Aristteles e S.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-8.htm (1 of 6)2006-06-01 12:18:58
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.8.
Toms do tambm a sse trmo um sentido mais geral: as
verdades comuns contidas nas premissas e, em uma outra ordem, a
definio do trmo mdio podem ser igualmente chamadas de
princpios.
As propriedades dos princpios. - A classificao e a simples
enumerao dessas propriedades permanecem um pouco incertas.
Eis aqui o que nos parece melhor estabelecido:
Em si mesmos, os princpios devem ser
- verdadeiros,
pois a cincia
um
conhecimento
verdadeiro e
no se pode ter
conhecimentos
verdadeiros a
partir de
princpios que
no o sejam;
- imediatos,
quer dizer,
conhecidos sem
intermedirios.
Em si, a
demonstrao
ideal procede de
princpios
evidentes por si
prprios,
porque no se
pode ascender
indefinidamente
na ordem dos
princpios e
necessrio
deter-se em
princpios
primeiros,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-8.htm (2 of 6)2006-06-01 12:18:58
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.8.
indemonstrveis.
Aristteles
reconhece
freqentemente,
alis que, entre
stes princpios
realmente
verdadeiros e a
concluso a
demonstrar,
podem se
intercalar
verdades
intermedirias
que tiram o seu
valor das
verdades
primeiras.
Porm sempre,
em definitivo,
necessrio que
se possa chegar
do imediato.
Observe-se que
a qualificao
de per se notis,
conhecidos por
si, que se atribui
aos princpios,
reduz-se
prpria
qualificao de
imediao. Uma
proposio per
se nota uma
proposio cuja
verdade se
manifesta pela
simples
percepo de
seu sujeito e de
seu predicado.
Em outras
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-8.htm (3 of 6)2006-06-01 12:18:58
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.8.
palavras ela
em definitivo
imediata;
- necessrias,
porque a cincia
sendo para
Aristteles o
conhecimento
certo ou
necessrio, no
pode decorrer
seno de
premissas
igualmente
necessrias.
Com relao concluso, os princpios devem ser
- anteriores
(ex
prioribus) :
trata-se aqui
de
anterioridade
de natureza
ou formal;
- mais
conhecidos
(notioribus) :
no se pode
demonstrar
evidentemente
o mais
conhecido
pelo menos
conhecido;
- causas da
concluso
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-8.htm (4 of 6)2006-06-01 12:18:58
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.8.
(causis): tratase, ns o
vimos, de
uma
propriedade
necessria
das
premissas do
silogismo.
Multiplicidade e ordem dos princpios. - Pode haver acima de uma
mesma demonstrao tda uma hierarquia de princpios explcitos e
implcitos. Pode-se colocar a questo da ordem e das relaes
dstes princpios entre les mesmos e em relao s
demonstraes.
Uma primeira distino a dos princpios prprios e dos princpios
comuns. Os princpios prprios so os que convm imediatamente a
uma determinada demonstrao: so os verdadeiros princpios,
prticamente as premissas. Os princpios comuns so aqules que,
devido sua generalidade, podem convir a vrias demonstraes;
em regra geral, so os princpios mais elevados que comandam, do
alto, os silogismos.
Entre os princpios comuns, deve-se colocar parte a grande
categoria dos que so comuns a tdas as demonstraes, quer dizer
a tdas as atividades do pensamento. So les os axiomas
denominados "propositiones", "maximae propositiones",
"dignitates" (cf. II Anal. I, 1. 5, n.os 6-7); na lio precitada, nos foi
proposto o exemplo do princpio de no-contradio: "affirmatio et
negatio non sunt simul vera". Os princpios gerais da metafsica, as
proposies imediatas ou per se notae definidas acima, entram
nesta categoria que S. Toms assim caracteriza: "tda proposio
cujo predicado est implicado na noo do sujeito , em si mesma,
imediata e conhecida por si... quaelibet propositio cujus praedicatum
est in ratione subjecti est immediata et per se nota quantum est in
se."
As proposies supremas so tambm divididas em per se nota
omnibus e per se nota solis sapientibus. As primeiras so princpios
muito simples, como o princpio de no-contradio, do qual os
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-8.htm (5 of 6)2006-06-01 12:18:58
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.8.
trmos so necessriamente conhecidos por todos e so assim
evidentes para todo esprito. As segundas so formadas de trmos
mais tcnicos cuja convenincia s manifesta quando conhecida
a definio dles. Seria, notadamente, o caso de alguns postulados
matemticos.
Em tdas essas questes, Aristteles e S. Toms colocam ora a
hiptese de uma nica demonstrao determinada, ora a de tdas as
demonstraes que poderiam constituir uma cincia. Essas duas
consideraes se completam, alis, uma vez que a cincia no
seno um conjunto de demonstraes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-8.htm (6 of 6)2006-06-01 12:18:58
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.9.
9. As espcies da demonstrao.
Nas pginas precedentes, tivemos em vista sobretudo a
demonstrao rigorosa ou perfeita, ideal que s raramente
atingido. Aristteles e S. Toms entretanto do ainda a alguns
raciocnios menos perfeitos a denominao de demonstrao
(Aristteles, II Anal. I, C. 13, 78 a 21; S. Toms, I. 23-25). Nestas
passagens, les fazem aplo a uma dupla distino que permite
classificar as diversas espcies de demonstraes.
A demonstrao propter quid aquela a respeito da qual falamos
prticamente at aqui, quer dizer, aquela que faz conhecer a razo
de dependncia de uma propriedade em relao a um sujeito. Tal
demonstrao sempre a priori ou pela causa. Demonstra-se, por
exemplo, desta maneira que, o homem tem a "risibilitas" porque le
racional, ou que Deus eterno porque le imutvel, a
imutabilidade sendo a razo prpria da eternidade. - A demonstrao
quia est, sem nos mostrar a razo da concluso, nos assegura,
entretanto, de sua verdade. Distinguem-se duas espcies de
demonstraes quia est.
A demonstrao quia a posteriori aquela na qual se demonstra
uma causa a partir de seu efeito. Importa observar que essa
demonstrao no rigorosa seno quando feita per effectum
convertibilem, quer dizer, quando se pode inverter-lhe os extremos e
o trmo mdio, visto terem todos a mesma extenso. O exemplo de
Aristteles e de S. Toms o seguinte: "os plantas esto prximos
porque no cintilam".
Omne non
scintillans
est prope
Planetae
sunt non
scintillantes
Ergo
planetae
sunt prope
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-9.htm (1 of 3)2006-06-01 12:18:58
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.9.
Fundamentando-se na experincia, concluiu-se que os plantas
esto prximos porque no cintilam. Isso verdade, mas um tal
silogismo no fundamentado na razo porque, em fsica
aristotlica, no a no-cintilao que a razo da proximidade dos
plantas mas, pelo contrrio, a proximidade que explica a nocintilao. De sorte que em silogismo propter quid necessrio
dizer:
Quod
prope est
non
scintillat
Atque
planetx
sunt prope
Ergo
planetae
non sunt
scintillantes
A demonstrao quia a priori aquela na qual se demonstra a
existncia de um fato ou de uma verdade, no pela causa imediata,
mas por uma causa mais elevada, a qual impotente para nos dar a
razo explicativa prpria. S. Toms nos prope ste exemplo: "um
muro no respira porque le no um animal", raciocnio que se
desenvolve no seguinte silogismo de 2.a figura:
Omne
respirans
est
animal
Atqui
nullus
paries
est
animal
Ergo
nullus
paries
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-9.htm (2 of 3)2006-06-01 12:18:58
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.9.
respiret
Supe-se que o trmo mdio "animal" no a razo prpria da
respirao; h animais, os peixes, por exemplo, que no respiram.
Para se ter uma verdadeira demonstrao propter quid, seria
necessrio fazer intervir o verdadeiro trmo mdio causa, e dizer por
exemplo: "os muros no respiram porque les no tm pulmes".
Aristteles e S. Toms encaram parte o caso que encontraremos
mais tarde, no qual as demonstraes de cincias diferentes
convergem para um mesmo fato, a cincia superior demonstrando
ento o propter quid e a cincia inferior o quia. Por exemplo, a
medicina prova experimentalmente que as feridas circulares
cicatrizam mais lentamente, o que, supunha-se, ento, a geometria
podia demonstrar a priori.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-9.htm (3 of 3)2006-06-01 12:18:58
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.10.
10. A Cincia.
J falamos resumidamente da cincia, a propsito da demonstrao.
Essas duas noes sendo solidrias, vamos agora voltar a ste
assunto para trat-lo em tda a sua amplitude, Devemos observar
que a partir de agora no consideraremos mais smente a
concluso particular deu m dado silogismo, que como o elemento
da cincia, mas antes o conjunto das demonstraes que
constituem uma disciplina cientfica e, mais geralmente ainda, o
sistema total das cincias.
Uma cincia pode ser considerada sob dois pontos de vista:
objetivamente, como o desenvolvimento das proposies que a
constituem e subjetivamente, ou seja como habitus, enquanto ela
uma disposio ou um aperfeioamento de nossa inteligncia
relativamente a um certo objeto. Os modernos, quando falam de
cincia, pensam quase que exclusivamente no primeiro dstes
aspectos, enquanto que para os antigos, a considerao do hbito
tinha tambm o mesmo intersse. Essas duas noes da cincia,
alis, se correspondem, pois, a cincia como percepo objetiva das
concluses como o prprio hbito, um efeito da demonstrao.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-10.htm2006-06-01 12:18:58
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.11.
11. O lugar da cincia entre os hbitos intelectuais.
Dissemos que a cincia, considerada subjetivamente, era um hbito.
Que um hbito? - Chama-se hbito uma disposio de uma
potncia da alma tendo em vista o fim intencionado pelo sujeito, in
ordine ad finem. Dessa relao essencial ao fim, segue-se que o
hbito necessriamente uma modificao boa ou m: uma
disposio orientando para o fim autntico boa, no caso contrrio,
m. Isto posto, ser-nos- possvel perceber o sentido da definio
clssica do hbito:
dispositio
secundum
quam
aliquis
disponitur
bene vel
male
Sob o ponto de vista predicamental, o hbito pertence categoria
qualidade, da qual le a primeira das quatro espcies (habitus,
potentia, passibiles qualitates, figura). - Observemos ainda que os
hbitos podem encontrar-se em diversas potncias da alma: apetite
sensvel, vontade, inteligncia. Evidentemente, aqui nos interessam
os hbitos que tm como sujeito a inteligncia, os hbitos
intelectuais.
Aristteles enumerou cinco dles, trs especulativos, (inteligncia,
cincia, sabedoria) e dois prticos (prudncia e arte). Estes dois
grupos de hbitos distinguem-se pelo fim intencionado: os hbitos
especulativos tm como fim o puro conhecimento, enquanto que os
hbitos prticos so ordenados para a ao. Falemos, de incio, dos
segundos.
Hbitos prticos. - A prudncia se distingue da arte por ter como
matria a atividade imanente ou moral, os atos humanos: ela a
regra dsses atos (recta ratio agibilium); a arte o conhecimento
racional como regra da atividade exterior ou prtica (recta ratio
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-11.htm (1 of 4)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.11.
factibilium).
Hbitos especulativos. - A inteligncia a percepo imediata dos
princpios. Como j o sabemos, ela no o resultado da cincia,
mas se encontra em seu prprio princpio. A cincia e a sabedoria
so igualmente hbitos que nos dispem ao conhecimento pela
causa; porm, enquanto a cincia demonstra pela causa prpria e
imediata, a sabedoria vai at s causas primeiras. Tdas estas
distines so bem analisadas nste texto de S. Toms (I-II. q. 57, a.
2):
"A virtude
intelectual
especulativa
a que
aperfeioa o
intelecto
especulativo
na
considerao
do verdadeiro,
que sua
melhor obra.
Ora, o
verdadeiro
pode ser
atingido de
duas
maneiras: ou
enquanto
conhecido por
si prprio, ou
enquanto
conhecido por
intermdio de
um outro. O
que
conhecido por
si tem papel
de princpio e
percebido
imediatamente
pela
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-11.htm (2 of 4)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.11.
inteligncia.
devido a isto
que o hbito
que aperfeioa
a inteligncia
com relao a
tal percepo
chamado
"inteligncia",
no sentido de
hbito dos
princpios.
Quanto ao
verdadeiro
que
conhecido por
um outro, le
no
imediatamente
percebido pela
inteligncia,
mas por uma
pesquisa da
razo, e tem
um papel de
trmo final. E
isto pode-se
produzir de
duas maneiras
diferentes: de
uma parte, de
tal maneira
que le seja
ltimo em seu
gnero
particular (de
conhecimento);
de outra parte,
de maneira
que le seja
trmo ltimo
de tdo o
conhecimento
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-11.htm (3 of 4)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.11.
humano...
Neste ltimo
caso, tem-se a
"sabedoria"
que considera
as causas
mais
elevadas...
Com relao
ao que o
ltimo em tal
ou tal gnero
das coisas
conhecveis,
tem-se a
"cincia" que
dsse modo
aperfeioa a
inteligncia."
V-se que a Cincia tomada, nesta classificao, segundo sua
significao mais restrita, como a demonstrao pelas causas
inferiores e prximas; neste sentido, as matemticas e a fsica so
cincias. A sabedoria filosfica superior, a metafsica, tomada,
nste texto, como algo parte, relativamente cincia.
Relembremos que Aristteles d muitas vzes a sse trmo de
"cincia" uma extenso bem maior, de sorte que a metafsica, que
tambm um conhecimento pelas causas (pelas causas supremas),
pode reivindicar o qualificativo de cincia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-11.htm (4 of 4)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
12. Principio da classificao das cincias.
Como j o dissemos, as cincias para S. Toms no se distinguem
pela diferena material dos sres que estudam, mas segundo o
ponto de vista que visado nesses sres. a tese geral que se
exprime quando se afirma que as cincias, como alis todos os
hbitos, so especificadas por seu objeto formal. Dizendo-o de outra
forma, as cincias so como organismos intelectuais que podem se
relacionar a coisas materialmente muito diversas mas tdas
consideradas sob um mesmo aspecto. Ao inverso, um mesmo
objeto material pode ser considerado sob pontos de vista diferentes
por cincias diferentes. O "nariz achatado" do exemplo de
Aristteles assim, em sua curva, objeto da geometria, enquanto
que sob o ponto de vista de sua compleio fsica, objeto da fsica.
Observe-se que a tradio filosfica, mesmo escolstica, nem
sempre permaneceu fiel a sse princpio. Os modernos, sob a
influncia de Wolf, dividiram a metafsica em ontologia, cincia do
ser, em teodicia, cincia da alma, e cosmologia, cincia do mundo.
certo que essas distines no carecem de fundamento, mas
tendem a substituir, na diviso da filosofia, pontos de vista de
separao material por diferenas formais de objetos. Cincia e
filosofia perdem, assim, alguma coisa da forte estrutura racional que
haviam recebido na sistematizao precedente.
Antes de abordar o problema do fundamento preciso da distino
das cincias, no ser intil esclarecer algumas dificuldades que
provm do entrecruzamento de dois pontos de vista na doutrina
tomista da cincia.
Considerando a cincia em sua estrutura lgica, discernimos a trs
elementos constituintes: subjectum (freqentemente designado pela
expresso genus subjectum), passio propria e principium. Em ltima
anlise, do princpio, que constitui como que o lao lgico do
sujeito e do predicado, que provm a especificidade de uma cincia.
Se nos colocamos na linha do hbito: encontramos diante de ns o
objeto, o objeto material, se se trata da realidade considerada no
todo que ela : o objeto formal quando se retm o aspecto particular
sob o qual a realidade atingida. Por sua vez, o objeto formal se
subdivide em objeto formal quod (ratio formalis quae attingitur) e
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (1 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
objeto formal quo (ratio formalis sub qua). O objeto formal quod ,
no objeto, o prprio aspecto de ser que atingido pelo hbito (ens in
quantum ens no caso da metafsica); o objeto formal quo , vindo da
inteligncia, o princpio formal que d a uma cincia sua luz prpria.
Exemplificando, no caso da viso, diremos que o objeto visto (o
muro, o cu) representa o objeto material desta atividade sensorial;
que a cr seu objeto formal quod, enquanto que a luz seria seu
objeto formal quo. o objeto formal quo, ou a luz intelectual, que
determina, aplicando-se sbre o objeto material, o objeto formal
quod. le corresponde mais ou menos ao principium do primeiro
vocabulrio. No se pode estabelecer um paralelismo to estrito
entre os outros elementos dos dois conjuntos, poisa passio propria,
tanto quanto o subjectum so marcados pelo objeto formal quod.
As cincias se distinguem, portanto, pelo seu objeto formal quo; sua
diversidade, dizendo-o de outra forma, procede do esprito e, sob um
outro ponto de vista, dos princpios que le encerra (cf. II Anal., I, l.
41, n.10-11).
"[Aristteles]
no busca a
razo da
diversidade das
cincias na
diversidade de
seus sujeitos,
mas na de seus
princpios. le
diz, com efeito,
que uma
cincia difere
de outra por ter
outros
princpios...
Para se
evidenciar isto,
convm saber
que no a
diversidade
material do
objeto que
diversifica o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (2 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
hbito, mas
smente sua
diversidade
formal. Como,
portanto, o
objeto prprio
da cincia "o
que pode ser
sabido" (scibile),
no se
diferenciaro as
cincias
segundo a
diversidade
material das
coisas "que
podem ser
sabidas", mas
conforme sua
diversidade
formal. Do
mesmo modo
que a razo
formal do
visvel vem da
luz, graas
qual percebe-se
a cr, assim a
razo formal de
"o que pode ser
sabido"
depende dos
princpios a
partir dos quais
tem-se a
cincia."
A ratio formalis scibilis tomada, portanto, a partir dos princpios,
de onde resulta, em definitivo, a diversidade e a especificidade das
cincias. Os princpios, entretanto, no so para S. Toms o
fundamento notico ltimo dessa diversidade. Este se acha na
imaterialidade. Portanto, como se poder operar a passagem para
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (3 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
sse nvo ponto de vista? S. Toms no-lo explica no De Trinitate (q.
5, a. 1)
"Importa
saber que,
quando os
hbitos ou
as potncias
so
distinguidas
segundo
seus
objetos, les
no o so
por qualquer
diferena
dstes
objetos, mas
segundo
aquelas que
concernem a
stes
objetos
enquanto
tais...
Resulta disto
que as
cincias
especulativas
devem ser
divididas
conforme a
diferena
dos objetos
de
especulao
considerados
enquanto
tais. Ora, em
um objeto de
especulao,
enquanto le
se relaciona
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (4 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
com uma
potncia
especulativa,
h alguma
coisa que
vem da
potncia
intelectual, e
alguma
coisa que
vem do
hbito pelo
qual a
inteligncia
se acha
aperfeioada.
Da
inteligncia
lhe advm
ser imaterial,
j que esta
faculdade,
ela prpria,
imaterial... E,
assim que,
ao objeto de
especulao
que se
relaciona
com uma
cincia
especulativa
lhe prprio
o estar
separado da
matria e do
movimento
ou implicar
estas coisas.
As cincias
especulativas
se
distinguem,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (5 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
portanto,
segundo seu
grau de
afastamento
da matria e
do
movimento."
V-se como S. Toms passa do "speculabile" ao "immateriale" e
acaba assim por relacionar a diversidade das cincias com os graus
de imaterialidade. Uma coisa tanto mais inteligvel, ou inteligente,
quanto ela mais imaterial; assim o anjo, mais elevado que o
homem na ordem da imaterialidade, tambm mais inteligvel e mais
inteligente do que le. Observemos que por imaterialidade no se
deve entender smente aqui precisamente a ausncia da matria
fsica, "carentia materiae", mas antes a independncia em face das
condies que resultam da matria, "elevatio super conditiones
materiae": formalmente, a no potencialidade.
A classificao aristotlica das cincias dominada pela famosa
distino dos trs graus de abstrao ou de materialidade, distino
que se enraza no que h de mais profundo da vida da inteligncia.
Ela tem como efeito distribuir as cincias (compreendida a a
sabedoria metafsica) em trs grandes classes racionalmente
distintas: fsica, matemtica e metafsica. Esta classificao j era
aproximativamente a de Plato, e pode-se dizer que ela comum na
histria do pensamento. Todavia, no tomismo ela tem uma
significao muito precisa que funo nossa determinar.
Podemos considerar nosso objeto de conhecimento segundo trs
graus de abstrao ou de imaterialidade. A cada um dsses graus,
deixa-se uma certa parte de matria de que se faz abstrao e podese conservar ainda uma outra parte de matria. - Segundo se
considere a parte da matria que se deixa ou a que se conserva, terse- duas maneiras de caracterizar cada um dos graus de abstrao,
sendo a segunda denominada por S. Toms secundum modum
definiendi.
Recordemos aqui algumas precises de vocabulrio. Quando S.
Toms (I q. 85, a. 1 ad 2) fala "materia signata", "materia sensibilis",
"materia intelligibilis", que que se deve entender por essas
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (6 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
expresses? A materia signata ou individualis a matria enquanto
ela princpio de individuao (haec caro, haec ossa). A matria
sensibilis ou communis a matria enquanto ela princpio das
qualidades sensveis e do movimento. A materia intelligibilis a
matria enquanto ela sujeito da quantidade e das determinaes
da ordem da quantidade.
Isto psto, (I. q. 85, a. 1, ad. 2), o primeiro esfro da inteligncia
abstrativa consiste em considerar as coisas independentemente dos
sres particulares que atingem nossos sentidos. Obtm-se ste
objeto abstraindo-se "a materia signata vel individuali": 1. grau de
abstrao. - O segundo esfro da inteligncia abstrativa consiste
em considerar as coisas independentemente de suas qualidades
sensveis e de seus movimentos, para reter smente suas
determinaes de ordem quantitativa. Eu abstraio "a materia
sensibili et motu": 2. grau de abstrao. - O terceiro esfro da
inteligncia abstrativa consiste em considerar as coisas
independentemente de tdas as condies materiais. Tem-se, ento,
o objeto metafsico, o qual totalmente separado da matria: 3. grau
de abstrao.
Pode-se tambm caracterizar os graus de abstrao segundo a
matria que resta e permanece, portanto, includa na definio do
trmo mdio (S.Toms, Metaf., VI, l.I; Coment. s/De Trinitate, q. 5, a.
1). O objeto fsico aqule que no pode existir, "esse", nem ser
definido sem a matria sensvel; le depende dela "secundum esse
et rationem". O objeto matemtico ser definido sem a matria
sensvel, se bem que no possa existir fora dela; le depende dela
"secundum esse non secundum rationem". O objeto metafsico
definido sem qualquer matria; le no depende dela "nec
secundum esse nec secundum rationem". Tudo isto est
perfeitamente caracterizado neste texto do De Trinitate (q. 5, a. 1)
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (7 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
... h coisas
que dependem
da matria
quanto sua
existncia e
quanto ao
conhecimento
que se pode
ter delas: tais
so as coisas
em cuja
definio est
implicada a
matria
sensvel e
que, portanto,
no podem ser
compreendidas
sem essa
matria;
assim, na
definio do
homem,
necessrio
incluir a carne
e os ossos.
Destas coisas
trata a Fsica
ou Cincia da
natureza. H
outras coisas
que, se bem
sejam
dependentes
da matria
quanto sua
existncia,
no dependem
dela quanto ao
conhecimento
que se pode
ter a seu
respeito, visto
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (8 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
que sua
definio no
inclui a
matria
sensvel;
assim se
verifica quanto
linha e o
nmero.
Destas coisas
trata a
Matemtica.
H, finalmente,
outros objetos
de
especulao
que no
dependem da
matria em
sua
existncia,
porque les
podem existir
sem matria:
seja porque
jamais esto
na matria,
como Deus e o
anjo, seja
porque em
certos casos
les implicam
matria e em
outros, no,
tais como a
substncia, a
qualidade, a
potncia e o
ato, o uno e o
mltiplo, etc.
De tdas
essas coisas
trata a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (9 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
Teologia,
chamada
Cincia divina
devido ao fato
de que o mais
importante de
seus objetos
Deus.
Denomina-se,
tambm,
Metafsica..."
Depois de Caietano (De Ente et Essentia, Proemium) e de Joo de S.
Toms (Curs. Phil. Log., II.a p.a, q. 27, a. 1) numerosos intrpretes
modernos consideram que a abstrao sbre a qual se fundamenta
objetivamente a diversidade das cincias no deve ser entendida
como abstrao total, quer dizer, abstrao lgica de um predicvel
com relao a seus inferiores, mas como abstrao formal, a qual
distingue as razes formais dos aspectos materiais. As noes
abstratas nas cincias tm valor de universal com relao aos
trmos dos quais elas procedem, mas por sua razo formal
objetiva e no por sua universalidade que elas so constitudas em
tal ou tal grau do saber.
Restar-nos-ia mostrar que essa teoria dos graus de abstrao, que
primeira vista se apresenta como um mecanismo mental de certa
rigidez, corresponde em S. Toms a uma atividade de esprito muito
mais diversificada. Na realidade, o processo de formao do objeto
em cada grau de abstrao corresponde a uma atividade muito
original; isto verdade sobretudo no nvel metafsico, onde S.
Toms, em seu Comentrio sbre o De Trinitate de Bocio (q. 5, a.
3), substitui o trmo de abstrao, reservado aos graus inferiores do
saber, pelo de separao. Voltaremos, no momento oportuno, a
essas importantes discriminaes.
A cada um dsses graus corresponde uma das trs grandes partes
da filosofia: a fsica, a matemtica e a metafsica. Mas no interior ou
nos intervalos dstes trs grandes estgios do saber, podemos
distinguir planos intermedirios de inteligibilidade.
No interior de cada grau, inicialmente, poder-se- distinguir
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20...sori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (10 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
modalidades mais ou menos abstratas; isso constatvel sobretudo
no 2. grau, no qual S. Toms discernia j um plano geomtrico
menos abstrato e um plano aritmtico mais abstrato. Hoje, seria sem
dvida necessrio superpor-lhe um plano algbrico.
Pode-se ainda variar a inteligibilidade das cincias constituindo
espcies de intermedirios entre os graus de abstrao, o que S.
Toms, em seguida a Aristteles, chamou de scientice medite.
Consegue-se isso iluminando o sujeito de uma cincia de grau
inferior com os princpios tomados de um grau superior de
abstrao (subalternao). Os antigos propunham os exemplos da
perspectiva ou tica, da msica e da astronomia. Hoje seria
necessrio incluir nessa categoria todo o conjunto compreendido
sob o nome de fsica matemtica. As cincias intermedirias so,
graas a princpios tirados de uma ordem mais elevada, mais
inteligveis que as cincias que se acham ao nvel de seu prprio
sujeito. Entretanto, observa S. Toms, elas so cincias de grau
inferior, "dicuntur esse magis naturales quam mathematicae", e isso
porque a especificao se faz essencialmente pelo trmo e, o trmo
dessas cincias intermedirias se acha no grau inferior.
Ser necessrio acrescentar que um vez constitudos os diversos
planos de inteligibilidade ou os graus do saber, poder-se-o
distinguir as cincias particulares, em cada grau, pela diviso do seu
sujeito. A cincia das plantas ser, assim, uma subdiviso da fsica.
Tais cincias particulares so chamadas subalternadas em razo de
seu sujeito.
Metafsica e Matemtica esto em um grau de inteligibilidade
suficientemente elevado para que se possa organiz-las sem muita
dificuldade; no se d o mesmo com relao s cincias da natureza
que, permanecendo mais engajadas na matria, fazem surgir
questes muito mais complicadas. Por isso, iremos examin-las
parte.
Existe uma cincia fsica demonstrativa, que procede a partir das
definies e dos princpios das essncias naturais, e que procura
explicar as propriedades dessas essncias. Foi o que os antigos
compreenderam quando tentaram constituir uma cincia explicativa
dos fenmenos da natureza, a Philosophia naturalis. Infelizmente,
entretanto, no conhecemos seno de maneira muito imperfeita
essas essncias naturais que deveriam servir de ponto de partida
para nossas demonstraes. O que faz com que essa cincia
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20...sori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (11 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
dedutiva da natureza no chegue, o mais freqentemente, na
realidade, seno a generalidades ou a concluses hipotticas: os
fenmenos observados permanecero, em sua maior parte, fora de
sua apreciao.
Deveremos por isso renunciar completamente ao conhecimento
racional dsses fenmenos? No, porque em um nvel inferior
podem-se constituir, e, de fato, se constituram, cincias particulares
que se aplicam ao detalhe dos fenmenos. O que necessrio
observar bem, que de uma parte essas cincias no esto em
continuidade perfeita com a philosophia naturalis, e que, por outra
parte, elas no podem nos dar seno um conhecimento aproximado
e relativo da essncia das coisas, que permanece sempre velada. As
concluses da fsica moderna no so, em grande parte seno
sinais mais ou menos denunciadores da verdadeira natureza das
coisas.
Levando-se em conta tdas as observaes precedentes, -nos
possvel estabelecer o seguinte esquema que resume a classificao
das cincias teorticas, segundo a filosofia de S. Toms
3o. grau de
imaterialidade:
Metafsica
2o. grau de
imaterialidade:
Matemtica,
Fsica
matemtica
1o. grau de
imaterialidade:
Filosofia da
natureza,
Cincias da
natureza
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20...sori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (12 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.9, C.12.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20...sori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA9-12.htm (13 of 13)2006-06-01 12:18:59
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.10, C.1.
XI
TPICOS - SOFISMAS - RETRICA
1. Os Tpicos.
Agruparemos em um ltimo captulo algumas reflexes sbre os
ltimos livros da lgica de Aristteles, inclusive a Retrica.
Os livros dos Tpicos, que se julga terem sido compostos antes dos
Analticos, compreendem duas partes principais: os Livros I e VII, 3
a VIII, constituindo uma introduo e uma concluso e o bloco
central dos livros II a VII, 3.
O objeto do Tratado dos Tpicos
Encontrar
um mtodo
que nos
possibilite
raciocinar
sbre
qualquer
problema
que
poderia
nos ser
proposto,
partindo de
premissas
provveis
e, no
decorrer
da
discusso,
evitar
contradizernos a ns
prprios".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA10-1.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:00
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.10, C.1.
Tp.,
I,
c.
1,
100
a 18
Neste txto inicial, Aristteles nos d a nota que caracteriza o
raciocnio dialtico e o distingue do raciocnio demonstrativo. O
raciocnio demonstrativo parte de premissas necessrias e
conduzem a uma concluso cientfica necessria; o raciocnio
dialtico parte do provvel para chegar a uma concluso igualmente
provvel. Por provvel, Aristteles entende "o que parece ser, seja a
todos os homens, seja maioria, seja ao sbio". (I. C. 1, 100 b 21). O
provvel definido ento, por um critrio externo, pelo sinal que
permite reconhec-lo: o testemunho. Notemos que para Aristteles,
se bem que o provvel no seja a verdade mesma, reconhecida
imediatamente ou cientificamente, deve ser tomado favorvelmente:
o que se assemelha verdade, o verossmil. A demonstrao
dialtica difere, portanto, da demonstrao cientfica por sua
matria, mas preciso observar que ambas utilizam as mesmas
formas lgicas: a induo e o silogismo.
No c. 2 dos Tpicos, Aristteles precisa que a prtica da dialtica
pode ter uma trplice utilidade: um exerccio do pensamento, permite-nos discutir com quem quer que seja partindo de suas
prprias opinies, - e finalmente do intersse da cincia: pois se,
de um lado, estamos em condies de discutir o pr e o contra, de
uma determinada questo, bem mais fcilmente estaremos aptos a
distinguir o verdadeiro e o falso. Por outro lado, poderemos nos
encaminhar na direo dos princpios indemonstrveis das cincias.
De fato, Aristteles quase no explicou a maneira pela qual seria
possvel utilizar assim a dialtica para subir aos princpios das
cincias. Em S. Toms entretanto, podemos encontrar os
delineamentos de uma lgica inventiva j nitidamente melhor
constituda.
O problema geral da dialtica consiste em investigar, por meio de
premissas provveis, se determinada concluso pode' ser aceita,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA10-1.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:00
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.10, C.1.
quer dizer, se um certo predicado pertence a um determinado
sujeito. Para Aristteles, sse problema se subdivide em quatro
problemas mais particulares, segundo o predicado pertena ao
sujeito como gnero, como definio, como prprio ou como
acidente. Perguntar-se-, por exemplo, se o homem animal
(problema do gnero), se le tem a capacidade de rir (problema da
propriedade), se le branco (problema do acidente); cada uma
dessas questes devendo ser resolvida, no por argumentos
cientficos, mas por argumentos provveis ou a partir de princpios
comumente aceitos. Para resolver cada um dsses problemas,
recorrer-se- ao que Aristteles chamou de topoi, lugares dialticos.
Os lugares dialticos so conjuntos de proposies provveis
prontos a entrar como premissas nos silogismos dialticos e que se
acham classificados sob as quatro divises das grandes questes
dialticas. Quer dizer que quando se levanta uma questo que entra
em uma destas categorias (por exemplo: tal qualidade propriedade
de tal sujeito?), encontra-se uma proviso de proposies que
permitiro resolv-la. A enumerao dstes lugares dialticos ocupa
todo o corpo da obra: lugares do acidente (II e III), lugares do gnero
(IV), lugares da propriedade (V), lugar da definio (VI, VII, 3).
Os lugares dialticos so, portanto, premissas, mais especialmente,
maiores presuntivas. Citemos, a ttulo de exemplo, os primeiros
lugares do gnero: "Se um gnero, pretendido como tal, no pode
ser atribudo a uma espcie ou a um indivduo dessa mesma
espcie, le, na realidade, no um gnero". - "O atributo que no
convm essencialmente a todos os sujeitos aos quais le pode ser
atribudo, no poderia ser seu gnero". - "O predicado ao qual
convm a definio de um acidente no o gnero do sujeito dsse
acidente."
No entraremos em maiores detalhes sbre os Tpicos de
Aristteles (ver a ste respeito A. Gardeil, La Notion du lieu
thologique). les so uma tentativa de constituio de um mtodo
de discusso absolutamente universal. Enquanto as cincias so
circunscritas por seus objetos especficos, a dialtica trata de tudo e
a partir de princpios comuns admitidos por todos ou por muitos.
Aristteles cedia aqui ao gsto, da discusso, to comum entre os
Gregos, mas ao mesmo tempo, visava a louvvel meta de tornar
essas discusses to fecundas quando possvel para a defesa e
procura da verdade. Repitamos que, em S. Toms, a dialtica
assume de maneira mais firme do que em Aristteles a estatura de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA10-1.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:00
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.10, C.1.
uma disciplina de pesquisa. (Cf. J. ISAAC, La notion de dialectique
chez saint Thomas, na Rev. des Sc. Ph. et Th., 1950, pp. 481-506).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA10-1.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:00
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.10, C.2.
2. Refutaes Sofisticas.
Os Sophistici elenchi no so seno um apndice do livro dos
Tpicos. les se situam, como esta ltima obra, naquela curiosa
atmosfera dialtica to a gsto do pensamento grego e da qual
Plato nos deixou uma evocao to viva. As "Refutaes
sofsticas" so os falsos raciocnios que os sofistas imaginavam
para confundir seus adversrios. Por extenso, elas podem
significar todos os falsos raciocnios. De maneira geral, chamar-se-
sofisma a um falso raciocnio que se fizer com a inteno de
enganar. Quando o falso raciocnio psto de boa f, ser chamado
um paralogismo. Aristteles distingue duas espcies de sofismas:
os que provm da linguagem (fallacia in dictione) e os que no
provm dela (fallacia extra dictionem).
Fallacia in dictione. - Aristteles enumera seis espcies de sofismas
verbais: o equvoco, a anfibologia, a composio, a diviso, o rro
de acento e os rros provenientes de analogias na forma da
linguagem. - O equvoco e a anfibologia para no falar seno destas
duas formas de sofismas verbais mais comuns, so ambigidades
tendo como objeto, a primeira uma simples palavra, a segunda uma
frase. Exemplo de equvoco: canis, o co e a constelao.
Fallacia extra dictionem. - Aristteles conta sete delas: o acidente, "a
dicto secundum quid ad dictum simpliciter", a "ignoratio elenchi", a
petio de princpio, a conseqente, a "non causa pro causae", a
pluralidade das questes. A "ignoratio elenchi" consiste em no
provar o que se devia provar, ou, o que d no mesmo, em ignorar a
verdadeira questo que se deveria resolver. Na "petio de
princpio", tenta-se provar tomando-se como princpio justamente
aquilo que estava em questo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA10-2.htm2006-06-01 12:19:00
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.10, C.3.
3. A Retrica.
Pode-se relacionar a Retrica com o conjunto dos escritos lgicos
do Organon. O prprio Aristteles nos orienta nesse sentido,
ligando-a a vrias consideraes da dialtica. Ambas as disciplinas
tm como objeto ensinar-nos a discutir sbre todos os assuntos,
usando smente argumentos e princpios comumente aceitos.
A finalidade, os meios e as divises gerais da Retrica esto
indicados nos trs primeiros captulos do 1. I. - A Retrica a arte de
persuadir ou, mais precisamente, "a faculdade de ver tdas as
maneiras possveis de persuadir as pessoas sbre qualquer
assunto". - Os meios prpriamente oratrios de persuadir so de
trs espcies. Os primeiros se relacionam com o carter do orador:
ste deve falar com sucesso, inspirar confiana. Os segundos
consistem em fazer nascer uma emoo no ouvinte. Finalmente, os
ltimos, que so tcnicamente os mais importantes, compreendem
as provas ou argumentos, pela fra dos quais defende-se a verdade
da tese que se sustenta. Esses argumentos so de duas espcies: o
entimema que , como j o sabemos, um silogismo truncado; e o
exemplo, tipo oratrio da induo. - Aristteles distingue, em
seguida, trs ramos da Retrica correspondendo a trs espcies
diferentes de discursos. O ouvinte pode ser ou espectador ou juiz, e
isto, seja das coisas passadas seja das coisas futuras. A eloqncia
do que conselheiro nas coisas futuras liga-se ao gnero
deliberativo que tem como objeto o til ou o prejudicial. Os
discursos relativos ao passado pertencem ao gnero judicirio e
tratam do justo e do injusto. Aqules que reprovam e os que louvam
(gnero epidtico) se ocupam do belo e do honesto.
A seqncia da obra de Aristteles compreende quatro peas
principais que no parecem, alis, perfeitamente ordenadas.
Inicialmente, um estudo especial dos trs gneros reconhecidos de
discursos (I). Depois, um estudo das paixes e das disposies das
diversas categorias de ouvintes (II, 1-18). O final do livro II trata dos
lugares comuns na arte oratria. Finalmente, o livro III, que forma um
conjunto parte, trata do estilo e da composio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA10-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:00
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.10, C.3.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA10-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:00
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.11, C.1.
XII
CONCLUSO
1. Valor e importncia da Lgica Aristotlica.
O ideal lgico de Aristteles foi o de constituir uma teoria da cincia
e, por isso, uma rigorosa teoria da demonstrao. Segue-se da, que
a parte essencial do Organon formada pelos Segundos Analticos.
Os livros precedentes, Categorias, Perihermeneias e mesmo os
Primeiros Analticos, no so, de alguma forma, seno uma
preparao. Os Tpicos, e a Refutao dos sofismas representam
um conjunto complementar.
Voltemos aos Analticos. Os Primeiros estabelecem as regras do
raciocnio correto; os Segundos so dirigidos pela prpria definio
da demonstrao cientfica e da cincia: "demonstratio est
syllogismus faciens scire - scire est cognoscere per causas". A
demonstrao, portanto, depende do conhecimento das causas e
dos princpios sendo que stes no podem ser demonstrados; pelo
menos pode-se recorrer aos ltimos princpios que no so
adquiridos por cincia.
necessrio, portanto, que um outro processo lgico nos coloque
na posse dsses princpios. De maneira geral, ste ser a induo.
Como a demonstrao supe o conhecimento do trmo mdio, podese tambm dizer que a definio dsse trmo mdio princpio e
que, em conseqncia, os mtodos da definio so tambm
preparatrios para a demonstrao. Em definitivo, no conjunto da
lgica aristotlica, induo e definio, ao mesmo tempo que
conduzem a resultados que tm valor em si mesmos, aparecem
tambm como preliminares da demonstrao cientfica.
Ser entretanto, permitido afirmar que tda a lgica aristotlica
resume-se na teoria da demonstrao cientfica? Isso seria esquecer
todo aqule complexo de processos menos rigorosos do esprito
que encontramos nos Tpicos. Em uma multido de casos, muitas
vzes temos de contentar-nos com raciocinar sbre o provvel. Por
outro lado, a parte efetivamente mais considervel da vida da
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA11-1.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:01
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.11, C.1.
inteligncia ser sempre constituda por essa atividade de pesquisas
e de inveno que, ela tambm, se v compreendida, no
peripatetismo, sob o ttulo geral de dialtica. S. Toms teve
conscincia disso, e um estudo atento dos processos metdicos
que ele preconizou e utilizou nessa ordem de coisas conduz-nos
certamente a resultados novos e interessantes.
Devemos acrescentar que um outro enriquecimento da lgica
demonstrativa aristotlica nos trazido por S. Toms, com a
doutrina ampliada e sistematizada que ele prope da analogia. A
metafsica e o estudo de Deus em particular, empregam processos
metdicos que, sem fugir das regras lgicas gerais, lhes so
prprios. Ao telogo cabe sse estudo.
Que pensar, finalmente, dentro das perspectivas da lgica clssica
em que nos colocamos, de todos sses sistemas novos, de
inspirao matemtica, que atualmente monopolizam a ateno?
Dois caracteres originais so comuns a esses sistemas: por um
lado, predominncia da relao sbre o termo, e resoluo da
"compreenso" na "extenso"; por outro lado, emprgo incessante e
generalizado de algortmos abstratos que constituem a matria do
discurso.
Esta matematizao da lgica oferece vantagens evidentes. Valoriza
plenamente a relao como tal, fornece sobretudo, um precioso
instrumento, tanto para o contrle rpido da exatido de um
enunciado, quanto para a anlise crtica dos fundamentos da lgica.
Mas tal transformao apresenta, em contraposio, graves
inconvenientes, no certamente de direito, porm, porque, de fato, a
maioria dos lgicos modernos fazem dos algortmos abstratos a
parte essencial da lgica, esquecendo-se de que les no podem ter
seno um papel subordinado! a ruptura e do "lgico" com o
"metafsico" que de fato, repitamo- lo,a causa de uma oposio
entre a lgica clssica e a lgica moderna. O conflito atinge o clmax
mximo quando se chega logstica a qual elabora, como se sabe,
os algortmos abstratos de que Boole foi o iniciador. A logstica, da
mesma forma que as matemticas, faz corresponder smbolos s
realidades, espcie os termos e as proposies. Da a substituir o
universo do discurso, pelo qual apreendemos a realidade, pelo
universo dos smbolos, no falta seno um passo, e sse passo
muito freqentemente dado.
No so, portanto, seno as usurpaes e as pretenses ilegtimas
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA11-1.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:01
PRIMEIRA PARTE: INTRODUO GERAL E LGICA: L.11, C.1.
dsses novos mtodos que se devem contestar. A logstica tem seu
lugar como instrumento crtico, mas a lgica do conceito e da
atribuio conserva tambm o seu, que o fundamental. Resta que
em tudo isso no se pode prescindir de uma metafsica, sendo que
em qualquer hiptese ela permanece a reguladora suprema das
demais cincias.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...isori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/LOGICA11-1.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:01
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.1.
H. D. Gardeil
Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA
I
INTRODUO
1. Promio.
A natureza se manifesta como objeto quase exclusivo das
investigaes das primeiras geraes de sbios, aos quais a
tradio reservou o significativo ttulo de "Fsicos". De Tales de
Mileto a Empdocles e Anaxgoras, a inteligncia grega foi
consagrada essencialmente elaborao de um sistema do mundo.
E se, a partir de Scrates, cincias como a lgica e a moral se
voltam para o conhecimento reflexivo do sujeito, tomando, por sua
vez, no menos prodigioso, entretanto, o esfro dedicado a
investigaes sbre a natureza no diminuiu: ao lado da Repblica,
Plato escrever o Timeu e, depois, de Demcrito, Aristteles voltar
com uma renovada curiosidade para a tradio inaugurada pelos
pensadores da Inia.
Nsse primeiro entusiasmo da inteligncia, quando os planos do
saber no se acham ainda bem distintos, o que se procura elaborar
, ao mesmo tempo, uma filosofia e uma cincia da natureza.
Observa-se, alis, que se algumas disciplinas, como a geometria ou
a aritmtica, no tardaram a se organizar de maneira prticamente
autnoma, os aspectos filosficos e cientficos do estudo da
natureza jamais sero ntidamente separados entre os Gregos, e
smente por uma abstrao de valor relativo ser possvel, falar-se
de uma histria da cincia e de uma histria da filosofia com relao
ao pensamento helnico.
certo que, apesar de uma certa confuso de objetos e mtodos, a
cincia e a filosofia da natureza deram juntos seus primeiros passos
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:01
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.1.
na Grcia, do sculo VII ao III antes, de nossa era. Deixando as
cincias, ou antes a parte cientfica dsse admirvel movimento de
pensamento para outros estudos, vamos considerar aqui a parte
filosfica da obra realizada. De maneira mais precisa, e uma vez que
nos voltamos para S. Toms, conveniente deter-nos sbre a
filosofia da natureza de Aristteles. Estes limites aos quais iremos
prticamente nos circunscrever no devero nos fazer esquecer de
que a fsica do Estagirita, que forma a prpria substncia da de S.
Toms, no um acontecimento intelectual isolado, mas pertence a
um conjunto de investigaes sbre a natureza extraordinriamente
vivo e fecundo. As aluses muito breves que sero feitas s idias
do tempo sero meras tentativas de uma recolocao, em seu
quadro histrico, dste famoso sistema do mundo de Aristteles
que, apesar de possuir uma consistncia prpria, no se torna,
entretanto, plenamente inteligvel seno em seu meio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:01
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.2.
2. O problema da cosmologia aristotlica.
O estudo da natureza ou do mundo fsico constitui a parte mais
desenvolvida da filosofia de Aristteles, a que certamente ste
trabalhador infatigvel consagrou seu maior esfro. O progresso e
a renovao das cincias foram to grandes porm, que hoje se
torna problema extremamente difcil a pretenso de se manter fiel
aos princpios do peripatetismo. Eis os dados essenciais.
A fsica constitua para Aristteles a terceira parte da filosofia
teortica; as duas primeiras partes eram a metafsica e as
matemticas. Esta diversificao do saber teortico tinha como
fundamento os graus de separao da matria sob os quais pode-se
sucessivamente examinar o objeto de conhecimento: o que mais
tarde se chamar os graus de abstrao. Assim o fsico considera "o
ser da natureza" independentemente de seus caracteres individuais,
mas ainda dotado, sem dvida, de suas qualidades sensveis
comuns: o biologista, para retomar o exemplo dos antigos, no
estudar "esta carne" ou "ste osso" no que les tm de particular,
mas "a carne" ou "os ossos" em geral. Mais tarde S. Toms
precisar que neste nvel faz-se abstrao da matria individual, a
materia individuali, conservando-se a matria sensvel materia
sensibilis. Sob seu aspecto comum, as propriedades accessveis
aos sentidos - colorao, solidez, sonoridade, etc. - permanecero,
portanto, compreendidas nesta ordem do saber.
Sbre tais bases metodolgicas, Aristteles havia constitudo ste
extraordinrio sistema do mundo, to poderoso em suas estruturas
quanto engenhoso no arranjo de seus detalhes, que devia dominar o
pensamento dos vinte sculos seguintes. Sabe-se que a partir do
sculo XVII, graas a uma experimentao renovada e fecundidade
dos processos matemticos, construiu-se o edifcio de. uma massa
de tal modo grandiosa e de uma eficcia prtica to superior, que
constitui o corpo das cincias fsicas modernas. Como esta
revoluo se operou como reao ao antigo sistema, e, pela
utilizao de mtodos, pelo menos na aparncia, inteiramente
opostos, ns nos encontramos em presena de dois conjuntos
coerentes que pretendem, cada um, nos fazer conhecer o mundo
fsico, mas que, efetivamente, no-lo mostram sob aspectos muito
diferentes. Nestas condies, possvel um acrdo entre as duas
fsicas em questo? Julgamos que sim, se cada um dsses
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-2.htm (1 of 5)2006-06-01 12:19:01
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.2.
conhecimentos se encontrar reconduzido s suas prprias
possibilidades: se, em particular, a fsica peripattica se achar
purificada de todo um aparato cientfico evidentemente caduco e se,
eventualmente, a fsica moderna abandonar certas pretenses de se
erigir em sabedoria suprema, o que no de sua alada.
Uma tal soluo do conflito em seus princpios, repousa sbre o fato
de se poder considerar os fenmenos da natureza sob dois pontos
de vista diferentes:
- ou limitandose a determinar
os caracteres
ou as
propriedades
mais comuns,
fundamentandose para tanto
sobre os mais
simples e mais
imediatos
dados
experimentais;
desta forma,
procurar-se-
as condies
universais da
mudana como
tal e a quais
princpios
ltimos deverse- reconduzilos (tomos,
elementos,
matria-prima
etc.), e nesta
direo poderse- conservar
Aristteles
como guia para
constituir uma
filosofia da
natureza em
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-2.htm (2 of 5)2006-06-01 12:19:01
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.2.
seu sentido
prprio;
- ou
restringindo-se
procura das
condies
especiais de
tais fenmenos
particulares
(queda dos
corpos,
magnetismo,
evaporao
etc.), situandose no mesmo
nvel da
observao e
mensurao
dsses
fenmenos e,
neste caso,
ser
necessrio
reconhecer que
se est no
plano da
Cincia da
natureza,
domnio no
qual,
evidentemente,
os modernos
se encontram
em plano
superior.
Retomando a preciso trazida por J. Maritain, dir-se- que, em
Filosofia da natureza, continuando a referncia aos abjetos
percebidos pelos sentidos (1 grau de abstrao), apela-se para os
princpios de explicao que so da alada de uma ontologia geral;
enquanto que, com relao s Cincias da natureza, fica-se no plano
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-2.htm (3 of 5)2006-06-01 12:19:01
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.2.
das noes imediatamente controlveis pela experincia e
mensurveis, e no momento em que se recorre a um saber superior,
chega-se abstrao matemtica. Em face dos fenmenos fsicos
h, portanto, para ns, dois modos de determinar nossos conceitos:
segundo "uma soluo ascendente em direo ao ser inteligvel, no
qual o sensvel permanece, porm, indiretamente a servio do ser
inteligvel, como conotado por le; e uma soluo descendente em
direo ao sensvel e ao observvel como tais, na qual, sem dvida,
no renunciamos absolutamente ao ser (sem o que no haveria mais
pensamento), mas onde ste passa a se colocar a servio do prprio
sensvel, e antes de tudo do mensurvel, no sendo mais que uma
incgnita assegurando a constncia de certas determinaes
sensveis e de certas medidas, e permitindo traar limites estveis
cercando o objeto dos sentidos. Tal a lei de soluo dos conceitos
nas cincias experimentais. Chamamos respectivamente ontolgica
(no sentido mais geral da palavra) e empiriolgica ou spatiotemporal a stes dois tipos de soluo dos conceitos ou de
explorao" (Les degrs du savoir, 1.r ed., pp. 287-288) .
Com esta distino a partir de um plano de explicao filosfica e
um plano de explicao cientfica dos fenmenos da natureza, podese, com a vantagem de deixar as cincias fsicas se desenvolver de
acrdo com seus mtodos prprios e em seus prprios nveis,
conservar a possibilidade de raciocinar em filosofia na linha dos
princpios aristotlicos. Pelo menos o que parece poder-se dizer
em um primeiro contato.
Na realidade, e para uma anlise mais prxima, a respectiva
limitao dos dois domnios de pensamento no to fcil de ser
estabelecida como parece primeira vista. Os resultados cientficos
no podem ser inteiramente ignorados pelo filsofo da natureza, e
suas determinaes referentes a noes, tais como finalidade,
acaso, espao, tempo etc., no sero talvez indiferentes ao sbio.
necessrio reconhecer, por outro lado, que a distino precedente
no explcita em Aristteles que, muito confiante nas
possibilidades da deduo a priori, apresenta em um conjunto
homogneo o que acabamos de relacionar com processos
metdicos diferentes. A prpria obra, na qual temos que refletir,
embora conservando o valor filosfico, como poderemos verificar,
deve ser, portanto, inteiramente revista.
Aqule que hoje desejasse constituir uma cosmologia sob a
inspirao do Estagirita deveria proceder em dois tempos:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-2.htm (4 of 5)2006-06-01 12:19:01
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.2.
inicialmente, por uma crtica contnua, separar na fsica aristotlica o
que h de durvel de tudo o que cientificamente ultrapassado; e
sbre esta base - que se iria sem dvida ampliar, pelo menos do
ponto de vista dos princpios matemticos reconstruir um sistema
puramente filosfico.
Aqui, nossa ambio ser mais modesta. Sem deixarmos de fazer
algumas discriminaes elementares e de nos referirmos, quando
necessrio, a teorias mais atuais, desejaramos, antes de tudo, dar
uma idia objetiva do sistema do mundo, como o concebeu
Aristteles. E ademais como pretendemos permanecer no nvel dos
princpios, prticamente no passaremos alm da parte filosfica
dsse sistema, - a mais autnticamente vlida e pouco teremos que
nos inquietar com a renovao das idias cientficas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-2.htm (5 of 5)2006-06-01 12:19:01
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.3.
3. Objeto e divises da filosofia da natureza.
O peripatetismo tem sbre esta questo fundamental uma doutrina
bem fixada, cujo valor parece permanente. Para Aristteles, o mundo
da natureza era, antes de tudo, o da mudana perptua ou da
mutabilidade. Para dar tda sua significao a esta forma de
conscincia inicial, conviria evocar as concepes dos primeiros
fsicas gregos que foram muito sensveis a esta renovao contnua
da qual o universo parece ser o teatro. "Tu no te banhars duas
vzes no mesmo rio", "Tudo passa", proclamou o sbio Herclito.
Sbre ste aspecto, o Estagirita exprime apenas uma opinio que
antes dle era comum: o ser da natureza em sua essncia mesma
mutao.
O filsofo da natureza no conceberia portanto ter para sua cincia
um objeto formal, subjectum lgico mais adequado que o ser
considerado sob a razo mesma da mutabilidade: o que a
escolstica chamar ens mobile. S. Toms dir (Fs., I, 1. 1):
" ... das
coisas
que
dependem
da
matria,
no
smente
quanto a
seu ser,
mas
tambm
quanto a
sua
noo,
trata a
filosofia
da
natureza,
chamada
tambm
pelo
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-3.htm (1 of 5)2006-06-01 12:19:02
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.3.
nome de
fsica. E
como o
que
material
de si
mvel,
segue-se
que o ser
mvel o
sujeito da
filosofia
da
natureza".
"... de his
vero quae
dependunt a
materia non
solum
secundum
esse, sed
etiam
secundum
rationem, est
naturalis
quae physica
dicitur. Et
guia hoc
quod habet
materiam
mobile est,
consequens
est quod ens
mobile sit
subjectum
naturalis
philosophiae".
Neste importante texto, S. Toms liga esta "mobilidade" que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-3.htm (2 of 5)2006-06-01 12:19:02
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.3.
determinou formalmente o objeto da filosofia da natureza, ao carter
material dos, sres que ela considera: como tal, o ser material
mutao, enquanto que, ao inverso, o ser imaterial aparecer imvel.
Deve-se observar logo que "mvel", da mesma forma que
"movimento", devem ser entendidos em peripatetismo num sentido
muito largo: designam, no mundo da natureza, tda espcie de
mutabilidade ou de mutao possvel.
A fsica de Aristteles pode ser dividida em dois grandes conjuntos.
O primeiro, que corresponde aos oito livros da Fsica, trata do ser
mvel em geral. O segundo, que compreende tdas as outras obras,
tem como objeto o estudo dos movimentos e dos mveis
particulares. Esta evoluo do pensamento, indo dos dados comuns
s consideraes mais especiais, se justifica por si mesma, uma vez
que se trata de apresentar metdicamente uma doutrina.
A organizao interna de cada uma dessas partes, sobretudo da
segunda, d lugar a controvrsias. Eis, em todo caso, como, em seu
comentrio da Fsica, S. Toms o entendeu.
A fsica do ser mvel em geral compreende dois estudos: o do
prprio ser mvel, Fsica I-II, e do movimento, Fsica III-VIII.
A fsica dos movimentos e dos mveis particulares se subdivide de
acrdo com os principais tipos de mudanas e de mveis. Assim, o
De Coelo trata dos seres da natureza enquanto sujeitos primeira
espcie de movimento, o movimento local. O De Generatione estuda,
por sua vez, o movimento com relao forma, gerao-corrupo,
alterao, aumento-diminuio, e os "primeiros mveis", quer dizer,
os elementos do ponto de vista de suas transmutaes comuns; do
ponto de vista de suas transmutaes particulares, sses mesmos
elementos so objetos dos Meteorolgicos. Os outros livros tratam
dos "mveis mistos": "mistos inanimados" no De mineralibus;
"mistos animados" no De Anima e as obras que se lhe seguem. (Cf.
infra, Texto I, p. 101) .
O presente estudo ficar apenas nas consideraes comuns sbre o
movimento, permanecendo no quadro mesmo da Fsica.. Na medida
do possvel sero respeitadas a ordem e a marcha originais do
pensamento dessa obra. Todavia os livros V e VI que tratam de
problemas mais especiais e o VII que est intercalado, no sero
considerados. Dessa forma, teremos a seguinte apresentao:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-3.htm (3 of 5)2006-06-01 12:19:02
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.3.
Captulo II:
Os
princpios
do ser
mvel (I).
Captulo
III: A
noo de
natureza
(II, incio) .
Captulo
IV: As
causas do
ser mvel
(II, final).
Captulo
V: O
movimento
e suas
espcies
(III, incio).
Captulo
VI: O
infinito, o
lugar, o
vazio, o
tempo (III,
final, IV).
Captulo
VII: O
primeiro
motor
(VIII).
Concluso:
O sistema
do mundo
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-3.htm (4 of 5)2006-06-01 12:19:02
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.3.
de
Aristteles.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-3.htm (5 of 5)2006-06-01 12:19:02
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.0, C.4.
4. Elementos bibliogrficos.
Os textos de base para os mencionados trabalhos de Aristteles,
sero sempre os comentrios realizados por S. Toms, do qual falta
ainda acrescentar alguns opsculos, o De Principiis naturae em
particular, o qual ser totalmente traduzido mais adiante.
Da escola tomista necessrio assinalar pelo menos a obra clssica
Philosophia naturalis do Cursus philosophicus de Joo de S. Toms
(pp. 104-130).
A ttulo de iniciao recomendam-se em francs: L'Introdution la
physique aristotlicienne de A. MANSION (2a ed., Louvain, 1946) ; La
Philosophie de la Nature de J. MARITAIN (Paris, Tqui, 1935); a
introduo traduo do primeiro livro dos Parties des animaux, de
J. M. LE BLOND (Paris, Aubier, 1945).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica0-4.htm2006-06-01 12:19:02
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.1.
II
OS PRINCPIOS DO SER MVEL
1. Promio.
A cincia, uma vez que deseja ser uma disciplina verdadeiramente
explicativa, deve necessriamente remontar aos princpios. Assim,
no devemos nos admirar, vendo Aristteles, seguindo alis o
exemplo de seus antecessores, comear seu estudo do ser da
natureza por uma busca de seus princpios. Princpio, aqui, deve ser
entendido no sentido de elemento imanente ou componente; os
princpios exteriores da mutao, isto , as causas eficientes e
finais, s sero abordadas mais adiante. A presente exposio se
refere, portanto, aproximadamente ao que hoje se denomina teoria
da matria.
Inicialmente tentaremos distinguir as idias mestras do primeiro
livro da Fsica, especialmente no que se refere aos trs princpios:
forma, privao, matria. Depois, luz dos esclarecimentos dados
pelo De Generatione, sero determinados os grandes tipos de
mutao, o que permitir fixar a estrutura profunda dos corpos nos
diversos nveis. Consideraes complementares sbre a maneira
pela qual devem-se compreender, em peripatetismo, a quantidade e
a qualidade do ser fsico, e algumas observaes sbre o
hilemorfismo comparado a outras teorias da matria, viro
completar ste estudo dos princpios. (Cf. Texto 11, A. Os princpios,
p. 101) .
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-1.htm2006-06-01 12:19:02
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.2.
2. Objeto e plano do primeiro livro da fsica.
Aristteles se ocupa, antes de tudo, em determinar os. princpios do
ser da natureza. Mais precisamente, seu esfro tem como objeto a
fixao de seu nmero:
"
necessrio
que haja um
nico ou
vrios
princpios.
Se h um
s, que ele
seja
imvel... ou
em
movimento...
Se h
vrios, eles
devem ser
limitados ou
ilimitados, e
se les so
limitados e
em nmero
superior a
um, les
devem ser
ou dois, ou
trs, ou
quatro, ou
outro
nmero
qualquer".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-2.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:03
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.2.
Fs.,
c. I
184b,
1520
Anotemos ste texto; ele comanda e esclarece portanto o
desenvolvimento dos captulos seguintes. Eis como stes se
dividem:
A. Posio
do problema
dos
princpios (c.
1 e c. 2 at
184 b 22).
B.Refutao
do eleatismo
(c. 2,
continuao,
e c. 3).
C. Exposio
crtica das
teorias dos
fsicos (c.
4) .
D.
Determinao
efetiva do
nmero dos
princpios.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-2.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:03
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.2.
- Os
contrrios
so
princpios
(c. 5).
Necessidade
de um
terceiro
termo, o
sujeito (c.6
e c.7).
E. Soluo
das
dificuldades
do
eleatismo
(c. 8).
F.Os
princpios
em
particular,
a matria
(c. 9).
Ser interessante acompanhar Aristteles na crtica notvelmente
precisa e cerrada que ele fez s doutrinas anteriores,
particularmente ao eleatismo. ste afirmando a imobilidade do ser,
suprimia prticamente o problema dos princpios, ou do infinitismo,
de Anaxgoras. efetivamente por ste trabalho prvio de
informao e de confrontao, que o pensamento pessoal do
Estagirita se aperfeioou. Para maior brevidade, iremos
imediatamente ao essencial.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-2.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:03
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.2.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-2.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:03
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.3.
3. Teoria dos trs princpios. Postulado fundamental.
"Que
seja
admitido
para
ns,
como
princpio,
que os
seres da
natureza,
na
totalidade
ou em
parte,
so
mveis.
Isso,
alis,
manifesto
por
induo".
Aristteles,
Fs., c. 2,
185 a 12
A realidade da mudana, realidade manifestada pela experincia, tal
o fundamento admitido como verdadeiro na presente
demonstrao, como tambm, pode-se dizer, em tda a fsica do
Estagirita. A afirmao imobilista e monista dos eleatas, Aristteles
ope antes de tudo experincia. A gerao, da mesma forma que
as outras espcies de mudana, so fatos: o homem que era inculto
torna-se realmente letrado, o que era negro ou de uma cr
intermediria torna-se branco. O processo de ensinamento ou o do
embranquecimento so da ordem do real. Esta simples constatao
foi suficiente para colocar em dvida a doutrina de Parmnides que,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:03
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.3.
por outro lado, chegou a mltiplas inconseqncias. Em oposio a
esta doutrina, a fsica de Aristteles se afirma imediatamente como
uma fsica da mutao ou do ser mvel.
Reconhecer a realidade do movimento implica, ipso facto, em
admitir a da multiplicidade. H multiplicidade sucessiva no ser que
muda e ele no pode ser seno composto. Alm, disso, a prpria
multiplicidade dos sres tambm, diretamene, * um fato da
experincia. Assim, desde o princpio, o mundo de .Aristteles
aparece mltiplo, da mesma forma que mutvel. .entre tanto a
mutao, e no a multiplicidade, que caracteriza pr-, priamente o
ser da natureza, porque s ste ser sujeito ao movimento,
enquanto que a multiplicidade se encontra igualmente entre as
substncias imateriais.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:03
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.4.
4. Os contrrios so princpios.
Aristteles, procede determinao dos princpios em duas etapas.
Inicialmente, retomando uma idia que ele acreditava ter sido
comum a tdas as fsicas anteriores, afirma que os contrrios so
princpios.
Consideremos, por exemplo, um corpo que de colorido torna-se
branco. A mais simples anlise nos mostra que ste processo se
efetua entre dois termos: um termo adquirido; a brancura, e um
termo inicial, a cor, ou mais precisamente, a no possesso da
brancura; h a passagem do no-branco ao branco. Se, de uma
maneira geral, chamamos forma o ltimo termo da mutao, seu
ponto de partida ser a privao desta forma. Ser, portanto,
possvel de se dizer que td mutao se efetua entre dois termos
opostos: a ausncia ou a privao de uma qualquer determinao
fsica e a realidade adquirida desta determinao. Privao e forma,
tais so os dois primeiros princpios da mutao.
Se estudarmos mais detidamente as razes invocadas por
Aristteles no c. 5 para justificar esta anlise, observaremos que ele
obedece a uma dupla preocupao: 1 descobrir. termos que sejam
independentes um do outro e que sejam primeiros em sua linha, e os
contrrios (segundo a fsica antiga), respondem claramente a esta
exigncia; 2. manter, entretanto, uma certa comunidade entre os
termos, assina diferenciados: o branco por exemplo, no vem seno
do no-branco (que pertence ao mesmo gnero cr). Assim,
portanto, para que as mutaes sejam inteligveis, necessrio que
os princpios sejam opostos e independentes um do outro,
permanecendo em um mesmo gnero.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-4.htm2006-06-01 12:19:03
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.5.
5. Necessidade de um terceiro trmo.
Os contrrios no podem, entretanto, por les prprios, dar conta do
fenmeno da mutao. Tda mutao supe um lao, uma unio
entre stes trmos extremos. Mudar, tornar-se outro, o que supe
que se permanea, sob certo aspecto, o que se era. Se houver
descontinuidade absoluta entre os trmos de uma mutao, a
prpria noo de mutao tornar-se- ininteligvel. Ora, claro que
os contrrios no podem representar ste papel unificador: no
podem agir um sbre o outro, nem proceder um do outro; a
substncia, alis, no teria contrrio: na base da contradio
necessrio alguma coisa que no seja oposio a si mesmo.
necessrio, portanto, um terceiro trmo, o sujeito ou a matria, que
servir de suporte ao processo da mutao e a seus trmos. O
sujeito, inicialmente qualificado como privao, ver-se- em seguida
qualificado como forma: o corpo no-branco tornar-se- um corpo
branco.
Aristteles mostra em seguida que no necessrio supor outros
princpios e que particularmente no h um nmero infinito dles.
Em definitivo, tda mutao no mundo fsico requer:
- o sujeito que
muda, a
matria,
-a
caracterizao
que le
recebe, a
forma,
- a ausncia
prvia dessa
caracterizao,
a privao.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:03
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.5.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:03
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.6.
6. Soluo da dificuldade do eleatismo.
A doutrina que se opunha, da maneira mais radical, a esta
explicao sbre a mutao, foi a de Parmnides, qual Aristteles
acreditou ser til opor uma nova refutao. Os eleatas declararam o
devenir impossvel, porque o ser no pode vir nem do ser que j ,
nem d no-ser, o qual no passa de um nada. Na realidade, a
gerao procede ao mesmo tempo de um certo ser, o do sujeito e,
acidentalmente, de um certo no-ser, o da privao. O pretenso
dilema comporta um meio trmo.
Mais adiante Aristteles sugere uma outra resposta, com a qual
introduziu uma das mais importantes distines de sua metafsica:
da potncia e do ato. O devenir ' passagem do ser em potncia ao
ser em ato: assim, no exemplo tomado acima sbre o
embranquecimento, o branco em potncia torna-se branco em ato. A
mudana possvel, porque entre o ser e o nada h um estado
intermedirio que o do ser, em potncia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-6.htm2006-06-01 12:19:03
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.7.
7. Concluso.
Trs princpios portanto, a matria-sujeito, a privao e a forma, so
necessrios para dar conta do fato d mutao que, ela prpria,
parece caracterstica do ser fsico. Assim considerados em tda sua
generalidade, os resultados desta anlise parecem irrecusveis, e
no se v como a renovao ds idias cientficas possa modificlos. Alis, outras vias permitem, no aristotelismo, voltar de nvo a
essas concepes, em particular a determinao das condies de
individuao e, correlativamente, da multiplicao das substncias
materiais. Algumas vzes tambm recorre-se ao fato de que o
dualismo dos, princpios positivos dos corpos, a matria e a forma,
particularmente apto para dar conta da oposio de certos
cnjuntos de propriedades, tais como as de ordem quantitativa e as
de ordem qualitativa; ste argumento, entretanto, menos decisivo.
necessrio reconhecer que todos stes discernimentos no
deixam perturbados os espritos modernos acostumados, a abordar,
sob outros aspectos, o estudo dos fenmenos fsicos. Entretanto,
no intil lembrar ser necessrio compreender estas anlises em
funo de nossas concepes atuais. o saber dos sculos
precedentes que os condiciona. O papel dado em particular aos
contrrios na teoria da mutao no adquire todo seu sentido seno
quando visto sbre ste fundo primitivo. Em um simplismo, que por
outro lado no desprovido de profundidade, o mundo pareceu a
stes predecessores de nossa cincia como um campo de luta onde
se afrontavam as entidades opostas de frio e calor, do sco e do
mido, da luz e da escurido etc.. Da, fazer dos opostos ou dos
contrrios os princpios das coisas e de suas transformaes, no
h seno um passo a dar, que aqui se realiza. Visto na linha das;
especulaes, de um Anaximandro, de um Herclito ou de um
Empdocles, a doutrina dos contrrios de Aristteles torna-se muito
natural.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-7.htm2006-06-01 12:19:04
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.8.
8. Gerao absoluta e mutaes acidentais.
At o presente, s se cogitou de estabelecer, de maneira geral, o
nmero dos princpios requeridos para a mutao. No primeiro livro
da Fsica, Aristteles, no leva, alis, sua anlise mais longe. O
problema da distino das diferentes espcies de movimento e,
correlativamente, dos diferentes tipos de princpios, no ser tratado
em tda a sua amplitude seno no De Generatione (especialmente
nos 5 primeiros captulos)
"Devemos",
diz le,
"tratar, de
maneira
geral, da
gerao e
da
corrupo
absolutas:
elas
existem ou
no, e de
que
maneira?
Falta-nos
tambm
considerar
os outros
movimentos
simples,
como o
crescimento
ea
alterao".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-8.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:04
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.8.
De
Gener,
I, c.
2,
315 a
26
Aristteles chega concluso de que existem dois tipos essenciais
de gerao: a gerao absoluta, ou substancial, que implica na
transformao profunda de uma coisa em outra, e a gerao relativa,
ou acidental, que supe a permanncia de um sujeito ou substrato
determinado. Ao primeiro tipo correspondia para os antigos, por
exemplo, a transformao por combusto do ar em fogo, ou o
nascimento de um vivente; ao segundo tipo, a mudana do homem
no letrado em homem letrado.
Em tda esta discusso, a ateno do Estagirita tem como objeto a
gerao substancial que antes de tudo necessrio salvaguardar
em sua originalidade. Esta, se via, ento, comprometida por dois
conjuntos de teorias: aquelas que pressupem um elemento nico
na origem, e aquelas que admitem muitos elementos
especificamente distintos. Para os partidrios de um nico
elemento, Tales, Anaximandro, Anaximenes, a mutao se refere, em
ltima anlise, a modificaes acidentais de uma substncia
primordial, gua, ar etc. Para os que adotam a opinio oposta, os
atomistas, e tambm Empdocles e Anaxgoras haveria bem ao
nvel das substncias uma certa inovao, mas smente por
associao ou dissociao de elementos distintos pr-existentes: na
realidade no se chega por tais processos seno a novos
agregados.
Para Aristteles ao contrrio, necessrio afirmar que em tda
gerao h a apario de uma substncia verdadeiramente nova ao
mesmo tempo que se d a destruio da substncia pr-existente. A
nova substncia no poder, portanto, ter em seu princpio nem um
substrato qualificado, nem uma pluralidade de elementos j
constitudos, ruas uma matria absolutamente indeterminada. Tal
matria necessria, porque, j o vimos, em tda gerao
necessrio um elemento sujeito. Ora, na gerao absoluta, o sujeito
no pode ser uma substncia, mas, smente esta entidade sem
determinao positiva qual se reservar o, nome de matria
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-8.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:04
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.8.
primeira.
Uma dificuldade que se coloca para os modernos. Parece no ter
preocupado Aristteles a do reconhecimento efetivo e do
discernimento prtico das geraes substanciais. Para le, so
evidncias, e o exemplo tpico de tais mutaes seriam, ao lado do
nascimento e da destruio dos, viventes, o das transmutaes no
menos manifestas dos elementos gua, terra, fogo, uns nos outros.
Assim, por evaporao a gua torna-se ar, e, por aquecimento o ar
resulta em fogo. Para demonstrar a realidade das mutaes
substanciais, tais constataes, necessrio reconhecer, no tm
mais para ns virtude necessitante! Somos, alis, menos seguros
que os antigos de possuir a lista exata dos elementos substanciais
mais simples, e para ns sempre difcil distinguir se a tal
transformao nas aparncias corporais corresponde apario
irrecusvel de uma substncia nova, ou se houve simplesmente uma
modificao dos elementos pr-existentes.
Seja como fr, a importncia das mutaes, seguidas de certas
transmutaes qumicas, parece estar mais de acrdo com o
reconhecimento de verdadeiras geraes substanciais. Resta-nos
provar de maneira irrecusvel a existncia destas, o caso
privilegiado do nascimento e da destruio dos viventes, caso onde
a produo de indivduos substanciais absolutamente novos parece
dificilmente contestvel.
H portanto, no mundo fsico, ao lado das modificaes superficiais
ou das, mutaes acidentais que so facilmente ob servveis,
verdadeiras geraes e corrupes de substncias corporais.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-8.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:04
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.9.
9. A estrutura das substncias corporais.
A distino que acaba de ser efetuada entre os dois grandes tipos
de mutao, e que afeta profundidades diferentes da substncia
corporal, conduz naturalmente determinao da estrutura do ser
fsico.
Dos trs princpios citados, um negativo, a privao, o qual no
tem realidade seno por relao com uma determinao a vir. Este
no evidentemente para ser compreendido no nmero dos
componentes primordiais do ser. Permanecem portanto a forma e o
substrato ou a matria. Tais trmos tm para Aristteles uma
significao incontestavelmente analgica: o bronze e a
configurao da esttua, os materiais e a disposio da casa, os
elementos e o misto que les constituem, as letras e a silaba,
mantm igualmente uma relao de matria e de forma.
Resolvida a distino mais importante da mutao substancial e da
mutao acidental; tdas estas relaes podem ser reduzidas a dois
tipos fundamentais:
- a relao
matria
segunda-forma
acidental,
correspondente
mutao
acidental
(matria
segunda
sendo tomada
aqui no
sentido de
substratosubstancial)
- a relao
matria
primeira-forma
substancial,
correspondente
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-9.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:04
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.9.
ao caso no
qual a
substncia
totalmente
transmutada.
So evidentemente os trmos desta ltima relao, matria primeira
e forma substancial, que se encontram na base da constituio dos
corpos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-9.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:04
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.10.
10. Matria, forma, composto substancial.
"Chamo
matria o
substrato
primeiro para
cada ser, a
partir do qual
nasce
qualquer
coisa,
permanecendo
imanente e
no
acidental".
Fs.,
I,
c.
9,
192
a 3132
Traduzido por S. Toms (Coment. Fs., I, 1. 15):
"primum
subjectum
ex quo
aliquid fit
per se et
non
secundum
accidens,
et inest
rei iam
factae".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-10.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.10.
A matria o sujeito primeiro para cada ser, princpio essencial de
sua gerao, e que permanece quando esta termina.
A propriedade caracterstica da matria, se assim se pode dizer,
sua indeterminaro absoluta. "Chamo matria o que no por si,
nem qualquer coisa de determinada, nem de uma certa quantidade,
nem de qualquer ds outras categorias que determinam o ser".
(Aristteles, Metaf., Z, c. 3, 1029 a 20-21) : neque quid, neque quale,
neque quantum, dir-se- na escolstica.
De maneira equivalente, diz-se que a matria pura potncia: nora
est eras actu sed potentia tantum. Isto deve-se ao fato de ser ela o
sujeito dste ato primeiro que coloca um ser na realidade. Se a
matria j era atuada antes de sua informao, ser ela a substncia.
ste ponto de vista que incontestvelmente o do aristotelismo
autntico, foi firmemente mantido por S. Toms e por seus
discpulos contra todos aqules que desejaram reconhecer na
matria, anteriormente: infuso da forma, uma certa determinao
positiva.
Concluir-se- com Aristteles (Fs., I, c. 9, final), que a matria no
prpriamente "o que existe" nem "o que engendrado", quod existit
vel quod generatur, mas smente "o pelo qual", "quo", o composto
existe. O verdadeiro sujeito da existncia o composto de matria e
de forma. Deve-s igualmente dizer que a matria primeira em si
mesma "uma", no sentido de que nada permite distinguir a partes
atuais; ela no mltipla seno em potncia. Para Aristteles, afinal;
a matria era no engendrada, eterna. O fato da criao no tempo
nos obriga evidentemente a abandonar essas afirmaes.
A forma substancial , igualmente princpio imanente e no
acidental do ser mvel; ela o ato primeiro da substncia sensvel, o
pelo qual ela existe e pelo qual ela tal ser:
"id quo res
determinatur
ad certum
essendi
modum".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-10.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.10.
Como a matria, a forma no tem existncia independente e no
engendrada. No processo da gerao no se dever mais dizer que
as formas so transmitidas de um sujeito a outro. As formas so
tiradas, "extradas" da potncia mesma da matria que .elas vm
atuar. Na metafsica crist, necessrio, entretanto, fazer exceo
para a alma humana criada diretamente por Deus para ser unida a
um corpo. Alm disso, em razo da unidade essencial do composto,
uma matria no pode ser atuada ao mesmo tempo seno por uma
s forma substancial. Esta tese, ardentemente contestada no
passado, corresponde certamente ao pensamento de Aristteles e
tambm ao de S. Toms.
Matria e forma se unem para dar o composto substancial, quer
dizer, o ser concreto, tal como ele se encontra na natureza. le
verdadeiramente "o que existe", quod existit. le , em
conseqncia, o que princpio e trmo da gerao e da corrupo
substancial, quod generatur et quod corrumpitur. le tambm o
sujeito dos acidentes, e a le, como a seu princpio radical, que
so relacionadas as atividades do sujeito: "actiones sunt
suppositorum", diz-se em filosofia escolstica.
Como explicar a unidade do composto? Digamos simplesmente,
sem entrar na discusso das escolas, que, para Aristteles e S.
Toms, matria e forma se unem imediatamente sena que seja
necessrio fazer interveno, como queria Suarez, um modo
substancial unitivo. Matria e forma se determinam diretamente
como ato e potncia.
Restar demonstrar que no composto, o. elemento determinativo, a
forma, ontolgicamente primeira: o ser fsico principalmente
forma. Esta teoria, do primado da forma, tem um lugar extremamente
importante na economia do conjunto do aristotelismo, e ser melhor
colocada no captulo consagrado noo de natureza.
As substncias corporais so, portanto, compostas primordialmente
de matria primeira e de forma substancial. Em um nvel mais
superficial, e em referncia com as mutaes que no afetam o ser
essencial das coisas, se encontram os pares matrias segundas,
formas acidentais. No De coelo e no De Generatione, esta diviso,
aparentemente exaustiva, se encontra complicada pela introduo
de um tipo de mutao, a mistura de vrias substncias, que,
atingindo a estrutura profunda dos corpos, no pode, entretanto, ser
reduzida pura gerao substancial. Esta nova juno leva
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-10.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.10.
distino de duas espcies de corpos fsicos: os elementos, que se
transformam uns nos outros pela simples gerao, e os mistos que
resultam da fuso de elementos pr-existentes. Devido sua
evidente semelhana com a moderna teoria dos corpos simples e
dos corpos compostos, esta doutrina apresenta, ainda agora,
inegvel intersse.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-10.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.11.
11. Os elementos.
"Diz-se
elemento
do que
compe
primeiro
um ser,
sendo
ele
imanente,
e de uma
espcie
indivisvel
em uma
outra
espcie".
Aristoteles,
Metaf.,
Delta, c.
3, 1014 a
25
"Elementum
dicitur ex
quo aliquid
componitur
primo
inexistente
indivisibili
specie in
aliam
speciem"
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-11.htm (1 of 6)2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.11.
S.
Toms,
Metaf.
V,
1.4
Analisando esta definio na passagem citada, S. Toms a precisa
em quatro pontos:
- "id ex quo": o
elemento do
gnero causa
material,
- "primo": tratase da primeira
causa material,
- "inexistente":
o elemento
princpio
imanente,
- "indivisibili
specie in aliam
speciem": o
elemento no
pode ser
dividido em
partes
especificamente
diferentes; le
imediatamente
composto de
matria primeira
e de forma
substancial, e
no pode ser
reduzido seno
por uma
corrupo
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-11.htm (2 of 6)2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.11.
substancial, ela
prpria
necessariamente
conexa com a
gerao de um
outro elemento.
Na fsica peripattica os elementos so quatro, gua, ar, terra, fogo,
nomenclatura alis corrente naquela poca. No ser intil observar
que os corpos naturais que comumente designamos com um ou
outro dsses nomes no eram, nesta teoria, os elementos, em
estado puro, mas j compostos onde um dos elementos se
encontrava em excesso.
Duas ordens de propriedades notveis caracterizavam os elementos.
Inicialmente les eram naturalmente localizados, quer dizer que les
tinham cada um um lugar natural em direo ao qual les eram
inclinados por uma fra interna: o fogo, em direo ao alto, abaixo
da orbe da lua, a terra para baixo, o ar e a gua dividindo-se na
zonas intermedirias. O pso e a leveza manifestando estas duas
tendncias internas dos elementos.
Do ponto de vista qualitativo os elementos apareciam determinados
pelos pares de contrrios primordiais, o calor, o frio, o sco e o
mido, da seguinte maneira:
- o fogo
calor-sco,
com
predominncia
de calor
- o ar calormido, com
predominncia
do mido
- a gua friomido, com
predominncia
de frio
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-11.htm (3 of 6)2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.11.
- a terra friosco, com
predominncia
de sco.
Alm disso essas qualidades so os princpios ativos dos
elementos, em virtude dos quais les se alteram recprocamente te;
quando a alterao atinge o grau necessrio, les se transformam
uns nos outros por simples gerao.
Com tal preciso de detalhe, esta teoria dos elementos no passa,
evidentemente, para ns, de uma curiosidade arcica; mas no se
afirma que as percepes profundas que o animam tenham perdido
todo valor e que no se possa fazer uma transposio de
conformidade com a linguagem cientfica moderna.
As partculas elementares, no nvel infra-atmico, no subsistem por
transmutaes comparveis s dos antigos elementos?
Ao lado dos, elementos, necessrio reconhecer a existncia de
mistos ou corpos compostos. Os mistos so corpos que resultam da
unio de vrias substncias elementares e formam um todo
especificamente distinto daquelas. No De Generatione, o esfro de
Aristteles se concentra principalmente sbre o discernimento de
um processo de mistura de vrias substncias, que seja distinto da
gerao simples no se reduzindo justaposio dos elementos prexistentes. Duas afirmaes resumem seu pensamento: 1. a mistura
de vrias substncias uma verdadeira fuso de elementos
substanciais, resultando em uma substncia nova, unificada sob
uma nica forma substancial; 2. os elementos permanecem
virtualmente no misto, conservando uma certa atividade prpria, e
portanto qualquer coisa de suas qualidades particulares. Em seu
comentrio, S. Toms assim condensa essa doutrina:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-11.htm (4 of 6)2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.11.
"Ad hoc
quod sit
mixtio
necesse
est quod
miscibilia
nec sint
simpliciter
corrupta,
nec sint
simpliciter
eadem, ut
prius:
sunt enim
corrupta
quantum
ad
formas,
et
remanent
quantum
ad
virtutem".
De
Gener.
I,
1.25
Os mistos so, portanto, verdadeiras substncias, sendo que na
estrutura daquelas os componentes permanecem de algum modo,
manifestando-se esta sobrevivncia no plano da atividade. Por esta
engenhosa explicao, Aristteles procura satisfazer, ao mesmo
tempo, aos dados da experincia que parecem, em certos, casos,
testemunhar em favor da permanncia dos elementos, e rebater a
soluo atomista da simples justaposio de corpsculos prexistentes no misto.
Ainda aqui nos encontramos frente fantasmagoria cientfica de
outra poca e do ponto de vista da determinao filosfica, no
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-11.htm (5 of 6)2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.11.
certo que se possa ir alm da anlise da estrutura de nossas
modernas molculas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-11.htm (6 of 6)2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.12.
12. Quantidade e qualidade do ser mvel.
As substncias corporais das quais procuramos com Aristteles
determinar os princpios, se apresentam, de fato, na nossa
experincia, como quantificadas e qualificadas: elas tm uma certa
grandeza e todo um conjunto de qualidades perceptveis aos
sentidos. Esta quantidade e estas qualidades dos corpos aparecem
to estreitamente solidrias a seu sujeito que certos filsofos
negaram que elas fssem realmente distintas. Descartes, por
exemplo, confundiu extenso e substncia. Pretendeu-se
igualmente, em razo de preconceitos mecanicistas, que as
qualidades, sensveis no tivessem qualquer objetividade, seja no
antigo atomismo ou ainda no cartesianismo. Por estas razes, um
estudo da substncia corporal no pode ser completo sem que. seja
determinada a maneira pela qual ela tem relao com a quantidade e
a qualidade. Algumas precises sobre a prpria noo de
quantidade nos serviro de preliminares.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-12.htm2006-06-01 12:19:05
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.13.
13. Natureza da quantidade e espcies de quantidade.
O prprio trmo quantidade evoca imediatamente em nossos
espritos uma multido de objetas, ou a extenso prpria a cada um
dles: todo um conjunto de propriedades, divisibilidade,
mensurabilidade, localizao, etc., ligando-se a esta primeira
percepo. Qual dsses aspectos exprime mais formalmente a
essncia mesma da quantidade?
Para Aristteles, o fato de constituir um todo divisvel em partes
intrnsecas distintas. S. Toms dir (loc. cit.) :
"quantum
dicitur
quod est
divisibile
in ea
quae
insunt",
e precisa que a diferena dos elementos que no existem, seno
virtualmente no misto, e diferentemente das, partes essenciais,
matria e forma, que so incapazes de ter uma existncia isolada, as
partes da quantidade so, como tais, aptas a constituir, verdadeiras
coisas. So, dir-se- em lgica, partes integrantes.
Os comentadores de S. Toms, Joo de S. Toms por exemplo, para
definir a quantidade colocam primeiramente o fato de ordenar ou
desenvolver as partes relativamente ao todo: a quantidade assim o
que d substncia o ter partes exteriores umas s outras segundo
certa ordem. A concepo precedente, esta acrescenta a preciso de
uma situao relativa das partes com relao ao todo; no fundo as
duas definies redundam no mesmo.
A concepo de quantidade como ordem de partes se acrescenta
imediatamente a propriedade, j assinalada, de divisibilidade, e
devido ao fato de serem homogneas estas partes, a de
mensurabilidade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-13.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:06
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.13.
Refletindo sbre as condies da quantidade, tais como nos aparece
no mistrio da Eucaristia, onde o Corpo de Cristo contido sob as
espcies do po com sua quantidade prpria, os telogos vieram a
distinguir da ordenao interna das partes da quantidade sua
ordenao relacionada aos corpos envolventes, o que se chama sua
extenso externa ou espacial. No mistrio precedente, esta ltima
propriedade que se acha miraculosamente privada de seu efeito: o
Corpo de Cristo tem ainda, sob a hstia, suas partes integrantes
distintas, mas elas no se relacionam mais a outros corpos, como
um lugar.
O fato de serem, na hiptese comum, localizadas, ou de ocuparem
um lugar, possibilita enfim para as partes da quantidade a
prerrogativa de serem impenetrveis: de potncia natural, um
mesmo lugar no pode .ser simultneamente ocupado por dois
corpos.
Duas grandes formas de quantidade se nos apresentam
espontneamente: a quantidade de extenso ou de grandeza
dimensvel, e o nmero. A distino muito antiga das disciplinas
matemticas fundamentais, geometria e aritmtica, apenas
transporta para o plano cientfico esta percepo de senso comum.
Ns a reencontramos no peripatetismo, mas aprofundada pela
diferena caracterstica da continuidade. A quantidade dimensvel
ento denominada quantidade contnua ou "concreta", e a
quantidade de multido, quantidade descontnua ou "discreta".
Para Aristteles, o contnuo uma totalidade na qual as partes no
smente se tocam (simples contigidade) mas tambm se
confundem. A quantidade concreta ser portanto aquela na qual as
partes no esto atualmente separadas, ou so contnuas "quod est
divisibile in partes continuas". Assim uma linha divisvel em
pores de linha na qual as partes esto atualmente confundidas.
No interior da quantidade concreta deve-se distinguir: o contnuo
simultneo, linha, superfcie, volume, que pertencem por si ao
predicamento quantidade, e o contnuo sucessivo, movimento,
tempo, que no quantidade seno de maneira derivada, em razo
de seu sujeito, o corpo aumentado ao qual le implica
necessriamente grandeza.
A quantidade discreta o nmero, quer dizer a quantidade que pode
ser dividida em partes no contnuas: "quod est divisibile secundum
potentiam in partes non continuas". O nmero le prprio no pode
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-13.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:06
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.13.
ser considerado absolutamente, fazendo-se abstrao das coisas,
contadas, 10 por exemplo, no sentido abstrato: nomeia-se o nmero
numerante; a coleo mesma dos objetos que se conta, 10 homens,
chama-se o nmero numerado. O nmero constitudo de seus
elementos ltimos e irredutveis de unidades, e le medido pela
unidade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-13.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:06
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.14.
14. A quantidade realmente distinta da substncia.
Se confissemos na percepo dos sentidos, seramos levados a
confundir a substncia e sua extenso quantitativa: esta massa que
se acha diante de mim mostra-se indistintamente como substncia e
quantidade. Assim no se pode ficar muito surprso ao ver certos
filsofos, como Descartes, afirmar que entre essas duas coisas no
h prticamente seno uma distino de razo: de modo que poderse- dizer que a substncia mesma dos corpos h de ser quantidade
e extenso.
No aristotelismo, e, geralmente, mais na filosofia crist, sustenta-se,
ao contrrio, que h entre substncia e extenso concreta uma
distino real.
A justificao desta tese, em face da posio cartesiana, depende
em ltima anlise da metafsica e da crtica do conhecimento; aqui
ela no pode, portanto, ser convenientemente levada a trmo. Em
suma, podemos dizer que o efeito formal prprio de uma e de outra
dessas, modalidades de ser parecem irredutveis. De si a substncia
d ao corpo o existir e de maneira autnoma e lhe confere a unidade,
enquanto que a quantidade, como acabamos de ver, o ordena em
partes e o torna divisvel. Estas duas funes opostas parecem
dever levantar princpios efetivamente distintos e dos quais o
primeiro pressuposto pelo segundo. Alis, a quantidade de um
corpo pode mudar, sem que sua substncia tenha sido modificada.
Pode-se dizer igualmente que a quantidade da ordem dos objetos
perceptveis aos sentidos, enquanto que a substncia como tal s
alcanada pela inteligncia.
Se a quantidade realmente distinta da substncia corporal,
entretanto com ela encontra-se em um estado de proximidade
particularmente estreito; pois sua disposio fundamental. Por
outro lado goza de certa anterioridade com relao aos outros
acidentes, sendo que stes, a supem sob o ttulo de acidente
primeiro, representando em face dles como que um papel de
segundo sujeito. Finalmente a solidariedade mais acentuada da
substncia e das dimenses espaciais sero postas em maior
evidncia na metafsica, na importante questo da individuao da
substncia, onde a quantidade dimensvel intervir como
determinante necessrio da matria.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-14.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:06
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.14.
Tais observaes no so suprfluas porque, de tanto se repetir que
em oposio fsica moderna, que ser quantitativa, a fsica de
Aristteles essencialmente qualitativa, acabou-se por esquecer
que, para o Estagirita, a quantidade dimensvel tem, no universo
corporal, lugar to importante que deve ser considerada como a
disposio mais profunda do ser da natureza. Aqui Aristteles
encontra-se menos longe de Descartes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-14.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:06
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.15.
15. A realidade das qualidades sensveis.
Pertence metafsica definir e dividir a. noo de qualidade que seja
vlida tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo corporal.
O discernimento da qualidade corresponde a uma experincia
primeira, impossvel de ser reduzida a coisa mais simples.: "Chamo
qualidade quilo em razo de que um ser dito ser
tal" (ARISTTELES, Categorias, c. 8, 8 b 25). Em sentido mais amplo
o fato de qualificar se estende prpria diferena substancial, quer
dizer, quilo que faz com que fundamentalmente tal coisa seja
determinantemente uma e no outra. Em sentido estrito, a qualidade
designa as modificaes acidentais que na ordem da especificao
se acrescentam substncia j constituda em si mesma.
H aparentemente nesta questo uma oposio total entre a fsica de
Aristteles e o conjunto dos sistemas inspirados na cincia
moderna que comumente se designam pelo epteto, bastante
impreciso alis, de mecanicista. Para o mecanicismo deve-se
distinguir duas ordens de qualidades: as qualidades primeiras,
extenso, figura, movimento, e as qualidades segundas, cr, odor,
sabor, etc. Sendo as qualidades primeiras as nicas manifestadas
como objetivas, pode-se com base nesta distino constituir um
sistema explicativo da natureza de-carter essencialmente
matemtico. Observemos que, de fato, o mecanismo, mesmo em
suas formas mais rgidas, jamais conseguiu eliminar completamente
o elemento qualitativo do mundo corporal: os tomos de Demcrito
tinham ainda cada um sua figura, e a extenso amorfa da fsica
cartesiana tornou-se universo smente pela interveno de
movimentos diferenciadores. Mais que uma supresso total, o
mecanicismo marca a tendncia a esquematizar e a simplificar ao
mximo na ordem da qualidade sensvel.
Para o Estagirita, ao contrrio, o conjunto dos dados qualitativos,
tais como so percebidos pelos sentidos, tinha uma realidade
objetiva. Alm disso deve-se reconhecer que tda ordem de
mutao fsica tem seu princpio imediato na qualidade, no
movimento qualitativo prpriamente dito, na alterao, estando na
origem dos outros movimentos. E claro que em tal sistema a
qualidade tem um valor e uma funo de importncia diferente da
que se encontra nas explicaes precedentes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-15.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:06
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.15.
Que concluir desta oposio? Aqui faremos mltiplas
consideraes. Observemos que necessrio sobretudo no
confundir os diferentes planos de explicao. Nada melhor que o.
estudioso prefira abordar os fenmenos da natureza pelo aspecto da
quantidade, a qual se presta a medidas precisas, e que le seja
conduzido assim a simplificaes sob o ponto de vista das
qualidades. Mas, se se trata de construir a filosofia do ser da
natureza, quer dizer de estud-lo em tudo aquilo que le , e
voltando-se aos ltimos princpios, parece que a ordem da qualidade
retoma todos os seus direitos em face dos da quantidade. Por outro
lado, mesmo no domnio peculiar da cincia como cada vez mais se
constata, parece impossvel se negligenciar absolutamente a
qualidade. O mecanicismo teve sua poca como sistema de
explicao exaustiva. Em princpio no se estabelece, portanto, que
uma filosofia fsica na qual a qualidade tem um papel primordial,
como a de Aristteles, no possa estar em harmonia com a cincia
atual.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-15.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:06
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.16.
16. Concluses: o hilemorfismo e as outras teorias da
matria.
Nos modernos tratados de cosmologia, usa-se confrontar a teoria
aristotlica dos princpios, chamada hilemorfismo com as teorias
rivais do atomismo e do dinamismo. No ser interessante entrar
nessas discusses seno depois de se tomar conscincia da
extrema complexidade das explicaes colocadas em questo e da
prpria ambigidade do vocabulrio empregado. Assim pode-se
muito bem sustentar que no hilemorfismo de Aristteles latente
um atomismo e um mecanicismo dos, mais caracterizados, e devese afirmar que Descartes um anti-atomista convicto. Trmos to
ambguos como stes, em particular, de atomismo e de
mecanicismo, no devem ser utilizados seno com grande
prudncia.
A base mais segura para ste debate parece ser a crtica que
Aristteles ope ao atomismo, tal como Leucipes e Demcrito o
apresentavam. Com efeito, stes dois filsofos tinham elaborado um
sistema da natureza onde se encontrava a explicao atomista do
mundo sob a forma mais ingnua, mas tambm a mais rigorosa. O
mundo composto de partculas extremamente pequenas, no
qualificadas, indivisveis, smente dotadas de figuras diversas, e
que, atravs, de associaes variadas constituam os corpos que
nos rodeiam e produziam suas transformaes. Da forte discusso
sbre esta questo, colocada no princpio do De Generatione,
resultou que Aristteles no pde aceitar o atomismo pela razo
principal de que um tal sistema impotente para explicar a gerao
de novas substncias: um nvo conjunto de. tomos no uma
substncia nova. Dito de outra forma, a substncia no pode resultar
de um simples agregado de elementos pr-existentes: "com efeito,
h gerao e corrupo absolutas, no em conseqncia da unio e
da separao (no sentido mecnico), mas quando h mudana total
de uma tal coisa em uma outra coisa" (De Gener., I, c. 2, 317 a 20).
"Que seja bem estabelecido, diz para concluir, que a gerao no
pode ser uma unio" (317 a 30).
Como sistema explicativo absoluto o atomismo vai de encontro com
o fato, demonstrado por Aristteles, da gerao substancial
concebida como a destruio total de um ser, ligada ao nascimento
de um ser essencialmente novo. Se se continua a admitir com o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-16.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:07
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.1, C.16.
Estagirita que h tais transformaes no mundo fsico, o que
evidentemente supe previamente que h substncias, a
argumentao do De Generatione parece conservar todo seu valor e,
no plano filosfico, o hilemorfismo deve ser mantido. Ora, j o
vimos, pelo menos para o caso dos viventes, para os quais os
trmos indivduo, nascimento ou destruio parecem conservar sua
significao plena, parece difcil refut-lo.
Mas o atomismo, e sob ste ponto de vista que geral mente se
colocam os estudiosos, pode ser considerado como uma ordenao
e uma soluo sbre o plano da quantidade, ou do contnuo espacial
do mundo dos corpos. Nada impede, parece, imaginar agora que
stes sejam constitudos de corpsculos nos quais a disposio e
os movimentos sero analisveis matemticamente. Assim o
universo se revelar sob esta luz como um sistema mecnico: viso
de fato fundamentada na realidade e que no prprio aristotelismo
encontra, com a doutrina do primado do movimento local, como uma
pedra fundamental. Mas esta viso obtida, convm no
esquecermos, ao preo de uma abstrao e sob um ponto de vista
relativo.
A explicao hilemrfica e a explicao atomista podero portanto
ser igualmente mantidas, cada uma em seu plano. Mas,
filosficamente falando, a anlise de Aristteles que vai mais ao
fundo das coisas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica1-16.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:07
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.2, C.1.
III
A NATUREZA
1. Introduo.
O segundo livro da Fsica pode ser dividido em duas sees: a
primeira (c. 1 e 2) dedicada principalmente noo de natureza; a
segunda (c. 3 a 9), ao estuda das causas.
Os dois primeiros captulos so de fato uma espcie de retomada da
questo dos princpios tratada no livro I. Aqui, entretanto, no sero
examinados os princpios do ser mvel, mas sim o do movimenta
como tal. este princpio ser a natureza, que se caracterizar em
contraste com a arte, princpio das mudanas voltadas para as
coisas fabricadas, "artificiais", e no para os sres naturais. Na
realidade, a finalidade desejada por Aristteles nesta procura parece
sobretudo ter sido a de determinar com enorme preciso o "sujeito"
da cincia fsica.
Se se deseja compreender bem o sentido e a importncia das
consideraes que sero feitas, til lembrar que Aristteles foi,
neste campo, antes de tudo um biologista. Muitas das noes de sua
fsica, e da natureza em particular, s sero inteligveis quando
recolocadas na perspectiva e preocupao dos estudos dos
viventes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica2-1.htm2006-06-01 12:19:07
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.2, C.2.
2. Definio da natureza.
Para Aristteles, a existncia dos sres naturais, ou de naturezas,
no necessita ser demonstrada: evidente. Os animais e suas
partes, as plantas, os elementos so sres naturais. Como o prprio
movimento, a natureza em fsica da ordem dos postulados. Que
portanto a natureza?
"A natureza
princpio e
causa de
movimento e
de repouso
para a coisa
na qual ela
reside
imediatamente
e a ttulo de
atributo
essencial e
no
acidental"
Aristteles
Fs.II, 1,
192 b 2122
A natureza se define primeiramente como um princpio de
movimento. Originriamente, o trmo natureza teria significado o
prprio movimento, e s ulteriormente foi empregado para designar
o princpio do movimento. Quanto ao "repouso", devia ser
mencionado em uma fsica que o concebesse como a imobilidade
daquilo que poderia ser movido; nesta hiptese, da mesma forma
que o movimento, deve o "repouso" ser explicado por uma causa.
Assim a natureza do elemento pesado d conta ao mesmo tempo, de
acrdo com a antiga teoria da gravidade, da queda dos corpos e de
seu repouso assim que atinge seu lugar natural.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica2-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:07
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.2, C.2.
A natureza, em segundo lugar, chamada principio interno; e por
isso se distingue da arte. A coisa fabricada, um casaco, uma cama,
no tem, como tal, atividade prpria procedente de sua forma. Se a
cama fsse engendrar alguma coisa ela produziria madeira antes de
tudo. O princpio prprio da obra de arte deve ser procurado no
esprito do artista, princpio exterior e que no , em sentido estrito,
um princpio fsico. A respeito dos objetos fabricados pode-se muito
bem falar de uma forma que os caracteriza, mas esta forma no tem
atividade especfica; e se tais objetos tm, de fato, inclinaes
naturais, isto se deve aos materiais dos quais so constitudos que,
sob a nova forma, conservam suas propriedades originais. A
natureza, ao contrrio, princpio interno especfico das atividades
do ser que ela constitui.
A ltima preciso encontrada na definio da natureza tem o papel
de eliminar a causalidade acidental. Eis, por exemplo, um mdico
que, ao se tratar, cura-se: para le acidental e no natural o ter
sido curado por sua arte.
necessrio tomar cuidado, pois Aristteles entende por natureza,
no o princpio imanente de movimento de um ser particular, mas o
princpio universal de * animao de todo o cosmos: a Natureza,
com maiscula, que, diga-se de passagem, jamais teve para le a
consistncia de uma verdadeira alma do mundo.
necessrio ainda notar que a natureza de um ser fsico no o
nico princpio de sua atividade: esta supe, ainda, causas
exteriores. Isso particularmente demonstrado no caso dos sres
inanimados que, em oposio aos viventes, tm como marca
caracterstica a de ser movidos por um outro.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica2-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:07
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.2, C.3.
3. A natureza matria e sobretudo forma.
Uma das preocupaes dominantes de Aristteles em nosso
captulo o de precisar se a natureza matria ou, sobretudo,
forma; em conseqncia, determinar sob que ponto de vista o fsico
deve preferentemente se colocar, se o da matria ou da forma.
Anteriormente, havia a tendncia para identificar a natureza com os
elementos materiais, gua, ar, fogo, etc. Aristteles reconhece que
esta maneira de ver no sem fundamento: os elementos, a matria,
so partes integrantes da natureza. Entretanto, esta tambm e,
sobretudo, o tipo ou a prpria forma das coisas consideradas.
antes de tudo por sua forma que os sres so caracterizados e
agem. Concluamos: "A natureza tendo dois, sentidos, o da forma e o
da matria, necessrio estud-la da mesma maneira com que
procuraramos a essncia do nariz curto e achatado e,
conseqentemente, os objetos desta espcie no so nem matria,
nem considerados sob seu aspecto material" ( Fsica, II, c. 2, 194 a
13 ) . Em definitivo, no estudo da natureza ser dominante o ponto
de vista da forma.
Adotando esta posio, Aristteles determinava de fato a orientao
de todo seu mtodo fsico. Se a soluo reduo do ser da natureza
nos seus elementos componentes tiver valor, a sua reduo pelas
estruturas formais e, em ltima anlise (uma vez que forma e fim
coincidem), pela causalidade final que conduz s explicaes mais
satisfatrias. De tipo "formalista" ou "finalista", a fsica peripattica,
desde logo nos parece se distanciar da explicao mecanicista
centralizada de preferncia sbre a matria e sbre a quantidade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica2-3.htm2006-06-01 12:19:07
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.2, C.4.
4. Natureza, violncia e arte.
Precisamos acima o significado da noo de natureza em
comparao com a de arte. No peripatetismo se estabelece
igualmente sua relao com outra noo, a de violncia. A
"violncia", como a arte, designa uma atividade que tem seu
princpio fofa do sujeito transformado, mas que pode tambm ser
tanto de origem natural quanto de origem artificial. Tem como
carter especfico o de contrariar diretamente as tendncias naturais
do corpo que ela afeta. Assim, de acordo com a fsica antiga, o
movimento para o alto era violento para um corpo dotado de
gravidade.
Atravs das trs noes consideradas, chega-se em definitivo a
estas frmulas que so clssicas na escolstica:
"Natura est
principium et
causa motus
et quietis in
eo in qua est
primo et per
se et non
secundum
accidens: a
natureza
causa e
princpio de
movimento e
de repouso
para a coisa
na qual ela
reside
imediatamente
e a ttulo de
atributo
essencial e
no
acidental".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica2-4.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:08
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.2, C.4.
"Artificiale
est cujus
principium
est extra,
in ratione
externam
materiam
disponente:
o artificial
aquilo no
qual o
princpio
est fora, a
saber, na
razo,
enquanto
ela dispe
a matria
exterior".
"Violentum
est cujus
principium
est extra,
passo non
conferente
vim: o
violento
aquilo no
qual o
princpio
est fora,
sem que
haja
colaborao
ativa do
sujeito
afetado".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica2-4.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:08
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.2, C.4.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica2-4.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:08
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.1.
IV
AS CAUSAS DO SER MVEL
1. Introduo.
Aps os dois primeiros captulos onde determina o "sujeito" da
fsica e o distingue do das outras formas de saber, Aristteles
aborda o problema das causas do ser mvel. ste estudo
lgicamente trazido aqui pela concepo que o Estagirita tem da
cincia, que essencialmente para ele o conhecimento pelas
causas. A determinao destas , portanto, uma das primeiras
providncias a ser tomada. Alm disto, como as causas so os
princpios da demonstrao das cincias, ao estud-las, seremos
levados, por isso mesmo, a precisar o mtodo que convm
empregar em fsica.
A ordem das consideraes de Aristteles que se fragmentam em
uma srie justaposta de captulos sbre as causas, o acaso, a
finalidade, a necessidade, no aparece com evidncia imediata. Ela
se manifestar entretanto de maneira progressiva, porque em fsica
as explicaes pelas, causas finais so as mais elevadas e se
dirigem em particular para as que se situam ao nvel do
determinismo dos elementos.. Assim o idealismo de Plato mostrarse-, em definitivo, mais esclarecedor para o estudo da natureza do
que o materialismo de Demcrito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-1.htm2006-06-01 12:19:08
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.2.
2. As causas e seus modos.
O estudo se inicia de maneira abrupta por uma diviso em quatro
espcies de tipos de causalidade. Talvez no seja intil iniciar esta
exposio com algumas observaes sbre a noo mesma de
causa e sbre o lugar que ela ocupa na economia do conjunto do
peripatetismo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-2.htm2006-06-01 12:19:08
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.3.
3. A noo de causa no peripatetismo.
Em nenhuma parte se encontra em Aristteles e em S. Toms. uma
exposio sistemtica sbre a causalidade. O nico texto
verdadeiramente importante o que apontamos da diviso das
causas e seus modos (retomar a Metaf., Delta, c. 2). A idia mesma
de causa , contrariamente, sempre empregada, seja em lgica, em
fsica, ou em teologia; desta maneira torna-se finalmente possvel
apreender o que os mestres que seguimos pensavam sbre esta
questo.
De maneira geral, a idia de causalidade no aristotelismo pode ser
reduzida a duas significaes essenciais: a causa um princpio de
ser e, em segundo lugar, no plano do conhecimento, um princpio de
explicao.
A causa aparece inicialmente como um princpio do ser ou da
realidade concreta, aquilo do qual as coisas dependem efetivamente
tanto em sua existncia quanto em seu devenir:
Causu
autem
dicuntur
ex quibus
res
dependet
secundum
esse
suum vel
fieri.
S.
Toms
Fis.,
I,
1. 1
Ou, para tomar a frmula de Joo de S. Toms que distingue
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:08
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.3.
segundo seus diversos aspectos a noo que consideramos:
"Causa est
principium
alicujus per
modum
influxus seu
derivationis,
ex qua natum
est aliquid
consequi
secundum
dependentiam
in esse... "
"A causa
um
princpio
que opera
pelo
mtodo de
influxo ou
por
derivao,
na natureza
da qual
alguma
coisa se
seguiu
segundo
uma
dependncia
no ser."
Princpio de ser, a causa , em conseqncia, princpio de
explicao para a inteligncia que procura compreender a realidade,
ela o meio mesmo do conhecimento cientfico. Saber conhecer
pelas causas: scientia est cognitio per causas. Toda a lgica
aristotlica da cincia repousa sbre esta mxima; e em particular
sob ste aspecto de princpio explicativo que a noo de causa
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:08
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.3.
introduzida nos captulos da Fsica sbre os quais nos iremos deter.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:08
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.4.
4. As quatro causas.
A diviso, tornada clssica, das causas aqui propostas por
Aristteles, em causa material, causa formal, causa eficiente e causa
final, tem por fundamento as diversas "razes" ou tipos de
causalidade discernveis: "diversas rationes causandi" nos diz S.
Toms. Essa diviso conduz, portanto, a uma verdadeira distino
das, espcies.
Como chegou Aristteles a estabelecer esta lista das espcies de
causas? Presentemente, contenta-se em enumer-las e defini-las
sem indicar o caminho percorrido para descobri-las. Mais adiante,
le precisar que h tantas causas quantos "porqu"
especificamente distintos; mas o valor de sua lista de "porqu"
ficar por justificar.
Parece que a teoria das quatro causas resulta de reflexes crticas
convergentes sbre as condies da gerao (cf. notadamente De.
gener., II, c. 9), sbre as, da fabricao artstica (cf. o famoso
exemplo da esttua), e sbre os dos modos cientficos gerais da
explicao; finalmente o resultado obtido confirmado pela
confrontao com as investigaes das filosofias anteriores (cf.
notadamente Metaf. A, c. 3 e seg.). Isto o que parece sugerir S.
Toms nesse texto: "le reduz tdas as causas aos quatro modos
enumerados, dizendo que tudo aquilo que tem nome de causa recai
nos quatro modos acima citados" (Metafsica V, 1. 3, n. 777) .
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-4.htm2006-06-01 12:19:09
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.5.
5. As causas intrnsecas.
O conjunto matria-forma, j visto na teoria dos princpios,
reaparecer como causa intrnseca na teoria das causas. A matria e
a forma agora tratadas so essencialmente as mesmas que as
definidas anteriormente, mas a qualificao de causas que se lhe
reconhece acrescenta sua noo, de maneira precisa e distinta,
uma relao ao ser causado. Os trmos, "causa material" e "causa
formal" se acrescentam aos de "matria" e de "forma" simplesmente
considerados.
A causa material definida por Aristteles como "aquilo do qual
uma coisa feita e que lhe permanece imanente" (FIS., II, c. 3, 194 b
24) ou, de acordo com a frmula escolstica clssica:
Ex
quo
aliquid
fit
cum
insit.
Aristteles prope aqui, como exemplo, o bronze, causa material da
esttua, e a prata, causa material da taa. Em outro local le
aumentar sua lista: as letras sero tambm causas materiais das
silabas, o fogo, a terra, etc., dos mistos, as partes do todo, as
premissas da concluso. V-se que tal tipo de causalidade se realiza
nos, mais diversos domnios. Em todos sses casos entretanto
encontramo-nos diante da mesma especificao causal: o elemento
causa a ttulo de receptor imanente e passivo da forma "per
modum subjecti".
A causa formal assim caracterizada: "em um outro sentido a causa
a forma e o modlo, quer dizer a definio da quididade e seus
gneros" (194 b 26) .
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:09
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.5.
Id quo res
determinatur
ad certum
essendi
modum.
Aristteles d como exemplos a relao de dois a um na oitava, o
nmero e as partes da definio. A causalidade da forma consiste no
fato de atuar a potncia da matria. Notar-se- que o Estagirita
empregou dois trmos distintos para designar a causa formal:
"eidos" e "paradeigma". O primeiro dsses termos "eidos"
corresponde causa formal prpriamente dita, ou forma intrnseca
do ser considerado; a segunda "paradeigma" designa o modlo,
aquilo que se chamar de causa exemplar, tipo de causalidade que
se encontra retomada aqui, a ttulo de causa formal extrnseca,
causalidade formal.
Para terminar, sublinhemos ainda que, em Aristteles, as
causalidades materiais e formais se realizam de maneira muito
analgica. Fundamentalmente, falar-se- de causalidade da matria
prima e da forma substancial, mas todos os sujeitos e acidentes que
os determinam mantm paralelamente os aspectos da causalidade
recproca, e se encontrar o conjunto procurado, pelo modo de
transposio, at nos domnios da gramtica, da lgica e das
matemticas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:09
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.6.
6. As causas extrnsecas.
A gerao, como alis tda espcie de devenir, no inteiramente
explicada pelas causas intrnsecas; necessrio com tda evidncia
um motor, primeiro princpio de todo o processo. E uma anlise
muito superficial mostra que a causalidade efetiva de um fim
perseguido igualmente exigida. Agente e fim sero as duas causas
extrnsecas da mudana e, em conseqncia, do ser mvel em si
mesmo.
A causa eficiente, ou mais exatamente a causa motora "aquilo que
vem como primeiro como da mudana e da colocao em
repouso. Assim, o autor de uma deciso causa, o pai causa do
filho e, em geral, o agente causa daquilo que feito; o que faz
mudar, daquilo que muda" (Fs., II, c. 3, 194 b 29-32) .
Causa
efficiens
est
principium
a quo
primo
profluit
motum.
A causa eficiente aquela que corresponde o mais imediatamente
noo comumente utilizada de causa. o primeiro princpio do
movimento, o seu ponto de partida, mas no no sentido de um
simples "terminus a quo": h uma ao positiva, um influxo real,
indo do agente para o paciente; os comentadores de S. Toms se
preocuparam com precisar exatamente a significao dsse influxo.
Visto no seu contexto histrico, a afirmao de Aristteles da
existncia do tipo eficiente de causalidade aparece como uma
reao contra o exemplarismo platnico que parecia querer
desconhec-la, e que, em conseqncia, no chegava a explicar
como as formas podem vir a se impor matria.
A causa final, ou fim, "aquilo em vista do qual" a ao se produz:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:09
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.6.
Id
cujus
gratia
aliquid
fit.
Assim, diz Aristteles, "a sade a causa do passeio; com efeito,
por que algum passeia? Devido sua sade, diremos, e, assim
falando, cremos ter indicado a causa" (FIS., II, c. 3, 194 b 32-35). A
causa final de tdas as causas aquela da qual mais difcil
conceber a atividade prpria. Os antigos, observa Aristteles (Meta
f ., A, c. 7) , tinham apenas suspeitado de sua existncia. Muitas
dificuldades se apresentam a ste respeito: Como pode agir a causa
final se ela no existe ainda? Corno os sres privados de
conhecimento podem se dirigir para um fim? Afinal, questo
prejudicial, h efetivamente uma causalidade final? Consciente
destas dificuldades, Aristteles consagrar a esta noo um estudo
especial no final do livro. Voltaremos a sse assunto.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:09
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.7.
7. Os modos das causas.
No presente captulo do livro II da Fsica, como tambm no captulo
paralelo de o da Metafsica, Aristteles faz seguir, sua diviso das
quatro causas, uma subdiviso em modos de causa. Enquanto que a
primeira dessas divises se compreende seguindo as diversas
"razes de causa", a segunda fundamentada sbre a diversidade
das relaes que pode existir entre a causa e seu efeito. fcil
entender que os modos em questo se enquadram na classificao
precedente e, de fato, no constituem novas espcies de causas.
Aristteles enumera inclusive 12 modos de causa. Mas se se
observa que ste nmero foi obtido, de um lado, dividindo-se 6
modos primitivamente distintos pelo ato e pela potncia, e que, por
outro lado, esta ltima srie se refere a 3 pares de modos opostos,
estamos realmente em face de apenas 3 tipos verdadeiramente
diferentes de modalidades de causas.
O primeiro dstes tipos - modos per prius et per posterius corresponde anterioridade e posterioridade em uma mesma linha
causal. Esta anterioridade e esta posterioridade podero ser
tomadas segundo a ordem lgica das noes, o mais universal
sendo anterior ao menos universal: neste sentido, dir-se- que,
enquanto o mdico causa "per posterius" da sade, o homem (que
le ) causa "per prius". Falar-se- igualmente de causas prximas
e causas distantes segundo a ordem das dependncias reais e
concretas; o homem, assim, seguindo o exemplo antigo, ter como
causa prxima de sua gerao um outro homem, e como causa
distante o sol.
O segundo par o dos "modos essenciais" e dos "modos
acidentais" -per se e per accidens. Todo efeito tem sua causa
prpria, mas tanto ao efeito quanto causa podem ser associadas
modalidades de ser que, elas prprias, podero ser chamadas de
efeitos ou causas. Assim que Policleto acidentalmente causa da
esttua (o escultor poder muito bem no ser Policleto), enquanto
que o estaturio como tal a causa prpria. Veremos em seguida
que a causalidade acidental tem um lugar extremamente importante
no peripatetismo onde ela explica particularmente os fatos
excepcionais ou o acaso.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-7.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:09
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.7.
O ltimo tipo de modalidades o das causas simples e das causas
compostas, simplex e complexum. Aristteles retoma o exemplo de
"Policleto-estaturio", aqui causa composta da esttua (Policleto e
estaturio sendo, isoladamente consideradas, as causas simples).
Um exemplo de causalidade composta concreta ser o de duas
fras efetivamente conjugadas, os dois cavalos de uma parelha,
por exemplo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-7.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:09
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.8.
8. Os sistemas das causas.
Ao primeiro contato, o conjunto das quatro causas se apresenta ao
primeiro contato como uma justaposio emprica de elementos,
sem laos aparentes uns com os outros. Numa anlise mais atenta,
verifica-se, entretanto, que Aristteles e sobretudo S. Toms tiveram
a ste respeito vises sintticas e que se pode falar com
fundamento, em sua filosofia, de um sistema de causas.
E uma vez que h quatro causas, isto significa que, para cada ser
mvel, pode-se efetivamente assinalar uma causa prpria em cada
linha de causalidade. No exemplo da esttua, dir-se- que a causa
material o bronze, a causa formal a figura que ela recebeu, a causa
eficiente o escultor, e a causa final o fim que se propunha alcanar.
As quatro causas conjugam harmoniosamente sua eficcia na
produo, sob relaes diferentes, de um mesmo efeito.
Mas necessrio ir mais longe e precisar que as prprias causas se
condicionam em sua realidade de causas; o que exprime a famosa
mxima "causae sunt ad invicem causae". Assim, a causa material e
a causa formal de um lado, a causa eficiente e a causa final de outro,
formam pares conjugados. A matria s causa quando associada a
uma causa formal, e o gente s pode dar seu impulso quando
determinado por um fim. Se se observa, por outro lado, que matria
e forma no podem entrar em composio seno sob a influncia
pressuposta da causa eficiente, que ela prpria condicionada pela
causa final, chega-se em definitivo a um organismo hierarquizado
tendo em seu pice a causa final, primeira de tdas as causas; sob o
ponto de vista dste encadeamento dinmico, pode-se portanto falar
de um sistema aristotlico das causas. Tda esta doutrina
condensada com muita felicidade nos textos do comentrio de S.
Toms sbre o livro Delta da Metafsica:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-8.htm (1 of 5)2006-06-01 12:19:10
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.8.
"Reconhecendose que h
quatro causas,
duas dentre
elas se
correspondem
reciprocamente
e, igualmente,
as duas outras.
A eficiente e a
final se
correspondem
em que a
eficiente o
princpio do
movimento,
enquanto que a
final o trmo.
De maneira
semelhante, a
matria e a
forma: a forma,
com efeito, d o
ser e a matria
o recebe. Assim
a eficiente
causa da final,
e a final da
eficiente.
A eficiente
causa da final
quanto a seu
ser, porque
movendo-se ela
conduziria a
que a final
existisse.
A final por sua
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-8.htm (2 of 5)2006-06-01 12:19:10
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.8.
vez causa da
eficiente, no
quanto a seu
ser mas
segundo a
"razo" de
causalidade. A
eficiente com
efeito causa
enquanto ela
age, e ela no
age seno em
razo da final.
, portanto, da
final que a
eficiente retira
sua
causalidade. A
forma e a
matria quanto
a elas, so
reciprocamente
causas uma da
outra do ponto
de vista de seu
ser: a forma da
matria,
enquanto ela
lhe confere o
ser em ato, a
matria da
forma enquanto
ela a suporta"
V.
L.3,
n.
775
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-8.htm (3 of 5)2006-06-01 12:19:10
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.8.
"Ainda que
para certas
coisas o
fim seja
ltimo na
perspectiva
do ser, na
da
causalidade
le
sempre
primeiro.
Por isso
le
chamado
causa das
causas,
porque
causa da
causalidade
eficiente,
como foi
dito.
A eficiente,
por sua
vez,
causa da
causalidade
da matria
e da forma.
Com efeito,
por sua
moo ela
permite
matria ser
receptora
da forma, e
forma,
inerir na
matria.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-8.htm (4 of 5)2006-06-01 12:19:10
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.8.
De onde se
segue que
igualmente
o fim
causa da
causalidade
da matria
e da
forma"
V,
L.3,
n.
782
Tda a demonstrao fsica de Aristteles ser, como o veremos,
comandada por esta viso hierrquicada do sistema das causas, sob
o primado da causa final.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-8.htm (5 of 5)2006-06-01 12:19:10
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.9.
9. O acaso.
Os trs captulos (4, 5, 6), um pouco rduos, que Aristteles
consagra em seguida ao estudo do acaso se relacionam
imediatamente procura das espcies de causas. Diz-se de maneira
corrente que certas coisas acontecem por acaso ou por sorte: devese concluir que acaso e sorte sejam espcies de causas distintas
das que acabamos de enumerar?
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-9.htm2006-06-01 12:19:10
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.10.
10. Teorias criticadas por Aristteles.
Alguns negam absolutamente a existncia do acaso. Todo
acontecimento tem uma causa prpria determinada. Se, por
exemplo, encontro numa praa algum que efetivamente desejava
ver mas que no viera procurar, posso dizer que foi sorte, mas na
realidade ste encontro tinha uma causa prpria na inteno minha
de ir praa. Em todos os casos atribudos ao acaso ou sorte
pode-se, assim, discernir a atividade de uma causa prpria: maneira
de ver que contradiz a opinio comum.
Para outros - os atomistas - a formao do cu e de todos os
mundos que devida ao acaso. Afirmao tanto mais inaceitvel,
porquanto o acaso se v assim colocado como princpio do que.
parece haver de mais regular (o movimento do cu), enquanto que
na gerao fsica, onde se encontram mais casos. excepcionais,
estaria o fato de causas determinadas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-10.htm2006-06-01 12:19:10
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.11.
11. Definio de acaso.
Para Aristteles, o acaso se distingue logo pelo carter de raridade.
O que acontece sempre, semper, ou na maioria dos casos, ut in
pluribus, certamente o efeito de causas que agem segundo sua
prpria natureza. O que, ao contrrio, no se d seno
excepcionalmente parece escapar determinao dessas causas.
Fatos excepcionais, no menor nmero de casos, ut in paucioribus.
Entretanto, como justamente o observa Hamelin, a raridade no
suficiente para denunciar a interveno do acaso. necessrio alm
disso que se tratem de fatos pertencentes, ordem da finalidade,
quer dizer, que sejam susceptveis de serem objeto de uma escolha.
necessrio, enfim, que stes fatos (que devero ser perseguidos
por um fim) no tenham sido efetivamente perseguidos por um fim.
Assim, para retomar o exemplo proposto, o encontro fortuito na
praa, de seu devedor por um credor, um fato de acaso:
excepcional; ste encontro poderia ter sido premeditado: le no o
foi de fato.
Estas trs caractersticas se encontram na definio proposta por
Aristteles: "A sorte e o acaso so causas por acidente,
relativamente coisas que so susceptveis, de no se produzirem
nem absolutamente, nem na maior parte do tempo, e, alm disso,
que podem ser produzidos em vista de um fim" (Fs., II, c. 5, 197 a 3334).
"Utrumque
scilicet
fortuna et
casus est
causa per
acidens in
iis quae
contingunt
non
simpliciter,
id est
neque
semper
neque
frequenter;
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-11.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:10
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.11.
et
utrumque
est in iis
quae fiunt
propter
aliquid."
S.
Tomas
Fs.
II,
L.9,
final
de se observar que Aristteles distingue sorte (tuk) e acaso
(automaton). O acaso o trmo genrico envolvendo todos. os
acasos; enquanto que a sorte no pode ser invocada se no pelos
sres, com relao a benefcio de acontecimentos imprevistos.
Assim, o feliz credor objeto de uma sorte; enquanto que um ser
inanimado ou mesmo um animal no podero gozar de semelhante
vantagem.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-11.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:10
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.12.
12. Significao geral da teoria de Aristteles.
A inteno de Aristteles neste estudo parece ter sido, ao mesmo
tempo, a de combater o determinismo absoluto da causalidade
prpria, ou de reconhecer a existncia, alis manifesta, de fatos
raros, e de ligar, a ttulo de derrogao, stes fatos ordem da
finalidade. Chega-se assim possibilidade de uma filosofia do
excepcional, ou do acaso, mas sob a condio de que um e outro se
apoiem em uma filosofia da ordem; o indeterminismo supe
necessariamente um certo determinismo; h o "monstruoso" porque
existe o "normal".
O acaso, tal como acaba de ser definido, a nica fonte da
contingncia no mundo da natureza? Uma leitura de conjunto dos
textos relativos a esta questo nos mostrar que, na realidade, o
pensamento do Estagirita mais complexo. O acaso
freqentemente tomado por ele em sentido mais amplo onde
corresponde a todos os fatos excepcionais, englobando
principalmente aqules que no teriam podido se produzir em vista
de um fim. Poder-se-ia igualmente relacionar esta ao para-finalista
do acaso da necessidade material que ser examinada mais
adiante. Aqui suficiente chamar a ateno sbre estas questes.
Ser extremamente interessante estabelecer relaes da doutrina
aristotlica do acaso com a de um dos mais penetrantes crticos das
cincias do sculo XIX, o francs Augustin Cournot (cf. sbre ste
tema o art. de G. Milhaud: O acaso em Aristteles e em Cournot,
Rev. de Metaf. e de Mor., 1902) .
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-12.htm2006-06-01 12:19:11
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.13.
13. Teleologia e necessidade.
Os dois ltimos captulos (8 e 9) abordam, sob um outro ponto de
vista, as dificuldades das teorias mecanicistas que reconduzem
prticamente a eficcia causal a um encadeamento de
determinaes necessrias e cegas: "Visto que o calor tal por
natureza e o frio tambm e, portanto, coisas semelhantes: tais sres
e tais mutaes se seguem necessriamente" (Fs., II, c. 8, 198 b 12).
Estas teorias suprimem, de fato, a finalidade: "O que impede a
natureza de agir no em vista de um fim e porque o melhor, mas
como Zeus faz chover, no para fazer crescer o trigo, mas por
necessidade. Porque a evaporao estando elevada, h necessidade
de refrescar, e refrescando, e vindo por gerao a gua, ela deve
tornar a descer. O crescimento do trigo que ento se d acidental;
do mesmo modo se, em compensao, o trigo se perde no vento,
no ser por ter chovido, mas isto acontece por acidente" (1198 b
17).
Aristteles defende logo a tese da finalidade na natureza, e depois
mostrar como ela est de acrdo com uma certa necessidade das
seqncias causais. O mecanismo determinista rigoroso ver-se-,
por isso mesmo, eliminado.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-13.htm2006-06-01 12:19:11
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.14.
14. A finalidade na natureza.
Da demonstrao de Aristteles, que no despida de sutileza,
resultam trs, argumentos. a) O primeiro permite concluir a
existncia de fatos devidos ao acaso. stes fatos no se produzem
seno raramente; o que acontece, portanto, habitualmente, no pode
ser efeito do acaso, e deve produzir-se em vista de um fim. Por
outras palavras: se h acaso, h finalidade; a existncia paralela na
natureza do "raro" e do "constante" s se explica se houver ao
mesmo tempo finalidade e acaso. b) Por outro lado, a arte e a
natureza seguem processos semelhantes. A medicina, por exemplo,
cura imitando a natureza em seus processos. Se, portanto, h
finalidade na arte, o que se supe como evidente, deve hav-la na
natureza. c) Finalmente, Aristteles parece admitir que a finalidade
se revela na adaptao manifesta dos animais e mesmo das plantas,
que no agem por inteligncia, em suas funes. A andorinha que
faz seu ninho, a aranha que tece sua teia, a planta que impulsiona
suas razes para baixo ao encontro de um solo nutritivo, agem ao
mesmo tempo pela natureza e segundo uma finalidade evidente.
A explicao de cada um dstes argumentos levar muito tempo: o
fundamento permanece incontestvelmente vlido. Por uma via mais
rpida chega-se, alis, ao mesmo resultado em metafsica. Para isto
suficiente tomar conscincia das condies necessrias a tda
eficincia. Eis como a ste respeito raciocina S. Toms (l.a II.ae, q. 1,
a. 2) : "Um agente s pode mover na inteno de um fim. Se, com
efeito, no estava determinado a um certo efeito, no produzir isto
de preferncia quilo. , portanto, necessrio, para que produza um
efeito determinado, que ele seja determinado a alguma coisa de
certo, que tenha razo de fim."
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-14.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:11
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.14.
"Agens
autem non
movet nisi
intentione
finis.
Si enim
agens non
esset
determinatum
ad aliquem
effectum,
non magis
ageret hoc
quam illud.
Ad hoc ergo
quod
determinatum
effectum
producat,
necesse est
quod
determinetur
ad aliquid
certum, quod
habet
rationem
finis".
Tda atividade elementar implica necessriamente, portanto, uma
finalidade em sua natureza mesma.
objeo de que a natureza no pode agir em vista de um fim
porque ela no inteligente e portanto no pode deliberar,
necessrio responder como S. Toms (mesmo artigo) que h duas
maneiras de tender para um fim: a dos seres racionais que
conhecem seu fim e se movem por si mesmos para le, e a dos
sres sem razo que so levados para seu fim pela moo
transcendente de uma inteligncia superior. Os primeiros agem
(agunt) em vista de um fim; os segundos so movidos (aguntur) para
seu fim.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-14.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:11
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.14.
H portanto, em definitivo, uma finalidade na natureza, o que
evidentemente no quer dizer que seja prticamente possvel
precisar qual o fim prprio de cada ser ou de cada atividade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-14.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:11
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.15.
15. A necessidade na natureza.
H finalidade na natureza, mas a necessidade tambm a encontra
seu lugar, e de que maneira? Distingamos, com Aristteles, duas
espcies de necessidade, a necessidade absoluta e a necessidade
hipottica. A necessidade absoluta aquela que se acha na
dependncia de causas pr-existentes. Esta necessidade, observa S.
Toms em seu comentrio, pode ser encontrada, seja na ordem da
causalidade material (o animal corruptvel porque composto de
contrrios), seja na da causalidade formal (propriedades resultantes
da definio da essncia), seja na da causalidade eficiente (a ao
do agente ocasionando seu efeito). A necessidade hipottica
ligada a uma condio: supondo-se fazer tal coisa, tal outra coisa
requerida.
Opondo-se aos que no reconhecem na natureza seno uma
necessidade absoluta, Aristteles afirma que a necessidade
hipottica ou de finalidade , ao contrrio, a que tem importncia. A
casa no existe logo porque h uma certa reunio de materiais, mas
h tal reunio de materiais porque a devia haver uma casa. Da
mesma forma no se deve dizer que a serra corta porque tem dentes
de ferro, mas que lhe foram dados dentes de ferro para que ela
corte. A necessidade provem, como de seu primeiro princpio, da
causa final cuja posio hipottica.
Deve-se notar que se a necessidade se apoia em ltima instncia
sbre a causa final, ela conduz efetivamente para as outras causas:
ser necessrio utilizar tais materiais para chegar a tal resultado;
exigir-se- tal agente para realizar tal obra. Segue-se da que a
matria e as outras causas pr-existentes exercero um
condicionamento sbre a obteno do fim. Convir portanto recorrer
a tdas as causas para explicar os fenmenos da natureza, mas, em
definitivo, todos os condicionamentos ulteriores se ligaro final.
o que explica ste texto do comentrio de S. Toms sbre a Fsica
(II, 1. 15)
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-15.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.15.
" portanto
manifesto
que em
tdas as
coisas da
natureza h
um
necessrio
que se
comporta
como
matria ou
movimento
material; a
razo desta
necessidade
estando
contida no
fim. Assim,
em razo
do fim,
necessrio
que a
matria
seja tal.
Quanto ao
fsico, le
deve
determinar
uma e outra
causa, a
saber, a
causa
material e a
causa final,
mas
sobretudo a
final,
porque o
fim causa
da matria,
e no o
inverso.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-15.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.15.
No
porque a
matria
tal que o
fim tal,
mas antes a
matria
tal porque o
fim tal".
H para Aristteles um certo determinismo, mas le tem sua razo
profunda na finalidade e logo na inteligncia, e le d lugar, j o
vimos, causalidade acidental e logo aos fatos de acaso. Sistema
explicativo singularmente flexvel, e que leva em considerao os
diversos aspectos da realidade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-15.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.16.
16. Concluso: o mtodo em Fsica.
A concluso do estudo das causas se encontra no c. 7 que
havamos deixado de lado e sbre o qual necessrio nos deter.
Tratava-se de determinar as causas ou os princpios da Filosofia da
natureza. Ora, sabemos j que tdas as causas so redutveis s
quatro espcies mencionadas: "Uma vez que h quatro causas,
conclui Aristteles, cabe ao fsico conhecer tdas e, para indicar o
porqu em fsica, le se reconduzir a tdas elas: a material, a
formal, a motora, a final (Fs., II, c. 7, 198 a 23) . A explicao fsica se
diversifica portanto seguindo os quatro tipos de causalidade.
Deveremos ficar com esta afirmao? Aristteles prossegue (ibid.):
" verdade que trs dentre elas (as causas) se reduzem a uma em
muitos casos, porque a essncia e o fim no fazem seno um, e a
orgem prxima do movimento idntica especificamente quelas:
porque um homem que engendra um homem e, de maneira geral,
assim para todos os motores movidos". Neste notvel texto vemos
se afirmar a tendncia que parece ter tido Aristteles de reduzir a
dois os mtodos de explicao fsica. De uma parte, forma e fim
tendem a se identificar no final da realizao, por outra parte, na
gerao pelo menos, o agente produz sua ao segundo uma forma
semelhante quela que deseja imprimir na matria. Restaro,
portanto, dois tipos verdadeiramente caractersticos de explicao
em fsica: pelos elementos (causa material) e o outro pelas
estruturas formais, as quais, em ltima anlise, se encontram
determinadas pela causa final. neste sentido que Hamelin conclui:
"Tdas as causas se referem forma e matria. O motor e o fim
no fazem seno um com a forma e, por sua vez, a matria faz o
papel de tudo que necessidade vinda de baixo, de tudo que vis a
tergo" (Sistema de Aristteles, p. 274). Enquanto os primeiros fsicos
se preocupavam sobretudo em descobrir a substncia primordial, ou
os elementos dos quais tudo era composto, Aristteles, caminhando
pela via aberta por seu mestre Plato, procurava de preferncia
conhecimentos sbre a idia e o fim. O fim para le a primeira das
causas, tanto na ordem da explicao quanto na do ser.
Observemos entretanto que, para le, a reduo metdica a dois
tipos de explicao no absoluta. le afirmou que o fsico
demonstrava pelas quatro causas, guardando sua especificidade
cada um dos tipos de demonstrao: assim vai-se da prova para a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-16.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.16.
causa eficiente, freqentemente utilizada, e que parece no poder
ser assimilada ao simples condicionamento material dos elementos,
nem ao exemplarismo da forma. Em definitivo no resta seno o
primeiro motor que agir pelo "desejo" que le provoca, isto a
ttulo de causa final: esta permanecendo sempre a primeira e a mais
esclarecedora das causas.
Restaria conformar esta teoria de explicao fsica com os conceitos
modernos. As causas finais tm certamente perdido muito do seu
crdito nas cincias, exetuando a biologia onde, muitas vzes sob
outros nomes, elas parecem ainda ter um papel. Mas ste desfavor
pode vir de que a descoberta das causas finais prticamente muito
mais difcil do que os antigos acreditavam e no do fato de elas
serem efetivamente os princpios supremos das coisas.
Poder-se-a, portanto, em teoria, manter o valor do mtodo
apresentado por Aristteles, reconhecendo que na maior parte das
vzes preciso ater-se na prtica a explicaes mais imediatas quer
para os antecedentes, quer a partir dos elementos, quer, sob outro
ponto de vista, pela anlise matemtica. Assim, a prtica dos
modernos e as, idias de Aristteles sbre explicao cientfica verse-iam conciliadas.
O arranjo: finalidade-determinismo, efeito prprio-fato de acaso
pode ser figurado no quadro seguinte que resume a anlise
aristotlica:
Causalidade final hipottica:
Determinismo
das causas
antecedentes:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-16.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.3, C.16.
- efeito
prprio por
causalidade
prpria
- fato de
acaso por
causalidade
acidental
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica3-16.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.1.
V
O MOVIMENTO
1. Introduo.
A fsica tem por objeto o estudo da natureza. Estando a noo de
movimento includa neste objeto, s se pode ter uma compreenso
precisa se se souber o que o movimento. Por outro lado, certa
noes so ligadas ao movimento e portanto no podem ser
deixadas de lado em um estudo desse tipo. So as seguintes:
- o infinito, que
implica
intrinsecamente
o movimento,
porque o
movimento
um contnuo e
o infinito est
compreendido
na definio do
contnuo,
- o tempo,
medida de
movimento,
- o lugar,
medida do
mvel,
segundo
Aristteles;
para outros, a
funo de
medidas
desempenhada
pelo vazio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.1.
Esta diviso preside organizao dos livros III e IV da Fsica e ns
a seguiremos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.2.
2. Definio do movimento.
No livro III, Aristteles no faz qualquer aluso teoria eletica. Ale
admitiu no primeiro livro, de uma vez para sempre, que h o
movimento; fica a natureza por explicar. Em poucas palavras vemos
descartada a opinio segundo a qual o movimento seria uma
realidade separada, maneira platnica; o movimento pertence ao
mundo fsico, est nas coisas, e em funo do dado sensvel que
deve ser explicado.
A definio de movimento que Aristteles vai dar se situa ao nvel
das primeiras distines metafsicas. O movimento , com efeito,
uma noo primeira, indo alm da classificao dos predicamentos,
uma vez que le se reencontra em muitos destes. Ela no pode,
portanto, ser reduzida seno a noes da ordem dos
transcendentais.
Admitido isto, o que smente em potncia no est ainda em
movimento: o corpo que no se esquentou ainda no est em
movimento em direo ao calor. Da mesma forma, o que chegou ao
seu trmo, ou o que est em ato acabado, no est mais em
movimento: o corpo quente no est mais em movimento em
direo ao calor. Estar, portanto, em movimento o que se encontrar
em um estado intermedirio entre a potncia inicial e o ato terminal,
estando parcialmente em potncia e parcialmente em ato. O ato
imperfeito de calor que se encontra no corpo que se aquece o
movimento, com a condio de que se afirme simultneamente que
le fique ordenado a um aquecimento ulterior. O movimento une por
assim dizer, as duas noes do ato e de potncia: le , segundo a
clebre definio de Aristteles, "entelequia (o ato) daquilo que est
em potncia enquanto tal":
Actus
existentis
in
potentia
in
quantum
est in
potentia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-2.htm (1 of 5)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.2.
Nesta definio
- actus (o
ato)
expressa o
movimento e
j uma certa
realizao; o
aquecimento
implica certo
grau de
atuao;
- existentes
in potentia
(do que est
em potncia)
significa que
o ato ao qual
se refere no
qualquer
coisa de
concludo,
de definitivo,
mas que o
sujeito que
le
determina
permanece
em potncia
para uma
nova
atuao;
- in quantum
est in
potentia
(enquanto
est em
potncia)
quer dizer
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-2.htm (2 of 5)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.2.
que o ato do
movimento
determina
seu sujeito
sob a
relao
mesma onde
le se
encontra ser
em potncia.
Assim que
na
fabricao
da esttua, o
processo da
fabricao
no
atuao do
bronze,
enquanto
bronze, mas
do bronze
enquanto
est em
potncia de
se tornar
esttua.
Tudo isto se
encontra
perfeitamente
condensado
no seguinte
texto:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-2.htm (3 of 5)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.2.
"Sic igitur
actus
imperfectus
habet
rationem
motus, et
secundum
quod
comparatur
ad
ulteriorem
actum ut
potentia, et
secundum
quod
comparatur
ad aliquid
imperfectius
ut actus.
Unde
neque est
potentia
existentis
in potentia,
neque est
actus
existentis
in actu, sed
est actus
existentis
in potentia,
ut per id
quod
dicitur
actus
designetur
ordo ad
anteriorem
potentiam,
et per id
quod
dicitur in
potentia
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-2.htm (4 of 5)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.2.
existentis,
designetur
ordo ejus
ad
ulteriorem
actum".
Fis.
III,
1,
2
Em definitivo, o movimento se apresenta, portanto, como um ato
imperfeito, ou como uma potencialidade ainda no perfeitamente
atuada: uma espcie de estado intermedirio entre a potncia
simples e o ato simples. O c. 2 do livro insiste sbre ste carter de
intermedirio ou de inacabado do movimento: "O movimento bem
um certo ato, mas incompleto, e isto porque a coisa em potncia, na
qual o movimento o ato, incompleta" (201 b 30). Anteriormente,
alguns filsofos j haviam tomado conscincia do indefinido do
movimento, mas no souberam explic-lo tcnicamente. S. Toms
acentuar bem ste carter de actus imperfectus (cf. Metaf., XI, 1. 9)
que distingue o movimento das coisas acabadas. Se permanece uma
certa indefinio na frmula de Aristteles, ela no traduz seno a
indefinio mesma da noo que procura exprimir.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-2.htm (5 of 5)2006-06-01 12:19:12
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.3.
3. Movimento, motor e mvel.
O movimento foi definido por Aristteles de uma maneira muito
geral, independentemente de tdas as suas condies de realizao;
ora, a experincia nos mostra que esta passagem da potncia ao ato
que o caracteriza no pode se efetuar seno sob a influncia de um
agente ou de um motor cuja atividade se exercer sbre um ser
distinto formalmente dle, o mvel. Esta constatao coloca o
problema da relao do movimento com um e outro dstes dois
trmos. E como, por outro lado, ao motor e ao mvel se relacionam
dois predicamentos que les tambm pretendem expressar o fato da
mutao, a ao e a paixo, seremos levados igualmente a nos
perguntar se stes predicamentos so distintos do movimento.
Mostraremos sucessivamente:
- que o
movimento o
ato do mvel,
- que o motor e
o movido tm
um s e mesmo
ato.
- que a ao e a
paixo no se
distinguem do
movimento
seno pelas
diferentes
relaes quanto
ao motor e ao
mvel que elas
implicam
respectivamente.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:13
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.3.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:13
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.4.
4. O movimento o ato do mvel.
Admitamos como um fato de experincia que o movimento suponha
um sujeito receptor, um "mvel", e que, por outro lado, le no
possa ser produzido sem a interveno de um agente exterior, de
um "motor". Um problema se coloca ento: o movimento que
certamente ligado tanto ao agente quanto ao mvel, le o ato do
motor ou do mvel?
Aristteles responde: o mvel, o sujeito passivo que movido;
assim, alis, que le aparece primeira vista. O movimento , com
efeito, o ato do que est em potncia; ora, o que est em potncia
ainda o sujeito, que no pode ser o agente, o qual no age seno
enquanto est em ato. E se, no exerccio de sua atividade, o agente
se v le prprio modificado, se le movido, por uma reao do
sujeito receptivo, a qual acidental ao movimento considerado.
Resulta da que o movimento deve estar no mvel, o que no impede
que le seja ligado ao agente, mas como procedente dle, ab hoc, e
no com sujeio quanto a le, in hoc: "ergo motus est actus
mobilis".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-4.htm2006-06-01 12:19:13
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.5.
5. Motor e movido tm um s e mesmo ato.
Mas no se pode tambm falar de um ato de motor? E no
necessrio reconhecer que ste ato do motor diferente daquele do
mvel, isto , que existem dois movimentos? No o podemos
admitir, porque manifestamente h unidade no processo do
movimento: a mesma coisa que o agente cause movendo e que o
mvel receba sendo movido; h portanto um s e mesmo
movimento, ato ao mesmo tempo do motor e do mvel: "motus
secundum quod procedit a movente in mobili est actus moventis;
secundum auten quod est in mobili a movente est actus mobilis". O
ensinamento que se d e o que recebido so um s e mesmo
ensinamento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-5.htm2006-06-01 12:19:13
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.6.
6. Movimento, ao e paixo.
A afirmao da unidade do movimento no se coloca sem uma sria
dificuldade; porque, depois da teoria dos predicamentos, deve-se
dizer que o ato do agente a ao e que o do paciente a paixo. Se
se admite, portanto, que ao e paixo constituem dois, movimentos
distintos, h oposio ao que precedentemente foi admitido. Se se
reconhece, ao contrrio, que a ao e a paixo se indentificam em
um s e mesmo movimento, no se v mais como podem lhe
corresponder dois predicamentos.
necessrio reconhecer que ao e paixo se unem em um mesmo
movimento, mas que les implicam relaes diferentes. A ao o
movimento enquanto procede do agente; a paixo, o movimento
enquanto se encontra no sujeito passivo. S. Toms o exprime com
felicidade:
"Et sic patet
quod licet
motus sit
idem
moventis et
moti propter
hoc quod
abstrahit ab
utraque
ratione,
tamen actio
et passio
different per
hoc quod
has diversas
rationes in
sua
significatione
includunt".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:13
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.6.
Fis.
III
l.5
V-se, assim, que o trmo "movimento" designa como tal qualquer
coisa de mais abstrato que os trmos "ao" e "paixo"; le se situa,
por reduo, no gnero predicamental onde le termina, quantidade,
qualidade, etc. Se, ao contrrio, se considera o movimento em suas
condies concretas de realizao que supem uma atividade
causal, ento le se manifesta em sua ligao com o agente e com o
paciente e pode ser reconduzido aos predicamentos distintos de
ao e de paixo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:13
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.7.
7. As espcies de movimento.
No presente captulo, Aristteles faz apenas uma aluso diviso do
movimento segundo suas espcies; esta no ser tratada ex
professo seno no livro V, c. 1 e 2. A questo especial da distino
entre a gerao e os movimentos de alterao e de aumento ser
debatida, em seu lugar prprio, no primeiro livro do De generatione.
O livro V, que iremos seguir, comea por considerar abstratamente
tdas as hipteses que podem ser apresentadas a respeito do
movimento: o movimento pode ir de um no-sujeito a um sujeito, de
um sujeito a um no-sujeito, de um sujeito a um sujeito, de um nosujeito a um no-sujeito. A ltima dessas quatro hipteses
simplesmente rejeitvel, como no comportando nenhuma oposio
de trmos. A passagem de um no-sujeito a um sujeito a gerao
substancial, e a de um sujeito a um no-sujeito a corrupo
substancial, formas, absolutas de mutao. Resta precisar como
pode haver mutao de sujeito a sujeito. Por isto, consideremos a
lista dos predicamentos em que se encontram os gneros mais
gerais do ser, e interroguemo-nos, em quais poder haver
movimento. De maneira geral, ser onde le tiver dificuldades, isso
quer dizer, na quantidade, qualidade e lugar.
Para conseguir este resultado, Aristteles procede, no por uma
demonstrao positiva da existncia do movimento em suas
categorias, existncia que lhe parece evidente, mas por eliminao
das outras categorias.
No gnero substncia, antes de tudo, no se pode falar
prpriamente de movimento, porque no h qualquer modo de ser
que seja contrrio substncia, e o movimento implica
contrariedade. Por outro lado, um movimento requer um sujeito
atual comum entre seus, dois trmos. Tal sujeito no pode existir
entre os trmos de uma gerao ou de uma corrupo substancial.
Da mesma forma no se encontra movimento no gnero relao,
porque a mutao de um dos relativos pode por si s ocasionar a
mutao de outro relativo; assim um comprimento imvel pode ser
afetado por uma nova relao quantitativa e ser ele mesmo mudado.
Ora, em todo gnero de ser onde h movimento nada, a ste
respeito, sobrevm de nvo a um sujeito sem que este tenha sido
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-7.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:14
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.7.
modificado.
Do fato de no haver movimento na relao, pode-se concluir que
no o h nos predicamentos situs e habitus que implicam relao.
Finalmente, no h movimento nos gneros ao e paixo, porque
no pode haver movimento do movimento.
Pela mesma razo, ele no pode se encontrar no predicamento
quando, o qual determina o tempo que, ele prprio, implica o
movimento.
Em definitivo, ao lado da gerao e da corrupo que so do gnero
comum mutao, mutatio, mas no, prpriamente falando, do gnero
movimento, motus, restam trs espcies de movimento:
-O
movimento
de aumento
e de
diminuio
interessando
quantidade
(ste
movimento
smente se
encontra
entre os
viventes e
no se trata
seno do
puro
aumento, ou
diminuio
do volume),
-o
movimento
de alterao,
concernente
ao
predicamento
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-7.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:14
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.7.
qualidade,
-o
movimento
local ou de
translao
relativo ao
predicamento
"ubi".
importante tomar conscincia desde logo de que estas espcies
de movimento no so sem relao umas com as outras. Elas
constituem um organismo no qual o funcionamento preside
marcha de todo o cosmos. Assim, encontramos, primeiramente, o
movimento local, o mais perfeito de todos e o nico do qual todos
os corpos, inclusive os corpos celestes, so afetados. ste
movimento, assegurando a disposio geral dos corpos, e variando
seus contatos, comanda o conjunto das outras mutaes.
Colocados em contato, os corpos se alteram, movimento de ,
alterao, se engendram e se destroem, gerao corrupo, e afinal,
uma vez que se trata de viventes, atingem ou perdem a quantidade
que lhes convm, aumentao-diminuio.
O estudo mais aprofundado do movimento encontrado nos livros V
e VI da Fsica, unidade do movimento, contrariedade dos
movimentos, oposio movimento-repouso, continuidade do
movimento, primeiro momento, trmo, parada, etc., cada espcie
particular constituindo o objeto dos trabalhos seguintes. De tudo
isto s reteremos agora as idias essenciais da teoria do movimento
local que comanda, como acabamos de dizer, todo o funcionamento
do cosmos, e do qual no teremos mais ocasio de falar.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-7.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:14
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.8.
8. Natureza do movimento local.
O movimento local dado pela experincia, Aristteles entretanto,
ns o sabemos, encontrava j uma filosofia, a de Elea, que
contestava o valor disto: Aquiles no alcanar jamais a tartaruga ...
O sofisma de Zeno que defendia essa tese, consistia em supor que
o movimento composto de partes atualmente indivisveis, uma vez
que ele smente divisvel em potncia. O movimento local ,
portanto, possvel. Qual sua definio? Com uma simples
observao, verificamos que mover-se localmente passar de um
lugar a .outro: ste objeto que estava neste lugar passa para outro
lugar. O movimento local no outra coisa seno uma mudana de
lugar, ou a passagem mesma de um lugar para outro. Na
terminologia escolstica definir-se-:
"Actus
transeuntis
ut
transeuntis".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-8.htm2006-06-01 12:19:14
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.9.
9. A causa do movimento local.
Admitamos como um princpio geral que tudo o que, movido
movido por um outro. A todo movimento local necessrio portanto
designar uma causalidade motora extrnseca. Aristteles o faz de
duas maneiras.
Logo de incio, no que concerne ao movimento natural dos corpos
para baixo, a gravidade, ou seu inverso, a leveza, le invoca a
atrao do lugar natural. Cada corpo, segundo sua densidade, tem
seu lugar natural. Assim, para ganhar seu lugar natural que os
corpos graves se conduzem para o centro do mundo, enquanto que
os corpos leves sobem para a periferia.
Os movimentos oblquos dos, projteis, porm, no podem
evidentemente ser explicados por ste nico fator, sendo requerida
uma outra causa. Quando o mvel impelido ou guiado por um
agente motor que se pode discernir, ponto de dificuldade, a causa
da translao manifesta. Mas o mesmo no se d quando o mvel,
uma pedra que se lanou, por exemplo, parece perseguir s sua
trajetria. ste caso confundiu demais os antigos aos quais faltava a
noo de fra viva. Aristteles, que se atm absolutamente ao
atual de um motor em contato, imaginar que se trata do ar
ambiente, abalado pelo choque, que serve por sua vez de motor ao
projtil.
ste problema do movimento dos projteis representar em seguida
um papel importante na evoluo das doutrinas, fsicas. No sculo
VI, Jean Philipon, comentador grego de Aristteles, o atribui a um
impetus, impulso interior ao prprio projtil. Tal hiptese retomada
e explorada mais tarde por um professor da Universidade de Paris,
Jean Buridan (XIV s.), o que traz considerveis conseqncias para
tda a cincia da natureza. Se o movimento dos. astros, conclui le,
devido a um impulso interno, intil recorrer, para explicar a
circulao das esferas, ao de inteligncias motoras: de imediato
a mecnica celeste torna-se semelhante dos corpos sublunares; a
unificao de tda a cincia fsica do cosmos est agora muito perto
de ser realizada (Sbre esta narrao do movimento dos projteis,
cf. os estudos de P. DUHEM sbre Leonardo da Vinci).
Nos tempos modernos, Descartes, com sua quantidade de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-9.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:14
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.4, C.9.
movimento e Leibniz, com sua fra viva, daro uma rigorosa
expresso cientfica teoria imaginada por Jean Philipon. Depois,
Newton, com a lei da gravidade universal, acabar de tornar sem
valor as idias de Aristteles sbre a explicao do movimento
local, esperando-se que as, teorias modernas ultrapassem a fsica
newtoniana com snteses mais amplas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica4-9.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:14
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.1.
VI
AS CONCOMITANTES DO MOVIMENTO
PRIMEIRA PARTE: INFINITO, LUGAR, VAZIO E
ESPAO
1. O infinito.
Como os outros contnuos, grandeza e tempo, o movimento implica
a noo de infinito. A primeira filosofia grega, tanto a dos fsicos
quanto a dos pitagricos e platnicos, havia dado em suas
especulaes um lugar importante a esta noo. Aristteles,
portanto, no podia evitar de estuda-la. le o fz em cinco captulos
muito complexos dos quais daremos smente uma viso geral.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-1.htm2006-06-01 12:19:14
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.2.
2. Razes alegadas em favor do infinito.
- O infinito
parece ser
essencial ao
tempo.
- A diviso
das
grandezas
parece ir ao
infinito.
-A
perpetuidade
do processo
das,
geraes e
das
corrupes
parece
exigir uma
fonte
infinita.
- A noo
mesma de
limite supe
a do infinito
(Todo corpo
limitado,
com efeito,
termina em
um outro
que
limitado ou
ilimitado. Se
le no
ilimitado,
le mesmo
terminado
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:15
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.2.
por um
outro, etc.).
- Afinal, o
nmero
parece ser
infinito da
mesma
forma que
as
grandezas e
os espaos
que cercam
o mundo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:15
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.3.
3. No h infinito em ato.
Inicialmente no h um infinito separado das coisas sensveis,
moda das, idias platnicas ou dos nmeros pitagricos; no
prprio mundo dos corpos que necessrio procurar o infinito.
Pode-se falar de corpos infinitos? Tda uma srie de razes lgicas
e fsicas demonstram a impossibilidade. Utilizaremos aqui a que
tomada teoria do lugar. Todo corpo tem um lugar, logo um lugar
necessariamente qualquer coisa de determinado e de finito; o alto e
o baixo so posies determinadas, e o mesmo se d com as outras
regies do espao. O lugar sendo limitado, os corpos que le
compreende s podero ser tambm limitados.
Finalmente, no pode haver um nmero realmente infinito de corpos
porque um nmero essencialmente numervel ou mensurvel, e o
infinito no poderia ser efetivamente numerado.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-3.htm2006-06-01 12:19:15
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.4.
4. O infinito, contudo, existe de uma certa maneira.
No se pode, portanto, negar de maneira absoluta a existncia do
infinito, porque pelo menos trs das razes alegadas em seu favor
permanecem vlidas: necessrio que o tempo no tenha nem
comeo nem fim; que a srie dos nmeros seja infinita; sobretudo, e
este o argumento mais decisivo, que as grandezas se dividam ao
infinito. Mas como sabemos que o infinito atual ou realizado
impossvel, ns nos afastaremos dos obstculos reconhecendo ao
infinito uma existncia imperfeita: diremos que h um infinito em
potncia.
Cabe precisar que se trata aqui, como com relao ao infinito, de
uma modalidade muito especial do gnero potncia. Normalmente
um ser em potncia pode ser efetivamente realizado: Hermes, em
potncia em um bloco de mrmore, poder vir a ser um Hermes em
ato. O infinito, pelo contrrio, no poder jamais passar ao ato; no
h infinidade seno de processos: as grandezas podero sempre ser
divididas (infinito de composio), o tempo poder sempre ser
aumentado ou ser dividido (infinito de composio e de diviso). Em
definitivo, a infinidade implica a idia de inacabamento ou de
imperfeio. Ser portanto um rro grave conceb-lo como qualquer
coisa de perfeito. Haver uma infinidade de perfeio real e
perfeitamente atual, a do Ato puro, mas trata-se agora de uma outra
significao do trmo infinito; e ns no iremos consider-la aqui.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-4.htm2006-06-01 12:19:15
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.5.
5. O infinitamente divisvel ou contnuo.
Aristteles estudou a continuidade por ela mesma nos livros V e VI,
mas pela noo de divisibilidade ao infinito que ela implica podemos
muito bem examin-la no presente pargrafo.
Precisemos, de imediato, a significao de uma srie . de
expresses em progresso regular:
- so
chamados
consecutivos
os, trmos
entre os
quais no h
intermedirio
do mesmo
gnero: dois
nmeros
inteiros
vizinhos na
srie dos
nmeros
inteiros,
- so
chamados
em contato
os trmos
nos quais as
extremidades,
se tocam,
por exemplo,
dois objetos
sem soluo
de
continuidade,
- so
chamados,
finalmente,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:15
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.5.
contnuos as
partes cujas
extremidades
so uma s e
mesma
coisa: as
partes de
uma linha
que se
fundem
umas nas
outras de
modo que
no se
estejam
divididas.
Uma tal srie de relaes manifesta claramente porque o contnuo
no pode ser composto de partes atuais. Se estas partes so
distintas, elas tm seus limites reais e, neste caso, no se pode falar
de continuidade. Se estas partes so concebidas como
verdadeiramente contnuas, ento no so mais absolutamente
distintas, e no se pode mais dizer que h partes, atuais. Por outro
lado, vemos que no contnuo como tal pode-se sempre e
indefinidamente distinguir partes: o contnuo portanto
infinitamente divisvel. Dizemos, portanto, que o contnuo no
composto de partes atuais, mas que le em potncia divisvel ao
infinito: a linha no composta de pontos, o tempo no composto
de instantes, o movimento no composto de repouso, mas em
todos os pontos, dstes contnuos podemos marcar arbitrriamente
divises e, em conseqncia, determinar partes. Observemo-lo que
foi por esta concepo da continuidade que Aristteles conseguiu
vencer os argumentos sofsticos de Zeno o qual supunha que o
contnuo era atualmente composto de partes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:15
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.6.
6. O lugar, o vazio e o espao.
As teorias aristotlicas do lugar e do vazio respondem a um mesmo
problema, o das condies fsicas espaciais do movimento, e por
isso devem ser estudadas simultaneamente. Colocando-se sob o
ponto de vista mais abstrato da anlise matemtica, os modernos
abandonaram essas teorias e consideram de preferncia o
movimento no espao. Como, no fundo, trata-se de noes e de
problemas muito vizinhos, teremos intersse em reaproximar aqui o
espao dos modernos, do lugar e do vazio das antigos. '
Com o estudo do lugar e do vazio, deixamos as teses da fsica
aristotlica de valor incontestvel, para entrar no sistema
cosmolgico prprio do Estagirita, hoje cientficamente
ultrapassado. Alguns dos seus pontos de vista guardam, porm, real
intersse.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-6.htm2006-06-01 12:19:16
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.7.
7. O problema do lugar.
Todos tm certa idia do que representa a noo de "lugar", ou da
determinao que corresponde ao "estar em um lugar". As coisas
que nos rodeiam so tdas localizadas, em "alguma parte"'. ste
fato nos particularmente manifestado pelo fenmeno da
substituio. Em um vaso onde havia gua h agora um outro
lquido. O contedo mudou, o lugar permaneceu o mesmo. O
movimento local parece igualmente implicar na existncia do lugar,
uma vez que le parece se definir pela passagem de um para outro
lugar. Finalmente, se observarmos que os elementos gua, ar etc.,
tm um movimento natural para o alto ou para baixo, devemos
acrescentar que os diferentes lugares tm uma virtude de atrao
que lhe prpria ou especfica.
So essas as observaes mais importantes, com as quais
Aristteles introduz o problema do lugar. Mas logo se colocam
graves dificuldades relativas sua natureza.
O lugar, com efeito, no pode ser um corpo porque haveria
simultneamente, ou no mesmo intervalo, dois corpos. Por outro
lado, no pode de nenhuma maneira pertencer ao corpo contido,
uma vez que ste corpo pode ser deslocado enquanto que o lugar
permanece. Finalmente, se o corpo' cresce, dever-se-ia dizer, o que
parece inadmissvel, que o lugar tambm cresce? No se entende
bem, portanto, o que poderia corresponder a esta misteriosa
realidade.
Outras dificuldades ocupam, com as discusses anexas, os trs
primeiros captulos do livro IV. O incio do captulo quarto conclui a
primeira parte da exposio enumerando as propriedades que
parecem definitivamente inseparveis do lugar:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-7.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:16
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.7.
- o lugar o
invlucro ou
limite
primeiro do
corpo que
le localiza,
o que um
dado da
experincia
comum;
- o lugar
independente
da coisa que
ele contm,
le
separvel;
- o lugar
fisicamente
determinado:
le tem um
alto e um
baixo
dotados de
virtudes
prprias.
Considerados
esses dados,
pode-se
tentar obter
uma
definio do
lugar.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-7.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:16
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.8.
8. A definio da lugar.
Na determinao positiva da doutrina, so tomadas em
considerao quatro hipteses das quais as trs primeiras sero
afastadas:
- o lugar seria a
forma, quer dizer,
no aqui a forma
substancial, mas a
configurao
exterior do corpo,
sua "figura" (4.a
espcie de
qualidade);
impossvel porque
esta forma
solidria do corpo
contido e fica,
portanto, com le;
- o lugar seria a
matria do corpo
contido, o que
impossvel pela
mesma razo;
precisemos que
no se trata aqui
da matria
primeira, no
sentido
aristotlico, mas
da espcie
considerada como
uma realidade
indefinida,
receptora dos
corpos que nela se
sucedem, quer
dizer, da matria
no sentido
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-8.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:16
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.8.
platnico.
- o lugar seria o
intervalo, isto , o
espao vazio que
se encontra entre
os limites
exteriores
independentemente
do corpo. Mas isso
no pode ser - o
intervalo existindo
no por le
mesmo, mas como
acidente dos
corpos que
ocupam
sucessivamente o
continente;
- resta a hiptese
de o lugar ser o
limite do corpo
continente,
"terminus corporis
continentis": Tal
limite aparece,
com efeito, com
um invlucro
independente do
corpo e que, no
sendo uma
simples abstrao,
poder entretanto
ser dotada de
propriedades
reais.
O lugar imvel. Permanece uma ltima dvida. Se o lugar o
invlucro continente de um corpo, dever-se- dizer que le se
desloca ao mesmo tempo que ste, maneira de um vaso que se
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-8.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:16
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.8.
transporta com o que le encerra? Ou, o que d no mesmo, que o
lugar muda quando, o contedo permanecendo imvel, os corpos
circundantes se deslocam, o que parece se produzir notadamente no
meio fluido: quando, por exemplo a gua do rio passa e se renova
em trno da barca amarrada.
Aristteles recusa sse relativismo: o lugar imvel, como alis
assim aparece. Para a barca em trno da qual a gua muda
continuamente, o verdadeiro lugar o rio. Em definitivo, no ser
sbre o invlucro imediato que algum se dever fundamentar para
determinar o lugar, mas sbre o invlucro ltimo. incontestvel
que, com relao ao que foi afirmado precedentemente, assistimos
aqui a um resvalamento da doutrina. O invlucro ou o continente
imediato no mais que um princpio relativo de localizao. O
verdadeiro principio do lugar o invlucro ltimo, e suposto imvel,
do mundo. Convm compreender com certa restrio a definio
clssica, "o lugar o limite imvel do continente imediato",
"Terminus
immobilis
continentis
primum".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-8.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:16
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.9.
9. A funo do lugar na cosmologia aristotlica.
Que representa exatamente ste invlucro ltimo ou este primeiro
continente? Na cosmologia antiga, que necessrio ter sempre em
vista se se deseja compreender esta teoria, a ltima das esferas
celestes, a das estrlas fixas, a que determina as posies extremas
do lugar: o alto que se avizinha com a circunferncia, e o baixo que
se encontra em direo ao centro, os outros lugares se situando em
funo dsses extremos. A posio de cada coisa se encontra assim
determinada, e as transformaes do mundo que nos cerca tm sua
justificao.
J vimos que foi em relao ao lugar que Aristteles qualificou o
movimento primitivo e fundamental dos quatro elementos, uns,
leves, tendendo a ocupar os lugares superiores; os outros, pesados,
dirigindo-se para os lugares inferiores. Como, alis, o movimento
local primeiro e condiciona tdas as outras transformaes do
mundo sub-lunar, a teoria do lugar, que ela prpria comanda ste
movimento, se julga constituir o fundamento mesmo de tda a
mecnica csmica: isso revela sua importncia.
Resta resolver para Aristteles uma dupla dificuldade: a primeira
esfera deve ser considerada como localizada e, em caso negativo,
como se pode conceber o movimento de um corpo que no estaria
em nenhum lugar?
- O primeiro
cu no est
em nenhum
lugar, porque
nada h a seu
redor que
pudesse limitlo e, portanto,
cont-lo.
- Ento, como
explicar que o
cu, tal como
aparece, se
mova
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-9.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:16
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.9.
uniformemente?
Sbre esta
questo os
comentadores
de Aristteles
tiveram muitas
dificuldades.
No se pode
dizer, com
Averroes, que
se deve
relacionar
fixidez do
centro, a
localizao das
esferas? S.
Toms,
adotando a
soluo de
Temistius,
prefere recorrer
localizao
das partes
umas em
relao s
outras: pode,
portanto, haver
um movimento,
no da esfera
considerada
como
totalidade, uma
vez que esta
no est
prpriamente
num lugar, mas
de cada uma de
suas partes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-9.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:16
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.9.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-9.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:16
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.10.
10. Reflexes sbre a teoria do lugar.
Que pensar desta teoria, em face das idias cientficas modernas?
O princpio aristotlico de localizao, a esfera das estrelas fixas e
seu centro imvel, da mesma forma que a teoria dos movimentos
naturais dos elementos, devem evidentemente ser abandonados.
Deve-se, portanto, considerar absolutamente ultrapassadas tdas as
concepes de Aristteles? Parece que a crtica dessas concepes
e sua transposio eventual devem ocorrer sbre dois pontos
essenciais.
H inicialmente a noo do lugar como continente. Define-se agora o
lugar pela situao de pontos em relao aos eixos, ponto de vista
mais abstrato, que se presta melhor s necessidades de medida. A
concepo diferente, mas de se notar que ela no se ope de
maneira direta de Aristteles que corresponde a uma intuio mais
concreta e mais espontnea. Seria, alis, interessante acentuar a
analogia que apresenta a noo de um lugar dotado de propriedades
atrativas com as concepes modernas de campos de fra. No se
pode, portanto, dizer que a considerao do continente ou do
invlucro tenha perdido todo intersse. A teoria est por ser refeita,
mas certas vises profundas parecem conservar seu valor.
Em segundo lugar, e ste o ponto difcil, deve-se admitir com
Aristoteles e os antigos que no universo existe um sistema absoluto
de localizao e conseqentemente de movimentos absolutos? Ou,
ento, dever-se- reconhecer smente sistemas relativos com
marcas arbitrriamente escolhidas? Hoje, depois dessa questo ter
sido muito estudada a tendncia moderna para o sentido da
relatividade. Mas pode-se questionar se a relatividade absoluta
inteligvel, e se de uma ou outra maneira no se deve voltar a um
princpio ou a uma medida estvel das flutuaes do mundo fsico,
quer dizer, a um sistema absoluto. Deixemos. aberto aqui ste
problema, contentando-nos em devolv-lo s teses, onde M. Sesmat
o debateu com competncia (Le systme absolu classique et les
mouvements rels, Paris, Hermann, 1938).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-10.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:17
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.10.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-10.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:17
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.11.
11. A teoria do vazio.
Sabemos j que a teoria do vazio pretende responder ao mesmo
problema que a do lugar. Para alguns antigos o movimento supunha
a existncia do lugar; para outros, le s podia-se produzir havendo
um vazio, concebido como um lugar onde nada havia. Os atomistas
particularmente faziam mover seus tomos no vazio. A dinmica
moderna usar de representao semelhante.
Sbre o vazio, Aristteles se encontrava em face de duas teses: uma
que implicava um vazio separado dos, corpos para explicar o
movimento local; e a outra que reclamava um vazio intersticial para
dar conta da condensao e da rarefao. Aps discutir
dialticamente o problema (c. 6-7), le demonstra sucessivamente
que no pode haver vazio separado (c. 8), nem vazio intersticirio (c.
9) . Alm disso necessrio dizer que, na hiptese do vazio, no h
distino entre o alto e o baixo; em conseqncia no h nenhuma
marca em vista da qual um corpo pudesse ser situado e, portanto,
reconhecido em movimento. Por outro lado, nada se ope a que o
movimento se efetue em meio pleno. Nesse ponto Aristteles
precedeu a Descartes, propondo a hiptese, que ste tornou famosa,
dos movimentos por substituio em crculo ou em turbilho.
Concluamos: o vazio inconcebvel e, alm disso, le torna o
movimento impossvel.
O vazio ter tda uma histria. le foi evidentemente sempre
combatido nas escolas peripatticas onde se tinha como axioma que
"a natureza tem horror do vazio". O incio dos tempos modernos
prestou-lhe tributos atravs das experincias de Torricelli. Na Frana
a questo dar lugar a uma clebre querela na qual notadamente se
destacaram Pascal, partidrio do vazio, e Descartes, defensor do
pleno como os peripatticos. Sem entrar nesta controvrsia,
observemos simplesmente que se lucrar distinguindo o vazio
relativo do fsico, do qual pode-se ter uma certa experincia e, o
vazio terico absoluto ou metafsico, que se defendia ou combatia a
partir de princpios a priori.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-11.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:17
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.11.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-11.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:17
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.12.
12. O espao.
No pensamento cientfico moderno, a problemtica do lugar
ocasionou a problemtica vizinha do espao. Assim, como j o
observamos, os movimentos no sero mais concebidos corno
mudanas de lugar ou de continente, mas como variaes de
relaes de coordenadas que se determinam no espao. Dir-se-
que os corpos esto no espao. Indiquemos rapidamente o que
pode ser o espao, sob o ponto de vista do peripatetismo.
A imaginao le evoca qualquer coisa de bastante semelhante ao
vazio: um grande continuum no qual se encontraro contidos todos
os corpos. Em uma anlise mais precisa, o espao se caracteriza
como sendo constitudo por dimenses, ou antes, por uma ordem de
dimenses, estas sendo necessariamente concebidas .como.
contnuas: o que. conduzir naturalmente a determin-lo por eixos
de coordenadas que explicitaro a ordem essencial destas
dimenses.
No plano filosfico coloca-se particularmente, em relao ao espao,
o problema de sua realidade objetiva. le , como parece ao senso
comum, uma coisa existente independente de nossa' percepo?
No antes condio subjetiva dessa percepo? Ou haver ainda
outra soluo intermediria? Trs sries de respostas foram dadas.;
eis a simples enumerao delas:
A. O espao considerado como realidade absoluta
- o vazio dos atomistas - a substncia e extenso de Descartes - a
substncia geomtrica de Newton;
B. O espao considerado como uma construo do esprito
- a ordem das coexistncias de Leibniz - a forma a priori da
sensibilidade de Kant;
C. O espao uma abstrao realmente fundamentada.
esta ltima frmula que melhor responde ao conjunto da filosofia
aristotlica e que necessrio ter como verdadeira. O espao
exprime a ordem real das dimenses que h nos corpos, mas faz
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-12.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:17
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.5, C.12.
abstrao de qualquer outra determinao dles. Em peripatetismo,
o que existe concretamente a quantidade dimensiva, ou a extenso
dos corpos, acidente real e um dos dez predicamentos. A realidade
do espao se fundamenta sbre esta realidade da extenso
concreta, mas ela no detm seno o aspecto dimensional, todos os
limites estando afastados. Sob ste aspecto de indefinibilidade que
o caracteriza, o espao como tal no existe seno no esprito, mas,
le corresponde a qualquer coisa de objetivo.
V-se, pelo que acaba de ser dito, que a considerao sbre o
espao mais abstrata que a do lugar que, por outro lado, implicava
no aristotelismo em uma determinao da ordem real do cosmos e
em uma "virtude" fsica: sua simplicidade anterior constituio
de tda dinmica. o que explica que seu ponto de vista tenha
prevalecido nas cincias.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica5-12.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:17
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.1.
VII
AS CONCOMITANTES DO MOVIMENTO
SEGUNDA PARTE: O TEMPO
1. Introduo.
O tempo uma destas realidades de que todos ns temos uma
percepo confusa, mas da qual no fcil precisar exatamente a
natureza. Aristteles comea, nos captulos que consagra a esta
noo, por mostrar as dificuldades (c. 10), depois d a definio (c.
11); em seguida le se detm em diversos problemas a
relacionados: a existncia no tempo (c. 12), o instante (c. 13);
finalmente volta a tratar de algumas questes concernentes
universalidade, realidade, e unidade do tempo (c. 14). De todos
sses desenvolvimentos no reteremos seno as principais idias.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-1.htm2006-06-01 12:19:17
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.2.
2. A natureza do tempo.
Aristteles, para determinar a natureza do tempo, parte do fato da
solidariedade que ste fenmenos parece ter com o movimento. So
realidades incontestvelmente ligadas. Alguns mesmo, antes dle,
foram muito longe e confundiram os dois: o tempo teria sido o
movimento do conjunto do universo, ou antes da "esfera
envolvente". A teoria no sustentvel, porque o tempo se encontra
absolutamente em tda parte e no smente no cu. Por outro lado,
no se poderia atribuir ao tempo os qualificativos que convm ao
movimento de rpido ou de lento. No sendo idntico ao movimento,
o tempo certamente ligado a le. Realmente, se se suprime tda
mudana, no pode mais haver questo de tempo. o que se
observa, por exemplo, muito simplesmente, no caso de um profundo
sono onde, com a experincia da mutao, desaparece a prpria
conscincia do tempo. No havendo movimento, no h tempo: sem
se confundir com le, o tempo deve, portanto, ser qualquer coisa do
movimento. Mas, o que?
Observar-se-, de imediato, que o tempo contnuo, porque le
segue o movimento, que le prprio implica a extenso, a qual
contnua. Ora, segunda constatao, h anterioridade e
posterioridade nas grandezas; por analogia, deve portanto haver o
mesmo no movimento e no tempo. Ns tomamos conscincia do
tempo quando apreendemos uma relao de anterioridade e de
posterioridade no movimento. Em terceiro lugar, que fazemos uma
vez que percebemos anterioridade e posterioridade no movimento?
Ns distinguimos fases, encerrando partes do movimento entre
limites, quer dizer, numeramos o movimento, ns o percebemos sob
o aspecto pelo qual le pode ser contado. Distinguir na quantidade
, com efeito, contar. Em resumo, dizemos com S. Toms:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:18
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.2.
"Uma vez
que em
todo
movimento
h
sucesso e
uma parte
depois de
outra, do
simples
fato de que
numeramos
no
movimento
o antes e o
depois, ns
temos a
percepo
do tempo
que assim
no outra
coisa que o
nmero do
antes e do
depois no
movimento."
"Cum enim in
quolibet motu
sit successio
et una pars
post alteram,
ex hoc quod
numeramus
prius et
posterius in
motu
apprehendimus
tempus quod
nihil aliud
qud numerus
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:18
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.2.
prioris et
posterioris in
motu."
Ia
Q.10
a.1
O tempo pode assim ser definido: "o nmero do movimento
segundo a relao do anterior e do posterior"; estando especificado
que se trata aqui do nmero concreto, "numerus numeratus", e no
do nmero abstrato, "numerus numerans".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:18
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.3.
3. A realidade do tempo.
Tal a definio do tempo. Mas que realidade convm reconhecer a
esta noo? O tempo parece, com efeito, ser to fugitivo que se
pode perguntar se le existe de maneira objetiva (c. 10, incio). Uma
coisa no real seno quando suas. partes existem efetivamente.
Ora, consideremos as partes do tempo: o passado no mais, o
futuro no ainda, e o instante presente, se parece ter mais
consistncia, no pode todavia, por si s, constituir o tempo. Por
outro lado, parece que o tempo no pode existir se no h uma alma
para realizar a sntese. Se com efeito, nada h que possa contar, no
haver nmero. Ora, para contar necessrio uma inteligncia, quer
dizer uma alma. Portanto, sem alma no h nmero nem tempo.
Concluamos com Aristteles (c. 14) que o tempo no pode existir
como tal fora de uma atividade psquica; o esprito que distingue e
faz a sntese do antes e do depois no movimento e determina assim
a percepo do tempo. Mas necessrio acrescentar que esta
atividade do esprito no se d sem fundamento objetivo. Se o
movimento que le numera, uma realidade imperfeita, continua,
porm, sendo da ordem do real. Assim podemos dizer com S.
Toms:
"Aquilo que
constitui para
o tempo
como sua
matria, a
saber o antes
e o depois,
fundamentado
no
movimento;
quanto ao
que formal
nle,
encontra-se
acabado no
ato da alma
que numera;
e por por
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:18
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.3.
isto que
Aristteles
afirmou que
se no
houvesse
alma, no
haveria
tempo".
"...Illud
quad est de
tempore
quasi
materiale
fundatur in
motu,
scilicet
prius et
posterius;
quod autem
est formale
completur
in
operatione
animae
numerantis,
propter
quod dicit
Philosophus
quod si non
esset
anima non
esset
tempus".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:18
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.3.
I
Sent.
d.
19,
q.
2,
a. I
V-se, assim, que sbre esta questo o peripatetismo ocupa uma
posio epistemolgica mdia entre as filosofias que, como
notadamente a de Bergson, desejaram fazer da durao temporal a
substncia mesma do real, e aquelas que, maneira do kantismo, a
reduziram s categorias transcedentais do esprito. Fundamentado
objetivamente na realidade do movimento, o tempo no tem seu ser
acabado seno na alma que o percebe.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:18
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.4.
4. A unidade do tempo e sua medida.
Na exposio precedente, procurou-se definir o tempo de maneira
abstrata e geral, em funo do movimento; porm se se volta
realidade em tda sua complexidade, uma nova dificuldade se
coloca. Os movimentos que observamos so, de fato, mltiplos e
diversos e, por outro lado, les podem ser simultneos. Deve-se
concluir que h muitos tempos, correspondendo a cada um dstes
movimentos e que les podem coexistir?
Fundamentando-se sbre a experincia comum, Aristteles tende
para a negao: no h no universo seno um s tempo, o qual
medida dos diversos movimentos simultneos, como um s e
mesmo nmero pode servir indiferentemente ao cmputo das mais
diversas realidades. Mas, se o tempo nico, no necessrio dizer
que deve haver um movimento privilegiado sbre o qual
primeiramente le se fundamenta,. e que seja assim como a medida
de todo o mecanismo do universo? Qual ser portanto, neste caso,
sse movimento? Na cosmologia aristotlica, que traduz de maneira
muito imediata as aparncias sensveis, a resposta a esta questo
fcil: sse movimento no outro seno o do primeiro cu, o qual,
por sua regularidade e perpetuidade, se encontra perfeitamente
adaptado a esta funo de mensurao suprema e universal.
V-se como esta teoria da unidade do tempo, em dependncia do
movimento do primeiro cu, se acha ligada ao conjunto do sistema
cosmolgico peripattico. ste forma um mecanismo nico, no qual
todos os movimentos so subordinados ao movimento circular
uniforme do primeiro cu. H, portanto, concretamente um primeiro
movimento discernvel, como havia um primeiro lugar determinado,
e assim pode haver um primeiro tempo que seja medida de todos os
movimentos.
Tem-se, evidentemente, o direito de se colocar aqui a mesma
questo levantada a respeito do lugar. Que resta de vlido
atualmente nesta teoria?
Na prtica, admite-se evidentemente sempre a unidade do tempo e
sua uniformidade, e refere-se sempre, para sua medida, ao
movimento dos, astros. Mas, objetivamente, a realizao concreta de
um movimento primeiro e medida de tdas as outras mostrando-se
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-4.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:18
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.4.
difcil de se conceber, possvel falar de um tempo privilegiado que
seja a medida de todos os movimentos? E se se tende para um
absoluto ou um princpio na ordem do movimento, como ento o
representar? , novamente, tda a questo da relatividade no mundo
fsico que se coloca. Aqui, como para o lugar, a resposta aristotlica,
considerada em sua materialidade, est evidentemente invalidada;
mas no se pode dizer que as instituies profundas que a
comandam, solidariedade mecnica do universo e necessidade de
um princpio regulador, devam ser abandonadas.
Restaria dar alguns esclarecimentos sbre o problema prtico da
medida do tempo. O tempo no diretamente mensurvel, uma vez
que ele continuidade sucessiva. Mas sabendo-se que no
movimento local, que serve le mesmo para medir os outros
movimentos, h correspondncia entre o tempo escoado e o espao
percorrido, em princpio a medida do tempo ser baseada na medida
do espao. E se se supe, com Aristteles (e, na prtica, com os
modernos) que o movimento medida uniforme, poder-se-,
aplicando-se uma simples frmula de proporcionalidade, passar
fcilmente do clculo das distncias percorridas ao dos tempos
correspondentes.
A durao das mudanas paralelas ao movimento primeiro se
observa muito simplesmente, cada um realiza continuamente a
experincia, levantando-se simultaneidades entre os instantes
caractersticos das mudanas em questo e os instantes
correspondentes do movimento medida! Tdas as vzes que se
torna possvel estabelecer coincidncias dste gnero, pode-se
medir no tempo qualquer movimento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-4.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:18
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.5.
5. Noes conexas. A noo de eternidade.
Aristteles no estudou por ela mesma a noo de eternidade. Ela
tem, entretanto, um lugar importante em sua filosofia, como alis em
todo o pensamento antigo. Em um primeiro sentido, a eternidade
parece ser privilgio dos seres superiores. Tambm observou ele,
no presente livro da Fsica, que os sres eternos no esto no
tempo, porque ste no pode medir sua existncia. Na teologia do
livro Delta, a eternidade ver-se- atribuda ao primeiro motor, ao ato
puro: que um vivente eterno. Em um outro sentido a eternidade
parece convir ao movimento (Cf. Fs., VIII, c. 1-2); o movimento
sempre existiu e ele se renova perptuamente: assim o mundo
eterno. A Idade Mdia crist se opor a esta afirmao que parece se
opor diretamente ao dogma da criao. Alguns, So Boaventura por
exemplo, aproveitaro a ocasio para combater o aristotelismo
ortodoxo, em nome da f. Outros, S. Toms como cabea,
reconhecendo o fato da criao no tempo, "in tempore", salvaro
Aristteles da contradio admitindo a possibilidade terica da
criao desde tda eternidade "ab eterno". De fato, para o Doutor
anglico, a eternidade aparece principalmente a ttulo de atributo
divino, e em conseqncia do Tratado de Deus que ele se inclina a
procurar a definio mais explcita. (cf. I.a p.a, q. 10).
Que , portanto, a eternidade?
Da mesma forma que o tempo a medida do movimento, a
eternidade se apresenta como a posse perfeita, resultante de sua
imobilidade, que um ser tem de sua vida. Ela , segundo a frmula
clssica de Bocio, "a possesso simultnea e perfeita de uma vida
que no tem termo",
"Interminabilis
vitae tota
simul et
perfecta
possessio".
Precisemos. A "interminabilis vita" pretende significar que a
eternidade no tem nem como nem fim. Esta ausncia de termos
pela qual se , algumas vzes, tentado defini-la , com efeito,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:19
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.5.
acidental sua natureza. Poder-se-ia muito bem conceber o mundo
como no tendo nem como nem fim, ou que o movimento seja
perptuo, sem obter outra coisa alm de uma durao indefinida que
no seria a eternidade. Esta, em seu sentido pleno, supe a
imobilidade, ou mais precisamente, segundo a expresso
condensada de Bocio, a posse simultnea de tda sua vida. Assim
definida a eternidade no se encontra seno em Deus que nico
que pode ser considerado substancialmente o Eterno. De maneira
derivada, e seguindo muitas analogias, poder-se- falar de
eternidade no mundo para significar uma durao indefinida ou pelo
menos muito longa das coisas; e nste plano que se coloca o
problema da eternidade do mundo que interessa cosmologia,
ainda que sua soluo seja prpriamente metafsica. Sabemos que
para S. Toms a durao perptua das coisas est na ordem das
possibilidades, smente a f nos ensinando que efetivamente elas
tiveram um como.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:19
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.6.
6. A noo de "oevum"
Se somente Deus tem a plena possesso atual de sua vida ou de seu
ser, existem substncias, as inteligncias das esferas e as prprias
esferas, na cosmologia antiga, os anjos, no universo cristo, que
so dotadas de uma estabilidade particular: elas so incorruptveis,
quer dizer que smente a causa primeira pode, por aniquilamento,
destru-las. Tais substncias tm uma possesso de seu ser mais
perfeita do que os corpos submetidos corrupo. Elas
permanecem, entretanto, em suas determinaes acidentais sujeitas
mutao: os cus so movidos conforme o lugar, e os espritos
puros tm pensamentos e volies sucessivas. ste estado de
indefectibilidade profunda associado a esta mutabilidade de
superfcie recebeu um nome especial na filosofia crist: o de
"oevum" que aparece assim como um estado intermedirio entre a
eternidade e o tempo. Note-se que as transformaes acidentais
destas substncias permanecem, de certa forma, submetidas ao
tempo, mas, se se trata de espritos puros, dever-ser precisar que
este tempo descontnuo (Cf. I.a p.a, q. 10, a. 5 e 6).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-6.htm2006-06-01 12:19:19
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.6, C.7.
7. A noo de "durao".
Uma clebre filosofia contempornea colocou em destaque um
conceito prximo ao de tempo, o da "durao". A linguagem
corrente, alis, o utiliza de maneira habitual. possvel integr-lo no
pensamento peripattico?
A noo de durao tem uma significao mais concreta ou mais
substancial que a de tempo. De maneira direta ela designa a
existncia atual de um ser, mas enquanto esta existncia conserva,
sob o fluxo das mutaes acidentais, uma realidade permanente: a
existncia estvel vista em sua relao com a sucesso, enquanto
que o tempo, por sua parte, a medida desta sucesso.
No pensamento de Bergson o conceito de durao toma um valor
muito especial. O ser fundamental que le designa no tem
verdadeira estabilidade; no h sujeito que no mude; a durao
implica assim em um dinamismo criador que faz com que ela se
renove incessantemente at ao que h de mais ntimo nela mesma.
Por outro lado, do ponto de vista da sucesso qualitativa smente,
e de algum modo em funo do movimento de deslocamento ou
quantitativo, que as mutaes percebidas devem ser interpretadas.
V-se, assim, que a noo bergsoniana de durao deve ser
distinguida, ao mesmo tempo, da durao tal como se pode
conceber no tomismo, a qual repousa sbre a permanncia das
substncias, e do tempo que, supondo o contnuo na realidade,
fundamentado sbre a ordem da quantidade e no sbre a da
qualidade. No h, portanto, exata correspondncia entre as duas
filosofias.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica6-7.htm2006-06-01 12:19:19
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.1.
VIII
A PROVA DO PRIMEIRO MOTOR
1. Introduo.
A Fsica termina com um livro muito bem estruturado, consagrado
demonstrao do princpio primeiro do movimento. Em sua obra,
por trs vzes, o Estagirita retoma esta demonstrao do primeiro
motor: Fs., VII, c. I; Fs., VIII; Metaf., Delta, c. 6. Se deixarmos de lado
a primeira que apenas uma repetio do livro VIII, e que sem
dvida no pertence redao primitiva, restaro duas exposies
verdadeiramente distintas da demonstrao em questo. Sua
comparao levanta duas dificuldades principais.
O primeiro motor do livro VIII deve ser identificado com a substncia
primeira, o ato puro, para o qual se inclina a Metafsica? As
demonstraes dos dois livros so fundamentalmente semelhantes,
mas os termos que elas atingem parecem ser diferentes. Na Fsica,
chega-se at a um primeiro motor fsico, sem extenso e, sem
dvida, imaterial, mas que parece no ter outra funo que a de
mover a primeira esfera do cu. Seria j Deus? Ou no seria um
simples motor fsico transcendente? Na Metafsica, pelo contrrio, o
princpio supremo que se atinge se manifesta com todos os
caracteres do ser primeiro, ato puro, pensamento do pensamento,
etc. Sero idnticos esses termos? Sem dvida alguma, a resposta
deve ser afirmativa. Observe-se entretanto que, na Fsica, o primeiro
motor s atingido formalmente, a ttulo de princpio fsico do
movimento do cosmos, enquanto que na Metafsica so
desenvolvidas tdas as suas propriedades de ser primeiro.
Outra dificuldade, em vista da qual a soluo menos assegurada,
vem de que na Fsica o primeiro motor parece agir maneira de uma
causa eficiente, enquanto que na Metafsica ela tem a funo de
colocar as esferas em movimento a ttulo de desejvel, quer dizer
como causa final. No existe, talvez, contradio entre stes dois
pontos de vista que, para ns, parecem mesmo complementares;
mas difcil de se precisar como as duas moes podiam se
conciliar para Aristteles, para o qual faltava uma teoria
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:19
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.1.
aperfeioada das relaes do mundo e de Deus.
Seja como fr, ns nos ateremos unicamente demonstrao da
Fsica. No prprio texto de Aristteles esta demonstrao toma a
forma de uma longa sucesso de argumentos minuciosos e
cerrados; aqui no nos ser possvel seguir todos os detalhes. Isto
seria, alis, de pouco proveito. Contentar-nos-emos, portanto, em
reproduzir as articulaes essenciais da prova, para da chegarmos
transposio que S. Toms realizou em sua demonstrao pessoal
da existncia de Deus.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:19
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.2.
2. Fim exato e plano do Livro VIII.
O que, na realidade, faz a complicao do presente livro, que
Aristteles no teve smente o desejo de a demonstrar o primeiro
motor, mas tambm o de determinar a distribuio dos motores e
dos mveis essenciais, sob o ponto de vista do movimento e do
repouso. portanto, ao mesmo tempo, a existncia de um primeiro
mvel eternamente movido, e a de mveis ora movidos, ora em
repouso, que le procurar justificar. ste tema geral do livro
exposto com felicidade no incio do c. 3 e na concluso do c. 9.
Dentro dessas perspectivas pode-se discernir trs momentos
caractersticos na prova:
A.
Demonstrao
preliminar: a
eternidade do
movimento
(c. 1-2).
B. Argumento
principal: a
organizao
dinmica do
mundo sob a
relao dos
motores e
dos mveis
(c. 3-9).
C. Corolrios:
propriedades
do primeiro
motor (c. 10).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:20
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.2.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:20
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.3.
3. A eternidade do movimento.
Aristteles demonstra a eternidade do movimento por dois
principais argumentos.
Um mvel ou eterno ou engendrado. Se le engendrado, esta
gerao, que . uma mudana, supe um movimento anterior, e
assim em conseqncia... Se se admite, ao contrrio, que o mvel
eternamente preexistente, reconhece-se que o repouso anterior ao
movimento, o que no pode ser, uma vez que o repouso no seno
a privao do movimento. necessrio, portanto, que haja
engendramento do mvel e isto indefinidamente (esta prova no
tem, evidentemente, valor, a no ser que se exclua a hiptese de um
como por criao). Por um raciocnio anlogo Aristteles exclui
em seguida a existncia de um trmo ltimo do processo das
mutaes.
Se se admite como demonstrado em outro local que o tempo
eterno, dever-se- dizer que o movimento tambm eterno.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-3.htm2006-06-01 12:19:20
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.4.
4. Diviso dos movimentos e repousos e demonstrao do
primeiro motor. Colocao do problema.
Diversas hipteses podem ser feitas concernentes ao estado de
repouso e ao do movimento, como:
- tudo
est
sempre
em
repouso;
- tudo
est
sempre
movido;
algumas
coisas
esto
movidas,
outras
em
repouso.
A ltima hiptese, par sua vez, d lugar a trs possibilidades.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-4.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:20
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.4.
- as coisas
movidas o so
sempre, e as
coisas em
repouso o so
sempre
igualmente;
- tudo est
indiferentemente
movido ou em
repouso;
- algumas
coisas so
eternamente
imveis,
algumas
eternamente
movidas e
outras
participando
dstes dois
estados.
As duas primeiras possibilidades devem ser rejeitadas porque a
experincia mostra:
- que tudo
no est
em
repouso;
- que tudo
no est
sempre em
movimento;
- que h
coisas que
so ora
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-4.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:20
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.4.
movidas,
ora em
repouso.
Resta a demonstrar que o ltimo caso a verdadeira soluo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-4.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:20
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.5.
5. Tudo que movido movido por um outro.
digno de nota que Aristteles no tente justificar aqui a priori ste
princpio; le o faz por induo, considerando os diversos modos de
atividade com relao ao motor. Se se afasta a moo acidental,
restam trs hipteses possveis:
- ser movido
pela natureza
e ao mesmo
tempo por si,
- ser movido
pela natureza
sem ser
movido por si,
- ser movido
contrriamente
natureza e
logo por um
outro.
Em todos stes casos, e especialmente no primeiro, onde a moo
exterior menos manifesta, h interveno de um motor distinto do
mvel. Em definitivo, tdas as hipteses sendo criticadas, resta que
tudo o que movido movido por um outro.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-5.htm2006-06-01 12:19:20
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.6.
6. Necessidade de um primeiro motor imvel, eterno, nico.
Necessidade de um primeiro motor. Aristteles d diferentes
argumentos que podem levar a ste: se todo movido
necessriamente movido por alguma coisa, necessrio que haja
um primeiro motor que no seja movido por outra coisa. Com efeito,
impossvel que a srie dos motores que so movidos por outra
coisa chegue ao infinito, uma vez que nas sries infinitas nada h de
primeiro. O argumento que conclui sbre a necessidade de se deter,
"Anank stnai", repousa, v-se, sbre a impossibilidade de uma
srie atualmente infinita. le supe, evidentemente, que se
considere os motores em sua subordinao essencial e de maneira
alguma acidental. (Quanto a esta demonstrao, verificar a
passagem paralela do 1. VII, c. I).
Imvel. ste primeiro motor que no movido por um outro, ou
imvel, ou se move por si mesmo. Na segunda hiptese, impe-se
que le seja composto de uma parte motriz imvel e de uma parte
movida. Em um e outro caso, haver portanto um primeiro motor
imvel.
Eterno. A partir da tese precedentemente estabelecida da eternidade
do movimento, conclui-se que o primeiro motor tambm deve ser
eterno.
nico. Haver um s primeiro motor em vez de muitos por que,
como em tdas as coisas iguais, necessrio escolher a hiptese
mais simples,. o que significa, em decorrncia, a unicidade do
primeiro motor.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-6.htm2006-06-01 12:19:21
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.7.
7. Necessidade de um primeiro mvel.
Sabemos j: 1. que h coisas tanto em movimento quanto em
repouso; 2. que h um primeiro motor imvel, eterno e nico;
partindo da demonstrar-se: 3. que h um primeiro mvel em eterno
movimento.
Com efeito, o primeiro motor produzir sempre o mesmo e nico
movimento, e da mesma maneira. Ele no pode, portanto, dar conta
diretamente da alternncia das geraes e das corrupes. Pelo
contrrio, um motor eternamente movido explicar ao mesmo
tempo, pela eternidade de seu movimento, a do processo das
geraes e das corrupes e, por suas diferentes posies, seu
ritmo alternativo; le prprio estando uniformemente movido pelo
primeiro motor.
Em definitivo, o sistema dinmico do mundo composto de um
primeiro motor eterno e imvel, que move regularmente um primeiro
mvel eterno, o qual, por sua vez, causa da alternncia das duplas
movimento-repouso, gerao-corrupo, das quais o mundo nos d
o espetculo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-7.htm2006-06-01 12:19:21
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.8.
8. Determinao do movimento causado pelo primeiro motor.
Conhecemos agora a disposio dos motores e dos mveis
essenciais do universo; resta-nos precisar que gnero de
movimento o primeiro motor deve comunicar ao primeiro mvel.
Aristteles o estabeleceu em trs demarcaes sucessivas:
- o movimento
local, afirma
inicialmente,
tem a primazia
sbre os outros
movimentos,
porque o
crescimento
supe a
alterao (o
alimento deve
ser alterado
antes de ser
assimilado), e a
prpria
alterao
requer, como
condio
prvia, que os
elementos
ativos e
passivos sejam
colocados em
contato e
portanto um
movimento
local, que em
conseqncia
tem a prioridade
(c. 7);
- o movimento
circular, por
outro lado, o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-8.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:21
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.8.
nico que pode
ser infinito, uno
e contnuo; uma
discusso
muito complexa
estabeleceu,
com efeito, que
outro grande
tipo de
movimento
local, o
movimento
retilnio, no
pode ser infinito
e implica
necessriamente
em retomadas
em sentido
inverso (c. 8);
- finalmente, o
movimento
circular tem a
primazia sbre
todos os outros
movimentos,
porque as
transladaes
dste gnero
so mais
simples e mais
perfeitas que os
deslocamentos
retilneos. Vse, por outro
lado, que ste
movimento
circular sendo
contnuo e
uniforme est
perfeitamente
apto para servir
de medida aos
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-8.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:21
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.8.
outros
movimentos (c.
9) .
Um tal movimento circular uniforme e eterno ser concretamente,
prev-se, o do primeiro cu que, assim, representa o papel de
primeiro mvel: de maneira dedutiva ns reencontramos o que
parece ser dado pela experincia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-8.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:21
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.9.
9. O primeiro motor sem grandeza.
Desta forma se estabelece: se o primeiro motor tem uma grandeza,
ela deve ser ou finita ou infinita. Ora, sabemos j que uma grandeza
no pode ser atualmente infinita. Por outro lado, uma grandeza ou
um motor finito no podem mover de maneira infinita, o que seria
contraditrio. Em conseqncia, se o movimento comunicado pelo
primeiro motor eterno, quer dizer infinito, ste no pode ter
grandeza, e logo le indivisvel e sem partes.
Assim, chegamos com Aristteles a esta concluso, da qual
fcilmente se percebe a importncia, de que o primeiro motor no
da ordem dos sres quantificados e portanto, parece, no um sr
material. Que le, ento, positivamente? A Fsica no o precisa, e
ser necessrio recorrer teologia do livro Lambda para aprender
que s o ato puro, afirmado no princpio do cosmos, pode
corresponder a tdas as exigncias de um primeiro absoluto (Cf.
Texto VI: O primeiro motor sem grandeza, p. 134) .
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-9.htm2006-06-01 12:19:21
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.10.
10. Concluso: Reflexes sbre a demonstrao de
Aristteles e comparao com a "prima via" de S. Toms.
Inicialmente, que pensar do mtodo seguido por Aristteles? No se
pode deixar de ficar impressionado pelo seu carter de a priori.
Certamente h referncias ao dado, e se encaminha finalmente para
uma viso do mundo que corresponde experincia, mas a
preocupao do Estagirita parece ter sido sobretudo a de mostrar
que, mecnicamente e para ser perfeito, o cosmos deveria ser
assim.
Nestas condies, que valor reconhecer argumentao?
Incontestvelmente, ela compreende partes caducas. Ainda que seja
tudo o que toca respeito a essa fsica a priori do movimento circular
uniforme. Outros elementos, sem dvida, devero ser eliminados.
Seria necessrio, para julg-la, passar ao crivo cada uma das provas
particulares resumidas acima. No o podemos fazer aqui em
detalhes.
Em todo caso, parece que os dois princpios filosficos sbre os
quais, em definitivo, tudo repousa, a saber:
"tudo
que
movido
movido
por
um
outro"
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-10.htm (1 of 7)2006-06-01 12:19:22
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.10.
"
impossvel,
na srie
dos
motores
movidos
chegar ao
infinito"
mantm seu valor. Se assim , em seus fundamentos, a prova
aristotlica permanece inabalada; foi isto que S. Toms bem
observou.
S. Toms retomou o argumento aristotlico do primeiro motor, seja
pelo mtodo de comentrio (Fs., VIII; Metaf., XII, 1. 5), seja,
adaptando-a, em suas duas Smulas (Cont. Gent., 1, 13; 1.a p.a, q. 2,
a. 3). Mas a demonstrao devia sofrer com le uma importante
modificao. Admitindo a criao no tempo, era impossvel para le
partir da suposio da eternidade do movimento. Por outro lado,
observou desde o Contra Gentiles, que se se reconhece um como
ao universo, isto torna mais manifesto ainda a causalidade do
primeiro motor. Assim, a prova aristotlica resultou transformada.
interessante observar, sobretudo, como na Sma Teolgica o
argumento da Fsica se v inteiramente desligado de tda a
maquinaria do cosmos aristotlico. Encontram-se bem os dois
princpios sbre os quais repousava a prova, mas, aqui, les no
tm mais outra justificao que nos axiomas primeiros: "um ser no
pode ser reduzido da potncia ao ato seno por um ser que le
prprio em ato", "onde no h primeiro trmo, no poderia haver
intermedirios". Assim, apesar de lhe permanecer metafisicamente
idntica, a prova de S. Toms aperfeioa e simplifica a de
Aristteles. Para terminar, que nos seja permitido citar na ntegra
ste belo texto da prima via (Ia. p.a, q. 2, a. 3) onde o esfro de
pensamento de tda a fsica encontra como que seu coroamento:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-10.htm (2 of 7)2006-06-01 12:19:22
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.10.
"A prova da
existncia de
Deus pode
ser obtida
por cinco
vias.
A primeira e
a mais
manifesta a
que parte do
movimento.
evidente,
nossos
sentidos o
atestam, que
neste mundo
algumas
coisas se
movem. Ora,
tudo o que
se move
movido por
um outro.
Com efeito,
nada se
move
enquanto o
que nle est
em potncia
no se
coloca em
relao com
o movimento
que o
encontra.
Pelo
contrrio, o
que move
no o faz
enquanto
no est em
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-10.htm (3 of 7)2006-06-01 12:19:22
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.10.
ato; porque
mover
fazer passar
da potncia
ao ato, e
nada pode
ser
conduzido
ao ato de
outra forma
seno por
um ser em
ato, como
um corpo
quente
atualmente,
como o fogo
torna quente
atualmente a
madeira que
era
anteriormente
quente em
potncia, e
assim o
atinge e o
altera. Ora,
no
possvel que
o mesmo
ser,
considerado
sob a mesma
relao, seja
ao mesmo
tempo em
ato e em
potncia; tal
no pode se
dar seno
sob relaes
diferentes:
por exemplo,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-10.htm (4 of 7)2006-06-01 12:19:22
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.10.
o que
quente em
ato no pode
ser, ao
mesmo
tempo,
quente em
potncia;
mas ele , ao
mesmo
tempo, frio
em potncia.
, portanto,
impossvel
que sob a
mesma
relao e da
mesma
maneira
qualquer
coisa seja ao
mesmo
tempo
movente e
movido, quer
dizer que ele
se mova a si
mesmo.
Portanto, se
uma coisa se
move, devese dizer que
ela movida
por uma
outra. Que
se, em
seguida, a
coisa que
move por
sua vez,
necessrio
que por sua
vez ela seja
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-10.htm (5 of 7)2006-06-01 12:19:22
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.10.
movida por
um outro, e
ste por um
outro ainda.
Ora, no se
pode
proceder
assim ao
infinito,
porque no
haveria
ento motor
primeiro, e
seguir-se-ia
que no
haveria mais
outros
motores,
porque os
motores
segundos
no movem
seno
quando les
so movidos
pelo motor
primeiro,
como o
basto no
move seno
quando
manejado
pela mo.
Portanto,
necessrio
se chegar a
um motor
primeiro que
no seja ele
mesmo
movido por
nenhum
outro, e tal
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-10.htm (6 of 7)2006-06-01 12:19:22
SEGUNDA PARTE: COSMOLOGIA: L.7, C.10.
ser todo o
mundo
reconhece
como Deus".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/Fisica7-10.htm (7 of 7)2006-06-01 12:19:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.0, C.1.
H. D. Gardeil
Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino
TERCEIRA PARTE: PSICOLOGIA
PREFCIO
O estudo da alma , em Aristteles, parte integrante da pesquisa
fsica, onde se inscreve como um prolegmeno da biologia. Assim,
no ser surpreendente constatar que a atividade de nossas
faculdades mais espirituais a encontrem relativamente pouco lugar.
S. Toms, que s filosofa em vista da teologia, prender-se- mais
parte superior de sua psicologia. Aqui o imitaremos. E como a
anlise detalhada da atividade voluntria situa-se melhor em moral,
seguir-se- que nossas mais importantes exposies sero
consagradas inteligncia. O captulo reservado a este ltimo
problema exorbitar, talvez, pela sua amplitude, ao que conviria a
uma simples iniciao. Achamos, porm, que a importncia do
assunto obriga-nos a entrar em maiores detalhes.
A tese central da psicologia - talvez fsse melhor dizer, da
antropologia aristotlica - aquela na qual, seguindo-se a frmula
famosa "a alma a forma do corpo", so determinadas as relaes
das duas grandes realidades que nos constituem. Procuramos darlhe todo o seu relvo e mostrar como o comportamento do homem
disso depende inteiramente.
Nesta frmula, todavia, no o ser do homem definido de maneira
adequada, pois a alma igualmente uma forma que pode existir por
si. Uma pneumatologia, se assim podemos falar, deve
necessriamente vir coroar o conjunto das primeiras pesquisas,
cujo carter permanece limtrofe da biologia. Aristteles aqui
hesitante e obscuro. S. Toms, guiado por S. Agostinho e
beneficiando-se de tda a luz trazida pela Revelao, professar
uma doutrina do esprito considerado como tal, a "mens", e das
atividades originais que nle se encontram: nossa alma reflete sbre
si, tomando-se a si mesma como objeto, indiretamente em nosso
estado atual de vida, mas diretamente quando separada do corpo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA0-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.0, C.1.
Donde a importncia dada aqui s teses do conhecimento da alma
por si mesma e do conhecimento da alma separada, graas s quais
se nos abrem perspectivas - alargando singularmente os horizontes
do peripatetismo.
Por fim, a alma humana v-se iluminada, pelo alto, em sua estrutura
profunda: seu ser traz a marca da semelhana divina. Certamente
mais discreto que um S. Boaventura para identificar, sob seus
mltiplos aspectos, a imagem de Deus em ns, no deixa S. Toms
de estimar que as ltimas explicaes sbre nosso ser provm
dste parentesco superior. "Homo ad imaginem Dei factus", o
homem feito imagem de Deus: com estas palavras do
Damasceno que o Doutor anglico, no podemos esquecer,
inaugura a grande marcha da criatura racional na volta ao Princpio
(cf. S. Th. Ia. IIae., Prlogo).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA0-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.1.
INTRODUO
1. NOO GERAL DA PSICOLOGIA
Etimolgicamente o trmo psicologia significa: cincia da alma. Esta
cincia to antiga quanto a filosofia. Desde a antiguidade, em
todos os sistemas, houve um conjunto, mais ou menos organizado,
de consideraes relativas a ste assunto. Mas o vocbulo
psicolgia relativamente recente. No vai alm do sculo XVI,
poca na qual um professor de Marburg, Goclenius, deu-o como
ttulo a um de seus livros. Na realidade, o verdadeiro introdutor
dste nome parece ter sido Wolff que, em sua Psychologia empirica
(1732) e em sua Psychologia rationalis, popularizou, com o nome,
uma distino que se mostraria, com o tempo, bastante feliz. Kant
retomou esta denominao. Na Frana, Maine de Biran e os eclticos
tero uma influncia decisiva na sua vulgarizao e adoo
generalizada que foi obra do sculo XIX. Por um paradoxo bastante
curioso, o trmo psicologia, ou cincia da alma, tornar-se- clssico
no momento preciso em que os que entendem tratar desta matria
renunciaro, em grande parte, ao conhecimento da prpria alma.
O que poder colocar sob ste vocbulo quem entenda filosofar na
linha de S. Toms? Para responder a esta questo, convm
considerar preliminarmente a evoluo histrica das doutrinas da
alma.
Na antiguidade e na Idade Mdia, duas concepes sbre a alma
marcaro linhas distintas: uma mais espiritualista, com Plato e S.
Agostinho, outra mais empirista, com Aristteles e sua escola. No
sculo XIII, prevaleceu a segunda concepo, juntamente com o
conjunto da filosofia do Estagirita. A partir dste momento, a
filosofia crist ser fundamentalmente aristotlica.
Com o advento do pensamento moderno, caiu em descrdito a
psicologia da Escola, como tambm tudo o que vinha de Aristotles.
Era necessrio reconstruir. A obra de Descartes marca, neste
domnio, uma volta ao espiritualismo mais exclusivo do
agostinianismo, mas no deixa de ser inovadora por adotar, como
princpio mesmo do saber, um ponto de vista de reflexo. A partir
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-1.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.1.
da, psquico tender a se confundir com perceptvel pela
conscincia. Mas, quanto ao seu contedo, a psicologia cartesiana
permanece ainda essencialmente metafsica: sempre a prpria
alma, em sua estrutura profunda, aquilo que se procura conhecer.
No sculo XVIII, sob o impulso de Locke e de seus mulos, um nvo
passo ser dado, desta feita no sentido de se separar dos valres
metafsicos tradicionais. Os fatos psquicos tornam-se puros
fenmenos, atrs dos quais a alma e suas potncias aparecem como
inacessveis. Tende assim a psicologia a se constituir como cincia
emprica comparvel s outras cincias da natureza e cujo domnio
circunscrito pela conscincia.
Nesta linha, vo os estudos psicolgicos tomar um desenvolvimento
prodigioso. Embora posteriormente no faltem metafsicos do
espiritual, como um Lachelier ou um Bergson na Frana, a
preocupao fundamental consiste em erigir uma psicologia
cientfica autnoma, da qual sero eliminados os problemas
transcendentes da alma e de seu destino. Os progressos
maravilhosos das cincias experimentais autorizam tdas as
esperanas. Se fenmenos fsicos so organizados e explicados
segundo mtodos cientficos rigorosos, por que no acontecer o
mesmo com a vida do esprito? Abandonemos, ou deixemos a
outros, disputas sbre a alma e suas faculdades e fiquemos com a
observao de fatos precisos e com a formulao de leis bem
controladas: assim construiremos uma psicologia verdadeiramente
cientfica e objetiva capaz de conjugar a adeso de todos. Seguindo
ste programa, um intenso trabalho de observao e de experincia
efetuado no mundo dos psiclogos, ao qual trabalho somos
devedores por ste imponente monumento da moderna cincia da
alma que, praticamente, tomou o lugar da antiga psicologia
especulativa.
Pode ser justificada uma tal evoluo no sentido da constituio de
uma cincia psicolgica autnoma? Ou, de maneira mais precisa,
pode-se reconhecer, ao lado da suposta sempre vlida metafsica da
alma, uma psicologia do tipo das cincias experimentais? Tal a
questo a que deveremos, antes de tudo, responder.
At o sculo XVIII, como dissemos, h s um conjunto de
consideraes psicolgicas sistemticas integrado em uma
sabedoria filosfica geral e tratado segundo seus mtodos. Quais
so seus caracteres?
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-1.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.1.
A psicologia antiga , antes de tudo, de dimenso verdadeiramente
filosfica: isto , pretende chegar aos princpios primeiros do
psiquismo; e tambm no sentido em que no se tema, para isso,
lanar mo de categorias mais gerais, como, por exemplo, no
aristotelismo, substncia e acidentes, matria e forma, ato e
potncia, etc. Em segundo lugar, uma tal psicologia deve ser
chamada, rigorosamente falando, cientfica: isto , procura a
explicao pela causa prpria, sendo a observao e a classificao
dos fenmenos smente uma fase preparatria a ste escopo.
Todavia, preciso reconhecer que, mesmo tendo um acentuado
carter racional, a Psicologia Antiga era tambm, a seu modo,
emprica, se no experimental. No aristotelismo, em particular, partese sempre de um dado controlado: um empirismo moderado, onde a
explicao prolonga e sistematiza de maneira feliz a experincia,
surge como o trao distintivo desta filosofia. Em resumo, a
psicologia compreende uma nica cincia da alma, emprica e
racional ao mesmo tempo.
Deveremos concluir que os princpios dste sistema probem
considerar separadamente um ou outro tipo desta cincia
psicolgica? Parece que no. Em nossos dias, alis, a separao
comumente admitida. So necessrias, porm, algumas
observaes.
Antes de tudo, seja reconhecido que a distino pelos caracteres
experimental e racional s tem um valor aproximativo, marcando
apenas uma acentuao do mtodo em um sentido ou em outro. Na
realidade, estas denominaes podem trazer confuso, pois
nenhuma cincia se estabelece sem experincia e sem razo e seria
prefervel, para distinguir estas duas disciplinas, referir-se ao nvel
de explicao onde cada uma se situa. Assim, ter-se- uma
psicologia filosfica ou metafsica, que buscaria os princpios mais
elevados, e uma psicologia cientfica, no moderno sentido da
palavra, que ficaria com as explicaes mais imediatas.
Seja admitido, alm disto, que uma psicologia do tipo experimental
no pode julgar, em ltima instncia, da profundidade dos
problemas da alma, isto , erigir-se em verdadeira sabedoria
filosfica, pois tal funo pertence prpriamente disciplina
superior.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-1.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.1.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-1.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.2.
2. OBJETO DA PSICOLOGIA
A determinao do objeto, ou do duplo objeto, da psicologia
depende, evidentemente, da orientao geral da filosofia que se
professa. Um espiritualista, maneira de S. Agostinho ou de
Descartes, ser levado a assinalar, como objeto desta cincia, a
atividade da alma considerada fora de todo comportamento
corporal. Partindo-se, pelo contrrio, de preconceitos materialistas,
a tendncia ser de reduzir o psiquismo ao fisiolgico e mesmo ao
fsico. E, por fim, quem se colocar na linha, que a nossa, do
espiritualismo moderado de Aristteles, dever compreender, no
objeto em questo, um e outro dstes aspectos. Mas nesta via ainda
so possveis duas opes.
Para Aristteles, todos os fenmenos vitais podem ser chamados
psquicos. Assim, o psiquismo define-se pela vida e todos os sres
viventes, mesmo animais e plantas que esto abaixo de ns,
pertencem cincia da alma. Nesta hiptese poder-se- dizer que a
psicologia tem por objeto:
o vivente
enquanto
princpio
de
atividades
vitais.
Esta concepo, como teremos ocasio de mostrar, encontra sua
justificao ltima na distino, que fundamental no peripatetismo,
de dois grandes tipos de atividade: a atividade transitiva (que
modifica um outro alm do sujeito) e a atividade imanente (que,
procedendo do sujeito, o aperfeioa). Segundo esta diviso, os no
viventes so seres que tm smente atividades transitivas, enquanto
os viventes, como tais, so dotados de atividades imanentes ou
movem-se a si mesmos. Pode-se conseqentemente precisar que a
psicologia tem por objeto:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.2.
os seres
dotados de
atividades
imanentes
ou que se
movem a si
mesmos,
considerados
como tais.
O psiquismo, segundo esta concepo, fica bem caracterizado,
permanecendo na prtica a dificuldade de discernir, em todos os
casos, se tal operao vital ou no.
Na linha dos modernos, tender-se- a reter um outro aspecto para
definir o psiquismo: o de consciente. psquico, ou interessa
prpriamente psicologia, o que suscetvel de ser atingido pela
conscincia. Segundo esta maneira de ver, fcil descobrir que tda
uma parte do vital, o infra-consciente, encontra-se excluda de nosso
objeto; o caso da vida das plantas e, parcialmente, mesmo da vida
do animal e do homem. O domnio a ns reservado aqui mais
restrito.
De nossa parte, sem negar que o fato de ser conscientes ou
reflexivos constitua, em um certo nvel, um dos traos mais notveis
dos atos da vida, preferimos, para definir o psiquismo, ficar com S.
Toms no ponto de vista do vital que corresponde a uma diferena
mais fundamental dos sres. Assim permaneceremos na linha do
peripatetismo autntico.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.3.
3. MTODO DA PSICOLOGIA.
Sendo de pouco proveito consideraes sbre o mtodo antes de
seu emprgo, limitar-nos-emos aqui a esclarecer dois pontos.
Introspeco e mtodo objetivo. Como tda cincia, a psicologia
repousa sbre o conhecimento dos fatos. Nisto o aristotelismo
harmoniza-se perfeitamente com as exigncias modernas. Os fatos
psquicos, porm, ao menos os que so de nvel elevado, tm de
particular o fato de poderem ser atingidos de dois modos diferentes:
objetivamente, enquanto so solidrios com o mundo percebido
pelos sentidos, e subjetivamente, em sua especificidade de fatos de
conscincia. A esta dupla possibilidade de acesso ao psiquismo
correspondem dois mtodos, um objetivo e outro subjetivo.
O mtodo subjetivo, ou introspeco, caracterstico da psicologia.
Os antigos j o utilizavam, embora no o empregando de modo
sistemtico. Depois, adotou-se a seu respeito duas atividades
contrrias: para alguns a introspeco o nico meio que permite
constituir uma psicologia autntica, enquanto para outros tal
mtodo cientificamente pouco vlido, por causa de sua incerteza e
de seu subjetivismo.
Face a estas afirmaes opostas, parece que se deve reconhecer, ao
mesmo tempo, o seguinte: em primeiro lugar, que a introspeco
para o psiclogo uma fonte autntica e normal de informao e que
mesmo o meio privilegiado de se atingir tda a zona superior do
psiquismo. E, em segundo lugar, que tal mtodo implica em um fator
de incerteza, tanto por causa da fugacidade dos estados de
conscincia, como pela impossibilidade de os submeter diretamente
a processos de medida. De qualquer maneira, exige ser controlado e
completado pela informao objetiva.
Os mtodos objetivos, por sua vez, compreendem o conjunto dos
processos graas aos quais a vida psquica pode ser estudada
exteriormente. O esprito, com efeito, est liado matria, o psquico
ao fsico; a vida da alma repercute nos comportamentos corporais e
pode ser considerada sob ste prisma.
Aristteles no desprezou ste aspecto do estudo da alma. mesmo
a ttulo de corpos, fazendo parte do cosmo como os elementos
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.3.
fsicos, que le aborda os viventes, intervindo s depois a anlise
interior das funes prpriamente psquicas. Por ste lado, o
peripatetismo aparenta-se com a psicologia mais atual. Os meios
tcnicos desta deixam-no evidentemente bem atrs, mas trata-se
smente de maior ou menor perfeio de mtodo.
Em definitivo, a psicologia utilizar combinadamente o mtodo de
introspeco e o de observao objetiva, e nada impede que tome a
seus servios as mais modernas tcnicas de experimentao. Nada
proibe tambm que, nas mesmas condies, sejam utilizados os
mtodos comparativos ou diferenciais que a psicologia animal, a
psicologia patolgica e a psicologia gentica podem oferecer. No
so raras, nos antigos, observaes desta ordem. Tda fonte de
informaes ser pois, legtima, mas sob a condio de no
pretender ser exclusiva e de no trazer consigo preconceitos no
controlados.
Mtodo filosfico e mtodo teolgico. Uma outra questo relativa ao
mtodo colocada em filosofia tomista. Aristteles, como natural,
desenvolveu suas concepes seguindo uma ordem puramente
filosfica e S. Toms, em seus comentrios, segue-o por ste
caminho; mas em suas obras de teologia, o Doutor anglico procede
de modo diverso. Para perceber isto basta confrontar a progresso
do De Anima e a da grande exposio psicolgica da Prima Pars (q.
75 a 89) . Na primeira destas obras, parte-se do mundo fsico, onde
certos corpos revelam a propriedade notvel de se mover a si
mesmos: so os vivos. Estudam-se suas atividades a partir das mais
humildes, at que se descobre uma atividade superior,
absolutamente independente da matria, o pensamento, que nos
abre acesso a outro mundo, o do esprito. Assim especula como
filsofo quem, normalmente, eleva-se do menos abstrato ao mais
abstrato ou do sensvel ao inteligvel. Na Summa Theologica, pelo
contrrio, o homem apresenta-se no seu conjunto, no como um
corpo entre outros corpos, mas como uma criatura composta de um
corpo e de uma alma, vindo esta diretamente de Deus e constituindo
nosso objeto principal. A ordem das questes e a importncia dada
a cada uma delas aqui evidentemente bem outra. Da segue-se que
a psicologia tomista pode ser apresentada autnticamente de duas
maneiras diferentes: conforme o plano e no esprito do De Anima, ou
colocando-se no ponto de vista dos tratados teolgicos que lhe
correspondem. Na segunda hiptese, tem-se a vantagem de expor,
em sua linha mesma, as mais pessoais concepes de S. Toms.
Seguindo o De Anima, ganha-se em se situar na fonte mesma da
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.3.
doutrina e, considerao que para ns decisiva, especula-se como
filsofo que no tomismo, como de direito, s atinge o espiritual a
partir do mundo dos corpos.
Seguiremos a ordem progressiva do tratado de Aristteles sem
negligenciar a rica contribuio das Summas. Com esta obra
comearemos pelo estudo geral da alma, princpio da vida, e de suas
faculdades; em seguida, consideraremos sucessivamente os trs
grandes graus clssicos da atividade psquica humana, a saber, vida
vegetativa, vida sensitiva e vida intelectiva; por fim, em uma ltima
parte, voltaremos ao problema especial da alma, no qual teremos
sido introduzidos pela questo de sua atividade superior. A
exposio subdivide-se assim:
1. A vida,
a alma e
suas
faculdades.
2. A vida
vegetativa.
3. A vida
sensitiva.
4. A vida
intelectiva.
5. A alma
humana e
seus
problemas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.4.
4. FONTES E BIBLIOGRAFIA
De que material se pode dispor para constituir uma psicologia
tomista? Essencialmente, da obra mesma de Aristteles que sua
fonte principal.
Sob a denominao geral de escritos bio-psicolgicos de
Aristteles, o "corpus" aristotlico compreende uma srie
importante de obras. Eis a lista, com sua subdiviso comumente
aceita em trs conjuntos:
- o De
Anima
(em trs
livros)
- os
Parva
Naturalia,
conjunto
dos
pequenos
escritos
seguintes:
De sensu et
sensato
De memoria
et
reminiscentia
De somno De Somniis
De
divinatione
per somnum
De
longitudine
et brevitate
vitae
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-4.htm (1 of 5)2006-06-01 12:19:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.4.
De vita et
morte
De
respiratione
- O grupo
dos livros
de cincias
naturais
prpriamente
ditas:
Historia
animalium
De
partibus
animalium
De motu
animalium
De incessu
animalium
De
generatione
animalium
Atribuiu-se ainda a Aristteles um De plantis, mas esta obra seria
apcrifa. Por outro lado, a autenticidade dos escritos anteriormente
enumerados no parece duvidosa.
Aristteles, na fsica, abrangeu o estudo do ser vivo e de seu
princpio, a alma. Todavia, reconhecendo no trmo de sua pesquisa
a existncia de uma atividade da alma independente do corpo, a
saber, o pensamento, abriu outras perspectivas e ps, sem alis
resolver, a questo mesma do estatuto fsico de nossa cincia. Sua
obra psico-biolgica, tal como le a realizou, conserva o carter de
um saber de tipo naturalista.
Como ajusta-se, pois, esta obra no conjunto dos escritos fsicos?
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-4.htm (2 of 5)2006-06-01 12:19:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.4.
Esquemticamente se pode dizer que, como fsico, Aristteles vai do
mais universal ao mais particular; assim, comea por considerar os
movimentos e os mveis em geral, estudando a seguir cada uma das
suas espcies e notadamente ste movimento e ste mvel que so
a vida e seu princpio, o ser vivente. O sujeito psicolgico parece,
portanto, na exposio do Estagirita, como um corpo particular entre
os outros corpos, e a cincia que lhe corresponde, como uma
seco especial do estudo geral da natureza.
Foi o conjunto dos escritos bio-psicolgicos de Aristteles
composto de uma s vez, representando assim um estado
estabilizado de seu pensamento, ou seria conveniente ver nle
momentos sucessivos? Considerando globalmente o
desenvolvimento da filosofia do Estagirita, o crtico alemo, W.
Jaeger falou de uma evoluo que vai de posies mais platnicas e
mais metafsicas, para um estatuto mais independente da teoria das
idias e de esprito mais experimental. Um tal esquema seria vlido
para a psicologia? Esta questo formulada por F. Nuyens, em um
recente estudo (Evolution de la psychologie d'Aristote, Louvam,
1948). Eis suas concluses.
Aristteles, em seus primeiros dilogos, teria ainda permanecido fiel
concepo platnica da alma, onde esta surge como nitidamente
oposta ao corpo. Em um perodo de transio, ao qual
correspondem smente textos menos importantes, teria comeado a
aproximar os dois trmos. Em suas grandes obras, enfim, chega
doutrina da alma como forma do corpo, doutrina capital que marca
tda a sua psicologia. Assim, o problema em trno ao qual a
psicologia de Aristteles teria progressivamente tomado sua
consistncia original seria o das relaes entre a alma e o corpo.
ste problema, alis, no ter nesta obra soluo completamente
adequada, pois permanecer, no fim, a aporia de uma alma que , ao
mesmo tempo, solidria do corpo em sua funo de forma
substancial, psych, e que o transcende como princpio das
operaes espirituais, nous. O pensamento progride todavia, de
modo claro, n sentido de uma encarnao da alma cada vez mais
marcada. Destas consideraes poderemos reter, presentemente,
que os principais escritos psicolgicos do Estagirita, o De Anima em
particular, pertencem todos ao perodo em que seu pensamento
havia se estabilizado naquilo que sempre foi considerado como sua
doutrina definitiva. Ser possvel, pois, utiliz-los como fonte de
informao homognea.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-4.htm (3 of 5)2006-06-01 12:19:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.4.
Teve Aristteles, ao escrever stes diversos tratados, um plano de
conjunto? E se teve, qual foi?
S. Toms, seguindo Alberto Magno, assim ordena o estudo de
Aristteles : frente, comandando todos os tratados particulares, o
estudo da alma (De Anima), pois todos os viventes tm uma alma
como princpio de suas atividades; em seguida, as outras obras,
consagradas aos diversos viventes, s suas partes e s suas
funes.
Esta classificao no sem fundamento. Outros intrpretes
maiores, contudo, Alexandre de Afrodsias, Averris, (cf. Festugire,
La Place du De Anima dons le systme aristotlicien d'aprs saint
Thomas, em Archives d'histoire littraire et doctrinale du M.A., 1932)
vem as coisas diferentemente. Para les, conviria colocar, em um
primeiro grupo, escritos tratando das partes materiais dos animais;
a seguir, smente o De Anima, que estuda a forma dos viventes;
viriam, enfim, os outros escritos consagrados s propriedades ou
funes mais particulares. Esta ltima ordenao, que parece
prefervel, tem a vantagem de valorizar o aspecto fsico ou
encarnado desta psicologia: assim, de um lado afastar-se- de um
espiritualismo abstrato que colheu simpatias em poca bastante
recente e, de outro, aproximar-se- das pesquisas contemporneas
onde o estudo do comportamento corporal teve to grande
importncia. Sob esta luz Aristteles aparecer bem atual.
A psicologia de S. Toms. Sabemos que S. Toms apresenta-se seja
a ttulo de comentador de Aristteles, seja como telogo que utiliza
e aperfeioa, para o seu fim prprio, uma psicologia.
S. Toms comentou autnticamente o De Anima, o De Sensu et
Sensato, o De Memoria et Reminiscentia; so apcrifos os outros
comentrios contidos nas edies completas de suas obras (cf. o
prefcio de Pirotta sua edio do De Sensu et Sensato). Em suas
obras teolgicas encontramos trs grandes conjuntos sistemticos
de psicologia: Contra Gentiles, L, II, c. 56-101; Summa Theologica, Ia
Pa, q. 75-89; Quaestio Disputata De Anima. Inmeros textos mais
fragmentrios acham-se dispersos no conjunto da obra,
notadamente nas questes disputadas De Veritate, De Potentia, De
Malo.
As fontes devem ser precisadas em cada caso. O fundamento
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-4.htm (4 of 5)2006-06-01 12:19:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.1, C.4.
primeiro vem de Aristteles, minuciosa e inteligentemente
comentado e longamente meditado. As obras dos grandes
comentadores antigos (Alexandre de Afrodsias, Avicena,
Avencebrol, Averris, Maiomnide) so, de igual modo,
freqentemente utilizadas.
A psicologia de S. Toms deve tambm muito aos escritos de
inspirao platnica, talvez smente a ttulo de reao. Assim Santo
Agostinho que, de modo to genial, aprofundou na linha do
cristianismo os problemas da alma, ser colocado entre seus
inspiradores mais constantes.
Quanto aos comentrios e livros modernos, todos os comentrios
clssicos abordam necessriamente, com S. Toms, os problemas
da alma. Vejam-se sobretudo os mais fiis, os de Cajetano, Silvestre
de Ferrara e Joo de S. Toms; ste ltimo o nico que apresenta
uma exposio sistemtica do conjunto da matria (cf. Cursus Phil.
III, De Anima); inmeros manuais escolsticos contemporneos
apenas reproduzem esta exposio.
Entre os modernos intrpretes de Aristteles citaremos em
particular Rodier, que traduziu para o francs e comentou o De
Anima, Ross e Nuyens, na obra anteriormente citada.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA1-4.htm (5 of 5)2006-06-01 12:19:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.2, C.1.
A VIDA E SEUS GRAUS
1. CARACTERES DISTINTIVOS DO VIVENTE.
A noo do vivente e sua distino do no-vivente so do domnio
comum. Todos tm uma certa idia destas coisas. Sbre que
fundam-se, pois, estas concepes espotneas?
Sendo velada ao nosso olhar a natureza dos sres que nos rodeiam,
, praticamente, a partir de suas atividades que podemos julg-la.
Considerando a atividade dos viventes e confrontando-a com a dos
no-viventes, teremos j oportunidade de esclarecer a noo que
nos preocupa. J Aristteles procedia dste modo: "Dos corpos
naturais, uns tm a vida e outros no tm, e por vida entendemos o
fato de se nutrir, crescer e perecer por si mesmo" (De Anima, II, c. 1,
472 a. 13). Comentando esta passagem, nota S. Toms que o
Filsofo no cogitou definir aqui a vida de maneira completamente
formal, mas caracteriz-la por algumas de suas operaes tpicas e
acrescenta que ainda outros exemplos de atividade poderiam ter
sido dados, ao menos aqules que dizem respeito aos viventes mais
elevados a saber, os de vida sensitiva e de vida intelectiva. Portanto,
nutrir-se, crescer, perecer, sentir, pensar e, poder-se-ia acrescentar,
mover-se localmente ou gerar, so tantas operaes que se
reconhecer nos viventes, e que, inversamente, se negar s coisas
inanimadas.
Um outro aspecto permite ainda distinguir o vivente: diz-se que, ao
contrrio das coisas puramente materiais, le um ser organizado,
isto , composto de partes heterogneas ordenadas entre si. Um
vegetal, por exemplo, compreender razes, haste, ramos e flhas,
cuja estrutura diversificada permite a um conjunto harmonioso de
funes exercer a sua atividade em vista da perfeio do ser total.
As partes de um corpo mineral simples, pelo contrrio, so tdas
homogneas, ao menos quanto nos permitido observar em nossa
escala. Mas, em definitivo, ste segundo carter dos viventes liga-se
ao precedente que o mais fundamental.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA2-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.2, C.1.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA2-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.2, C.2.
2. DEFINIO FORMAL DE VIDA.
Em que precisamente distingue-se a atividade do vivente da
atividade do no-vivente? A mais rudimentar observao
testemunha que o vivente tem, como coisa prpria, uma
interioridade ou uma espontaneidade que no so encontradas
alhures: por sua iniciativa que o animal se desloca, nutre-se ou se
reproduz, enquanto a pedra parece receber seus impulsos s do
exterior. ste fato expresso nestes trmos: o vivente tem por
carter distintivo mover-se por si mesmo, ao contrrio dos
noviventes que tm, por sua natureza, o serem movidos por outros.
Os trmos movimento e movido so aqui tomados em sua acepo
mais geral, envolvendo tdas as espcies de mudanas. Tal a
definio consagrada no peripatetismo:
"Propria
autem ratio
vitae est ex
hoc quod
aliquid est
natum
movere
seipsum,
large
accipiendo
motum,
prout etiam
intellectualis
operatio
motus
quidam
dicitur. Ea
enim sine
vita dicimus
quae ab
exteriori
tantum
principio
moveri
possunt"
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA2-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.2, C.2.
De
Anima,
II,
1. 1
S.
Th.
Ia Pa
q. 18
a 1
O vivente , pois, um ser que se move a si mesmo. O que se quer
justamente exprimir com isso? Numa primeira considerao, a
espontaneidade, ou ste impulso vindo do interior mesmo, que
parece caracterizar a atividade vital. O vivente tem em si o princpio
eficiente de sua atividade. Tal observao exata. Mas no se deve
deduzir da que no no-vivente o movimento no procede de modo
algum do interior e que, inversamente, no caso do vivente, a
atividade no tem condies exteriores. Em virtude de sua forma
pode tambm o no-vivente ser chamado como certo princpio de
atividade, mas le smente transmite, de certo modo
mecnicamente, o impulso ou a determinao que tenha recebido. O
vivente por sua vez, que tambm depende, de muitos modos, do
meio que o cerca, reage de maneira original, transformando segundo
sua prpria iniciativa o que recebe de fora, e isto de maneira cada
vez mais pessoal medida que suas atividades so mais elevadas.
No nvel simplesmente fisiolgico, esta reao prpria do vivente
recebeu um nome, o de irritabilidade; assim dir-se- que a
irritabilidade , neste nvel, caracterstica da vida.
Contudo, "mover-se a si mesmo" tem ainda um outro significado
mais fundamental: isto , que o ser vivo toma-se a si mesmo como
objeto ou como trmo de sua atividade; os viventes so fins para si
mesmos. Enquanto os corpos materiais, em suas atividades,
parecem ordenados smente s coisas exteriores que transformam,
agem os viventes, por sua vez, para seu proveito prprio,
procurando ao mesmo tempo sustentar-se no ser e adquirir seu
pleno desenvolvimento. Dste modo sua atividade permanece, de
certa maneira, nles, ou imanente. Esta qualidade admite, alis,
graus mltiplos, indo da interioridade ainda bastante relativa dos
vegetais posse absolutamente perfeita de si que s se realiza em
Deus.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA2-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.2, C.2.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA2-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.2, C.3.
3. OS GRAUS DA IMANNCIA VITAL.
A experincia vulgar, no contrariada de modo decisivo pela cincia,
sempre distinguiu na natureza trs grandes tipos de sres vivos:
vegetais, animais e homens. Fundando-se nesta constatao, a
filosofia reconhecer uma hierarquia de trs graus de vida: vida
vegetativa, nas plantas; vida sensitiva, nos animais; vida intelectiva,
no homem; encontrando-se os graus inferiores desta hierarquia
tambm nos superiores. S. Toms manifestamente se compraz na
considerao desta hierarquia dos graus de vida e diversas vzes a
representou (cf. Cont. Gent., IV, c. II; S. Th. Ia Pa, q. 18, a. 3 q. 78, a.
1; Quaest. disp. De Anima, a. 13; de Pot. q. 3 a. 11; De Verit, q. 22, a.
1; De spirit. creat. a. 2). Em alguns dstes textos, a gradao toma
seu fundamento na imaterialidade relativa das formas e de suas
atividades, mas de preferncia pela imanncia vital das diversas
operaes que as diferenas so estabelecidas. Assim no texto
fundamental da Prima Pars (q. 18, a. 3) S. Toms, partindo do
princpio de que um ser tem vida tanto mais elevada quanto mais
age por si mesmo, estabelece uma classificao a partir da
interioridade mais ou menos perfeita dos diversos elementos (forma
principal, forma instrumental, fim) que so supostos pela atividade
de um vivente. Trs casos devem, ento, ser distinguidos:
- o dos sres
(as plantas)
que,
recebendo da
natureza sua
forma e seu
fim,
comportam-se
como puros
instrumentos
de execuo;
- o dos sres
(os animais)
que, embora
ainda no
designando
seu fim
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA2-3.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:25
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.2, C.3.
prprio,
adquirem por
si mesmos as
formas que
dirigem suas
atividades, a
saber, as
representaes
sensveis que
os fazem
mover-se;
- enfim, o dos
sres (os
homens) que,
dotados de
inteligncia,
so ao mesmo
tempo
capazes de
tomar posse
de seu fim e
da forma que
est no
princpio de
suas
operaes:
"Tendo-se dito que as coisas vivem segundo se movem por si
mesmas e no segundo so movidas por outro, conforme isto
convenha mais perfeitamente a uma coisa, tanto mais a vida nela se
encontra de maneira mais perfeita. Ora, nos motores e nos movidos,
encontram-se, por ordem, trs coisas. O fim, com efeito, pe de
incio o agente em movimento; o agente principal , de sua parte,
aqule que age por sua forma prpria, e acontece que ste agente
mesmo s opera atravs de um instrumento que no age por sua
forma prpria, mas em virtude da forma do agente principal, de sorte
que lhe seja atribuda smente a execuo da ao. H, pois, certos
sres que se movem por si mesmos, no todavia segundo a forma
ou o fim que tm pela natureza, mas quanto execuo do
movimento, encontrando-se nles, determinados pela natureza, a
forma pela qual agem e o fim segundo o qual agem: tais so as
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA2-3.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:25
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.2, C.3.
plantas que crescem ou diminuem segundo a forma que lhes foi
conferida pela natureza.
H outros que se movem a si mesmos, desta vez no mais smente
com relao execuo do movimento, mas ainda quanto forma
que est no seu princpio, a qual adquirem por si mesmos: dste
tipo, so os animais nos quais o princpio de movimento no uma
forma natural, mas uma forma recebida pelos sentidos: e quanto
mais perfeitos forem seus sentidos, tanto mais perfeitamente
movem-se a si mesmos . . . Mas, embora adquiram por meio de seus
sentidos as formas que esto no princpio de seus movimentos, tais
animais no determinam para si o fim de suas operaes e de seus
movimentos, sendo-lhes ste impsto pela natureza cujo instinto
leva-os a agir por meio da forma apreendida pelos sentidos. Mais
acima dos animais encontram-se, portanto, os que a si mesmos se
movem mesmo quanto ao fim que estabelecem por si; isto s se
pode realizar pela mediao da razo e da inteligncia qual
convm conhecer o proporcionamento do fim e do meio e ordenar
um ao outro".
Nesta ltima hiptese convir ainda distinguir o caso das
inteligncias inferiores que, como o homem, encontram-se ainda
condicionadas ao menos no que concerne aos primeiros princpios
do esprito, e o caso da inteligncia divina que, estando sempre em
ato, perfeitamente autnoma, atingindo assim o grau mais elevado
da imanncia vital.
No Contra Gentiles (IV, c. II) retoma S. Toms a mesma exposio,
desta vez no contexto das processes trinitrias. Parte do seguinte
princpio: quanto mais uma natureza elevada, tanto mais o que
dela emana interior.
Assim, no grau inferior das coisas encontramos os corpos materiais
nos quais s pode haver emanao sob a influncia de um outro;
segundo ste modo, do fogo gerado fogo por alterao de um
corpo estranho.
Acima vm as plantas, para as quais pode-se j falar em emanao
interior. com efeito no interior mesmo da planta que o humor
convertido em semente. Mas fcil ver que neste caso no h
interioridade perfeita, pois a emanao de que se trata, a semente,
acaba realizando um ser inteiramente distinto. Alis, vendo-se bem,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA2-3.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:25
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.2, C.3.
o princpio original desta emanao, o alimento, exterior.
Mais alto, com os animais, atinge-se a um grau superior de vida que
tem o seu princpio na alma sensitiva. Sua emanao termina, desta
feita, em um trmo verdadeiramente imanente: a imagem percebida
pelos sentidos, passando pela imaginao, atinge a memria onde
conservada. Contudo, princpio e trmo da emanao so ainda aqui
distintos, pois as potncias sensveis no podem refletir sbre si
mesmas.
Com a inteligncia, enfim, que reflexiva, nos encontramos no grau
mais elevado da vida. Mas ainda aqui gradaes devem ser
estabelecidas, realizando-se a interioridade da atividade desta
faculdade de maneira mais ou menos perfeita segundo se trate:
primeiro, do homem, que busca no exterior o dado primeiro de sua
vida intelectual; segundo, do anjo, que consegue conhecer-se
diretamente, mas em uma concepo que ainda distinta de sua
substncia; e terceiro, de Deus, em cuja unidade e imanncia
perfeitas a atividade vital atinge sua perfeio.
Em definitivo, atividade vital, de uma parte, e imanncia ou
interioridade, de outra, so trmos correlativos cuja progresso
paralela corresponde hierarquia de perfeio dos sres. Alm
disso, realizada de maneira proporcional nos diversos graus desta
hierarquia, a noo de vida essencialmente analgica: assim, a
vida de uma planta, a de um animal, a de um homem, ou a de um
puro esprito, no so especificamente semelhantes, e no caso do
homem, no qual diversos graus de vida se encontram, s h
semelhantemente proporo analgica entre a atividade de cada um
dles. Seja dito isto para que se evite tratar destas coisas em
esprito de univocidade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA2-3.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:25
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.1.
DEFINIO ARISTOTLICA DA ALMA
1. O PROBLEMA DA ALMA.
O problema da alma colocado pelo problema mesmo da vida e os
mais primitivos espritos, ao que parece, disto tiveram conscincia.
Eis sres que, em meio a outros, distinguem-se por sua organizao
notvelmente unificada, bem como por seu comportamento
inteiramente original: no se deve atribuir estas singularidades
existncia nles de um princpio invisvel, a alma, que aparece no
momento da gerao do indivduo e cujo desaparecimento coincide
com o instante de sua morte? Bastante ligada s questes religiosas
e morais, esta crena na alma tomou formas extremamente variadas;
o sbio Erwin Rohde historiou, para a Grcia, as diversas formas
desta crena (cf. sua obra clssica: Psych). -nos necessrio
passar alm, contentando-nos em reconhecer, no ponto de partida,
que a alma se nos apresenta como princpio de vida.
Precisemos logo que de maneira comum se entende por alma o
princpio primeiro e mais profundo da vida. Na procura dos
princpios desta ordem, com efeito, poderamos parar em trmos
mais imediatos, como os rgos, ou em faculdades particulares,
como a inteligncia. Com a alma atinge-se o trmo alm do qual no
se precisa ir na explicao do dinamismo dos viventes: "na procura
da natureza da alma, convm pressupor que o primeiro princpio
da vida nas coisas que vivem entre ns (S. Th. Ia Pa, q. 75, a. 1) .
Acrescentemos, para evitar todo equvoco, que a alma, da qual
trataremos neste captulo, a alma comum a todos os viventes,
vegetais, animais, bem como homens. Os problemas considerados
sero os que concernem alma em geral. Os da alma humana, como
forma imaterial e princpio da vida superior, sero abordados s
mais tarde.
J sabemos que, sbre o problema que abordamos, Aristteles
havia sido levado, por suas reflexes pessoais, a evoluir de uma
posio espiritualista, vizinha de Plato, posio mais animista
que se tornaria caracterstica de sua concepo do vivente. Seria
extremamente interessante seguir de perto esta evoluo to
reveladora do trabalho profundo de seu esprito. Ainda aqui
precisamos nos contentar em nos referir aos estudos dos
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:25
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.1.
especialistas (cf. a obra citada de Nuyens). A presente exposio
tomar a doutrina, pois, no estado de imaturidade que havia
adquirido no momento em que foi consignada no De Anima.
A definio da alma a pea essencial desta obra. Aristteles
comea, como havia feito no livro A da Metafsica na busca das
causas, por expor e criticar as teorias antecedentes (I, c. 2-5) ;
depois d a sua prpria soluo (II, c. 1-2). Na parte histrica de sua
exposio, o Estagirita, com seus predecessores, considera a alma
sucessivamente como princpio de movimento e como princpio de
sensao. Na discusso, a maior parte dos argumentos dirige-se
contra as concepes materialistas da vida psquica; mas o
dualismo espiritualista de Plato igualmente atacado.
S. Toms, em seu comentrio ao De Anima, segue de perto o texto
precedente. Mas tratou tambm a questo de maneira pessoal (cf.
sobretudo: Cont. Gent. II, c. 56 s; 1 P, q. 75 e 76; Quaest Disp. de
An., a.1). Quanto ao fundamento, parte o problema da imortalidade,
sua doutrina reproduz fielmente a de seu mestre. Mas, convm no
esquecer que, quando faz teologia, S. Toms situa-se em outra
perspectiva: aparece ento a alma espiritual criada por Deus e a
questo principal saber como ela pode se unir ao corpo. Alm
disso, a argumentao v-se complicada, em S. Toms, pela
discusso das opinies dos comentadores antigos e rabes,
Alexandre de Afrodsias e Averris notadamente.
Presentemente reter-se- sobretudo que Aristteles e seu discpulo
tiveram principalmente que lidar, nesta questo, com dois conjuntos
de doutrinas que igualmente rejeitaram, o mecanismo materialista e
o dualismo absoluto, e que a partir da foram levados a apresentar
sua soluo pessoal do animismo: o que vamos relatar
sucintamente.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:25
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.2.
2. A CRTICA AO MECANICISMO.
As concepes materialistas ou mecanicistas da alma no so o
apangio do pensamento contemporneo. Aristteles e sua escola j
se tinham ocupado com tais doutrinas. Qual a sua atitude a respeito
delas?
Sigamos a exposio da Summa Theologica que particularmente
lcida (Ia Pa, q. 75). Pode-se dizer de incio que a alma um corpo
(a. 1)? No, pois o que distingue o corpo vivo, como tal, do corpo
no vivo no pode ser um corpo, pois do contrrio todos os corpos
deveriam ser reconhecidos como vivos. Se considerarmos
especialmente o caso da alma humana, (a. 2), convm acrescentar
que sua operao superior, o conhecimento intelectual, no pode ter
um corpo como princpio. Possuir uma natureza corporal
determinada seria para a inteligncia um obstculo ao conhecimento
exterior de naturezas semelhantes, e assim no se poderia mais
dizer que uma tal faculdade de conhecer est em potncia para
todos os inteligveis.
Se a alma no um corpo considerado em sua materialidade bruta,
no se poderia admitir que seja algo resultante da combinao dos
elementos? S. Toms encontrava esta teoria sob duas formas
bastante parecidas: a da "alma complexo", atribuda ao mdico
Galeno, e a da "alma harmonia", que remontava a Empdocles (cf.
Cont. Gent. II, c. 63-64) . O vivente, como os outros corpos, seria
efetivamente composto s de elementos materiais, mas entre stes
haveria uma certa proporo que, sem constituir um verdadeiro
princpio formal, pois antes uma resultante que um princpio,
explicaria a organizao e a atividade do conjunto. No pode ser
assim. Uma simples complexo corporal, ou uma harmonia, no
pode desempenhar o papel de princpio motor, nem dirigir o corpo
contrariando suas tendncias prprias, como acontece s vzes;
nem tampouco explica as operaes que, como o conhecimento,
ultrapassam manifestamente as qualidades da atividade e da
passividade dos elementos materiais. Impe-se, portanto, no
princpio da vida, que haja uma realidade de consistncia
completamente outra.
Para no ficar em argumentos gerais, relatemos a discusso da
teoria de Empdocles feita por S. Toms sbre um ponto preciso.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.2.
Trata-se do fenmeno do aumento ou crescimento dos viventes.
Para explic-lo, no haveria nenhuma necessidade de recorrer a uma
alma; bastaria o deslocamento natural dos elementos graves e leves.
assim que para as plantas o aprofundar-se das razes proviria do
movimento prprio para baixo do elemento terra que elas
comportam, enquanto que o movimento do vegetal para cima viria
da ascenso natural do elemento fogo. Ora, nota S. Toms,
impossvel que seja assim, por diversas razes. Pois, de uma parte,
pensa le, o alto e o baixo no devem ser compreendidos da mesma
maneira no universo e nos sres vivos (pois as razes so o alto e a
fronde o baixo da planta). Por outro lado, tais fras opostas
deveriam, pela sua interao, terminar pela dssociao do vivente
que s efetivamente impedida pela fra unitiva superior da alma.
Para outros, s o fogo seria causa ativa do crescimento, como le o
da nutrio. Sim, responde S. Toms, o fogo aqui uma causa,
mas a ttulo de instrumento de uma causa principal que s pode ser
a alma. Energias puramente fsicas tenderiam, com efeito, a causar
um crescimento indefinido; um crescimento limitado supe um
princpio de regulao, ou uma medida, que seja de uma outra
ordem.
claro que tais explicaes pem em jgo teorias fsicas
ultrapassadas. Mas, no menos certo que a disposio da prova
guarda real intersse. Eis como se processa: primeiro, constata-se
um processo vital original, no caso, o crescimento; passa-se, em
seguida, refutao da teoria proposta, fazendo-se uma
confrontao precisa dos respectivos comportamentos das
transformaes vitais e dos movimentos fsicos; e, em um terceiro
tempo, postula-se, para explicar verdadeiramente as atividades
vitais, um princpio regulador que no seja de ordem material.
Aplicada a fatos melhor controlados, uma demonstrao dste tipo
poderia ainda hoje ter valor.
No deixa de ser interessante notar que, em nossos dias, a crtica do
mecanicismo biolgico foi retomada por autnticos sbios, reunidos
ordinriamente sob a etiquta do "vitalismo". Esta denominao,
preciso que se diga, recobre um conjunto de concepes um pouco
disparatadas. Permanece, contudo, a tendncia comum de explicar
os fenmenos vitais por uma fra que transcende as simples
modificaes da matria, no podendo estas ltimas explicar, de
modo suficiente, a especificidade dos fenmenos em causa. Nesta
escola, todo um grupo, o chamado dos no-vitalistas, Driesch, Rmy
Collin, Cunot, orienta-se de modo claro para o reconhecimento de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.2.
um princpio vital bem prximo da intelquia aristotlica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.3.
3. A CRTICA AO DUALISMO PLATNICO.
Face explicao mecanicista do psiquismo, encontrava Aristteles
a doutrina, de que um dia participou, do dualismo platnico das
substncias. Se a alma no pode ser confundida com os elementos
corporais ou com seu comportamento, no se poderia ento dizer
que uma entidade espiritual separada do corpo e cuja ao sbre
ste se exerceria do exterior, como a ao de um motor?
"Plato e os
que o
seguiram
pretenderam
que a alma
intelectiva
no unida
ao corpo
como a
forma
matria,
mas
somente
como um
motor ao
mvel;
diziam que
a alma est
no corpo
como um
pilto no
navio, e
que no
havia unio
entre a
alma e o
corpo
somente
por um
contato de
ordem
dinmica".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-3.htm (1 of 5)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.3.
Cont.
Gentil.
II, c.
57
Entre os numerosos argumentos colocados pela crtica aristotlica
para rechaar a frmula dualista do homem, dois parecem ter sido
decisivos:
1. Se alma e corpo
constituem cada
qual uma unidade
substancial
autnoma, no se v
como, de sua
associao, possa
resultar uma
verdadeira unidade
de ser. Nesta
hiptese, s se pode
falar em unidade
acidental:
"relinquitur igitur
quod homo non sit
unum simpliciter, et
per consequens nec
ens simpliciter, sed
ens per
accidens" (Loc. cit.).
De nada serve
pretender, para
escapar a esta
dificuldade, que a
alma o homem,
aparecendo o corpo
somente como um
instrumento usado
pela alma pois, neste
caso, o homem, cuja
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-3.htm (2 of 5)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.3.
essncia total seria
de ordem espiritual,
no pertenceria mais
ao mundo das
coisas fsicas, o que
contrrio
experincia. No se
pode deixar de
compreender o
componente
corporal na
definio mesma do
ser humano.
2. Tambm no se v
como, na soluo
platnica, ainda
possvel falar de
operaes comuns
alma e ao corpo,
como temer, irritarse ou ter sensaes
que, sendo
psquicas,
determinam
modificaes
corporais. , pois,
necessrio que haja
entre a alma e o
corpo uma
verdadeira unidade
de ordem
ontolgica. Note-se
que no se escapa,
no platonismo,
dificuldade da
explicao dos
movimentos comuns
ao corpo e alma,
dizendo que
ativamente les
procedem da alma
enquanto que so
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-3.htm (3 of 5)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.3.
passivamente
recebidos no corpo.
bem verdade que
os sres espirituais,
os puros espritos
por exemplo, podem
agir sbre os
corpos, e neste caso
falar-se- de
contacto, mas de um
contacto smente
dinmico, e que no
realiza a funo dos
dois trmos: "as
coisas que se unem
segundo um
contacto dste
gnero no so
absolutamente unas:
so unas na
atividade e na
passividade, o que
no ser uno
absolutamente" (Con.
Gent. II, c. 56).
Sendo agir e
padecer dois
predicamentos
distintos, cai-se
realmente no plano
da ao, no
dualismo do
espiritual e do
corporal.
A unidade do vivente, manifestada de tantas maneiras, requer, pois,
que entre os dois princpios que se deve nle distinguir, a alma e o
corpo, haja mais que a simples associao do motor e daquele que
se move. ento que se nos apresenta a soluo original e to
notvel de Aristteles.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-3.htm (4 of 5)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.3.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-3.htm (5 of 5)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.4.
4. ANIMISMO ARISTOTLICO.
No captulo I do De Anima, que o texto decisivo para a definio da
alma, procede Aristteles a modo de colocao nas grandes
categorias do ser. Parte do fato de que o vivente aparece no mundo
como um ser corporal. Eis ento como Aristteles raciocina.
A substncia, que a categoria primeira, espiritual ou corporal. A
substncia corporal, que nos a mais manifesta, , por sua vez;
artificial ou natural. Enfim, entre as substncias corporais naturais,
algumas so inanimadas enquanto outras tm vida. O que so estas
justamente? Sendo reconhecido que em tda substncia corporal h
trs coisas, a saber a matria, a forma e o composto, ser preciso
dizer: que a alma no pode ser matria ou sujeito, pois a vida surge
como uma diferena especificando o sujeito; que no pode
tampouco ser o composto que o corpo vivo em sua totalidade;
resta, pois, que seja a forma que especifica e determina:
"Sic igitur
cum sit
triplex
substantia,
scilicet
compositum,
materia et
forma, et
anima non
est
compositum
quod est
corpus
habens
vitam,
neque est
materia,
quae est
corpus
subjectum
vitae,
relinquitur,
per locum
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-4.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.4.
dialecticum
a divisione,
quod anima
sit
substantia,
sicut forma
talis
corporis,
scilicet
corporis
physici
habentis in
potentia
vitam"
De
Anima,
II,
1, 1
Em seguida, indica S. Toms porque especificado que a alma
forma de um corpo "tendo a vida em potncia": s quando
informado pela alma que o corpo ter a vida em ato. Mostra que o
ato, do qual aqui se trata, um "ato primeiro", isto , uma forma
essencial e no um ato operativo. Por fim mostra que o corpo, do
qual a alma a forma, um "corpo fsico organizado": por ter
mltiplas operaes e exigir, como instrumentos, rgos
diversificados, a alma s pode vir a informar um corpo j
organizado.
Agrupando o conjunto dstes dados obtemos a definio clssica
de alma:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-4.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.4.
"o ato
primeiro
(ou a
forma) de
um corpo
fsico
organizado
tendo a
vida em
potncia"
"actus
primus
corporis
physici
organici
vitam in
potentia
habentis".
No Captulo 2 do mesmo livro, prope Aristteles uma outra
definio de alma, desta vez de ordem dinmica. Suposto que a alma
o primeiro principio da vida e que, por outro lado, "a vida o fato
de se nutrir, crescer e perecer", conclui que a alma pode ser definida
como o princpio destas funes s quais, para o homem,
acrescentar-se- a atividade superior do pensamento. Assim, obtmse com S. Toms (De Anima, II, 1. 4) a frmula que igualmente se
tornou clssica:
"Anima est
primum quo
et vivimus
et movemus
et
intelligimus".
fcil perceber que, no quadro geral da teoria das substncias, esta
frmula abarca a precedente. Em uma substncia composta, com
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-4.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.4.
efeito, o princpio primeiro de tdas as operaes a forma que
assim simultneamente: aquilo pelo qual ela (quo est), e aquilo
pelo qual age, (quo operatur).
Restaria emitir um juzo sbre esta famosa definio da alma como
forma do corpo. Nos textos que acabamos de resumir, apresenta-se
a doutrina ao mesmo tempo rigorosamente lgica e com uma certa
sequido abstrata. claro que se sups como admitida a teoria
geral do composto substancial; feito isto, tudo parece caminhar por
si.
ste esquematismo intrinsecamente muito coerente, por si s
expressivo do trabalho de pensamento realizado pelo Estagirita?
No cremos. Seria esquecer as longas consideraes crticas do
livro precedente que so representativas das meditaes de
diversas geraes de pensadores, de Empdocles a Demcrito e de
Anaxgoras ao autor do Fdon e do Timeu: tudo isto assimilado e
revivido pelo fundador do Liceu durante o longo perodo de
elaborao de sua doutrina. Se o materialismo dos antigos
impotente para explicar o vivente na originalidade de sua estrutura e
de sua atividade, se o dualismo platnico compromete
irremedivelmente sua unidade, no ser preciso elaborar uma
doutrina mais compreensiva e mais abrangedora? O hilemorfismo
fsico apresenta-se ento como a soluo libertadora: a alma s
pode ser a forma do corpo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-4.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:26
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.5.
5. CONSEQNCIAS E COROLRIO.
- A unidade do vivente.
A unidade do vivente foi a prpria convico que levou Aristteles
sua definio da alma. Evidentemente um ser vivo uma entidade
complexa, mas substancialmente unificada. A unio dstes
princpios, deve-se acrescentar, imediata: nem necessrio algum
"vinculum substantiale" para explic-la.
A esta convico liga-se ainda a afirmao da unicidade da alma em
cada indivduo vivente. No homem, em particular, se falamos da
alma vegetativa e da alma sensitiva ao lado da alma espiritual,
preciso reconhecer que s esta ltima uma entidade independente
exercendo as funes das outras duas. Sbre ste ponto S. Toms
permanece muito firme face aos que, em seu tempo, sustentavam a
pluralidade das almas ou das formas substanciais.
- A unidade da alma
A unidade da alma postula sua indiviso e, portanto, sua presena
como todo em cada uma das partes do corpo. Aqui surge, porm,
uma dificuldade: aparecendo as atividades particulares, a vista por
exemplo, ligadas a rgos especiais, no se dever reconhecer, em
relao a stes rgos, uma especificao do prprio princpio vital?
Sim, responde S. Toms, mas maneira de um todo potencial que se
diversifica como princpio de atividade, sempre permanecendo
essencialmente um. O precedente princpio fica assim salvo.
A ste respeito, interrogaram-se os antigos com perplexidade sbre
o caso de certos viventes, plantas e animais inferiores, que, sem
perecer, podem ser efetivamente multiplicados. Teria sido dividida a
alma primitiva? Ou novas almas teriam sido eduzidas por gerao?
difcil responder de maneira decisiva: todavia o essencial ser
salvaguardar sempre a unidade da alma na unidade do vivente.
- Corruptibilidade da alma.
De si a alma do vivente, que a forma de uma substncia composta,
segue a lei comum das substncias. Como tda forma substancial
"eduzida" da potncia da matria, no momento da gerao; e
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:27
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.3, C.5.
quando as condies corporais deixam de ser convenientes, perdese de nvo na potencialidade primitiva de onde havia sido tirada. O
caso da alma humana, diretamente criada por Deus para ser unida a
um corpo e sobrevivendo destruio do corpo, exige
evidentemente considerao parte. Na linha geral das teorias
biolgicas, ste caso deve ser considerado como uma exceo.
- Moo da alma sbre o corpo.
A tese do hilemorfismo da substncia animada permitiu-nos,
afastando por completo um materialismo insustentvel,
salvaguardar a unidade do vivente comprometida pelo dualismo
platnico. Mas como, neste sistema, ainda possvel reconhecer
alma uma atividade motora sbre o corpo?
antes de tudo claro que no se pode tratar de uma moo
prpriamente eficiente: o vivente todo inteiro que, enquanto
composto, exerce uma ao desta ordem; a alma pode, ento, ser
considerada parte s enquanto princpio formal, ou princpio quo.
Na realidade, como a forma exerce na atividade dos corpos
compostos o papel de fim, ser a ttulo de causa final que a alma
exerce, por primeiro, sua influncia sbre as operaes vitais.
Assim, no homem, todo o psiquismo inferior, ao mesmo tempo que a
atividade intelectiva, encontrar-se- ordenado alma espiritual.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA3-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:27
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.4, C.1.
AS POTNCIAS DA ALMA
1. INTRODUO.
Aristteles (De Anima II, c. 3) introduz assim esta questo. Tendo
sido a alma definida como princpio de atividades mltiplas e
diversas, sensaes, desejos, pensamentos, movimentos de
deslocao, etc .... o momento de se perguntar se pela alma
inteira que o vivente realiza tdas estas operaes, ou se ser
necessrio distinguir, para ste fim, partes diferentes na alma?
Deixando a exposio do De Anima que complexa demais, vamos,
a seguir, apresentar a doutrina no estado de sntese acabada como
se apresenta na Summa (Ia Pa, q. 77 e 78).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA4-1.htm2006-06-01 12:19:27
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.4, C.2.
2. A ESSNCIA DA ALMA NO PODE SER SUA POTNCIA.
, antes de tudo, necessrio reconhecer a existncia de princpios
de operaes distintos da essncia da alma? Tda uma srie de
argumentos tendem a prov-lo (cf. I, q. 77, a. 1; Quest. disp. De
Anima, a. 12).
1. Em uma
mesma linha,
ato e potncia
s podem
pertencer ao
mesmo
gnero
supremo de
ser. Ora, as
operaes da
alma no so
evidentemente
do gnero
substncia.
Portanto, as
potncias que
lhes
correspondem
no podem
pertencer a
ste gnero;
resta que
sejam
acidentes e,
portanto,
difiram
realmente da
essncia da
alma.
2. A alma
considerada
em sua
essncia est
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA4-2.htm (1 of 5)2006-06-01 12:19:28
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.4, C.2.
em ato. Se,
pois, fr
imediatamente
princpio de
operao,
ser preciso
dizer que age
de maneira
contnua: o
que
contrrio
experincia.
No ,
portanto,
princpio
imediato de
operao.
3. Sendo
diversas, as
atividades da
alma no
podem ser
atribudas a
um mesmo
princpio.
Ora, a alma
evidentemente
una. ,
pois,
necessrio
que haja,
distinta dela,
uma
pluralidade
de potncias
que explique
a diversidade
das
atividades
alegadas.
4. Certas
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA4-2.htm (2 of 5)2006-06-01 12:19:28
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.4, C.2.
potncias so
atos de
rgos
corporais
determinados
e outras no;
ora,
manifesto
que a
essncia da
alma, em sua
unidade, no
se pode
encontrar, ao
mesmo
tempo, nesta
dupla
situao;
para cada
caso, pois, h
potncias
distintas.
5. H
potncias que
agem sbre
outras, a
razo, por
exemplo,
sbre o
apetite
sensvel,
concupiscvel
ou irascvel;
o que no
evidentemente
possvel a
no ser que
se admita,
alm da
essncia da
alma, uma
pluralidade
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA4-2.htm (3 of 5)2006-06-01 12:19:28
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.4, C.2.
de potncias.
Deve-se notar:
- Que a
distino, de
que acabamos
de tratar, entre
a essncia da
alma e suas
faculdades, s
pode ser ideal.
- Que as
faculdades
devem ser
compreendidas
no gnero
"qualidade"
constituindo a
segunda das
quatro
espcies.
- Que entre as
potncias,
umas, que
implicam um
rgo
corporal,
existem no
composto ou
no vivente
total, como em
seu sujeito;
enquanto
outras, que
agem sem
rgos, so
diretamente
inerentes
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA4-2.htm (4 of 5)2006-06-01 12:19:28
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.4, C.2.
alma.
- Que as
potncias
emanam ou
procedem da
essncia da
alma, a qual
pode, de certa
maneira, ser
considerada
como sua
causa.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA4-2.htm (5 of 5)2006-06-01 12:19:28
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.4, C.3.
3. A ESPECIFICAO DAS POTNCIAS DA ALMA.
Pode-se, antes de tudo, distinguir na alma diversas potncias?
preciso evidentemente responder pela afirmativa. A multiplicidade e
a diversidade das operaes encontradas nos viventes, sobretudo
nos mais elevados, no se explicariam sem isso.
Mas como se distinguem estas potncias? S. Toms (cf. De Anima II,
l. 6; Ia Pa, q. 77, a. 3; Quest. Disp. De Anima, a. 13) fundando-se
sbre os princpios gerais de sua metafsica, sustenta que pelos
seus atos e pelos seus objetos:
"Potentiae
animae
distinguuntur
per actus et
objecta".
De si, com efeito, uma potncia ordena-se a um ato; de onde se
evidencia que as potncias diversificam-se segundo os atos com os
quais se relacionam. Mas, por sua parte, os atos so especificados
pelos seus objetos, o que se verifica ao mesmo tempo para as
potncias passivas e para as potncias ativas, sendo as primeiras
movidas por seu objeto, enquanto as segundas tendem para o seu
objeto como para um fim. Assim, pois, em qualquer hiptese, deverse- reconhecer que, por meio de seus atos, as potncias so
especificadas pelos seus objetos. Precisemos que as diferenas de
objetos, que aqui devem ser relevadas, so aquelas para as quais as
potncias so orientadas segundo sua natureza prpria. Os
sentidos, por exemplo, sero diversificados pelas qualidades do
objeto sensvel considerado como tal, cr, sonoridade etc., e no
pelo que lhe advm acidentalmente, como para o colorido, que
objeto da vista, a qualidade de gramtico; com efeito, acidental,
para ste objeto branco que percebo, ser um gramtico.
Esta doutrina da especificao das potncias pelos seus atos e seus
objetos ter, em S. Toms, uma importncia de primeirssima ordem:
tda a ordenao da psicologia e, explicando-se pelo mesmo
princpio a distino dos hbitos ou das virtudes, tda a ordenao
da moral, dela dependero. As cuidadosas anlises do tratado das
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA4-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:28
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.4, C.3.
virtudes da Secunda Secundae, em particular, no sero mais que
uma aplicao contnua desta verdade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA4-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:28
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.4, C.4.
4. DIVISO DAS POTNCIAS E DIVISES DA ALMA.
Esta questo foi tratada um certo nmero de vzes por S. Toms (cf.
De Anima, I, 1. 14 - II, 1. 3 e 5; Ia Pa, q. 78, a. 1; Quaest. disp. De
Anima, a. 13) . Contentar-nos-emos aqui com uma viso de conjunto
da bela exposio sinttica da Summa que agrupa a diviso das
potncias, a das almas, e a dos gneros de vida.
- H trs almas.
Esta primeira diviso refere-se ao mais profundo princpio da
atividade psquica, o qual v-se diversificado conforme seja sua
operao mais ou menos independente do corpo e de suas
atividades.
Assim encontramos de maneira sucessiva: a alma racional, cuja
operao no requer o exerccio de nenhum rgo corporal; a alma
sensitiva que s age por meio de rgos, mas sem que precisem
intervir as propriedades dos elementos fsicos; a alma vegetativa,
enfim, que, alm da atividade de rgos apropriados, supe a dos
elementos. Nos sres de grau mais elevado, a alma superior assume
as funes que de si provm de almas inferiores; assim no homem a
nica alma racional ao mesmo tempo princpio de vida intelectiva,
de vida sensitiva e de vida vegetativa.
- H cinco gneros de potncias.
Esta segunda diviso baseia-se na universalidade do conhecimento:
quanto mais uma potncia elevada, tanto mais o objeto que
considera universal. Dste ponto de vista somos levados a
distinguir trs grandes gneros de objetos: o corpo particular que
unido alma, o conjunto dos corpos sensveis, e o ser considerado
universalmente; e, paralelamente, seguindo uma ordem de perfeio
crescente: as potncias vegetativas e, relativamente aos dois outros
gneros de objetos, dois outros gneros de potncias, devendo-se
distinguir ainda stes gneros, segundo se trate de conhecimento
ou de apetncia, em sentido e inteligncia, de um lado, e em apetite
e potncia motora, de outro. Ao todo, existem para o homem, cinco
gneros de faculdades, denominadas aqui por S. Toms:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA4-4.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:29
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.4, C.4.
vegetativum,
sensitivum,
intellectivum,
appetitivum,
motivum
secundum
locum,
operando-se ulteriormente subdivises em espcie.
- H quatro modos de vida.
Esta ltima distino funda-se sbre a hierarquia de perfeio dos
viventes, originando-se esta da crescente complexidade dos
sistemas correspondentes de faculdades. Encontram-se assim sres
que s tm as faculdades vegetativas : as plantas; outros que tm, a
mais, a faculdade sensitiva, mas sem ser dotados de motricidade: os
animais inferiores; outros ainda que, a mais, tm a faculdade de se
mover: os animais superiores que vo por si busca do que lhes
necessrio para viver; outros enfim que possuem, a mais, a
inteligncia: os homens. Quanto ao apetite, no caracterstico de
nenhum gnero particular de vida visto encontrar-se analgicamente
em todo ser.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA4-4.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:29
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.5, C.1.
A VIDA VEGETATIVA
1. INTRODUO.
Nascer, nutrir-se, crescer, gerar, perecer, so atividades
reconhecidas nos sres que vivem em volta de ns e que
correspondem ao mais modesto grau de vida: a vegetativa. ste
grau, j o sabemos, tem por caracterstica referir-se, como a seu
objeto, ao corpo que informado pela alma (cf. Ia Pa, q. 78, a.1)
"vegetativum...
habet pro
objecto ipsum
corpus vivens
per animam.
Neste nvel encontramos trs grandes tipos de funes
especificamente distintos: a nutrio, o crescimento e a gerao.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA5-1.htm2006-06-01 12:19:29
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.5, C.2.
2. A FUNO NUTRITIVA.
Consideremos os fenmenos vitais mais comuns. Um dos mais
manifestos em sua constncia o da nutrio. Os sres vivos que
nos cercam no podem subsistir se no se alimentam. a prpria
evidncia: cesse um animal ou uma planta de se alimentar e deixar
de viver. A mais imediata razo da nutrio , pois, a conservao
do ser. Tal necessidade parece radicar-se no carter orgnico da
substncia viva. Os elementos simples no tm, prpriamente
falando, necessidade de uma atividade conservadora: so ou no
so. Os viventes, pelo contrrio, no podem manter o equilbrio de
suas diversas partes se no forem dotados de uma tal atividade.
Ainda h outros motivos que parecem justificar a existncia da
funo nutritiva. As duas outras grandes funes da vida vegetativa,
o crescimento e a gerao, s podem entrar em exerccio se o ser
vivo estiver alimentado. um fato de experincia. Assim, neste grau
da atividade vital, ocupa a nutrio o lugar de funo de base.
"Dizemos que
se nutre o ser
que em si
recebe algo
para a sua
conservao":
"id proprie
nutriri dicimus
quod in seipso
aliquid recipit ad
sui
conservationem".
Tal a definio dada por S. Toms no De Anima (II, l.9). Algumas
precises no sero inteis. Nem a absoro do alimento, nem as
alteraes qumicas que o alimento sofre na digesto -processo que
Aristteles atribua ao fogo, comparando-o a um cozimento - no
constituem, prpriamente falando, a nutrio. Esta consiste
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA5-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:29
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.5, C.2.
formalmente na converso do alimento na substncia daquele que
ele nutre, isto , na assimilao, pelo vivente, de uma substncia
estranha que o conserva em seu ser e lhe permite exercer suas
outras atividades. Tal operao, preciso notar, no pode ser
reduzida a uma simples adio ou justaposio de partes, mas
supe uma verdadeira transformao substancial.
Algumas aproximaes a operaes vitais de tipo anlogo sero
aqui de grande intersse.
J sabemos que a assimilao do alimento no pode ser reduzida a
uma simples justaposio material. Mas no se pode compar-la
gerao fsica dos elementos? Sem dvida, nos dois casos h
aparentemente transformao de uma substncia em outra com a
corrupo de uma das duas, mas as condies destas duas
operaes so completamente diferentes. Na gerao dos
elementos, o princpio e o termo da transformao so diferentes: o
fogo, conforme teoria antiga, origina-se do ar; enquanto que na
nutrio, o princpio e o termo da operao so, na realidade, o
prprio ser vivo. A nutrio, em outras palavras, uma atividade
imanente, enquanto que a gerao dos elementos fsicos no o .
Nos nveis superiores da vida sensitiva e da vida intelectiva, outras
aproximaes podem ser feitas. Encontra-se aqui, com efeito, uma
atividade, o conhecimento, que tem suas relaes com a nutrio
corporal. O ser senciente e o ser inteligente, de certo modo, nutremse, e falamos mesmo de alimentos espirituais, de fome e sde de
verdade. Mas ainda aqui preciso sublinhar as diferenas. A
chamada unio intencional do cognoscente com o conhecido algo
completamente singular. Nem o cognoscente, nem o conhecido,
encontram-se, como o alimento, destrudos em seu ato comum e
deve-se dizer que antes o cognoscente que se transforma no
conhecido. Por fim, enquanto as capacidades da nutrio corporal
so estreitamente limitadas, as das potncias de conhecer, pelo
menos as da inteligncia, parecem dilatar-se ao infinito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA5-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:29
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.5, C.3.
3. A FUNO DE CRESCIMENTO.
um fato que os viventes no atingem imediatamente seu pleno
desenvolvimento, em particular porque no tm de incio todo o seu
tamanho, mas crescem at ao ponto mximo que corresponde a seu
perfeito acabamento. O crescimento, e em especial o aumento
quantitativo, apresenta-se como um movimento original que parece
exigir uma faculdade especial: a vis augmentativa.
Coloca-se preliminarmente uma questo: o crescimento dos
viventes uma operao especificamente caracterizada de modo a
requerer uma potncia especial? No se poderia dizer que apenas
uma resultante da atividade de outras funes vegetativas? H
indcios disto. Com efeito, o crescimento de um ser vivo parece
depender de sua alimentao. Por outro lado, parece que a funo
que gera substancialmente um ser, a ele confere igualmente a
quantidade que lhe convm. Apesar dstes argumentos, S. Toms
no v no crescimento uma determinao especfica que possa ser
reduzida determinao das outras funes da vida vegetativa e
defende, conseqentemente, a existncia de uma faculdade original
explicativa dste fenmeno. Portanto, o objeto prprio do
crescimento precisamente a quantidade do ser vivo, podendo-se
definir assim, a faculdade que lhe correspondente: o poder graas
ao qual o ser corpreo, dotado de vida, pode adquirir a estatura ou a
quantidade que lhe convm, como tambm a potncia que lhe
corresponde:
"secunda
autem
perfectior
operatio est
augmentum
quo aliquid
proficit in
majorem
perfectionem,
et secundum
quantitatem
et secundum
virtutem"
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA5-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:30
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.5, C.3.
De
Anima,
II, 19
Como tda operao vital, o crescimento, que tem seu princpio no
ser vivo e nle termina, uma operao imanente.
Os sres inanimados so suscetveis de aumento por justaposio
mas, colocado parte talvez o caso dos cristais e daquilo que a
cincia contempornea chama de ultravirus, no so suscetveis de
um crescimento verdadeiro. O crescimento um movimento prprio
dos seres vivos.
Nos diversos graus da hierarquia dos seres vivos encontra-se
proporcionalmente um processo de desenvolvimento ou de
crescimento. Mas deve-se notar que fora do mundo corporal no se
pode falar prpriamente de aumento quantitativo: aqui s podemos
encontrar um crescimento segundo a qualidade. S. Toms, em seu
tratado sbre os "habitus", estudou bem de perto as condies
muito especiais dste processo. Aqui basta-nos assinal-lo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA5-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:30
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.5, C.4.
4. A FUNO DE GERAO.
Ao lado do poder de se nutrir e de atingir seu pleno
desenvolvimento, os sres vivos tm o poder de gerar ou produzir
um ser especificamente semelhante ao seu. A fsica peripattica j
falava de gerao a propsito dos elementos simples, tais como o
fogo, a gua, etc .... mas claro que nos sres vivos esta operao
reveste-se de modalidades especiais.
Para fixar a razo de ser da gerao podemos nos colocar em dois
pontos de vista diferentes:
- com relao ao
indivduo e ao
conjunto de
suas atividades,
a gerao
aparece como
um termo e
como uma
perfeio: um
termo,
relativamente s
outras
operaes da
vida vegetativa,
nutrio e
crescimento,
que a preparam;
uma perfeio:
pois que
procriar
comunicar seu
ser, dar-se, isto
, realizar, de
uma certa
maneira, aquilo
que se entende
por esta
expresso: "ato
do perfeito",
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA5-4.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:30
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.5, C.4.
"actus perfecti".
- com relao ao
conjunto dos
sres vivos, a
gerao aparece
como ordenada
a um fim
superior: a
conservao da
espcie. O que
perfeito, nesta
perspectiva, a
espcie que
dura; o que
imperfeito o
indivduo, o qual
no podendo
perptuamente
subsistir deve,
para sobreviver
de algum modo,
comunicar sua
natureza a
outros que a
prolongam. Aqui
a gerao
aparece como o
ato do que
imperfeito:
"actus
imperfecti".
fcil perceber
que estes dois
pontos de vista
so
complementares.
S. Toms (Ia Pa, q. 27, a. 2) define assim a gerao dos sres vivos:
"a gerao significa a origem de um ser vivo, a partir de um princpio
vivente conjunto, segundo uma razo de semelhana, em uma
natureza da mesma espcie".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA5-4.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:30
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.5, C.4.
"Generatio
significat
originem
alicujus
viventis a
principio
vivente
conjuncto
secundum
rationem
similitudinis
in natura
ejusdem
speciei".
Nesta frmula que tornou-se clssica: - "a origem de um ser vivo"
designa o carter comum a tda a gerao; "a partir de um princpio
vivente conjunto" precisa a diferena especfica da gerao dos
viventes; - pelas ltimas expresses "segundo uma razo de
semelhana" e "em uma natureza da mesma espcie", so afastadas
tdas as produes de um corpo vivo, tais como o crescimento dos
cabelos ou as diversas secrees, que no terminam em uma
natureza especificamente semelhante.
Abaixo do nvel da vida vegetativa encontra-se, ns o sabemos, um
tipo inferior de gerao, a dos elementos materiais, que se distingue,
sobretudo do precedente, pelo seu carter de atividade puramente
transitiva.
Acima, isto , no plano da vida intelectiva, no se encontra, no
sentido prprio da palavra, gerao, ao menos nos espritos criados;
o "verbum mentis", ou o conceito no qual exprime-se o
conhecimento intelectual, no da mesma natureza que o princpio
do qual procede. Exceo deve ser feita smente para Deus: pela f
somos levados a reconhecer n'le uma gerao, a da segunda
Pessoa da Trindade, cujo modo transcendente exclui qualquer
imperfeio. A Teologia pertence precisar como tentar conceb-la
(cf. Ia Pa, q. 27, a. 2).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA5-4.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:30
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.5, C.4.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA5-4.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:30
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.5, C.5.
5. CONCLUSO: O SISTEMA DA VIDA VEGETATIVA.
Do que foi dito conclui-se que no peripatetismo a vida vegetativa
constitui um conjunto de atividades bem caracterizadas e
sistemticamente ordenadas, situadas em um certo plano de
imaterialidade e, correlativamente, de imanncia. Entre as trs
grandes funes distintas h uma ordem: a nutrio aparece como a
operao fundamental pressuposta pelas duas outras. O
crescimento completa a nutrio e, juntas, as duas tm como fim a
gerao, na qual a vida vegetativa, de certa maneira, atinge seu
ponto culminante.
Restaria aqui submeter crtica esta ingeniosa teoria. claro que os
progressos imensos realizados pelas cincias da vida exigiriam
certos retoques. No certo, porm, que as profundas vises que
presidiram a esta organizao tenham perdido todo e qualquer valor.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA5-5.htm2006-06-01 12:19:30
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.1.
A VIDA SENSITIVA: O CONHECIMENTO SENSVEL
1. INTRODUO.
Acima dos sres dotados apenas de vida vegetativa, encontramos
sres vivos que possuem, a mais, uma atividade sensitiva. Esta tem
seu princpio em uma alma particular, alma sensitiva, que se
relaciona, de maneira imediata, a trs gneros de faculdades:
conhecimento sensvel, apetite sensvel e potncia motora, das
quais consideraremos as manifestaes vitais.
O conhecimento sensvel o que resulta da ao dos objetos
materiais sbre os sentidos. S. Toms, depois de Aristteles,
distingue, neste domnio, dois conjuntos de potncias: os sentidos
externos e os sentidos internos. Os sentidos externos so
imediatamente afetados pelos objetos sensveis, que, para serem
percebidos, devem estar presentes. Os sentidos internos recebem
seu conhecimento apenas por intermdio dos sentidos externos;
conservam os objetos e podem por isso reproduzi-los mesmo
quando no h mais sensao. Exterioridade e interioridade,
preciso notar, no so aqui relativas situao dos rgos dos
sentidos: pode mesmo acontecer que haja sentidos externos dentro
do corpo, como o tacto que, para Aristteles est no interior da
carne.
Acontece, s vzes, que o estudo dos sentidos precedido de
generalidades metafsicas sbre o conhecimento. Tais
consideraes, parece-nos, sero melhores colocadas no captulo
consagrado vida intelectiva onde encontram plena aplicao.
Entraremos, pois, diretamente na matria pela anlise da sensao.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-1.htm2006-06-01 12:19:31
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.2.
2. OS SENTIDOS EXTERNOS
A presente exposio tem por fundamento os textos aristotlicos do
"De Anima" (II, c. 5-12) e do "De Sensu et sensato". S. Toms
retomou, no seu conjunto, a teoria de Aristteles, orientando-a e
equilibrando-a de maneira um pouco diferente (cf. ainda os
comentrios dos textos precedentes: S. Th. Ia Pa, q. 78, a. 3; Quaest.
disp. De Anima, a. 13. Os comentadores, especialmente Joo de S.
Toms (Cf. Curs. phil., De Anima, q. 4 e 5) no deixaram de dar
precises que lhes so prprias. Ser necessrio, servindo-se de
tdas estas fontes, salientar a contribuio pessoal de cada um.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-2.htm2006-06-01 12:19:31
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.3.
3. O PROBLEMA DA SENSAO EM ARISTTELES.
O psiclogo moderno, ao abordar a teoria peripattica da sensao,
no pode deixar de se sentir um tanto desambientado, impresso
que no lhe advm to smente pelo encontro de uma tcnica
cientfica de outra poca, mas ainda porque se v diante de uma
problemtica bastante diferente daquela com que est acostumado.
Na teoria antiga, com efeito, a preocupao que parece impor-se
imediatamente a do carter ativo ou passivo da faculdade de
conhecer, o que, desde o incio, engaja-nos nas perspectivas de uma
metafsica do ato e da potncia, bem distante de nossas concepes
atuais.
Como quer que seja, para Aristteles a sensao aparece
originriamente como uma passividade: sentir antes de tudo
padecer ou alterar-se, sendo que, nesta concepo, o princpio ativo
o objeta percebido. Tal ponto de partida manifesta claramente uma
reao contra a teoria platnica do conhecimento que minimizava o
papel do objeto sensvel. Para o Estagirita, a prpria coisa exterior
que, de algum modo, vem afetar a potncia sensvel: "a sensao
resulta de um movimento padecido e de uma paixo". Convm,
todavia, notar que a alterao do sentido no de modo algum
redutvel alterao de uma realidade fsica submetida a uma ao
corrosiva. A potncia de conhecer, ao menos quando se trata de
sensaes normais, no de modo algum deteriorada no seu
comportamento passivo, nle encontrando mesmo seu
aperfeioamento autntico; a recepo da forma tem aqui um carter
muito particular: dir-se- que o sentido aquilo que capaz de
receber a forma sem a matria. Teremos ocasio de ver como S.
Toms soube tirar proveito desta idia. Basta agora reter que, para
seu mestre, a sensao sobretudo caracterizada pela passividade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-3.htm2006-06-01 12:19:31
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.4.
4. PASSIVIDADE E ATIVIDADE DOS SENTIDOS EM S. TOMS.
S. Toms retomou fundamentalmente a doutrina precedente: "Est
autem sensus quaedam potentia passiva quae nata est immutari ab
exteriori sensibili" (Ia Pa, q. 78, a. 3); "scientia consistit in moveri et
pati; est enim sensus in actu quaedam alteratio, quod autem
alteratur patitur et movetur" (De Anima, II, 1-10).
A sensao , portanto, o resultado de uma ao de um objeto sbre
o sentido que, por ste motivo, deve ser considerado como uma
potncia passiva. preciso concluir que seja apenas isto? No se
fala tambm em atividade para os sentidos? S. Toms no o
desconheceu. Muitas vzes, na sensao, parece dar um papel
bastante ativo faculdade de conhecer: "a viso mesma,
considerada em sua realidade, no uma paixo corporal, mas tem
como causa principal a potncia da alma" (De Sensu, 1-4). Como
conciliar stes dois pontos de vista? Reconhecendo dois momentos
no processo da sensao: um passivo, no qual o sentido
informado ou determinado pelo objeto exterior; o outro ativo,
constituindo o ato mesmo de conhecer, no qual a potncia
informada se determina. Os comentadores adotaram esta explicao
que tem por conseqncia acentuar, talvez mais que em Aristteles,
o carter ativo da sensao. Inicial e fundamentalmente, porm, esta
operao continua sendo uma passividade. S. Toms preocupou-se
igualmente em precisar a natureza especial desta passividade que,
como vimos, no deve ser confundida com a da matria. Diz S.
Toms (Ia Pa, q. 78, a. 3) que para um sujeito receptor existem dois
modos de ser afetado: conforme uma modificao de ordem natural,
immutatio naturalis, e conforme uma modificao de ordem
psquica, immutatio spiritualis; no primeiro caso, a forma recebida
no sujeito transformado conforme seu "ser de natureza"; no
segundo caso, conforme seu "ser intencional" ou objetivo. Na
sensao, ambas as transformaes podem ser encontradas, mas a
atividade psquica de percepo determinada, de modo prprio e
imediato, pela modificao espiritual que constitui ste tipo original
de passividade que caracterstica do conhecimento.
Observamos que, para os antigos, as duas passividades
encontravam-se associadas na atividade dos sentidos inferiores,
tacto e gsto, onde o rgo aparecia efetivamente alterado: a mo
que toca um objeto quente esquenta-se fisicamente, enquanto o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-4.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:32
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.4.
sentido do tacto percebe psiquicamente o calor; o olfato e o ouvido
comportavam modificaes fsicas apenas por parte do objeto,
como o sino que vibra, por exemplo; quanto vista, pensava-se que
fsse pura recepo intencional sem modificao fsica, nem do
rgo, nem do objeto. Atualmente, uma observao mais precisa
permitir-nos-ia discernir, em todos os casos, uma alterao orgnica
do sujeito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-4.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:32
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.5.
5. A "SPECIES" SENSVEL.
A sensao apareceu-nos como a recepo de uma forma em um
sujeito passivo. O que precisamente esta forma? Na terminologia
peripattica, ela recebeu a denominao de "species". Denominao
esta que, s vzes, precisada com o nome de "species impressa"
para distinguir a forma que est no como do conhecimento da que
se encontra no trmo como objeto conhecido, a "species expressa".
S. Toms s fala de "species", designando a forma que est no
como do conhecimento. Para a forma conhecida usar outras
locues. Faremos como le.
A "species" tem por funo prpria tornar o objeto exterior presente
faculdade de conhecer. O objeto exterior, com efeito, parte o
caso da essncia divina na viso beatfica, no pode informar
diretamente a potncia, sendo necessrio ser levado antes a um
certo grau de imaterialidade. Assim o objeto, na condio de
"species", vem determinar a sensao que, na ordem vital, ser
produzida pela potncia.
A "species" pode ser considerada de dois pontos de vista
diferentes: entitativamente, uma modalidade real de ser que se
encontra na potncia, qualificando-a conforme o tipo de unio
sujeito-acidente, para com ela constituir um terceiro trmo.
Objetivamente, ou na ordem intencional, informa a faculdade
maneira dos objetos de conhecimento, e conforme sse "esse
spirituale" do qual falamos. Evidentemente neste ltimo ponto de
vista que a "species" princpio especificador do conhecimento;
assim considerada, pura semelhana do objeto.
A produo da "species" no deve, de modo algum, ser concebida
como o resultado do transporte de uma forma do objeto conhecido
para a potncia de conhecer - no h, como bem disse Descartes,
"espces voltigeantes", mas sim como uma atuao da faculdade de
conhecer sob a influncia do objeto.
Esta influncia pode ser exercida de maneira direta e s pela virtude
da coisa percebida? P-ste ltimo ponto traz uma dificuldade. Para
que um objeto possa determinar uma potncia em sua linha prpria,
preciso que, do mesmo ponto de vista, esteja em ato. Assim, no
caso do conhecimento intelectual, onde o objeto no inteligvel em
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:32
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.5.
ato, veremos que preciso a interveno de uma potncia especial
de atuao, o intelecto agente. Seria necessrio uma potncia dste
tipo para o conhecimento sensvel? Dever-se-ia falar em um sentido
agente? S. Toms no pensa assim. Os objetos dos sentidos,
contrriamente aos objetos da inteligncia, podem ser considerados
j em ato ou no nvel da potncia cognoscitiva; podem, pois,
diretamente, vir a atuar o sentido e a determinar a formao da
"species".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:32
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.6.
6. O OBJETO DO CONHECIMENTO SENSVEL.
Pela sensao, o que atingimos das coisas exteriores? No o seu
ser total certamente. O sentido, com efeito, como tda potncia de
conhecimento, diretamente s pode apreender as formas:
"Obiectum
cuiuslibet
potentiae
sensitivae
est forma
prout in
materia
corporali
existit."
Ainda mais, convm precisar que no a forma substancial, ou a
essncia das coisas, que percebida, mas smente as formas
acidentais e, talvez mesmo, certas formas acidentais exteriores:
"Sensus
non
apprehendit
essentias
rerum sed
exteriora
accidentia
tantum."
Em suma, devemos considerar, como objeto dos sentidos, o
conjunto das qualidades da terceira espcie, denominadas
qualidades sensveis, s quais preciso acrescentar as
determinaes quantitativas dos corpos.
Aristteles, em um trecho que se tornou clssico, dividiu em trs
grandes classes os objetos da sensao (cf. De Anima, II, c. 6).
Os sensveis prprios. So os objetos particulares de cada um dos
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:32
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.6.
cinco sentidos externos: cr, som, odor, sabor, e o complexo
conjunto das qualidades percebidas pelo tacto (calor, frio, pso,
presso, resistncia, etc. ...). stes sensveis so chamados prprios
pelo fato de se relacionarem s a um sentido que determinam, o que
evidentemente pressupe que sejam especificamente distintos uns
dos outros. Cada sentido, portanto, percebe seu sentido prprio, e
no pode ser afetado pelo sensvel dos outros sentidos.
Os sensveis comuns. Como o nome indica, stes sensveis podem
ser apreendidos por vrios sentidos. Distinguem-se habitualmente
cinco: o tamanho, a figura, o nmero, o movimento e o repouso. A
vista, o tacto, e talvez o ouvido, tm uma certa percepo destas
coisas. Os sensveis comuns no constituem um objeto
absolutamente independente; supem o conhecimento dos
sensveis prprios ao qual conferem uma modalidade original.
Assim, quando vejo uma extenso colorida, a cr , nesta sensao,
o que especifica prpriamente a vista, mas a extenso igualmente
conhecida e poderia ser conhecida por outro sentido.
Os sensveis "per accidens". Esta ltima categoria de objetos no
diretamente apreendida pelos sentidos, mas ligada a coisas que so
efetivamente sentidas. Vejo uma mancha colorida: acontece que
um animal; declaro ento que vejo um animal. Tais objetos, v-se
claramente, no devem ser levados em considerao na teoria
especial do conhecimento dos sentidos externos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:32
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.7.
7. O REALISMO DO CONHECIMENTO SENSVEL.
neste ponto que mais radicalmente se opem a filosofia antiga,
mais realista, e o pensamento moderno, mais subjetivista. O mundo
exterior revelado pelos sentidos tal qual , ou smente de modo
aproximativo, ou mesmo, puramente simblico? Precisemos logo
que a objetividade, aqui colocada em causa, smente a dos
sensveis prprios e a dos sensveis comuns, e destes ltimos s no
caso em que so objeto de um s sentido. Tudo o que diz respeito
ao sensvel "per accidens" ou tudo o que, na percepo, supe uma
certa construo, est fora de nossas vistas.
O problema geral do realismo do conhecimento deve ser estudado
em outro lugar, a propsito da apreenso do ser, e do ponto de vista
da inteligncia. Portanto, aqui est em questo s o dado imediato
de cada um dos nossos sentidos.
O que sbre isso pensaram Aristteles e S. Toms?
Sua atitude sbre este ponto indubitvelmente realista: para eles
os dados imediatos dos sentidos so objetivos. Aristteles,
manifesta-o de incio com mais discrio: o que quer precisamente
manter, contra Protgoras, que o cessar da sensao no importa
no desaparecimento do objeto: " impossvel que os objetos que
produzem esta sensao desapaream s pelo fato de esta ser
suprimida, pois a sensao no se radica em si mesma; alm da
sensao h outra coisa que necessariamente a precede" (Cf.
Metaph., c. 5; De Anima, III, c. 2 e 3 ) . Existe identidade entre o
sensvel e o senciente no ato da sensao, repete ele tambm
constantemente; com relao ao sensvel prprio no pode haver
erro nos sentidos. S. Toms, por sua vez, expressa-o em frmulas
absolutamente inequvocas; a cr est no fruto que percebemos: "a
vista v, com efeito, a cr do fruto sem o odor; se perguntamos onde
est a cr que vista sem seu odor, claro que tal cr s poderia
estar no fruto" (S. Th. Ia Pa, q. 85, a. 2, ad. 2).
ste realismo, todavia, no tal que no admita certas mitigaes.
Antes de tudo, j vimos, diz respeito s aos sensveis prprios e, de
certa maneira, aos sensveis comuns; e s considera os acidentes
exteriores, permanecendo velada a essncia mesma das coisas. O
sentido, enfim, , por si s, incapaz de apreciar formalmente a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-7.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:32
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.7.
objetividade de seu conhecimento. Esta operao supe a reflexo
da inteligncia.
preciso ir mais longe. Em muitos lugares, por ocasio dos erros
dos sentidos, S. Toms abertamente d mostras de relativismo (cf.
sobretudo Metaph., IV, 1-14, n. 694 ss). Algo parece-nos pequeno ou
grande conforme visto de longe ou de perto: para julgar
objetivamente deve-se fiar na segunda dessas impresses. Os
sensveis comuns, alis, prestam-se a mltiplas iluses. Nota-se
igualmente que a cor de um objeto pode mudar com a distncia:
aqui ainda a viso prxima que a certa. Por outra parte, se os
rgos dos sentidos esto doentes, infetados de humor como nos
febricitantes ou nos que tm itercia, as sensaes ver-se-o
perturbadas. A debilidade do sujeito pode, enfim, ser causa de rro:
a quem fraco um pso leve parece pesado.
Impelido pelos fatos, S. Toms falou em relativismo. Mas no o teria
acentuado se se tivesse encontrado diante de uma anlise
metdicamente conduzida. Resta, entretanto, que para ele, como
para Aristteles, a potncia sensvel aparece antes como um
receptculo vazio; que tda especificao vem do objeto; e que pelo
menos em condies normais percebemos as qualidades sensveis
tais como so na realidade.
Os comentadores retomaram a precedente doutrina da objetividade
da sensao, completando-a em certos pontos. Reteremos aqui
apenas os aperfeioamentos trazidos por Joo de Santo Toms (cf.
Cursus Philos., De Anima, 6, a.4: Utrum requiratur necessario quod
objectum exterius sit praesens ut sentiri possit; a. 5: Utrum sensus
externi f orment idolam, seu speciem expressam ut cognoscant).
ste autor esfora-se por precisar em dois pontos principais a teoria
do realismo do conhecimento dos sentidos.
Declara, antes de tudo, que o conhecimento sensvel realiza o tipo
mesmo do conhecimento experimental, o qual se ope ao
conhecimento qiditativo como a apreenso imediata da realidade
concreta concepo abstrata das essncias, sendo a presena do
objeto conhecido, na faculdade de conhecer, o motivo prprio do
conhecimento experimental. Se no se admitir para o conhecimento
sensvel ste carter de imediato, pensa ele, todo o realismo de
nosso pensamento, que descansa sbre esta base, encontra-se
comprometido.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-7.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:32
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.7.
Com a mesma preocupao de garantir o imediato do conhecimento
sensvel, afirma nosso autor, em segundo lugar, que ao invs do que
se passa com a inteligncia, um tal conhecimento no atinge seu
objeto em uma concepo formada pelo esprito, ou em uma
"species expressa". O conhecimento sensvel s tem por termo a
coisa em si mesma, ou suas qualidades objetivas, que so
apreendidas diretamente pelo sentido. Que uma "species cxpressa"
no seja requerida, isso provm, antes de tudo, da condio da
coisa concreta que, estando efetivamente presente e em condies
de imediao suficiente, pode ser imediatamente captada. E provm
ainda do fato de que, sendo do gnero qualidade, a ao imanente
no supe necessriamente a produo de um termo. A coisa
concreta tem, no caso presente, tudo o que preciso para terminar
por si mesma o ato de conhecer e seria suprfluo recorrer, para
desempenhar este papel, a um substituto criado pelo esprito.
Alguns tomistas modernos, impressionados pelas dificuldades
postas por uma crtica mais avanada da sensao, aplicaram-se em
renovar a teoria antiga no sentido da relatividade (cf. por exemplo:
Frbes, Psychologie spculative, t. I, p. 108) .
Uma primeira modificao importante consiste em dar, do ponto de
vista da objetividade, um valor privilegiado s qualidades primeiras
(dados quantitativos) sbre as qualidades segundas (dados
qualitativos). A extenso e suas determinaes, em principio,
encontrar-se-iam na realidade tais como ns as percebemos, mas o
aspecto qualitativo da representao no verdadeiramente
objetivo. Se a cada qualidade percebida corresponde concretamente
uma determinao especial que justifica a especialidade da
sensao, no h entre os dois termos verdadeira semelhana. Vse quo profundamente a teoria antiga aqui se encontra
transformada. Para S. Toms, ao contrrio, a percepo da
qualidade que apresenta o mximo de garantia, produzindo-se os
erros antes na percepo dos sensveis comuns.
Alguns vo menos longe na sua reforma. O sensvel percebido
bem imediato e objetivo, mas como tal realizado apenas ao
contacto do rgo ou da potncia sensvel. O meio tanto exterior
como interior pode, com efeito, muito bem modificar as condies
da sensao. O objeto, em sua realidade, no seria portanto
necessriamente idntico representao que dle temos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-7.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:32
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.7.
O que reter de tudo isto? No duvidoso que S. Toms, nas sendas
de Aristteles, tenha reconhecido a objetividade das qualidades
sensveis; aparece igualmente que, quando o fato o constrangia,
mitigava com um certo relativismo esta primeira considerao. Podese ir mais longe que le nesta via? Sem dvida. Nada probe, em
particular, de se levar mais em conta as condies do meio e dos
rgos e de transportar assim, ao nvel da faculdade, o objeto tal
como ns o percebemos. Poder-se- progredir at ao ponto de dizer
que as qualidades percebidas so apenas smbolos das qualidades
reais das coisas, com finalidade sobretudo utilitria? Ser sempre
prticamente impossvel dar a esta questo uma resposta decisiva,
porque no tm os sentidos, como a inteligncia, o poder de refletir
sbre seu ato e, portanto, de julgar de seu exato valor. Como quer
que seja, h uma imediao e um certo realismo fundamental que,
no tomismo, dificilmente podem ser recusados ao conhecimento
sensvel.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-7.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:32
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.8.
8. POTNCIAS SENSVEIS E "MEDIUM".
Precisemos, em alguns pontos, a estrutura e o mecanismo das
potncias sensveis.
evidente que as potncias sensveis so potncias orgnicas, isto
, dependem ao mesmo tempo da alma que lhes princpio, e do
corpo onde se incarnam sob forma de rgos bem determinados: a
mais elementar anlise da sensao o testemunha. Assim, a alma,
quando separada do corpo, no possui mais suas potncias
sensveis, a no ser de modo radical, e no pode mais exercer atos
sensveis.
No sendo potncias puramente espirituais, no podem os sentidos
refletir perfeitamente sbre si mesmos, e no tm assim o
conhecimento distinto de sua atividade. Um certo poder de reflexo
todavia reconhecido, no peripatetismo, a um sentido particular, o
sensus communis, e assim possvel falar de uma certa conscincia
sensvel.
A fisiologia dos rgos dos sentidos no deixa de interessar a
Aristteles. Mas evidente que suas alegaes, por mais
engenhosas que sejam, precisam ser sriamente controladas e
completadas. Uma de suas concepes mestras neste domnio era a
de que os sentidos, para estarem em condio de receber uma certa
forma, deveriam estar privados dela; assim a pupila era feita de
gua, o que a tornava capaz de ser impressionada por tdas as
coisas.
Alm da potncia sensvel e de seu rgo, alm outrossim do objeto
que a determina, necessrio, para que haja sensao, que exista
um certo "meio" intermedirio.
A existncia dste parece repousar sbre uma dplice constatao.
Antes de tudo, no caso de ao menos trs sentidos (vista, ouvido e
olfato) ste meio aparece como um fato; o rgo est separado do
objeto sensvel por um certo intervalo de ar ou de gua que
manifestamente desempenha um papel de transmisso. Em segundo
lugar, evidente que suprimindo-se o meio pode desaparecer a
sensao: o objeto colorido colocado diretamente sbre o lho no
mais percebido; aproximado demais do ouvido, o objeto sonoro
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-8.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:33
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.8.
apenas provoca uma audio confusa. Evidencia-se, portanto, que a
ao do objeto sensvel tem necessidade de se refratar em um meio
para poder estar em condio de afetar convenientemente o rgo.
bastante curioso observar que Aristteles tenha estendido esta
teoria aos sentidos do tacto e do gsto, para os quais, ao contrrio
dos precedentes, parece impor-se o contacto corporal direto com o
objeto sensvel. A tambm o meio ainda existe e no outra coisa
que a carne, pois os rgos no esto na superfcie, mas no interior.
Do mesmo modo que os rgos, devem os meios estar em
condies de neutralidade com relao s formas que recebem:
assim o "difano", meio correspondente vista, incolor e,
semelhantemente, o meio do som insonoro. No caso do tacto e do
gsto, para os quais o meio a carne, matria necessriamente
qualificada, dir-se- que existe um certo equilbrio em qualidades,
uma "mediedade", que ser receptiva de tudo o que fr "excesso"
no reativo exterior: assim, a mo que temperada (isto , nem
quente nem fria) pode receber o calor e o frio dos objetos que a
tocam.
Qual exatamente o papel do meio nesta psicologia da sensao?
Sem dvida alguma, antes de tudo o papel de transmisso. Mas
servia tambm, na concepo dos antigos, para proteger os rgos
dos sentidos, aos quais poderia ser nocivo o contacto com o objeto.
Certos comentadores atribuam igualmente ao meio uma funo de
espiritualizao das formas, em vista de sua recepo pelos
sentidos. Seria graas a le que estas formas se tornariam sensveis
em ato.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-8.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:33
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.9.
9. O NMERO DOS SENTIDOS EXTERNOS.
Como se distinguem os sentidos entre si? No pelos rgos, pois
stes so relativos aos sentidos. Nem tampouco, e pela mesma
razo, pelos meios: Abstratamente consideradas, as qualidades
sensveis so apenas inteligveis e, portanto, aqui no servem para
nada. Resta que os sentidos se diferenciam por aquilo que lhes
convm formalmente, isto , pelo seu sensvel prprio (cf. S. Th., Ia
Pa, q. 78, a. 3; Quaest. Disp. de An., a. 13).
A partir dste princpio, distingue Aristteles os cinco sentidos que
se tornaram clssicos (De Anima, II, c. 6 ss). No dada nenhuma
razo a priori desta enumerao que assim parece no ter outro
fundamento alm da experincia vulgar. S. Toms, entretanto, que
gosta de tais ordenaes, deixou-nos uma dupla tentativa de
sistematizao destas potncias.
Podemos, antes de tudo, orden-las conforme seu grau de
imaterialidade relativa, proporcionando-se esta importncia da
modificao material que acompanha a "imutao" espiritual do
sentido. Assim, no cume estaria situada a vista que no implica em
nenhuma modificao corporal. Abaixo, viria o ouvido e o olfato que
comportam uma modificao por parte do objeto. No p da escala,
enfim, o gsto e o tacto que supem, a mais, uma modificao do
rgo. Tais observaes, evidentemente, precisariam ser
aperfeioadas, embora o princpio desta sistematizao permanea
sempre vlido.
No De Anima (III, l.17-18) S. Toms classifica os sentidos conforme
sua utilidade, ou segundo a finalidade que preenchem na vida
animal. O Doutor anglico distingue duas categorias de sentidos
depois de ter observado que, embora todos os viventes tenham
necessidade de uma funo nutritiva, nem todos tm
necessriamente faculdade de conhecer: os sentidos inferiores e
fundamentais, dos quais a vida animal no pode prescindir, ao
menos o tacto e o gsto, e os sentidos superiores, que conferem a
esta mesma vida uma maior perfeio, a saber, o ouvido, o olfato e a
vista, os quais so precisamente os sentidos que, pelo seu meio,
tm seu objeto distncia. Esta diviso teria sua razo de ser na
necessidade que sentem os animais superiores de se deslocar para
buscar seu meio de vida, circunstncia esta que evidentemente
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-9.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:33
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.9.
requer o uso de um maior nmero de sentidos. Os animais
inferiores, por encontrarem imediatamente a seu alcance o meio de
sustento, no precisam se mover, nem, em conseqncia, perceber
de longe. Explicao to engenhosa quo difcil de se verificar.
Dificuldade. O sentido do tacto um ou mltiplo? A diversidade das
impresses comumente aduzidas a ste sentido, como esforos
musculares, pso, calor, dor, etc., levam-nos naturalmente a
formular a questo. S. Toms j se inquietara com isto (cf. S. Th. Ia
Pa, q. 78, a 1, ad 3) . Estava inclinado a pensar que o tacto um
certo gnero que comportaria diversas espcies. Distinguir-se-ia
hoje, de bom grado, um sentido de esfro e um sentido trmico,
ligando-se o sentimento da dor antes afetividade. Aristteles
inclinava-se tambm a assimilar o gsto ao tacto, fazendo do gsto
uma espcie de tacto limitado lngua.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-9.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:33
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.10.
10. A TEORIA ARISTOTLICA DA VISO.
Em razo das aplicaes particulares que encontra, tanto em
Teologia como em Filosofia (doutrinas da inteleco, da f, da viso
beatfica), e por causa de seu intersse prprio, a teoria da viso
merece reter-nos um pouco mais (c. S. Toms, De Anima, II, l. 11-15;
De Sensu, l. 2-9) .
O objeto da vista o visvel. Ora, na ordem do visvel encontramos
duas coisas: a cr e o luminoso. A cr o visvel por si, enquanto
que o luminoso no ser visvel a no ser pela cr. Vejamos mais
acuradamente como se ajustam stes elementos. O conjunto dos
corpos transparentes, e mesmo opacos, possui em comum uma
certa natureza, o difano (perspicuum). ste, de si, pura potncia.
Encontra-se determinado pelo `fogo ou pelos corpos celestes: seu
ato ento a luz. Mas sabemos que a luz smente um princpio de
visibilidade: torna-se visvel efetivamente apenas quando atuada
pela cr que o limite dos corpos opacos. O objeto ser, portanto,
visvel em ato, quando o difano encontrar-se ao mesmo tempo
iluminado e determinado pela cr. Em tda esta explicao -
preciso notar - no h trao de movimento local; todo o processo
resulta da alterao qualitativa.
No De Sensu, a presente teoria v-se oposta s concepes
emissionistas de Plato, de Empdocles e de Demcrito. A viso,
segundo stes filsofos, deveria ser antes compreendida como uma
irradiao luminosa do lho: ste, sendo da natureza do fogo,
emitiria algo do fogo que faria perceber os objetos circunstantes.
Muitas vzes se admitia mesmo que partculas emanassem dos
corpos exteriores. A viso seria, ento, provocada pelo encontro de
duas correntes. Aristteles, por sua vez, no cria que o lho fsse
um centro luminoso ativo; no constitudo de fogo mas sim de
gua e seu comportamento, frente ao objeto, de pura passividade.
Na doutrina peripattica era o branco a cr fundamental, ao qual se
opunha o prto; as outras cres eram formadas por uma
combinao de branco e prto.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-10.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:33
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.10.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-10.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:33
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.11.
11. OS SENTIDOS INTERNOS
Os sentidos externos atingem apenas os sensveis prprios ou
comuns, e smente em sua presena. Ora, a experincia manifesta
que nossa atividade de conhecimento sensvel estende-se alm
desta percepo imediata dos objetos. Conservamos nossas
sensaes e podemos espontneamente reproduzi-las; por outra
parte, podemos compar-las, associ-las ou referi-las s
necessidades prticas do sujeito. O conjunto destas atividades
requer evidentemente outros podres alm dos simples sentidos
externos: so os sentidos internos.
Conforme seu costume, S. Toms esforou-se por dar uma
justificao a priori da existncia dstes sentidos (cf. Ia Pa, q. 78, a.
4). Duas razes principais parecem motiv-lo. O animal perfeito,
antes de tudo, devendo deslocar-se para atender s suas
necessidades, deve ser capaz de representar a si mesmo os objetos
sensveis, mesmo quando no esto presentes. Por outra parte, para
que possa discernir o que lhe convm e o que no lhe convm,
necessrio que tenha um certo sentido do til e do nocivo, sentido
ste que no pode ser reduzido percepo externa do objeto.
assim que, retomando o exemplo antigo, a ovelha foge vendo o lbo,
no porque a cr ou a forma dste animal desagrade seu olhar, mas
porque v que seu inimigo. Tais arrazoados merecem
considerao. Na realidade, o discernimento dos sentidos internos
origina-se antes da anlise do dado do conhecimento sensvel, o
qual manifesta "razes objetivas" que no so redutveis s razes
dos sentidos externos. Como em todos os casos semelhantes,
convm reconhecer tantas potncias especiais quantos objetos
novos especificamente distintos. O peripatetismo enumera quatro,
aos quais correspondem os quatro sentidos internos: "sensus
communis", imaginao, estimativa e memria.
Aristteles estudou esta questo dos sentidos internos no De Anima
(III, c. 1-3) e no De Memoria et Reminiscentia. S. Toms comentou
stes textos e deu uma viso sinttica de seu contedo na Summa
Theologica ( Ia Pa, q. 78, a. 4) e nas Quaest. Disp. De Anima (a, 13) .
Em tdas as elaboraes destas exposies, de aparncia um tanto
convencional e rgida, esconde-se uma grande riqueza de
observaes e uma verdadeira fineza de discernimento psicolgico.
(Cf. Texto III, Sentidos internos e sentidos externos, pg. 193) .
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-11.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:34
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.11.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-11.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:34
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.12.
12. O "SENSUS COMMUNIS".
Para Aristteles, o "sensus communis" parece preencher uma
trplice funo: percepo dos sensveis comuns, reflexo sbre a
atividade sensvel, separao e comparao dos objetos
pertencentes a vrios sentidos diferentes. S. Toms notifica apenas
as duas ltimas funes.
A. A conscincia sensvel.
Cada um dos sentidos particulares parece ter um mnimo de
conscincia de sua atividade. Ao menos sabe vagamente que
funciona. Mas corno as potncias sensveis no refletem sbre si
mesmas seno de maneira completamente imperfeita, prefervel
atribuir ste papel a um sentido distinto. ste o "sensus
communis" que percebe que vejo, que ouo, etc. Nele realiza-se e
unifica-se o que se pode chamar de conscincia sensvel, estreita-.
mente associada no homem, conscincia intelectual.
B. A centralizao dos conhecimentos sensveis.
O "sensus communis" no s tem conscincia das atividades de
cada um dos sentidos, mas ainda as aproxima e compara, o que no
podem fazer os sentidos particulares, fechados nos limites de seus
objetos prprios. ste objeto, que percebo atualmente, parece
conjuntamente colorido e externo minha vista, sonoro aos meus
ouvidos, spero e frio minha mo: graas ao "sensus communis"
que estas sensaes se reproduzem de modo simultneo, e que se
estabelece uma certa unidade, em minha conscincia, entre stes
dados diversos. Sem ele, a percepo global do objeto sensvel seria
inexplicvel.
Por ste poder de centralizao dos dados sensveis, v-se que o
sentido em questo s pode estar em estreita continuidade com os
sentidos externos. Para S. Toms uma espcie de fundo comum,
aparecendo assim o sistema do conhecimento sensvel como um
feixe de potncias radicadas em uma faculdade central. Todavia, o
"sensus communis" continua sendo uma potncia distinta com suas
funes prprias. No conjunto do organismo do conhecimento,
uma espcie de ligao intermediria, encarregada, sobretudo, de
transmitir s potncias superiores os dados primeiros da sensao.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-12.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:34
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.12.
Todos os animais, para Aristteles, so necessriamente dotados
dste sentido, enquanto os outros sentidos internos encontram-se
apenas nos animais superiores.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-12.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:34
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.13.
13. A IMAGINAO.
No aristotelismo, esta faculdade desempenha um dplice papel. Em
primeiro lugar, recebe e conserva as impresses sensveis que lhe
so transmitidas pelo "sensus communis" e, a sse ttulo, uma
espcie de memria; em segundo lugar reproduz, na ausncia do
objeto exterior, as impresses.
Em razo desta dupla atividade, a imaginao no pode ser reduzida
a nenhum dos sentidos vistos aqui, nem mesmo ao "sensus
communis", que no conserva e, portanto, no pode reproduzir as
imagens. Tais funes so, para S. Toms, completamente originais
e uma pura faculdade receptora impotente para pratic-las. Por
outro lado, deve-se distinguir a imaginao dos outros sentidos
internos: da estimativa que, como veremos, considera certas
relaes abstratas que no so percebidas pelos sentidos; da
memria que implica sempre referncia ao passado, estranha,
tambm ela, ao simples dado dos sentidos.
A atividade da imaginao. Os psiclogos modernos desenvolveram
considervelmente o estudo das diversas atividades desta
faculdade, esforando-se por determinar, com tda preciso
possvel, as leis de revivescncia, de associao, de modificao
das imagens, etc. No se encontra nada de semelhante nos estudos
dos antigos. stes, todavia, tinham perfeitamente tomado
conscincia do papel capital desempenhado na vida psquica pela
imaginao. Para les, a imaginao est na base da vida passional.
tambm a faculdade dos sonhos e por suas iluses que o erro
penetra no esprito. Acrescentemos que as anlises feitas
posteriormente em nada contradizem a estas observaes primeiras,
e seus resultados vm perfeitamente tomar lugar nos quadros que
elas determinam.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-13.htm2006-06-01 12:19:34
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.14.
14. "ESTIMATIVA" E "COGITATIVA".
A doutrina da "estimativa" e da "cogitativa" - se podemos traduzir
assim os termos "estimativa" e "cogitativa" - uma das mais
notveis concepes da psicologia do conhecimento sensvel que
estudamos.
um fato que os animais buscam certos objetos ou dles fogem,
no smente enquanto stes tm uma relao favorvel ou
desfavorvel com tal sentido particular, mas ainda porque so teis
ou nocivos natureza do indivduo considerado em sua totalidade.
A ovelha, gosta de repetir S. Toms, foge do lbo, no em razo de
sua cr ou de sua forma, mas como nocivo sua natureza; e,
semelhantemente, o passarinho recolhe palhas, no por prazer dos
sentidos, mas em vista do ninho a construir.
Ora, claro que tais objetos, isto , a razo da utilidade ou da
nocividade, no caem sob nenhum dos sentidos prprios. Por outro
lado, ao menos no animal, no se pode dizer que sejam percebidos
por uma inteligncia, que no existe. Resta, pois, que existe um
poder sensvel especial, tendo por objeto estas relaes no
sensveis, "intentiones insensatae", a partir das quais as potncias
afetivas e motoras podero reagir.
A teoria da estimativa, acabamos de reconhecer, parece ter sido
inventada para explicar certas reaes originais dos animais. Mas,
movimentos semelhantes no so encontrados tambm no homem,
no nvel de sua atividade sensvel? No h, portanto, razo alguma
que proba admitir, tambm no caso do homem, a existncia dste
sentido interno. V-se logo, todavia, que, em seu psiquismo mais
elevado, esta potncia ter uma condio especial, levando-se
particularmente em conta a influncia que sobre ela exercer a
inteligncia, que a faculdade superior de govrno. Mas aqui se
reservou para ela um nome particular; na tradio agostiniana, falase em um sentido aproximado ratio inferior. S. Toms fica com o
trmo cogitativa. De modo preciso, a "cogitativa" distingue-se da
estimativa por ter um campo de exerccio mais extenso e sobretudo
por poder, em razo de sua proximidade com as faculdades
superiores, efetuar, na ordem concreta, aproximaes que confinam
com as snteses prpriamente intelectuais.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-14.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:34
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.14.
Em virtude desta vizinhana com a vida do esprito, deve a
"cogitativa" ter, no psiquismo humano, um papel extremamente
importante. Entre o sentido, que considera o singular concreto, e a
inteligncia, que a faculdade do universal abstrato, desempenha
papel de mediadora. Intervm assim na constituio dos esquemas
imaginativos que serviro de matria inteleco. E a ela que
encontramos quando se trata de adaptar os imperativos superiores
da razo ao no mundo sensvel. Se, por exemplo, quero
escrever, a "cogitativa" que pe em relao, em meu esprito, esta
caneta, que tenho entre meus dedos, com o fim a conseguir, isto ,
com os caracteres a traar sbre a pgina branca diante de mim.
Estudando esta faculdade, pensa-se evidentemente nos modernos
estudos sbre o instinto. No se duvida que a atividade do instinto
esteja ligada a ste crculo de fenmenos que so hoje em dia
agrupados sob ste ttulo. Todavia devemos notar que, na anlise
antiga, era antes o aspecto cognitivo dos fenmenos desta ordem
que era colocado em evidncia. Um estudo do instinto, feito nesta
linha, deveria aparecer portanto com um carter intelectual ou
imaginativo bem marcado, no se excluindo de modo algum a
possibilidade de reflexos absolutamente independentes da atividade
do conhecimento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-14.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:34
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.15.
15. A MEMRIA SENSVEL.
O ltimo dos sentidos internos, a memria, tem uma funo precisa
e limitada. A conservao e a simples reproduo das impresses
sensveis , como dissemos, trabalho da imaginao. O que advm
memria, assim parece, ser o "tesouro" destas relaes abstratas
concebidas pela "cogitativa": ela as desperta na conscincia ao
mesmo tempo que desperta as imagens. Mas o carter
verdadeiramente distintivo desta faculdade seu poder de
representar as coisas como passadas, "sub ratione praeteriti".
Dizemos que algum se lembra de alguma coisa quando pode
relacionar sua percepo com o passado: ontem encontrei tal
pessoa; a imagem dste acontecimento apresenta-se minha
conscincia com sua situao no tempo.
Como se opera esta ligao da imagem ou das relaes evocadas
com um momento determinado do tempo? Isto no pode ser feito
pela inteligncia, pois esta capta o seu objeto em condies de
abstrao que o situam acima do curso do movimento e, portanto,
do tempo; por isso, no haver no homem memria intelectual pura.
A apreenso do movimento , de modo imediato, uma percepo
sensvel e nesta que se funda o conhecimento do tempo. A ordem
temporal dos fenmenos assim apreendidos inscreve-se na memria
que , por isso, capaz de a reproduzir. Basta que um dstes
fenmenos se lhe apresente, e estar em condio de situ-lo
temporalmente com relao aos outros.
No animal, esta revivescncia do passado realiza-se de modo
automtico. Na conscincia humana, pode tambm ser o resultado
de uma procura ativa que recebe o nome de reminiscncia. A
psicologia moderna trar complementos preciosos anlise dos
antigos, precisando as condies e as modalidades, no quadro do
tempo, desta revivescncia dos fenmenos anteriormente
percebidos Mas parece no poder mudar em nada a definio
mesma do fato de memria, ou sua especificao por esta "ratio
praeteriti", to claramente reconhecida pelo aristotelismo. Aqui,
como para os outros sentidos internos, parece esta filosofia ter
conseguido elevar-se a um discernimento notvelmente preciso e
exato dos objetos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-15.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:35
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.15.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-15.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:35
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.16.
16. A AFETIVIDADE SENSIVEL E O PODER DE SE MOVER
Ao lado de nossos atos de conhecimento, a anlise mais elementar
distingue, no curso de nossa vida psquica, todo um conjunto de
atos, volies, sentimentos e afeies diversas que manifestamente
so de outra ordem. Esta constatao leva-nos a reconhecer a
existncia, alm de nossas potncias cognitivas, de um grupo de
faculdades que chamaremos apetitivas, se acentuarmos o aspecto
tendencial de sua atividade, e afetivas, se pelo contrrio
sublinharmos seu comportamento com relao ao sujeito. Notamos
logo que a psicologia aristotlica, indo ao encontro de certas
doutrinas mais recentes, atribui s mesmas faculdades os dois
aspectos da vida afetiva. Assim, desejar ou querer um objeto e gozlo ou padec-lo, so atos de uma s faculdade. Da resulta que para
o conjunto do psiquismo humano devemos distinguir s mente duas
e no trs ordens de faculdade: as de conhecimento e as de
apetncia, diviso esta que tem o seu fundamento na metafsica
geral da ao.
No que se segue, limitar-nos-emos a expor, em suas grandes linhas,
a doutrina de S. Toms. Tudo o que diz respeito anlise das
paixes, j notvelmente estudada pelos antigos, e tudo o que
concerne a seu valor moral, ser deixado de lado. Portanto, antes
que uma psicologia no sentido moderno, ou uma moral,
encontraremos aqui uma metafsica da afetividade. Para ste estudo,
cf. S. Th. (Ia Pa. q. 80 a. 1-2; q. 81 a. 1-2) e De Veritate (q. 25 a. 1-2).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-16.htm2006-06-01 12:19:35
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.17.
17. AS POTNCIAS AFETIVAS
Consideremos o artigo com o qual S. Toms, na Summa, inaugura
seu tratado (Ia Pa, q. 80 a. 1). A existncia de uma vida apetitiva ou
afetiva um fato de experincia. Mas, reconhecer no princpio desta
vida, a existncia de potncias especiais, pode trazer dificuldades.
No se poderia dizer que a apetio, sendo um fenmeno totalmente
geral encontrado nos sres inanimados, como tambm nos viventes,
apenas a inclinao que se segue natureza de cada ser? Isto
aparece, em particular, no caso das faculdades da alma, que
parecem ordenar-se por si mesmas a um objeto. Por que, pois,
requerer, ao lado dessa inclinao de natureza, o exerccio de um
poder especial de apetncia?
S. Toms responde a esta dificuldade lembrando o princpio que vai
dirigir tda a questo: a tda forma segue-se uma tendncia,
"quamlibet formam sequitur aliqua inclinatio". assim que o fogo
por natureza inclinado para os lugares superiores, e tende a gerar
fogo. Dois casos podem, ento, apresentar-se:
- o dos sres
que so
destitudos de
conhecimento:
nestes
encontra-se
apenas uma
forma que os
determinar
segundo o
seu ser
prprio e
qual segue-se
uma
inclinao
natural que se
denomina
appetitus
naturalis;
- o dos sres
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-17.htm (1 of 5)2006-06-01 12:19:35
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.17.
que tm
conhecimento:
aqui, com no
caso
precedente,
encontra-se
uma forma e
uma
inclinao
natural, mas
ainda, por
causa da
amplitude
dsses sres,
encontramse, nas
potncias de
conhecer, as
formas das
outras coisas
que foram
recebidas sob
um modo
mais elevado
de existncia.
A estas
formas
eminentes
deve
corresponder
uma
inclinao, de
um tipo
igualmente
mais elevado,
que levar o
ser dotado de
conhecimento
para o bem
apreendido, e
esta
inclinao
ser
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-17.htm (2 of 5)2006-06-01 12:19:35
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.17.
designada
pela
expresso
appetitus
animalis.
Divises do apetite: appetitus naturalis, appetitus animalis. Convm
que voltemos a esta distino para precisar bem seu significado.
O "appetitus naturalis", designa a inclinao que, de modo
completamente universal, acompanha tda forma. Esta inclinao
no nada mais que a tendncia sempre atual que relaciona uma
forma a seu bem ou suei perfeio. Como a forma que est em seu
princpio, o "appetitus naturalis" algo de nitidamente determinado:
o corpo pesado inclina-se de maneira constante para baixo; isto est
em sua natureza.
O "appetitus animalis" segue-se forma apreendida no
conhecimento: o animal v sua prsa e levado - a atirar-se sbre
ela. ste tipo de apetncia distingue-se do precedente de muitas
maneiras. Primeiro que tudo, no est continuamente em ato. Antes
de perceber sua prsa, o animal tem smente o poder de se lanar
sua busca. O apetite animal ser, portanto, uma potncia capaz de
ser atuada. Por outro lado, esta potncia deve ser distinguida das
faculdades de conhecer: o que se deve concluir da diversidade
especfica entre a atividade de conhecer, que assimiladora e
termina no sujeito, e a atividade de apetncia que diz tendncia, e
tendncia para um outro. S faculdades distintas sero capazes de
explicar atos to diferentes. Notar-se-, enfim, que o "apetite animal"
no , como o "apetite natural", limitado a uma s forma de ser.
capaz de tomar para si tdas as formas que as potncias cognitivas
forem capazes de receber. Ainda mais, se consideramos apenas o
apetite prprio s faculdades, deveremos dizer, que, enquanto o
"apetite natural" de uma dada faculdade visa apenas o bem prprio
desta mesma faculdade, o "apetite animal", que lhe corresponde,
estende-se a todo bem do prprio sujeito. Pelo fato de comportar a
atuao de uma potncia, o "apetite animal" foi designado pela
expresso, "apetite elcito", que de uso corrente.
Casos particulares das faculdades. - Se agora aplicarmos a
descrio estabelecida para o caso destas naturezas de ser que so
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-17.htm (3 of 5)2006-06-01 12:19:35
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.17.
as faculdades, deveremos dizer que: na faculdade de conhecer h
smente um "apetite natural" que a ordena para seu objeto. Assim,
por exemplo, na vista, h um apetite natural que a ordena para a cr;
mas para a faculdade apetitiva correspondente, pode-se falar em
dois apetites distintos: de um "apetite natural", sempre atual para o
bem desta faculdade, e de um "apetite elcito" que, depois de um ato
de conhecimento, determina-a para tal bem particular. Retomando
nosso exemplo, diremos que o animal, antes de perceber sua presa,
tem na potncia visual um "apetite natural" para tda a ordem do
visvel, e em sua afetividade um outro "apetite natural" para tudo o
que pode preencher seu desejo. Em sua conscincia sobrevm a
imagem da prsa cobiada e a potncia afetiva "elicita" ste ato de
desejo que determina o processo da captura.
Apetite sensvel e apetite intelectual: (Cf. Ia Pa. q. 80 a. 2). A
distino destas duas formas de apetite no apresenta dificuldade
de princpio. Supe smente bem estabelecida a especificidade
respectiva das duas ordens do conhecimento sensvel e do
conhecimento intelectual. A partir disto, raciocina-se bem
simplesmente. As potncias apetitivas, sendo potncias passivas,
sero distinguidas conforme a diversidade dos princpios motores
que as determinam. Ora, aqui sses princpios so os atos de duas
potncias genricamente diferentes, os sentidos de uma parte, e a
inteligncia de outra. Portanto, devem aqui existir duas espcies de
potncias apetitivas, as que se relacionam com o conhecimento
sensvel e as que correspondem ao conhecimento intelectual.
importante notar que o fato de ser apreendido pelo sentido ou pela
inteligncia no , para o objeto desejado, uma circunstncia
puramente acidental. A razo ou o motivo de apetio , nos dois
casos, formalmente diferente: a afetividade sensvel orientar-se- to
smente a bens particulares, considerados como tais, enquanto o
apetite intelectual, isto , a vontade, visar sempre stes bens
particulares sob a razo universal de bem. Embora versem sbre as
mesmas coisas que esto fora da alma, as tendncias voluntrias e
as inclinaes sensveis no so especficamente as mesmas, o que
supe que se distingam perfeitamente as faculdades.
Apetite concupiscvel e apetite irascvel: (Cf. Ia Pa, q. 81, a. 2).
Abordando os problemas particulares do apetite sensvel, S. Toms
levado a estabelecer uma nova diviso de duas distintas
faculdades desta ordem, diviso que ter sua importncia moral. O
princpio de discriminao invocado o que conhecemos bem: onde
existir razes de objeto especficamente diferentes, devem-se
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-17.htm (4 of 5)2006-06-01 12:19:35
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.17.
encontrar potncias igualmente diferentes. Ora, nossa atividade
sensvel, imitao da simples fra da natureza, pode ocupar-se de
duas espcies de objetos ou de bens distintos: s vzes, de bens
simplesmente desejveis, "bonum simpliciter" (ou de males
simplesmente a fugir); s vzes, de bens que me parecem difceis a
atingir "bonum arduum". No primeiro caso, opera o apetite
concupiscvel; no segundo, deve intervir uma outra potncia, o
apetite irascvel.
Que o bem desejvel nos aparea s vzes como fcil e s vzes
como difcil de ser conquistado, evidente por si. Mas, poder-se-ia
perguntar, uma tal circunstncia suficiente para criar uma
diferena especfica de objetos e, portanto, da faculdade? Em favor
desta diferena especfica S. Toms faz valer diversos argumentos.
As paixes dos dois tipos parecem combater-se e enfraquecer-se
mutuamente, o que insinua a exigncia de uma distino
correspondente de potncias.
Por outro lado, o que talvez seja mais decisivo, o apetite irascvl
apelaria para outras faculdades de conhecer, diferentes das
faculdades do apetite concupiscvel: para desejar, ou para amar
basta ter sensaes ou imagens; enquanto que para se encolerizar
preciso, alm disso, ter tomado conscincia das relaes abstratas
atingveis s pelos sentidos internos superiores, cogitativa e
memria; o irascvel, por outro lado, engaja mais a razo. Embora
distinguindo duas faculdades de apetio, convm no deixar de
restabelecer uma certa unidade entre elas: as paixes originadas de
uma e de outra encadeiam-se e carreiam-se mutuamente. Mais
profundamente, devemos dizer que o concupiscvel tem algo de
mais fundamental, e que assim o irascvel enraza-se, de certo modo,
nle.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-17.htm (5 of 5)2006-06-01 12:19:35
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.18.
18. OS ATOS DO APETITE SENSVEL.
Devem ser colocados nesta classe todos os atos de apetncia que
resultam imediatamente da apreenso sensvel de um certo bem ou
de um certo mal. Sendo orgnicas as faculdades que os "elicitam",
tais atos so necessriamente acompanhados de modificaes
corporais. Prevaleceu o uso de as denominar indiferentemente
paixes, quer designem uma tendncia ou um movimento de carter
ativo, quer uma afeio aparentemente passiva. S. Toms distinguiu
onze paixes caractersticas, divididas entre o apetite concupiscvel
e o apetite irascvel. So elas na ordem terica de sua gnese: o
amor, que a raiz de tda a vida afetiva, o dio, o desejo, a fuga, a
esperana, o desespero, o mdo, a audcia, a clera, a alegria, a
tristeza. Conforme o uso, deixamos Moral o estudo detalhado de
cada uma destas afeies da alma.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-18.htm2006-06-01 12:19:36
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.19.
19. A FACULDADE MOTORA
Cf. Aristteles, De Anima, III, c. 9-11 e o Comentrio de S. Toms.
A questo da existncia de uma faculdade especial, relativa ao
movimento local dos viventes, parece ter preocupado sriamente a
Aristteles. Os animais, ao menos alguns entre les, deslocam-se de
modo espontneo. Isto um fato. Mas no bastaria para explic-lo
recorrer s potncias que j conhecemos?
A faculdade nutritiva, a mais elementar de tdas, evidentemente
incapaz de explicar tais fenmenos. O movimento dirigido por um
fim e isto supe a interveno de atos psquicos, como
representaes e desejos, que no so encontrados na planta que,
efetivamente, permanece imvel. A simples sensao aqui
igualmente ineficaz, pois no h animais que sentem e no se
movem? No se poderia dizer ento, que o intelecto, auxiliado pela
imaginao e o desejo ou inclinao sensvel, que est na origem
dos processos de deslocao? De maneira incontestvel, atingimos
aquo os verdadeiros antecedentes dste modo de atividade: tenho o
pensamento de ir para tal lugar e o desejo de chegar at l e, sob
ste dplice impulso, ponho-me a caminho. Mas que se observe bem
que por si ss, a representao e o desejo no podem bastar. Sem
dvida exigido o concurso dstes dois elementos, mas, alm
disso, necessrio, para que eu me coloque em marcha, a
interveno de uma potncia encarnada nos rgos motores do
corpo. O paraltico, no qual estas potncias encontram-se como que
prsas, no se pode mover, seja qual fr seu desejo de o fazer e
sejam quais forem as imagens motores que possa evocar. Para se
deslocar, pois, o animal dever, sempre dirigido pelas potncias
superiores de conhecimento e apetncia, pr em funcionamento
uma potncia orgnica especial que, de modo imediato, provocar o
movimento dos membros donde resultar a mudana de lugar.
Nesta anlise, cujo intersse no passar despercebido a ningum,
Aristteles parece ter tido diretamente em vista os movimentos de
deslocamento conscientes e diretamente imperados, seja pela
vontade deliberada (smente no caso do homem), seja pelo
psiquismo sensitivo (para todo animal). De modo corrente admitem
os psiclogos a existncia paralela de reflexos automticos que
acionam a potncia motora sem a interveno das faculdades
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-19.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:36
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.6, C.19.
psquicas superiores. Aqui seria o caso de se abrir todo um captulo
da psicologia do subconsciente que S. Toms no escreveu e do
qual conseqentemente no temos nada a dizer.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA6-19.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:36
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.7, C.1.
O CONHECIMENTO INTELECTUAL. POSIO DO
TRATADO DA INTELIGNCIA
1.INTRODUO
Acima da vida sensitiva encontra-se no homem um grau superior de
vida: a vida intelectiva. Divide-se esta vida conforme as duas
grandes correntes de atividade: a de conhecimento e a de apetncia,
s quais correspondem, respectivamente, as duas grandes
faculdades espirituais, inteligncia e vontade. Seremos assim
levados a considerar sucessivamente os problemas da inteligncia
(cap. IV), os da vontade (cap. V) e, remontando ao principio radical
comum destas faculdades, os problemas da alma intelectiva em si
mesma.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA7-1.htm2006-06-01 12:19:36
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.7, C.2.
2. PRIMADO DA INTELIGNCIA.
At aqui consideramos o conjunto dos fenmenos vitais pelos quais
o homem est em comunidade com os viventes de grau inferior, as
plantas e os animais. Com a vida intelectiva abordamos o plano da
vida prpriamente humana: "a operao prpria do homem,
enquanto homem, fazer ato de inteligncia" (Santo Toms, Metaph.
I, L.1, n.3) . Tentemos tomar conscincia dste fato comparando, sob
seus aspectos gerais, o conhecimento intelectual (prprio do
homem) com o conhecimento sensvel (comum ao animal e ao
homem) (cf. Cont. Gent., II, c. 66 e 67).
Em primeiro lugar preciso dizer, segundo uma frmula que volta
sempre em S. Toms, que a inteligncia tem por objeto o universal,
enquanto o sentido atinge smente o singular: "intellectus est
universalium, sensus est particularium"; o que vejo com meus olhos
esta planta determinada e particular; minha inteligncia, porm,
comea por formar a noo geral de planta. Em segundo lugar, a
inteligncia capta objetos no sensveis, como a idia de verdade,
por exemplo, ou a de Deus, enquanto o sentido no pode ultrapassar
a percepo das propriedades corporais. A inteligncia, alm disso,
uma faculdade que pode, por reflexo, tomar conscincia de si
mesma e de sua atividade; o que no dado ao sentido, ao menos
em um mesmo grau. Poder-se-ia ainda acrescentar, comparando as
atividades prticas que competem a cada um dstes podres, que
enquanto uma atividade (a que depende da inteligncia) capaz de
escolha, a outra (que se origina dos sentidos) naturalmente
determinada; assim, a andorinha constri seu ninho sempre da
mesma maneira.
Fundamentam-se as diferenas no fato de que a inteligncia, que a
faculdade do ser, penetra at essncia mesma das coisas,
enquanto os sentidos ficam nas particularidades exteriores. E, de
qualquer maneira, formalmente pela sua atividade intelectual que o
homem um animal dotado de razo: homo est animal rationale.
Se compararmos as operaes espirituais da alma entre si, uma
mesma constatao se evidencia. O ato da vontade, com efeito,
sempre supe um ato da faculdade intelectual que o precede e o
informa e assim tem o conhecimento, por ste motivo, precedncia
sbre a ao que, de certo modo, aparece como sua resultante. o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA7-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:37
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.7, C.2.
que particularmente se manifesta no caso notvel da viso beatfica,
a qual s amor em dependncia de uma contemplao. Consciente
dste primado da inteligncia, Aristteles j havia proclamado a
superioridade do conhecimento desinteressado, ou da "theoria",
sbre as atividades da vida prtica.
Tudo isto converge para esta concluso: a inteligncia tem o
primado sbre as outras faculdades.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA7-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:37
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.7, C.3.
3. SIGNIFICADO DA TEORIA PERIPATTICA DA
INTELIGNCIA.
Como o conjunto de sua psicologia, manifesta-se a doutrina do
conhecimento em Aristteles como uma via mdia entre o
sensualismo materialista, representado na antiguidade por
Demcrito, e o intelectualismo extremo, iniciado por Plato. Eis
como S. Toms considera na Summa esta tomada de posio (S. Th.
Ia Pa, q. 84, a. 1 e 6).
Para Demcrito, todos os nossos conhecimentos resultam da
impresso que as partculas emanadas dos corpos causam em
nossa alma; no fundo, equivale a dizer que a inteligncia no se
distingue dos sentidos. Para Plato, ao contrrio, no smente a
inteligncia se manifesta como uma potncia original, mas ainda se
deve afirmar que , em sua atividade, absolutamente independente
de todo rgo corporal; de onde se segue que os dados desta
faculdade procedem de uma fonte transcendente, pois o incorpreo
no pode ser afetado pelo corpreo.
Entre stes dois extremos, adota Aristteles uma posio de
conciliao assim caracterizada por S. Toms: com Plato, admite
Aristteles que a inteligncia diferente dos sentidos; com
Demcrito, que as operaes da parte sensvel da alma so
causadas pela impresso dos corpos externos, no todavia como
ste o queria, a saber, por um transporte de partculas. Quanto s
operaes da parte intelectual, preciso dizer que exigem, para
serem produzidas, o concurso simultneo das sensaes, nas quais
estas operaes encontram seu dado, e o concurso de uma potncia
espiritual ativa, o intelecto agente que tem por funo abstrair do
sensvel o inteligvel que, naquele, estava contido em potncia.
Teremos ocasio de voltar mais demoradamente a estas anlises.
Baste-nos aqui reter que a "via Aristotelis" era vista por S. Toms
como uma soluo intermediria entre o sensualismo e o
intelectualismo extremos.
De fato, aparecendo como ganha a causa da existncia de um modo
de conhecer superior s sensaes, sero as filosofias do
conhecimento de Aristteles e S. Toms antes uma reao contra o
que o intelectualismo platnico parecia ter de excessivo. O fundo no
qual se destaca nosso estudo ser constitudo principalmente pelas
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA7-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:37
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.7, C.3.
doutrinas dste intelectualismo vistas, em S. Toms, atravs da
adaptao feita por Agostinho, enquanto o sensualismo ser visado
secundariamente. No se deve aqui esquecer que os mestres de
outrora no podiam se referir a uma obra multiforme e abundante
como hoje a dos psiclogos contemporneos. Portanto, muita
prudncia nas comparaes e nas aproximaes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA7-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:37
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.7, C.4.
4. O ESTUDO DA INTELIGNCIA EM S. TOMS
Embora deva a Aristteles sua inspirao primeira na filosofia do
conhecimento, nem por isso deixa S. Toms de precisar, aprofundar
e completar seu pensamento. Mesmo suas exposies pessoais nos
escritos teolgicos so, ordinariamente, mais desenvolvidas e mais
ricas que o simples comentrio ao texto do De Anima. Interessa-nos,
portanto, tomar como base de nosso estudo as exposies da
Summa ou das Questes Disputadas, figurando o texto de
Aristteles smente a ttulo de fonte.
Convir tambm no esquecer as diferentes perspectivas do De
Anima e dos escritos teolgicos. Com a primeira destas obras
estamos na filosofia da natureza. O estudo do conhecimento
intelectual apresenta-se, neste caso, como o trmo de uma lenta
ascenso que vai das formas inferiores do psiquismo atividade
transcendente do pensamento; s em ltimo lugar que se chega ao
problema de um "nous" puramente intelectual. Nos escritos
teolgicos, pelo contrrio, a alma espiritual surge como um dado
primeiro, no se manifestando tanto como a entelquia suprema do
mundo dos viventes, mas como um dos graus, o mais modesto em
verdade, da hierarquia dos espritos. Vista sob esta luz, aparece-nos
a vida intelectiva iluminada, no mais smente pela vida sensitiva
que a prepara, mas pela vida dos espritos puros, anjos e Deus, que
ela imita. Muitas das teses seguintes tomaro todo o seu significado
nestas perspectivas superiores, princpios ao mesmo tempo de
enriquecimento e de complicao.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA7-4.htm2006-06-01 12:19:37
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.7, C.5.
5. PLANO DO ESTUDO DA INTELIGNCIA.
Coloca-se, antes de tudo, o problema, precedentemente deixado de
lado, do conhecimento em geral: o que conhecer? E sbre o que,
metafsicamente, se funda tal atividade (1)? No que concerne ao
conhecimento intelectual humano, dever-se- considerar
sucessivamente seu objeto (2) e seu processo: ste estudado
antes na fase de formao do ato (3) e depois na sua fase perfectiva
(4); em seguida, sero demarcadas as grandes etapas da vida da
inteligncia (5) . Certos objetos, enfim, que esto fora do objeto
prprio de nossa inteligncia, como o singular (6) , a prpria alma e
as substncias separadas (7) , reclamaro um modo especial de
conhecer. Assim, concluindo, seremos capazes de julgar a posio
da doutrina do conhecimento intelectual em S. Toms (8) . A
exposio subdivide-se em oito seces:
1. Noo
geral do
conhecimento
2. O objeto
da
inteligncia
humana
3. A
formao do
conhecimento
intelectual
4. A atividade
da
inteligncia
5. O
progresso do
conhecimento
intelectual
6. O
conhecimento
do singular
7. O
conhecimento
da alma por
si mesma
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA7-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:37
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.7, C.5.
8. Posio da
teoria do
conhecimento
intelectual
em S. Toms.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA7-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:37
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.1.
NOO GERAL DO CONHECIMENTO
1. A AMPLITUDE ILIMITADA DO SER DOTADO DE CONHECIMENTO.
A primeira idia que se pode fazer do conhecimento a da abertura
de um ser em relao aos outros. Abro os olhos e todo um
conjunto de objetos externos que se pe em comunho comigo. Eu
penso e um mundo de realidades diversas invade o campo de minha
conscincia. E esta extenso, esta projeo de meu ser para aquilo
que no le, parece-me ter algo de indefinidamente renovvel e de
ilimitado. Vinte vzes posso contemplar o mesmo quadro e ao
infinito posso olhar tantos outros. Tratando-se do conhecimento
intelectual, nada do que existe parece escapar s prsas de minha
percepo: sim, todo o ser pensvel, isto , inteligvel.
diante de semelhantes constataes que se situar e se
compreender a frmula, to freqentemente repetida no
peripatetismo, que a alma pelo conhecimento , de certo modo,
tdas as coisas, sensveis e inteligveis (De Anima, III, 1. 13)
"Anima est
quodammodo
omnia
sensibilia et
intelligibilia".
Para S. Toms, esta capacidade de assimilar as coisas distingue
formalmente os que conhecem dos que no conhecem. Testemunhao ste texto da Summa:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-1.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:38
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.1.
"... devemos
considerar
que os sres
dotados de
conhecimento
distinguemse dos que
no o so, no
sentido em
que stes
tm apenas a
sua forma
prpria, ao
passo que
queles
natural
poderem
conter em si
tambm a
forma de
outro ser,
pois, a
espcie do
objeto
conhecido
est no
cognoscente.
Por onde
manifesto
que a
natureza do
ser que no
conhece
mais restrita
e limitada; ao
passo que a
dos que so
dotados de
conhecimento
tem maior
amplitude e
extenso; e
por isso diz o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-1.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:38
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.1.
Filsofo no III
De Anima
que a alma
de certo
modo tudo".
Ia
Pa,
q.
14,
a.
1
V-se, por ste texto, que a diferena de amplitude dos sres
dotados de conhecimento relativa posse ou recepo das
formas: um ser tem sua forma especfica mas pode ter tambm,
como sujeito cognoscente, a forma especfica dos outros. S. Toms
precisar, todavia, que o modo como stes dois tipos de formas
existem no sujeito no o mesmo. Voltaremos ainda a ste assunto.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-1.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:38
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.2.
2. A IDENTIDADE ENTRE A INTELIGNCIA E O INTELIGVEL
NO ATO DO CONHECIMENTO.
Os sres que conhecem podem, pois, ser ou tornar-se tdas as
coisas. 0 que exatamente ser preciso entender por isso? Que no
trmo do processo de conhecimento o sujeito que conhece faz-se
um com as coisas que conhece. Visto sob ste prisma, o
conhecimento manifesta-se sob o aspecto de uma certa
identificao do sujeito e do objeto. Tal concepo encontra-se em
diversos lugares no "De Anima:" o ato do sensvel e do que sente
so um s e mesmo ato "(III, c. 2, 425 b 26); "existe um intelecto que
tal como a matria, porque se faz todos os inteligveis" (III, c. 5, 430
a 13) ; "acrescentemos que a alma , em um sentido, tdas as
coisas" (III, c. 8, 431 b 21). S. Toms explicar esta doutrina com o
adgio tantas vzes repetido: "Intellectus in actu est intellectum in
actu."
Para penetrar no sentido de tais frmulas, seria conveniente se
colocar na linha da velha teoria imaginada por Empdocles para
explicar o conhecimento: o semelhante, dizia le, conhecido pelo
semelhante. No seu pensamento, isto significava que os elementos
exteriores, a gua, o ar, a terra e o fogo eram conhecidos
respectivamente pela gua, pelo ar, pela terra e pelo fogo, e a
mistura dsses elementos constitua o rgo perceptivo. Aristteles
abandona evidentemente o que esta teoria tinha de grosseiro. Os
elementos no esto por si mesmos nos sentidos, mas somente
pelas suas representaes. Alm disso, precisa melhor Aristteles,
antes de conhecer, a faculdade no contm de nenhum modo em ato
seu objeto: a "forma inteligvel" no est em potncia no intelecto, a
alma primitivamente como um quadro sbre o qual no h nada
escrito: "sicut tabula rasa". A entrada do inteligvel s se produz no
momento do ato e s ento verdadeiramente certo dizer-se que o
intelecto (em ato) o inteligvel (em ato). Nesta perspectiva, a
expresso em causa tem uma significao de um lado negativa: o
intelecto (em potncia) no o inteligvel; e positiva: o intelecto
identifica-se com o inteligvel quando o intelecto est em ato. A
afirmao precedente se esclarece ainda de outro modo. Estudando
o movimento nos "fsicos", o Estagirita tinha concludo que para o
motor e para o movido h um s e mesmo ato, e que ste ato nico
encontra-se, como em seu sujeito, no que movido. Aplicando
sensao esta lei geral, conclui Aristteles (De Anima, III, c. 2, 425 b
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:38
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.2.
25 ss.) que o sensvel e o senciente tm um ato comum subjetivado
no senciente. O mesmo vale dizer para a inteleco na qual se
unificam a inteligncia e o inteligvel; a identificao dstes dois
trmos ento muito mais profunda.
Perguntou-se se esta identificao do sujeito e do objeto deveria ser
entendida como sendo do ato primeiro, (informao pela "species
quo"), ou do ato segundo, (informao pela "species quod).
Aristteles, que no fz distino de "species", no colocou a
questo. Mas pode-se por le responder que a identificao realizase proporcionalmente nos dois estdios do ato intelectual. Desde
que a semelhana exterior recebida, h uma certa unio do sujeito
e do objeto; mas esta s atinge sua perfeio quando o
conhecimento est terminado.
A identificao do sentido e do objeto encontra-se nos diversos
graus dos sres dotados de conhecimento. Afirma-o S. Toms
diversas vzes (I Sent. a. 35, q. 1, a. 1, ad 3; I, q. 87, a. 1, ad 3). O
modo de unio proporcional a cada caso.
Em Deus (cf. Ia Pa, q. 14, a. 2) a unio realizada mxima. Sob
nenhum aspecto h distino real do cognoscente e do conhecido, e
estando a divina essncia imediatamente presente a si mesma, no
h necessidade de nenhuma semelhana para informar a
inteligncia; a identidade realizada substancial e absoluta: "pelo
fato de em Deus no existir potncia alguma e de ser ato puro,
segue-se que nle inteligncia e inteligvel so idnticos sob todos
os pontos de vista... omnibus modis".
Se o cognoscente e o conhecido, mesmo que distintos realmente,
estiverem, contudo, do ponto de vista objetivo, presentes
imediatamente um ao outro, no necessrio, tambm nesse caso,
uma semelhana para realizar a unio; basta aqui a informao
direta da potncia considerada. H ento identificao por unio
imediata de duas entidades preexistentes. o que se realiza na
viso beatfica, ou quanto "species quo", no conhecimento do
esprito puro por si mesmo.
Enfim, no grau inferior encontra-se o intelecto humano que, no
podendo ser imediatamente informado pela essncia dos objetos
inferiores, deve, para conhec-los, receber antes suas semelhanas.
Aqui ainda pode-se falar de identidade do cognoscente e do
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:38
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.2.
conhecido, mas segundo um modo evidentemente menos perfeito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:38
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.3.
3. A RECEPO IMATERIAL DAS FORMAS.
Uma comparao com a ordem das realidades fsicas permitir-nos-
compreender melhor o modo desta identificao. Dissemos que o
ser que conhece distingue-se do que no conhece pelo fato de
poder possuir, alm de sua prpria forma, a das outras coisas. De
que informao, ou de que recepo de forma se trata aqui? No
pode ser, evidentemente, uma recepo de forma como a que se
realiza no caso do ser fsico: "non est idem modus quo formae
recipiuntur in intellectu possibili et in materia" (cf. De Veritate, q. 2,
a. 2). Assim devemos dizer que h dois modos bem distintos de
recepo das formas:
- Recepo
subjetiva ou
entitativa. O
ser natural
essencialmente
constitudo
por uma forma
substancial
que u'a
matria
recebe, a ttulo
de sujeito,
como que lhe
pertencendo
"ut suam".
Nesta
unificao,
cada um dos
trmos,
matria e
forma,
permanece
aquilo que e
com o outro
compe-se
para constituir
um terceiro
trmo, a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:39
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.3.
matria
informada, que
o "eris
naturae".
- Recepo
objetiva ou
intencional. No
caso da
recepo de
uma forma
conhecida
pelo sujeito
que conhece,
sucede de
outro modo. A
forma
conhecida no
recebida
pelo sujeito
cognoscente
como sua, "ut
suam", mas
como
pertencendo a
um outro, "ut
forma rei
alterius";
assim antes
o sujeito que
se torna o
objeto, a le
identificandose sem que
haja
constituio
de um terceiro
trmo. No
plano do
conhecimento,
a unio ,
portanto, mais
ntima,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:39
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.3.
permanecendo
alis cada um
dos trmos
perfeitamente
distinto no
plano
ontolgico.
Fala-se ento
de unio
objetiva ou
intencional
para significar
que ela se
produz na
ordem da
representao
e no na da
recepo
fsica das
formas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:39
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.4.
4. A IMATERIALIDADE, CONDIO FUNDAMENTAL DO
CONHECIMENTO.
Esforcemo-nos por penetrar mais profundamente na natureza do ser
que conhece. Se compararmos os dois modos precedentes de
recepo das formas, seremos levados a dizer que: enquanto na
recepo subjetiva h como que um encerramento da forma pelo
sujeito que lhe confere assim um ser determinado, "esse
determinatum", na recepo objetiva nada de semelhante se produz,
o que faz com que a forma no receba "esse determinatum". Ora,
um princpio geral em hilemorfismo que a forma encerrada ou
determinada pela matria: "coarctatio formae est per materiam".
Segue-se que, para um sujeito estar em condies de receber uma
forma sem a encerrar em seus limites ou sem a determinar,
necessrio que seja imaterial. Donde se conclui que a imaterialidade
para uma coisa aquilo que a situa no nvel do conhecimento:
"Patet igitur
immaterialitas
alicujus rei
est ratio
quod sit
cognoscitiva".
S.
Th.
Ia
Pa,
q.
14,
a.
1
O que se deve entender aqui por imaterialidade? No certamente a
simples carncia de matria fsica, pois neste caso os anjos que,
como Deus, no tm matria fsica alguma, estariam no mesmo nvel
notico que le. Imaterialidade aqui co-extensiva a nopotencialidade: assim, por esta expreso afasta-se tudo o que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-4.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:39
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.4.
imperfeio no ser. Se, todavia, preferimos falar aqui de
imaterialidade, porque a inteligncia humana, elevando-se no
conhecimento por abstrao da matria, faz com que a escala de
elevao dos sres no conhecimento aparea, ao nosso ponto de
vista, na linha dessa noo.
Outra preciso: o trmo imaterialidade no tem aqui uma
significao puramente negativa, designa tambm uma perfeio de
ser. Assim S. Toms, em diversas passagens, liga a intelectualidade
atualidade: "tda coisa inteligvel pelo fato de estar em ato (Ia Pa,
q. 12 a. 1)... conforme o modo de ser de seu ato (Ia Pa, p. 14, a. 12) ".
Tais frmulas apenas retomam, sob um modo positivo, a verdade
precedente. Dizer que um ser inteligvel na medida em que
imaterial ou pelo fato de estar em ato , no fundo, a mesma coisa.
Convm acrescentar, enfim, que a imaterialidade, de que se trata
aqui, concerne tanto ao sujeito como ao objeto do conhecimento:
quanto mais um ser imaterial ou em ato, tanto mais inteligvel e,
correlativamente, mais elevado na hierarquia das inteligncias.
Uma restrio, todavia, se impe, pois claro que nos graus
inferiores da escala dos sres encontramos muitos objetos de
conhecimento, e que, semelhantemente, entidades puramente
espirituais, tais como a vontade, no conhecem. Outras condies
portanto impem-se para o sujeito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-4.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:39
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.5.
5. O SER E A EXISTNCIA INTENCIONAL
As anlises precedentes levam a uma outra concluso. Para cada
coisa h dois modos de existir, ou dois "esse" absolutamente
diferentes: o "esse" simples, s vzes qualificado de "entitativo",
designa a existncia mesma da coisa na realidade; e o "esse"
intencional, o qual significa a coisa enquanto conhecida, ou sua
existncia de objeto; pelo conhecimento a coisa vem existir em mim,
mas de modo diferente, isto , diferente do modo como existe em si.
O "intencional", nesta doutrina, designa tudo o que conhecido,
considerado como tal; o objeto conhecido, no pensamento, ser
assim significado pela expresso "intentio intellecta"; fala-se
equivalentemente para o ser conhecido em "esse objetivo". -
essencial observar que para S. Toms a intencionalidade, da qual
aqui se trata, no corresponde a nenhuma tendncia ativa para o
objeto. Deve ser, pois, cuidadosamente distinguida da
intencionalidade voluntria que, esta sim, implica uma inclinao
efetiva: a ordem da realidade do conhecimento tem um significado
puramente representativo e de modo algum dinmico.
Por ste ponto, e graas introduo desta categoria de intencional,
distinguem-se no mundo do ser duas grandes ordens: a do chamado
ser "entitativo", que corresponde existncia pura e simples das
coisas e, como que duplicando-a, a do ser intencional ou do ser
enquanto conhecido. Assim aparece, explica-nos Cajetano, "que
testemunho de incultura do aqules que, tratando do sentido e do
sensvel, da inteligncia e do inteligvel, julgam-nos como coisas
diferentes. Aprende, pois, continua o douto autor, a elevar mais teu
esprito e a penetrar em uma outra ordem de coisas" (Comm. in Iam
Part. q. 14, a. 1, VII).
Que podem, pois, tais consideraes representar s vistas do
psiclogo moderno? Elas nos conduzem evidentemente para bem
longe das observaes detalhadas e minuciosas que enchem as
pginas de nossos atuais tratados. Na realidade, engajamo-nos aqui
no plano da resoluo metafsica. Tda experincia, sabemos, no
excluda: parte-se do fato do conhecimento tal qual nos dado; mas
ste fato apenas considerado segundo seus aspectos mais
comuns e conforme os princpios de uma metafsica geral do ser,
especialmente do ser fsico que serve aqui de ponto de referncia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:39
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.8, C.5.
Os resultados obtidos podero parecer bastante desprovidos de
intersse para quem pretenda no ir alm do plano da observao
positiva. Mas desde que se queira ir mais a fundo, desde que
sobretudo se tente, com as fracas possibilidades de nossa
inteligncia de homem, penetrar no mundo dos espritos, o nosso,
que nos em parte oculto, o dos anjos e de Deus que nos so
inteiramente escondidos, ento parece que s as generalidades de
uma autntica metafsica do conhecimento so capazes de
assegurar uma base s transposies que se impem.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA8-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:39
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.9, C.1.
O OBJETO DA INTELIGNCIA HUMANA
1. INTRODUO
Uma potncia no aristotelismo especificada, e portanto definida,
pelo seu objeto. Mas como h diversos gneros de objetos, importa
que fixemos de que gnero se vai tratar.
A escolstica anota continuamente uma primeira distino: a do
objeto material (a coisa exterior conhecida em sua realidade total), e
a do objeto formal (o aspecto preciso visado nesta coisa pela
potncia). S. Toms, por sua vez, no contesta de modo algum a
legitimidade desta distino. De ordinrio nada diz a respeito. Para
le o objeto normalmente o objeto formal.
Se agora nos referirmos ao texto fundamental do De Anima (II, c. 6),
convir distinguir, com respeito s potncias, trs espcies de
objetos:
- o objeto
prprio: o que
atingido
imediatamente e
por si, "primo et
per se", pela
potncia: a cr,
por exemplo,
para a vista, o
som para o
ouvido: diante
dste objeto
uma potncia
no pode falhar,
encontrando-se
em condies
normais de
percepo.
- o objeto
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA9-1.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:40
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.9, C.1.
comum: o que
atingido por
diferentes
potncias,
pertencendo
sempre a um
mesmo gnero
de objetos;
assim, para
Aristteles, o
movimento, o
repouso, o
nmero, a
figura, o
tamanho,
constituem o
grupo dos
sensveis
comuns; como
h no homem s
uma faculdade
intelectual, s
se pode, nste
nvel, falar de
objeto comum
relativamente a
inteligncias de
graus diversos,
divina, anglica
e humana.
- o objeto
acidental: o que
apenas
indiretamente
atingido pela
potncia,
enquanto
associado a seu
objeto prprio:
acidental para
minha vista que
o objeto branco
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA9-1.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:40
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.9, C.1.
que avana para
mim seja o filho
de Diares.
- na doutrina da
inteligncia, ao
lado de seu
objeto prprio,
deve-se ainda
tratar de seu
objeto
adequado ou
extensivo:
aqule que
corresponde a
tdas as
virtualidades
desta faculdade,
as quais s
incompletamente
podem ser
determinadas
pelo seu objeto
prprio;
prticamente
ser o objeto
comum,
considerado
sob o aspecto
mediante o qual
preenche tda a
capacidade de
uma inteligncia
dada.
A teoria do conhecimento apresenta-se no aristotelismo como uma
reao contra o intelectualismo da filosofia das idias: por isso ser
necessrio, antes de tudo, considerar a reao no sentido do
empirismo: com isto estaremos em condies de assinalar
inteligncia seu objeto prprio, a "quididade" das coisas sensveis.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA9-1.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:40
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.9, C.1.
Esta volta para um intelectualismo mais concreto, mas tambm mais
limitado, colocar um nvo problema. Se a inteligncia encontra no
mundo corpreo seu objeto prprio, no ser necessrio lhe
interditar tudo o que est acima dste mundo, os espritos puros e o
prprio Deus? E se admitirmos que estas realidades so tambm
atingidas, resta explicar como isso possvel. Com isso ser
precisado o que se deve entender por objeto adequado da
inteligncia humana.
Mas, at onde se estende ste poder de nossa inteligncia? No cume
do mundo dos objetos encontra-se o supremo inteligvel, a essncia
divina. A inteligncia criada estar em condies de captar
diretamente ste objeto? Sendo a resposta afirmativa, como
conceber esta capacidade do divino? o problema especial da viso
de Deus, problema que se coloca antes para o teolgo, mas, como
filsofos, ser-nos- proveitoso considerar certos aspectos dle.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA9-1.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:40
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.1.
O OBJETO PRPRIO DA INTELIGNCIA HUMANA
1. DISCUSSO DAS TEORIAS ANTECEDENTES.
Para se pr a caminho da definio do objeto prprio da inteligncia
humana, no se pode fazer melhor que seguir a marcha progressiva
dos artigos pelos quais, na Summa, S. Toms chega a esta definio
(Ia Pa, q. 84, a. 1-8). "Como a alma unida a um corpo, pergunta le
nesta questo, pode conhecer as realidades corporais que esto
abaixo dela?".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-1.htm2006-06-01 12:19:40
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.2.
2. A ALMA, PELA SUA INTELIGNCIA, CONHECE OS
CORPOS (A. 1).
Neste primeiro artigo, S. Toms institui uma discusso geral da tese
platnica. Tendo em vista escapar do materialismo mobilista de
Herclito, que comprometia a verdade de todo o conhecimento, dera
Plato, por objeto s cincias, realidades imveis e separadas; daqui
se seguia que o conhecimento intelectual no se referia de modo
algum s coisas percebidas pelos sentidos.
Esta doutrina tem um duplo inconveniente: torna v tda cincia da
natureza. Chega a esta conseqncia absurda que, para se tomar
conscincia das coisas que nos so manifestas, recorre-se a sres
que diferem delas substancialmente. O rro de Plato fundamenta-se
no fato de no ter podido compreender que as coisas tm um modo
de existir diferente no esprito e na realidade: universal e imaterial
no primeiro caso, particular e material no segundo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-2.htm2006-06-01 12:19:40
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.3.
3. A ALMA NO CONHECE O CORPO PELA SUA PRPRIA
ESSNCIA (A.2).
Outras hipteses podem ser formuladas. Assim, no conheceremos
as coisas corporais percebendo-nos a ns mesmos, como Deus
conhece tdas as coisas na sua essncia? Os antigos naturalistas
tinham dado uma forma materialista a esta teoria: o semelhante
conhecido pelo semelhante, o fogo exterior pelo fogo que est em
ns, etc. Esta explicao evidentemente no se sustenta, pois, entre
outras razes, o conhecimento s pode supor na alma uma presena
imaterial das coisas. Na realidade, s a inteligncia divina conhece
as coisas pela sua essncia, per essentiam; as inteligncias
inferiores, humanas ou anglicas, podem capt-las smente por
meio de uma semelhana, ou per similitudinem.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-3.htm2006-06-01 12:19:41
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.4.
4. A ALMA NO CONHECE AS COISAS POR IDIAS INFUSAS
OU INATAS (A. 3).
Poder-se-ia ainda imaginar que estas semelhanas, de que necessita
a alma para conhecer outras coisas, ou foram-lhe originriamente
comunicadas, ou as tem por um privilgio da natureza. No pode ser
assim, pois ento deveramos ter um conhecimento sempre atual, o
que evidentemente no se d. Dizer com Plato que esta noatuao de formas que possumos deva-se ao impedimento de
nosso corpo, s nos lana em outra dificuldade: como se explica
que uma unio, que segundo a natureza (a da alma e do corpo),
possa impedir o exerccio de uma atividade fundada, tambm ela, na
natureza (o conhecimento das "species" naturalmente presentes
alma)?
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-4.htm2006-06-01 12:19:41
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.5.
5. A ALMA NO PODE CONHECER POR MEIO DE "SPECIES"
VINDO DE FORMAS SEPARADAS (A.4).
Ainda uma vez nos encontramos diante de uma tese de Plato mas
sob a forma que lhe vestiu Avicena. As formas separadas no teriam
existncia independente, o que pouco inteligvel, mas preexistem
em inteligncias superiores; estas as comunicam ao intelecto agente
de onde, no momento conveniente, informam o intelecto possvel.
As dificuldades relativas existncia separada das idias seriam
assim resolvidas. Mas com essa teoria permanece no justificada a
unio da alma e do corpo. Se o corpo no tem por funo superior
fazer chegar at ns as semelhanas das coisas, le no tem mais
razo de ser.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-5.htm2006-06-01 12:19:41
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.6.
6. EM QUE SENTIDO A ALMA CONHECE NAS "RAZES
ETERNAS" (A. 5).
Aqui S. Toms se interroga sbre o valor da adaptao feita por
Agostinho s concepes de Plato. este um ponto sbre o qual
s podemos dar razo ao intrprete cristo da teoria das idias;
colocando-as em Deus, corta de um s golpe tdas as dificuldades
que sua existncia separada apresenta. Mas pode-se com le afirmar
que conhecemos as coisas por meio dessas "razes" que
eternamente apresentam as coisas ao pensamento criador? Uma
feliz distino permitir a S. Toms, sem em nada comprometer sua
prpria doutrina, entrar em acrdo com o doutor de Hipona.
Conhecer uma coisa "em outro" pode ser tomado em dois sentidos:
como "em um objeto conhecido", o que impossvel aqui e como
"em um princpio de conhecimento", no sendo nossa luz intelectual
mais que a semelhana participada desta luz incriada na qual esto
contidas as tais razes. Isto no impede que, para se dar o
conhecimento, sejam requeridas, a mais, semelhanas extradas das
coisas sensveis. Aristteles e Santo Agostinho encontram-se assim
de acrdo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-6.htm2006-06-01 12:19:41
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.7.
7. CONCLUSO: NOSSO CONHECIMENTO INTELECTUAL
PROCEDE DAS COISAS SENSVEIS. (A. 6, 7, 8)
Uma vez que a teoria platnica, como alis o sensualismo de
Demcrito, chocam-se contra tda espcie de incompatibilidades,
uma s via permanece aberta, a dste intelectualismo fundado sbre
o conhecimento sensvel que constitui a "via media" de Aristteles.
Nosso conhecimento intelectual vem inteiramente dos sentidos: o
objeto prprio dste conhecimento, concluir-se-, a natureza ou a
"qididade" das coisas sensveis.
Seria preciso poder seguir mais de perto as discusses que
precedem, como seria bom tambm analisar os artigos 7 e 8, onde a
solidariedade de nossos dois modos de conhecer encontra-se bem
ressaltada por observaes muito importantes, tais como o efeito
das leses orgnicas sbre o pensamento, a necessidade das
imagens para a vida intelectual, para que se possa estar em
condies de apreciar todo o cabedal de experincia e de reflexo
que fundamenta a soluo aqui proposta. Aqui ainda o laconismo
das frmulas e a aridez de certas exposies de nossos mestres no
nos devem enganar.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-7.htm2006-06-01 12:19:41
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.8.
8. DEFINIO DO OBJETO PRPRIO DA INTELIGNCIA
HUMANA. CARTER DSTE OBJETO PRPRIO.
Do que precede resulta que o objeto prprio do intelecto humano,
que est unido a um corpo, a qididade ou a natureza existente na
coisa corprea:
"intellectus
autem
humani qui
est
conjunctum
corpori
proprium
objectum
est
quidditas,
sive
natura, in
materia
corporali
existens"
a.
7
Inmeros textos fazem eco a ste: "o objeto prprio da inteligncia
a qididade da coisa, a qual no est separada das coisas, como
pretenderam os platnicos" (De Anima, III, I. 8, n. 717) ; "o objeto de
nossa inteligncia em nosso estado presente a qididade da coisa
material" (Ia Pa, q. 85, a. 8) etc . . .
O que se deve entender exatamente por sse trmo "qididade"?
Etimolgicamente quidditas designa a concepo formada para
responder questo quid: o que ? tal coisa: quidditas. A
qididade designa portanto a natureza profunda de uma coisa, sua
essncia, o que faz com que um ser seja tal. Enquanto os sentidos
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-8.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:42
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.8.
no percebem alm dos acidentes exteriores, a inteligncia vai at
ao ser da coisa. Notar-se- que as propriedades, os modos e os
acidentes diversos de um ser podem, em si mesmos, ser concebidos
pela inteligncia como essncias, ou a modo de "qididade". Mas,
de per si a inteligncia feita para captar antes a essncia das
coisas.
Esta "qididade", que constitui o objeto prprio da inteligncia
humana, designa a natureza abstrata da coisa, isto , a natureza
considerada independentemente de tudo o que a singulariza ou a
individua. prprio da inteligncia humana, com efeito, "conhecer a
forma existente, em verdade, na matria corporal, mas no enquanto
est em tal matria. Ora, conhecer o que est na matria individual,
mas no enquanto est em tal matria, abstrair a forma da matria
individual que as imagens representam".
Liberta do que a torna singular, a "qididade" deve ser considerada
como universal. Assim, contrriamente aos sentidos que no
atingem alm das realidades singulares, pode a inteligncia ser
definida como a faculdade do universal.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-8.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:42
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.9.
9. COMPARAO COM O OBJETO PRPRIO DAS OUTRAS
INTELIGNCIAS.
A doutrina precedente se esclarece singularmente se colocada em
relao com a doutrina do objeto prprio das outras potncias de
conhecer, sensveis ou espirituais; o que S. Toms fz diversas
vzes (cf. Ia Pa, q. 12, a. 4; q. 85, a. 1). Assim:
- No grau
mais inferior
da escala
est o sentido
que uma
potncia
ligada a um
rgo
corporal; seu
objeto
prprio a
forma
enquanto
existente na
matria
corporal:
"forma prout
in materia
corporali
exsistit".
- Acima, situase a
inteligncia
humana que
tem por
objeto a
forma
existente na
matria
corporal, mas
no enquanto
est em tal
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-9.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:42
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.9.
matria:
"forma, in
materia
quidem
corporali
existens, non
tamen prout
est in tali
materia".
- Vem, a
seguir, a
inteligncia
anglica,
esta,
totalmente
desligada da
matria; seu
objeto
prprio ,
paralelamente,
a forma
subsistente
sem matria:
"forma, sine
materia
subsistens".
- Enfim, no
cume,
encontra-se a
inteligncia
divina, que
idntica ao
prprio ser
subsistente
de Deus, e
que s ela
tem ste ser
como objeto
prprio:
"cognoscere
ipsum esse
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-9.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:42
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.10, C.9.
subsistens
est
connaturale
soli intelectui
divino".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA10-9.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:42
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.11, C.1.
O OBJETO ADEQUADO DA INTELIGNCIA HUMANA
1. INTRODUO.
Se nossa inteligncia se encontrasse estritamente limitada a seu
objeto prprio, nada poderia conhecer alm da essncia das coisas
materiais, assim como a vista s pode perceber a extenso colorida.
Mas, fundamentalmente, nossa alma, que espiritual, tem uma
abertura ilimitada. A experincia, alis, testemunha que temos um
certo conhecimento de coisas que esto fora do objeto em questo:
atingimos assim o singular e, em uma ordem superior, especulamos
sbre as substncias separadas. Nem tdas as possibilidades de
nossa inteligncia encontram-se, portanto, determinadas por seu
objeto prprio e deve levar-se em considerao, para ela, um objeto
mais compreensivo, objeto adequado, isto , que corresponda
abertura total da potncia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA11-1.htm2006-06-01 12:19:42
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.11, C.2.
2. O OBJETO ADEQUADO DA INTELIGNCIA HUMANA O
SER CONSIDERADO EM TDA A SUA AMPLITUDE.
Esta tese j foi demonstrada em Metafsica. Basta-nos aqui lembrar
que sua concluso deriva principalmente da anlise do juzo, que
nos manifesta que o ser o que, por primeiro, se atinge nas coisas;
"esta coisa que eu percebo ": tal a primeira constatao da
inteligncia.
Ora, somos levados a reconhecer que o ser assim atingido no
limitativamente tal ser ou tal gnero de ser; no importa qual, fala-se
simplesmente do ser, de tudo o que pode ser compreendido nesta
noo. Por isso, o ser real ou o ser de razo, o ser atual ou o ser
possvel, o ser natural ou o ser sobrenatural esto, de si, includos
no campo de nossa inteligncia, como tambm de qualquer outra
inteligncia, porque a inteligncia manifesta-se como a faculdade do
ser.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA11-2.htm2006-06-01 12:19:43
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.11, C.3.
3. ENTRETANTO A INTELIGNCIA HUMANA NO ATINGE DA
MESMA MANEIRA O QUE PERTENCE E O QUE NO
PERTENCE A SEU OBJETO PRPRIO.
Uma dificuldade aqui se coloca: para que, com efeito, reconhecer
um objeto especial nossa inteligncia, se esta faculdade
efetivamente capaz de se estender alm do mesmo?
preciso responder que s a "qididade" das coisas sensveis, isto
, o objeto prprio, apreendida diretamente em sua natureza
especfica. As outras coisas so atingidas s mediatamente ou por
intermdio do objeto prprio, ou ento de modo relativo, ou por
analogia, quando se trata de realidades transcendentes.
Segue-se que, sempre aberta a todo o ser, nossa inteligncia
especificada, em seu modo de atividade, pelo conhecimento das
essncias materiais. O imaterial s pode assim ser representado a
partir da concepo que formamos dos corpos, condio
evidentemente muito inferior para um esprito e que nos situa, gosta
S. Toms de o repetir, no ltimo degrau da escala das inteligncias.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA11-3.htm2006-06-01 12:19:43
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.11, C.4.
4. COROLRIO: UNIDADE DA FACULDADE INTELECTUAL.
Em razo de sua amplitude ilimitada, a inteligncia no precisar,
como o sentido, ser dividida em vrias potncias: a noo de ser
envolve e domina tdas as distines de objetos. Certas
diversidades nas denominaes no devem portanto nos enganar.
Assim:
- A razo
(inteligncia
discursiva)
no
realmente
distinta da
inteligncia
(inteligncia
intuitiva),
comparandose o ato da
razo com o
ato da
inteligncia
como o
movimento ao
repouso, os
quais devem
ser
relacionados
a uma mesma
potncia (Ia
Pa, q. 79, a. 8).
- O intelecto
prtico
(faculdade
diretora da
ao) no
realmente
distinto do
intelecto
especulativo
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA11-4.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:43
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.11, C.4.
(faculdade do
conhecimento
puro) pois o
que se
relaciona
apenas
acidentalmente
ao objeto de
uma potncia
no
princpio de
diversidade
para esta
potncia; ora,
acidental ao
objeto da
inteligncia o
fato de ser
ordenado
operao (Ia
Pa, q. 79, a.
2) .
- Pelo mesmo
motivo no se
admitir, com
S. Toms, a
existncia de
uma memria
intelectual
realmente
distinta da
inteligncia,
pois a "razo
do passado",
que
caracteriza a
memria,
acidental com
relao ao
objeto da
inteligncia;
esta
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA11-4.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:43
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.11, C.4.
faculdade,
como simples
potncia,
basta portanto
conservao
e
reproduo
das
"species" (Ia
Pa, q. 79, a. 6).
S subsistir, como realmente separada, a dupla intelecto agente intelecto passivo, no estando aqui a distino em dependncia do
prprio objeto, mas do comportamento ativo ou passivo da potncia
(Ia Pa, q. 79, a. 7).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA11-4.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:43
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.12, C.1.
A INTELIGNCIA HUMANA E A VISO DE DEUS
1. POSIO DO PROBLEMA.
possvel ver a Deus? A inteligncia humana , pois, aberta
totalidade do ser. Segue-se da que possa ter um conhecimento
direto e :mediato do ser divino? Este, certamente, estando
perfeitamente em ato, absoltamente inteligvel. Impe-se, por outro
lado que haja uma certa proporo entre a potncia e seu objeto. E
aqui o objeto evidentemente infinito, enquanto a potncia, que
pertence ordem do ser criado, evidentemente limitada (cf. Ia Pa,
q. 12, a. 1, obj. 4)
"sendo o
conhecido a
perfeio do
cognoscente,
necessrio
que haja
entre sses
dois trmos
uma certa
proporo;
ora, no h
nenhuma
proporo
entre o
intelecto
criado e
Deus,
estando
ambos
separados
por uma
infinita
distncia;
portanto
impossvel
que o
intelecto
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA12-1.htm (1 of 6)2006-06-01 12:19:44
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.12, C.1.
criado tenha
a viso da
essncia
divina".
Certamente no h nenhuma objeo de princpio a que uma
inteligncia limitada obtenha um certo conhecimento da essncia do
ser divino a partir de seus efeitos criados. Mas o que parece ir alm
das possibilidades de uma tal inteligncia, ter desta essncia uma
viso direta e imediata, facial, como se diz. Em sentido contrrio
est a afirmao da f crist que atesta ser uma tal viso o trmo
mesmo da vida humana.
Assim est colocado o problema da possibilidade da viso da
essncia divina, problema eminentemente teolgico, mas que
igualmente interessa ao filsofo no que concerne determinao
dos limites naturais da inteligncia humana. Pode a razo
estabelecer esta possibilidade afirmada pela f? Tal a questo que
se nos coloca.
Doutrina de S. Toms. O Doutor anglico exps seu pensamento em
diversos textos clebres nos quais, para justificar a possibilidade da
viso, funda-se na existncia em ns de um desejo de ver a Deus em
sua essncia (cf. particularmente: Cont. Gent. IV, c. 25; Comp.
Theol., c. 104-105; Ia. IIae q. 3, a. 8; S. Th. Ia Pa, q. 12, a. 1) . Eis o
esquema dste famoso argumento:
- h no
homem um
desejo
natural de
conhecer a
causa
quando
descobre um
certo efeito,
e tendo a
inteligncia
sido feita
para ir at
essncia das
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA12-1.htm (2 of 6)2006-06-01 12:19:44
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.12, C.1.
coisas, ste
desejo dirigese at ao
conhecimento
da essncia
da causa;
- se,
portanto,
frente aos
efeitos
criados,
captssemos
de Deus
apenas sua
existncia,
restaria vo
o desejo
natural que
temos de
conhec-Lo
como causa.
Ora, isto no
pode ser
admitido:
preciso, pois,
que nossa
inteligncia
seja
radicalmente
capaz da
viso de
Deus. Eis o
argumento
na
formulao
mais concisa
da Prima
Pars (q. 12, a.
1)
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA12-1.htm (3 of 6)2006-06-01 12:19:44
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.12, C.1.
"Inest enim
homini
naturale
desiderium
cognoscendi
causam,
cum
intuetur
effecutm; et
ex hoc
admiratio in
hominibus
consurgit.
Si igitur
intellectus
rationalis
creaturae
pertingere
non possit
ad primam
causam
rerum,
remanebit
inane
desiderium
naturae".
Superficialmente considerados, textos como stes levariam a crer
que para S. Toms a viso da essncia de Deus no smente
possvel para um intelecto criado, mas lhe conatural, respondendo
a uma inclinao positiva de nosso ser. Assim teramos, segundo
nossas prprias possibilidades, o poder de ver a Deus. Uma tal
exegese esbate-se contra dificuldades bem graves. Alm da
dificuldade precedente da infinita distncia entre a potncia e o
objeto, encontra as afirmaes categricas da f: nossa elevao ao
sobrenatural e viso beatfica um efeito no da natureza mas da
graa. S o intelecto divino proporcional, de si, ao prprio ser
subsistente. Assim, poder S. Toms concluir em trmos
aparentemente opostos aos precedentes: (Ia Pa, q. 12, a. 4)
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA12-1.htm (4 of 6)2006-06-01 12:19:44
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.12, C.1.
"Relinquitur
ergo quod
congnoscere
ipsum esse
divinum sit
connaturale
soli
intelectui
divino, et
quod sit
supra
facultatem
naturalem
cujuslibet
intellecti
creati . . .
Non igitur
potest
intellectus
creatus
Deum per
essentiam
videre, nisi
in quantum
Deus per
suam
gratiam se
intellectui
creato
conjungit,
ut
intelligibile
ab ipso".
Impe-se, evidentemente, uma melhor colocao do sentido exato
do argumento do desejo natural.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA12-1.htm (5 of 6)2006-06-01 12:19:44
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.12, C.1.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA12-1.htm (6 of 6)2006-06-01 12:19:44
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.12, C.2.
2. SIGNIFICAO DO DESEJO NATURAL DE VER A DEUS.
Sbre esta questo cf. A. Gardeil, La structure de l'me et
l'exprience mystique, t. I, p. 268-348.
Para um certo nmero de telogos, frente dos quais
habitualmente colocado Scoto, a viso de Deus seria, de algum
modo, positivamente exigida pela nossa natureza. Certamente, e
como no o reconhecer, visto que os meios para atingir sse fim nos
faltam e a graa necessria. Mas poder-se-ia falar de uma
inclinao natural inata, embora ineficaz, ao sobrenatural. Uma tal
concepo certamente estranha a S. Toms que, falando do desejo
natural, nunca entendeu fsse le uma inclinao de natureza ou um
apetite inato. Um tal apetite nada mais que a expresso das
virtualidades efetivas de uma natureza: dizer que se tem um apetite
inato da viso da Deus, pretender que a viso de Deus nos seja
conatural. E, por outro lado, relegar a graa ordem dos meios,
enquanto a natureza conservaria a ordem dos fins, cair na
incoerncia.
Contrriamente ao que acaba de ser sustentado, preciso
reconhecer que o desejo em questo um desejo elcito, isto , no
uma tendncia inconsciente seguindo-se imediatamente natureza,
mas uma inclinao psicolgicamente discernvel que se forma no
esprito depois de uma apreenso determinada. Assim, no caso
precedente, tendo reconhecido que Deus a causa de todos os
seres dos quais tenha percepo, sinto o desejo de ver esta causa,
isto , Deus, e no smente como causa, mas em sua natureza
mesma.
de direito perguntar como pode um tal desejo, que aparece como
um simples fato de conscincia, merecer ainda o qualificativo de
natural? Muitas explicaes foram dadas. Vamos logo que nos
parece melhor fundada (cf. Structure, p. 291, ss).
Consideremos o modo segundo o qual pode-se relacionar nosso
desejo com o bem soberano ou a felicidade. Antes de tudo h uma
coisa que no podemos no querer: ser feliz. A felicidade, ou o bem
universalmente considerado, se nos impe de modo absoluto. Esta
inclinao incoercvel nada mais que o apetite natural inato de
nossa vontade ao bem ou obteno de nosso fim ltimo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA12-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:44
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.12, C.2.
possvel desejar ver a Deus segundo uma tal inclinao? No, pois
se a viso de Deus efetivamente nossa felicidade, no temos dela
uma convico necessitante. Certos homens no parecem mesmo
totalmente indiferentes a ste fim? Pode-se, pois, tratar smente de
um desejo condicional; um tal fim desejvel na medida em que me
parece ligado ao bem universal, objeto de que necessita minha
vontade. Para quem raciocina corretamente esta concluso se impe
ou sobrevm como que naturalmente.
Assim, a viso de Deus deve ser assemelhada classe de bens
distinguidos por S. Toms, os quais so, para minhas faculdades,
bens particulares, naturalmente queridos segundo uma necessidade
no absoluta, mas de convenincia ou condicional (cf. Ia Pa, q. 10, a.
1). E o desejo que corresponde a esta viso ser natural, no como
uma inclinao inata mas enquanto surge naturalmente no curso do
desenvolvimento de nossa vida racional, se esta fr normal. Ora, um
tal desejo, pensa S. Toms, no pode ser vo ou desprovido de
fundamento. Portanto, a possibilidade da viso beatfica se nos
impe, no segundo uma percepo evidente, mas como uma
verdadeira convenincia de natureza.
A esta altura, atingimos com S. Toms o que o telogo chama de
potncia obediencial ao sobrenatural. Se nossa natureza pode ser
elevada viso de Deus, isto significa que tem potncia para tal.
Mas sabemos que neste caso no est ordenada ativamente ou de
modo eficaz. S Deus, por uma interveno gratuita, pode tornar
atual esta potncia: esta potncia , pois, smente a disposio
passiva, ou de pura obedincia, na qual tda criatura se encontra,
com relao a Deus, para tudo o que no implica contradio. Aqui
tocamos evidentemente no que h de mais elevado na vida de nossa
inteligncia, mas como se trata da graa, convm aqui dar lugar ao
telogo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA12-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:44
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.12, C.3.
3. CONCLUSO: FACULDADE DO SER OU FACULDADE DO
DIVINO?
A soluo agora dada ao problema da possibilidade, para a
inteligncia criada, de ver a Deus, coloca-nos em estado de poder
responder a uma questo que foi posta em um livro que na poca
teve repercusso: a intelignca humana faculdade do ser ou do
divino? (Rousselot: L'intellectualisme de Saint Thomas). O prprio
Pe. Rousselot respondia: "a inteligncia a faculdade do ser porque
a faculdade do divino".
Esta frmula, por sua elegncia sedutora, pode prestar-se a
equvocos e, interpretada com seu autor, conduz a confuses. A
inteligncia humana, como tda a faculdade, define-se por seu
objeto prprio e se a considerarmos como participao analgica do
intelecto em si, define-se por seu objeto adequado. Assim, podemos
dizer que a faculdade do ser da qididade material ou, tomada
adequadamente, a faculdade do ser considerado em tda a sua
amplitude. No sendo, porm, a essncia divina compreendida
determinadamente nestes objetos, no se pode dizer que seja
formalmente a faculdade do divino. Deus por ela apreendido
smente indiretamente, na analogia das criaturas e a ttulo de causa
do ser. Uma s inteligncia, a do mesmo Deus, se proporciona a
ste objeto supremo. Precises estas que podemos figurar neste
quadro:
intellectus divinus... obj. proprium: ipsum esse subsistens.
Intellectus humanus... obj. proprium: quidditas rei materialis.
Intellectus humanus... obj. adequatum: ens commune.
A inteligncia permanece assim essencialmente a faculdade do ser e
s se justifica com relao a sse objeto. Tda tentativa de
fundamentar o valor objetivo do conhecimento sbre um dinamismo
que pretenda ter seu ponto de apoio diretamente no prprio Deus,
deve ser considerada como falsa.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA12-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:44
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.12, C.3.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA12-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:44
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.1.
FORMAO DO CONHECIMENTO INTELECTUAL
1. INTRODUO.
A inteligncia humana, potncia espiritual, tem por objeto a
qididade das coisas sensveis. Entre sses dois trmos h clara
diferena de nvel notico, o que pode levar, no funcionamento de
nossa faculdade superior, a uma certa complicao. Para proceder
com ordem consideraremos sucessivamente:
-O
intelecto
agente e
a
abstrao
do
inteligvel.
-O
intelecto
possvel
ea
recepo
da
"species".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-1.htm2006-06-01 12:19:45
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.2.
2. O INTELECTO AGENTE E A ABSTRAO DO INTELIGVEL.
POSIO FILOSFICA DO PROBLEMA.
O intelecto humano, no aristotelismo, originriamente uma pura
potncia passiva frente aos inteligveis. No h formas ou idias
inatas. preciso, pois, para que entre em atividade, receber seu
objeto. Donde ste poder vir? No pode ser de um Inundo
transcendente, de idias separadas ou de inteligncias superiores:
uma tal hiptese no verdadeiramente fundada e vai contra a
experincia. Resta que nossas idias procedam do conhecimento
sensvel. Mas aqui surge a dificuldade precedentemente evocada:
como objetos materiais podero imprimir-se em uma faculdade
puramente espiritual? No caso da percepo sensvel, explica-se
que tais objetos pudessem ser recebidos pois que os sentidos,
pelos seus rgos, esto em continuidade com o mundo dos
corpos. Mas, para a inteligncia, uma tal dependncia, face a
realidades de um grau inferior, parece inaceitvel. Em poucas
palavras, as coisas materiais so inteligveis s em potncia; ora nos necessrio chegar a uma inteligncia e, portanto, ao inteligvel
em ato.
A soluo dste problema j se deixa entrever. A atuao do
inteligvel no poderia ser, no sensvel, realizao do prprio
esprito? Suponha-se nle uma potncia ativa cuja funo seria
elevar ao nvel inteligvel o objeto que, no dado sensvel, no se
encontra no conveniente grau de imaterialidade, e a dificuldade
assim se esvai.
S. Toms na Summa no raciocina diferentemente (cf. Ia Pa, q. 79, a.
3 ).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:45
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.2.
"No
admitindo
Aristteles
(ao contrrio
de Plato)
que as
formas das
realidades
materiais
possam
subsistir sem
matria e no
sendo estas
formas, na
sua condio
material,
inteligveis
em ato,
segue-se que
as naturezas
ou as formas
das coisas
sensveis,
atingidas
pela nossa
inteligncia,
no so
inteligveis
em ato . . .
Impe-se,
portanto, que
se admita a
existncia,
ao lado da
inteligncia,
de uma certa
potncia cuja
funo seja
atuar os
inteligveis,
abstraindo as
"species" de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:45
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.2.
suas
condies
materiais. Eis
o que obriga
a admitir um
intelecto
agente...
Oportebat
igitur ponere
aliquam
virtutem ex
parte
intellectus,
quae faceret
intelligibilia
in actu per
abstractionem
specierum a
conditionibus
materialibus.
Et haec est
necessitas
ponendi
intellectum
agentem".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:45
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.3.
3. O PROBLEMA HISTRICO DO INTELECTO AGENTE.
Se a posio ideolgica do problema do intelecto agente
relativamente simples, sua soluo devia complicar-se
extremamente. Isto porque os textos de Aristteles, onde se haure
esta doutrina, apresentam ambigidades que foram assunto de
interminveis controvrsias. Como S. Toms alude a isso
continuamente, no podemos deixar de dar uma idia.
no captulo IV do livro III do De Anima que Aristteles aborda a
questo da inteligncia que considera antes como uma potncia
passiva. No captulo seguinte, sem outra preparao e por simples
comparao com o que se passa no mundo fsico, pe-se a
distinguir dois intelectos na alma: "visto que na natureza inteira
distingue-se primeiro algo que serve de matria a cada gnero . . . e
em seguida uma outra coisa que a causa do agente . . . assim, na
alma, distingue-se, de uma parte, um intelecto que anlogo
matria, porque torna-se todos os inteligveis e, de outra parte, o
intelecto que produz tudo...". E Aristteles compara ste ltimo
intelecto luz cuja funo atuar as cres que no objeto so
visveis apenas em potncia. Vem a seguir uma enumerao das
propriedades dste intelecto ativo; : "separado, impassvel e sem
mistura, estando por essncia em ato". Por fim, em um texto
particularmente obscuro, parece afirmar que s o intelecto ativo
imortal e eterno, enquanto o intelecto passivo corruptvel, de modo
que depois da morte no poderia subsistir nenhuma lembrana
relativa a esta vida.
Sobretudo dois pontos neste texto levariam a controvrsias
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:45
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.3.
- Em que
sentido o
intelecto
agente pode
ser chamado
separado?
Smente
como uma
potncia
espiritual
multiplicada
segundo os
indivduos e
subsistente
em cada um
dles?
(soluo de
S. Toms).
Ou, ento,
no seria
antes como
um princpio
transcendente
e autnomo,
nico para
todos os
indivduos?
(soluo
mais
comum).
- O que
concluir para
a
imortalidade
da alma? Se
o intelecto
passivo, em
particular,
corruptvel e
o intelecto
agente,
transcendente
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:45
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.3.
e nico, no
se dever
reconhecer
que no h
imortalidade
individual?
(soluo de
Alexandre de
Afrodsias e
de Averris).
Acrescentemos que o problema complica-se mais ainda pela
concepo que se tinha do intelecto possvel, corruptvel para uns,
incorruptvel para outros e, nesta ltima hiptese, separado ou no
separado.
A tese do intelecto agente separado aparece, entre os comentadores
antigos de Aristteles, com Alexandre de Afrodsias (II. sc.), que
distinguia um intelecto material, provvelmente corruptvel, um
intelecto como "habitus", determinando o precedente e um intelecto
agente imaterial, separado, apresentando todos os caracteres da
divindade.
Os peripatticos rabes, Alfarabi, Avicena, Averris, com os quais S.
Toms tratar particularmente, so, em seu conjunto, pela
separao real do intelecto agente e por sua transcendncia face
aos indivduos. Em Avicena, ste intelecto aparecer, na concepo
hierrquica que le tem das inteligncias, como a inteligncia
inferior do sistema, da qual emanam ao mesmo tempo as formas das
coisas materiais, e, nas almas, os princpios do conhecimento que
estas tm das coisas materiais. Notemos que S. Toms se bater
principalmente contra o averrosmo que, por sua concepo de um
intelecto possvel separado, comprometia ao mximo a imortalidade
da alma.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:45
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.4.
4. NATUREZA DO INTELECTO AGENTE.
Em oposio maioria dstes comentadores, S. Toms afirma
claramente que o intelecto agente em cada alma humana algo de
real: "est aliquid animae" (Ia Pa, q. 79, a. 4). As razes sbre as quais
se funda para falar assim so, ao mesmo tempo, muito simples e
perfeitamente pertinentes. Com efeito, conforme uma lei bastante
geral, as causas universais e transcendentes s agem com o
concurso de princpios prprios aos sres particulares. O intelecto
agente transcendente, se existir um, requerer, portanto, a
cooperao de uma potncia derivada pertencendo a cada alma. Por
outro lado, e esta razo parece decisiva, claro que somos ns que
abstramos as "species" de onde procede a inteleco. Ora, no se
pode dizer que uma ao se relacione a um sujeito se no procede
dle segundo uma forma que lhe inerente:
"et hoc
experimento
cognoscimus,
dum
percipimus
nos
abstrahere
formas
universales a
conditionibus
particularibus,
quod est
facere actu
intelligibilia.
Nulla autem
actio
convenit
alicui rei, nisi
per aliquod
principium
formaliter ei
inhaerens".
ainda possvel, nesta concepo, falar de um intelecto agente
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-4.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:46
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.4.
separado? Sim, mas sob a condio de s se ver, neste intelecto,
Deus criador e iluminador de nossa alma:
"sed
intellectus
separatus,
secundum
nostrae
fidei
documenta
est ipse
Deus qui
est creator
animae...
Unde ab
ipso ipsa
anima
humana
lumen
intelectuale
participat,
secundum
illud
Psalmi:
"Signatum
est super
nos lumen
vultus tui,
Domine" (S.
4)".
Quanto ao verdadeiro intelecto agente, ste permanece na alma, da
qual uma potncia particular, distinta realmente do intelecto
considerado em sua funo receptora, ou do intelecto passivo.
Um ponto reclama preciso. Em que sentido deve-se dizer que o
intelecto agente uma potncia sempre em ato? No se v bem,
com efeito, numa primeira considerao, como, em uma mesma
inteligncia, possa existir, ao mesmo tempo, face aos inteligveis,
uma faculdade em potncia e uma faculdade em ato. S. Toms (cf.
De Anima, III, I. 10, n. 737; Ia Pa, q. 79, a. 4, ad 4) responde fazendo
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-4.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:46
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.4.
observar que a passividade de uma destas faculdades e a atualidade
da outra no devem ser consideradas em uma mesma linha. O
intelecto passivo est em potncia face s determinaes dos sres
exteriores a conhecer. O intelecto agente, por sua vez, dito estar
em ato enquanto imaterial e, portanto, apto a tornar imaterial o
objeto que era inteligvel s em potncia:
"Comparatur
igitur ut
actus
respectu
intelligibilium,
in quantum
est quaedam
virtus
immaterialis
activa,
poteris alie
similia sibi
facere,
scilicet
immaterialia.
Et per hunc
modum ea
quae sunt
intelligibilia
in potentia
facit
intelligibilia
in actu"
n.
739
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-4.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:46
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.5.
5. FASE PREPARATRIA SENSVEL DA ABSTRAO.
S. Toms designa habitualmente pela expresso phantasmata" o
elemento de conhecimento sensvel a partir do qual a inteleco se
processa. A que corresponde exatamente ste trmo?
Psicolgicamente, os "phantasmata" podem ser considerados como
imagens, mas sob a condio de se precisar que o conjunto dos
sentidos externos e internos contribui para a sua formao. Tambm
no devem ser considerados como simples reprodues das
sensaes, mas como a resultante de tda uma elaborao muito
complexa. S. Toms (Metaph. 1, lect. 1; II Anal. II, lect. 20) parece
reconhecer que antes da inteleco devem-se formar, no nvel do
conhecimento sensvel, esquemas tendo j um certo carter de
generalidade, os quais constituem uma espcie de intermedirio
entre o singular, diretamente percebido pelos sentidos, e o
verdadeiro universal que s a inteligncia atingir. As simplificaes
das frmulas, muitas vzes empregadas no tomismo para explicar o
conhecimento, no devem fazer-nos perder de vista tda a
complexidade da atividade concreta do esprito de modo algum
ignorada por esta filosofia.
Do ponto de vista objetivo, diz-se que os "phantasmata" so
inteligveis em potncia ou contm em potncia o inteligvel. No se
deveria isto ao fato de que a forma do objeto exterior que les
representam no se encontra nles de modo determinado? De modo
algum. Os "phantasmata" contm atualmente a essncia da coisa
que devem fazer conhecer, pois sem isso no se v como poderiam
transmiti-Ia inteligncia; mas so ditos em potncia em relao ao
ser inteligvel ou "intencional" que esta essncia dever revestir
para ser efetivamente conhecida. A atuao do inteligvel, de que
deveremos falar, concerne portanto no determinao formal do
objeto, que vem do exterior, mas a seu ser objetivo ou de
representao no esprito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-5.htm2006-06-01 12:19:46
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.6.
6. A AO DO INTELECTO AGENTE.
Como compreender esta ao pela qual o intelecto agente vai tornar
inteligvel em ato o inteligvel em potncia das imagens e permitir
assim a recepo da semelhana espiritual do objeto? Diversas
analogias, tradicionalmente usadas, podem ajudar nesta explicao.
A analogia da luz a comparao empregada por Aristteles: assim
como as cres, objeto da vista, tornam-se visveis s graas
iluminao devida luz, assim o inteligvel, contido em potncia nas
imagens, torna-se atual se fr semelhantemente iluminado pelo
intelecto agente.
Esta comparao pe felizmente em evidncia a necessidade de um
princpio ativo, diferente do objeto, para tornar possvel a inteleco.
Sugere ainda certos caracteres da atividade dste princpio: a no
colorao da luz evoca a ausncia de determinao formal do
intelecto agente; sua espiritualidade relativa, a espiritualidade
efetiva da atividade desta faculdade. Por outro lado, com esta
analogia no se v bem como o intelecto possvel ser atuado, e,
alm disso, -se orientado para a concepo falsa de um inteligvel
existindo em face da inteligncia como um objeto a contemplar,
quando na realidade s se pode falar em inteligvel em ato na prpria
faculdade receptora.
No aristotelismo, a atividade do intelecto agente tambm
freqentemente designada pelo trmo "abstrao". Diz-se que esta
faculdade abstrai o objeto inteligvel ou a "species" dos
"phantasmata", ou ainda que despoja a "species" das condies da
matria que a singularizam.
Aqui o resultado da atividade do intelecto agente que colocado
em evidncia, devendo-se evidentemente tomar em sentido
metafrico as expresses de abstrao ou de despojamento. Como
a precedente, esta analogia tem o inconveniente de no salientar o
aspecto de informao do intelecto passivo, aspecto ste implicado
nesta operao. O objeto inteligvel aparece sempre como uma coisa
inerte colocada em face da faculdade, quando efetivamente age
sbre ela. Como pois conceber esta causalidade?
Antes de tudo, manifesto que, isoladamente considerados, nem o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-6.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:46
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.6.
intelecto agente, que formalmente indeterminado, nem o
"phantasma" que na ordem inteligvel existe smente em potncia,
podem agir sbre o intelecto possvel. requerido o concurso dos
dois elementos. A ste respeito, foram propostas duas explicaes.
O "phantasmata" interviria na impresso da "species" a ttulo de
causa material e o intelecto agente exerceria uma espcie de
causalidade formal. ste modo de representar as coisas tem, entre
outros inconvenientes, o de sugerir sem razo que o "phantasma" ,
nesta atividade, o sujeito, quando na realidade antes o intelecto
possvel que desempenha ste papel.
Parece prefervel considerar aqui o "phantasma", como o faz Joo
de S. Toms, como uma causa instrumental elevada pela ao do
intelecto agente, causa principal (Cursus phil. De Anima, q. 10, a. 2,
sec. diffic.: Dicendum nihilominus). Um e outro fatres agindo, cada
um guarda em sua linha, sua ao determinadora: o "phantasma",
na ordem da essncia, o intelecto agente, na ordem do ser
inteligvel, sendo as duas aes hierrquicamente organizadas. S.
Toms sugere esta interpretao (cf. De Veritate, q. 10, a. 6, ad 1, 7,
8; I, q. 85, a. I, ad 3, 4). Eis o texto mais formal:
"Na recepo,
pelo intelecto
possvel, das
"species" das
coisas tiradas
dos
"phantasmata,
stes
desempenham
o papel de
agente
instrumental
e secundrio,
enquanto o
intelecto
agente o
agente
principal e
primeiro; o
resultado
desta
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-6.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:46
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.6.
atividade no
intelecto
possvel leva,
em
conseqncia,
a marca de
um e de outro
e no a de um
dos dois
elementos
sdmente; o
intelecto
possvel
recebe, pois,
as formas
como
inteligveis
em ato em
virtude do
intelecto
agente, e
como
semelhanas
determinadas
das coisas,
em razo do
conhecimento
dos
fantasmas; e
assim as
formas
inteligveis
em ato no
existem por
si, nem na
imaginao,
nem no
intelecto
agente, mas
smente no
intelecto
possvel"
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-6.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:46
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.6.
De
Veritate,
loc.
cit., ad
7
Notar-se- que o precedente processo no , em seu momento
essencial, de modo algum consciente. Percebemos as imagens e, no
fim, captamos o inteligvel, mas a explicao da passagem da
primeira para a segunda d-se smente a posteriori, perfeitamente
legtima alis. Comparado ao processo semelhante da formao da
representao sensvel, aparece a abstrao intelectual como mais
ativa do lado do esprito, pois a elevao ao nvel do ser inteligvel
obra do esprito. Nos dois casos, todavia, a determinao formal do
objeto percebido resulta da ao da coisa exterior.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-6.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:46
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.7.
7. O INTELECTO POSSVEL E A RECEPO DA "SPECIES"
Estritamente falando, o intelecto agente no uma potncia de
conhecimento. Esta funo pertence ao intelecto possvel ou
passivo. Veremos, sucessivamente, que esta faculdade est em pura
potncia face aos inteligveis (a), que para passar a ato deve
preliminarmente ser informada pela "species" (b). Em seguida, ser
precisado o papel exato que esta ltima entidade desempenha no
ato intelectual (c) e a relao que tem com a coisa exterior (d) .
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-7.htm2006-06-01 12:19:47
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.8.
8. O INTELECTO POSSVEL UMA POTNCIA PASSIVA.
Esta afirmao da passividade de nossas potncias de conhecer
dirige tda a psicologia aristotlica. Devemos aqui, com S. Toms,
precisar seu exato significado (cf. Ia Pa, q. 79, a. 2).
Antes de tudo, no caso da inteligncia, esta alegao encontra-se
fundada no objeto mesmo desta faculdade. Este, com efeito, o ser
universal. Se, portanto, a inteligncia estivesse preliminarmente
atuada, e sendo o ser universal infinito, seguir-se-ia que a
inteligncia seria infinita. Ora, s a inteligncia divina possui esta
qualidade. Mas o que pode exatamente significar para uma
inteligncia, que ser espiritual, o fato de "padecer"? S. Toms, no
artigo citado, explica cuidadosamente que a passividade, de que se
trata, no comporta de modo algum, no sujeito receptor, qualquer
deteriorizao, ou ablao de qualquer propriedade natural: padecer,
no caso presente, significa smente a simples passagem, sob a
ao do agente, da potncia ao ato, ou o fato de o sujeito adquirir o
ato com relao ao qual estava em potncia. Entendida neste
sentido, uma paixo um aperfeioamento.
Os comentadores (cf. Cajetano, In Iam Part., q. 79, a. 2, XVI a XX;
Joo de S. Toms, Curs. Philos., De Anima, q. 6 a 3) precisam que,
na recepo do inteligvel, o intelecto passivo de dois modos
diferentes: primeiro, conforme uma passividade material, devendo a
"species" em questo ser preliminarmente recebida entitativamente
na inteligncia, como tda forma em um sujeito; em segundo lugar,
conforme uma passividade imaterial, devendo o objeto a conhecer
perfeccionar a potncia na ordem objetiva ou intencional.
Evidentemente esta segunda passividade ser caracterstica do
conhecimento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-8.htm2006-06-01 12:19:47
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.9.
9. RECEPO DA "SPECIES"
Consideraremos agora a atuao do intelecto passivo. Esta devida
atuao conjugada do intelecto agente, causa principal, e do
"phantasma", causa instrumental. Esta ao tem por efeito, antes de
tudo, modificar como ser o sujeito inteligente determinando nle, a
ttulo de acidente, uma "species". Conjuntamente se produz uma
segunda informao que atua a inteligncia como potncia
intencional. Pode-se produzir neste caso smente o ato de
conhecimento prpriamente dito.
Esta segunda informao, notemos, pode seguir ou no a
informao entitativa, apresentando-se a segunda destas
alternativas quando a inteligncia cessa de pensar um objeto. ste,
ento, no est mais inteligivelmente presente; permanece, contudo,
na potncia a ttulo entitativo, ou como "habitus". Alis novamente a
partir desta presena entitativa, a inteligncia poder passar, graas
a uma nova informao intencional, a um nvo ato de conhecimento.
Assim se explicam as passagens sucessivas da idia no pensada
idia atualmente apreendida, isto , o fenmeno da memria
intelectual.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-9.htm2006-06-01 12:19:47
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.10.
10. PAPEL DA "SPECIES" NO ATO INTELECTUAL.
Portanto, uma vez informado, o intelecto possvel encontra-se
pronto para passar a seu ato. Como vai ste se produzir? Pela
atividade da faculdade enquanto est objetivamente determinada
pela "species". Tda ao em seu princpio supe, com efeito, uma
potncia e uma forma; a potncia j est dada e a forma outra coisa
no que a "species" recebida: esto assim realizadas as condies
da atividade cognitiva.
Do que acaba de ser dito segue-se que a "species", ou a forma do
objeto recebida na inteligncia, no de modo algum "o que"
conhecido, quod cognoscitur, mas smente "o que por meio do
qual" se conhece, quo cognoscitur (cf. Ia Pa, q. 85, a. 2). O que
diretamente atingido o objeto ou a coisa mesma; a "species" s
por uma atividade reflexiva captada no princpio do ato.
Voltaremos a isso.
A "species" no , pois, o objeto que efetivamente conhecemos.
Segue-se da que no tenha com le nenhuma relao? Pelo
contrrio. Sua funo mesma unir o objeto inteligncia ou tornarlhe presente. Consegue isto porque uma semelhana dle sendolhe semelhante, pode substitu-lo em nosso esprito. Empdocles,
com o seu conhecimento do semelhante pelo semelhante, est na
origem desta concepo. Todavia, contrriamente ao que le
pensava, a semelhana em questo no deve ser entendida como
uma reduplicao material, mas como uma reproduo de ordem
objetiva, pois o modo de ser no esprito diferente do modo de ser
na realidade.
igualmente muito importante notar que a semelhana da coisa
pode represent-la de modo mais ou menos perfeito. A inteligncia
humana, teremos ocasio de o repetir, no tem de incio a intuio
clara das essncias. Inicialmente as apreendemos s de modo
confuso e atravs de conceitos completamente gerais. As
semelhanas ou "species" primitivas apenas representam o objeto
sob seus mais comuns aspectos. Ser ste precisamente o trabalho
do esprito, o de determinar progressivamente ste primeiro dado
ainda muito indistinto.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20...mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-10.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:47
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.13, C.10.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20...mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA13-10.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:47
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.1.
A ATIVIDADE DA INTELIGNCIA
1. INTRODUO.
Alm dos dois elementos que acabamos de distinguir no princpio
dessa atividade, intelecto possvel e "species", enumera S. Toms,
integrando o ato completo, dois outros elementos: a inteleco,
"intelligere" e a concepo interior da inteligncia, "conceptio
intellectus", na qual a faculdade contempla seu objeto. Assim:
"Aqule que
faz ato de
inteligncia
pode ter
relao, em
seu ato, a
quatro coisas:
ao que
captado pela
inteligncia,
"species"
inteligvel pela
qual a
inteligncia se
v atuada, a
seu ato de
inteleco e
concepo da
inteligncia . . .
intellectus
autem in
intelligendo
ad quatuor
potest habere
ordinem
scilicet ad
rem quae
intelligitur, ad
speciem
intelligibilem
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:48
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.1.
qua fit
intellectus in
actu, ad suum
intelligere, et
ad
conceptionem
intellectus".
De
Pot.,
q.
8,
a. 1
Resta-nos, pois, considerar: a inteleco em si mesma (1) e a
concepo da inteligncia (2). Depois disto, voltando s imagens
que esto na origem de nossa atividade intelectual, deveremos
mostrar que esta atividade supe sempre uma referncia ao
sensvel. (3)
Em tda esta questo S. Toms, para responder s exigncias dos
problemas teolgicos, notadamente ao do Verbo Divino, viu-se
levado a ultrapassar Aristteles. Ns o seguiremos nestas
elaboraes novas. Os textos principais utilizados so: Contr. Gent.,
I, c. 53; De Pot. q. 8, a. 1; q. 9, a. 5 e 9; De Ver, q. 4, a. 2; I, q. 14; a. 4;
q. 27; a. 1; q. 34, a. 1 e 2. Para os comentadores cf. Joo de S.
Toms, Curs. Phil., De Anima, q. 11, a. 1 e 2.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:48
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.2.
2. A INTELECO
A atividade fsica, em Aristteles, tem de caracterstico que sai de
algum modo do agente e passa coisa exterior para a transformar.
D-se o mesmo no caso do conhecimento? J sabemos que no.
medida que um ser se eleva na escala dos viventes, caminha no
sentido de uma interioridade crescente: cada vez menos o sujeito
considerado recorre aos outros e com les se relaciona. Da ordem
da atividade transitiva passa ordem da atividade imanente da qual
o conhecimento intelectual representa justamente o tipo mais
perfeito.
Conclui-se que, na inteleco, no a coisa exterior que se encontra
modificada, mas o prprio sujeito cognoscente. S. Toms, em
diversas circunstncias, precisa que esta modificao pode ser
comparada quela em que uma essncia recebe a existncia, o
"esse".
"A inteleco
no uma
ao que
progride para
o exterior,
mas que
permanece
no agente,
como seu ato
e sua
perfeio, do
mesmo
modo como
a existncia
a perfeio
do existente.
Com efeito,
assim como
a existncia
segue a
forma, assim
tambm a
inteleco
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:48
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.2.
segue a
"species"
inteligvel" . . .
Intelligere
non est actio
progrediens
ad aliquid
extrinsecum,
sed manet in
operante,
sicut actus et
perfectio
ejus, prout
esse est
perfectio
existentes.
Sicut enim
esse
consequitur
formam, ita
intelligere
sequitur
speciem
intelligibilem"
Ia
Pa.
q.
14
a.
4
Cf. ainda, q. 34, a. 1; ad 2. Joo de S. Toms, De Anima, q. 11, a. 1;
dico ultimo.
Assim, pois, como o "esse", na ordem do ser, representa a perfeio
ltima de uma coisa, semelhantemente a inteleco, o "intelligere",
na ordem do conhecimento, ou mais geralmente da atividade.
Perfeio, no ltimo caso, imanente, isto , ordenada ao bem do
sujeito e que no produtora de nenhum efeito; atingimos aqui um
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:48
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.2.
trmo ltimo.
Considerando a afirmao precedente, Joo de S. Toms, que gosta
de classificaes, recoloca a presente atividade na categoria da
qualidade. Aparentemente a inteleco se apresenta como uma
modalidade do gnero ao; mas uma ao exige uma paixo
correspondente em um sujeito que ela transforma, o que aqui no se
d. Ainda mais, como acabamos de dizer, a inteleco no aparece,
como a ao, orientada para algo de distinto. A inteleco no pode,
pois, pertencer ao predicamento da ao e, sendo disposio do
prprio sujeito, resta que deva ser assimilada ao predicamento
qualidade.
O principal intersse desta determinao marcar bem a diferena
que separa a atividade cognoscitiva, tipo perfeito da ao imanente,
da atividade fsica ou transitiva. Agir, para um esprito, uma coisa
e, para uma realidade material, outra. Muitas dificuldades no estudo
do conhecimento provm do esquecimento desta verdade
elementar.
A realidade, todavia, mais complexa do que acabamos de dizer. A
inteleco, em S. Toms, aparece igualmente como produtora de um
trmo ou de um quase-trmo, interior por certo, mas realmente
distinto dela: o "verbum mentis", ou a "conceptio intellecta". Ao
mesmo tempo que contemplo o objeto, e para estar em condies de
o contemplar, formo em minha inteligncia uma imagem dste
objeto que mo torna presente. Em outras palavras, para uma
inteligncia, pensar contemplar, mas tambm conceber.
Qual pois ste trmo concebido pela inteligncia? A atividade de
concepo que acabamos de discernir deve ser distinta realmente
da apreenso exercida pela inteligncia ou da inteleco? Que
relaes h exatamente entre stes dois aspectos do ato de
conhecer? Tais so os problemas que presentemente se colocam.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:48
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.3.
3. O VERBO MENTAL
Grande parte das dificuldades, no estudo da teoria do verbo mental
em S. Toms, provm de que no se teve cuidado de recolocar os
textos em questo nas perspectivas diversas em que foram
elaborados.
Encontra-se, primeiro, todo um conjunto de textos sbre o
conhecimento onde no existe meno alguma de um trmo interior
ou de um verbo. O Doutor nglico, neste caso, segue apenas letra
o ensinamento de Aristteles. O que atingido diretamente a
coisa, "res", e no a modificao do esprito. Pretender o contrrio
cair, com Protgoras, em um relativismo insustentvel: tudo o que
me aparece verdadeiro enquanto tal. Cincia e verdade encontramse assim comprometidas. Contrriamente, preciso afirmar que a
"species" inteligvel apenas um princpio "quo" de inteleco, o
que quer dizer que se encontra s na origem do ato e assim s pode
ser captada de maneira reflexiva.
De fato, colocados parte dois ou trs textos, a teoria do verbo foi
desenvolvida por S. Toms to smente em vista de sua utilizao
para o dogma da gerao da Segunda Pessoa da SS. Trindade.
Podendo uma tal operao ser concebida s como um processo de
conhecimento, torna-se de grande intersse reencontrar, em tda
inteleco, uma produo interior, com a qual se poder comparar a
gerao trinitria. Diga-se de passagem que aqui se encontra um
dos tipos mais acabados do desenvolvimento de uma doutrina
filosfica sob a influncia da f.
Todavia, se a teoria do verbo foi elaborada com preocupaes
teolgicas, pode ser igualmente abordada como um problema de
filosofia. O conhecimento aparece, com efeito, claramente marcado
por um carter expressivo que deve ser levado em conta. Por outro
lado, tendo sido a atividade intelectual reconhecida como imanente,
coloca-se necessriamente a questo da existncia de um trmo
interior ao pensamento.
Nota de vocabulrio. A expresso "verbum mentis" - em comparao
com "verbum oris", a palavra -, encontra-se mais habitualmente
empregada por S. Toms em vista das aplicaes trinitrias da
doutrina. Em contexto psicolgico, seria prefervel falar de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:48
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.3.
"conceptio" ou de "intentio intellecta". A expresso corrente da
escolstica contempornea de "species expressa", em oposio
"species impressa", que designa a forma do conhecimento, aparece
s mais tarde.
Em um texto clssico (Cont. Gent. I, 53), S. Toms d duas razes da
existncia do verbo no conhecimento intelectual. Em primeiro lugar,
sendo a inteligncia capaz de apreender as coisas em sua ausncia,
como tambm em sua presena, impe-se evidentemente, ao menos
no primeiro caso, que o objeto conhecido encontre-se na potncia
de conhecer. O segundo motivo mais fundamental e vale
universalmente: devendo o objeto captado pela inteligncia estar,
como tal, separado das condies da matria, necessrio, se se
trata de coisas materiais, que a faculdade de conhecer lhe confira
um modo de existncia correspondente, o que s pode acontecer no
seio de sua imanncia.
Estas razes, que antes se prendem s condies de imperfeio do
conhecimento humano, no bastam para assegurar, doutrina
trinitria da gerao, a base analgica que requer. Assim, Joo de S.
Toms (De An. q. 11) , apoiando-se sbre certos textos de S. Toms,
invoca, para igualmente justificar a produo do verbo, uma certa lei
positiva de super-abundncia; naturalmente somos levados a
exprimir e a manifestar, o que aprendemos, dizendo-o. H nisto uma
certa exigncia de perfeio do pensamento. Todavia, continua
nosso autor, que no se v at ao ponto de fazer da dita produo
uma necessidade absoluta, nem de apresent-la como fim mesma
inteleco: ste ltimo ato, ns o vimos, absolutamente trmo, e,
se preciso um verbo, antes em benefcio da inteleco.
Deve-se, todavia, reconhecer que em tda inteleco existe um
verbo? No caso do conhecimento humano uma tal exigncia ocorre,
no smente para o conhecimento das coisas materiais, mas ainda
no da alma por si mesma. Igualmente o anjo: ainda que sua
essncia, objeto prprio de sua inteligncia, imediatamente lhe
esteja presente, s se conhece em um verbo. S. Toms conservar
s um caso onde no h produo de um verbo: na viso beatfica:
Deus perfeitamente inteligvel por si mesmo e pode terminar, de
modo imediato, o ato de apreenso de sua essncia. Sendo, por
outro lado, infinita, esta no poderia ser representada de modo
adequado por alguma semelhana criada.
No conhecimento, refere-se o verbo a duas coisas: atividade
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:48
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.3.
intelectual que o produz e coisa que representa ao esprito.
O verbo como produo. A questo que aqui se coloca de se saber
se a produo do verbo um simples efeito da inteleco ou se no
se supe uma atividade distinta do esprito. S. Toms (De Veritate, q.
4, a. 2 ad 5) sustenta a primeira hiptese. Parece completamente
gratuito e seria suprfluo duplicar em ns o ato prpriamente dito de
conhecer por uma atividade produtora de um verbo. O "dicere",
muitas vzes considerado parte, no , portanto, distinto
realmente do "intelligere". Assim, o verbo resulta da inteleco de
maneira imediata. Lembrar-se-, todavia, que no se deve dizer dle
que seja prpriamente o fim. oportuno acrescentar que, como para
a "species quo", o verbo pode ser considerado objetivamente (ou
em seu ser representativo) ou entitativamente (em relao ao sujeito
inteligente do qual ento um acidente que o qualifica).
O verbo como semelhana. Relacionado, no mais ao sujeito que o
produz, mas ao objeto conhecido, o verbo aparece como uma
semelhana. Esta qualidade lhe advm do fato de que a "species",
que est no princpio do ato intelectual, uma semelhana da coisa
exterior: "pelo fato de a "species" inteligvel, que a forma do
intelecto e o princpio de inteleco, ser a semelhana da coisa
exterior, segue-se que o intelecto produz uma inteno que
semelhante a esta coisa" (Cont. Gent. I, c. 53).
O que representa exatamente esta semelhana? De um modo geral,
semelhana quer dizer unidade no gnero qualidade. Mas aqui
qualidade deve ser entendida em sentido amplo como que
significando, em particular, a diferena especfica ou a essncia da
coisa. , portanto, com esta que o verbo se relaciona antes de tudo.
Todavia, teremos ocasio de o repetir ao estudar o devir do
conhecimento, permanecendo as primeiras apreenses de nossa
inteligncia muito gerais e confusas, as representaes que lhes so
correspondentes s podem ser imperfeitas; a relao de semelhana
do verbo ser precisada, pois, s de modo progressivo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:48
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.4.
4. O VERBO: TRMO RELATIVO OU TRMO LTIMO DO
CONHECIMENTO?
No conhecimento, a interposio de um trmo imanente entre a
inteligncia e a coisa exterior no pode deixar de levantar uma
dificuldade. a coisa que atingida pela inteligncia, ou se deve
falar que a concepo interior do esprito? E, admitindo esta
segunda hiptese, no se compromete o realismo do conhecimento
ou uma determinao interior do ato?
ste problema, que pouco preocupou os medievais, tomou tda sua
acuidade com a controvrsia idealista (cf. a recente polmica entre
tomistas : Maritain, R f lexions sur l'intelligence, c. 2; Les degrs du
savoir, c. 3, 26 e Apndice I; Roland Gosselin, Rev. Sc. Phil. et Thol.
1925, pg. 200 ss.; Blanche, Bull. Thom., 1925, pg. 361 ss.). Como a
discusso no deixou de ser confusa, no ser sem utilidade
pararmos um pouco neste ponto.
A fixao do verdadeiro pensamento de nosso Doutor aparece,
numa primeira leitura, irrealizvel, pois uma srie de textos parece
levar a um imediatismo sem compromissos, enquanto outros, com
uma no menor clareza, afirmam que o verbo o trmo mesmo
atingido no conhecimento.
Em favor da primeira concepo, baste-nos lembrar a exposio
perfeitamente clara e explcita da Prima Pars (q. 85, a. 2), onde se
declara que o que diretamente conhecido a coisa e no a
"species"; esta s , atingida por reflexo; assim: "quod cognoscitur
est res". Outros textos so ainda mais categricos (cf. Cont. Gent.,
IV, c. 11): "que a inteno da qual se trata no seja em ns aquilo
que apreendido pela inteligncia, isto vem do fato de que uma
coisa apreender a coisa, e outra captar a inteno inteligvel, o
que a inteligncia realiza quando reflete sbre seu ato". A "inteno
inteligvel", isto , o verbo, , pois, atingido smente em um ato
reflexo; s a coisa atingida diretamente. Isto totalmente claro.
Outros textos, infelizmente, parecem afirmar exatamente o contrrio
(cf. De Pot., q. 9, a. 5):
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-4.htm (1 of 7)2006-06-01 12:19:49
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.4.
"o que de persi atingido
pela
inteligncia
no esta
coisa da qual
se tem
conhecimento...
mas o que
antes de tudo
de per si
atingido,
aquilo que a
inteligncia em
si mesma
concebe da
coisa
conhecida".
Algumas passagens, porm, parecem pretender uma conciliao (cf.
De Ver., q. 4, a. 2 ad 3): "A concepo da inteligncia intermediria
entre a inteligncia e a coisa, porque por ela que a dita operao
chega at coisa; segue-se disto que a concepo da inteligncia
no smente o que captado, - id quod intellectum est, mas
tambm aquilo por meio do qual a coisa captada, - id quo res
intelligitur, -de modo que aquilo que captado aplica-se prpria
coisa e concepo da inteligncia, - sic quod intelligitur possit dici
et res ipsa et conceptio intellectus. (Cf. paralelamente In Joan., c. 1:)
"O verbo comparado inteligncia no como aquilo por meio do
qual ela capta seu objeto, - quo intelligit, - mas, aquilo no qual ela o
capta -in quo intelligit porque nle, formado e expresso, que v a
natureza da coisa".
Para colocar um pouco de clareza neste debate, importa lembrar que
S. Toms aqui escreve sob duas perspectivas diferentes: na linha da
teoria do conhecimento de Aristteles e na linha da teoria da
gerao trinitria do Verbo. Com Aristteles, trata-se de evitar o
subjetivismo de Protgoras, para quem o objeto do conhecimento
seria a modificao mesma do sujeito. E neste caso a imediao
do conhecimento que naturalmente deve ser colocada em evidncia.
Com os telogos, procura-se assegurar um trmo interior do
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-4.htm (2 of 7)2006-06-01 12:19:49
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.4.
pensamento, onde naturalmente se levado a sublinhar o carter de
imanncia do ato da inteligncia. Isto reconhecido, ser permitido
que nosso autor, levado pela preocupao especial de cada uma de
suas exposies, no cuidou de circunstanciar tdas as suas
frmulas. Os textos mais completos, sbre os quais convm antes
de tudo se apoiar, so aqules nos quais so propostos os dois
aspectos da doutrina.
Portanto, o que captado pelo esprito pode-se referir tanto coisa
mesma, como concepo da inteligncia, "et res ipsa et conceptio
intellectus"; de modo que o verbo ao mesmo tempo: "quod
intellectum est" e "id quo intelligitur". bem um trmo, mas relativo
to smente, pois o trmo absoluto a prpria coisa.
O verbo como sinal formal. Constata-se, muitas vzes, na discusso
dste problema, uma doutrina do sinal cujo desenvolvimento parece
dever-se atribuir a Joo de Santo Toms (cf. Curs. phil., Log., IIa Pa
q. 22, a. 1 e 2). A concepo do esprito seria um sinal da coisa que
representa. Mas h duas espcies de sinal: - o sinal instrumental,
que tem por carter prprio levar o esprito a uma realidade diferente
da que foi apreendida: "quod praeter species qua ingerit sensui,
aliud facit in cognitionem venire": assim, percebendo a fumaa infiro
o fogo que uma outra coisa; - o sinal formal que, tambm le, faz
conhecer outra coisa, mas em si mesmo e de modo imediato; h,
neste caso, simultaneidade entre a captao do sinal e a do
significado.
Se o verbo mental fr um sinal, s pode evidentemente ser um sinal
formal, isto , no uma coisa que nos conduz ao conhecimento de
outra, mas uma coisa na qual diretamente captamos uma outra. A
razo formal do objeto exterior encontra-se assim imediatamente
apreendida, s sendo atingida em um trmo imanente ao esprito.
Dplice aspecto da imanncia e da exterioridade de nosso
conhecimento intelectual que convm manter simultneamente, se
se quer evitar os extremos do mediatismo ruidoso das "idias
quadros" e de um imediatismo da coisa e de nossa faculdade que
perfeitamente ininteligvel.
Assim, o ato intelectual humano se constitui de quatro elementos: a
faculdade mesma, a "species" que a atua, a inteleco e o verbo.
Vistas na linha de uma metafsica geral da atividade, as condies
especiais dste ato nos levaram a estas distines. No se pode,
todavia, esquecer que analisar no espedaar. Na pluralidade de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-4.htm (3 of 7)2006-06-01 12:19:49
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.4.
seus princpios, o ato de conhecimento guarda uma verdadeira
unidade e definitivamente esta que toca de incio a conscincia.
Para tudo retomar ainda uma vez, citaremos ste belo texto do
Contra Gentiles, j antes usado (I, c. 53):
"A coisa
exterior,
apreendida pela
nossa
inteligncia,
no existe
segundo sua
natureza, mas
preciso que sua
semelhana,
pela qual se
encontra
atuada, esteja
em nossa
inteligncia.
Atuada pela dita
semelhana,
como por sua
forma prpria,
nossa
inteligncia
capta a prpria
coisa; no que
a inteleco
seja por si uma
ao que passa
para a coisa
exterior, como
o aquecimento
se comunica ao
que aquecido,
mas permanece
no que faz ato
de inteligncia
e tem relao
coisa que
captada, no que
a "species" em
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-4.htm (4 of 7)2006-06-01 12:19:49
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.4.
questo, que
princpio formal
de operao
intelectual, a
semelhana da
coisa preciso
ainda observar
que a
inteligncia,
informada pela
"species" da
coisa, forma em
si mesma uma
certa inteno
do objeto
apreendido, a
qual a razo
que significa
sua definio.
Isto se impe
pelo fato de a
inteligncia
captar
indiferentemente
uma coisa
ausente e
presente, no
que a
imaginao lhe
semelhante.
Ainda mais, a
inteligncia tem
isto de
particular: ela
capta a coisa
como separada
destas
condies
materiais sem
as quais no
pode existir na
realidade
concreta, o que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-4.htm (5 of 7)2006-06-01 12:19:49
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.4.
seria
impossvel se
esta faculdade
no se
formasse
"inteno" do
modo como foi
dito. Ora, esta
inteno
apreendida,
pelo fato de ser
o quase-trmo
da operao
intelectual,
diferente da
"species
inteligvel", a
qual, atuando a
inteligncia,
deve ser tida
como seu
princpio,
sendo, alis,
uma e outra
destas coisas,
semelhanas da
realidade
conhecida. Pelo
fato de a
"species"
inteligvel, que
a forma da
inteligncia e o
princpio de seu
ato, ser a
semelhana da
coisa exterior,
por isso mesmo
a inteligncia
forma uma
"inteno"
semelhante a
esta coisa; tal,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-4.htm (6 of 7)2006-06-01 12:19:49
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.14, C.4.
com efeito, uma
coisa, tal sua
operao. Pelo
fato enfim de a
"inteno"
apreendida ser
semelhante a
uma certa
coisa, segue-se
que a
inteligncia,
formando uma
tal inteno,
capta esta
prpria coisa".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA14-4.htm (7 of 7)2006-06-01 12:19:49
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.15, C.1.
A VOLTA S IMAGENS
1. INTRODUO.
O ato intelectual, do qual acabamos de fazer a anlise, tinha sua
origem no conhecimento sensvel, ou nos "phantasmata". Para S.
Toms, veremos, encontram-se as imagens uma segunda vez no
processo intelectual, mas desta vez no trmo do conhecimento ou
do lado do objeto. Assim, a inteligncia nada pode captar se no se
volta s imagens "nisi convertendo se ad phantasmata", sendo esta
converso outra coisa que a simples indicao de uma relao de
origem (cf. sbre ste assunto: Ia Pa, q. 84, a. 7 e 8; q. 86, a. 1. q. 89,
a. 1; Cajetano, in Iam Part. q. 84, a. 7. Joo de S. Toms, De Anima, q.
10, a. 4).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA15-1.htm2006-06-01 12:19:49
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.15, C.2.
2. PROVA EXPERIMENTAL.
No artigo 7 da questo 84, que aqui o texto maior, S. Toms faz
aplo experincia. Dois fatos tendem a provar a necessidade, para
a inteleco, desta volta s imagens: - o fato das leses corporais
que paralisam a atividade da inteligncia. Como esta faculdade no
utiliza rgo algum, o obstculo constatado s pode ser relativo s
atividades sensveis que seriam necessrias para a inteleco.
Assim, quando a imaginao falha, no pode haver conhecimento
intelectual. - Um segundo fato prova mais diretamente: no
verdade que quando algum se esfora por compreender alguma
coisa, espontneamente forma imagens nas quais se aplica a
considerar o que capta pela inteligncia? "Quando aliquis conatur
aliquid intelligere format aliqua phantasmata sibi per modum
exemplorum, in quibus quasi inspiciat quod intelligere studet".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA15-2.htm2006-06-01 12:19:50
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.15, C.3.
3. JUSTIFICAO RACIONAL.
stes fatos podem ser justificados a priori, pois a volta s imagens
est implicada nas condies mesmas do objeto prprio da
inteligncia humana. Sabemos, com a " qididade", isto , a efeito,
que ste objeto prprio natureza dos coisas sensveis . Ora, a esta
natureza pertence existir s no singular, isto , em uma matria
corporal: assim, compete natureza da pedra existir em tal pedra
determinada. Donde se segue que a natureza da pedra, ou de no
importa que coisa material, s pode ser conhecida "completamente"
e "em verdade" se fr captada como existindo no particular, o qual
s pode ser apreendido pelos sentidos ou nas imagens. Para a
inteligncia atingir seu objeto prprio deve, portanto,
necessriamente voltar s imagens para nelas considerar a natureza
universal contida no particular:
"Intellectus
autem humani
qui est
conjunctus
corpori,
proprium
objectum est
quidditas, sive
natura in
materia
corporali
existens . . .
De ratione
autem hujus
naturae est
quod in aliquo
indivduo
existat, quod
non est
absque
materia
corporali:
sicut de
ratione
naturae equ.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA15-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:50
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.15, C.3.
est quod sit in
hoc equo.
Unde natura
lapidis vel
cujuscumque
materialis rei
cognosci non
potest
complete et
vere nisi
Secundum
quod
cognoscitur ut
in particulari
existens.
Particulare
autem
apprehendimus
per sensum et
imaginationem.
Et ideo
necesse est ad
hoc quod
intellectus
intelligat suum
objectum
proprium,
quod
convertat se
ad
phantasmata
ut speculetur
naturam
universalem in
particulari
existentem".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA15-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:50
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.15, C.3.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA15-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:50
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.15, C.4.
4. CONCLUSO: SOLIDARIEDADE DAS ATIVIDADES
INTELECTUAL E IMAGINATIVA.
As observaes precedentes manifestam claramente que, embora se
distinguindo ntidamente no tomismo o conhecimento intelectual e o
conhecimento sensvel, deve-se ter o cuidado de no se isolar uma e
outra destas atividades. As imagens encontram-se, ao mesmo
tempo, no princpio do conhecimento material como sua matria e,
no seu trmo, enquanto solidrias com o objeto. O singular poder
assim vir a ser indiretamente o objeto de nossa inteligncia e nossa
vida que, prticamente se passa no concreto, dever continuamente
a le se referir. Inicialmente e essencialmente faculdade do abstrato
e do universal, revela-se nossa inteligncia igualmente como a
faculdade do individual sensvel: riqueza e complexidade de uma
filosofia cuja aparente simplicidade das frmulas muitas vzes
engana.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA15-4.htm2006-06-01 12:19:50
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.16, C.1.
O PROGRESSO DO CONHECIMENTO HUMANO
1. INTRODUO
Enquanto a inteligncia divina e, face ao seu objeto prprio, a
inteligncia anglica chegam de um s golpe perfeio de
conhecimento que lhes proporcional, a inteligncia humana, a
mais fraca de tdas, s passa a ato de modo progressivo: "tudo o
que, com efeito, passa de potncia a ato chega a um ato incompleto,
o qual intermedirio entre a potncia e o ato, antes de atingir um
ato perfeito. O ato perfeito que a inteligncia atinge a cincia
completa, isto , aquela pela qual as coisas so conhecidas de modo
distinto e determinado. O ato incompleto a cincia imperfeita, na
qual as coisas so conhecidas indistintamente e em uma certa
confuso" (Ia Pa, q. 85, a. 3) . Intil dizer que a experincia da vida
do pensamento corrobora universalmente estas consideraes
tericas.
Sendo extremamente complexo o problema do progresso do
conhecimento humano, limitar-nos-erros, nestas pginas, a resolver
algumas ambigidades e a colocar em evidncia certos pontos mais
importantes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA16-1.htm2006-06-01 12:19:51
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.16, C.2.
2. O PRIMEIRO DADO DA INTELIGNCIA E A APREENSO DA
ESSNCIA.
O objeto prprio da inteligncia humana, que a qididade da coisa
sensvel, deve corresponder aparentemente ao que atingido
imediatamente por esta faculdade. Todo um conjunto de textos de S.
Toms no-lo sugere. Lidos com ingenuidade, stes textos parecem
atestar que a essncia assim apreendida , de um s golpe,
desvendada a nossos olhos: "o intelecto atinge a pura qididade da
coisa sensvel. . . " (De Veritate, q. 10, a. 6, ad 2 e In Boet. de
Trinitate, q. 6, a. 3). Assim se compreender de pronto "o que seja o
homem" e "o que seja o boi".
Tomadas absolutamente e sem alguma reserva, tais frmulas
parecem to manifestamente contrrias experincia que
impossvel de se crer que o pensamento de S. Toms aqui se
exprima de maneira comedida. Quem eusaria pretender que basta
olhar em trno a si para captar, com um s olhar, a natureza
profunda das coisas? De fato, em outras passagens. S. Toms fala
diferentemente: "as formas substanciais em si mesma nos so
desconhecidas, mas se nos manifestam por seus acidentes
prprios" (De Spirit. Creat., a. 11, ad 3) "porque as essncias das
coisas nos so desconhecidas . . . porque as diferenas essenciais
nos so desconhecidas. . . " (De Ver. q. 4, a. 1, ad 8; e Cont. Gent. III,
c. 91).
Aparentemente estas frmulas vo contra o que foi dito acima. S.
Toms, todavia, no deve ter visto aqui oposio irredutvel pois
em um mesmo artigo (De Spirit. Creat., a. 11, ad 3 e ad 7) que afirma
simultneamente: de um lado, que a inteligncia em sua primeira
operao capta a essncia das coisas e, de outro, que as formas
substanciais nos so desconhecidas. Convm, portanto, considerar
mais de perto o que efetivamente atingido na primeira apreenso
da inteligncia humana.
Uma doutrina bem demonstrada vai nos colocar no caminho da
soluo. O que conhecido por ns, pergunta o Doutor anglico, o
mais universal? (Cf. Ia P, q. 85. a. 3) Conclui-se, no artigo citado, ser
efetivamente o mais universal o que primeiro apreendido. Assim,
no se capta primeiro as essncias especficas, que correspondem a
conceitos mais particulares, mas os gneros mais elevados: a noo
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA16-2.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:51
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.16, C.2.
de "animal", por exemplo, anterior noo de "homem", e o
mesmo acontece em todos os casos semelhantes. S. Toms precisa,
por outro lado, que ste conhecimento mais geral tambm mais
confuso. Se se vai at ao princpio na aplicao desta doutrina, ser
preciso dizer que o que captado, em primeirssimo lugar nas
coisas pela inteligncia, a essncia sob seu aspecto mais comum
de ser, ou a idia de alguma coisa que existe. Atinge-se esta outra
afirmao, igualmente clssica no peripatetismo, que o ser aquilo
que concebido em primeiro lugar, e aquilo em que as outras
noes se esclarecem: "illud quod primo intellectus concipit quasi
notissimum et in quo omnes conceptiones resolvit est ens" (De
Verit., q. 1, a. 1). Subentende-se que o ser, do qual se trata aqui, no
precisamente o ser enquanto ser, apreendido formalmente pelo
metafsico, mas a noo mais comum e mais determinada de ser. O
primeiro olhar do esprito humano atinge as coisas confusamente
como sres.
A partir dste primeiro dado, a inteligncia progride em duas
direes principais:
- primeiro, no
sentido da
determinao
da essncia por
diferenas
especficas que
a distinguiro
segundo sua
pertena
hierarquizada
em gneros e
espcies
diversas;
orienta-se
ento para a
apreenso das
naturezas
particulares
que se exprime,
no fim, em uma
definio
ltima: o
homem um
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA16-2.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:51
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.16, C.2.
animal dotado
de razo;
- ou,
permanecendo
no nvel do ser,
progride a
inteligncia no
sentido das
determinaes
mais universais
desta noo
(propriedades
transcendentais,
unidade,
verdade,
bondade, por
exemplo):
elabora-se
neste caso uma
metafsica.
Em definitivo, no que nos concerne presentemente, preciso afirmar
que a apreenso da essncia das coisas pela inteligncia
compreendida entre os dois extremos, isto , entre o primeiro dado
confuso do conhecimento intelectual e a definio da coisa,
podendo a expresso "quidditas sensibilis" ser aplicada ao mesmo
tempo e proporcionalmente a um e a outro dstes estados do
conhecimento.
No peripatetismo no se erra em proclamar que face a seu objeto
prprio, ou em seu ato simples, uma potncia de conhecer no se
pode enganar. Assim, em sua primeira apreenso da essncia das
coisas, o intelecto humano no pode errar, "circa quod est non
potest falli" (cf. Ia P, q. 85, a. 6).
Os esclarecimentos precedentes permitem ajustar esta frmula que
pode prestar-se a equvocos. A primeira operao do esprito, a
"indivisibilium intelligentia", com efeito infalvel: o que captamos
imediatamente tal como captamos, mas s se trata aqui de uma
apreenso confusa. A definio precisa, exprimindo adequadamente
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA16-2.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:51
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.16, C.2.
a essncia da coisa, s vir no trmo de um trabalho de anlise e de
comparao extremamente complexo onde o rro poder aparecer.
Se, por exemplo, terminarmos por definir o homem como um "animal
racional alado", enganar-nos-erros. Indiretamente, pois, poder o
rro introduzir-se no conhecimento da essncia das coisas. Aqui
ainda a doutrina de S. Toms menos simplista do que possa
parecer em certos manuais.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA16-2.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:51
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.16, C.3.
3. O "DISCURSUS" INTELECTUAL.
No seio mesmo da atividade da primeira operao do esprito pode
haver um certo progresso do conhecimento. Todavia, no com
ste progresso que S. Toms relaciona a distino entre a
inteligncia humana, de si discursiva, e as inteligncias divina ou
anglica, as quais so essencialmente intuitivas: "intellectus
angelicus et divinus statim perfecte totam rei cognitionem habet" (Ia
P, q. 85 a. 5). A inteligncia humana, por sua vez, procede
compondo, dividindo (julgando) e raciocinando, "componendo,
dividendo et ratiocinando" (cf. ibidem e q. 58, a. 4 e 5) . Comparado
aos espritos superiores que so propriamente inteligncias, o
homem aparece assim como um ser dotado de razo (animal
rationale).
A necessidade de compor, de dividir e de raciocinar impe-se
inteligncia humana, porque esta no atinge, em um primeiro golpe,
o perfeito conhecimento da coisa, mas capta s um de seus
aspectos: sua qididade - e sabemos que isto mesmo
completamente relativo.
Apreendendo em seguida suas propriedades, ,seus acidentes e tudo
o que se relaciona essncia da coisa, -lhe necessrio associar ou
dissociar os objetos assim distinguidos, o que supe que se julgue
e, tratando-se de conseqncia, que se raciocine:
"Cum enim
intellectus
humanus
exeat de
potentia in
actum,
similitudinem
quemdam
habet cum
rebus
generabilibus,
quae non
statim
perfectionem
suam habent,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA16-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:51
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.16, C.3.
sed eam
successive
acquirunt.
Et similiter
intellectus
humanus non
statim in
prima
apprehensione
capit
perfectam rei
cognitionem,
sed primo
apprehendit
aliquid de
ipsa, puta
quidditatem
ipsius rei
quae est
primum et
proprium
obiectum
intellectus et
deinde
intelligit
proprietates
et accidentia
et habitudines
circunstantes
rei essentiam.
Et secundum
hoc necesse
habet unum
apprehensum
alii
componere et
dividere, et ex
una
compositione
et divisione
ad aliam
procedere,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA16-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:51
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.16, C.3.
quod est
ratiocinari
Ia
P,
q.
85,
a.
5
Tudo isto, seja dito ainda uma vez, representa s de modo
completamente esquematizado e simplificado a verdadeira marcha
do pensamento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA16-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:51
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.16, C.4.
4. COROLRIO: O CONHECIMENTO COMO ATIVIDADE.
O que acaba de ser dito permite-nos ainda responder a uma
dificuldade que um esprito moderno, abordando a doutrina
peripattica do conhecimento, no pode deixar de colocar.
Em uma primeira aproximao, manifesta-se nesta doutrina a
faculdade de conhecer como capacidade essencialmente receptiva
ou passiva: o quadro virgem sbre o qual vem se inscrever o dado
exterior. Mas no se poderia sustentar o contrrio, isto , no
aparece a inteligncia antes como uma faculdade ativa?
S. Toms, na realidade, no desconheceu ste outro aspecto das
coisas. Ativa, a inteligncia encontra-se no princpio de todo
conhecimento. No ela com efeito que deve tomar a iniciativa da
abstrao do fantasma, sem a qual nenhuma recepo de "species"
seria possvel? E a prpria inteleco, no ela um ato sado da
vitalidade da faculdade e que pela produo do verbo manifesta sua
fecundidade? Nossa inteligncia no tem, por outro lado, a partir de
seus primeiros dados, um trabalho imenso a desempenhar para
atingir um conhecimento distinto de seu objeto? Enfim, seria
conveniente lembrar que o esprito no somente reconstri a
realidade tal qual , mas ainda que para si constri todo um mundo
de sres que s existem nle : o do ser de razo. Assim, por muitos
ttulos, aparece a inteligncia humana como uma potncia dotada de
atividade.
No se esquecer, contudo, que o ato mesmo da faculdade, o
"intelligere", s atividade em sentido superior, onde no entra
propriamente nem progresso, nem movimento, mas perfeio na
imobilidade. Para a inteligncia, compreender ser: "intelligere est
esse". Tudo o que existe de mudana na vida do pensamento
encontra-se portanto ordenado a um repouso terminal ou, se se
quer, a uma plenitude de atividade onde a vida atinge seu cume: a
contemplao pura do objeto.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA16-4.htm2006-06-01 12:19:51
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.1.
O CONHECIMENTO DO SINGULAR E DO EXISTENTE
1. INTRODUO.
At aqui se nos manifesta o conhecimento intelectual como um
conhecimento abstrativo e universal. Libertando o inteligvel da
matria e de suas condies individuantes, le toma por objeto a
essncia mesma das coisas, deixando de lado o que a singulariza e
o fato mesmo de sua existncia. O indivduo concreto, Pedro, ste
homem, esta mesa. . . permanecem fora de nosso horizonte. Neste
plano, posso formar-me uma idia abstrata e universal do indivduo.
Tenho dle ento um conhecimento qiditativo.
Mas um tal conhecimento no a apreenso mesma do ser
particular que est presente aqui diante de mim.
E, no entanto, no manifesto que nossa vida intelectual se
relaciona continuamente com tais sres concretos e determinados?
S. Toms (Ia Pa, q. 86, a. 1) nota trs circunstncias onde ste fato
aparece com evidncia: 1. no se formam proposies cujo sujeito
um ser particular, como esta: "Pedro um homem"? Isto seria
inexplicvel se preliminarmente no se tivesse tido o conhecimento
dos dois trmos em presena, isto , principalmente o conhecimento
de Pedro; 2. a inteligncia, em sua funo prtica, diretora da ao;
ora, esta relaciona-se necessriamente a sres singulares e
concretos; a inteligncia, portanto, deve conhecer tais sres; 3. a
inteligncia capta-se a si mesma em sua atividade; ora, esta
manifestadamente singular; portanto, a inteligncia deve conhecer
ao menos ste objeto singular constitudo por ela mesma.
Como conciliar estas duas teses, pois ambas parecem se impor: a
inteligncia humana tem um objeto abstrato e universal e a mesma
inteligncia atinge o singular concreto? Na filosofia tomista, ste
problema d lugar a duas ordens de consideraes convergentes, a
primeira focalizando o conhecimento do singular como tal, e a
segunda, a apreenso de sua existncia. Sucessivamente vamos
considerar cada um dstes dois pontos, limitando-nos, para maior
simplicidade, experincia das realidades fsicas. A experincia da
alma e da vida psquica e a das realidades transcendentes, ou a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:52
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.1.
experincia mstica, devero ser consideradas parte.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:52
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.2.
2. O CONHECIMENTO DOS SINGULARES
Apoiada nos princpios mais gerais do sistema, a tese defendida por
S. Toms aparece logicamente inatacvel. Ei-la em trmos
perfeitamente claros (I, q. 86, a. 1):
"Nossa
inteligncia
no pode
captar de
modo direto
e imediato o
singular nas
coisas
materiais. A
razo disto
est no fato
de o
princpio da
singularidade,
em tais
coisas, ser a
matria
individual.
Ora, nossa
inteligncia,
como foi
dito, procede
em seu ato
abstraindo
desta matria
a "species",
e o que
abstrado da
matria
individual
universal.
Nossa
inteligncia
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-2.htm (1 of 6)2006-06-01 12:19:52
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.2.
diretamente
atinge s o
universal.
Pode todavia
atingir o
singular, mas
de modo
indireto e por
uma certa
reflexo,
indirecte et
per
quamdam
reflexionem;
isto se
explica pelo
fato de que
mesmo aps
ter abstrado
a "species"
inteligvel, s
pode, por
seu
intermdio,
conhecer em
ato, sob a
condio de
se voltar
para as
imagens nas
quais capta a
dita
"species" (cf.
De Anima, III,
c. 7 431 b 1).
Assim, capta
diretamente
o universal
por meio da
"species"
inteligvel, e.
indiretamente
os singulares
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-2.htm (2 of 6)2006-06-01 12:19:52
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.2.
com os quais
os fantasmas
se
relacionam."
(Cf. Igualmente sbre esta doutrina: Ia Pa, q. 14, a. 11; q. 57, a. 2;
Quaest. Disp. de Anima, a. 20; De Veritate, q. 10, a. 5) .
Como se deve representar esta "convertio ad phantasmata" que est
no princpio do conhecimento indireto do singular? Antes de tudo,
certo que no se trata aqui de uma outra "convertio", diferente da
que foi falada quando se perguntou se seria possvel conhecer
intelectualmente sem imagens. Mas pode-se precisar como se efetua
esta volta? Eis como no De Veritate (q. 10, a. 5), S. Toms no-lo
apresenta:
"O esprito,
todavia,
consegue
ingerir-se
nas coisas
particulares
enquanto se
prolonga
pelas
potncias
sensveis
que tm por
objeto o
singular... E
assim
conhece o
singular por
uma certa
reflexo,
enquanto
conhecendo
seu objeto,
que uma
natureza
universal,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-2.htm (3 of 6)2006-06-01 12:19:52
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.2.
chega ao
conhecimento
de seu ato, e
ulteriormente
"species"
que est no
seu
princpio, e
enfim ao
fantasma
donde as
espcies
foram
abstradas;
assim que
tem um certo
conhecimento
do singular."
, portanto, tomando conscincia da origem de seu ato que a
inteligncia capta o singular: ste, sbre o qual reflete, tem por
princpio a "species" que lhe parece provir das imagens. Sendo o
objeto destas sempre particularizado, a inteligncia, pelo
prolongamento do conhecimento sensvel, atinge assim o singular,
mas como o singular apreendido diretamente s pelas potncias
sensveis, trata-se ento s de um conhecimento indireto. Pode-se ir
mais alm nesta determinao e admitir que a inteligncia, nesta
atividade, faz uma concepo prpria do singular?
As precises dos comentadores: o conhecimento "arguitivo" de
Cajetano. Cajetano (in Iam Part. q. 86, I, VII) estima que do singular
assim apreendido temos s um conceito estranho, isto , que no o
representa prpriamente, embora convenha s a le.
Tomemos uma comparao. Se falamos da sabedoria infinita,
pensamos em uma coisa da qual no temos conceito prprio, mas
smente um conceito inadequado. Assim tambm para o singular.
Embora compreendamos o que o singular universalmente
considerado, no concebemos o que em particular a "socrateitas",
mas concebemos em ns o que o "homem" e a "singularidade", e
que o "homem", donde no subsiste por si, argumos e conclumos
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-2.htm (4 of 6)2006-06-01 12:19:52
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.2.
por um conhecimento qiditativamente no representvel, a saber a
"socrateitas", que na realidade existe uma coisa singular diferente
do universal "homem". No nos representamos, pois, formalmente o
singular, mas o conclumos em um conceito estranho, que o
compreende de algum modo e de maneira confusa, e depois de uma
reflexo sbre sua origem singular. O conceito de "Scrates" to
semente o conceito de "homem" colocado em relao, por uma
espcie de raciocnio implcito, com ste indivduo singular que
percebo pelos sentidos.
O conceito prprio e distinto do singular em Joo de S. Toms. Joo
de S. Toms no adota esta maneira de ver (cf. De Anima, q. 10, art.
4). Para le, se no se tem uma representao direta e adequada do
singular, tem-se dle contudo um conceito prprio e distinto. Sem
isso estaramos na impossibilidade de discernir uns dos outros os
diversos indivduos e de ter juzos perfeitamente determinados
como stes: "Pedro homem", "Joo no foi o Cristo". Esta opinio
parece distinguir-se da precedente no fato de que, segundo ela, para
que se determine singularmente o conceito basta, quando
percebida, a relao de origen com referncia imagem, sem que
seja necessrio apelar para uma espcie de raciocnio. Resta que em
ambas estas explicaes existe um conceito de Scrates que, em
referncia ao conhecimento sensvel, convm s a le.
Joo de S. Toms percebeu bem que sua teoria no deixava de
apresentar dificuldades. Como, com efeito, concili-la com a tese
exposta, fundamental no peripatetismo, do primado do
conhecimento do universal? Se cada conceito deve ser referido a
uma imagem que representativa do singular, no haver, na
origem, to smente conceitos, embora indiretos, mas prprios e
distintos do singular? Foi respondido negativamente (loco citato)
pois o que determina o conceito aquilo para o qual tende o
movimento do pensamento. Ora, ste movimento, na apreenso do
objeto, pode-se dirigir quer para o universal, quer para o singular
que representa. No primeiro caso, tem-se o conceito universal (e s
le representa direta e adequadamente seu objeto), no segundo
caso, o conceito singular (que o representa s indireta e
inadequadamente). , pois, por uma atividade psicolgica contnua
que se passa do universal para o particular, tese esta que tem a
vantagem de dar vida do esprito uma atividade concreta, que a
distino demais rgida das faculdades e de seus objetos arrisca-se
a esquecer. , definitivamente, um mesmo sujeito que pensa e que
imagina, capta o singular e apreende o universal: e o que era preciso
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-2.htm (5 of 6)2006-06-01 12:19:52
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.2.
separar, legitimamente alis, deve ser em seguida retomado na
unidade de uma s conscincia viva.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-2.htm (6 of 6)2006-06-01 12:19:52
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.3.
3. O CONHECIMENTO DA EXISTNCIA CONCRETA
O problema da percepo da existncia concreta, isto , da
existncia dste ser que percebe pelos sentidos, est em ntima
conexo com o problema do conhecimento do singular. De uma
parte, com efeito, s o singular existe e, mais profundamente, o que
obsta a inteleco, tanto no existente como tal, quanto no singular,
a materialidade ou a potencialidade que o limita. De si o singular e o
existente no so de modo algum ininteligveis. So as condies
nas quais se encontram implicados no mundo que nos cerca que
velam o olhar do esprito.
importante notar que o conhecimento da existncia, do qual se
trata presentemente, no a concepo universal ou qiditativa que
a inteligncia pode formar desta noo. Assim, tenho a idia comum
do que existe. Mais fundamentalmente, preciso reconhecer que em
sua primeira aprenso, que a do ser, o esprito se refere sempre
existncia. O ser , com efeito, o que existe ou pode existir. Em seu
primeiro trabalho, a inteligncia envolve de algum modo a ordem do
abstrato e a do concreto e o que faz com que ela possa ir depois
de um para outro. Atualmente, porm, trata-se da apreenso de tal
existncia determinada. Lembremos que ainda aqui ns nos
limitamos voluntriamente ao problema do conhecimento, pela
inteligncia humana, da realidade percebida pelos sentidos.
A tese comum do conhecimento do contingente. Esta questo da
apreenso pela inteligncia humana do concreto existente, deve ser
compreendida na tese mais geral do conhecimento, por tda
inteligncia, do contingente (cf. Ia P, q. 86, a. 3).
O ser contingente aqule que no existe necessriamente ou que
pode no existir. Como conseguiremos atingi-lo? Convm, antes de
tudo, colocar de lado um primeiro conhecimento dste ser que se
liga ao conhecimento qiditativo. Em todo ser contingente, com
efeito, h determinaes necessrias que resultam de sua forma, ou
da natureza das coisas, e que a inteligncia pode evidentemente
conceber. Assim direi que se Scrates se pe a correr, necessrio
que se mova. Mas, como poderia reconhecer que Scrates corre,
sendo isto um fato contingente?
Na resposta que d aqui a esta questo, S. Toms recorre mesma
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:53
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.3.
explicao que havia proposto para o singular: na realidade, os dois
problemas se confundem, pois a singularidade e a contingncia tm
semelhantemente sua raiz na matria. Como o singular, portanto, o
contingente ser captado de modo direto pelo sentido e
indiretamente pela inteligncia: "Contingentia, prout sunt
contingentia, cognoscuntur directe quidem sensu, indirecte autem
intellectu". Conseqentemente na e pela reflexo sbre as imagens
que se atinge a existncia concreta das coisas, a qual diretamente
se refere s ao sentido. possvel precisar ainda o modo dste
conhecimento concreto do existente?
Conhecimento de viso ou "per praesentiam". S. Toms explicou
ste ponto sobretudo a propsito de caso privilegiado do
conhecimento que Deus tem do contingente existente (cf. I, q. 14, a.
2). Em Deus deve-se distinguir dois tipos fundamentais de saber: - a
cincia da viso, que se relaciona ao que concretamente existente
(no passado, no presente ou no futuro); - a cincia de simples
inteligncia, que concerne aos possveis que jamais sero
realizados. Aproximativamente, esta distino corresponde que se
encontra em nosso caso do conhecimento abstrativo e da apreenso
do concreto.
Em que exatamente diferem os dois saberes considerados? Joo de
S. Toms (cf. Logica, q. 23, a. 2) glosando certas passagens de S.
Toms (em particular De Veritate, q. 3, a. 3), concluiu que a cincia
de viso se distingue da cincia de simples inteligncia por lhe
acrescentar uma diferena que est fora da ordem da representao
e que a presena da coisa: a coisa concebida de maneira
abstrativa vista como presente. Em linguagem moderna fala-se
antes de intuio. Deve-se notar, em favor desta interpretao, que o
prprio S. Toms, desde que se trate do conhecimento atual do
contingente, fala sempre da presena da coisa: a cincia de viso
assim formalmente um conhecimento "per praesentiam".
O comentador que aqui seguimos aplica a precedente anlise ao
caso do conhecimento. Que modificao dever padecer o
conhecimento abstrativo ou conceitual para atingir a existncia
como tal? A mesma que precedentemente: ser preciso que o
conceito seja referido coisa vista como presente nossa
faculdade, ou que nosso conhecimento termine nesta coisa, tendose especificado que a presena, de que aqui se trata, concreta e
no simplesmente representada: sei com efeito, que Deus est
presente em tda parte e contudo no posso, por ste fato, dizer que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:53
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.17, C.3.
o vejo. Ser conveniente precisar ainda que esta presena nossa
faculdade supe a atividade do objeto sbre a potncia e funda-se
sbre ela mesma. Em ns, a ordem do conhecimento concreto
repousa, em ltima anlise, sbre a ordem da eficcia causal.
Concluso: o juizo de existncia. O juzo de existncia concreta, "o
que percebo atualmente existe", to smente explica, no nvel da
operao perfectiva de esprito, o que se acha dado na primeira
apreenso, duplicada pela reflexo sbre o conhecimento sensvel
que est em sua origem.
Um objeto apresenta-se aos meus sentidos. Por abstrao eu o
concebo intelectualmente como algo que (noo confusa do ser
material); mas simultaneamente esta concepo aparece-me ligada
ao objeto que captei como presente. Se decomponho ste dado
primitivo segundo os dois aspectos que me oferece, de sujeito
determinado e de existncia atual, vejo que a existncia atual
convm a ste sujeito e eu lha atribuo; pronuncio ento ste juzo:
"isto existe", no qual afirmo o carter concreto do ser percebido; ao
mesmo tempo tomo conscincia da verdade de meu pensamento
enquanto ste se confronta com o objeto considerado.
Assim termina o ciclo total da atividade intelectual, a qual visa
atingir o ser at sua atualidade ltima e perfectiva, a existncia.
Resta evidentemente efetuar, em uma outra linha, todo o processo,
precedentemente descrito, pelo qual a inteligncia procura adquirir
um conhecimento distinto da essncia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA17-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:53
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.1.
O CONHECIMENTO DA ALMA POR SI MESMA
1. INTRODUO.
At agora elaboramos nossa teoria da inteligncia em funo do
conhecimento das coisas materiais. Mas certo que se encontra em
ns um conhecimento privilegiado de um ser que no puramente
material: o sujeito que pensa. Na filosofia moderna ste domnio do
psiquismo foi objeto de uma ateno tda particular e o
conhecimento do "eu" tomou assim uma importncia crescente.
Para s considerar o aspecto metafsico desta questo, pode-se
perguntar, com diversos filsofos de nossa poca, se a percepo
dste "eu" no seria o princpio mesmo do saber. Princpio, alis,
concebido de modo to diferente por um Descartes, que nle v uma
substncia espiritual, por um Maine de Biran, que o identifica com o
esfro motor voluntrio, por um Bergson, que o confunde com a
durao, por um Fichte, que dle faz dura atividade a priori e
absoluta enquanto que, em oposio, Kant afirma que,
ontolgicamente considerado, o "eu" pertence ao mundo inatingvel
do nmero.
Teremos ocasio de voltar a estas posies para as apreciar
segundo nosso ponto de vista. Nossa inteno presentemente
expor a doutrina de S. Toms na linha mesma de sua problemtica e
de seu desenvolvimento original. E s depois poder ser
verdadeiramente frutuoso um confronto corri outros pensamentos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-1.htm2006-06-01 12:19:53
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.2.
2. O PROBLEMA COLOCADO A S. TOMS
O problema do conhecimento da alma e de sua atividade ocupa um
lugar secundrio na psicologia de Aristteles. Esta
manifestamente dominada pela preocupao de valorizar, em reao
contra o espiritualismo platnico, o primado do conhecimento das
coisas materiais.
Uma s questo neste domnio parece reter um pouco a ateno do
filsofo, a da inteligibilidade das potncias da alma. Se verdade
que inteligvel s o que est em ato, como ser possvel falar de
um conhecimento direto das potncias? Responde Aristteles que
efetivamente s atingimos as potncias por intermdio de seus atos.
o que aparece no livro II do De Anima (c. 4, 415 a 14-22), onde est
dito que a ordem da pesquisa psicolgica a seguinte:
conhecimento dos objetos, dos atos que os especificam e, por meio
dles, das potncias que esto no seu princpio. E igualmente o que
se conclui da exegese de uma passagem embaraada do livro III (c.
4, 429 b 27-430 a 9), de onde S. Toms tira que s conhecemos
nosso intelecto porque temos a percepo de nosso ato de
inteleco: "non enim cognoscimus intellectum nostrum nisi per hoc
quod intelligimus intelligere". A fortiori concluir-se- que s temos
do "eu" um conhecimento indireto na e pela sua atividade.
As elaboraes pessoais de S. Toms vo se situar na linha das
preocupaes precedentes, isto , face ao problema metafsico da
inteligibilidade das potncias e ulteriormente da alma intelectiva:
problema abarcado por ste adgio e de cuja demonstrao estar
dependendo: "uma coisa cognoscvel na medida em que est em
ato e no na medida em que est em potncia... unumquodque
cognoscibile est secundum quod est in actu et non se, cundum quod
est in potentia" (Ia Pa, q. 87, a. 1).
Sbre esta questo, todavia, o Doutor anglico devia tambm levar
em conta um outro modo de ver que remontava autoridade maior
de S. Agostinho. Para ste, sabe-se, a vida psquica aparecia bem
menos tributria da percepo sensvel. Assim, a alma se conhece
diretamente por si mesma: "mens seipsam per seipsam novit" (De
Trinitate, l. 9, c. 3) . Neste texto, diversas vzes retomado por S.
Toms, encontra-se uma tradio espiritual aparentemente oposta
ao intelectualismo sensualista de Aristteles. Ser preciso optar
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:54
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.2.
entre as duas atitudes, a menos que se revele possvel uma
conciliao superior das duas teses.
Advinha-se sem custo que nesta discusso vai entrar em jgo a
natureza profunda ou a estrutura do ser humano. le s um
esprito encarnado? No teria, ao menos em estado latente, as
virtualidades de um esprito puro? Tda a significao do homem
est aqui engajada. S. Toms que, desde o incio aqui se colocara na
dependncia do peripatetismo, parece ter hesitado ao tocar as
doutrinas da tradio crist. Mais acolhedor em seus primeiros
escritos, ser mais reservado na Summa. Vamos segui-lo nestas
tomadas de posies sucessivas marcadas pelos textos maiores do
De Veritate (q. 10, a. 8) e da Ia Pa (q. 87, a. 1) . A soluo trazida ao
problema do conhecimento da alma separada por si mesma (Ia Pa, q.
89, a. 1) acabar por nos fixar em suas vistas profundas. O estudo
comparativo assim empreendido, ter o intersse suplementar de
nos fazer captar, em um caso concreto, como se comporta nosso
Doutor quando Aristteles e S. Agostinho parecem se opor.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:54
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.3.
3. A EXEGESE DE S. TOMS
Trata-se de se saber se a alma intelectiva (mens) se conhece
diretamente pela sua essncia ou por intermdio de "species"
abstradas das imagens que a atuaram: "Utrum mens se ipsam per
essentiam cognoscat vel per aliquam speciem?" Duas sries de
objees colocam o problema em tda sua acuidade: uma srie de
16 objees em favor da tese aristotlica do conhecimento indireto
"per speciem" e outra de 11, no sentido da tese agostiniana do
conhecimento "per essentiam" (De Verit., q. 10, a. 8).
No corpo do artigo, comea S. Toms por distinguir dois tipos de
conhecimento da alma por si mesma: um, pelo qual a alma se
conhece naquilo que tem de prprio (conhecimento individual e
concreto); outro, pelo qual a alma se conhece naquilo que tem de
comum com as outras almas (conhecimento universal e abstrato).
Deixemos de lado ste ltimo conhecimento, que interessa s
tcnicas elaboradas da cincia, para ficarmos com a percepo
primitiva e experimental da alma.
Aqui ainda devemos distinguir o caso do conhecimento atual, no
qual a alma se conhece por meio de seus atos, como o quer
Aristteles, e o caso do conhecimento habitual conforme o qual
convm afirmar com S. Agostinho que a alma se conhece por sua
essncia. Precisemos stes dois pontos.
- Conhecimento atual da alma por si mesma.
" nisto que cada um percebe que tem uma alma, vive ou existe:
porque sente, faz ato de inteligncia, ou exerce atos vitais desta
ordem". Para Aristteles h incontestvelmente nisto um dado
primitivo. em e por meio de minha atividade psquica que me
conheo. Vindo a cessar esta atividade, a conscincia do "eu"
encontra-se, por ste fato mesmo, abolida. Mas isto justifica-se
igualmente a priori pela teoria da inteligibilidade precedentemente
proposta: uma coisa inteligvel na medida em que est em ato. Ora,
a inteligncia, antes da recepo da ,(species", est em potncia na
ordem dos inteligveis. Ora, s ser inteligvel por si mesma e s se
tornar tal quando atuada por uma "species". Dever-se- concluir
que por intermdio desta que a alma se conhece atualmente.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-3.htm (1 of 5)2006-06-01 12:19:54
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.3.
- Conhecimento habitual da alma por si mesma.
Aqui no se requer a mediao de nenhuma "species": basta a
presena da alma a si mesma: "pelo fato de a sua essncia lhe estar
presente, a alma tem a possibilidade de passar ao conhecimento de
si". Assim como aqule que tem o hbito de uma cincia, o
matemtico, por exemplo, pode imediatamente e por meio de seus
recursos prprios passar ao exerccio do seu saber, assim tambm a
alma pode produzir o conhecimento de si.
Qual exatamente a dimenso desta afirmao? Apressemo-nos em
afastar uma interpretao que seria errada. O conhecimento
habitual, de que aqui se trata, no de modo algum atual, nem
consciente. Nada tem a ver com esta percepo surda e contnua de
si que acompanha tda a nossa vida psquica. Estamos
presentemente ao nvel das estruturas profundas da alma. Aqui no
se duvida que o Doutor anglico tenha querido aproximar o
conhecimento humano do conhecimento dos espritos puros. De si a
alma espiritual inteligvel; por outro lado, est evidentemente
presente a si mesma enquanto inteligente; h, pois, radicalmente
tudo o que preciso para justificar um ato de conhecimento de si
mesma. Mas as necessidades preliminares do conhecimento
abstrativo fazem obstculo realizao atual, imediata e
permanente, dste estado latente de conhecimento de si.
Existe, na presente condio de unio com um corpo, uma atuao
possvel dste conhecimento habitual? Ou se deve reconhecer que o
conhecimento atual, do qual anteriormente se falou, no seno
uma atuao parcial e derivada do dito conhecimento habitual? S.
Toms no explcito sbre stes pontos. As respostas a vrias
dificuldades do artigo (notadamente: ad 1 in contrarium) sugeremnos, contudo, que o conhecimento atual, embora s relativo
existncia e no essncia da alma, est no prolongamento do
conhecimento habitual: "a alma intelectiva conhece-se a si mesma
pelo fato de existir nesta alma o que preciso para que possa
passar ao ato de se conhecer atualmente, percebendo que existe".
Na Summa Theologica v-se, de modo claro, um certo enrijecimento
de S. Toms no sentido de uma aplicao mais estrita dos princpios
do peripatetismo (Ia, Pa, q. 87. a.1). O corpo do artigo conclui s pelo
conhecimento da alma pelo seu ato: "non ergo per essentiam suam
sed per actum suum se cognoscit intellectus noster". A razo desta
afirmao nos conhecida: uma coisa inteligvel na medida em
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-3.htm (2 of 5)2006-06-01 12:19:54
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.3.
que est em ato; ora, na ordem das coisas inteligveis, nossa
inteligncia pura potncia. Como o faz no De Veritate, S. Toms
distingue, em seguida, para a alma, um conhecimento particular
(experimental) e um conhecimento universal (cientfico).
Lendo stes textos, no podemos nos furtar de perguntar se o
conhecimento habitual e direto da alma teria sido aqui positivamente
eliminado. Parece que se deva responder negativamente. Se, com
efeito, pesarmos bem os trmos com os quais o nosso Doutor
caracteriza presentemente o conhecimento particular da alma,
constataremos que a razo que o fundamenta , como antes, a
simples presena da alma a si mesma: "ad primam cognitionem de
mente habendam, sufficit ipsa mentis praesentia". Por outra parte, o
trmo dste conhecimento aqui tambm a existncia da alma e de
nossas atividades e no sua natureza. O indivduo particular percebe
que tem uma alma intelectiva pelo fato de que toma conscincia de
sua atividade intelectual: "percipit se habere animam intellectivam
ex hoc quod percipit se intelligere". A interveno do ato mediador
exigida, mas a razo ltima da conscincia de si parece ser esta
presena inteligvel da alma a si mesma, significada pela noo do
conhecimento habitual.
O caso da alma separada (cf. S. Th. Ia Pa, q. 89, a. 1). Considerando
que, em nossa condio presente de unio a estrutura profunda da
alma intelectiva se encontra de certo modo velada, seria
evidentemente desejvel poder representar o estado da alma quando
separada do corpo. S. Toms, com sua ousadia de metafsico,
esforou-se por realizar tericamente esta experincia (cf. Ia Pa, q.
89). O que disse a sse respeito vai nos permitir melhor
compreender a natureza de nossa vida intelectiva.
Num primeiro instante, encontramo-nos frente a um dilema. Ou a
alma, como querem os platnicos, une-se ao corpo apenas de
maneira acidental, reencontrando assim, quando separada do corpo,
sua condio de esprito puro imediatamente adaptado aos
inteligveis; mas nesta hiptese no se v qual a razo da unio, que
aparece como desvantajosa alma; ou, ento, a unio natural e,
neste caso, parece impossvel reconhecer-lhe qualquer atividade
cognoscitiva depois da morte. S. Toms escapa desta dificuldade
admitindo para a alma dois tipos de atividade intelectual,
correspondendo a seus dois modos diferentes de existir, o de unio
a um corpo e o de separao do mesmo. Unida ao corpo, a alma
intelectiva conhece por converso s imagens. Separada dle,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-3.htm (3 of 5)2006-06-01 12:19:54
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.3.
conhece maneira dos espritos, por converso aos objetos que de
si so inteligveis. Mas, precisa nosso autor, e o que d tda a
dimenso de sua doutrina, o modo de conhecer como o de existir do
primeiro tipo so naturais alma, enquanto que o modo de conhecer
e o modo de existir do segundo devem ser chamados preternaturais:
"modus
intelligendi
per
conversionem
ad
phantasmata
est animae
naturalis
sicut et
corpori uniri,
sed esse
separatum a
corpore est
praeter
rationem
suae naturae,
et similiter
intelligere
sine
conversione
ad
phantasmata
est ei praeter
naturam".
O estado de unio e a vida que lhe corresponde seriam
definitivamente a condio melhor para o homem. Uma dvida
subsiste porm. Como pode a alma, que radicalmente capaz de
pensar maneira dos espritos puros, tirar proveito de um modo
inferior de conhecer? Porque a alma, explica S. Toms, que a
ltima das substncias intelectuais, no atingiria, s pelo modo de
inteleco prprio s substncias espirituais, conhecimentos
suficientemente distintos e precisos. E assim, conclui, bom para
ela estar unida a um corpo e encontrar seu objeto comum sombra
das imagens. Resta-lhe, porm, que lhe possvel existir no estado
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-3.htm (4 of 5)2006-06-01 12:19:54
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.3.
de separao e ter ento um outro modo de atividade intelectual.
Tal , parece, a ltima palavra da filosofia de S. Toms sbre o
problema da unio da alma e do corpo e das conseqncias que da
decorrem quanto atividade do homem.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-3.htm (5 of 5)2006-06-01 12:19:54
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.4.
4. CONCLUSES E COROLRIOS
Nossa vida presente , portanto, naturalmente, a vida de um esprito
encarnado, mas de um esprito cujas estruturas profundas so as de
um esprito puro. Enquanto esprito encarnado, nossa alma se
conhece por meio de seus atos, isto , "per species". Mas em sua
complexo de puro esprito, encontra-se objetivamente e, de
maneira imediata, presente nossa potncia intelectual: o
conhecimento habitual de que fala o De Veritate. Basta que se
produza um ato de conhecimento abstrativo, e nossa alma
inteligente capta-se imediatamente, no em sua natureza mas em
sua existncia, como princpio do conhecimento considerado. Tudo
leva a crer que assistimos a uma atuao parcial desta aptido
fundamental de se captar a si mesma que o conhecimento habitual
revela: "percipit anima se intelligere". Radicalmente, seria, pois,
enquanto esprito que a alma toma conscincia de si. Rompido os
elos que a ligam ao corpo, perceber-se- diretamente como objeto, e
sua estrutura pretenatural, mas efetiva, de esprito separado
manifestar-se- plenamente. Tais so as perspectivas de conjunto
nas quais convm interpretar a doutrina de S. Toms sbre o
conhecimento da alma por si mesma.
At onde se estende este conhecimento de si?
Com nossa existncia captamos, evidentemente, nossa atividade
interior, mas podemos dizer que atingimos nossas faculdades? S.
Toms (q. 87, a. 2) precisa que s sua cxistncia pode ser
diretamente captada: tenho conscincia de pensar ou de querer,
mas as naturezas da inteligncia e da vontade, como a da alma,
permanecem-me escondidas.
Convm estender atividade sensvel esta conscincia de si? Os
atos de nossos sentidos no esto evidentemente presentes nossa
alma espiritual do mesmo modo como os da inteligncia ou da
vontade. certo porm, S. Toms o reconhece, que nos percebemos
como princpio de nossa vida sensitiva: "percipit anima se sentire".
Nosso psiquismo inferior est assim ligado ao mesmo "eu" ao qual
se liga nosso psiquismo superior espiritual: o "eu" que sente o
mesmo que pensa. Se, pois, a natureza de nossa vida sensitiva no
diretamente percebida, deve-se contudo manter que a realidade e o
princpio desta vida so atingidos por reflexo intelectual. A bem
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-4.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:54
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.4.
dizer, s existe o "eu" para uma tal conscincia e em relao a ela
que todo o resto de nosso psiquismo torna-se prpriamente nosso.
Algumas aproximaes com as concepes mais modernas
permitem-nos melhor apreciar a posio precedente.
Com Descartes, e a partir dle, a tendncia mais constante foi a de
se dar o primado ao conhecimento reflexivo e, por conseguinte, de
fazer do "eu", e de suas atividades, o objeto privilegiado do esprito
humano, ficando assim o objeto exterior atingido apenas em
segundo lugar e terminando mesmo por se confundir com a
conscincia. Convergem, neste ponto, os trs grndes sistemas da
metafsica francesa acima evocados: idia clara e distinta por
excelncia (Descartes), o fato primitivo (Maine de Biran) e os dados
imediatos (Bergson): o "eu" substncia pensante no primeiro caso,
esfro motor voluntrio no segundo e durao no terceiro. Em
todos sses sistemas, a intuio pra em um objeto interior
conscincia. No idealismo alemo, o princpio primeiro ainda o
"eu" captado reflexivamente, mas ste "eu" perde aqui tda
consistncia substancial, mesmo aquela suposta por um sujeito
fluente e transitrio, para no reter outra realidade alm da posio
primria e incondicionada de um ato de esprito.
Com o aristotelismo tomista, ao contrrio, o objeto prprio da
inteligncia humana a coisa material, exterior ao esprito. Doutrina
mais modesta que as precedentes e que tem o encargo de explicar a
assimilao pelo esprito de um dado que lhe estranho, mas tendo
a inaprecivel vantagem de ser mais conforme os fatos. Assim a
vida do esprito antes exterioridade. Mas o esprito humano
tambm capaz de uma certa interioridade. A atividade intelectual
imanente e reflexiva. Mais profundamente, existe em ns com que
fundar uma vida pura de esprito, tornando-se o "eu", para o
pensamento, seu objeto imediato. Em nossa condio atual, esta
ltima vida realiza-se s de maneira muito reduzida. Na condio de
alma separada, ser total, mesmo permanecendo sempre imperfeita.
A metafsica da conscincia primitiva e privilegiada do "eu" no
sem fundamento, mas a de S. Toms, mais modesta, tambm mais
objetiva e mais compreensvel.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-4.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:54
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.4.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-4.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:54
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.5.
5. APNDICE: O CONHECIMENTO DAS REALIDADES
SUPERIORES
Em seu tratado sinttico da Suma Teolgica, S. Toms distingue os
modos do conhecimento intelectual e humano conforme o grau de
elevao dos objetos que pode tomar em considerao: as coisas
materiais que esto abaixo dle, a alma que est no seu nvel, as
substncias espirituais que se encontram mais elevadas. Resta-nos
dar algumas indicaes sbre ste ltimo tipo de conhecimento. S.
Toms considera sucessivamente a caso do anjo (q. 88, a. 1 e 2) e o
caso de Deus (q. 88, a. 3).
O conhecimento do anjo pelo homem. Nos artigos indicados, a
exposio da doutrina v-se complicada pela discusso das
opinies de diversos comentadores, Averris em particular, para
quem a felicidade mesma do homem estaria no conhecimento das
substncias separadas. Concluiu-se positivamente: 1. que no estado
presente no podemos captar por meio de nosso intelecto as
substncias imateriais em si mesmas; 2. que possvel, pela
analogia das coisas materiais, elevarmo-nos a um certo
conhecimento indireto .e imperfeito de sua natureza. Tudo isto
claro para quem admite a teoria geral precedentemente exposta.
claro, por outro lado, que no temos a experincia direta dos
espritos. Em seu tratado dos anjos, S. Toms estudar o problema
da comunicao que pode haver entre os espritos puros e chegar
a concluses positivas. Mas o que ento diz no pode convir ao
caso da alma humana em seu estado presente de encarnao.
O conhecimento de Deus pelo homem. Se no podemos atualmente
captar, por meio de nossa inteligncia, as substncias espirituais
criadas, claro que menos ainda podemos atingir um conhecimento
prprio e direto de Deus. Assim nossa inteligncia no a faculdade
do divino.
Contudo, a partir das coisas sensveis, por analogia, e segundo a via
de "eminncia" e de "remoo", que os telogos conhecem, ser-nos possvel chegar por ns mesmos a um certo conhecimento de
Deus: de sua existncia e, muito imperfeitamente, de sua natureza e
de suas perfeies. Ao metafsico compete precisar como se pode
chegar a isto. Baste-nos aqui abrir, para nossa inteligncia, essas
perspectivas superiores.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:55
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.18, C.5.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA18-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:55
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.19, C.1.
CONCLUSO: POSIO DA TEORIA DO
CONHECIMENTO INTELECTUAL EM S. TOMS
1. INTRODUO.
Vamos retomar ainda uma vez em seu conjunto a concepo de S.
Toms sbre o conhecimento intelectual, considerando-o primeiro
em suas condies histricas, depois em relao com a filosofia
contempornea.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA19-1.htm2006-06-01 12:19:55
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.19, C.2.
2. POSIO HISTRICA DA DOUTRINA TOMISTA.
No h o que duvidar, S. Toms opta fundamentalmente pela teoria
do conhecimento de Aristteles, considerada como uma via mdia
entre o sensualismo de Demcrito e a teoria platnica das idias,
precisando-se que sobretudo face a Plato que toma posio.
Todavia, o Doutor anglico no podia negligenciar o que fra
pensado desde o Estagirita. Dois conjuntos principais de
especulaes aqui se lhe ofereciam: - o das doutrinas agostinianas,
especialmente para as teses do conhecimento "nas razes eternas",
e do conhecimento da alma por si mesma; muito engenhosamente
adaptadas, estas concepes vieram inserir-se na sntese
peripattica, qual conferiram uma profundidade nova: - o das
doutrinas rabes, relativas sobretudo questo da separao do
intelecto, contra as quais S. Toms se ops.
Muito ligada s condies de seu tempo, sua doutrina no deixa de
aparecer como uma elaborao pessoal bastante notvel: o
aristotelismo, mas genialmente renovado e colocado em dia.
Entre as teorias onde se sente mais a marca prpria do Doutor,
enumeraremos as da imaterialidade, do objeto da inteligncia, da
fase ativa da inteleco, do verbo, da conscincia da alma, onde
Aristteles manifestamente ultrapassado. necessrio ainda notar
o alargamento da doutrina da inteligncia no sentido dos domnios
superiores do conhecimento anglico e do conhecimento divino,
onde S. Toms teve muito a criar: agora todo o mundo da vida do
esprito, desde o mais nfimo, o nosso, at a vida de Deus, que
hierrquicamente se desvenda aos nossos olhos: horizonte
grandioso onde se compraz de modo claro o olhar daquele que foi
antes de tudo o gnio das grandes snteses.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA19-2.htm2006-06-01 12:19:55
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.19, C.3.
3. SITUAO COM RELAO AO PENSAMENTO MODERNO.
A atitude mais caracterstica do pensamento moderno face teoria
da inteligncia incontestvelmente o idealismo. Inaugurado, em
seus fundamentos, por Descartes que assinalou inteligncia, como
objeto primeiro, o "eu" pensante, o idealismo proliferou segundo
uma admirvel variedade de concepes. Ainda incompleto em Kant
que reconhece para alm do fenmeno a persistncia de um mundo
transcendente, tomar com seus sucessores tda sua consistncia
de filosofia da pura interioridade.
Indo origem de todo ste movimento de pensamento, vemo-nos
face a esta dissociao radical do conhecimento sensvel e do
conhecimento intelectual, ou dos objetos dos sentidos e dos objetos
transcendentes, dissociao esta operada, pela primeira vez, por
Plato. Nos. so conhecimento, verdade, aparece primitivamente
como a percepo das coisas sensveis, mas nestas ltimas h
perptua mudana e infinita diversificao, o que no poderia
satisfazer nossa inteligncia, faculdade do imutvel e do idntico: o
mundo do pensamento , pois, diverso do mundo da matria, e
voltado para seus prprios objetos, ou para si, o mundo do esprito
bastar-se- a si mesmo.
Ora, foi precisamente a esta diviso que se recusou Aristteles e os
que o seguiram: o necessrio e o mutvel, o objeto dos sentidos e o
da inteligncia, so-nos dados solidriamente e ligados um ao outro.
um fato de experincia: "magis experimur", dir S. Toms. A
inteligncia recebe assim seu objeto do dado sensvel.
Esta explicao da vida do pensamento mais complicada, em
certos aspectos, que a do idealismo que, numa primeira
considerao, parece correr bem; mas muito mais acolhedora, onde
nem o corpo nem a alma, nem a matria nem o esprito so
negligenciados, e onde nossa condio de homem, no limite dos
dois mundos, encontra a sua mais objetiva definio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA19-3.htm2006-06-01 12:19:55
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.20, C.1.
A VONTADE.
1. INTRODUO. NOO DE VONTADE.
A apetncia representa, ao lado do conhecimento, um dos grandes
aspectos da nossa vida psquica. Conhecer, tender para, com tdas
as nuances de afetividade que esta ltima expresso pode implicar,
amor, desejo, gozo, etc.... tais so, com efeito, os fenmenos mais
caractersticos desta vida.
Recordemos as principais concluses s quais j chegamos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA20-1.htm2006-06-01 12:19:56
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.20, C.2.
2. DIVISES GERAIS DA AFETIVIDADE
No tratado que lhe consagrado na Summa Theologica (Ia Pa, q. 80
a 83), a vida afetiva organizada nos quadros de uma metafsica da
ao sendo ste o princpio geral ao qual se refere: a tda forma
segue-se uma certa inclinao: "quamlibet formam sequitur aliqua
inclinatio".
Assim: nos sres desprovidos de conhecimento encontra-se,
seguindo-se sua forma natural, uma inclinao ou um apetite
chamado natural, appetitus naturalis, - nos seres cognoscentes,
seguindo-se forma apreendida, um apetite chamado animal, ou
antes, por se exprimir em um ato, elcito, appetitus elicitus.
Cada faculdade apetitiva tem, conseqentemente, um apetite natural
correspondente sua natureza de faculdade e um apetite elcito que
corresponde forma que conhecida.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA20-2.htm2006-06-01 12:19:56
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.20, C.3.
3. EXISTNCIA E NATUREZA DA VONTADE.
A existncia de uma potncia espiritual de apetncia, distinta das
potncias sensveis de mesma ordem, uma conseqncia imediata
dos princpios agora formulados. Com efeito, pelo fato de existir
dois gneros de potncias de conhecer, os sentidos e a inteligncia,
conclui-se que h dois gneros de potncias apetitivas: as potncias
apetitivas sensveis, que se seguem ao conhecimento sensvel, e a
vontade, que se segue ao conhecimento intelectual.
"Impe-se que
em tda natureza
intelectual haja
uma vontade. O
intelecto, com
efeito, atuado
pela forma
inteligvel,
enquanto faz ato
de inteleco,
como a coisa da
natureza
atuada, em seu
ser natural, por
sua prpria
forma. Ora, a
coisa da
natureza tem, em
virtude da forma
que a determina
em sua espcie,
uma inclinao
para as
operaes e para
o fim que lhe
convm.
Semelhantemente
convm que
forma inteligvel
se siga, no que
faz ato de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA20-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:56
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.20, C.3.
inteligncia, uma
inclinao para
suas operaes
e seu fim
prprio. Esta
inclinao, na
natureza
intelectual, no
outra coisa que a
vontade, que o
princpio das
operaes que
existem em ns,
pelas quais o
que faz ato de
inteligncia age
em vista de um
fim: o fim, com
efeito, ou o bem,
o objeto da
vontade. Em
todo ser
inteligente devese, em
conseqncia,
encontrar
tambm uma
vontade".
Cont.
Gent.,
IV,
c. 19
De nada serve objetar a esta distino da vontade com relao s
potncias apetitivas sensveis, que o fato de ser conhecido para o
objeto desejado smente uma diferena acidental, no afetando,
portanto, sua natureza (Ia Pa, q. 80, a. 2, ad 1 e 2). Pelo contrrio,
enquanto apreendido que o objeto provoca o movimento afetivo, e
no a mesma coisa ser apreendido pelos sentidos ou pela
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA20-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:56
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.20, C.3.
inteligncia: pelos sentidos, o objeto captado como bem particular,
pela inteligncia atingido sob a razo universal de bem. Ainda que
se dirija para coisas que necessriamente s podem existir de modo
singular, a vontade , pois, como a inteligncia, uma faculdade do
universal.
Com ste carter, nossa potncia apetitiva espiritual deve
igualmente ser nica. Assim, enquanto a afetividade sensvel se
divide, conforme o bem considerado fr facilmente ou dificilmente
atingido, em duas faculdades, - concupiscvel e irascvel, - a vontade
compreende, em seu objeto, estas duas modalidades.
Semelhantemente, a vontade relaciona-se, ao mesmo tempo, com o
fim (bonum honestum) e com os meios (bonum utile), e ainda ela
que tem o gzo do bem (bonum delectabile) quando ste possudo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA20-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:56
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.20, C.4.
4. PRESENA DO AMADO NAQUELE QUE AMA.
Resta-nos resolver uma dificuldade para justificar a existncia da
inclinao voluntria. Todo ato de uma potncia face a um objeto
supe, assim parece, uma unio preliminar com ste objeto que o
determina. No caso do conhecimento, a especificao do ato se d
graas a uma semelhana que torna o objeto presente na prpria
faculdade. Parece que no pode acontecer o mesmo com a vontade,
pois esta faculdade atrada pelo objeto enquanto este existe fora
dela; falar, neste caso, em semelhana, no ser assemelhar, de
modo completamente indevido, nossa potncia apetitiva s nossas
faculdades de conhecimento? Para falar com propriedade, no h, S.
Toms o reconhece, semelhana do objeto na potncia apetitiva.
Nela se encontra, todavia, uma certa adaptao de ordem afetiva
(coaptatio) que resulta do movimento primeiro da faculdade ou do
amor. Percebendo um objeto que me convm, ponho-me a ama-lo, e
neste amor e por ste amor mesmo minha vontade se conforma, de
certo modo, a ste objeto que se torna efetivamente presente em
mim.
"Assim,
pois, o que
amado
no
smente se
encontra na
inteligncia
do que o
ama, mas
ainda em
sua
vontade, de
maneira
diferente,
porm, em
um e outro
caso. Na
inteligncia
encontra-se
segundo
uma
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA20-4.htm (1 of 3)2006-06-01 12:19:57
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.20, C.4.
semelhana
especfica;
na vontade
do amante,
como o
termo do
movimento
no princpio
motor, o
qual se v
adaptado
pela
convenincia
e proporo
que
estabelece
com le;
assim no
fogo h, de
certo modo,
o lugar
superior,
lugar
prprio do
fogo, sob a
razo de
leveza,
enquanto
ste
elemento diz
proporo e
convenincia
com um tal
lugar."
Cont.
Gent.,
IV,
c. 19
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA20-4.htm (2 of 3)2006-06-01 12:19:57
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.20, C.4.
Dupla presena em ns das coisas que atingimos cone nosso
esprito: por assimilao vital em nossa faculdade de conhecer, por
adaptao afetiva na nossa vontade, denunciando uma e outra
destas presenas, por seu modo caracterstico, o que h de
especfico em cada uma de nossas operaes superiores. Ser
proveitoso, para aprofundar mais a questo da adaptao do apetite
ao objeto amado, atender para as elucidaes dadas pelos telogos
a propsito da processo do Esprito Santo. (Cf. principalmente
Joo de S. Toms, Curs. Theol., IV, disp. XII, a. 7)
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA20-4.htm (3 of 3)2006-06-01 12:19:57
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.20, C.5.
5. OS ATOS DE VONTADE.
nica potncia apetitiva na ordem espiritual, pode a vontade, como
alis a experincia o manifesta, encontrar-se no princpio de uma
grande variedade de atos, amor, desejo, escolha, gzo, etc. S.
Toms, na parte moral de sua obra, aplicou-se a classificar stes
atos nos quadros gerais de uma teoria da atividade racional. Cada
movimento particular de apetncia vem em dependncia de um ato
de conhecimento que o comanda, de modo a se obter assim uma
srie de pares, seis ao todo, que integram o ato humano completo.
Deixando moral o estudo detalhado de todo ste organismo,
limitar-nos-emos aqui a enumerar o que pertence vontade.
Considerando-se o fim a se conseguir, encontram-se
sucessivamente o desejo ineficaz (simplex volitio) ou a simples
complacncia no bem apresentado ao esprito, e a inteno, tornada
eficaz, dste bem (intentio).
Considerando-se os meios, intervm na ordem da eleio, antes de
tudo, os consentimentos (consensus) dados aos diversos meios que
se apresentam como podendo assegurar a possesso do bem
desejado; depois a vontade, na eleio (electio), escolhe um dstes
meios. Vem ento a execuo que supe a aplicao pela vontade
(usus activos) das outras faculdades na obra a se executar; e
quando o fim foi obtido, resta vontade comprazer-se no bem
possudo (fruitio). Por mais sca que seja, esta nomenclatura j
basta para dar uma idia-da fineza de anlise e do vigor da
construo que S. Toms soube trazer ao estudo de nossa vida
afetiva.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA20-5.htm2006-06-01 12:19:57
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.21, C.1.
A VONTADE E AS OUTRAS FACULDADES DA ALMA
1. INTRODUO.
A atividade da vontade, acabamos de perceber, est em pleno
corao de nossa vida psquica. Por ste fato, ela tem mltiplas
relaes com nossas outras faculdades. Smente duas questes
prendero aqui nossa ateno.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA21-1.htm2006-06-01 12:19:57
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.21, C.2.
2. A SUPERIORIDADE DA INTELIGNCIA SBRE A
VONTADE.
Inteligncia e vontade, que so duas potncias unidas, agem
igualmente, uma sbre a outra como veremos. Mas o que antes
preocupa S. Toms saber qual das duas tem a superioridade (cf. Ia
Pa, q. 82, a. 3; De Verit q. 22 a. 11).
Numa primeira considerao, parece que a vontade detm ste
primado. Com efeito: 1. , a dignidade de uma faculdade depende, ao
que parece, da dignidade de seu (objeto. Ora, o objeto da vontade, o
bem, que significa o ser na sua plenitude de perfeio, e concluindo
em particular o ato ltimo de existir, mais perfeito que o objeto da
inteligncia, o verdadeiro, que mais abstrato; 2. , pondo em
movimento a inteligncia, a vontade parece domin-la; tem, com
efeito, por objeto o bem ou o fim que a primeira das causas; 3. , no
plano sobrenatural, fundando-nos sbre o testemunho de S. Paulo,
devemos dizer que o hbito mais perfeito, a caridade, encontra-se na
vontade: "maior autem horum est caritas..." Ora, convm que haja
proporo entre os hbitos e as faculdades que les determinam. A
vontade, sujeito da caridade, no pode deixar de ser, portanto, a
mais perfeita das potncias.
Todavia, para S. Toms, absolutamente falando, a inteligncia
superior vontade (Cf. o comentrio de Caetano sbre o art. citado e
Joo de S. Toms, De Anima, q. XII a. 5). Sua argumentao pode ser
condensada nestas duas frmulas:
- Uma
coisa
tanto mais
elevada,
quanto
mais
simples e
mais
abstrata. . .
"quanto
autem
aliquid est
simplicius
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA21-2.htm (1 of 4)2006-06-01 12:19:58
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.21, C.2.
et
abstractius,
tanto,
secundum
se, est
nobilius et
altius".
- Ora, o
objeto da
inteligncia
mais
simples e
mais
absoluto
que o da
vontade...
"Objectum
enim
intelectus
est
simplicius
et magis
absolutum
quam
objetum
voluntatis."
A primeira destas frmulas apenas uma aplicao da doutrina
geral da imaterialidade como fundamento do conhecimento: quanto
mais imaterial o modo de um objeto, tanto mais atual e perfeito, e
tanto mais a potencialidade que a le se relaciona purificada de
potencialidade e perfeita. Ora, segunda frmula, o objeto da
inteligncia, que a "qididade", mais abstrato e mais imaterial e,
portanto, mais absoluto e mais elevado que o da ;vontade, o bem,
que envolve o ser em tda a sua realidade concreta.
No De Veritate (q. 22, a. 11) S. Toms faz valer uma outra razo.
Colocando-se sob o prisma do modo da gerao, de onde resulta
para o ato intelectual uma tomada de posse mais ntima do objeto,
conclui pelo primado da faculdade de conhecer. O objeto que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA21-2.htm (2 of 4)2006-06-01 12:19:58
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.21, C.2.
conhece, com efeito, torna-se presente na prpria faculdade de
conhecer, enquanto que o objeto que desejo permanece fora de
mim. Ora, mais digno possuir em si algo de eminente que estar
relacionado do exterior com a perfeio desta coisa: "perfectius
autem est... habere in se nobilitatem alterius rei, quam ad rem
nobilem comparari extra se existentem". A assimilao cognitiva ,
pois, mais perfeita que a unio afetiva.
Com uma perfeita lgica, no tratado da felicidade (cf. Ia, IIa, q. 3 a. 4),
S. Toms deduzir que a felicidade soberana consiste formalmente
no em um ato de vontade, ou na fruio afetiva que s uma
conseqncia, mas no conhecimento mesmo ou na viso de Deus. A
deleitao da vontade , todavia, um acompanhamento necessrio e
essencial da tomada de posse, pela nossa faculdade de
conhecimento, de nosso fim ltimo.
Seria por demais longo entrar nas discusses que surgiram em
trno desta questo do primado de uma ou outra de nossas
faculdades espirituais. A escola escotista pela superioridade da
vontade e muitos seguem esta via. Os argumentos dados acima
permanecem, contudo, em sua firmeza metafsica. Est fora de
dvida, por outro lado, que adotando ste modo de ver, S. Toms foi
fiel a Aristteles que, bem claramente, em seus estudos sbre a
felicidade soberana (tica a Nic. 1, 10), d o primado ao
conhecimento, sendo o prazer um elemento de acrscimo que se
junta ao ato de contemplao "como a beleza para os que esto na
flor da juventude".
H todavia um caso em que a vontade arrebata inteligncia o
primado, quando o objeto que atinge mais elevado do que o que
captado pela inteligncia. Ora, prticamente isto se realiza para
todos os objetos que esto acima da alma, especialmente, para
Deus; donde se conclui, para esta vida, pelo primado da caridade.
Definitivamente, com S. Toms, concluir-se-: "o amor de Deus
melhor que o conhecimento que dle se tem; pelo contrrio,
oconhecimento das coisas corporais melhor que seu amor;
absolutamente falando, todavia, a inteligncia mais nobre que a
vontade". (Cf. Texto XIII. Superioridade da inteligncia sbre a
vontade, pg. 226).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA21-2.htm (3 of 4)2006-06-01 12:19:58
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.21, C.2.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA21-2.htm (4 of 4)2006-06-01 12:19:58
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.21, C.3.
3. A MOO DA VONTADE SBRE AS OUTRAS POTNCIAS.
Na ordem da especificao, como acabamos de ver, a vontade
determinada' ela inteligncia, mas na ordem da eficincia ou do
exerccio, a vontade que move a inteligncia e, mais
universalmente, encontra-se no princpio da atividade de tdas as
outras faculdades (Cf. Ia P, q. 82, a. 4).
A razo que em todo sistema de potncias ordenadas, aquela que
tem por objeto o bem universal motora das potncias que s se
relacionam com bens particulares. Assim, para tomar o exemplo
aqui proposto, o rei que cuida do bem de todo o reino pe em
movimento, por meio de suas ordens, cada um dos que esto
prepostos nas diversas cidades. Ora, a vontade tem por objeto o
bem e o fim considerados universalmente, enquanto as outras
potncias visam s os bens que lhes so prprios. A vontade,
portanto, de si, e a experincia o confirma, pe em movimento as
outras potncias.
Em primeiro lugar, e de modo imediato, ste impulso se exerce
sbre a inteligncia e sbre seus atos. Considerando-se o bem
universal, o verdadeiro aparec smente como um bem particular, o
bem da inteligncia. Assim, a vontade utiliza a inteligncia para seus
fins: o que se produz, ns o vimos, no ato humano onde, sob a
presso da inteno do fim, a inteligncia pe-se em busca dos
meios prprios que podem trazer o fim, julga sbre quaf deva ser
preferido.
Com o concurso do juzo imperativo da inteligncia, "imperium", a
vontade pe ento em movimento as potncias de conhecimento
sensvel, de apetncia e de motricidade, cuja interveno pode ser
requerida nas condies da ao. ste poder da vontade sbre as
outras faculdades no ser sempre absoluto, podendo outros
fatres intervir. Assim, sbre os sentidos internos ou as paixes,
que esto submetidas a influncias corporais, a vontade no tem
mais que um poder poltico.
Um lugar parte, entre os componentes da atividade voluntria,
deve ser dado ao acompanhamento passional sensvel. Nossa
vontade mesma a sede dos sentimentos espirituais puros, tais
como o amor de Deus, ou a paixo da verdade. Mas, assim como
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA21-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:19:58
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.21, C.3.
nossa vida intelectual estreitamente solidria com nossa atividade
de conhecimento sensvel, tambm nossa vontade est ligada
sensibilidade at em seus atos mais elevados. Ao moralista compete
determinar, com preciso, as leis de ao e de reao dos dois
podres e suas conseqncias para a conduta do homem. Basta-nos
aqui ter lembrado que depois de haver distinguido as faculdades
psicolgicas e seus atos, convm, para a sntese concreta da vida,
tudo retomar na unidade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA21-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:19:58
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.1.
O LIVRE ARBTRIO
1. DELIMITAO DA NOO PSICOLGICA DE LIBERDADE.
Sendo o trmo liberdade empregado em sentido extremamente
diverso, importa, para circunscrever nosso problema, bem escolher
aqule, entre tantos, que deve aqui nos reter.
Numa primeira aproximao, o ato livre manifesta-se como um ato
que no constrangido: sou livre para fazer isso porque nada me
obriga. Uma tal presso pode-se exercer seja no domnio da ao
exterior, seja no domnio do ato interno do prprio querer.
ausncia de constrangimento exterior corresponde uma liberdade
de ao que recebe diversos nomes segundo o gnero de atividade
qual se refere: liberdade fsica (poder de se mover corporalmente);
liberdade civil (poder de agir como se quer no quadro de uma
sociedade) ; liberdade poltica (poder de participar, conforme
modalidades constitucionais previstas, do govrno do estado);
liberdade de conscincia (poder de exprimir suas convices em
pblico).
ausncia de constrangimento interior necessitante, corresponde a
liberdade psicolgica prpriamente dita ou a liberdade de querer,
isto , a possibilidade para a vontade de se determinar a agir ou a
no agir, a querer isto ou a querer aquilo.
Embora haja uma relao entre as duas grandes formas de
liberdade, pois a primeira s tem significado na suposio da
segunda, no h contudo solidariedade necessria. Em particular,
posso estar privado de tais liberdades exteriores sem cessar de ser
livre no meu querer. No que se segue, sbre ste segundo tipo de
liberdade que trataremos, ou seja, sbre a liberdade psicolgica.
Uma outra delimitao se impe. O ato livre, dir-se- igualmente,
caracteriza-se pelo fato de ser um ato espontneo, isto , que tem
seu princpio no prprio agente e no no exterior. O ato livre vem de
mim. Nada de mais exato, mas preciso ajuntar que no h
coextenso entre os domnios da espontaneidade e da liberdade.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-1.htm (1 of 7)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.1.
Para o compreender, consideremos como, em seus nveis
sucessivos, a atividade dos sres pode ser chamada espontnea.
- H um
domnio, de
incio, onde
tda
espontneidade
encontra-se
afastada, o da
ao chamada
violenta, isto ,
daquela que,
vindo do
exterior,
contraria as
inclinaes do
ser sbre o
qual se dirige:
assim, na
cosmologia
antiga,
levantar uma
pedra era um
ato "violento",
pois contraria
o peso que
natural da
pedra; de
modo algum
uma tal
atividade
procede do
interior do ser
que movido.
- Considerando
agora os
movimentos
que procedem
da natureza
mesma de um
ser, ser
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-1.htm (2 of 7)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.1.
conveniente
colocar parte
os movimentos
dos sres
inanimados.
Tais sres
movem-se a si
mesmos, no
sentido de que
a forma, ou
natureza, que
dirigem sua
atividade, lhes
so bem
interiores, mas
stes
princpios les
os recebem
tais quais, e de
um outro;
aparecem
assim, na
ordem da
ao, como
puros
executantes.
- Mais alto na
hierarquia dos
sres que se
movem a si
mesmos
encontramos
os viventes e,
entre les,
especialmente
os animais. Os
viventes
movem-se a si
mesmos pelo
fato de que,
sendo
organizados,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-1.htm (3 of 7)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.1.
so ao mesmo
tempo ativos e
passivos, uma
parte agindo
sbre a outra.
No animal,
esta
interioridade
do princpio da
ao manifestase pelo fato de
as
representaes
que esto na
origem do
movimento,
ainda que
sejam
determinadas
do exterior,
dependem
contudo em
parte das
apreciaes
instintivas do
sujeito.
- Enfim, no
cume,
encontra-se o
ser dotado de
razo, que
senhor do
juzo que est
na origem de
seus atos e
por ste fato
pode agir,
fazer isto ou
fazer aquilo. A
espontaneidade
aqui atinge seu
grau mais
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-1.htm (4 of 7)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.1.
elevado, o do
ato
prpriamente
livre.
A espontaneidade pertence, portanto, ao domnio da liberdade, mas,
como a ausncia exterior de constrangimento, no basta para a
caracterizar.
No se poder definir o ato livre dizendo que o ato mesmo da
vontade? Isto suporia que todo ato voluntrio fsse livre. bem
assim? S. Toms (Ia Pa, q. 82, a. 1) pergunta se a vontade no deseja
certas coisas de modo necessrio e sua resposta afirmativa.
Para o compreender, distingamos com ele diversos tipos de
necessidade:
-a
necessidade
natural ou
absoluta,
que
smente a
expresso
da prpria
natureza de
uma coisa;
por sua
natureza, o
tringulo
deve ter trs
ngulos
iguais a
dois retos;
-a
necessidade
do fim que
impe tal
meio,
quando este
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-1.htm (5 of 7)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.1.
meio o
nico para
atingir tal
fim; assim o
alimento
necessrio
para a vida;
-a
necessidade,
enfim,
imposta por
um agente
exterior, ou
necessidade
de coao.
ste ltimo tipo de necessidade, j o dissemos, repugna de modo
absoluto vontade, pois, por definio, o "violento" no livre. Mas
os dois outros tipos, pelo contrrio, tm seu lugar na atividade de
nossa faculdade superior de apetncia: 1. , a necessidade natural,
antes de tudo; do mesmo modo que a inteligncia adere
necessriamente aos primeiros princpios, assim tambm a vontade
se relaciona de modo necessrio com o bem ou com o fim ltimo; me impossvel no querer o bem, como tal, ou minha felicidade; 2. ,
a necessidade do fim em segundo lugar; esta necessidade tem tda
a sua dimenso smente face aos meios sem os quais impossvel
atingir seu fim ltimo, isto , ser, viver ou desejar ver a Deus suposto para esta ltima coisa adquirida a certeza de que a
felicidade consiste em uma tal viso.
Em face dstes bens que assim se impem nossa vontade, h
outros que no a solicitam de maneira necessria, pois, sem les,
parece que se possa chegar aos fins que se perseguem: stes bens
contingentes face s metas a atingir, e que podem ser ou no ser
queridos, constituem o domnio prprio da liberdade psicolgica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-1.htm (6 of 7)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.1.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-1.htm (7 of 7)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.2.
2. EXISTNCIA E NATUREZA DO LIVRE ARBTRIO.
o ser racional efetivamente livre ou, como S. Toms prefere dizer,
tem le o livre arbtrio? Inmeros filsofos no o creram.
Abandonando por hora seus argutos, vamos considerar as razes
alegadas em favor da liberdade. Vejamos as trs principais: o
testemunho da conscincia, a natureza mesma do ato livre e as
necessidades da vida moral. O primeiro dos argumentos, que pode
se prestar a equvocos, toma seu valor smente se ligado ao
segundo; S. Toms, alis, no os distingue e vamos fazer como le.
Sem liberdade no h moral. Seria conveniente desenvolver ste
tema que constitui, alis, de seu ponto de vista, uni argumento
bastante vlido. Baste-nos citar S. Toms que em uma frase lacnica
sugere todo o essencial: "o homem tem o livre arbtrio, de outro
modo conselhos, exortaes, preceitos, proibies, recompensas e
castigos seriam coisas absolutamente vs" (Ia Pa, q. 83, a.1).
A razo tpica em favor da liberdade tomada da natureza mesma do
ato livre, tal como nos dado na experincia, sendo esta
interpretada luz dos princpios metafsicos, os nicos que podem
permitir concluir de maneira decisiva.
Desde que se trate de explicar e de fundamentar o ato livre, S.
Toms recorre sempre natureza racional do homem, ou mais
precisamente e mais imediatamente, sua faculdade de julgar: h
sres que agem sem julgar, h outros que agem por meio do juzo.
Se sse o resultado de um instinto natural, como o casa para os
animais, ento no h liberdade. Mas se, como no homem, resulta de
uma deliberao e de aproximaes devidas razo, encontramonos em face de um ato livre. Uma tal prerrogativa vem de que a
razo, quando relacionada a coisas contingentes, potncia de
coisas contrrias. Ora, as coisas particulares, em meio s quais
desenvolve-se a ao humana, so coisas contingentes, podendo
portanto servir a juzos diversos e que no so determinados.
necessrio, portanto, que o homem, pelo fato de ser racional, seja
dotado de livre arbtrio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-2.htm (1 of 5)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.2.
"Sed homo
agit judicio,
quia per vim
cognoscitivam
judicat aliquid
esse
fugiendum vel
prosequendum.
Sed quia
judicium istud
non est ex
naturali
instinctu in
particulari
operabili, sed
ex collatione
quadam
rationis, ideo
agit libero
judicio, potens
in diversa ferri.
Ratio enim
circa
contingentia
habet vim ad
opposita . . .
Particularia
autem
operabilia sunt
quaedam
contingentia:
et ideo circa
ea judicium
rationis ad
diversa se
habet, et non
est
determinatum
ad unum. Et
pro tanto
necesse est
quod homo sit
liberi arbitrii ex
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-2.htm (2 of 5)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.2.
hoc, ipso quod
rationalis est".
Ia
Pa,
q.
83,
a.
1
A liberdade tem, do lado do sujeito, seu fundamento na razo, e
objetivamente no carter contingente dos bens que se nos
oferecem. Dste ltimo ponto de vista, o argumento toma esta forma
de que se reveste muitas vzes em S. Toms: face aos bens
contingentes ou particulares nossa vontade permanece livre: s o
bem absoluto pode determin-la de modo necessrio. Uma e outra
razo, alis, se completam, assim como a inteligncia e a vontade
compenetram-se na atividade humana.
A experincia ou a conscincia de nossa liberdade, invocada muitas
vzes sem esta demonstrao, fundamenta-se exatamente sbre o
carter de no necessidade dos juzos que dirigem minha deciso:
julgo que tal meio ser conveniente para atingir tal fim e me decido,
mas percebo, ao mesmo tempo, que o motivo que me faz agir no se
impe de maneira absoluta: um bem contingente; minha escolha,
por ste fato, s pode ser livre. Minha conscincia de agente livre
uma conscincia de razo que aprecia e julga e no um sentimento
de um impulso do instinto, de um empurro no vazio, como se
imagina muitas vzes.
Retomando de um outro modo a precedente anlise, distinguiremos
no ato livre, do ponto de vista de sua indeterminao, dois aspectos,
o do exerccio e o da especificao. O ato livre, com efeito, o que
no motivado pela presso de um bem que se apresente como
necessitante; mas isto se pode produzir de dois modos:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-2.htm (3 of 5)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.2.
- para atingir
tal fim dois
meios se me
oferecem,
assim para ir
a tal cidade,
tal ou tal
caminho;
nenhum dos
meios,
nenhum dos
caminhos se
me impe,
posso
escolher ste
ou aqule:
direi que do
ponto de vista
da
especificao
meu ato
livre; mas no
caso em que
existisse um
s caminho,
no
permaneceria
menos livre,
pois atingir
tal cidade, e
portanto
tomar ste
caminho, no
me parece
absolutamente
necessrio;
posso ainda .
querer ou no
querer. Uma
tal
capacidade
de escolha
chamada
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-2.htm (4 of 5)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.2.
liberdade de
exerccio.
Uma e outra destas liberdades, a de especificao C a de exerccio,
fundam-se sbre a contingncia dos bens; mas do ponto de vista do
sujeito, a mais radical entre elas, e que por si s basta para que haja
liberdade, a de exerccio; ela sempre requerida para que haja
liberdade, enquanto que, ao menos no caso do meio nico, a
especificao se me impe de maneira constrangedora.
Se agora nos colocamos do ponto de vista da anlise psicolgica do
ato livre ou de seus diversos elementos, encontrar-nos-emos de
nvo em face de uma dualidade de atividade, a da inteligncia e a da
vontade concorrendo para um mesmo resultado.
Sob a presso de um desejo que surgiu em mim persigo um fim
(intentio finis). Diversos meios se me apresentam para o atingir;
delibero . . . ; o momento de me decidir chegou: o que se produz?
Em meu juzo (judicium practicum) decido-me por tal meio e por um
ato de vontade escolho (electio). Houve, portanto,
concomitantemente, um juzo da inteligncia e uma escolha da
vontade. Qual dos dois elementos pode ter sido determinante? Um e
outro, cada um no seu ponto de vista; na ordem de especificao,
escolhi porque julguei; na ordem do exerccio, julguei porque
escolhi. E preciso, sim, distinguir os dois atos, mas sob a condio
de no esquecer que reciprocamente se de terminam. O ato livre
procede ao mesmo tempo da inteligncia e da vontade. Como,
todavia, absolutamente falando a escolha ou a eleio que decide,
dir-se- que o livre arbtrio encontra-se na vontade como em seu
sujeito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-2.htm (5 of 5)2006-06-01 12:19:59
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.3.
3. LIBERDADE E DETERMINISMO.
Desprezando o sentimento comum favorvel existncia do livre
arbtrio, muitos sistemas desde a antiguidade atribuiram ao ato
humano, sob uma forma ou outra, a fatalidade ou o determinismo.
Encontram-se estas teorias diferentemente fundamentadas.
Para uns, o homem no livre porque submetido ao destino, ou
porque nada mais que uma engrenagem de um Todo cujo
movimento , em si mesmo, necessrio. De um ponto de vista
teolgico, afirmar-se-ia que a liberdade contrria prescincia ou
predestinao divina. Para outros, a liberdade, se existe, seria
diretamente contrria ao princpio de causalidade, ou ao princpio de
conservao de energia, ou ento negaria a regularidade das leis da
natureza: do ponto de vista da cincia, impor-se-ia manifestamente
um determinismo sem falhas.
No devemos considerar aqui certas concepes que se originam
prpriamente de uma filosofia geral e que s encontram respostas
adequadas em metafsica. Interessa-nos aqui uma s forma de
determinismo, a que est em relao mais imediata com a
psicologia. Seu exame ter a vantagem de valorizar, de maneira
nova, a doutrina acima elaborada.
O determinismo psicolgico. Esta doutrina parece ter tido sua
expresso mais acabada em Leibniz. este tomou seu ponto de
partida na crtica da liberdade de indiferena. Louvada, ao que
parece, por Descartes, esta teoria consiste em reconduzir a
liberdade indiferena com relao aos diversos motivos que
solicitam a escolha, ou ao estado de equilbrio perfeito onde se
encontra a vontade com relao aos motivos. Sob o efeito de uma
iniciativa absolutamente pura, esta faculdade faria sua escolha e isto
seria o ato livre. Leibniz no escondeu que esta assim chamada
indiferena face aos diversos motivos do querer era to-smente
uma iluso. Minha vontade, em realidade, solicitada diferentemente
pelos diversos motivos: uns so mais fortes que outros.
Definitivamente ser o motivo mais forte que a arrastar. E isto tanto
com relao nossa vontade, como tambm em relao vontade
divina que s pode querer o melhor. Todavia, merece sempre o
qualificativo de livre.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:00
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.3.
No nos pertence discutir, detalhadamente, esta engenhosa teoria.
Oportuno dizer aqui que, apesar de suas intenes, parece no
escapar ao determinismo: necessariamente o motivo mais forte
que se impor. O prprio mundo ser o melhor possvel: as
possibilidades de outra escolha ou de outros mundos so assim
completamente tericas.
Contra tais alegaes preciso manter, com S. Toms, que se nossa
vontade no se determina sem motivo, no necessriamente
determinada por um motivo que seria o mais forte, surgindo ste,
alis, como uma hiptese gratuita. Em nossa psicologia concreta,
h, por deliberao preliminar, o exame de diversos motivos de
escolha que nos solicitam. Depois, o sujeito pra em um dles e se
decide: a deciso assim tomada depende bem do motivo que a
fundamenta realmente e que aparece, ento, como o melhor, mas s
se impe minha vontade porque esta se fixa sbre le e o escolhe.
Em ltima anlise, tal motivo foi efetivamente o mais forte: mas
porque eu o quis. H, ao mesmo tempo, determinismo racional e
autodeterminao espontnea. O ato livre no pode ser salvo e no
pode ser justificado de outra maneira.
Se na psicologia do ato livre no se deve reconhecer o motivo mais
forte no sentido leibniziano, convm distinguir mveis diversos ou
condies de escolha. Eis os discernimentos que S. Toms, a ste
respeito, nos prope no De Malo (cf. q. 6, art. nico).
Considerado como procedente da vontade ou em seu exerccio, o
ato livre interiormente condicionado s por Deus. ste ainda, em
sua moo transcendente, respeita a indiferena fundamental da
potncia que conserva assim o senhorio de seu ato.
Considerado agora do ponto de vista da especificao ou como
dependente da inteligncia, e psto parte o caso do bem absoluto
que absolutamente necessitante, o ato livre pode, de trs
maneiras, ver-se solicitado, mais em um sentido que em outro: 1.
por um motivo que efetivamente o arrasta; 2. pelo fato de que se
considera tal circunstncia do ato antes que tal outra; 3. em razo
das disposies do sujeito que fazem com que tal objeto apresente
maior ou menor intersse: o que arrastado por um movimento
passional ou levado por um hbito, ser conduzido naturalmente a
julgar segundo ste movimento ou em conformidade a ste hbito:
assim, um mesmo objeto no far a mesma impresso ao homem
em clera e ao homem que est calmo, ao virtuoso e ao viciado, ao
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:00
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.3.
sadio e ao doente. Tda a questo infinitamente complexa do
condicionamento afetivo de nossas escolhas deveria ser
compreendida sob esta luz. Todavia, fora dos casos onde a violncia
das paixes tira razo tda a posse de si, a vontade, em face dos
bens contingentes, conserva seu poder fundamental de se
determinar ou de no se determinar.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:00
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.22, C.4.
4. CONCLUSO: POSIO DA DOUTRINA TOMISTA DA
LIBERDADE.
A doutrina da liberdade que, com grande fidelidade a Aristteles, S.
Toms nos prope, situa-se assim entre os dois extremos do
indeterminismo de uma espontaneidade no motivada, e do
determinismo da vontade por um motivo constrangedor. De um lado,
no sem reservas alis, conviria colocar um Descartes ou um
Bergson, e de outro o racionalismo leibniziano.
Para S. Toms, o livre arbtrio no , de uma parte, espontaneidade
no motivada; e, de outra, no devido a um motivo que se impe:
ao mesmo tempo espontaneidade e motivao, cada um dos fatres
determinando o outro segundo seu ponto de vista. o que
exprimiam, sob diversos aspectos, os pares discernidos mais acima,
da especificao e do exerccio, do juzo prtico e da eleio: mais
profundamente, o par inteligncia-vontade que est na origem dos
outros. A liberdade encontra-se, como em seu sujeito, na vontade,
mas ao mesmo tempo faculdade de razo, de sorte que se pode
igualmente defini-la como uma inteligncia dotada de intellectus
appetitivus, ou, o que prefervel, um apetite dotado de inteligncia;
appetitus intellectivus: todo o mistrio e tda a explicao da
liberdade est na associao dos dois trmos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA22-4.htm2006-06-01 12:20:00
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.1.
A ALMA HUMANA
1. PRELIMINARES
Uma primeira vez, no estudo geral do vivente, havamos abordado o
problema da alma. Eis o que havamos concludo.
A alma, antes de tudo, apareceu-nos como o primeiro princpio de
vida, concepo espontnea e comum em filosofia. Considerando,
em seguida, a alma, na linha da teoria hilemorfista da substncia,
fomos levados a esta segunda afirmao, caracterstica do
peripatetismo: a alma a forma do corpo. Disto decorria todo um
conjunto de propriedades: sendo princpio formal de um vivente que
uno, a alma s pode ser una e nica; conseqentemente,
indivisvel e encontra-se tda inteira presente em tdas as partes do
corpo. Ainda mais, em conformidade com as leis gerais das
substncias fsicas, impe-se que desaparea ou se corrompa
quando se dissolver o composto.
Sbre s-te ltimo ponto, j havamos reservado o caso da alma
humana que, sendo princpio de uma vida de grau mais elevado, a
vida iniciativa, parecia gozar de prerrogativas especiais e diferir
mesmo, em sua natureza profunda, das almas inferiores. o que
devemos presentemente estabelecer de maneira mais explcita.
A afirmao da separao, com relao matria, do mundo
inteligvel, e, conseqentemente, da alma intelectiva, havia sido uma
das conquistas essenciais do platonismo. Em reao contra o que
lhe parecia excessivo nesta teoria, Aristteles havia proposto sua
frmula original da definio da alma como forma do corpo. Mas,
nesta concepo, o problema de um "nous" puramente espiritual
encontrava-se apenas diferido e, efetivamente, ns o vemos
reaparecer quando abordada a questo da vida intelectiva (De
Anima III, c. 4 e 5).
A potncia de conhecer manifesta-se, ento, dotada de propriedades
que a distinguem absolutamente das realidades materiais. De uma
parte (cf. c. 4, 429, a 18-28), como o queria Anaxgoras, ela deve ser
sem mistura, isto , privada de tdas as naturezas corporais:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:00
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.1.
estando, com efeito, em potncia para tdas as determinaes
destas naturezas, o intelecto no deve atualmente possuir nenhuma.
De outra parte (cf. 5, 430 a. 17), surge esta potncia, enquanto
agente, como separada da matria, imortal e eterna.
Estas passagens, vimos, no deixaram de suscitar interpretaes
diversas por causa de sua obscuridade. Antes de S. Toms, concluase mais comumente pela existncia de um princpio intelectivo
espiritual, mas absolutamente separado e nico para todos os
homens, sacrificando-se assim a imortalidade pessoal da alma.
A posio de S. Toms. Como todos os doutres cristos, S. Toms
possua, pela Revelao, uma doutrina da alma espiritual e imortal
que se lhe impunha. Assim, no se deve surpreender ao v-lo dar
aos textos precedentes, de acrdo com esta doutrina, um sentido ao
mesmo tempo espiritualista e personalista: a alma humana forma
do corpo, mas tem a mais uma subsistncia espiritual em cada
indivduo e incorruptvel. A dimenso destas afirmaes dever
ser bem precisada. ( II. A natureza da alma humana.)
Mas, luz da Filosofia Crist, e em particular do agostinianismo,
novos aprofundamentos se impem. O mundo dos espritos, em
tdas as suas dimenses, esprito humano, esprito anglico,
esprito divino, encontra-se aberto a nossos olhos. A alma espiritual
no trar em si a marca dste mundo superior, e no participar de
sua vida mais ntima? o que haveremos de perguntar, em segundo
lugar ( III. A estrutura intelectiva da alma humana).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:00
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.2.
2. A NATUREZA DA ALMA HUMANA
Trs afirmaes exprimem essencialmente a doutrina da natureza da
alma humana: a alma humana espiritual, subsistente,
incorruptvel.
- A alma humana espiritual.
A natureza de nossa alma, j o sabemos, s se nos pode manifestar
atravs de suas operaes, pois s elas nos so diretamente
perceptveis.
Consideremos aquela operao que, entre as outras, pertence
especificamente ao homem: a inteleco. Sua espiritualidade
manifesta-se de dois pontos de vista.
Quanto a seu objeto, antes de tudo. Com efeito, pelo fato de tdas as
naturezas corporais poderem ser apreendidas pela nossa faculdade
superior de conhecer, impe-se que esta faculdade no seja
determinadamente nenhuma destas naturezas, portanto, que seja
incorprea, ou espiritual. o que S. Toms exprime perfeitamente
nesta passagem da Summa:
" manifesto
que o
homem, por
sua
inteligncia,
pode
conhecer as
naturezas de
todos os
corpos. Ora,
impe-se que
o que tem o
poder de
conhecer
algumas
coisas, no
possua nada
delas em si:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-2.htm (1 of 7)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.2.
assim,
vemos que a
lngua do
enfrmo que
est
infectada de
blis e de
humor
amargo, no
pode ter a
percepo
do doce e
que tudo lhe
aparea
amargo. Se,
pois, o
princpio
intelectivo
possusse
em si a
natureza de
algum corpo,
no poderia
ter o
conhecimento
de todos,
tendo cada
um dles,
com efeito,
uma natureza
determinada.
, portanto,
impossvel
que o
princpio
intelectual
seja um
corpo. . . ".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-2.htm (2 of 7)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.2.
Ia
P,
q.
75
a.
2
Nem tampouco, continua S. Toms, deve-se dizer que a inteligncia
mesclada de corporeidade em virtude dos rgos que utiliza.
Tendo uma natureza determinada, tais rgos no poderiam deixar
de fazer obstculo ao conhecimento de todos os corpos:
"Assim, se
houvesse
uma cr
determinada,
no
smente na
pupila mas
ainda em
um vaso de
vidro, o
lquido que
nle se
lanasse
apareceria
da mesma
cr. O
prprio
princpio
intelectual
que
chamado de
"mens" ou
intelecto
tem,
portanto,
uma
operao
prpria pela
qual no
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-2.htm (3 of 7)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.2.
entra em
comunho
direta com o
corpo."
Em segundo lugar, quanto a seu modo. A inteligncia, com efeito, de
si capta seu objeto de modo abstrato e universal, ou
independentemente de tdas as circunstncias materiais. Ainda
mais, graas a seu processo abstrativo, esta faculdade capaz de
representar realidades puramente espirituais, o que no seria
possvel se ela mesma estivesse, em seu ato, implicada na matria.
A operao intelectual, por estas razes, s pode ser puramente
espiritual.
Mas, tal ser, tal operao, e inversamente. Portanto da imaterialidade
da operao deve-se subir imediatamente imaterialidade de seu
princpio: de modo que a espiritualidade requerida pelas condies
da inteleco ao mesmo tempo suposta para o ato, para a potncia
e tambm para o ser que est em sua raiz.
- A subsistncia da alma espiritual.
Que a alma seja de per si subsistente, um "hoc aliquid" como diz S.
Toms, isto se segue, igualmente de modo imediato, do que acaba
de ser estabelecido. Nada, com efeito, pode agir a ttulo de princpio
radical se no fr de per si subsistente: a alma espiritual, a "mens",
o mais profundo princpio de vida intelectiva, , portanto, uma
substncia espiritual.
Mas, nestas condies, no somos levados invencvelmente tese
sustentada por Plato de uma alma bastando-se a si mesma e tendo
no corpo smente uma habitao precria? Como manter ao mesmo
tempo que a alma a forma do corpo e que o indivduo humano
uno? Reconhecendo, como S. Toms, que h para um ser dois
modos de subsistir: de modo especificamente completo, como
acontece para esta planta, para esta pedra e igualmente para ste
homem, e de modo especificamente incompleto, como o caso da
alma: a alma humana, com efeito, como substncia especfica, s se
encontra acabada e perfeita se unida ao corpo ... Seja na formulao
precisa de S. Toms:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-2.htm (4 of 7)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.2.
"Relinquitur
igitur quod
anima est
hoc aliquid
ut per se
potens
subsistere,
non quasi
habens in
se
completam
speciem,
sed quasi
perficiens
speciem
humanam
ut forma
corporis, et
sic
similiter
est forma
et hoc
aliquid"
Quaest.
Disput.
De
Anima,
a. 1
- A incorruptibilidade da alma.
A afirmao da incorruptibilidade ou, o que d no mesmo, da
imortalidade da alma, to-smente uma conseqncia do que
precede.
Uma coisa, com efeito, pode corromper-se de duas maneiras:
acidentalmente (per accidens) ou de per si (per se). Corrompe-se de
modo acidental (per accidens) aquilo que desaparece com a
supresso de uma realidade conjunta, como as formas que se
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-2.htm (5 of 7)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.2.
encontram em um sujeito que destrudo. Assim, nos animais, a
corrupo do indivduo acarreta o desaparecimento da forma
substancial ou da alma. claro que um tal modo de corrupo no
pode ser reconhecido para um ser que, como a alma, subsiste por si
(per se), isto , independentemente de qualquer outro. Portanto, aqui
s se pode falar em corrupo substancial, ou que atinge em si a
coisa considerada. Ora, tambm isto impossvel. Sendo uma forma
absolutamente simples, a alma no pode perder aquilo que seu
constitutivo prprio, sua forma. Nem tampouco pode perder, por si
mesma, seu ser que com ela solidrio: assim incorruptvel e por
conseqncia imortal. Segue-se da que de nenhum modo possa
desaparecer? Uma tal concluso evidentemente absurda. O ser da
alma criado: continua, pois, na dependncia da causa que est no
seu princpio, a qual, como pde cri-la, pode igualmente aniquil-la,
pois nenhum agente subordinado tem poder sbre si prprio.
Incorruptvel ou imortal no plano da realidade criada e de sua
eficacidade, traz a alma em seu ser profundo o estigma de absoluta
submisso ao seu criador.
No sem intersse revelar que ao lado dessa argumentao em
favor da incorruptibilidade da alma, S. Toms faa valer uma outra
prova que se apia, por sinal, sbre o desejo da imortalidade, o qual,
sendo um desejo natural, no pode ser vo. Eis o argumento em sua
forma original:
"Cada coisa
deseja, de maneira
natural, existir do
modo que lhe
convm; ora, nos
sres
cognoscentes, o
desejo segue-se
ao conhecimento;
o sentido, por sua
parte, s conhece
o que existe hic et
nunc, enquanto a
inteligncia
apreende o ser de
modo absoluto e
independentemente
do tempo. Seguefile:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-2.htm (6 of 7)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.2.
se que todos os
que tm uma
inteligncia, tm o
desejo de uma
existncia
perptua. Mas um
desejo de natureza
no pode ser vo:
tda substncia
intelectual ,
portanto,
incorruptvel"
I,
c.
75,
a.
6
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-2.htm (7 of 7)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.3.
3. A ESTRUTURA INTELECTIVA DA ALMA HUMANA.
O homem por sua alma pertence, portanto, ao mundo dos espritos.
Pode-se pensar que sua natureza profunda no tenha nada de
comum com a dos sres superiores?
S. Toms, j pudemos disso nos aperceber estudando o
conhecimento da alma por si mesma, no pensa assim. Devemos
retomar aqui esta questo em tda a sua amplitude. (Cf. A. Gardeil,
Structure de L'me. Ire. Partie t. I, pgs. 47-152)
A estrutura intelectiva da "mens". Para designar a alma espiritual do
homem, nosso Doutor possui um trmo tcnico: "mens". Algumas
vzes aplica sse trmo aos espritos puros que sero chamados
"totaliter mens", mas normalmente o reserva para o esprito
encarnado que nossa alma. Pode-se perguntar se esta expresso
"mens" corresponde potncia intelectiva, ou essncia mesma da
alma. De fato, como o trmo "intellectus", que s vzes significa a
potncia e s vzes a prpria alma intelectiva, "mens" pode ser
aplicado a uma e outra coisas. De maneira sinttica dir-se- que a
"mens" designa a alma espiritual enquanto princpio de nossas
operaes superiores.
Qual , pois, a estrutura da "mens"? Para compreend-la, voltamonos para os mais perfeitos espritos criados, os anjos, e
perguntemos como se constituem. Sabemos que todo ser elevado a
um grau de imaterialidade conveniente, torna-se apto a receber,
alm de sua forma prpria, a dos outros sres: um sujeito
cognoscente. Mas, alm disso, se fr totalmente liberto da matria
corporal, o que o caso dos anjos, torna-se imediatamente
inteligvel. O esprito puro, o anjo, do ponto de vista de sua atividade
superior, caracteriza-se por isto: ao mesmo tempo inteligncia e
inteligvel em ato e, alm disso, o inteligvel que constitui sua
essncia imediatamente presente sua potncia. Nada falta, pois,
para que se produza o ato de conhecimento: o anjo se conhece a si
mesmo por sua essncia, "per essentiam", e esta essncia que
constitui o objeto prprio de sua faculdade cognoscitiva.
D-se o mesmo com o homem? No estado de alma separada o
homem pensa - muito imperfeitamente, alis - conforme o modo
anglico. porque j nesta vida deve o homem possuir em estado
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-3.htm (1 of 6)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.3.
latente, ou no nvel de hbito, a possibilidade de se conhecer a si
mesmo: o que S. Toms queria significar com seu conhecimento
habitual da alma por si mesma. Em sua estrutura profunda de
esprito a alma humana, a "mens", caracteriza-se, pois, pela
imediao ou pela presena de um objeto inteligvel e de um sujeito
inteligente. S a necessidade preliminar do conhecimento abstrativo
suspende, para esta vida, a atuao correspondente a ste estado
interior da alma. Tdas estas coisas exprimiu-as perfeitamente Joo
de Santo Toms neste belo texto:
"Em nosso
estado atual, a
unio objetiva
da alma
inteligvel com
a alma sujeito
e raiz da
inteligncia
j realizada,
mas
virtualmente,
pois o estado
de separao
da alma e do
corpo aqui
virtual.
Entretanto,
esta unio no
se manifesta
atualmente,
por causa da
necessidade
em que se
encontra a
alma de se
dirigir s
coisas
sensveis para
conhecer: o
que a impede
de se
conhecer a si
mesma
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-3.htm (2 of 6)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.3.
imaterialmente,
puramente,
por si mesma.
Isto porque a
potncia
intelectiva
emanando da
alma, emana
dela como de
uma raiz
inteligente e
como de um
objeto
inteligvel,
mas que, de
si, no
manifesta
ainda sua
inteligibilidade
puramente,
espiritualmente
e
imediatamente,
enquanto est
no estado
presente. Sua
inteligibilidade
permanece
amarrada em
razo da
necessidade
de recorrer s
coisas
sensveis para
se atualizar. E
isto porque
esta unio
ntima da
inteligncia e
da alma
inteligvel no
se revela, nem
de um lado,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-3.htm (3 of 6)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.3.
nem de outro,
at que a alma
esteja
separada".
Curs.
Theol.,
in Iam
Part.,
q. 55,
disp.
21, a.
2, n.
131
Afinal, se compete natureza da alma humana informar um corpo e
agir segundo essa condio, h igualmente nela, em estado latente,
o que preciso para viver maneira dos espritos: dualismo do
encarnado e do espiritual que encontramos em tdas as camadas do
psiquismo e que no poderia deixar de se encontrar no fundo
mesmo do homem.
A imagem de Deus. A ste admirvel parentesco com os espritos
puros, ajunta-se, para a alma do homem, um parentesco mais
surpreendente ainda, o qual o doutor cristo no podia negligenciar:
"Faamos o homem nossa imagem e nossa semelhana", havia
declarado o Criador (Gn. 1, 26). Tda a psicologia de um S.
Agostinho e, depois dle, tda a da Idade Mdia ver-se- iluminada
por esta palavra da narrao sagrada. Um So Boaventura que, em
tda a parte, procura encontrar marcas ou vestgios de Deus,
comprazer-se- aqui de maneira tda particular. Com esta nova luz
deixamos evidentemente o estudo puramente racional da alma pelo
plano da f, mas nos nossos mestres h implicao contnua das
duas perspectivas e s podemos dar uma idia justa de seu
pensamento se evocarmos stes horizontes superiores (Cf. sbre
esta questo: Ia Pa, q. 93) .
O que se deve entender, antes de tudo, por esta expresso imagem?
Uma imagem no uma simples semelhana: dois objetos podem se
assemelhar sem que um seja, prpriamente falando, a imagem do
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-3.htm (4 of 6)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.3.
outro; para isto, preciso acrescentar que nesta "processo" devese realizar, no uma semelhana longnqua, mas especfica, um
verdadeiro parentesco de natureza. Assim, tdas as criaturas
procedem de Deus e, por ste fato, trazem dle algumas marcas que
no podem simplesmente ser chamadas suas imagens. S as
criaturas intelectuais merecem ste ttulo; abaixo, s se encontram
vestgios de Deus.
Se considerarmos melhor, veremos que se encontra na criatura
inteligente a imagem de Deus em dois graus de profundidade,
conforme exprima smente, em sua unidade, a natureza do Ser
supremo, ou exprima a Trindade de suas pessoas. J pelo simples
fato de ter uma vida intelectiva, a alma espiritual pode ser chamada a
imagem de Deus. Mas, pelo fato de nela se notar uma certa
"processo" de um verbo mental segundo a inteligncia e uma certa
"processo" de amor, segundo a vontade, pode-se igualmente falar
de uma imagem da Trindade das Pessoas, distinguindo-se estas em
Deus conforme as relaes do Verbo com Aqule que diz, e do
Esprito com um e outro dstes trmos.
Sbre ste captulo da alma como a imagem da Trindade, S. Toms
encontrava, para se inspirar, as sutis mas penetrantes anlises da
alma do De Trinitate de S. Agostinho. ste, para poupar a seu leitor a
considerao direta dos mistrios de Deus, procurava analogias em
nosso mundo espiritual. Assim, conforme se considere a alma no
nvel das potncias ou hbitos, ou no nvel dos atos, encontra-se
uma primeira (mens, notitia, amor), ou uma segunda (memoria,
intelligentia, voluntas) imagem da Trindade em ns. Indiquemos que
na primeira destas aproximaes, "mens" designa a potncia, sendo
"notitia" e "amor" os hbitos que a dispem para seu ato. Na
segunda aproximao, que mais perfeita, "memoria" significa o
conhecimento habitual da alma, "intelligentia" e "voluntas" os atos
que dela procedem (cf. De Veritate, q. 10, a. 3).
A significao destas imagens do Deus Uno e Trino, escondidas no
fundo da alma, ser percebida por ela smente sob a luz da f, ou
segundo as leis de uma psicologia sobrenatural. E assim
ultrapassamos os limites de nossa presente pesquisa. Mas era
inevitvel ir at aos umbrais disto que o Doutor anglico
considerava como a melhor parte de nossa vida, a da alma imagem
de Deus em sua intimidade e capaz, por isso mesmo, de viver sua
vida.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-3.htm (5 of 6)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.23, C.3.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA23-3.htm (6 of 6)2006-06-01 12:20:01
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.24, C.1.
CONCLUSO
1. REFLEXES FINAIS
No ser intil voltar, por uma ltima vez, ao mtodo da psicologia
de S. Toms. Diferentemente de inmeras exposies modernas que
permanecem no nvel das constataes e das explicaes imediatas,
esta psicologia apareceu-nos tda marcada pela metafsica. So as
estruturas profundas do homem que se visa determinar e isto,
evidentemente, com o fim de assegurar os fundamentos desta vida
superior que interessa sobretudo ao telogo.
Contudo, ser conveniente no esquecer que, no peripatetismo, o
estudo da alma vem lgicamente no prolongamento das pesquisas
fsicas sbre o ser natural. Se, pois, em uma tal filosofia, a parte
espiritual do homem acaba por se mostrar com um forte relvo, no
significa que sua parte corporal ou biolgica no tenha, de incio,
retido a ateno. Na realidade e importante que se diga, a
exposio precedente poderia enganar. Preocupados com a
brevidade, fomos levados a encurtar ao extremo a parte de
observaes e anlises positivas que, em Aristteles sobretudo,
efetivamente considervel. Assim fomos obrigados a reduzir a bem
poucas coisas o estudo dos sentidos e de suas atividades, ou de
fenmenos originais tais como os sonhos, o sono, a reminiscncia,
que retiveram sriamente a ateno de nossos mestres. Em um nvel
mais elevado, a vida moral, os movimentos das paixes por
exemplo, que nles foram objeto de anlises minuciosas e notveis,
ficaram de lado. Expostas em todos os seus detalhes e com tdas as
suas riquezas, uma psicologia de Aristteles e uma psicologia de S.
Toms tomariam uma fisionomia notvelmente outra. As estruturas
e os quadros, todavia, permaneceriam os mesmos, tais como os
mostramos.
Concernente posio da psicologia de S. Toms, o essencial foi
dito. Na histria das doutrinas da alma, aparece como uma "via
media". Se Plato, por primeiro, soube liberar do sensvel o "nous" e
sua atividade, o pensamento, consagrou, por outra parte, o divrcio
das idias com relao matria, do esprito com relao ao corpo.
Aristteles conserva a distino, mas pretende restabelecer a
unidade entre os dois trmos e S. Toms, de maneira muito decisiva,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA24-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:02
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino TE: L.24, C.1.
segue-o nesta via. Contudo, em virtude da contribuio crist, a vida
superior em S. Toms cresce de importncia e a alma, sempre
permanecendo a forma do corpo, toma efetiva colocao na
hierarquia das inteligncias. Donde, a riqueza e ao mesmo tempo a
complexidade, e quase a ambigidade, da doutrina que S. Toms
nos deixou. Estamos na interseco de dois mundos. Conforme se
apie sbre um ou outro dstes aspectos, a psicologia de S. Toms
aparecer seja como muito encarnada, muito biolgica,
aproximando-se nesta linha da pesquisa moderna to presa aos
comportamentos fsicos, seja, inversamente, como muito
espiritualista.
Dualismo sublinhado igualmente pelos temas que continuamente
tocam na dependncia e na alienao, de uma parte, e na imanncia
e na autonomia de outra. Nossas potncias aparecem, de incio,
como faculdades receptoras. A alma deve assim comear por ir
buscar fora seu alimento: na vida psicolgica, parte-se
forosamente da exterioridade. Mas a atividade vital, por outro lado
tem igualmente, como carter prprio, de proceder do interior e
terminar dentro do ser que o sujeito, isto , tem por carter prprio
ser imanente. J perceptvel no nvel da vida vegetativa, esta
autodeterminao afirma-se medida que se eleva, para atingir em
ns seu grau mais elevado no conhecimento da alma por si mesma.
Os temas, to" caros a tantos modernos, da interioridade da vida do
esprito, aqui igualmente encontram acolhimento. Nos espritos
superiores, e de modo eminente em Deus, a vida essencialmente
imanente. No homem, porm, esta imanncia realiza-se smente
segundo uma perfeio menor, permanecendo ste dependente, em
baixo, do mundo corporal e, em cima, da ao primeira de Deus: o
homem autnticamente um esprito mas , em sua natureza de ser,
um esprito encarnado e se em sua parte superior imagem de
Deus, o to-smente distncia e em inteira submisso a le.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...i/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/PSICOLOGIA24-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:02
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.1.
H. D. Gardeil
Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino
QUARTA PARTE: METAFSICA
INTRODUO
1. NOO GERAL DA METAFSICA
Na linguagem filosfica universal o termo metafsica designa a parte
superior da filosofia, isto aquela que pretende dar as razes e os
princpios ltimos das coisas; tal termo remonta a Andronicus de
Rhodes (1 sculo antes de Cristo) que, editando os escritos de
Aristteles, tomou a iniciativa de classificar sob o ttulo de Meta ta
Phisika (aps os Fsicos) uma coleo de quatorze livros cujo
contedo parecia fazer lgicamente seqncia quele dos livros de
fsica. O prprio Aristteles havia falado, para designar ste
conjunto, de Filosofia primeira ou de Teologia.
O objeto prprio da metafsica no peripatetismo, ser, ns o
veremos, o ser enquanto tal e suas propriedades. Mas esta
definio, que S. Toms manter, no deriva de maneira imediata da
leitura da obra em questo. Um primeiro inventrio descobre, com
efeito, como que trs concepes sucessivas desta cincia; e os
liames orgnicos que as ligam entre si no se revelam de pronto. S.
Toms, que tomara conscincia plenamente desta ambigidade,
apresenta dste modo, no Prooemium de seu comentrio da
Metafsica, esta triple concepo:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-1.htm (1 of 7)2006-06-01 12:20:02
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.1.
1 Em oposio
s outras
cincias, que no
remontam seno
a causas ou a
princpios mais
imediatos, a
metafsica
aparece de incio
como a cincia
das primeiras
causas e dos
primeiros
princpios. Esta
definio se liga
manifestadamente
concepo
geral da cincia,
conhecimento
pelas causas,
que um dos
primeiros
axiomas do
peripatetismo. A
denominao de
"Filosofia
primeira" referese a este aspecto
da metafsica que
domina no livro
A.
2 A metafsica se
afirma em
seguida como a
cincia do ser
enquanto ser e
dos atributos do
ser enquanto ser.
Vista sob ste
aspecto, ela se
apresenta como
tendo o mais
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-1.htm (2 of 7)2006-06-01 12:20:02
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.1.
universal de
todos os objetos,
e considerando
as outras
cincias apenas
um domnio
particular do ser.
Esta concepo
toma corpo no
livro da coleo
de Aristteles e
parece se impor
nos seguintes.
a ela que
corresponde
prpriamente o
vocbulo
"Metafsica".
3 Enfim, a
metafsica pode
ser definida
como a cincia
do que imvel e
separado, ao
contrrio da
fsica e da
matemtica que
consideram
sempre seu
objeto sob um
certo
condicionamento
da matria. Dste
ponto de vista,
sendo Deus a
mais eminente
das substncias
separadas, a
metafsica pode
reivindicar a
denominao de
"Teologia". Este
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-1.htm (3 of 7)2006-06-01 12:20:02
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.1.
aspecto
prevalece na
obra a partir do
livro 6.
ste prlogo de S. Toms importante demais para no ser lido de
perto. A metafsica, a quem cabe reger tdas as outras cincias, no
pode ter por objetivo seno os mais inteligveis e no pode ser
seno a mais intelectual das cincias. Ora, ns podemos considerar
o mais inteligvel segundo trs pontos de vista diferentes:
"Em primeiro
lugar, segundo a
ordem do
conhecimento.
Com efeito, as
coisas a partir
das quais o
intelecto adquire
a certeza
parecem ser as
mais inteligveis.
Assim, como a
certeza da
cincia ligada
inteligncia
adquirida a partir
das causas, o
conhecimento
das causas
parece ser o mais
intelectual: e, em
conseqncia, a
cincia que
considera as
primeiras causas
, parece, ao
mximo
reguladora das
outras.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-1.htm (4 of 7)2006-06-01 12:20:02
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.1.
Em segundo
lugar, do ponto
de vista da
comparao da
inteligncia e do
sentido; pois, o
sentido tendo por
objeto os
particulares, a
inteligncia
parece diferir
dle na medida
em que abarca os
universais. A
cincia mais
intelectual ,
portanto, aquela
que concerne aos
princpios mais
universais, os
quais so o ser e
o que
consecutivo ao
ser como o uno e
o mltiplo, a
potncia e o ato.
Ora tais noes
no devem
permanecer
completamente
indeterminadas. . .
nem ser
estudadas em
uma cincia
particular...
Devem, pois, ser
tratadas em uma
cincia nica e
comum que,
sendo a mais
intelectual, ser
reguladora das
outras.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-1.htm (5 of 7)2006-06-01 12:20:02
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.1.
Em terceiro lugar,
do ponto de vista
mesmo do
conhecimento
intelectual. Se
uma coisa tem
virtude intelectiva
pelo fato de que
se encontra
desprovida de
matria,
necessrio que
seja o mais
inteligvel o que
o mais separado
da matria... Ora
so mais
separadas da
matria as coisas
que no apenas
se abstraem de
tal maneira
determinada...
mas totalmente
da matria
sensvel: e isto
no smente
segundo a razo,
como os objetos
matemticos,
mas do ponto de
vista do ser,
como Deus e os
espritos. A
cincia que trata
destas coisas
parece, em
conseqncia,
ser a mais
intelectual e
gozar diante das
outras do direito
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-1.htm (6 of 7)2006-06-01 12:20:02
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.1.
de principado e
de regncia."
Cincia das primeiras causas e dos primeiros princpios, isto ,
sabedoria, cincia do ser enquanto ser, cincia do que
absolutamente separado da matria, tal se nos revela
sucessivamente a metafsica. Iremos retomar cada uma destas
concepes a fim de melhor apreender-lhes a envergadura. Neste
estudo teremos o cuidado de marcar a ligao de cada doutrina com
o movimento geral do pensamento grego. Assim a elaborao
aristotlica nos aparecer, ao mesmo tempo que uma obra de
especulao vigorosa, como que a culminncia e a sntese da
reflexo sbre os princpios dos trs sculos que a precederam.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-1.htm (7 of 7)2006-06-01 12:20:02
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.2.
2. A METAFISICA COMO SABEDORIA.
No cap. 2 do livro A de sua Metafsica, Aristteles enumera as
concepes mais correntemente admitidas concernentes
sabedoria filosfica: a cincia mais universal, a mais rdua, a mais
prpria a ser ensinada etc. para finalmente deter-se no que lhe
parece caracterizar do modo mais formal esta cincia: a metafsica
a cincia das primeiras causas e dos primeiros princpios. H no
homem uma tendncia inata ao saber, isto , a conhecer pelas
causas, e ste desejo no pode ser satisfeito seno no momento em
que se atinge a causa ltima,, aquela aps a qual no h nada mais a
procurar, e que se basta, portanto, a si mesma. Cincia das
supremas explicaes ou das primeiras causas, tal nos parece, pois,
ser a metafsica que, sob ste aspecto, merece prpriamente o ttulo
de sabedoria.
A noo de sabedoria no propriedade exclusiva do peripatetismo
nem do cristianismo. Todo pensamento filosfico digno dste nome
pretende ser uma sabedoria. Mas evidente que as diversas
sabedorias filosficas diferem profundamente, segundo o fim
perseguido e os meios postos em ao.
Entre os gregos, o trmo sabedoria (Sofia) encontra-se, de incio,
revestido de uma significao de ressonncias utilitrias.
sinnimo de habilidade ou de excelncia numa arte qualquer.
Policleto sbio porque um escultor particularmente engenhoso.
A Sofia corresponde tambm a um certo domnio na conduta da
vida. neste sentido mais elevado que Scrates falar de sabedoria:
sbio aqule que, conhecendo bem a si mesmo, assim capaz de
se dirigir com discernimento. Plato recolher a herana moral de
Scrates; para le a Sofia a arte de se governar a si mesmo e de
governar a cidade segundo as normas da justia e da prudncia.
Mas, no filsofo das Idias, outras perspectivas se abriram: a alma,
atravs de sua parte superior, o Nous, est em comunicao com o
mundo das verdadeiras realidades, as formas inteligveis, no pice
das quais cintila a forma superior do bem; portanto, a Sofia
tambm Theoria e, em seu trmo, contemplao de Deus. Os
maiores dentre os discpulos de Plato, Aristteles e Plotino,
seguiro o mestre nesta ascenso intelectual rumo ao ser supremo.
Assim, a sabedoria filosfica, no limite de suas possibilidades
humanas, reencontrou seu verdadeiro princpio, mas ignora ainda as
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-2.htm (1 of 6)2006-06-01 12:20:03
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.2.
vias que para l conduzem de maneira efetiva.
Com a revelao judeu-crist, se a contemplao de Deus
permanece sempre o fim ltimo da sabedoria, as perspectivas se
invertem. A sabedoria ento se apresenta, essencialmente, no mais
como vinda dos recursos prprios do esprito humano, mas como
descendente do cu: a salvao, que nos trazida pela iniciativa e
pela prpria graa de Deus. Tambm uma tal sabedoria se manifesta
de imediato como algo que ultrapassa a filosofia, ainda que, sob o
reino da graa, possa perfeitamente se constituir uma sabedoria
autnticamente filosfica.
Em face do Evangelho constitui-se, enfim, aquilo que ste nos
ensinou a chamar a sabedoria dste mundo, que consiste
profundamente numa recusa do transcendente: trata-se de organizar
o mundo pelos seus prprios recursos, e em vista unicamente do
homem. Para um cristo, uma tal sabedoria que no se edifica sbre
os verdadeiros valres, no pode evidentemente ser seno pretensa
a falsa.
Se abandonamos o plano da histria para nos colocarmos no da
doutrina, deveremos dizer com S. Toms, que exprime aqui a
opinio teolgica comum, que pode haver no esprito humano trs
sabedorias essencialmente distintas e hierrquicamente ordenadas:
a sabedoria infusa, dom do Esprito Santo, a teologia e a metafsica,
distinguindo-se estas trs sabedorias de modo correlativo conforme
a luz que as determina e conforme seu objeto formal. Com a
sabedoria infusa, julgamos por uma conaturalidade fundada no amor
de caridade que nos permite atingir Deus nle mesmo e segundo um
modo de agir, ou melhor, de "padecer" suprahumano. A sabedoria
teolgica est, como a precedente, sob o regime da f e tem
igualmente por objeto Deus considerado nle mesmo: mas est
fundada imediatamente sbre a revelao e seu modo de exerccio
essencialmente racional. J a metafsica puramente humana, no
tendo outra luz seno a da nossa razo natural; como o veremos, ela
pretende tambm atingir Deus, princpio supremo das coisas, mas a
ttulo de causa e no mais a ttulo de objeto diretamente apreendido.
A especulao crist conhece ainda um outro emprgo do trmo
sabedoria, na medida em que serve para designar um atributo
essencial de Deus: a Sabedoria transcendente que convm a Deus
na sua natureza e que a teologia trinitria nos autoriza a atribuir
pessoalmente ao Filho. Notemos que nesta Sabedoria, da qual
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-2.htm (2 of 6)2006-06-01 12:20:03
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.2.
retiram sua origem comum, que as trs sabedorias que iluminam
hierrquicamente o esprito humano encontram seu princpio
profundo de unidade. Para um homem, ser sbio ,
fundamentalmente, participar, segundo os diversos modos
progressivos que acabamos de definir, da prpria viso de Deus
sbre o mundo. Longe de se oporem, as trs sabedorias do cristo
se harmonizam e se aperfeioam mtuamente.
Outras precises devem ser feitas. Considerada no sujeito, a
sabedoria para S. Toms um habitus, ou uma virtude, isto , uma
perfeio da inteligncia que a faz proceder no seu ato com
facilidade e exatido. Sabe-se que, no peripatetismo, as virtudes
humanas se distinguem em virtudes morais, que aperfeioam as
potncias apetitivas, e em virtudes intelectuais, que aperfeioam a
inteligncia. Em continuidade com o pensamento de Aristteles
(tica a Nicmaco, l. 6), S. Toms distingue cinco espcies de
virtudes intelectuais (Ia IIae, q. 57, a. 2), das quais trs se referem ao
intelecto especulativo: a cincia, a inteligncia e a sabedoria; e duas
ao intelecto prtico: a prudncia e a arte. Resulta, portanto, que a
sabedoria um habitas do intelecto especulativo, ao lado dos
habitus da inteligncia e da cincia. Como ela se distingue dstes?
O verdadeiro, que a perfeio prpria do intelecto especulativo,
pode ser considerado de duas maneiras: enquanto conhecido por
si mesmo, per se natum, ou enquanto conhecido por um outro, per
aliud natum.
O que conhecido por si tem valor de princpio e apreendido
imediatamente pela inteligncia que, para isto, aperfeioada pelo
habitus dito do intellectus.
O que conhecido por um outro no pode evidentemente s-lo
seno a ttulo de trmo. Ora, isto pode se produzir de dois modos:
ou trata-se do verdadeiro que tem valor de trmo em um gnero
particular de conhecimento, e neste caso a inteligncia
aperfeioada pelo habitus da cincia; ou trata-se do verdadeiro
enquanto ste trmo ltimo de todo conhecimento humano, e
aqui que intervm o habitus da sabedoria.
A sabedoria assim o habitus ou a qualidade que aperfeioa o
intelecto especulativo enquanto ste visa obter um conhecimento
absolutamente universal das coisas a partir dos princpios ou das
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-2.htm (3 of 6)2006-06-01 12:20:03
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.2.
mais elevadas razes. Segue-se desta definio que h, ento, no
domnio da cincia vrios luabitus, e que no se pode encontrar, sob
uma mesma luz, seno uma s sabedoria.
Esta doutrina exige alguns esclarecimentos.
Pode-se distinguir de modo absoluto, como o fizemos, a sabedoria
da cincia e da inteligncia? Com efeito, e isto uma primeira
dificuldade. A sabedoria que explica pelas causas no ela mesma
uma cincia? Sim, preciso responder, se tomamos cincia no
sentido mais extenso do trmo; no, se lhe damos a significao
restrita que acabamos de definir (Ia IIae, q. 57, a. 2, ad I). De outra
parte, h lugar para se colocar ao lado da sabedoria e da cincia um
habitus especial dos princpios (o intellectus para S. Toms),
estando entendido que a sabedoria e a cincia devem conhecer
stes mesmos princpios, uma vez que deduzem a partir dles?
Deve-se responder que ao intellectus reservada a apreenso pura
e indepedente dos princpios, enquanto que os outros habitus
especulativos os apreendem apenas nas suas relaes com as
verdades que dles dependem. Mas, objetar-se-, pelo fato de que
parece tirar seus princpios do intellectus que os apreende nles
mesmos, a sabedoria poder ainda ser encarada como a virtude
intelectual suprema? Sim, pois a sabedoria est, do ponto de vista
dos princpios, em uma situao particular; o juzo superior ou a
justificao crtica dstes princpios cabe-lhe em tdas as
instncias: ela , em realidade, ao mesmo tempo, conhecimento das
concluses e apreciao dos princpios, e devido a isto que ela
est em definitivo acima do simples intellectus (Ia IIae, q. 66, a. 5, ad
4) .
Deve-se dizer que a sabedoria puramente especulativa ou que
tambm prtica? No uso corrente um e outro dstes aspectos,
especulativo (conhecimento desinteressado), e prtico (regulao da
conduta), so juntamente atribudos sabedoria. Para S. Toms eis
o que conveniente reconhecer: a sabedoria, que se situa em
regime de f, simultneamente especulativa e prtica: ordenao
dos conhecimentos e ordenao da atividade humana. Isto
verdadeiro para o dom da sabedoria (Ia IIae, q. 45, a. 3), e isto deve
ser igualmente afirmado da teologia que, embora principalmente
especulativa, tambm uma cincia prtica (Ia, q. 1, a. 4). A
metafsica, pelo contrrio, deve ser colocada, segundo a tradio
aristotlica, entre os habitus puramente especulativos. O Estagirita
alinhou-a sempre, com a fsica e a matemtica, no grupo das
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-2.htm (4 of 6)2006-06-01 12:20:03
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.2.
cincias tericas, diferenciando-se estas das cincias prticas pelo
seu fim (Metaf., VI, c. 1); como tambm ocupou-se sempre em
assinalar o seu carter absolutamente desinteressado. A metafsica,
sabedoria teortica natural suprema, pois uma cincia puramente
especulativa e contemplativa.
Os atos prprios da sabedoria. Dois tipos de atos intelectuais so
continuamente conferidos por S. Toms sabedoria: julgar e
ordenar:
Ad
sapientem
pertinet
judicare
et
ordinare.
O que se deve entender com esta frmula? O "juzo" de que se trata
aqui no um juzo qualquer, mas aqule que a inteligncia emite,
em ltima anlise, luz dos princpios supremos: um juzo de valor
ou de ordenao definitivo e absoluto, acima do qual no h mais
nada a dizer. "Ordenar" tomado originriamente em relao a um
fio que, no caso da sabedoria, evidentemente o fim supremo:
relacionar tudo a Deus. Mas se ste ato implica em tda sua
plenitude uma ordenao efetiva, com interveno das potncias da
ao, pode ser tambm conduzido simples considerao
intelectual da ordem existente. Existe, sem dvida, tambm neste
caso, ordenao, mas smente para o esprito. E neste sentido
restrito que convm entender a atividade ordenadora da metafsica
que , ns o sabemos, puramente especulativa. Em todos os casos,
ao juzo e ordenao suprema de Deus que se deve referir.
Excelncia da sabedoria. Para S. Toms, a excelncia de uma virtude
depende principalmente da perfeio do seu objeto. Portanto, a
sabedoria, que considera a causa mais elevada de tdas, Deus, e
que julga tdas as coisas a partir desta causa, a mais excelente
das virtudes. Deve-se aduzir que, em razo da superioridade do seu
ponto de vista, a sabedoria tem uma funo de juzo e de ordenao
a exercer em relao s outras virtudes intelectuais, que se
encontram assim subordinadas a ela (Ia IIae, q. 66, a. 5) . De nada
adianta objetar (ibid., ad 3) que podemos ter um conhecimento mais
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-2.htm (5 of 6)2006-06-01 12:20:03
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.2.
perfeito das coisas humanas do que das coisas divinas; verdade,
mas no prefervel conhecer poucas coisas das mais nobres, do
que conhecer bastante das realidades inferiores?
Aristteles que no ignorou, ainda que ste ponto tenha
permanecido nle dentro de uma certa obscuridade, que a filosofia
devia sua excelncia altura de seus princpios (ela virtude divina
e tem um objeto divino), compraz-se de preferncia em fazer valer
suas prerrogativas de liberdade: "Assim como chamamos homem
livre aqule que para le mesmo seu fim e no o fim de um outro,
assim esta cincia tambm a nica de tdas as cincias que
livre, pois smente ela seu prprio fim. portanto, com boas
razes, que se poderia estimar mais do que humana a posse da
filosofia" (Metaf., A, c. 2) . No sentido mais elevado da palavra e com
tda a superioridade que isto lhe confere, o sbio um homem livre.
Considerando as coisas do ponto de vista do proveito que ela pode
nos obter, S. Toms, no Contra Gentiles (I, c. 2) engrandece assim o
estudo da sabedoria, "a mais perfeita de tdas, pois quanto mais o
homem se d ao estudo da sabedoria, mais toma parte na beatitude
verdadeira... a mais sublime; pois por ela, sobretudo, que o homem
acede semelhana com Deus que tudo fz com sabedoria (salmo
103, 24) . . . a mais til, pelo fato de que pela sabedoria chega-se ao
reino da imortalidade . . . ou mais agradvel pois seu comrcio no
possui amargor, nem sua comensalidade tristeza, mas satisfao e
alegria (Sabedoria, VIII, 16)". ste elogio, onde desponta o
entusiasmo do Doutor anglico, no evidentemente integral seno
quanto sabedoria submetida revelao, mas pode ser aplicado,
na devida proporo, sabedoria metafsica, o mais excelente dos
saberes prpriamente humanos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-2.htm (6 of 6)2006-06-01 12:20:03
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.3.
3. A METAFSICA COMO CINCIA DO QUE EST SEPARADO
DA MATRIA
A metafsica , em segundo lugar, a cincia do que est
absolutamente separado da matria. Esta doutrina a culminncia
de um longo esfro de reflexo filosfica.
Entre os gregos, parece que a Anaxgoras que convm conferir a
honra de ter, pela primeira vez, separado o esprito da matria. Com
certeza, o Nous que prope s nossas meditaes no claramente
distinto dos objetos corporais, e sua ao sbre les permanece
ainda mal definida, mas realizado um primeiro passo no sentido da
separao de um elemento superior. Plato vir e, para assegurar ao
conhecimento intelectual o objeto estvel e idntico que le parece
requerer, postular o mundo das idias, realidades isentas de tda
matria, s quais a verdadeira cincia poder se referir.
Sabe-se que Aristteles, mesmo acolhendo as idias de Plato,
reinseriu-as na matria, por maior fidelidade experincia: as coisas
corporais so, ao mesmo tempo, matria e forma. Entretanto, nle
ainda haver substncias efetivamente separadas e, sobretudo, na
sua filosofia do conhecimento, o princpio de abstrao da matria
conserva todo o seu valor: a inteligncia, faculdade espiritual, no
pode diretamente atingir seno a "quididade" ou a essncia
abstrata; e um objeto tanto mais inteligvel em si quanto mais est
desimpedido das condies da matria. O fundamento da inteleco,
dir S. Toms, dando a estas afirmaes tda a sua envergadura, a
imaterialidade.
Falta precisar aqui sob ste ngulo, como se apresenta o
conhecimento metafsico.
- Os trs graus de abstrao.
Considerando o conjunto do sistema das cincias especulativas,
Aristteles distinguiu trs tipos ou trs graus de imaterialidade nos
objetos a conhecer e, correlativamente, nas operaes intelectuais
que lhes so proporcionais. stes trs graus correspondem aos trs
agrupamentos admitidos por todos e que so agrupamentos: das
cincias fsicas, das matemticas e da metafsica. A lgica nos
ensina que cada um dstes graus se caracteriza em funo da
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:03
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.3.
matria notica abandonada pela operao de abstrao ou,
inversamente, em funo do aspecto material que permanece
implicado nas definies das noes que dirigem as
demonstraes.
Assim, no grau de especulao fsica, abstrai-se a matria enquanto
ela princpio de individuao, materia signata, mas retm-se a
matria que est na raiz das qualidades sensveis, materia sensibilis;
conservando-se as qualidades, guarda-se por isto mesmo o aspecto
de mobilidade das coisas. No grau matemtico, abstrai-se esta
materia sensibilis, mas retendo-se ste fundamento material da
quantidade que o peripatetismo denominou materia intelligibilis. Na
metafsica, enfim, abstrai-se absolutamente tda matria e todo
movimento; est-se no imaterial puro que compreende, ao mesmo
tempo, as realidades espirituais (Deus e os anjos), e as noes
primeiras (o ser, os transcendentais, etc...), estas ltimas sendo
independentes dos corpos no sentido de que podem ser realizadas
fora dles. (Sbre esta doutrina geral dos graus de abstrao em S.
Toms, cf.: Metaf., VI, L.1; De Trinitate, q.5, a.l e 3; Ia p.a, 85, a.1, ad
2).
- Caracteres prprios da abstrao metafsica.
Teremos ocasio mais adiante, estudando a noo de ser, de
precisar o tipo particular desta abstrao. De modo um pouco
superficial representar-se-ia a atividade graas qual o esprito se
eleva sucessivamente aos trs graus de imaterialidade como uma
operao do mesmo gnero uniformemente repetida, quando, de
fato, entre os trs processos h apenas uma simples analogia. Tratase, com efeito, em cada caso, de um despojamento da matria, mas
ste no se efetua da mesma maneira. Uma palavra especial,
separatio, reser vada por S. Toms para designar a abstrao
metafsica (De Trinitate, q. 5, a. 3) .
Indiquemos, contudo, desde agora, para evitar algum desvio, que
"abstrato", "separado", na medida em que so reportados ao plano
da reflexo metafsica, no significam de maneira alguma separado
da existncia, mas smente despido das condies materiais desta
existncia. O ser, objeto da metafsica, eminentemente concreto. O
metafsico , no sentido pleno da palavra, o mais realista dos sbios,
tanto quanto considera do ponto de vista do ser a universalidade
das coisas, como quando se eleva ao mais real dos objetos: os
espritos puros e Deus.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:03
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.3.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:03
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.4.
4. A METAFSICA COMO CINCIA DO SER ENQUANTO SER
J foi dito que ste o terceiro dos aspectos sob os quais se
apresenta a metafsica de Aristteles. A universalidade aparece a
como o carter psto em relvo. As noes mais comuns, com
efeito, no devem ser tratadas no incio de cada cincia particular, o
que acarretaria repeties fastidiosas; mas tambm no podem
permanecer cientificamente indeterminadas; preciso ento que
sejam objeto de uma parte especial da filosofia.
- Gnese histrica da metafsica do ser.
Por que esta escolha do ser como a primeira e, portanto, como a
mais fundamental de tdas as noes universais? Encontramo-nos
aqui diante do que se pode considerar como a opo talvez mais
decisiva do peripatetismo, opo que, por outro lado, havia sido
longamente preparada pela histria.
Pelo que se pode saber, a Parmnides que cabe o mrito de ter
descoberto o valor privilegiado da noo de ser. Estava-se depois de
um sculo ou dois, nas escolas filosficas da Grcia, procura de
um elemento primitivo, ou da substncia primordial da qual poderia
ser composto o mundo fsico: para Tales era a gua, o ar para
Anaximeno, o fogo para Herclito. Alguns, ultrapassando a
aparncia sensvel, j haviam pensado remontar a um princpio no
perceptvel, crendo Anaximandro t-lo encontrado no indeterminado
(apeiron), e Pitgoras no nmero. Ora, no seu poema sbre a
natureza, desde logo Parmnides nos abre a via que conduz ao ser:
esta , para le, a via da verdade, o ser , e ste ser uno, indiviso,
imvel, contudo ainda corporal, maneira de uma esfera, e o noser absolutamente no . Certamente, no rigor desta tomada de
posio, o devir e a multiplicidade real das coisas vem-se
indevidamente sacrificados, mas a metafsica do ser est fundada.
Plato, sem negligenciar o ser parmenidiano e os problemas que
ste colocava, em realidade orientou sua pesquisa do primeiro
princpio em outra direo. Em ltima anlise, o que explica uma
coisa o seu fim, isto , sua perfeio ou seu bem. A idia
ordenadora suprema , portanto, a de bem, em que a cincia por
excelncia, a dialtica, ir procurar a sua luz prpria. Entretanto, em
seus ltimos dilogos, Plato parece ter ultrapassado esta posio
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-4.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:04
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.4.
inicial: deve haver algo ainda mais elevado do que o bem, o uno, de
onde procede o mltiplo. O passo decisivo nesta nova via ser
transposto seis sculos mais tarde por Plotino; para ste, sem
equvoco possvel, o princpio primeiro uno e, em conseqncia, o
conhecimento mais elevado a contemplao do uno. O ser em
Plato e em sua escola uma noo subordinada: o bem, a ttulo de
fim tem mais valor explicativo, e o uno em sua simplicidade mais
primitivo.
Aristteles no julga menos dever voltar ao ser para a determinao
da noo primeira e do objeto prprio da cincia suprema. O bem e
o uno, certamente, pertencem a todo ser e so, com efeito, noes
universais e primitivas, so transcendentais. Mas, do ponto de vista
absoluto, o ser, T v, os precede. preciso, de incio, ser para que
se possa falar de um ser uno ou de um ser bom: a metafsica ser,
pois, essencialmente a cincia do ser. (Cf. Texto 11, p. 143) .
- Reduo unidade das trs concepes precedentes.
Deve-se observar que, definindo a metafsica como cincia do ser
enquanto ser, ns lhe conferimos por isto mesmo seu objeto
prprio, ou, seguindo uma terminologia mais adequada, seu
subjectum. Do ponto de vista lgico, as duas concepes
anteriormente definidas desta cincia juntam-se a esta. Com efeito,
no a uma mesma cincia que cabe considerar um objeto e as
causas de que le depende? Se assim, a cincia do ser enquanto
ser deve envolver o conhecimento de suas causas (causas
primeiras), isto , finalmente o conhecimento de Deus (a causa mais
imaterial). As trs definies da metafsica dadas precedentemente
implicam, portanto, uma a outra, mas permanece que o ser enquanto
ser o objeto prprio desta cincia (Cf. S. Toms, Metaf.,
Proemium).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-4.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:04
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.5.
5. METAFFSICA E CRITICA DO CONHECIMENTO
O intrprete de S. Toms no pode evitar de esbarrar aqui no fato de
que o pensamento moderno, nos seus mais considerados
representantes, d geralmente como objeto imediato da filosofia no
o ser enquanto ser mas o esprito ou suas atividades. Dir-se-,
brevemente, que se passou de uma posio dogmtica a um estudo
crtico, ou do realismo ao idealismo. Relembremos, em algumas
palavras, como se operou esta "revoluo coperniciana" que
inverteu todo o curso da especulao filosfica e deu metafsica
uma nova significao.
A atitude geral do pensamento medieval era, no sentido atual da
palavra, realista, isto , admitia-se, j de incio, que a inteligncia
subordina-se a um mundo de objetos independentes dela e que a
medem. H em primeiro lugar o ser, e depois, relativamente a le, o
pensamento. certo que esta atitude, que corresponde ao
comportamento do senso comum, foi tomada, seno de modo
ingnuo e irrefletido, pelo menos espontnea e imediatamente, pelo
conjunto dos filsofos antigos, sem que stes se tenham levantado
uma questo prvia concernente ao estatuto realista do
conhecimento.
Ora, eis que, a partir de Descartes, tomou-se conscincia de que
aquilo que podia ser, de incio, objeto de conhecimento, decerto era
no o ser exterior ao pensamento, mas o prprio pensamento, que
constitui assim algo como um dado mais imediato. Descartes,
verdade, tentava, em seguida, reapreender o real nesta apercepo
primeira: penso, logo sou; mas os outros que lhe sucederam no
tardaram a julgar que ste retrno ao ser a partir do conhecimento
era incerto, a bem dizer impossvel: o pensamento est
irremedivelmente dobrado sbre si mesmo; no h outra realidade
seno aquela que o pensamento determina. E, sbre ste fundo
comum da primazia do pensamento sbre o ser, subjetivistas e
idealistas de todos os matizes puseram-se a recamar temas
indefinidamente variados; em todo o caso, para les no h filosofia
autntica fora do pressuposto idealista.
Os adeptos da filosofia antiga no podiam evidentemente
permanecer indiferentes diante desta transmutao dos valres
fundamentais, a qual terminaria por arruinar todo o edifcio de suas
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:04
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.5.
especulaes. Uma questo impunha-se desde ento, e que no
podiam evitar: dever-se-ia continuar a partir, como de um dado
irrecusvel, do ser extramental, ou seria prefervel colocar-se, com
os modernos, no ponto de vista reflexivo do conhecimento, ainda
que para, em seguida, reunir-se s posies da metafsica realista?
Nada impede ao discpulo de S. Toms de estabelecer, como j se
fez tantas vzes, uma crtica do conhecimento sistemticamente
organizada, mas com a condio de que este estudo no seja
considerado como um prolegmeno necessrio metafsica, e nem
pretenda elevar-se acima dela como uma espcie de sabedoria
superior; e sobretudo que no se deixe envolver, de modo arbitrrio,
em uma interioridade de pensamento da qual parece difcil poder
sair algum dia. Uma epistemologia de inspirao tomista permanece,
pois, uma empresa possvel.
Mas disto no resulta que a verdadeira posio da sabedoria no
seja de uma nietafsica realista crtica. H uma s cincia suprema
qual compete, S. Toms afirmou-o nitidamente, (Cf. Ia Pa, q.1, a.8:
metaphysica disputat contra negantem sua principia), justificar ou
defender seus princpios. Esta cincia deve se elevar sbre as bases
do realismo, sbre o ser, se ste o dado primeiro e o objeto
prprio da inteligncia. E ste realismo no pode evitar ser crtico,
pois ele no se pode impedir de resolver, no momento em que se
apresentam, as dificuldades, bem reais, relativas ao valor do
conhecimento. Como acabamos de dizer, o estudo destas
dificuldades pode ser organizado em uma apresentao distinta;
mas ele se beneficia ao tomar lugar, como um momento da reflexo
metdica, no progresso prprio do pensamento metafsico, que
conserva, assim, sua unidade e sua plenitude de sabedoria primeira.
O prprio Aristteles havia inserido na sua metafsica tda uma
seco de consideraes crticas, na qual defendia os primeiros
princpios do pensamento contra os subjetivistas de seu tempo.
Seguiremos nestas pginas seu exemplo, reportando ao
desenvolvimento do estudo metafsico do ser o estudo crtico do
conhecimento que temos dste ser.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:04
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.6.
6. O ESTUDO DA METAFISICA EM ARISTTELES E EM S.
TOMS
O estudo sbre textos da metafsica de Aristteles apresenta
importantes dificuldades. A primeira decorre de que o "corpus" dos
quatorze livros, que contm o essencial das especulaes do
Estagirita sbre a filosofia primeira, no uma obra de feitura
contnua, mas sim um conjunto de trabalhos diversos, s mais tarde
ordenado. Evidentemente no podemos abordar aqui o problema da
crtica literria desta obra; contudo, no ser suprfluo indicar os
principais agrupamentos de livros, cujo conhecimento
indispensvel a todos que desejam fazer uma leitura simplesmente
inteligvel do conjunto.
Os livros 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 constituem um todo suficientemente
coerente para que se possa prticamente considerar como um
desenvolvimento contnuo, aps as questes de introduo. So
tratados a, os problemas do objeto da metafsica (o ser enquanto
ser e o que se refere a ele), da substncia (modalidade fundamental
do ser), enfim, do ato e da potncia. Os livros 10 e 12 parecem
constituir conjuntos compostos parte, mas, do ponto de vista do
plano previsto por Aristteles, stes livros vm tomar lugar na
seqncia do grupo precedente: O livro 10 trata do uno e do
mltiplo, e A, aps diversas recapitulaes, da substncia primeira.
Os livros 13 e 14 contm, em duas exposies paralelas e de datas
provvelmente diferentes, uma crtica aprofundada da teoria dos
nmeros e das idias. Os trs outros livros dificilmente podem ser
integrados no plano precedente. O livro 2, de autenticidade discutida
mas geralmente reconhecida, trata em particular do problema da no
regresso ao infinito; o livro 5 no mais do que um lxico
justificado, bastante precioso contudo, de noes de fsica e de
metafsica; o livro 11 uma compilao da Fsicas e dos livros 3, 4 e
6.
Se nos voltarmos para S. Toms, as coisas se complicam
novamente. De modo geral, pode-se dizer que se encontram na sua
obra dois grandes conjuntos de textos referentes aos problemas
metafsicos.
Um constitudo pelo comentrio dos doze primeiros livros da
Metafsica de Aristteles. A despeito do que se disse algumas vzes,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-6.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:04
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.6.
no que toca verdadeira inteno dste comentrio, preciso
sustentar que seu autor entendeu, compondo-o, fazer uma obra
autnticamente filosfica: o seu prprio pensamento que
encontramos a, ao mesmo tempo que o do Estagirita. Mas se nos
dermos conta do carter composto do texto explicado e se, por
outro lado, considerarmos as importantes elaboraes pessoais que
S. Toms nos deixou, devemos concluir que tal comentrio no
suficiente para nos fazer conhecer, com tda sua riqueza e tda sua
amplitude, a metafsica do Doutor anglico. O segundo conjunto se
encontra no seu estudo teolgico do Deus uno (De Deo uno), como
tambm na Suma Teolgica (Ia p.a, q. 2-26), no Contra Gentiles (I), e
em outros textos paralelos (Questes Disputadas, Opsculos etc...).
Aqui, o pensamento do Doutor anglico se exprime
incontestvelmente com mais liberdade do que no seu comentrio e
atinge tda sua profundidade; mas se v com isto implicado nas
perspectivas de uma teologia sobrenatural.
Em definitivo, a obra de S. Toms nos d ao mesmo tempo uma
metafsica de carter e de ordenao puramente filosficos, mas um
pouco fragmentria e incompletamente elaborada, e uma metafsica
mais orgnica e mais aprofundada, mas que tem para ns o
inconveniente de estar compreendida em uma pesquisa teolgica.
Existe, apressemo-nos em diz-lo, uma coerncia doutrinal, em
todos os sentidos notvel, entre os dois conjuntos, mas as
perspectivas e as preocupaes so diferentes em ambos. Por outro
lado, no momento em que se deseja apresentar uma exposio
coerente, preciso necessariamente optar por um ou outro dstes
pontos de vista: o de uma metafsica progressiva, de carter
prpriamente filosfico, onde nos elevamos do ser experimentado a
Deus (ponto de vista do comentrio); e aqule de uma metafsica
sinttica, segundo o qual a estrutura do ser criado se v justificada
desde o princpio a partir do ser primeiro (ponto de vista do tratado
de Deus).
Sem com isto renunciar aos complementos preciosos dos tratados
de teologia, no podamos adotar para a nossa exposio seno a
marcha filosfica pregressiva da Metafsica. Partindo do ser tal qual
le nos dado de modo imediato, nos elevaremos at Deus, que nos
aparecer ao mesmo tempo como o trmo ltimo de nossas
indagaes e a pedra de toque de nossa construo especulativa.
Restaria, para se ter uma idia exaustiva da metafsica de S. Toms,
retomar em seguida, nas perspectivas do tratado de Deus, os
grandes temas elaborados precedentemente; construir-se-ia assim
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-6.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:04
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.0, C.6.
uma espcie de metafsica descendente: ser-nos- necessrio deixar
esta tarefa a exposies mais aprofundadas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA0-6.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:04
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.1.
O SER
1. O PONTO DE PARTIDA DA METAFISICA
Como o observou Bergson, h, em tda filosofia verdadeiramente
consistente, uma intuio original que orienta todos os
desenvolvimentos posteriores. Isto quer dizer que na ordem objetiva
da pesquisa metafsica, se deve remontar a um trmo primeiro e
incondicionado, ao qual tudo poder ser referido. preciso dizer
que capital, se se quiser penetrar na inteligncia de um sistema,
reencontrar esta intuio e determinar exatamente o trmo.
Ora, em S. Toms, ste trmo, objeto da intuio geradora do seu
pensamento metafsico, incontestavelmente o ser: "O que a
inteligncia capta de incio como seu objeto mais conhecido e em
que resolve tdas as suas concepes o ser":
Illud autem
quod primo
intellectus
concipit
quasi
notissimum
et in quo
omnes
conceptiones
resolvit est
ens.
De
Veritate,
q. I, a.
1
Neste texto S. Toms afirma ao mesmo tempo a universalidade e a
primazia da noo de ser. Tudo o que concebido pode ser referido
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-1.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:05
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.1.
noo de ser; objetivamente, por conseguinte, tudo do ser e esta
constatao primeira enquanto se reporta ao objeto que, por si, o
mais conhecido. claro que esta afirmao da universalidade e da
primazia da noo de ser, se est envolvida de modo confuso nos
simples dados do senso comum, smente adquire tda sua
significao para um esprito conduzido reflexo filosfica.
Tambm no preciso surpreender-se pelo fato de que a
inteligncia humana necessitou e necessite ainda bastante tempo
para captar a significao desta primeira constatao.
Histricamente, j foi dito, a Parmnides que se deve atribuir o
mrito de ter visto pela primeira vez com nitidez que o ser
primeiro, tanto do lado objetivo da realidade como do lado do
pensamento. Mas Parmenides se liga a uma tradio de filsofos
fsicos, e assim ste ser imvel e indiviso que concebera confundiase com a totalidade do mundo percebido pelos sentidos. A ontologia
de Parmnides est pois ainda no nvel do ser corporal. Plato
conseguir se elevar acima dste ponto de vista inferior, e restituir
ao ser sua multiplicidade e seu devir. Enfim, Aristteles, e depois S.
Toms, atravs de aprofundamentos progressivos, atingiro a
verdadeira noo transcendente e analgica de ser.
Em nossos dias, nos situaramos de preferncia, no ponto de vista
reflexivo de anlise do pensamento para descobrir a situao
privilegiada da noo de ser. Eis, de modo esquemtico, como se
poderia proceder. Coloquemo-nos de incio no plano da simples
apreenso de um objeto de pensamento: esta mesa, esta flha de
papel, minha mo, um sentimento de alegria de que tomo
conscincia, etc... vejo que tudo isto ser e que se no o fsse a
ttulo algum, eu no teria mais nada a que ligar meu pensamento.
Mesmo as negaes, as privaes, s se concebem a partir de uma
certa referncia ao ser. Suprima-se ste e no haver mais objeto e
nem, por conseguinte, pensamento. Esta concluso emerge de
maneira mais decisiva do estudo do juzo que, tal como o mostra a
lgica, o ato perfectivo da inteligncia. Com efeito, se analisamos
um juzo, constatamos que le compreende essencialmente um
sujeito e um trmo que o determina, ste trmo podendo ser
constitudo de um verbo seguido de um predicado, "o tempo est
bom", ou de um simples verbo, "o sol brilha". Se no primeiro caso o
juzo nos aparece manifestamente como afirmao de ser, no
segundo o juzo deve ser considerado como compreendendo
implicitamente esta afirmao. em relao ao que , ou por outra,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-1.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:05
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.1.
em relao ao ser, que julgamos: todo juzo, tanto negativo como
afirmativo, uma sntese de dois trmos no ser. Nosso pensamento
nos aparece ainda, na sua atividade perfectiva, como determinado
ou polarizado pelo ser. A realidade ser, e pensar conceber o que
a realidade.
Concluamos: uma vez que o ser o objeto primitivo e o mais
compreensivo do pensamento, a metafsica, que a cincia do que
primeiro e mais universal, no poderia ter outro objeto seno o ser.
Qual pois o contedo objetivo desta noo de ser, da qual
acabamos de descobrir a situao privilegiada tanto no pensamento
como na realidade concreta?
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-1.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:05
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.2.
2. SENTIDO DA NOO DE SER
O ser do qual procuramos precisar a noo no aqule que se
encontra em qualquer nvel do pensamento, mas smente aqule ao
qual o esprito se eleva por ste esfro de separao absoluta que
caracteriza a abstrao metafsica, isto , o ser apreendido
formalmente como ser, ou o ser enquanto ser.
, com efeito, extremamente importante dar-se conta de que s um
esfro de purificao intelectual longamente praticado permite ao
esprito atingir ste nvel. Espontneamente, a inteligncia volta-se
de incio para as realidades do mundo sensvel e necessriamente,
como o dissemos, ela os concebe como seres. Mas o ser que assim
afirmo destas coisas no um ser abstrato, o ser particularizado
de cada uma delas. Trata-se de um conhecimento atual, apreendo o
ser efetivamente, mas com um conhecimento confuso, pois no o
afasto suficientemente dos sujeitos em que est implicado. Esta
experincia diversificada do ser que penetra todo o nosso
pensamento habitual e que se encontra no fundamento mesmo das
cincias est em um nvel infrafilosfico. Sem atingir ainda o nvel
metafsico, parece que posso desde a elevar-me a uma certa
universalidade em minha percepo do ser. Se, com efeito, atravs
de generalizaes progressivas, envolvo os objetos de minha
experincia em idias cada vez mais universais, seguindo, por
exemplo, as gradaes da rvore de Porfrio: homem-animal-servivo-corpo-substncia. . . ao termo desta asceno rumo a idias
sempre mais extensivas, atingirei finalmente a noo de ser, a mais
universal de tdas. O processo que terei psto em execuo ser
aqule da abstrao total, ou de um todo lgico dos seus inferiores.
A noo que assim obterei , ao mesmo tempo que a mais universal,
a menos determinada de tdas, uma vez que contm virtualmente
tdas as diferenas, multiplicadas ao infinito, da variedade dos
seres. Esta noo comum do ser, que confundimos, s vzes, com o
conceito formal de que iremos falar, corresponde j, por sua
universalidade, a uma certa reflexo filosfica, mas que permanece
ainda no plano das elaboraes do senso comum. preciso um
nvo esfro de abstrao ou de purificao para se elevar ao plano
da apreenso ou da intuio metafsica do ser enquanto ser. Qual ,
pois, o contedo ou a significao desta noo primeira da qual
acabamos de indicar o longo processo de formao no esprito
humano?
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:05
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.2.
Fixemos nosso ponto de partida na anlise da linguagem. O
infinitivo francs "tre" pretende traduzir o particpio substantivo
grego "T 8v" ou o particpio latino "eris". Seria mais exato dizer "o
ente"; ou de modo mais preciso ainda "alguma coisa que ". Esta
transposio tem a vantagem de pr melhor em evidncia dois
aspectos na noo de ser: um aspecto do sujeito receptor, "a
alguma coisa", e um aspecto de atuao ou de determinao dste
sujeito, "que ". Na terminologia metafsica dir-se- que o primeiro
dstes aspectos significa a essncia, essentia, e o segundo a
existncia, existentia ou esse. O ser alguma coisa que tem por
determinao prpria ou por atualidade existir.
Observar-se- que a noo de ser implica necessriamente stes
dois aspectos. A essncia s se concebe com a sua ordenao
existncia, e esta exige ser determinada por uma essncia. Pode-se,
contudo, no momento em que se considera o ser, apoiar-se tanto
sbre um aspecto como sbre o outro. Diz-se ento que se toma o
ser "ut nomen" ou "nominaliter" e "ut participium" ou "verbaliter".
No primeiro caso a essncia, a "res", que se encontra posta em
evidncia: o ser "isto que existe" sem que, contudo, relembremos
ainda uma vez, se possa abstrair totalmente esta ordenao
existncia que se encontra implicada na noo. No segundo caso,
a existncia que se assinala: o ser ento "o que existe"; a
existncia sempre relativa a alguma coisa. Em definitivo, o ser se
nos manifesta na sua unidade como uma composio dos dois
aspectos inseparveis: essncia e existncia, sem que seja ainda
precisada, neste nvel da reflexo filosfica, a significao exata
desta composio.
Resta determinar em que sentido deve ser tomada a existncia que o
metafsico considera. O esse que se encontra significado no ens in
quantum ens a existncia em seu sentido imediato de existncia
efetiva atual: o que se designa pela expresso de ens actuale; mas o
que suscetvel de tomar lugar neste mundo da existncia concreta,
o possvel, ens possibile, deve tambm ser compreendido na
significao do ser enquanto ser. Tudo, portanto, que foi, , ser ou
poder efetivamente ser, sob no importa que modo; mesmo o que
se refere a esta ordem concreta a ttulo de negao ou de privao
se v assim envolvido no objeto da metafsica. Contudo, existe uma
modalidade especial de ser, j encontrada na lgica, o ser de razo,
ens rationis, que deve ser excludo da metafsica. O verdadeiro ser
de razo tem, com efeito, um fundamento na realidade, mas da sua
natureza, no poder existir como tal, seno no esprito que o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:05
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.2.
concebe. Tal ser no pertence, pois, ao mundo da existncia
concreta, atual ou possvel, que o metafsico considera.
So as precises que podemos figurar no quadro seguinte:
ens: ens
rationis, ens
reale
ens reale: ens
actuale, ens
possibile
ens possibile:
objectum
methaphysicae
As distines que acabamos de fazer com S. Toms correspondem
j, preciso convir, a uma tomada de posio decisiva no que
concerne orientao de tda a metafsica. Como o veremos melhor
em seguida, esta cincia atinge, em particular, a determinao exata
do sentido da noo formal de ser ao preo de inmeras
apalpadelas, e no foi sempre que conseguiu guardar a pureza de
suas perspectivas. Enquanto o pensamento contemporneo parece
sobretudo sensvel ao aspecto concreto, existencial da percepo,
os filsofos das pocas precedentes tiveram por seu lado a
tentao, colocando a existncia como que entre parnteses, de
considerar principalmente o ser como uma natureza ou como uma
essncia. Para S. Toms, teremos freqentemente a ocasio de
repeti-lo, o ser implica sempre necessriamente ste aspecto
complexo de uma essncia que atua, como sua perfeio ltima,
uma existncia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:05
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.3.
3. O PROBLEMA DA ESTRUTURA DA NOO DE SER
At o momento foi reconhecido que a noo primeira da inteligncia,
correspondendo mais fundamental determinao e mais
universal das coisas, o ser; que o ser constitudo de dois
aspectos complementares, essncia-existncia, que o definem como
"alguma coisa que ". preciso mostrar agora que esta noo
universalssima tem, se a compararmos aos seus inferiores, um
comportamento de todo especial; bem mais, ela implica, nela
mesma, como que uma espcie de oposio ou de tenso ntima, o
que vai nos constranger a reconhecer-lhe uma estrutura original,
distinta daquela das idias universais comuns. Mas vejamos de
incio como se pe o problema da estrutura interna do ser.
O ser a noo mais extensiva que se possa conceber. Tudo na
realidade, atual ou possvel, se encontra referido ao ser. Como,
entretanto, um conjunto de coisas to diversas conseguir unificarse em uma noo comum?
Tomemos uma comparao. Como na classificao lgica das idias
universais passamos do gnero espcie, e inversamente?
Suponhamos, por exemplo, que os animais possam ser divididos em
duas grandes espcies, os vertebrados e os invertebrados. Todos os
animais pertencem ao mesmo gnero animal e se dividem em duas
espcies atravs da interveno das diferenas vertebrado e
invertebrado. Dir-se-, em lgica, que um gnero se contrai em suas
espcies pela determinao de diferenas especficas diversas. O
que torna possvel uma tal distino, que as diferenas em
questo no esto atualmente contidas no gnero; o animal, como
tal, no nem vertebrado e nem invertebrado. O ato diversificador
vem se juntar, como que do exterior, ao gnero princpio de unidade.
Acontece o mesmo no caso do ser? Coloquemo-nos em face da
multiplicidade dos sres que nos d a experincia e da noo de ser
que pretende represent-los todos. A noo de ser tem uma certa
unidade, na ausncia da qual no poderia ser atribuda
multiplicidade dos sres. Dito de outro modo, quando afirmo que
esta mesa , que esta cr , etc . . . pretendo dizer que um mesmo
atributo lhes convm proporcionalmente. Mas tambm penso que
esta mesa no tem o mesmo modo de ser que esta cr, etc... E esta
diversidade, compreendida sob a noo de ser, se manifesta ainda
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:05
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.3.
mais quando a atribuo a objetos transcendentes, particularmente a
Deus: digo que Deus ; o ser de Deus ser comensurvel com o das
realidades inferiores? O que, pois, em definitivo, vir diferenciar o
ser de tdas as coisas? Ser uma diferena tomada fora do ser?
No, pois se esta diferena no ela prpria do ser, no ser nada e
no poder portanto diferenciar. As diferenas do ser devem ser de
uma certa maneira do ser. Mas como podero ser ao mesmo tempo
diferenas?
Somos assim levados a reconhecer que o ser no pode se
diversificar como um gnero, uma vez que no existe diferenas
reais tomadas fora do ser. Trata-se, em suma, de cindir uma noo
sem sair dela mesma. isto que poderemos chamar o problema da
estrutura da noo de ser, problema que se revela desde o incio
difcil de resolver; pois corre-se o risco, ou de acentuar demais a
unidade s custas da diversidade, ou, pelo contrrio, de se apoiar de
tal modo nesta que a noo termine por ser comprometida. No
primeiro caso, termina-se no monismo estril dos eleatas ou no
pantesmo, no segundo caso, em um pluralismo ininteligvel, isto ,
na negao de todo pensamento orgnico. A teoria da analogia vai
nos permitir sair de um tal dilema.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:05
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.4.
4. NOTA SBRE O ESTUDO DA ANALOGIA EM S. TOMS E
SEUS DISCPULOS
A formulao exata da teoria tomista da analogia apresenta srias
dificuldades. Em nenhuma parte, o Doutor anglico estudou esta
noo com uma certa amplitude e por ela mesma. S se refere a ela
por ocasio das contnuas aplicaes que dela faz, o que confere s
suas exposies um carter relativo e incompleto e torna incmoda
a harmonizao dos seus contedos. A simples exegese , aqui
mais do que em outros lugares, insuficiente e no se pode evitar de
reconstruir, como o fator de interpretao sistemtica que isto
supe. Os grandes comentadores, pretendendo sem dvida expor o
pensamento do mestre, se permitiram ste trabalho. Na primeira
fileira dstes no se pode evitar de colocar Caietano, com o seu
clebre tratado De nominum analogia que fez escola. Joo de S.
Toms, na sua Lgica, nada mais faz seno retom-lo (Logica, IIa p.
a, q. 13 e 14). Em nossos dias, a interpretao que tais
comentadores do a mais comumente recebida entre os tomistas.
Entretanto, um certo nmero, pretendendo se ligar mais fielmente ao
texto de S. Toms, seguem de preferncia Silvestre de Ferrara que,
no seu Comentrio do Contra Gentiles, se afasta em um ponto de
seus mulos (C.G., I, c. 34).
Em todo ste desenvolvimento posterior do pensamento tomista,
til assinalar que o adversrio sempre suposto Scoto, que havia
afirmado a univocidade do ser. Suarez, que, como de hbito, havia
tomado uma posio intermediria, igualmente visado.
necessrio dizer, na exposio elementar que vai seguir, que
devemos renunciar a tda polmica para nos manter na exposio
simples da teoria que nos parece a melhor fundada.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-4.htm2006-06-01 12:20:06
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.5.
5. A TEORIA DA ANALOGIA
O emprgo da analogia constante, tanto no pensamento vulgar
como nas especulaes das cincias. So ditas anlogas as
realidades que apresentam entre si algumas similitudes. Mas nem
tda similitude suficiente para fundar uma verdadeira analogia
filosfica; assim, importa antes de tudo explicitar e precisar o
sentido desta. No aristotelismo, a doutrina da analogia vai-nos
aparecer de incio como uma teoria da lgica geral que restar
apenas aplicar ao caso notvel do ser.
- Noo de analogia.
De maneira habitual, S. Toms apresenta a analogia como um modo
de atribuio lgica, intermedirio entre a atribuio unvoca e a
atribuio equvoca. O trmo unvoco se reporta aos seus inferiores
segundo uma mesma significao; o trma ou o nome equvoco
convm s coisas s quais atribudo segundo significaes
inteiramente diversas; o termo anlogo diz-se dos seus inferiores
segundo uma significao parcialmente' diferente e parcialmente
semelhante.
"As atribuies
analgicas nos
aparecem
manifestamente
como
intermedirias
entre as
atribuies
unvocas e as
atribuies
equvocas. No
caso da
univocidade,
com efeito, um
mesmo nome
atribudo a
diversos
sujeitos
segundo uma
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-5.htm (1 of 9)2006-06-01 12:20:06
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.5.
razo ou uma
significao
semelhante,
assim o trmo
animal,
reportado ao
cavalo e ao boi
significa
substncia
animada
sensvel. No
caso da
equivocidade,
um mesmo
nome v-se
atribudo a
diversos
sujeitos
segundo uma
razo
totalmente
diferente, como
aparece
evidentemente
para o nome
co, atribudo
ao astro e a
uma certa
espcie animal.
No que
concerne s
noes ditas
analgicamente,
um mesmo
nome
atribudo a
diversos
sujeitos
segundo uma
razo
parcialmente a
mesma e
parcialmente
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-5.htm (2 of 9)2006-06-01 12:20:06
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.5.
diferente:
diferente pelos
diversos
modos de
relao: a
mesma por
aquilo a que se
reporta a
relao... In his
vero quae
proedicto modo
dicuntur, idem
nomen de
diversis
praedicatur
secundum
rationem partim
eamdem,
partim
diversam.
Diversam
quidem
quantum ad
diversos
modos
relationis.
Eamdem vero
quantum ad id
ad quo fit
relatio".
Metaph.,
XI, l.
3, n.
2197
Que elementos vm, pois, integrar exatamente esta noo de
analogia, que um primeiro discernimento nos levou a situar entre a
univocidade do universal lgico e a equivocidade das denominaes
puramente convencionais? Segundo sua significao primitiva, a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-5.htm (3 of 9)2006-06-01 12:20:06
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.5.
analogia designa uma relao, uma convenincia, uma proporo:
tda denominao analgica se refere portanto a uma relao ou a
relaes entre certos sres. Esta comunidade da analogia pode ser
considerada, seja do lado das realidades, que so referidas umas s
outras, isto , aos analogados, seja do lado do conceito no qual o
esprito se esfora por unificar a diversidade que tem assim diante
dos olhos. Acrescentemos que a analogia implica sempre uma certa
ordem, e esta supe um princpio unificador. Para que haja analogia
verdadeira preciso, pois, que haja uma pluralidade de realidades
referidas umas s outras, segundo uma certa ordem, e que o esprito
se esforce para unific-las em um s conceito.
- Diviso da analogia.
S. Toms, em um texto a que se faz aluso freqentemente (I Sent.,
d. 19, q. 5, a. 2, ad 1), e Caietano, no seu De nominum analogia,
propuseram uma diviso tripartida da analogia; mas como a
analogia secundum esse et non secundum intentionem do primeiro,
e a analogia inaequalitas do segundo correspondem, na realidade, a
um conceito unvoco (diversamente participado smente), est-se de
acrdo para reter smente dois grandes tipos de analogia: a
analogia de atribuio (dita, em S. Toms, de proporo) e analogia
de proporcionalidade.
A analogia de atribuio. a que encontramos de modo mais
explcito em Aristoteles e que ele prprio aplicou ao caso notvel do
ser, objeto da metafsica. Neste tipo de analogia, a unidade se d
quando se reporta os diversos analogados considerados em relao
a um mesmo trmo. Retomando o exemplo clssico, diremos que
neste sentido, esta urina s, este alimento so, esta medicina
s, porque estas diversas coisas tm relao de sinal ou de causa
relativamente sade, a qual s se encontra evidentemente de
modo prprio no animal.
Precisemos que na analogia de atribuio, h sempre um analogado
principal, que o nico a possuir intrinsecamente a "razo"
significada pelo termo considerado. Os outros analogados so
qualificados segundo esta "razo" smente por uma simples
denominao; a sade, no exemplo citado, s existe formalmente e
como tal no animal. Em conseqncia, diremos em primeiro lugar
que a forma considerada una, de uma unidade numrica,
encontrando-se apenas em um s analogado; em segundo lugar,
que esta forma deve figurar na definio dos outros analogados;
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-5.htm (4 of 9)2006-06-01 12:20:06
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.5.
enfim que estes analogados derivados no podem ser
representados por um s conceito, mas smente por uma
pluralidade de conceitos, implicando-se de uma certa maneira uns
aos outros. Convm acrescentar que entre os analogados dste tipo
h uma certa ordem de gradao, segundo estejam em uma
proximidade maior ou menor do analogado.
A analogia de proporcionalidade. Neste caso, a unidade dos
analogados no se d mais devido s relaes que teriam
relativamente a um trmo nico, primeiro analogado, mas devido s
suas propores mtuas. Dir-se-, por exemplo, que h uma
analogia, do ponto de vista atividade de conhecimento, entre a viso
e a inteleco, porque a viso est para o lho assim como a
inteleco est para a alma, o que se figurar com o prprio S.
Toms, sob forma de proporo:
viso/
lho =
inteleco/
alma
no esquecendo contudo que o simbolismo matemtico no deve
ser tomado aqui num sentido rigoroso, as duas relaes em
presena no estando ligadas por uma igualdade pura.
O que distingue profundamente ste tipo de analogia do precedente
que a "razo" significada pelo trmo se encontra intrinsecamente
ou formalmente em cada um dos analogados. No h, pois, neste
caso, um primeiro analogado que seria o nico a possuir esta
"razo". O fundamento ontolgico desta analogia no mais
simplesmente uma relao extrnseca, mas uma comunidade
profunda entre os diferentes trmos: viso e inteleco so
verdadeiramente, uma e outra, atos de conhecimento. Segue-se da
que, nesta analogia, um dos termos no se encontra implicado
necessariamente na definio dos outros termos e que todos os
termos podem de uma certa maneira, ser representados por um
conceito nico, conceito imperfeitamente unificado contudo, e do
qual precisaremos as condies especiais mais adiante.
S. Toms, em um texto sbre o qual costuma-se apoiar para
estabelecer esta doutrina, subdivide a analogia de proporcionalidade
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-5.htm (5 of 9)2006-06-01 12:20:06
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.5.
em analogia metafrica e em analogia prpria (De Veritate, q. 11, a.
2). Na analogia prpria, que aquela que definimos, a "razo"
significada pelo termo se encontra formalmente e verdadeiramente
em cada um dos analogados. Na analogia metafrica, ns a
encontramos prpriamente s em um dos dois, os outros s a
compreendem a modo de similitude; assim, o riso, que convm
prpriamente ao homem, s atribudo campina por similitude.
Esta ltima forma de pensamento tem um emprgo contnuo e a
prpria teologia faz dele uso freqente; entretanto, devido sua
impropriedade, tal analogia no deve ser mantida em metafsica.
- Unidade e abstrao do conceito analgico.
ste ponto extremamente importante, pois o conceito analgico
est numa situao bastante especial. A questo que se coloca a
seguinte: como um conceito pode conseguir unificar uma
diversidade sem excluir, com efeito, esta prpria diversidade?
Notemos desde j que esta questo no se coloca no que diz
respeito analogia metafrica e analogia de atribuio; nestes
casos, no h um conceito nico que envolveria todos os
analogados, mas sim um conceito principal unvoco, que
corresponde ao analogado principal, e, para os analogados
derivados, conceitos especiais em relao, entretanto, com o
conceito principal. A sade, para voltar ao nosso exemplo,
atribuda prpriamente e univocamente ao animal, o alimento so, a
medicina s, etc... correspondem a conceitos distintos referidos ao
conceito do primeiro analogado.
Na analogia de proporcionalidade, que a forma fundamental da
analogia metafsica, a razo exprimida pelo termo analgico estando
intrinsecamente compreendida em cada um dos analogados, podese, pelo contrrio, falar de um conceito analgico nico: a
substncia, a quantidade, a qualidade, a relao, etc . . . so
formalmente ser e se encontram portanto tdas compreendidas na
unidade da noo de ser. Mas como um conceito pode guardar uma
verdadeira unidade, se deve ao mesmo tempo exprimir uma
diversidade?
Se se trata de um conceito unvoco, de uma noo genrica, por
exemplo, a unidade de significao manifesta: os trmos ser vivo,
animal, tm um contedo preciso e determinado e a passagem aos
termos inferiores, s espcies, se faz pela interveno de diferenas
especficas exteriores ao gnero e que estavam neste smente em
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-5.htm (6 of 9)2006-06-01 12:20:06
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.5.
potncia. O conceito unvoco formalmente uno, e divisvel em
potncia. No caso do conceito analgico, unidade e diversidade se
realizam de modo diferente. Os trmos sujeitos, os analogados, no
podem ser excludos do conceito, encontram-se pois a
representados, mas de modo implcito smente e dentro de uma
certa confuso, como todos os homens de uma multido que
considero so bem compreendidos na viso que tenho desta
multido, sem que me detenha a olhar algum dles em particular. A
unidade de um tal conceito no ser aquela de uma forma abstrata,
mas uma unidade proporcional, fundada sbre a convenincia real
que os analogados mantm entre si. O conceito analgico um
conceito uno, de uma unidade proporcional, envolvendo
implicitamente ou de modo confuso a diversidade dos seus
analogados. Dste conceito nico e confuso passamos ao
conhecimento distinto de cada analogado, tornando .explcito o
modo que lhe corresponde; temos ento um conhecimento preciso,
mas bem evidente que passamos do conceito analgico geral para
o conceito particular de um analogado, da noo de ser, por
exemplo, de substncia ou de relao.
Esta anlise do conceito analgico deixa-nos j entrever que a
metafsica, cujas noes primeiras so dste tipo, ter um estatuto
cientfico e um mtodo de fato especiais.
- Ordem e princpio na analogia.
Deixamos at aqui na sombra um aspecto da analogia sbre o qual o
acrdo dos principais comentadores de S. Toms no
perfeitamente realizado. A analogia de atribuio, ns o vimos,
smente tem significao se se refere aos analogados secundrios a
um analogado principal que se encontra necessriamente
compreendido na definio dstes termos secundrios; ela implica
pois, na sua natureza mesma, uma ordenao a um princpio
concreto. Alguns, no rastro de Silvestre de Ferrara, se perguntam se
esta propriedade no deve ser estendida analogia de
proporcionalidade. Encontram-se notadamente encorajados a
marchar nesta via, ao considerarem que S. Toms parece falar
equivalentemente de atribuio analgica e de atribuio graduada
per prius e per posterius. Em tda analogia, portanto, existe uma
ordem entre os analogados o que supe evidentemente que existe
um princpio de ordem, o qual s pode ser um primeiro analogado
concretamente determinado.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-5.htm (7 of 9)2006-06-01 12:20:06
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.5.
difcil negar que, mesmo na analogia de proporcionalidade, h
uma graduao e, portanto, um certo princpio de ordem. Mas podese perguntar se ste princpio numrica e concretamente uno e,
portanto, se h neste caso um verdadeiro primeiro analogado, ou se
se trata smente de um princpio proporcionalmente uno, obtido
pelo relacionamento dos analogados em questo. Para tomar o
exemplo maior do ser (anlogo, como o veremos, de uma analogia
de proporcionalidade), deve-se dizer que a analogia do ser pode ou
no pode se encontrar realizada sem referncia explcita ao ser
primeiro? Isto , no abandonando a ordem das suas modalidades
participadas?
Deve-se responder que possvel formar uma certa noo
analgica, sem se reportar a um primeiro analogado; ter, em
particular, uma noo analgica do ser que no implique relao
explcita ao ser por si. Mas evidente que a estrutura mais profunda
da ordem considerada no se manifesta seno na medida em que a
unidade da noo venha se fundar sbre a de um primeiro trmo
real: a metafsica do ser s est acabada no momento em que o ser
criado nos aparece na sua dependncia essencial em relao ao ser
que se basta a si mesmo.
Observar-se-, contudo, que no caso em questo (o do ser), os
seguidores das duas opinies se encontram para afirmar um
primeiro analogado; mas uns pretendem atingi-lo pelos nicos
meios da analogia de proporcionalidade, enquanto outros requerem
para ste fim o concurso da analogia de atribuio.
Conviria ainda precisar que ste primeiro analogado, que o
princpio de ordem na analogia de atribuio, pode-se encontrar
segundo as diversas linhas de causalidade. S. Toms enumera
habitualmente a ste propsito as causalidades materiais, eficientes,
e finais, s quais acrescenta, algumas vzes, a causalidade
exemplar. No se ficar, portanto, surpreendido de constatar que,
para as mesmas noes, pode-se tratar de vrias ordens e, portanto,
de vrios princpios de analogia. notadamente o que ter lugar
com o ser. Na linha da causalidade material ou subjetiva, as
modalidades do ser se ordenaro com relao substncia, sujeito
primeiro e absoluto: o ponto de vista de Aristteles na Metafsica.
Na ordem da causalidade extrnseca, nos necessrio, para
reencontrar o primeiro analogado, remontar at Deus, causa
transcendente de todo ser criado. S. Toms, ordinriamente, se situa
nesta perspectiva que, em definitivo, domina a precedente, o ser no
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-5.htm (8 of 9)2006-06-01 12:20:06
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.5.
sendo mais aqui considerado como sujeito, mas como esse, isto ,
segundo sua atualidade ltima.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-5.htm (9 of 9)2006-06-01 12:20:06
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.6.
6. A ANALOGIA DO SER
evidente, aps o que dissemos a respeito de suas exigncias
internas, que a noo de ser s pode ser uma noo analgica. No
equvoca, pois no uma simples palavra qual no
corresponderia nenhuma realidade profunda. No unvoca, pois
no pode se diferenciar maneira de um gnero. Resta, pois, que
seja analgica, isto , que contenha, de maneira ao mesmo tempo
diferenciada e unificada, as diversas modalidades do ser.
Esta tese se encontra do modo mais manifesto em Aristteles, que
parece ser o seu inventor. Retomada por S. Toms, foi sempre
defendida na escola tomista. Por outro lado, chocou-se contra a
oposio dos discpulos de Scoto. ste, sem chegar a dizer que o
ser um gnero, afirmou que o ser uma noo unvoca, abstrando
portanto perfeitamente de seus inferiores, e apenas compreendendoos em potncia. Responde-se, de modo clssico, que se as
modalidades do ser so exteriores sua noo, no se v o que elas
possam significar, nem como elas podem vir a dividir o ser de outro
modo que no o de verdadeiras diferenas especficas, o que nos
conduz a fazer do ser um gnero, com todos os inconvenientes que
isto comporta.
A que tipo de analogia se liga a analogia do ser? A resposta a esta
questo no possvel sem colocar uma dificuldade; pois consta
reflexo que a analogia do ser apresenta caracteres que convm a
cada um dos tipos de analogia distinguidos precedentemente.
claro, de incio, que todos os modos do ser so formal e
intrinsecamente ser: esta flha de papel, sua cr, sua grandeza so,
efetivamente ser, e no smente por uma denominao vinda do
exterior. O ser portanto, a ste ttulo, anlogo de uma analogia de
proporcionalidade. Mas, sob outros aspectos, parece ser tributrio
da analogia de atribuio. mesmo desta maneira que Aristteles
no-lo apresenta; para ele, com efeito, h um primeiro analogado, a
substncia, ao qual se reportam as outras modalidades do ser: "O
ser, com efeito, se toma em mltiplas acepes, mas em cada
acepo tda denominao se faz em relao a um princpio nico.
Tais coisas so ditas seres porque so substncia, tais outras
porque so afeces da substncia, tais outras porque so
encaminhamentos para a substncia, etc. . . " Se nos colocamos
com S. Toms do ponto de vista superior das relaes do ser criado
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-6.htm (1 of 6)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.6.
com o ser incriado, aqui ainda encontramos a analogia de atribuio,
o ser sendo dito "per prius" de Deus que o ser por si, e "per
posterius" smente das criaturas, que so ser smente por
participao e em dependncia mesma do ser de Deus.
Encontramo-nos aqui, como tambm para as outras noes
transcendentais, uno, vero, bem, diante de um caso de analogia
mista, onde parecem se conjugar a proporcionalidade e a atribuio.
Se se admite, como o nosso caso, que a analogia de
proporcionalidade possui alguma coisa de primeiro e de
fundamental, pelo menos em relao a ns, dir-se-, com Joo de S.
Toms, que o ser anlogo de uma analogia de proporcionalidade
incluindo virtualmente uma analogia de atribuio. O ser, segundo
esta tese, apresentar-se-ia, de incio, como uma noo menos
determinada, na qual as modalidades do ser que experimentamos
viriam se unificar de maneira proporcional; por explicao, a ordem
profunda destas modalidades apareceria em seguida: em relao ,
substncia, no plano da causalidade material; em relao ao ser por
si, a Deus, no plano da causalidade transcendente eficiente, final ou
exemplar. A noo de ser, se j possui uma certa consistncia sem
que haja referncia explcita ao princpio do ser, a Deus, tem
contudo todo o seu valor apenas no momento em que seus diversos
modos vm se ordenar em dependncia dste.
Desta concepo do ser resultam, para a metafsica, conseqncias
extremamente importantes. Para melhor nos darmos conta,
reagrupemos os resultados j obtidos.
1. A noo de ser
obtida ao trmo de
um esfro
original de
abstrao ou de
separao da
matria que se
situa no nvel do
juzo. Esta
abstrao tem por
efeito afastar o ser
enquanto ser no
do real ou do
existente -que,
pelo contrrio,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-6.htm (2 of 6)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.6.
torna-se o objeto
mesmo do
metafsico - mas
das condies
materiais da
existncia, o que
no a mesma
coisa.
2. Assim se
encontra
constituda uma
noo, um
conceito que,
submetido a
anlise, revela ter
um certo contedo
onde se discernem
os dois aspectos
de uma essncia
que determina
uma existncia
proporcionada; o
ser o que .
3. este conceito
possui a estrutura
de uma noo
analgica, isto ,
abstrai
imperfeitamente
dos seus
inferiores, os
quais a
permanecem
presentes de
modo implcito ou
confuso, e
originariamente
apenas possui um
modo de unidade
proporcional e,
portanto,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-6.htm (3 of 6)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.6.
imperfeito.
4.
Fundamentalmente,
a analogia do ser
uma analogia de
proporcionalidade,
sendo todos os
modos do ser, at
suas ltimas
diferenas, ser;
mas a
multiplicidade
dstes modos
ordenada, isto ,
relativa ao
primeiro ser. Vista
sob ste aspecto,
que a perfaz, a
analogia do ser
uma analogia de
atribuio.
5. Pelo fato de
ultrapassar todos
os gneros e de se
encontrar
implicada em
tdas as
diferenciaes dos
seus modos, a
noo de ser
merece o
qualificativo de
transcendental (no
sentido
escolstico da
palavra).
Quais so pois os caracteres da cincia que ter esta noo por
objeto?
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-6.htm (4 of 6)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.6.
A metafsica se apresenta de incio com um carter ou uma
orientao realista bastante acentuada. Certamente, como em tda
cincia, j o observamos, h um esfro de abstrao; mas ste
esfro, ou melhor, ste duplo esfro, no nos distanciou do
existente como tal, nem mesmo dos seus modos: a noo de ser
pretende significar o concreto e envolver atualmente, s custas de
sua confuso, tudo o que existe efetivamente. A marcha para
adiante, o progresso da metafsica no resultar tanto de uma
anlise abstrata de conceitos destacados da realidade, mas sim de
uma inspeo direta desta prpria realidade. A sistematizao
harmoniosa sob a qual se apresenta algumas vzes o conjunto das
noes metafsicas no dever nos fazer esquecer ste contato
primeiro e contnuo com a complexidade do dado e de seus
problemas.
Se compararmos, dste ponto de vista, a metafsica de S. Toms e
os grandes sistemas da histria, no poderemos evitar ser
surpreendidos por sua originalidade. Tanto na antiguidade, com
Plato, como em numerosos escolsticos a partir de Scoto e de
Suarez, ou como nos modernos, de Descartes a Hegel, o ser
concebido geralmente como uma certa natureza, como uma
essncia, prticamente isolada da existncia, tratada como um dado
abstrato; a ontologia tende ento a se tornar uma pura construo
conceitual afastada da realidade. Constitui-se o que se pode chamar
de ontologias essencialistas. Ao passo que, com S. Toms, ainda
que conservando do ser ste aspecto de determinao que
corresponde sua essncia, nos referimos sempre sua atualidade
ltima que a sua existncia concreta.
Devido sua unidade imperfeita e riqueza do seu contedo
implcito, a noo de ser possui, em relao s noes cientficas
ordinrias, ao mesmo tempo, uma superioridade e uma inferioridade.
Uma inferioridade, de incio, que advm do fato de que o conceito
analgico um conceito confuso e inadequado, que portanto nos
faz atingir cada realidade de um modo imperfeito, ao passo que, de
per si, o conhecimento por gnero e por diferena especfica um
conhecimento preciso e distinto; esta inadequao do conceito de
ser, atingindo seu mximo, no conhecimento do ser transcendente
de Deus, cujo modo prprio de existir escapa ao nosso poder. Mas,
por outro lado, em profundidade e em extenso, a noo metafsica
de ser, como as que lhe so semelhantes, d ao esprito um
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-6.htm (5 of 6)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.1, C.6.
instrumento de uma outra envergadura que as idias cientficas
ordinrias. Mesmo imperfeitamente, estas noes conseguem se
elevar at o princpio primeiro de tudo, at Deus. A analogia, forma
prpria do pensamento metafsico, nos coloca de posse de um
mtodo intelectual que permite constituir uma cincia teolgica
autntica. Caber ao telogo precisar em que condies dever
utilizar ste mtodo; foi suficiente aqui ter assinalado, ao mesmo
tempo, seus limites e sua verdadeira grandeza.
Se voltarmos, do ponto de vista do mtodo, comparao
precedente entre a metafsica de S. Toms e as grandes filosofias
essencialistas da histria, seremos igualmente conduzidos a
assinalar diferenas de grande importncia. Por uma inclinao
natural, tda metafsica da essncia tende a tomar a forma de um
sistema rgido desenvolvendo-se por um mtodo dedutivo.
Certamente, todos os filsofos nomeados acima no realizaram
efetivamente ste sonho: Mas a Dialtica de Plato ou a Matemtica
universal de Descartes no se encaminhavam neste sentido? E
sobretudo com a tica de Espinoza e a Enciclopdia de Hegel no
passamos do sonho realidade? Tudo deduzir racionalmente de um
primeiro princpio! S. Toms jamais sonhou com tal coisa. Sua viso
do universo, sem dvida, ordenada e fortemente hierarquizada e a
razo preside sua construo: mas com tda a flexibilidade da
proporo analgica, com esta abertura sbre a diversidade do real
que lhe permite tudo acolher e tudo colocar em seu lugar sem
violentar a natureza de cada ser. Sapientis est ordinare. A verdadeira
sabedoria metafsica uma tarefa de ordem.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA1-6.htm (6 of 6)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.1.
O SER - ESTUDO CRITICO
1. INTRODUO.
O objeto da metafsica, em correspondncia com o objeto mesmo da
inteligncia, o ser, isto , o que tem por ato existir: tal nosso
ponto de partida. Esta primeira afirmao nos situa desde o incio no
plano do que, em nossos dias, se convencionou chamar de
realismo. A metafsica de S. Toms, como prticamente a de todos
os grandes sistemas antigos, realista. Nossa inteligncia se
encontra efetivamente situada em face de um mundo de objetos
independentes dela, que a medem e que a determinam.
Esta tese, ainda que responda aos mais profundos instintos de
nosso esprito, no foi exposta sem achar contraditores, desde as
origens, ou quase desde as origens da filosofia. J Aristteles
precisava defender o princpio de no contradio, sbre o qual
repousa tda certeza, contra o fenomenismo subjetivista dos
sofistas. Aps stes, os cticos, multiplicando as questes
insidiosas, recusaro tda verdade. E sabemos que depois de
Descartes, o pensamento moderno, em inmeros de seus
representantes, seguiu esta via da crtica do valor realista da
inteligncia e, o que mais, veio se opor s metafsicas que
recorriam s construes sistemticas positivas, repousando
inversamente sbre o primado do pensamento sbre o ser.
J tivemos a ocasio de dizer que se poderia, a nosso ver, elaborar
uma metafsica vlida, sem precisar prviamente colocar a questo
do valor do nosso conhecimento; o exerccio nor
mal de nossa inteligncia nos autoriza tal procedimento. Entretanto,
bem evidente que uma atitude puramente negativa, em face de
correntes de pensamento to importantes como estas que
acabamos de evocar, no poderia ser indefinidamente conservada;
problemas reais todavia se colocam, do ponto de vista da crtica, ao
filsofo realista. Assim, parece-nos necessrio retornar, em um
momento de reflexo metdica, nossa posio inicial. Seguiremos
nisto o prprio exemplo de Aristteles que respondia s dificuldades
colocadas em seu tempo, relativamente ao valor do conhecimento,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.1.
imediatamente aps ter definido o objeto da metafsica.
As reflexes que vo se seguir limitar-se-o estritamente s
questes fundamentais, que, todavia, so as nicas que aqui se
encontram colocadas em questo: do realismo, do objeto primeiro
da inteligncia e do valor dos princpios que a isto se ligam
imediatamente. Elas suporo que ter sido determinado o ponto de
partida da reflexo crtica e que se tenha tomado conscincia
previamente das dificuldades que puderem colocar a prpria
questo do realismo. Tudo isto conduz a marcha do nosso
pensamento:
A. A crtica
do realismo.
B. O ponto
de partida de
uma
epistemologia
tomista.
C. Do
fundamento
do realismo.
D. Os
primeiros
princpios.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.2.
2. A CRITICA DO REALISMO
Esta crtica pode ser esquemticamente conduzida a trs temas
principais.
- Primeiro tema: as objees dos cticos.
ste o tema por excelncia da crtica antiga, ao qual a crtica
moderna, com Descartes e seus sucessores, no cessar de
retornar. As dificuldades sbre as quais ste tema especula formam
uma legio, to numerosa quanto as iluses e os erros que lhe
servem de argumento. Tomemos, para nos reportar a um texto
clssico, a srie de argumentos que prope a primeira das
Meditaes Metafsicas de Descartes. Os dados dos sentidos vemse a desde logo atacados como suspeitos; a experincia atesta que
freqentemente tenho, me enganado a seu respeito, no h, pois,
prudncia em no me fiar inteiramente nles? E se certas
sensaes, mais imediatas e mais fortes, parecem-me impor de
maneira mais vigorosa sua realidade objetiva, no devo lembrar que
por vzes, em sonho, tive sensaes semelhantes que, ao despertar,
se revelaram ser iluso? Mas o rro no vem smente infirmar o
valor de meus conhecimentos sensveis; le ataca tambm minha
razo que por vzes se engana, como acontece mesmo nas
matemticas. Enfim, e de uma maneira bem geral, no podemos
temer que sejamos o objeto dos malefcios de algum poder nefasto,
de um deus enganador, que faria com que, mesmo naquilo que
temos de mais seguro, estivssemos irremedivelmente no rro?
Sabemos que a dvida no conduziu Descartes ao ceticismo, e que
le no a prolongou mesmo at o fim; as primeiras evidncias da
intuio intelectual foram postas de lado, o que reservar a
possibilidade de uma construo positiva. Mas, pouco importa, o
que nos interessa presentemente esta evocao dos erros do
conhecimento que naturalmente me conduzem a duvidar. Se, por
vzes, me enganei, mesmo quando acreditava sem dvida estar na
verdade, quem jamais poder me assegurar que atualmente no me
engano? O fato incontestvel do rro no coloca em questo o
prprio valor do conhecimento?
- Segundo tema: a imanncia do conhecimento.
O realismo, afirmam os idealistas, repousa, por outro lado, sbre
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-2.htm (1 of 4)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.2.
uma pressuposio que no se mantm diante dos argumentos de
uma crtica metafsica sem timidez. Tomemos, a ttulo de exemplo,
aquela que lhe enderea um idealista moderno, Hamelin (Essai sur
les lments principaux de Ia reprsentation). A base do realismo
seria, segundo ste filsofo, a dualidade do ser pensado e do ser
pensante. Como, ento, a idia pode ser outra coisa que a imagem
no segundo do atributo real possudo pelo primeiro? O
conhecimento seria, portanto, essencialmente uma duplicao do
ser no pensamento, suposio da qual bastante cmodo explicar a
origem em uma psicologia primitiva, mas que no se ,revela menos
reflexo como manifestamente absurdo, como a proposio
monstruosa de que a representao a pintura de um exterior em
um interior, como se fsse possvel atingir ou falar de um exterior ao
pensamento. O pensamento que essencialmente a unidade de um
sujeito e de um objeto, no pode evidentemente repousar sbre a
base da dualidade primitiva do ser pensante e de seu objeto
presumido.
A explicao da origem de nossas idias ou da formao de nosso
pensamento no menos pueril se nos ativermos a esta posio do
realismo. Com efeito, ela smente poderia ser concebida no modo
de uma causalidade transitiva, de uma transmisso de espcies ou
qualidades, como a introduo em ns de imagens, teoria grosseira
que Demcrito e Epicuro aclimataram em filosofia e da qual
Descartes fz justia boa e definitiva na sua acerba crtica das
"espcies voltejantes" da psicologia escolstica. Seria igualmente
vo, para escapar a estas dificuldades, suprimir, como os
percepcionistas o tentaram fazer, todo intermedirio entre o
pensamento e o ser. Resguardamo-nos bem, com isto, do absurdo
da transmisso das imagens, mas para cair no mistrio de uma
"imediatez" sem justificao. Renunciemos, pois, de uma vez por
tdas, empresa quimrica de querer, a todo pro, fazer reunir no
fato do pensamento uma dualidade primitivamente afirmada e,
portanto, a duplicar do exterior por um representado a
representao: os representados no so o exterior da
representaro. A representao, contrriamente significao
etimolgica da palavra, no reflete um objeto e um sujeito que
existiriam sem ela: ela o objeto e o sujeito, ela a prpria
realidade. A representao o ser, e o ser a representao.
- Terceiro tema: a atividade do conhecimento.
Se, por outro lado, observamos com ateno o esprito que pensa,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-2.htm (2 of 4)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.2.
seremos levados a constatar que ele est longe de se apresentar,
segundo a suposio realista, como uma capacidade receptiva ou
como uma potncia passiva que se submeteria ao determinante
de um objeto exterior. Kant j havia observado que o entendimento
no , de modo algum, intuitivo, mas essencialmente atividade
sinttica; e, levando esta idia adiante, o idealismo absoluto
afirmar, com um Fichte ou com um Hegel, que o pensamento
atividade pura e incondicionada. O eu se pe ele mesmo
anteriormente a tda suposio. Os seguidores dessas teses
astuciosas no carecem de argumentos.
Consideremos, por exemplo, para nos convencer, o caso
privilegiado do pensamento cientfico. No se tem a impresso de
que, nesse domnio, o esprito s progride na medida em que projete
diante de si o seu objeto? Isto perfeitamente claro nas
matemticas. As figuras ou os nmeros que estudo foram
prviamente constitudas por uma atividade de construo ou de
soma da qual estou perfeitamente consciente, e a fecundidade do
esprito, neste domnio, ir at determinar quantidades, espaos ou
nmeros, que sou impotente de me representar. Igual constatao
para as cincias experimentais: no encontrarei jamais na
experincia seno aquilo que o esprito a prviamente j depositou
a ttulo de hiptese ou de idia diretriz. E as teorias gerais, nas quais
se resume, em um momento dado, o acervo dos conhecimentos
cientficos, no so um admirvel exemplo dessa fecundidade
criadora de nossa inteligncia? a idia pura evidentemente que,
neste domnio, vem regular nosso esprito.
Se nos detivermos, no momento, naquela operao intelectual em
que estamos ordinriamente de acrdo em considerar, como
perfectiva de nossa vida de pensamento, o juzo, no aparece que
aqui ainda o esprito essencialmente construtor? Afirmo a priori,
pelo menos no que concerne s proposies necessrias, liames
que no me podem ser dados na experincia: aqui o esprito que
regulador, como o observara Kant. Ou ento, com Brunschvicg, a
exterioridade que parece se ligar ao objeto da sntese judicativa, no
se revelar simplesmente como uma modalidade subjetiva onde se
afirma, como que por um ricochte, a limitao de nosso
pensamento?
De outra parte, em que se transforma, na suposio realista do
determinismo do objeto, sse atributo de liberdade que parece bem
caracterizar a prpria essncia da vida do esprito? Entre o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-2.htm (3 of 4)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.2.
materialismo das seqncias necessrias e a espontaneidade sem
entrave de um eu autnomo, preciso, com efeito, fazer uma
escolha? Se vos submeteis inicialmente a um objeto, jamais sereis
verdadeiramente livres. O idealismo szinho se afirma capaz de
assegurar nossa personalidade de homem a dignidade que
devemos reivindicar para ela. Tdas essas razes, e outras ainda,
convergem pois para esta concluso: nosso esprito uma atividade
livre e que se determina a si prprio em uma independncia total
diante de todo objeto transcendente.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-2.htm (4 of 4)2006-06-01 12:20:07
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.3.
3. O PONTO DE PARTIDA DE UMA EPISTEMOLOGIA TOMISTA
Histricamente, ns o sabemos, a filosofia antiga se desenvolvera
de modo natural sbre a base do realismo da inteligncia. As crticas
que acabamos de ouvir devem nos conduzir a abandonar essa
posio inicial, isto , renncia de partir do ser para tomar,
inversamente, nosso ponto de partida no pensamento puro, no
Cogito cartesiano, por exemplo, ou na posio incondicionada do
eu, tal como o preconiza o idealismo de um Fichte?
E desde j, que conseqncias iniciais e imediatas acarretam,
precisamente, para o realismo, as crticas formuladas acima?
Objees cticas. Estas objees repousavam fundamentalmente,
como vimos, sbre a constatao do erro. Enganamo-nos s vzes.
Seguir-se- da que nosso esprito se engana sempre e que,
portanto, impotente para alcanar a verdade? Engano-me algumas
vzes, portanto devo sempre me enganar... Quem no v que esta
conseqncia um sofisma! Que significao poderia ter para mim
o fato de me enganar, se no soubesse, por outro lado, o que a
verdade, ou o que no se enganar? Mais radicalmente: se me
engano sempre, ser que no me engano no momento em que
afirmo que estou fatalmente no rro? O ceticismo completo,
Aristteles j o observara, destruidor de si mesmo. Aqule que
duvida smente pode ser conseqente consigo mesmo abstendo-se
de afirmar e mesmo de dar o menor sinal, isto , comportando-se
como um cepo. O que o fato psicolgico do rro, evidentemente
incontestvel, nos impe determinar a natureza verdadeira da
verdade e do seu contrrio, o erro, assim como os meios de
distinguir uma de outro: tal fato postula a instituio de uma
criteriologia, e nada mais.
Imanncia do conhecimento. impossvel, nos dito, fazer reunir no
conhecimento um sujeito e um objeto prviamente separados um do
outro; por outro lado, a atividade intelectual imanente ao sujeito
pensante; um alm do pensamento impensvel. Frmulas como
esta poderiam receber um sentido aceitvel; mas tais como se
apresentam e na significao que se pretende lhes emprestar,
falseiam completamente a posio de um realismo so. Em tal
filosofia, no se trata de modo algum de procurar estabelecer uma
ponte entre dois mundos prviamente separados e opostos, o do
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:08
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.3.
pensamento e o da coisa em si: o fato desta unio pertence ao dado
primitivo; a coisa s me aparece nas suas relaes com o
pensamento. O que se torna problema o como e no a existncia
de um liame entre o esprito e o real. Mas, insistir-se-, ste liame
repousa sbre uma suposio impossvel, a de um pensamento que
sai de sua imanncia para penetrar nas coisas. ste modo de
encerrar um ser sbre si mesmo, responderamos, no corresponde
a uma concepo demasiado materialista da interioridade? Em
outros trmos, quem me diz que, mesmo sendo imanente, uma
atividade no pode ao mesmo tempo possuir uma dimenso
transcendente? No momento em que penso, tenho, com efeito, o
sentimento de conservar em mim minhas idias, mas ao mesmo
tempo eu as considero como me colocando em relao com um
mundo exterior minha conscincia. Existe, certamente, algo de
misterioso nesta compenetrao de sres que parece se realizar no
conhecimento. Mas no se v bem porque a isto opor-se-, a priori,
uma inaceitao.
A atividade do conhecimento. O pensamento ativo, criador mesmo,
na elaborao das cincias e at mesmo nos seus atos elementares:
um fato incontestvel. Mas segue-se da que o pensamento seja
uma faculdade de determinao absoluta e apriorstica do seu
objeto? A mais rudimentar anlise reflexiva no nos assegura que o
conhecimento tambm passividade, ou que, se o objeto nos
aparece sob uma certa relao construda por ns, sob outros
aspectos le se manifesta como dado, e mesmo que ste aspecto de
dado parece se impr de maneira primitiva? Em todo caso
necessrio examinar as coisas de perto e no de modo algum
evidente que o conhecimento seja determinao absoluta de um
objeto ou atividade pura. Dizer, por exemplo, que a inteligncia um
poder de sntese a priori, traduzir de modo incompleto o que ns
dado espontneamente no juzo: a realidade experimentada mais
complexa. De outro lado, esta aspirao autonomia ou ste desejo
de liberdade ou de franquia, que se cr reconhecer na raiz mesma da
vida do esprito, pode corresponder a algo de autntico em ns, sem
que seja negada a priori tda dependncia dsse mesmo esprito.
Talvez exista um esprito perfeitamente autnomo, mas nada nos diz
que sse esprito deva ser o nosso, que nos parece, ao contrrio, to
relativo em outra coisa.
Podemos concluir, portanto, que, se colocam um certo nmero de
problemas que convm, com efeito, resolver problemas das relaes
no conhecimento da verdade e do rro, da imanncia e da
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:08
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.3.
transcendncia, da atividade e da passividade - os fatos alegados
acima no nos inclinam de modo algum a renunciar a priori ao
realismo, ou a afirmar que o ser redutvel ao pensamento. No nos
, de maneira alguma, impsto partir de uma outra suposio que
no aquela do realismo. Isto possvel? o que convm examinar
agora.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:08
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.4.
4. AS TENTATIVAS FEITAS PARA CONSTITUIR UM
REALISMO CRTICO TOMISTA.
H meia centena de anos, um certo nmero de filsofos tomistas se
preocuparam em constituir uma teoria crtica do conhecimento
culminando no realismo, mas que no o suporia como dado. Tratarse-ia de delimitar uma espcie de terreno neutro constituindo uma
posio inicial comum, que realistas e idealistas poderiam, de
acrdo, escolher como seu ponto de partida, na esperana de
finalmente se encontrarem no final.
ste ponto de partida comum, ou pelo menos aceitvel para ambos
os lados, s pode ser o pensamento, na medida em que se
apresenta como um objeto imediato de reflexo. Partiramos
portanto do Cogito, mas sem que esteja precisado ainda, neste
momento inicial, se ste Cogito se dobra sbre si mesmo, na
interioridade sem sada de uma conscincia idealista, ou se
desemboca efetivamente em uma realidade exterior. Eu penso, e me
impossvel duvidar disso no instante mesmo em que penso. Mas
no sei ainda, ou no desejo saber, qual a significao dsse ato.
No o saberei seno ulteriormente, quando terei compreendido,
graas s anlises que vou empreender, o que pensar. Parto,
portanto, do fato puro do pensamento e vou procurar, atravs de um
mtodo de reflexo sbre meu ato, o que pensar.
Tomemos como exemplo dessa atitude filosfica um dos trabalhos
mais srios que foram tentados nessa base, o Essai d'une tude
critique de la connaissance do Pe. Roland-Gosselin (Paris, 1932); e
ouamos sse autor definir le prprio sua posio inicial: "Do
ponto de vista da reflexo crtica, o estudo do esprito repousa
slidamente sbre o fato de que o ato de pensar pode ser
apreendido imediatamente na conscincia de si. A homogeneidade
perfeita, a unidade do cognoscente e do conhecido, no ato de
reflexo, imediatamente evidente, e nenhuma reflexo ulterior, se
exercendo sbre a reflexo primeira, pode introduzir nela a
obscuridade e a dvida. Existe a um ponto de partida absoluto,
porque h de incio um retrno absoluto do esprito sbre si..." (p.
11). E da, sem nada prejulgar de seu valor definitivo, se encontrar
estabelecido um contato inicial com o idealismo; "Como o idealismo,
com efeito, aceitaremos inicialmente considerar o ato de nosso
pensamento, o juzo, a ttulo de simples relao atual entre um
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-4.htm (1 of 5)2006-06-01 12:20:08
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.4.
sujeito e um objeto... Por que isto? Porque no cabe abandonar
benvolamente ao idealismo o privilgio de uma posio slida, de
uma base de operao inatacvel." (p. 35).
Essa base de operao de fato inatacvel? Desde o incio, pode tal
base se autorizar do patrocnio de S. Toms? Sabe-se que ste
normalmente desenvolve seu pensamento a partir do realismo. Mas,
pelo menos, no abriu, em alguma circunstncia, as vias para um
tipo de reflexo filosfica que encontraria seu apoio na conscincia
que temos de nossa atividade intelectual? Um certo texto do De
Veritate foi freqentemente interpretado neste sentido, texto que
Mgr. Nol (Notes d'pistmologie thomiste, p. 59-60) ,no teme
colocar em paralelo com uma passagem das Regulae de Descartes e
do primeiro prefcio da Crtica da Razo Pura, onde somos
convidados a proceder a uma crtica reflexiva geral de nossa
faculdade de conhecer. "A verdade... na inteligncia ao mesmo
tempo seqncia do ato da inteligncia e conhecida pela
inteligncia; ela se segue operao da inteligncia na medida em
que o juzo desta potncia se refere coisa, enquanto ela ; e ela
conhecida pela inteligncia na medida em que esta reflete sbre seu
ato, e no smente enquanto ela conhece ste ato, mas enquanto
tem conhecimento de sua proporo coisa, secundum quod
cognoscit porportionem ejus ad rem... " E S. Toms afirma que sse
conhecimento supe que se saiba o que sse prprio ato em si
mesmo e a inteligncia que est no seu princpio: "na natureza da
qual est implicado que ela deve se conformar s coisas: in cujus
natura est ut rebus conformetur". E conclui que por um ato de
conhecimento reflexivo que a inteligncia atinge a verdade, (De
Veritate, q. 1, a. 9). Longe de ns o pensamento de reduzir a
importncia dsse texto, que nos informa exatamente a respeito da
via pela qual nossa inteligncia toma conscincia de seu valor
realista; mas no lhe pedimos demais, no momento em que se v a
um convite para constituir uma epistemologia reflexiva, no sentido
precedentemente definido? Os partidrios de um realismo imediato
e sem crtica prvia a encontram, tambm, algo em que fundar suas
pretenses. S. Toms, em realidade, no pensava aqui no debate a
propsito do qual invocado.
Qualquer que seja a significao e a dimenso verdadeira dsse
texto, no se pode, sem trair a inspirao geral do tomismo, instituir
uma crtica reflexiva do conhecimento que inicialmente no
implicaria nem idealismo, nem realismo? No esta a opinio de
Gilson que, aps outros, mas com brilho maior, manifestou-se
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-4.htm (2 of 5)2006-06-01 12:20:08
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.4.
contra tdas as tentativas para estabelecer um "realismo crtico" (Cf.
sobretudo Ralisme thomiste et critique de Ia connaissance).
Coloquemos parte desde logo, na viva polmica que foi
empreendida por sse autor, uma querela de palavras. Gilson no
quer absolutamente ouvir falar de "realismo crtico"; uma
expresso que revela um disparate: se algum crtico, no poder
jamais ser realista; mas preciso subentender que a palavra
"crtico" tomada aqui no sentido kantiano, que, com efeito, excluiu
o realismo. Outros, Maritain por exemplo, julgam que no cabe
abandonar aos idealistas a prerrogativa de constituir uma filosofia
"crtica", com a condio evidentemente de que sse trmo seja
liberado de todo pressuposto subjetivista.
Mas isso pouco importa. Reportemo-nos aos argumentos de fundo.
Para Gilson existe uma lgica interna dos sistemas; se comeamos
com Descartes pela dvida e pelo Cogito, ou se adotamos no seu
ponto de partida o transcendentalismo kantiano, no recuperaremos
jamais o real e terminaremos idealistas: partindo-se do
conhecimento prviamente isolado do real, jamais se conseguir
reencontr-lo. Deveremos pois, para Gilson, nos refugiar, em face da
crtica idealista, nas afirmaes espontneas de um realismo
ingnuo? De modo algum, pois o realismo tomista um realismo
refletido ou que tem perfeitamente conscincia de si mesmo e que
repousa, no sbre qualquer obscuro instinto, mas sbre a
evidncia que tenho de ser, no meu conhecimento, relativo a um
objeto real. Uma vez, contudo, reconhecido ste dado inicial do
realismo fundamental do meu pensamento, resta-me ainda, do ponto
de vista epistemolgico, um trabalho considervel a realizar: o como
desta apreenso primeira, suas diversas condies, no se
encontram imediatamente esclarecidos. Alm disso, ser-me-
preciso proceder a uma crtica dos meus conhecimentos com a
finalidade de determinar sua exata dimenso e suas mtuas
relaes. Todo sse esfro de reflexo e de anlise far do
realismo, que professo espontneamente na minha vida corrente,
um realismo verdadeiramente filosfico ou metdico, mas sem que
em momento algum deva fazer intervir esta suposio de que, talvez,
meu pensamento seja puramente subjetivo.
Que partido convm tomar? preciso, j no momento inicial da
reflexo crtica, reconhecer o realismo, ou prefervel partir do puro
fato do conhecimento sem que seja ainda precisado se le tem um
valor de transcendncia? A soluo desta alternativa depende para
ns da resposta que se dar a esta questo: possvel formar uma
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-4.htm (3 of 5)2006-06-01 12:20:08
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.4.
noo do conhecimento que no implique sua ordenao ao real?
Do ponto de vista da percepo da verdade - isto , da relao entre
o pensamento e a coisa - distinguem-se, na filosofia tomista, duas
espcies de conhecimento: de um lado, as simples apreenses e as
sensaes e, de outro lado, os juzos. Sabe-se que formalmente e
enquanto conhecida, a verdade no se encontra seno na segunda
dessas categorias de conhecimento. Na sensao pura ou na
simples inteleco, o esprito no sabe se verdadeiro, uma vez que
ainda no refletiu sbre si mesmo, nem em conseqncia, tomou
posio em face do objeto que conhece; a relao do pensamento,
ou do sujeito pensante, com a coisa exterior, s se manifesta no
juzo. Se tal se d, dever-se- concluir, com efeito, que existe um
primeiro momento do conhecimento onde o objeto no aparece na
sua distino do sujeito: mas devemos nos apressar em acrescentar
que neste nvel, que, por outro lado, corresponde a um estado
instvel e inacabado do pensamento, o prprio conhecimento no
consciente: sou como que absorvido pelo objeto. Se venho ento a
refletir sbre meu ato, meu pensamento se torna consciente em
mim, objeto e sujeito se destacam um do outro, vejo que meu
conhecimento verdadeiro. Mas todo esse movimento reflexivo e as
descobertas que o acompanham supem que me pus a julgar. O
conhecimento como a colocao de um objeto em face de um
sujeito, e como percepo da relao original que os refere um ao
outro, implica o juzo. Neste nvel, o problema real, isto , das
relaes do pensamento com o ser, se encontra colocado. Mas no
est ao mesmo tempo resolvido? No possvel destacar do juzo o
seu valor realista. Tal a concluso na qual nos deteremos.
Seguir-se- da que a suposio de uma relao consciente, entre o
sujeito e o objeto do conhecimento privado de sua significao
realista, corresponde a uma construo do esprito de fato artificial:
desde o momento em que me ponho a refletir sbre meu
pensamento, estou no estado daquele que julga. Conhecer, para
uma inteligncia humana, julgar; e julgar, teremos a ocasio de
repetir, perceber o que . No posso portanto, se quero tomar meu
ponto de. partida no conhecimento, seno partir, ao mesmo tempo,
do realismo. Quanto ao fundo da questo, Gilson parece estar certo,
ficando evidentemente entendido que mltiplos esclarecimentos
concernentes s condies e dimenso precisa dste realismo
ficam ainda por dar.
Agora nos possvel, em conhecimento de causa, julgar sbre a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-4.htm (4 of 5)2006-06-01 12:20:08
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.4.
questo das relaes da "crtica" com a metafsica. Os
epistemlogos de tendncia criticista, aos quais fizemos aluso,
eram naturalmente levados a separar as duas disciplinas e a fazer da
"crtica" uma espcie de introduo metafsica, ou pelo menos um
mtodo de verificao autenticando com autoridade os seus
resultados: no se nega absolutamente que no seja possvel
continuar, como no passado, a construir uma metafsica tendo um
certo valor sbre as bases do realismo, mas, se se quiser proceder
de modo cientfico, preciso, dizem, comear por experimentar
criticamente nossos meios de conhecer, com iseno de todo
preconceito. Deixando de lado, aqui, a questo de saber se no
haveria uma certa vantagem prtica, de ordem apologtica por
exemplo, em agrupar sob um mesmo ttulo todo um conjunto de
estudos convergentes sbre o valor do conhecimento ou de nossos
diversos conhecimentos, devemos afirmar, todavia, de modo
bastante distinto, que a separao observada e por vzes realizada
da especulao objetiva e da crtica tem o inconveniente de
dissociar de maneira artificial e perigosa duas funes que, de fato,
se nos apareceram estreitamente unidas e solidrias uma da outra
neste ato adulto de conhecimento que o juzo. Todo juzo por si
mesmo reflexo ou, se se quiser, crtico. Segue-se da que a
metafsica que, como sabemos, repousa de modo especial sbre os
juzos, essencialmente reflexa e crtica. O metafsico, consciente
daquilo que afirma, sabe porque afirma e que o que afirma
verdadeiro. Todos os aspectos subjetivos da atividade psicolgica
que precisou utilizar no so, talvez, no mesmo momento,
perfeitamente claros para ele, mas, do lado objetivo, o que
reconhece absolutamente verdadeiro e nenhuma crtica prvia ou
paralela poderia mudar nada. A metafsica, como por outro lado a
filosofia inteira, reflexa ou crtica, ou ento um puro jgo do
esprito. S existe, pois, para ns uma nica sabedoria suprema: a
metafsica, que possui, de modo, eminente, valor de uma crtica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-4.htm (5 of 5)2006-06-01 12:20:08
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.5.
5. RAZES PROFUNDAS DAS ATITUDES CRITICISTAS E
IDEALISTAS.
Um rro s se encontra verdadeiramente ultrapassado e superado
no momento em que nle se descobriram as razes profundas e os
secretos encaminhamentos. Tendncias to fortes como aquelas
que conduziram, desde a antigidade, tantos espritos eminentes na
direo do ceticismo, do criticismo ou do idealismo, no podem
estar desprovidas de fundamento. O que se encontra, pois, na
origem destas filosofias?
A certeza de nosso conhecimento se funda originriamente na
percepo sensvel. Ora, tanto devido modalidade do seu objeto
como s condies subjetivas demasiado complexas, esta
percepo permanece envolvida em uma grande obscuridade e,
portanto, sujeita a inmeros erros. Donde essas hesitaes e essas
incertezas que, no tendo sido dominadas por uma viso mais
compreensiva das coisas, conduziram numerosos espritos ao
ceticismo. Por uma reao bastante compreensvel, um Plato ou
um Descartes, para citar apenas os maiores, creram reencontrar a
evidncia destacando do mundo dos sentidos um mundo inteligvel
perfeitamente distinto. A clareza aparentemente obtida, mas
conhecimento sensvel e conhecimento intelectual dissociados um
do outro se opem novamente como dois universos bastante
difceis de harmonizar. Se no nos prendermos ento a um
paralelismo bem pouco esclarecedor, ou se deslizar, seguindo a via
do empirismo ingls, na direo de um sensualismo inveterado, ou,
de preferncia, voltando as costas ao sensvel e ao mundo que
representa, rumar-se- na direo das idias; da a afirmar que s as
idias existem, no h seno um passo. Dissociao demasiado
radical entre o conhecimento sensvel e o conhecimento intelectual,
tal a razo primeira, e sem dvida a mais ativa, da gnese das
filosofias idealistas.
Venha juntar-se a esses primeiros discernimentos a hiptese de que,
na elaborao do seu objeto, o esprito seria talvez uma potncia
ativa de determinao e, com Kant, comprometemo-nos com o
caminho do idealismo construtor. E se nos dermos conta ento - o
que no inexato -de que o pensamento perfeito aqule que se
toma a si mesmo como objeto, ser suficiente apenas uma certa
audcia para nos persuadir de que somos ste pensamento perfeito,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:08
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.5.
ou pelo menos de que somos participantes dste pensamento,
trazendo assim tudo a esta perspectiva: a filosofia confunde-se com
a cincia de Deus. ste ltimo passo, no rastro de Fichte e Schelling,
Hegel o deu.
Na origem de todo ste processo, cujos momentos se organizam
com uma certa lgica, se encontra, portanto, esta dissociao entre
natureza e esprito, entre a sensao e a idia, contra a qual
Aristteles houvera j to vivamente tomado partido. O
conhecimento humano, preciso afirmar com ste filsofo e em
conformidade com a experincia, , de maneira indissolvel,
sensvel e intelectual: tema do realismo slidamente estabelecido
fora do reconhecimento dste fato primitivo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:08
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.6.
6. FUNDAMENTO AUTNTICO DO REALISMO
As pginas precedentes, determinando o ponto de partida de uma
epistemologia tomista, resolviam j, em seu princpio, a questo do
realismo. Desde que pela reflexo se toma conscincia do que o
conhecimento, no se pode mais fazer abstrao dste. No ser
contudo intil retornar a essa tomada de posio inicial a fim de
melhor destacar-lhe tdas as condies e pelo prprio fato de se
aperceber mais ntidamente ainda do seu fundamento correto.
Prviamente, deveremos julgar certas tentativas destinadas a
justificar, de um ponto de vista crtico, o realismo do conhecimento.
- Algumas tentativas feitas para reencontrar o real a partir do Cogito.
Descartes abrira, com esta finalidade, duas vias sbre as quais no
seremos demasiado surpreendidos de ver o neotomismo se lanar.
Lembremo-nos de incio da maneira pela qual o autor das
Meditaes Metafsicas reencontrava, no termo de suas reflexes,
sse mundo exterior do qual inicialmente se afastara. Se no estou
seguro de que minhas idias claras relativas ao mundo material no
tenham sua origem em mim, posso afirmar a mesma coisa das
minhas sensaes? Estas implicam uma passividade que requer
fora de mim uma potncia ativa proporcionada; ora esta no poderia
ser Deus, que ento seria enganador; resta portanto que existem
realidades corporais, causas necessrias de minhas sensaes.
Diversas adaptaes dste argumento foram tentadas. A afirmao,
na origem de nossas sensaes, de uma causalidade exterior, no
certamente inexata; mas no de modo algum recorrendo a esta
causalidade que tomaremos conscincia da objetividade das ditas
sensaes. Alm disso, falseando completamente o mecanismo da
percepo, ste modo de proceder tem o inconveniente de me levar
a considerar a imagem como uma duplicao puramente subjetiva
do real exterior, ao passo que o apreendo imediatamente. Enfim, do
ponto de vista crtico, poder-se-ia contestar esta utilizao
transcendente, ainda no justificada, do princpio de causalidade.
preciso evidentemente renunciar a tomar este caminho.
De um outro ponto de vista, mas que se inspira ainda em Descartes,
tentou-se reencontrar o realismo. Desta vez, se fundamenta sbre a
certeza da percepo do eu. No podemos, como o filsofo do
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-6.htm (1 of 6)2006-06-01 12:20:09
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.6.
Discurso, e aps o prprio Santo Agostinho, assentar nossa certeza
da existncia de um mundo real sbre esta apercepo privilegiada
e imediata do eu que nossa conscincia reflexa atinge? Aqui,
aparentemente, no h distncia nem obstculo entre o sujeito
cognoscente e o objeto conhecido: esto ontolgicamente no
mesmo plano e, alm do mais, so radicalmente idnticos um ao
outro. Ali ainda necessrio formular as mais graves reservas a
respeito das conseqncias sistemticas que se pretendem tirar
dessa apreenso, .concludente alis no que concerne existncia
do eu, do sujeito pensante. E desde logo haveria lugar para observar
que esta apreenso do eu, mesmo se reconhecida como imediata,
no atinge a perfeio do conhecimento per essentiam que
caracteriza a inteleco dos espritos puros. E sobretudo importa
lembrar que, nas condies de unio com nosso corpo em que se
encontra nossa inteligncia, essa faculdade no tem por objeto
prprio, direta e imediatamente alcanado, o mundo dos espritos,
mas sim o das coisas materiais. Isto que eu percebo, ou de um
modo geral, stes objetos que me circundam, so, tal o
reconhecimento bsico que se impe inteligncia. Comear pela
apercepo do eu, no tomar o conhecimento na sua fonte e ,
alm disso, se expor a estas dissociaes entre o sensvel e o
inteligvel que encontramos na origem de todo o movimento
idealista. Seria necessrio acrescentar, nos colocando em um ponto
de vista superior, que o valor absoluto de nosso conhecimento no
deve estar fundado em nenhuma apreenso particular do ser, mas
sbre a significao realista da noo transcendente de ser, a qual
envolve, como o sabemos, de modo implcito, todos os sres
particulares, mas no se encontra monopolizada por nenhum dles.
- Os elementos do juzo.
Procedemos agora de maneira positiva. Nosso inspirador principal
aqui ser o Pe. Roland-Cosselin, que, na parte construtiva de seu
Essai, analisara com um excepcional rigor o ato de conhecer.
Trata-se de saber o mais clara e perfeitamente possvel o que
conhecer. No h outro meio evidentemente para se chegar a seno
examinando atentamente nossos diversos conhecimentos. Para no
nos estender muito, suporemos adquirida esta primeira concluso: o
ato perfectivo do conhecimento, aquele em que, em particular, ele
toma conscincia de modo distinto de si mesmo, o juzo. Desde
agora, portanto, nossa indagao sbre a natureza do conhecimento
se encontra centralizada sbre o juzo. Tomemos, para fixar nosso
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-6.htm (2 of 6)2006-06-01 12:20:09
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.6.
pensamento, um juzo qualquer: "esta cortina azul", e esforcemonos em discernir seus elementos constitutivos. Numa primeira
abordagem somos surpreendidos pelo aspecto de unidade ou de
ligao que apresenta. Tinha diante de mim duas noes, a de
"cortina" e a de uma cair, o "azul"; afirmando "esta cortina azul" eu
unifico e ligo estas duas noes; reconhecendo sua convenincia,
atribuo segunda, a de "azul" primeira, a de "cortina": o juzo se
oferece ao meu olhar como uma relao de atribuio. Mas um outro
relacionamento, mais fundamental, em um certo sentido, me parece
compreendido no ato de pensamento que analiso. Digo que a
atribuio que acabo de proceder verdadeira. O que se deve
entender com isto? Que esta atribuio conforme a realidade; meu
juzo me parece verdadeiro porque parece estar em relao de
adequao com o que . Em um juzo tal qual ste que examino,
alm da relao entre o sujeito e o predicado, existe, igualmente
percebido, uma relao entre meu pensamento e o ser, relao
constitutiva da verdade dste juzo. fcil de se dar conta de que
esta relao um elemento essencial dsse ato. Se, com efeito,
suprimo esta relao, negando-a por exemplo: "no, esta cortina
efetivamente no azul", meu primeiro juzo perde tda
consistncia: no h mais relao com o que , e a relao que
estabelecera entre o sujeito e o predicado se esfuma.
Seria fcil reconhecer que tambm outros juzos se prestam a
decomposies semelhantes. Tal coisa imediatamente evidente
para tdas as afirmaes categricas que implicam a cpula "".
tambm quase manifesto que, nas proposies com sujeito e verbo
sem cpula aparente, "a neve cai", por exemplo, s verdadeiramente
penso na medida em que me refiro ao que . E se considerssemos
as outras formas de juzo que o lgico distingue, como o juzo de
relao, o juzo hipottico, observaramos que, tanto nestes casos
como no precedente, s afirmo por uma referncia ao real.
Podemos, pois, concluir com o Pe. Roland-Gosselin (Essai, p. 43) :
"... a anlise do juzo me permite constatar que o objeto no est
inteiramente determinado para o sujeito, e no pode ser afirmado
por le, seno na medida em que pensado em relao com "o que
". Sem esta relao o juzo sem valor."
Consideremos agora o aspecto subjetivo ou a atividade de
conhecimento que est implicada no juzo. Se me perguntado o
que faz com que eu afirme que "esta cortina azul"? O que
responderia? -" porque vejo que assim, ou que a cortina me
parece ser azul". Julgo que vejo ou que isto me aparece. E tomemos
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-6.htm (3 of 6)2006-06-01 12:20:09
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.6.
cuidado, pois esta apario que condiciona meu pensamento no
necessriamente uma percepo dos sentidos; h um aparecer no
princpio dos meus mais abstratos juzos. Se digo por exemplo "o
todo maior do que a parte", porque intelectualmente vejo que
assim. O aparecer ou, se quisermos, a evidncia, um elemento
constitutivo de todo juzo. Assim, vemos o que convm pensar das
filosofias que, maneira kantiana, pretenderiam conduzir a operao
do juzo a um ato de sntese pura. Em uma tal operao, certamente
o esprito no est inativo, le atribui positivamente o predicado ao
sujeito; mas se o faz porque se v objetivamente determinado. Um
juzo sem intuio, um juzo cego est totalmente fora de tda
psicologia real.
Definitivamente, direi, portanto, que o juzo se manifestou a mim
como um duplo relacionamento, apoiando-se finalmente sbre um
valor de ser que me aparece e sbre a evidncia de uma certa
relao com o ser: "todo juzo supe na origem, pelo menos lgica,
da atividade do sujeito, uma "evidncia de ser", e exige para ser
plenamente determinado uma "evidncia" do liame de atribuio,
por meio da qual se exprime, com "aquilo que " (Roland-Gosselin,
Essai, p. 51).
- Significao realista do juzo.
O que pois ste ser, do qual me parece suspensa tda minha
atividade judicativa? Afastemos previamente as significaes
idealistas que poderiam ser dadas. Inicialmente, o ser ao qual se
refere o juzo no o ser, de alguma maneira subjetivo, que se
encontra afirmado pela cpula: "esta cortina azul"; a realidade a
que me dirijo e pela qual me meo no o "" de minha proposio.
O que efetivamente psto por meu pensamento, no outra coisa
seno o ens verum, este "ser verdadeiro" distinguido por Aristteles
e S. Toms do ens si mpliciter, o qual exprime a realidade da
conformidade de minha inteligncia ao ser objetivo. em funo
dste prprio ser objetivo que julgo; e o ser da relao de verdade
s tem sentido relativamente a le. No posso portanto dizer que,
atravs de minha afirmao, sou eu quem ps o ser, como uma
forma proveniente do sujeito. Como tambm, ste ser que mede meu
pensamento no pode ser considerado como um puro objeto, cuja
realidade seria o ser pensado. Quem no v, de um lado, que a
relao de objetividade no , de modo algum, constitutiva do que
me aparece e, de outro lado, que o ser enquanto conhecido supe
le mesmo o ser do qual no seno um modo particular: a noo
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-6.htm (4 of 6)2006-06-01 12:20:09
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.6.
de ser ultrapassa na sua significao a de objeto e lhe portanto
anterior: o ser no formalmente o que conhecido ou o que
objeto de conhecimento.
Mas o que ento, em definitivo? J o dissemos, le aquilo que ,
sse complexo onde distinguimos stes dois aspectos de um "algo",
de uma essncia, "que " ou que ordenada existncia. Esta
ltima nos apareceu, por outro lado, como o elemento determinante
ltimo, como a atualidade ltima de nossa noo. Ora, o real no
nada mais do que aquilo que existe ou que se refere existncia.
Dizer que o conhecimento relativo ao que ou que se reporta ao
real, ou, portanto, que tem valor realista, significar exatamente a
mesma coisa. Esta considerao, to decisiva quanto simples e
imediata, resolve quanto a si o problema do realismo do
conhecimento. Pelo fato de que, julgando, meo-me ao que , meu
conhecimento tem, em princpio, uma dimenso realista. Conhecer,
sei agora, perceber o que .
Importa observar, no trmino desta anlise, que ste real a que me
refiro e que afirmo nos meus juzos no possui sempre exatamente o
mesmo valor. H modalidades de ser diferentes. Se afirmo, por
exemplo, que "o homem um bpede", coloco uma afirmao
universal, possuindo evidentemente valor objetivo, mas cujo objeto
no existe maneira desta mesa que afirmo tambm existir. O "fim
do mundo" igualmente me aparece como algo, mas que ser
realizado smente no futuro. Em todos stes casos efetivamente
ao ser que termino por me referir, mas segundo modalidades de
realizao que no so tdas iguais. No seu realismo, meu
pensamento respeita, portanto, o valor mesmo da realidade dos
seus diferentes objetos. Uma anlise detalhada de meu
conhecimento ser necessria, para que eu possa apreciar o valor
realista de cada um de seus modos.
Concluso - Ainda que devssemos ter sido demasiado breves,
cremos haver mostrado de modo suficiente em que base se funda o
realismo de nosso conhecimento. Nem a anlise da sensao pura,
nem a afirmao do sujeito espiritual, conseguem assegurar
convenientemente tal tese; s a reflexo sbre o juzo nos coloca
aqui no verdadeiro caminho. Restaria, para esclarecer
completamente esta questo do fundamento do realismo, examinar
as provas que quisemos dar tomando como ponto de apoio os
valres de ordem apetitiva: os imperativos da razo prtica, a
crena, ou ainda, a ao. Pode acontecer que os argumentos que se
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-6.htm (5 of 6)2006-06-01 12:20:09
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.6.
costumam escalonar, partindo-se dstes elementos subjetivos, no
sejam sempre desprovidos de valor. Mas certo que no podem
substituir essa tomada de conscincia direta do realismo de nosso
conhecimento especulativo que alcana, na sua verdadeira natureza,
a relao fundamental do pensamento com o ser. O ponto de partida
ao mesmo tempo da metafsica e da teoria do conhecimento no
est na ao, mas nesta apreenso refletida do ser que se realiza no
juzo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-6.htm (6 of 6)2006-06-01 12:20:09
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.7.
7. OS PRIMEIROS PRINCIPIOS
Aristteles (Metafsica, L.4, c.3) liga ao estudo do ser enquanto ser, o
estudo de certas verdades primeiras que denomina axiomas. A razo
dste fato aqui ntidamente precisada: tais verdades devem ser
consideradas na cincia suprema porque possuem tanta amplitude
ou a mesma universalidade que o ser, objeto desta cincia: "Uma
vez que evidente que os axiomas se aplicam a todos os sres
enquanto sres, do conhecimento do ser enquanto ser que decorre
o estudo destas verdades".
Garantidos por esta afirmao de seu Mestre, inmeros
peripatticos fazem seguir; nos seus tratados de metafsica, o
estudo do ser de um captulo consagrado aos Primeiros Princpios.
Por vzes, verdade, ste estudo relegado lgica, alegando-se, o
que exato, que tais princpios so os reguladores supremos de
tda nossa atividade racional. Mas no menos verdade que, antes
de presidir o bom funcionamento de nosso esprito, os primeiros
princpios possuem inicialmente valor - e assim que nos so
imediatamente dados - de leis objetivas do ser. , portanto, como
dizia claramente Aristteles, ao estudo do ser enquanto ser que se
liga prpriamente a anlise destas verdades primeiras. necessrio
acrescentar que estas consideraes, que visam assegurar as
primeiras verdades do nosso esprito, tomam naturalmente lugar na
linha do estudo crtico do ser e dos primeiros fundamentos do
nosso conhecimento que empreendemos neste captulo. Aqui
metafsica e crtica prticamente coincidem.
O que se deve entender exatamente por Primeiro Prncpio? De um
modo geral, os primeiros princpios representam o trmo ltimo na
ordem ascendente da resoluo de nossos conhecimentos;
habitualmente designam-se por esta expresso juzos ou
proposies, mas S. Toms a aplica igualmente aos trmos ou
noes simples que entram como elementos nestes juzos. Ns nos
deteremos aqui na primeira destas significaes. evidente,
todavia, que na teoria do ser, no devemos nos interessar pelos
princpios especiais de cada cincia, mas smente por aqules que,
convindo a todo ser, so absolutamente comuns.
Considerados em si mesmos, ns o vimos em lgica, os primeiros
princpios devem ser verdadeiros e necessrios, o que bvio, e
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-7.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:09
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.7.
alm disso, imediatos (per se notae). A nota de imediatidade,
aplicada a um princpio, significa que se nos apercebemos de sua
verdade sem intermedirios ou trmos mdios; suficiente que se
tenham apreendido os trmos que compem tal princpio para que o
valor da proposio aparea com plena evidncia; neste sentido dizse que so conhecidos por si mesmos. Deve-se acrescentar que, no
momento em que se trata de um princpio absolutamente primeiro,
os prprios trmos de que le composto devem ser absolutamente
simples, isto , no podem ser reportados a nenhuma noo
anterior. Por si, estas proposies primeiras, como o seu nome de
incio j o indica, se referem, ou mais exatamente, so princpios de
referncia de tda uma ordem de conhecimentos que repousa sbre
tais proposies ou que as implicam e as supem de maneira
necessria. Aos princpios metafsicos relativos ao ser se
subordinam universalmente todos os conhecimentos: o que
afirmar a importncia capital destas verdades primeiras.
Qual o primeiro de todos stes princpios? Ainda em nossos dias
isto discutido. Para Aristteles a questo se encontrava resolvida
(Metafsica, c.3) . ste primeiro princpio deve satisfazer a trs
condies: ser o melhor conhecido; ser possudo antes de todo
outro conhecimento; ser o mais certo de todos. Ora, ste princpio
incontestavelmente "aqule a propsito do qual impossvel se
enganar", isto , o princpio de no-contradio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-7.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:09
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.8.
8. O PRINCPIO DE NO CONTRADIO.
E sob que frmula convm exprimir ste princpio? Aristteles nos
prope esta: " impossvel que o mesmo atributo pertena e no
pertena ao mesmo tempo ao mesmo sujeito soba mesma relao".
O que S. Toms traduz:
Impossibile
est eidem
simul
inesse et
non inesse
idem
secundum
idem.
E que se traduz tambm freqentemente por esta frmula
equivalente: " impossvel afirmar e negar ao mesmo tempo a
mesma coisa soba mesma relao."
Assim formulado, o princpio de no-contradio diretamente
relativo s operaes do esprito, atribuio e no atribuio,
afirmao e negao das quais declara a incompatibilidade em
certas condies. Mas se observarmos que o esprito julgando
manifestamente determinado pelo real que lhe serve de objeto - por
exemplo, se julgo que o cu azul, porque vejo que realmente
assim - ser mais conforme com a prpria estrutura do
conhecimento formular o princpio de no-contradio em relao
ao seu contedo objetivo. Dir-se- ento: "O ser no pode no ser" "o que no o que no "
Ens
non
est
non
ens.
Em metafsica, onde nos colocamos no ponto de vista objetivo do
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-8.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:10
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.8.
ser, evidentemente esta frmula objetiva que deve ter nossas
preferncias.
Tentemos ver de mais perto como o esprito levado a reconhecer
ste princpio. Tal princpio resulta evidentemente do
relacionamento de duas noes, a de ser e a de no-ser. A noo de
ser no outra coisa seno ste primeiro dado da inteligncia que j
nos familiar. Se considerarmos agora a noo de no-ser,
observaremos imediatamente que no contm nada a mais de
positivo do que a noo precedente de ser; difere da primeira devido
a uma pura atividade intelectual, a negao, reao absolutamente
original do esprito, que se define por si mesma: eu ponho o ser, em
seguida eu o nego, e assim que obtenho a noo ou a pseudonoo de no-ser.
Se agora, aproximo as duas noes que acabo de distinguir,
constato que elas no podem convir, e esta incompatibilidade se
impe a mim como algo de imediatamente percebido, como um dado
primitivo: o ser, de modo algum e enquanto tal, no-ser. H
oposio entre estas duas noes, e da resulta - reencontramos a
primeira formulao do princpio - que impossvel afirmar e negar
ao mesmo tempo e sob a mesma relao a mesma coisa, pois isto
seria identificar ser e no-ser, o que acabamos de recusar de modo
absoluto. Em tudo isso, intervieram uma noo positiva, a de ser,
duas atividades negativas sucessivas do esprito, e a viso objetiva
da incompatibilidade finalmente proclamada.
possvel dar uma justificao diversa daquela que traz consigo
essa viso objetiva do nosso princpio? evidentemente certo que
no se pode sonhar com uma demonstrao direta, uma vez que tal
demonstrao se apoiaria em uma verdade anteriormente
reconhecida, o que certamente no pode ter lugar aqui, j que nada
anterior ao ser. Mas no se poderia falar de uma demonstrao
indireta ou de uma refutao por absurdo? De modo geral, a
refutao por absurdo consiste em mostrar que, sustentando uma
certa tese, se levado necessriamente contradio. fcil ver
que sob esta forma comum a refutao por absurdo aqui sem
significao, uma vez que precisamente isto que afirmado pelo
adversrio, isto , a possibilidade de contradio. Nesse caso, no
contradio que preciso levar o adversrio. mas ao silncio.
Afirmar a identidade dos contraditrios no ter mais nenhum
objeto distinto de pensamento, em realidade no pensar em nada;
pois desde que se quer pensar em algo, preciso que se tenha
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-8.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:10
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.8.
diante de si um objeto determinado. No momento em que o
adversrio concede que pensa em algo de determinado, que d uma
significao a uma palavra, reconhece por isto mesmo que o ser no
contraditrio, e se le mantm por um puro artifcio verbal sua tese
da contradio do ser, no tem mais nenhum objeto distinto de
pensamento. A alternativa aqui pensar em alguma coisa ou no
pensar. Se quereis pensar, vos necessrio fixar um objeto
determinado, isto , reconhecer o valor do ser.
Qual , portanto, a extenso ou o campo de aplicao dste
princpio de no-contradio? Uma vez que tem sua raiz na noo de
ser, considerada nela mesma e sem nada de restritivo, le deve valer
para tdas as modalidades do ser, para todo o ser, e
correlativamente para todo pensamento se reportando ao ser. Mas
que se tome cuidado, os sres que nos so dados, mltiplos e
cambiantes, no so plenamente ser: sob certos aspectos so ser,
enquanto que sob outros so no-ser. O princpio de nocontradio s se aplica a les sob certos pontos de vista e dentro
de certos limites: na medida em que sero ser, no sero no-ser; tal
princpio smente vale de modo absoluto para o ser absoluto, para
Deus.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-8.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:10
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.9.
9. O PRINCPIO DE IDENTIDADE.
Perguntou-se, na poca moderna, se no se poderia justapor e
mesmo superpor ao princpio de no-contradio um princpio
afirmativo, no qual o ser seria atribudo a si mesmo e ao qual se
poderia dar o nome de princpio de identidade.
S. Toms fz aluso a um tal princpio? De modo explcito,
certamente no. Quando, seja na lgica, seja na metafsica, estuda
os axiomas, no fala de tal princpio. Mas, pelo menos, no
possvel aproxim-lo de sua doutrina? A identidade, para S. Toms,
tem um sentido bem definido: significa o modo prprio de unidade
que convm substncia. Afirmar a identidade do ser, seria pois, de
uma certa maneira, reconhecer a sua unidade. Avanando nesta via,
somos naturalmente levados a dizer que o princpio de identidade
apenas uma forma do que se poderia chamar o princpio da unidade
do ser: todo ser uno ou idntico a si mesmo, proposio exata e
absolutamente imediata, mas que s intervm mais tarde aps o
reconhecimento do transcendental uno. Para fundar nosso princpio
em S. Toms, preciso recorrer a uma outra doutrina, aquela das
propriedades transcendentais do ser (Cf. De Veritate, q. 1, a. 1). Um
texto pode nos servir de base: "Nada se pode encontrar que seja
dito afirmativamente e absolutamente de todo ser seno a sua
essncia, pela qual le dito ser; e dste ponto de vista que se d
o nome de "coisa", res, o que, segundo Avicena no incio de sua
Metafsica, difere de "ser", ens, nisto: "ser" tomado do ato de
existir, enquanto o nome "coisa" exprime a qididade ou a essncia
do ser".
Partindo-se daqui, eis como se poder precisar o sentido dsse
princpio.
Antes de mais nada, claro que s pode haver juzo verdadeiro se o
predicado , de alguma maneira, distinto do sujeito. Uma atribuio
rigorosamente tautolgica do ser no constitui, observou-se
freqentemente, um juzo. Mas, o ser sendo naturalmente sujeito do
nosso princpio, como encontrar-lhe um predicado que acrescente o
mnimo possvel significao do sujeito? S. Toms no-lo indica:
distinguindo os dois aspectos do ser como existente e do ser como
essncia. Chega-se assim a esta frmula geral: "o ser (como
existente) ser (como essncia)."
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-9.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:10
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.9.
assim que, de maneira comum, se procura constituir uma frmula
aceitvel do princpio de identidade. Mas no estamos no fim de
nossas penas, pois parece que nos encontramos aqui ainda diante
de uma ambigidade. Se acentuamos, com efeito, a distino da
essncia ou da coisa e do ato de existir, terminamos em uma
frmula como esta (Cf. Garrigou-Lagrange, Le sens commun, 3.a ed.,
p. 166) : "Todo ser algo de determinado, de uma natureza que e
constitui prpriamente". Isto : todo ser possui uma certa natureza.
Mas no ser possvel, afastando-nos menos da noo do que existe
(ens), considerar a essncia, no como uma certa essncia, mas
como a essncia do ser mesmo? Ao passo que, h instantes, eu
respondia questo: o ser algo de determinado? Agora, colocome em face da questo: que coisa, que natureza o ser? E respondo
que le ser (Cf. Maritain, Sept leons sur l'tre, p. 104): "Cada ser
o que " ou mais simplesmente "o ser ser", ens est ens, isto , "o
ser tem por natureza ser". , em definitivo, sbre esta ltima frmula
que nos deteremos. A outra frmula, que sublinha o aspecto de
determinao da essncia, corresponde j a um nvel mais
elaborado do pensamento.
Deveremos repetir aqui o que j dissemos mais acima a respeito do
princpio de no-contradio. Em primeiro lugar, em um caso como
no outro, o esprito no se determina ou no afirma seno porque v
objetivamente a convenincia ou a no-convenincia dos dois
trmos em presena. Em segundo lugar, o princpio de identidade ,
le tambm, coextensivo noo de ser, isto , vale para todo ser,
mas s se aplica ao sres limitados ou imperfeitamente ser
proporcionalmente ao que les so. Smente Deus absolutamente
ou idnticamente ser.
Resta uma ltima questo. A qual dos dois princpios deve-se
reconhecer a primazia? Se nos colocamos no ponto de vista
objetivo, devemos dizer que um e outro apenas supem um s e
mesmo dado positivo, o de ser. Os dois se referem ao mesmo trmo.
Por outro lado, um e outro so imediatos e no se pode dizer que o
valor de um esteja subordinado ao do outro. Do ponto de vista
subjetivo, encontramos ao contrrio duas atividades distintas, dupla
negao de um lado, dissociao da noo de ser e afirmao, de
outro lado. Dste ponto de vista, portanto, talvez possvel falar de
prioridade (psicolgica ou lgica). Em metafsica, uma vez que no
se saiu do contedo explcito da noo de ser, no haver lugar para
se colocar esta questo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-9.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:10
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.9.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-9.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:10
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.10.
10. OUTROS PRINCPIOS.
Aristteles liga ao princpio de no-contradio uma frmula que
no mais do que uma conseqncia: "entre a afirmao e a
negao do ser no h intermedirio", "o ser ou no " o
princpio do terceiro excludo. -nos suficiente t-lo assinalado. Os
autores modernos estudam igualmente aqui tda uma srie de
outros princpios: princpios de razo de ser, de causalidade, de
finalidade, de substncia. Tais princpios so evidentemente
essenciais vida do esprito; mas, pondo em ao noes ou
distines que no so ainda reconhecidas, apenas mais tarde tais
princpios viro lgicamente no progresso regular do pensamento
metafsico. Ns nos submeteremos a essa marcha metdica e
iremos passar em seguida determinao das propriedades do ser,
alm do ser le mesmo considerado como "qididade" e de sua
oposio ao no-ser.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-10.htm2006-06-01 12:20:10
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.2, C.11.
11. OBSERVAO. ORIGEM E FORMAO DOS PRIMEIROS
PRINCPIOS.
Os primeiros princpios no so verdades inatas ou possudas pela
inteligncia anteriormente a todo conhecimento. Mais precisamente,
s nossa inteligncia, que est em pura potncia com respeito aos
inteligveis, inata. apenas no momento em que nossas
faculdades de conhecer so determinadas pelos objetos sensveis
que tomamos conscincia dos primeiros princpios. E ainda faz-se
mister precisar que inicialmente s os apreendemos em casos
particulares, em relao a tal ser; s podemos nos elevar a frmulas
universais relativas a todo ser aps haver elaborado a idia comum
de ser. Se no so inatos, stes princpios so todavia ditos naturais
nossa inteligncia, pois se seguem naturalmente ao seu exerccio:
tda inteligncia que se exerceu os possui necessriamente. Em
relao a essa inteligncia, constituem o que se chama uni habitus,
isto , uma disposio estvel que assegura faculdade a facilidade
e a segurana em seu exerccio. sse habitus tambm se diversifica
na medida em que se trata dos primeiros princpios na ordem
especulativa ou dos primeiros princpios na ordem da ao prtica.
Fixemos, pois, que o habitus dos primeiros princpios especulativos
da inteligncia, sem ser inato, aperfeioa contudo de modo natural
esta faculdade (S. Toms, Metaf., IV, 1, 6, n. 599).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA2-11.htm2006-06-01 12:20:10
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.3, C.1.
OS TRANSCENDENTAIS EM GERAL
1. INTRODUO.
No trmino de nosso primeiro esfro de pensamento metafsico, a
realidade nos apareceu proporcionalmente unificada nesta nica
noo de ser que constitua nosso objeto. , -nos necessrio, agora,
retornar multiplicidade que se encontrava no ponto de partida de
nossa reflexo, no como o fizeram alguns idealistas, seguindo uma
dialtica dedutiva - da pura razo de ser nada se pode tirar a no ser
ela mesma - mas por um processo de integrao dos aspectos e dos
elementos mais gerais do real referentes a sse primeiro dado.
Admitido sse recurso necessrio experincia para todo o
progresso do pensamento metafsico, convm de incio precisar de
que maneira "alguma coisa" poder vir a se acrescentar ao ser. S.
Toms, em um texto clssico, nos explica claramente (De Veritate, q.
1, a. 1). O ser, nos diz, no pode ser multiplicado maneira de um
gnero atravs de diferenas que lhe seriam acrescidas do exterior.
S pode, portanto, ser distinguido atravs de modos intrnsecos
contidos no ser mesmo. Ora, esta diferenciao interior do ser s
pode ser efetuada de dois modos: ou os modos expressos
correspondem aos modos particulares do ser e ento obter-se- a
coleo do que se denomina as categorias do ser; ou os modos
considerados conviro de maneira universal e necessria a todo ser:
"...enti non potest addi aliquid quasi extranea natura, per modum
quo differentia additur generi, vel accidens subjecto; quia quaelibet
natura essentialiter est ens. Unde etiam probat philosophus in III
Metaphysicae quod ens non potest esse genus; sed secundum hoc
aliqua dicuntur addere supra ens, inquantum exprimunt ipsius
modus, qui nomine ipsius entis non exprimitur. Quod dupliciter
contingit: uno modo ut modos expressus sit aliquis specialis modus
entis, secundum quos accipiuntur diversi modi essendi; et juxta hos
modos accipiuntur diversa rerum genera. Alio modo i-ta quod modus
expressus sit modos generaliter consequens omne ens."
stes "modos que fazem, de maneira geral, seqncia a todo ser" e
nos quais iremos inicialmente nos deter, constituem o que se chama
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA3-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:11
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.3, C.1.
comumente as propriedades transcendentais do ser. Observar-se-,
em seguida, que o trmo propriedade deve ser tomado aqui em um
sentido lato, no como exprimindo uma entidade estranha
essncia de uma realidade dada, o que impossvel no caso do ser,
mas como designando esta essncia mesma sob um aspecto
particular. Transcendental, por sua vez, tem o sentido que possui
para o ser: o transcendental o que se encontra em todos os
gneros do ser. Para exprimir esta generalidade diz-se que sses
modos so convertveis com o ser, isto , que se pode
indiferentemente, nas proposies em que tomam lugar, tomar o ser
ou um dos seus modos como sujeito ou como predicado. Assim, dizse, "o ser uno", "o uno o ser".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA3-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:11
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.3, C.2.
2. FORMAO DA COLEO DOS TRANSCENDENTAIS.
A despeito do ordenamento aparentemente simples e regular que
pode revestir atualmente nos manuais, a teoria filosfica dos
transcendentais, ser, uno, vero, bem, efetivamente s se constitui
atravs de sucessivas contribuies e seguindo um processo assaz
complexo.
A idia do que pode ser uma noo transcendental foi exatamente
definida por Aristteles para o caso do uno, do qual assinalou
perfeitamente a identidade fundamental e a convertibilidade com o
ser (Cf. sobretudo Metafsica, L. IV, c. 2). Contudo, Aristteles no se
preocupou, em metafsica, em confrontar, sob ste aspecto de
propriedade geral, o bem com o ser; o bem se encontra
efetivamente, para le, no princpio de tda a ordem da ao, mas a
adequao com o plano de ser no explicitamente realizada.
Quanto ao vero, ou ao ser como vero, em sua filosofia smente so
considerados sob o aspecto subjetivo de trmo perfectivo do
conhecimento, e se vem mesmo, a ste ttulo, eliminados do objeto
da filosofia.
A constituio do conjunto, que se tornar clssico, dos trs
transcendentais, uno, vero, bem, reportados ao ser, smente se dar
de fato na filosofia crist, onde ter tambm inicialmente uma
significao teolgica. Uno, vero, bem, aparecero ento como
atributos do Ser primeiro que se reportar a cada uma das trs
Pessoas da Trindade e dos quais se procuraro os vestgios ou os
signos nas criaturas. As Sumas ou os Comentrios sbre as
Sentenas do incio do sculo XIII so os testemunhos dste
primeiro estado da doutrina dos transcendentais. Sua elaborao
filosfica e sua fixao , definitiva parecem bem ser a obra prpria
de S. Toms. O texto essencial sbre esta questo o do De Veritate
(q. I, a. I), do qual j comeamos a exposio e ao qual convm
retornar.
Nossas diversas concepes, j foi dito, apenas podem se formar
por adio noo fundamental de ser, seja porque constituam
modos particulares de tal noo, categorias, seja porque a ela se
reportem a ttulo de propriedades absolutamente gerais. No ltimo
caso, que o nosso presentemente, a "modificao" do ser pode se
produzir ainda de dois modos diferentes. Se o ser afetado em si
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA3-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:11
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.3, C.2.
mesmo, obtemos duas primeiras noes transcendentais, na medida
em que dle se exprime algo afirmativamente ou negativamente.
Afirmativamente no podemos atribuir ao ser seno a sua essncia,
qual ento corresponde o trmo res, coisa. Negativamente apenas
se pode significar a indiviso do ser, qual corresponde o trmo
unum, uno. Se consideramos agora o ser na sua relao com os
outros, ou nos colocaremos no ponto de vista de sua distino
relativamente a les, e o ser nos aparecer ento como aliquid, isto
, como algo de outro; ou procurando o que em um outro pode
convir universalmente a todo ser, o reportaremos alma humana
que, atravs de seus podres de conhecimento e apetio, a nica
a possuir esta amplitude. Em relao aos podres do conhecimento,
a convenincia do ser ser expressa pelo trmo verum, vero; em
relao aos podres de apetio, pelo de bonum, bem. Eis na ntegra
sse texto importante:
"Et hic modus (generaliter consequens omne ens) dupliciter accipi
potest: uno modo secundum quod consequitur omne ens in se; alio
modo secundum quod consequitur omne ens in ordine ad aliud. Si
primo modo, hoc dicitur quia exprimit in ente aliquid affirmative vel
negative. Non autem invenitur aliquid affirmative dictum absolute
quo possit accipi in omni ente, nisi essentia eius secundam quod
esse dicitur; et sic imponitur hoc nomen res, quod secundum hoc
differt ab ente, secundum Avicennam in principio Metaphysicae,
quod ens sumitur ab actu essendi, sed nomen rei exprimit
quidditatem sive essentia entis. Negatio autem quae est consequens
omnem ens absolute et indivisio; et hanc exprimit hoc nomen unum:
nihil enfim est aliud unum quam ens indivisum. Si autem modus
entis accipiatur secundo modo, scilicet secundum ordinem unius ad
alterum, hoc potest esse dupliciter. Uno modo secundum divisionem
unius ab altero; et hoc exprimit hoc nomen aliquid; dicitur enim
aliquid quasi aliud quid; unde sicut ens dicitur unum, in quantum est
indivisum in se; ita dicitur aliquid in quantum est ab aliis divisum.
Alio modo secundum convenientiam unius entis ad aliud; et hoc
quidem non potest esse nisi accipiatur aliquid quod notum sit
convenire cum omni ente. Hoc autem est anima, quae quodammodo
est omnia, sicut dicitur in III De Anima. In anima autem est vis
cognoscitiva et appetitiva. Convenientiam ergo entis ad appetitum
exprimit hoc nomem bonum... convenientiam vero entis ad
intellectum exprimit hoc nomen verum."
Neste texto, ao lado da noo primeira de ser, S. Toms enumera
cinco noes transcendentais: res, anum, aliquid, verum, bonum.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA3-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:11
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.3, C.2.
Com o trmo res, que exprime o aspecto essncia das coisas,
parece-se ainda no sair da significao explcita do ser; alguns no
consideram sse trmo como uma verdadeira propriedade
transcendental. O aliquid possui uma significao anfibolgica: ou
marca a oposio de um ser com um outro ser e ento pode ser
considerado como seqncia da unidade; ou sublinha a oposio do
ser ao no-ser - o ser outra coisa que o no-ser - e sob ste
aspecto manifesta bem um aspecto original e primeiro do ser. Resta,
pois, que, mesmo que lhes seja reconhecido o ttulo e o valor de
propriedades transcendentais do ser, res e aliquid no tm um
intersse filosfico to grande quanto a trilogia, uno, vero, bem, que
merece permanecer clssica. Os modernos se comprazem em
acrescentar a stes o belo, pulchrum, que parece, com efeito,
significar um aspecto absolutamente geral do ser; mas, como
somente assinala a convenincia do ser alma por intermdio das
potncias conjugadas de conhecimento e de apetio, deve, assim,
ser considerado como um transcendental derivado.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA3-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:11
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.3, C.3.
3. NATUREZA DAS NOES TRANSCENDENTAIS.
Tanto a propsito do uno (Metafsica, IV, 1, 2), como do vero (De
Veritate, q. 1, a. 1), e como do bem (De Veritate, q. 21, a. 1), S. Toms
manifesta, de incio, a preocupao de afirmar a unidade
fundamental dos transcendentais com o ser: o uno e o ser, por
exemplo, no significam diversas naturezas, mas uma s e mesma
natureza, unum autem et ens non diversas naturas sed unam
significant. Os transcendentais no constituem, portanto, naturezas
verdadeiramente distintas. Entretanto, bem evidente que esta
unidade fundamental (in re) do ser e dos transcendentais no se
apresenta sem uma certa diversificao nocional: no se diz
tautolgicamente "ser uno" ou "ser bom"; o segundo trmo de cada
um destes binmios acrescenta incontestvelmente algo ao
primeiro. No podendo ser, devido identidade reconhecida, da
ordem da' distino real, essa diferena s poder ser da ordem da
distino de razo, isto , no caso do uno, uma negao, e no caso
do vero e do bem, uma relao.
"Sic ergo supra ens quod est prima conceptio intellectus unum addit
id quod est rationis tantum, scilicet negationem; dicitur enim unum
quasi ens indivisum; sed verum et bonum positive dicuntur; unde
non possunt addere nisi relationem quae sit rationis tantum." (De
Veritate, q. 21, a. 1).
De que distino de razo se trata aqui? Uma distino dita real na
medida em que independente de nosso conhecimento, ou na
medida em que se dirige a elementos do real do qual um no
efetivamente o outro. Uma distino dita de razo ou lgica,
quando se refere formalmente a elementos que so diversos
smente em razo da interveno da inteligncia. A distino de
razo pode tambm possuir um fundamento na realidade (distino
de razo raciocinada) ou no possuir algum, isto , corresponder a
um puro artifcio de pensamento (distino de razo raciocinante). A
distino dos transcendentais que no real, sendo contudo
corretamente fundada, no pode ser seno uma distino de razo
raciocinada. Mas aqui ainda, encontramo-nos em face de duas
hipteses: ou um dos conceitos contm os outros smente em
potncia (gnero e espcie), tendo-se ento uma distino de razo
raciocinada perfeita ou maior; ou o conceito pode tambm conter os
outros virtualmente em ato (anlogo e analogados, ser e
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA3-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:11
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.3, C.3.
propriedades transcendentais) e encontramos o nosso caso, que ,
portanto, o da distino de razo raciocinada imperfeita, ou menor.
Outra preciso: dever-se- tomar cuidado em no confundir os
transcendentais tais como o vero e o bem com as relaes que
supem. Os transcendentais implicam, com efeito, esta relao, mas
no se identificam com ela; fundamentalmente designam o ser, na
medida em que este se refere s potncias cognoscitivas e
apetitivas, isto , enquanto est determinado por estas relaes. ,
portanto, sempre a mesma realidade do ser que significamos atravs
de cada um dos transcendentais, mas na medida em que nela se
fundam as ordens do conhecimento e da apetio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA3-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:11
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.4, C.1.
OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O UNO.
1. FORMAO DA TEORIA DO UNO.
As especulaes metafsicas sbre a unidade possuem uma dupla
origem. De um lado, remontam a Parmnides e percepo aguda
que ele teve da unidade do ser: o ser e uno; nada de diversidade
ou de mudana possvel no ser. De outro lado, ligam-se s idias
pitagricas sbre a funo do nmero na constituio das
realidades materiais, e principalmente sbre a funo da unidade
numrica princpio do nmero. A filosofia de Plato encontrou-se
dividida entre estas duas influncias; e na linha destas
especulaes que Aristteles elaborou sua teoria do transcendental
uno. O esfro de Aristteles visou sobretudo a melhor assegurar a
distino dos dois tipos de unidade, precedentemente, postos em
evidncia, unidade numrica e unidade transcendental, e a ligar esta
ltima ao ser, do qual no mais do que uma propriedade, no
sentido em que o definimos. Tdas as elucubraes desencontradas
dos platnico-pitagricos sbre o nmero como essncia das coisas
viam-se, com isto, eliminadas e a anterioridade do ser com relao
ao uno encontrava-se, assim, slidamente estabelecida.
De maneira consciente, S. Toms, paralelamente, apoiou sua
doutrina sbre a rejeio desta confuso inicial entre os dois
grandes tipos de unidade (De Pot., q. 9, a. 7): "Alguns filsofos no
distinguiram entre o uno que convertvel com o ser e o uno que
princpio do nmero e admitiram que nem uma nem outra unidade
nada acrescentavam essncia. Aos seus olhos, o uno, em qualquer
sentido que fsse entendido, significava a essncia da coisa. Seguiase que o nmero que composto de unidades era a essncia de
tdas as coisas. Tal a opinio de Pitgoras e de Plato. Outros,
pelo contrrio, no distinguindo a unidade que convertvel com o
ser da unidade princpio do nmero, pensaram que o uno, entendido
de uma ou de outra maneira, acrescentava algum ser acidental
essncia. Segue-se que tda multiplicidade um acidente
pertencendo ao gnero quantidade. Tal foi a posio de Avicena e
parece que todos os antigos doutres a adotaram. Pois por uno e
mltiplo entendiam sempre algo que do gnero da quantidade
discreta... Estas opinies supem, portanto, que sejam idnticos o
uno que convertvel com o ser e o uno que princpio do nmero,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA4-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:12
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.4, C.1.
e por outro lado, que apenas exista a multiplicidade que o nmero,
o qual, por sua vez, uma espcie de quantidade. Ora, isto
manifestamente falso." A razo dsse rro e da confuso que est
no seu princpio decorre de que no se discerniu a verdadeira
natureza da unidade metafsica, que consiste na ausncia de
diviso, e de que no se observou que existia um tipo de diviso que
ultrapassa o gnero quantidade, qual corresponde um tipo de
unidade que transcende ste gnero.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA4-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:12
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.4, C.2.
2. A UNIDADE TRANSCENDENTAL.
A unidade transcendental, para Aristoteles, e para S. Toms, no
significa nada mais do que a indiviso ou a negao da diviso do
ser. Eis como chegamos a essa noo de unidade: (Metafisica, IV, 1,
3, n. 566).
"Em
primeiro
lugar
concebemos
o ser,
depois o
no-ser, em
seguida a
diviso,
depois a
unidade
que
exprime a
privao de
diviso,
depois a
multido
que em sua
idia
implica a
diviso,
como a
idia do
uno implica
ausncia de
diviso . . .
Primo igitur
intelligitur
ipsum ens,
et ex
consequenti
non ens, et
per
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA4-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:12
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.4, C.2.
consequens
divisio, et
per
consequens
unum quod
divisionem
privat, et
per
consequens
multitudo,
in cujus
ratione
cadit
divisio,
sicut in
ratione
unius
indivisio".
V-se que o uno no designa outra coisa seno o prprio ser, mas
considerado, aps uma dupla atividade de negao, como indiviso,
ens indivisum. . . Portanto, o uno apenas acrescenta ao ser algo de
razo, e algo de puramente negativo, uma privao. Privao sendo
entendida aqui no sentido lato. No sentido estrito, com efeito,
privao significa ausncia, em um sujeito, de uma propriedade que
deveria possuir; por exemplo, privao da vista, no caso da
cegueira. Ora, no se poderia dizer aqui que o ser deveria possuir
essa propriedade de ser dividido, da qual se encontra privado.
Compreende-se, de outro lado, como, em virtude de sua identidade
com o ser, o uno lgicamente convertvel com o ser: o conceito de
uno no se confunde com o de ser, mas as realidades que um e
outro designam so fundamentalmente idnticas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA4-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:12
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.4, C.3.
3. OS MODOS DA UNIDADE.
Como o ser, e paralelamente a le, o uno uma noo analgica.
Encontram-se, pois, tantos modos de unidade quantos so os
modos de ser. S. Toms, em continuidade com Aristteles, esforouse por colocar um pouco de ordem nesta complexidade (Cf.
sobretudo Metafsica, V, 1; 7-8, X, 1, 1). Distingue, em primeiro lugar,
a unidade fundada na prpria natureza das coisas, unum per se, e a
unidade que resulta dos mltiplos encontros fortuitos de elementos
diversos, unum per accidens (msico letrado, por exemplo). A
unidade essencial pode ser ela prpria real ou lgica. A unidade real
se diversificar, por sua vez, segundo os predicamentos; haver em
particular a unidade da substncia (identidade), a da quantidade
(igualdade), a da qualidade (similitude).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA4-3.htm2006-06-01 12:20:12
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.4, C.4.
4. A MEDIDA PRPRIA DA UNIDADE.
Cf. Metafisica, V, 1, 8; X, l. 2. Transcendentalmente considerada, a
unidade se define sempre formalmente por sua ausncia de diviso.
A unidade numrica, que no seno um modo de unidade relativo
ao predicamento quantidade, tem como idia bsica de ser indivisa.
Entretanto, esta unidade numrica, comparada ao nmero que dela
procede, possui uma propriedade notvel: diz-se que ela a medida
do nmero, sendo a medida igualmente o que faz conhecer;
conheo, com efeito, um certo nmero quando, tendo-o reportado
unidade, declaro que conta por exemplo 10 unidades: o nmero 10
smente inteligvel pela referncia unidade que o mede. Poderia,
portanto, dizer que a unidade numrica a medida do nmero, a
indiviso permanecendo, por outro lado, sua razo constitutiva
prpria.
Essa propriedade de ser medida, que convm inicialmente unidade
numrica, se encontra proporcionalmente nos outros modos de
unidade. De incio, isto manifesto para tudo o que implica
quantidade contnua, comprimento, movimento, tempo. Para cada
uma dessas coisas h uma medida, graas qual tais coisas se
tornam plenamente inteligveis: tantos metros, tantos segundos.
Mas se pode tambm, por analogia, falar de medida na ordem dos
outros predicamentos. E reencontramos igualmente essa razo de
medida no conhecimento, a cincia medindo de uma certa maneira a
realidade que nos permite conhecer, e mais fundamentalmente, esta
medindo, a ttulo de objeto, as faculdades de conhecer. V-se que,
derivada das relaes entre o nmero e a unidade, esta noo de
medida termina por tomar um lugar extremamente importante no
pensamento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA4-4.htm2006-06-01 12:20:12
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.4, C.5.
5. O MLTIPLO OPOSTO AO UNO.
Cf. Metafsica, X, l. 4. Do mesmo modo que a unidade se segue
idia de indiviso, a multido se segue de diviso: o mltiplo o
ser dividido. Entre o uno e o mltiplo existe, j o sabemos, uma
oposio de privao. Donde a existncia de tantos modos de
multiplicidade quantos sejam os modos de unidade. Aplicar-nosemos particularmente em bem distinguir a multiplicidade numrica,
ou nmero, da multiplicidade transcendental que vale para todo
modo de ser, enquanto ste dividido. Tomar-se- cuidado
igualmente em no confundir a multido transcendental, no seu
sentido mais geral, e a multido das formas separadas (os anjos)
que constitui um modo particular, o mais eminente, desta multido
transcendental.
O fato de que o uno foi definido como a privao do mltiplo coloca
aqui uma dificuldade. Parece, com efeito, se assim fr, que o
mltiplo se situar como anterior ao uno, e no se ver mais como o
uno pode ser a medida, ou de algum modo, o princpio do mltiplo.
preciso responder que a diviso, da qual a negao constitutiva da
razo de unidade, no implica ainda formalmente o reconhecimento,
como tal, da multido: ste reconhecimento smente poder ter
lugar, uma vez percebida a unidade de cada uma de suas partes. De
maneira que o progresso verdadeiro do pensamento na elaborao
sucessiva dessas noes o seguinte (Metafsica, X, l. 4, n. 1998)
"Inicialmente
a
inteligncia
apreende o
ser, e em
seguida a
diviso;
aps esta, o
uno que
carece da
diviso, e
enfim a
multido
que
composta
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA4-5.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:13
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.4, C.5.
de
unidades.
Pois ainda
que as
coisas que
so
divididas
sejam
mltiplas,
elas no
possuem,
entretanto,
idia de
multido,
seno
depois que
se atribuiu a
isto e quilo
a unidade...
Sic ergo
primo in
intellectu
nostro cadit
ens, et
deinde
divisio; et
post hoc
unum quod
divisionem
privat, et
ultimo
multitudo
quae ex
unitatibus
constituitur.
Nam licet ea
quae sunt
divisa multa
sint, non
habent
tamen
rationem
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA4-5.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:13
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.4, C.5.
multorum,
nisi
postquam
huic et illi
attribuitur
quod sit
unum."
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA4-5.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:13
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.1.
OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O VERO.
1. FORMAO DA TEORIA DO VERO.
Com ste transcendental, penetramos em um domnio mais
complexo, pois le implica - como o bem - uma referncia do ser a
algo diverso dle. O que , portanto, o vero? primeira abordagem,
o vero se manifesta a ns como o fim na direo do qual tende todo
conhecimento, isto , como o fim ou perfeio da inteligncia:
conhecemos para possuir a verdade. E sob ste ponto de vista
subjetivo que Aristteles, principalmente, encarou a verdade. Com
Santo Agostinho, o doutor por excelncia da filosofia do vero, e com
tda a tradio que se liga ao seu nome, as perspectivas encontramse invertidas: a verdade aparece sobretudo como um objeto que
domina o esprito e que a le se impe: neste sentido, a verdade
inicial e fundamentalmente essa imutvel e eterna verdade divina, da
qual os espritos criados participam. Herdeiro desta dupla tradio,
S. Toms se esforar para conciliar as doutrinas: para le, a
verdade ser, ao mesmo tempo, sob diversos aspectos, perfeio do
conhecimento, ou verdade lgica, e propriedade objetiva do ser,
finalmente reportada cincia divina, ou verdade ontolgica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-1.htm2006-06-01 12:20:13
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.2.
2. VERDADE LGICA, VERDADE ONTOLGICA.
A verdade implica uma ordem do ser inteligncia; mas esta ordem
pode ser considerada ou enquanto subjetada principalmente na
inteligncia, ou enquanto qualificando diretamente o ser.
Consideremos, de incio, com Aristteles, a verdade na inteligncia.
Diremos que a inteligncia verdadeira quando, em seu ato,
conforme ao ser, ao que : um conhecimento verdadeiro um
conhecimento que est em relao de conformidade com seu objeto:
assim entendida, a verdade poderia ser definida: adaequatio
intellectus ad rem, a conformidade da inteligncia coisa. Se,
inversamente, nos colocamos no ponto de vista objetivo, deveremos
dizer que o ser verdadeiro na medida em que conforme
inteligncia; a verdade ser ento: adaequatio rei ad intellectum.
Uma e outra destas frmulas necessitam ser precisadas.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-2.htm2006-06-01 12:20:13
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.3.
3. A VERDADE LGICA.
Segundo sua significao original, o verdadeiro est na inteligncia
ou na potncia de conhecer na medida em que esta se conforma
coisa. Mas aqui dois casos podem se apresentar: ou a inteligncia,
mesmo estando conforme coisa, no o sabe, o que se produz na
simples inteleco e no conhecimento sensvel; ou minha
inteligncia, graas ao seu poder de reflexo, se apreende a si
mesma como conforme ao seu objeto, o que se realiza no juzo. O
verdadeiro est ento em minha inteligncia, como conhecido, o que
evidentemente mais perfeito do que quando a se encontra sem
que se saiba. S. Toms exprime perfeitamente esta doutrina neste
texto (Ia Pa. q. 16, a. 2):
"... A
verdade
definida pela
conformidade
da
inteligncia e
da coisa.
Segue-se da
que
conhecer
esta
conformidade
conhecer a
verdade. O
que os
sentidos no
conseguem
de modo
algum
realizar. A
vista, com
efeito, se
bem que
possua em si
a similitude
do que
visto, no
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-3.htm (1 of 4)2006-06-01 12:20:13
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.3.
percebe
entretanto de
modo algum
a relao
que existe
entre essa
coisa vista e
o que ela
conhece.
Pelo
contrrio, a
inteligncia
pode
conhecer a
conformidade
que possui
em relao
coisa
conhecida;
todavia no
a capta na
sua simples
apreenso
das
essncias,
mas
smente
quando julga
que a coisa
conforme
forma que
apreende;
ento, pela
primeira vez,
conhece e
diz o
verdadeiro...
A verdade
em
conseqncia
pode bem se
encontrar no
sentido ou
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-3.htm (2 of 4)2006-06-01 12:20:13
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.3.
na
inteligncia
enquanto
conhece a
natureza das
coisas, da
mesma
maneira que
em uma
coisa
verdadeira,
mas no
como o que
conhecido
no
cognoscente,
o que
implica o
trmo vero.
Ora, a
perfeio da
inteligncia
se encontra
no vero
enquanto
ste
conhecido.
De modo
que,
prpriamente
falando, a
verdade est
na
inteligncia
que compe
e que divide,
e no no
sentido, nem
na
inteligncia
como
faculdade da
simples
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-3.htm (3 of 4)2006-06-01 12:20:13
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.3.
apreenso
do que
uma coisa...
ideo proprie
loquendo
veritas est in
intellectu
componente
et dividente,
non autem in
sensu,
neque in
intellectu
cognoscente
quod quid
est."
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-3.htm (4 of 4)2006-06-01 12:20:13
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.4.
4. A VERDADE ONTOLGICA.
Se consideramos agora o vero nas coisas, ou como propriedade
transcendental do ser, devemos dizer ainda que se define por uma
ordenao inteligncia. E de nvo, dois casos podem se
apresentar: ou trata-se de uma inteligncia da qual a coisa
considerada depende, como a obra de arte do artista; ou trata-se de
uma inteligncia que, pelo contrrio, se submete, como ao seu
objeto, coisa que conhece. No primeiro caso, que o nico
essencial para a constituio da verdade ontolgica, as coisas se
subordinam, em ltima anlise, inteligncia criadora primeira; a
verdade , ento, a conformidade das coisas inteligncia divina de
que dependem. No segundo caso, que define smente uma relao
acidental das coisas a uma inteligncia (a inteligncia criada), a
verdade torna-se smente a aptido das coisas a ser o objeto de um
intelecto especulativo, como o intelecto humano (Cf. S. Toms, Ia
Pa. q. 16, a. 1).
Enfim, encontra-se a verdade:
- formalmente e
principalmente
na inteligncia
que julga;
- no sentido e
na simples
inteleco, ao
mesmo ttulo
que em
qualquer coisa
verdadeira;
- nas coisas,
essencialmente,
enquanto so
conformes
idia segundo
a qual Deus as
criou;
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-4.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:14
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.4.
- nas coisas,
acidentalmente,
em relao ao
intelecto
especulativo
que as pode
conhecer.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-4.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:14
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.5.
5. O FALSO.
Paralelamente ao estudo do vero, S. Toms instituiu o estudo do seu
contrrio, o falso. Notemos que, transcendentalmente, no pode
existir falsidade absoluta; o ser falso, nesse sentido, seria um ser
que escaparia causalidade criadora da inteligncia divina, o que
impossvel. S podemos falar de coisas falsas em relao
inteligncia criada, e na medida em que, pela sua aparncia exterior,
tais coisas se prestam a confuses sbre sua natureza verdadeira.
Como a verdade, a falsidade encontra-se principalmente no
conhecimento e formalmente no juzo, o qual falso quando declara
ser o que efetivamente no o , ou inversamente. O sentido e a
simples inteleco intelectual so sempre verdadeiros, pelo menos
enquanto so relativos ao seu objeto prprio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-5.htm2006-06-01 12:20:14
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.6.
6. APNDICE: O PRINCPIO DE RAZO DE SER.
A propsito da inteligibilidade ou da verdade do ser, leva-se em
conta freqentemente um princpio que no se encontra de maneira
explcita em S. Toms, o princpio de razo de ser: "Todo ser, dir-se, possui sua razo de ser". Que sentido se pode dar vlidamente a
esta frmula que o objeto de tantas contestaes e que, no se
pode negar, se liga, quanto s suas origens, ao racionalismo
leibniziano?
Tomemos como ponto de partida esta outra frmula que
autnticamente de S. Toms: "Todo ser verdadeiro", isto , todo
ser possui uma ordenao essencial inteligncia: "Todo ser
inteligvel", poder-se-ia dizer. Esta ltima frmula exige que seja bem
precisada. evidente, com efeito, que a inteligibilidade de que se
trata smente seria perfeita em relao a um ser perfeito, ou
perfeitamente ser, isto Deus. Os sres criados, constitudos de ser
e no-ser, guardaro necessriamente diante da inteligncia uma
certa opacidade. Se, portanto, quisermos evitar de cair em um
racionalismo inconsiderado, deveremos dizer: "Todo ser inteligvel
enquanto ser". Qual , agora, o fundamento desta inteligibilidade
do ser? No h outro seno ste: o ser possui "sua razo de ser",
que ao mesmo tempo o que determina o ser a ser, e o que o torna
inteligvel.
Realizemos um passo a mais. Esta razo de ser, o ser pode possu-Ia
de maneira suficiente em si mesmo, ou em virtude de sua prpria
natureza; o vermelho, o quadrado, por exemplo, so o que so
porque tm tal essncia -mas pode tambm ocorrer que um ser no
possua sua razo suficiente de ser em si mesmo ou em sua
essncia; que tal homem seja efetivamente branco no resulta de
sua natureza. Neste ltimo caso, dir-se- que ste ser deve ter sua
razo de ser em um outro que ser sua causa. o que afirma S.
Toms (Contra Gentiles, Il, c. 15) : "Tudo o que convm a uma coisa,
sem que seja por ela mesma, lhe convm por uma certa causa, como
a brancura ao homem".
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-6.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:14
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.6.
Omne
quod
alicui
convenit
non
secundum
quod
ipsum
est, per
aliquam
causam
convenit
ei, sicut
album
homini.
Por que deve ser assim? S. Toms prossegue: "O que no tem
causa primeiro e imediato e deve ser por si e segundo o que ".
Quod
causam
non habet,
primum et
immediatum
est; urde
necesse
est ut sit
per se et
secundum
quod
ipsum.
Assim, ou o ser por si e por essncia aquilo que , ou por um
outro. De onde se conclui, quanto ao nosso princpio, com esta
frmula:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-6.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:14
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.5, C.6.
"Todo
ser,
enquanto
,
possui
sua
razo de
ser em
si ou em
um
outro".
A bem dizer, exprimindo-se dessa maneira, dois tipos de
explicaes bem diferentes so abrangidos. No plano da essncia,
dir-se- que as propriedades tm sua razo de ser na essncia do
sujeito ao qual se reportam: assim, a igualdade a dois retos dos
ngulos de um tringulo resulta da natureza desta figura; a aptido
do homem a receber um ensinamento se deve sua natureza
racional. No plano do ser concreto ou da existncia, encontra-se a
explicao causal prpriamente dita: tal ser no existe por si, - o ser
contingente - esta rvore, esta pedra, tem a razo de ser de sua
existncia em um outro que sua causa e isto segundo as diversas
linhas da causalidade. Desta constatao resulta que o princpio de
razo de ser um princpio analgico, isto , smente deve ser
aplicado proporcionalmente aos diferentes tipos de explicao. Ao
se esquecer disto, corre-se o risco de cair no mais intemperante
nacionalismo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA5-6.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:14
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.6, C.1.
OS TRANSCENDENTAIS EM PARTICULAR. O BEM.
1. FORMAO DA TEORIA.
Como para o vero, S. Toms se encontra diante de uma dupla
tradio: a tradio platnica, continuada pelos agostinianos,
segundo a qual o bem se apresenta globalmente como um princpio
transcendente e separado, doutrina que culmina de modo natural na
afirmao da anterioridade e, portanto, da preeminncia do bem
sbre o ser; e a tradio mais realista do aristotelismo que,
considerando o bem de maneira mais experimental, dle faz uma
perfeio implicada nas coisas. Aqui ainda a uma obra de sntese,
mais exatamente a uma assimilao pelo peripatetismo da tese
oposta, que S. Toms vai-nos fazer assistir.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA6-1.htm2006-06-01 12:20:14
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.6, C.2.
2. A NATUREZA DO BEM.
Retomando a doutrina expressa no texto clebre do incio da tica a
Nicmaco, S. Toms define fundamentalmente o bem por sua
relao com o apetite: o bem aquilo para o qual tendem tdas as
coisas: quod omnia appetunt. Assim como o vero se definia por uma
relao da inteligncia como o ser, o bem se define por uma relao
do ser com o apetite, frmulas que no fazem mais do que sintetizar
os dados da experincia universal e comum. Mas enquanto o
verdadeiro se encontrava principalmente na potncia de conhecer, o
bem se encontra inicialmente na coisa: o bem a coisa mesma, na
medida em que a coisa funda a propriedade da apetibilidade.
Que todo ser tenha razo de bem, ou que o bem seja um
transcendental, S. Toms o manifesta pelo seguinte raciocnio: o
bem o que tdas as coisas desejam; ora, deseja-se uma coisa na
medida em que ela perfeita; ora, ela perfeita na medida em que
est em ato; ela est em ato na medida em que ser: portanto,
manifesto que bem e ser so realmente idnticos, mas o bem implica
a razo de apetibilidade, que o ser no exprime.
"Bonum est
quod omnia
appetunt:
manifestum
est autem
quod
unumquodque
est appetibile
secundum
quod est
perfectum... in
tantum autem
est perfectum
unumquodque,
in quantum ::
st in actu:
unde
manifestum
est quod in
tantum est
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA6-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:15
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.6, C.2.
aliquid bonum
in quantum
est ens, esse
enim est
actualitas
omnis rei...
Unde
manifestum
est quod
bonum et ens
sunt idem
secundum
rem: sed
bonum dicit
rationem
appetibilis
quod non dicit
ens".
Ia
Pa,
q.
5,
a.1
Ato, perfeio, bem: trs trmos de significao bastante vizinha,
que se solicitam um ao outro e cuja convenincia profunda assegura
a convertibilidade do ser e do bem.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA6-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:15
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.6, C.3.
3. BEM E CAUSA FINAL.
Cf. Ia Pa, q. 5, a. 4. Uma outra aproximao se impe, a das noes
de bem e de causa final: manifesto, com efeito, que o que cada
coisa podc desejar a ttulo de causa final no pode ser para ela
seno um bem; e, inversamente, todo bem pode ter razo de causa
final "Cum bonum sit quod omnia appetunt, hoc autem habet
rationem f inis, manifestum est quod bonum rationem f inis
importat". H aqui evidncias imediatas para qualquer um que tenha
tomado conscincia do sentido dstes trmos; a ordem do bem e a
da finalidade coincidem perfeitamente.
Deve-se observar que a causalidade final implica uma causalidade
eficiente e, no princpio desta, uma causalidade formal; entretanto,
de modo prprio, o bem age apenas como causa final, ou suscitando
o desejo dela. Todo sse aspecto irradiante do bem, que se encontra
expresso neste famoso adgio que o bem difusivo de si mesmo,
bonum est diffusivum sui, no dever, portanto, ser compreendido
como uma espcie de atividade eficiente ou de irradiao
prpriamente dita. A causa final, o bem, como tais, se comportam
como motores imveis, enquanto determinam smente o movimento
de apetio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA6-3.htm2006-06-01 12:20:15
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.6, C.4.
4. AS MODALIDADES DO BEM.
O bem, sendo convertvel com o ser, como ste uma noo
analgica de mltiplas significaes: h um bem correspondente a
cada ser particular. Retomando uma frmula de Santo Ambrsio, a
tradio reteve sobretudo a grande diviso em bem honesto, til ou
deleitvel. Se a compreendermos de maneira correta, esta diviso
aparecer como exaustiva. Consideremos, com efeito, um apetite em
tendncia para o bem. O que desejado pode ser, seja um meio
ordenado a um fim ulterior, seja o prprio fim. No primeiro caso, o
bem desejado, a ttulo de meio, o bonum utile. No segundo caso,
dois pontos de vista podem ainda ser considerados: ou o bem de
que se trata o prprio trmo objetivo do movimento apetitivo e se
tem o bonum honestum (deve-se notar a significao especial aqui
do trmo honestum; o bem honesto o bem como simples trmo do
desejo, e nada mais); ou o bem considerado designa a posse
subjetiva deste ltimo, o quies in re desiderata, e se tem o bonum
delectabile (no h evidentemente deleite no sentido prprio da
palavra seno para os sres dotados d. afetividade). claro que o
primeiro dstes trs bens o bem honesto, ao qual os outros se
reportam a ttulo de meio de complemento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA6-4.htm2006-06-01 12:20:15
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.6, C.5.
5. O MAL ENQUANTO OPOSTO AO BEM.
O problema do mal possui aspectos mltiplos e diversos. Tambm
no se trata aqui seno de indicar qual posio de princpio adotou
S. Toms a partir de sua concepo do bem. A significao de um
trmo de modo corrente tornada manifesta atravs da significao
de seu oposto: assim as trevas so tornadas manifestas pela luz.
Ora, sabemos que todo ser tem a idia de bem. O mal, que o
oposto ao bem, no pode pois designar positivamente o ser:
smente pode corresponder a uma certa ausncia de ser:
"Non
potest
esse quod
malum
significet
quoddam
esse, seu
quamdam
formam,
seu
naturam.
Relinquitur
ergo,
quod
nomine
mali
significatur
quemdam
absentiam
boni".
Ia
Pa,
p.
48,
a.
2
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA6-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:15
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.6, C.5.
Mas importante precisar que no tda e qualquer negao de ser
que tem a determinao do mal: smente tem ste direito a negao
ou, mais exatamente, a privao de uma modalidade de ser que
deveria se encontrar em um sujeito. Em conseqncia, no poder
haver mal absoluto; supondo-se, com efeito, um certo sujeito, todo
mal repousa sbre algo de positivo que no pode ser seno algo de
bom. Enfim, o mal jamais pode ser desejado por si mesmo; um
apeite smente pode se referir a um bem. Se, portanto, um apetite
parece relacionado a algum mal, isto no mais do que uma
aparncia; ele se refere em realidade a um bem que lhe conexo.
S, em definitivo, o bem pode ser desejvel: solum bonum habet
rationem appetibilis,
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA6-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:15
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.6, C.6.
6. APNDICE: O PRINCPIO DE FINALIDADE.
O estudo da causalidade na natureza j forneceu a ocasio de
abordar a noo de finalidade. Mas aqui que convm encarar esta
noo em tda sua universalidade. A causa final, acabamos de dizer,
s pode corresponder a um bem, e, inversamente, todo bem um
fim. Do ponto de vista da atividade ou do ser em tendncia, todo
agente age portanto em vista de um fim, o que a prpria frmula do
princpio dito de finalidade:
Omne
agens
agit
propter
finem.
Diversas justificaes, em planos diferentes, podem ser dadas dste
princpio. Mas a razo metafsica mais profunda da necessidade de
um fim para tda ao se encontra no fato de que um agente, que do
ponto de vista de sua atividade est em potncia, carece para agir,
de ser determinado. le agir smente se fr determinado a alguma
coisa de certo que tenha funo de fim.
"Si enim
agens non
esset
determinatum
ad aliquem
affectum,
non magis
ageret hoc
quam illud.
Ad hoc ergo
quod
determinatum
effectum
producat,
necesse est
quod
determinetur
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA6-6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.6, C.6.
ad aliquid
certum, quod
habet
rationem
finis".
Ia
IIae,
q.
1,
a. 2
No fundo, ainda a doutrina fundamental da ordenao essencial da
potncia ao ato - ou da determinao daquela a partir dste - que
entra em jgo.
Restaria mostrar, como o faz S. Toms no artigo que acabamos de
citar, que sse princpio se aplica analgicamente. Um o exerccio
da finalidade na natureza inaminada, que essencialmente movida
rumo a um fim, e outro nos sres racionais que se movem a si
mesmos na direo de um fim que conhecem. E ainda outra coisa
na medida em que se v transposto na prpria atividade divina.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA6-6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.7, C.1.
OS TRANCENDENTAIS. CONCLUSO.
1. O SISTEMA DOS TRANSCENDENTAIS
Pode-se falar em filosofia tomista de um sistema de
transcendentais? De fato, a elaborao qual acabamos de
proceder das grandes propriedades do ser no foi obtida de modo
dedutivo. O recurso experincia ou ao dado foi exigido em cada
caso. Entretanto, uma vez que foram divididas, as propriedades
transcendentais constituem um conjunto ordenado e
verdadeiramente coerente no qual seqncias necessrias de
termos podem ser discernidas. Estas seqncias, que j
encontramos algumas vzes, so as seguintes
ser - no-ser - princpio de no contradio
ser (como existente) - ser (como essncia) - princpio de identidade
ser - diviso - uno - mltiplo
ser - uno - verdadeiro
ser - ato - perfeito - apetecvel - bem
Se tentarmos representar como o esprito conduzido a encadear
esta srie de noes, somos levados a dizer que por uma atividade
de distino ou de oposio (oposio que vai da contradio
absoluta a simples relao). Como Hegel e Hamelin o pressentiram,
a contradio possui, portanto, um papel absolutamente
fundamental na vida do esprito: ela como que o princpio mesmo
do seu desevolvimento. Mas a oposio na filosofia realista se funda
sempre sbre o dado, do qual no faz mais do que afirmar a
diversidade antittica.
Quais so os aspectos mais notveis dsse sistema dos
transcendentais? Primeiro que tudo, ele realista, mais
precisamente, ele se funda sbre o primado da noo de ser. Na
linha do pitagorismo ou do platonismo, houve a tendncia de se
colocar acima do ser o bem ou o uno e de se considerar estas
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA7-1.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.7, C.1.
noes como princpios separados das coisas que dles s
participam de longe. Com S. Toms, o dado primeiro o ser, isto o
real; o uno e o bem no so mais do que suas propriedades. Por
outro lado, se nessa doutrina h igualmente um Ser, dotado de
unidade e bondade, do qual tda criatura participante, a
consistncia metafsica dessas coisas no mundo no com isso
seno melhor afirmada. No duplo sentido que acabamos de definir,
estamos em pleno realismo. Estando, assim, ste realismo
fortemente unificado. Graas convertibilidade das noes
transcendentais, a ordem do pensamento e a da ao,
respectivamente comandadas pelo vero e pelo bem, se encontram
no ser. E finalmente tudo se unifica no ser primeiro que
idnticamente unidade, verdade e bondade.
ste realismo metafsico nos aparece, por outro lado, com o carter
de um intelectualismo. S. Toms teve o cuidado de notificar que
entre os transcendentais h uma ordem: h, de incio o ser, depois o
uno, em seguida o vero e, enfim, o bem.
"Unde istorum
nominum
transcendentium
talis est ordo si
secundum se
consideratur:
quod post ens
est unum,
deinde verum,
deinde post
verum bonum".
O vero, S. Toms gosta de repetir, anterior ao bem. O que
manifesto por duas razes (Ia Pa, q. 16, a. 4): 1. porque o vero est
mais prximo do ser, sendo le mesmo anterior ao bem; o vero, com
efeito, est em relao ao ser considerado absolutamente ou
imediatamente, ao passo que a "razo" do bem segue-se ao ser
enquanto ste perfeito; 2. porque o conhecimento precede
naturalmente a apetio. Portanto, tanto do lado do ato como do
lado do objeto, h prioridade da ordem da verdade sbre a do bem.
As grandes orientaes do sistema de S. Toms so, v-se,
determinadas desde os primeiros passos do pensamento metafsico.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA7-1.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.7, C.1.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA7-1.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.8, C.1.
AS CATEGORIAS
1. INTRODUO S CATEGORIAS.
At aqui, apenas consideramos o ser em si mesmo ou segundo as
propriedades que lhe convm universalmente. Com as categorias
abordamos o estudo das suas modalidades particulares, a dos tipos
de ser realmente distintos uns dos outros. Que haja uma
multiplicidade de tais modalidades um fato que se imps de
maneira manifesta a Aristteles. Indutivamente ou por anlise do
dado, Aristteles foi conduzido a reconhecer a existncia de dez
gneros supremos do ser, cuja coleo tornou-se clssica na sua
escola. stes gneros se dividem seguindo a dicotomia maior da
substncia, ser que em si, e do acidente, ser que smente pode
existir em outro; o acidente se distingue em nove modos, a
quantidade (quantitas), a qualidade (qualitas), a relao (relatio), a
ao (actio), a paixo (passio), o lugar (ubi), a posio (situs), o
tempo (quando), a posse (habitus).
J sabemos que as categorias so modos analgicos do ser. Elas
constituem, para Aristteles, o caso tpico da analogia de atribuio.
Assim como a medicina, a urina etc. . . so ditas ss em relao
sade possuda prpriamente pelo vivente, assim os diversos
acidentes so ditos ser em relao substncia, o ser por
excelncia. Entretanto, como o ser tambm anlogo segundo uma
analogia de proporcionalidade, os acidentes so igualmente ser.
Contudo, o ser primeiro e fundamental a substncia e por isto
que nossa reflexo se concentrar principalmente sbre essa
categoria.
Observemos desde agora que as categorias na sua totalidade no
podem convir seno aos sres materiais, aquelas que se reportam
quantidade no tm evidentemente lugar no domnio das
substncias espirituais. Por outro lado, para S. Toms, esta diviso
do ser s se aplica ao ser criado. Deus permanece, portanto, acima
dos gneros supremos: donde decorre, em particular, que
ilegtimo defini-lo, como se faz por vzes, definindo-o como uma
substncia; neste ponto o prprio pensamento de Aristteles
permanece assaz ambguo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA8-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.8, C.1.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA8-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:16
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.1.
A SUBSTNCIA
1. EXISTNCIA DA SUBSTNCIA.
A existncia de sres substanciais ou de substncias admitida por
Aristteles e por S. Toms sem aparentes hesitaes. Para les,
um fato evidente, ou pelo menos uma constatao que impe a mais
elementar anlise do dado. A filosofia moderna, pelo contrrio,
desde Locke, v a tdas as espcies de dificuldades e, de modo
corrente, termina pela sua negao. Como - dizem - podeis ter a
pretenso de atingir um objeto que por definio se situa aqum
daquilo que nos aparece? Nosso conhecimento termina nos
fenmenos e no pode ir adiante; a afirmao da substncia ,
portanto, inteiramente arbitrria, se j no fr contraditria. E,
precisam alguns, se o senso comum levado a supor a existncia,
sob as aparncias, dste sujeito inerte do qual a filosofia fz a sua
substncia, no apenas para satisfazer os postulados lgicos da
atribuio? Uma vez que h um sujeito na proposio, no deve
igualmente haver um na realidade: a substncia no mais do que
uma reificao indevida do sujeito lgico da proposio. Estas
crticas obrigam o moderno discpulo de S. Toms a considerar de
mais perto os fundamentos sbre os quais repousa sua doutrina da
substncia.
A anlise mais simples e mais bvia que possa nos colocar na via da
descoberta da substncia a da mudana. O dado do conhecimento
se nos apresenta sob a forma de uma multiplicidade de aspectos
variados. Dstes, alguns so mutveis, enquanto outros parecem
permanecer estveis. Consideremos o exemplo mais banal. Eis aqui
a gua que se esquenta. Sua temperatura se eleva, mas estamos
persuadidos que a gua permanece sempre gua. No posso mesmo
conceber que ela se tornou mais quente, que adquiriu uma nova
qualidade na ordem calorimtrica, se ela no permaneceu a mesma
gua. Se no subsistisse absolutamente nada da gua primitiva ao
trmo da transformao, no se poderia dizer que esta gua
esquentou. Como Aristteles o fz ver bem na sua pesquisa sbre
os princpios do ser da natureza, a noo de mudana supe
necessriamente a de sujeito ou de substrato. Talvez sse sujeito
seja le mesmo mutvel, o que me conduzir a reconhecer-lhe um
sujeito mais primitivo, e assim sucessivamente. Mas como no
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-1.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:17
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.1.
posso recuar indefinidamente no reconhecimento dos sujeitos
sucessivos, ser preciso que, finalmente, admita a existncia de um
primeiro sujeito que ser essencialmente sujeito. Levada ao seu
trmo, esta anlise nos conduziria com Aristteles at o
reconhecimento da matria primeira que , de algum modo, anterior
substncia. Mas se nos detivermos no plano das modificaes
acidentais, isto , daquelas que supem a permanncia de um
substrato de natureza j determinada, atingiremos com certeza a
substncia na sua funo de sujeito da mudana. Tda mudana
que no afeta a natureza mais profunda das coisas supe a
permanncia desta natureza, isto , a substncia.
Esta demonstrao da substncia a partir da anlise da mudana
incontestvelmente vlida; contudo, ela no faz atingir diretamente a
substncia no que ela tem de mais essencial; e, por outro lado no
por ste desvio que Aristteles aborda esta primeira categoria do
ser. Com efeito, eis o que lemos no incio do Livro 7: "O ser se toma
em vrias acepes. Significa, com efeito, de um lado, a essncia e o
indivduo determinado; de outro lado, que uma coisa possui tal
qualidade ou tal quantidade ou cada um dos predicamentos dessa
espcie. Mas dentre stes sentidos to numerosos do ser, v-se
claramente que o ser, no sentido primeiro, a essncia que indica
precisamente a substncia... As outras coisas smente so
chamadas ser porque so ou quantidades do ser prpriamente dito,
ou qualidades, ou afeces dsse ser, ou qualquer outra
determinao dsse gnero... , portanto, evidente que por esta
categoria (a substncia) que cada uma das outras categorias
existem. De modo que o ser, no sentido fundamental, no tal modo
de ser, mas o ser absolutamente falando deve ser a substncia".
Para Aristteles, se ela se manifesta com os caracteres de um
substrato, a substncia tem, portanto, tambm o valor de ser
primeiro, de princpio de existncia, sob um certo ponto de vista,
para as outras modalidades. que o fundamento profundo desta
anlise que conduz substncia no outro seno a natureza
analgica do ser. H mltiplas modalidades do ser, um fato, e esta
multiplicidade smente inteligvel se possui uma certa unidade, e
ela no pode ter unidade seno em relao a um primeiro trmo que
ser o ser essencial e fundamental (pelo menos em uma certa
ordem). A substncia aparece aqui como o princpio de unidade e de
inteligibilidade do dado que mltiplo.
V-se, pois, o que convm responder aos que pretendem que a
substncia seja uma entidade quimrica ou pelo menos que escapa
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-1.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:17
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.1.
ao nosso poder, porque nossa percepo se deteria nos fenmenos
e, portanto, nos acidentes. De incio, preciso afirmar que o que
imediatamente dado no , nem o fenmeno no sentido subjetivista
da palavra, nem a substncia como tal, mas o ser concreto
implicando indistintamente substncia e acidentes. A anlise nos
permite, em seguida, discenir neste conjunto global as modalidades
mutveis e diversas, de que se tratou precedentemente, e remontar,
para torn-las inteligveis, - substncia, ao mesmo tempo substrato
e ser primeiro, qual todo 0 organismo dos acidentes se reporta. Se,
portanto, no , a bem dizer, o objeto de uma intuio, a substncia
atingida em virtude de uma inferncia imediata e necessria.
De onde esta conseqncia extremamente importante: estamos na
impossibilidade de distinguir de modo imediato e evidente as
substncias particulares. Rigorosamente, as anlises feitas at aqui
no nos impeliriam seno a reconhecer a existncia necessria de
uma s substncia criada. Todavia a hiptese de uma pluralidade de
substncias infinitamente mais conforme ao dado. Parece
prticamente impossvel recusar a individualidade substancial dos
sres vivos e, ainda que isto seja menos claro, dos elementos
ltimos do mundo inorgnico. Aos que pretendem que a doutrina da
substncia no mais do que uma transposio ontolgica
arbitrria de um esquema lgico de pensamento, preciso
responder fazendo valer, por uma anlise do juzo, que as
modalidades da afirmao correspondem com efeito a verdadeiras
determinaes do ser objetivo que as condicionam. As categorias, e
portanto a substncia, tm uma envergadura realista ao mesmo
tempo que uma significao lgica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-1.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:17
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.2.
2. NATUREZA E PROPRIEDADES DA SUBSTNCIA
Cf. notadamente: Aristteles, Categorias, c. 5.
No sentido etimolgico da palavra, o trmo substncia significa o
que est por debaixo das aparncias ou dos acidentes (sub-stare), e
que, por ste fato, o sujeito dos acidentes. Esta propriedade de ser
o suporte dos acidentes pertence com efeito substncia, mas no
exprime a sua natureza mais profunda. Aristteles dela se aproxima
bastante quando no incio do cap. 5 das Categorias declara: "A
substncia no sentido mais fundamental, primeiro e principal do
trmo, o que no est, nem afirmado do sujeito, nem em um
sujeito." Esta segunda definio corresponde bem essncia da
substncia, mas ainda no a caracteriza seno negativamente, como
um non esse in subjecto. Ora a substncia deve evidentemente ser
uma perfeio positiva que ser melhor significada pois pela
expresso esse in se.
Assim, pois, segundo nosso modo de conceber, a substncia
aparece sucessivamente coma o ser suporte dos acidentes, o ser
que no est em um outro, o ser que em si. Mas um gnero
particular do ser smente pode se distinguir pelo seu aspecto
qiditativo, enquanto uma natureza; se portanto se quer chegar a
uma frmula perfeitamente exata, no se definir a substncia como
o que (de fato) existe em si, mas "o que apto a existir em si e no
em um outro como em um sujeito de inerncia"
quod
aptum est
esse in se
et non in
alio
tanquam in
sujecto
inhaesionis.
Diz-se ainda que a substncia "o ser por si" ( per se ens) e que tem
por constitutivo formal a "perseidade". Esta frmula admissvel,
mas, com a condio de se fazer observar o valor no causal da
determinao "por si". Em trmos rigorosos, smente Deus .o ens
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:17
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.2.
per ser. A substncia "por si" smente no sentido de que possui
em si tudo o que preciso para receber a existncia. Lgicamente,
reconhecer, em tda a sua fra, a "perseidade" na substncia
conduz, nas pegadas de Espinoza, ao monismo pantesta.
Nos livros 7 e 8 da Metafsica, procurando precisar a natureza da
substncia sensvel, Aristteles se pergunta se essa substncia no
deve ser levada a uma destas quatro coisas: o universal, o
substrato, a forma ou o composto dos dois ltimos. Eliminando
absolutamente a soluo platnica, segundo a qual a substncia
seria uma idia separada, chega concluso, sem afastar
inteiramente a hiptese da substncia - substrato, que a substncia
sobretudo forma, isto , a causa "em razo da qual a matria algo
de definido". Assim, a substncia, mesmo sendo substrato,
tambm, e sobretudo, princpio formal, isto , essncia determinada,
o que nos afasta da concepo puramente receptiva de sujeito
material dos acidentes.
Na seqncia do cap. 5 das Categorias, Aristteles enumera uma
srie de seis propriedades da substncia que a tradio escolstica
fz sua. A primeira, no ser em um sujeito, non esse in subjecto, em
realidade apenas reproduz a frmula negativa da definio da
substncia. A segunda, ser atribudo em um sentido sinnimo,
univoce praedicare, smente pode convir, evidentemente,
substncia segunda. A terceira, significar "ste algo", significare
hoc aliquid, se refere, pelo contrrio, non habere contrarium, vale
igualmente para os dois gneros de substncia. O mesmo ocorre
com a quinta, no ser suscetvel de mais e de menos, non suscipere
majus et m, inus, que significa, no que uma substncia possa ser
mais ou menos substncia do que outra, mas que a mesma
substncia no poder jamais ser dita mais ou menos do que em si
mesma. Enfim, com a sexta, ser apto a receber os contrrios, esse
susceptivus contrariorum, atingimos o que o carter distintivo, o
proprium, da substncia. Nenhum outro modo de ser poder,
permanecendo idntico a si mesmo, receber sucessivamente os
contrrios: a mesma cr no pode ser branca e negra, ao passo que
o mesmo corpo de branco pode tornar-se negro. Tais so para
Aristteles as propriedades da substncia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:17
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.2.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:17
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.3.
3. DIVISES DA SUBSTNCIA.
Substncias primeiras, substncias segundas. A mais clssica das
divises aristotlicas da substncia a que se encontra nas
Categorias (c.5) em substncias primeiras e substncias segundas.
A substncia primeira no outra coisa seno o sujeito individual
concreto, "Pedro", "Callias"; ela no est em um sujeito e no pode
ser atribuda a um sujeito. A substncia segunda designa o universal
que exprime a essncia de um sujeito, "homem", "cavalo"; ela no
est, prpriamente falando, em um sujeito, mas pode, por outro lado,
ser atribuda a um sujeito: assim pode-se dizer que "Pedro
homem". fcil ver que esta distino, feita do ponto de vista das
possibilidades da atribuio, possui um intersse principalmente
lgico. Para o metafsico, a substncia diretamente o sujeito
concreto, isto , a substncia primeira.
Substncia simples e substncias compostas. A diviso essencial
do predicamento substncia a que corresponde primeira
dicotomia da rvore de Porfrio em substncias simples (imateriais)
e substncias compostas (materiais).
As substncias materiais so caracterizadas pela sua composio
interna em matria e forma; e stes dois elementos so dois
princpios complementares que, com exceo do caso da alma
humana, no podem subsistir isoladamente. Foi, recorda-se,
principalmente o fenmeno fsico da gerao e da corrupo das
substncias materiais que conduziu ao reconhecimento dstes dois
princpios distintos. A substncia material dividida, de um ponto
de vista lgico, pelas diferenas vivente, no vivente etc... De um
outro ponto de vista, os antigos admitiam uma outra distino das
substncias corporais que a fsica moderna abandonou: a de corpos
corruptveis e a de corpos incorruptveis. Uns e outros eram
compostos de matria e forma mas, ao passo que as substncias
sublunares se encontravam submetidas ao conjunto das
transformaes, compreendidas, gerao e corrupo substanciais,
as substncias celestes eram incorruptveis na sua natureza e
sujeitas smente s mudanas de lugar.
As substncias imateriais no so compostas de matria e forma.
Por analogia smente dir-se- que elas so formas separadas. O
estudo metafsico e notico destas substncias apenas foi bem
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:17
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.3.
conduzido na filosofia crist, qual a doutrina revelada dos anjos
assegurava um slido ponto de apoio. Para S. Toms, pelo fato de
que elas no possuem matria, estas substncias no podem ser
multiplicadas numricamente; cada anjo nico em sua espcie, e o
conjunto das espcies anglicas constitui, segundo a diversidade
das essncias, uma hierarquia formal.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:17
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.4.
4. PROBLEMAS RELATIVOS SUBSTNCIA.
Unidade do composto substncia-acidentes. Substncia e acidentes
so realmente distintos. O argumento mais manifesto a favor dessa
distino que os acidentes, pelo menos alguns dentre les, podem
mudar e mesmo totalmente se corromper sem que a substncia seja
modificada. Pode-se igualmente fazer valer que a natureza de certos
acidentes se ope da substncia, o que acarreta a real distino
das duas modalidades de ser (a quantidade, por exemplo, implica
por si a divisibilidade, ao passo que a substncia diz, de incio,
unidade). Mas, objetar-se-, pela afirmao da realidade da distino
substncia-acidentes, no se chegar a comprometer a unidade do
ser concreto e a tornar pouco inteligveis suas mutaes, as quais
no parecero mais ser, nesta hiptese, seno transformaes de
superfcie artificialmente superpostas inrcia dos substratos
imveis? preciso responder a estas objees que poderamos
encontrar no fundo de muitas das dificuldades dos modernos, que a
real distino dos acidentes no impede que stes constituam com a
substncia um nico ser concreto. les no tm, em verdade,
existncia independente: les "inerem", "in-existem", se se pode
assim falar, no sujeito. O que existe, o ser concreto, na sua
realidade substancial, completada por suas modalidades acidentais.
Do mesmo modo, o que muda, o que age o mesmo ser concreto,
actiones sunt suppositorum: o homem que pensa, o fogo que
queima. Nada de mais inexato, portanto, do que se representar a
substncia como uma espcie de suporte inerte sob um
revestimento superficial e mutvel de acidentes. Ainda que
realmente mltiplo em seus princpios, o ser concreto uno e age
por tudo o que .
Individuao da substncia material. Sendo a substncia o ser
concreto, esta no poder existir seno no estado de indivduo.
Ento, uma vez que, de fato, sses indivduos so mltiplos, se pe
a questo de saber em que sses indivduos se distinguem uns dos
outros. No caso das substncias espirituais que so formas puras,
pela sua forma ou pela sua essncia mesma, e em conseqncia no
pode haver vrias substncias dste tipo possuindo uma mesma
natureza: todos os anjos, dir-se-, so de espcies diferentes.
Acontecer o mesmo no caso das substncias materiais? Aqui se
encontram manifestamente multiplicidades de indivduos de mesma
espcie, isto , que so formalmente os mesmos. Um outro princpio
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-4.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.4.
de diferenciao, ou se se quiser, de individuao aqui exigido.
Conforme Aristteles, S. Toms julga que ste princpio de
individuao s pode ser, radicalmente, a matria. O ser que
individuado na sua substncia s pode s-lo por um princpio
substancial que, no sendo neste caso a forma, neeessriamente a
matria. Todavia a matria s preenche esta funo se fr
determinada por um acidente, a quantidade, materia signata
quantitate. S. Toms (De Trinitate, q. 4, a. 2) d a razo disso. A
forma, com efeito, s pode ser individuada se fr recebida em tal
matria distinta e determinada. Ora, a matria smente divisvel, e
portanto distinguvel, pela quantidade. No haver, pois, para ser
distinta seno uma matria j compreendida sob certas dimenses
ou quantificada. S.
Toms precisa, em seguida, que essa quantificao no implica
necessriamente um trmo preciso ou dimenses determinadas,
mas smente dimenses cujo trmo no fixado, e pode assim
concluir que: "ex his dimensionibus interminatis efficitur haec
materia signata, et sic individuat formam, et sic ex materia causatur
diversitas secundum numerum in eadem specie".
O problema da subsistncia. O aprofundamento dos mistrios
revelados, notadamente o da incarnao, conduziu posio de um
nvo problema, o da subsistncia, problema que no desprovido
de intersse para a filosofia.
Notemos que nestas pesquisas designa-se pelo trmo de
suppositum o indivduo substancial subsistente; no caso do ser
dotado de razo tambm chamado pessoa, persona. Eis do que se
trata ento: em um indivduo concreto no h lugar para se
estabelecer uma distino real entre a pessoa ou o suppositum de
um lado, e a natureza ou a essncia individual de outro lado? E, no
caso de uma distino real, por qual razo formal a substncia
existente possui esta independncia esta incomunicabilidade, que a
separa de tda outra substncia?
Os comentadores de S. Toms, desde Caietano, se decidem o mais
comumente pela distino real e, para determinar ou terminar a
substncia na ordem da autonomia concreta, requerem uma
formalidade particular, a subsistncia, que, a ttulo de modo
substancial, vem dar natureza considerada o pertencer
prpriamente a tal indivduo, o ser incomunicvel. A razo que se
invoca em favor da instituio desta entidade de acrscimo que a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-4.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.9, C.4.
essncia, se ela possui por si o que preciso para determinar e,
portanto, para limitar a existncia do ponto de vista da natureza
especfica, permanece, no entanto, impotente para dar conta da
subsistncia independente. Em definitivo, na ordem do criado, o
sujeito concreto aparece como uma natureza individual que culmina
em um modo substancial distinto, a subsistncia, e que vem atuar,
do ponto de vista do ser, a existncia que lhe prpria.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20P...ri/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA9-4.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.1.
OS ACIDENTES
1. A NOO DE ACIDENTE.
A substncia designava o ser que subsiste, por si; o acidente se
define como princpio real de ser ao qual convm existir em um
outro como em um sujeito de inerncia:
Res cui
competit
inesse in
alio
tanquam in
subjecto
inhaesionis.
Duas coisas devem ser sublinhadas nesta definio: o acidente a
bem dizer no existe por si mesmo, apenas existe no sujeito, ou
melhor, o sujeito que existe por le. O sujeito que
necessriamente exigido para receber o acidente s pode ser um ser
j constitudo ou em ato de ser, e que esteja, entretanto, em potncia
em relao perfeio que a forma acidental deve lhe trazer. Enfim,
no ser intil relembrar que o acidente predicamental deve ser
cuidadosamente distinto do acidente predicvel, o qual corresponde
apenas a um modo lgico de atribuio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-1.htm2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.2.
2. O SISTEMA DOS ACIDENTES.
A coleo dos nove acidentes parece ter sido constituda de maneira
emprica por Aristteles. Pode-se entretanto, como o fz S. Toms
(Cf. Fs. III, l. 5; Metaf. V, l. 9), organiz-la em um sistema; os
acidentes se agrupam ento em trs classes, segundo determinem o
sujeito de modo intrnseco, de modo extrnseco ou de modo misto:
"Um
predicado
pode se
reportar de
trs maneiras
a um sujeito.
De uma
primeira
maneira, na
medida em
que o que
o sujeito; por
exemplo,
quando digo
que Scrates
animal. Pois
Scrates o
que o
animal. E ste
predicado
dito significar
a substncia
primeira que
a
substncia
particular a
que tudo
atribudo.
De uma
segunda
maneira, de
tal sorte que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-2.htm (1 of 5)2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.2.
o predicado
corresponde
ao que inere
ao sujeito:
seja que ste
predicado
inira por si e
de modo
absoluto, ou
fazendo
seqncia
matria e temse a
quantidade ou fazendo
seqncia
forma e temse a
qualidade seja que inira
de modo no
absoluto, mas
em relao a
um outro e
tem-se a
relao.
De uma
terceira
maneira, de
tal sorte que
o predicado
seja tomado
do que
exterior ao
sujeito: e isto
de dois
modos
diferentes. De
um modo, de
sorte que
esteja
absolutamente
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-2.htm (2 of 5)2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.2.
fora do
sujeito, e
ento no
medida do
sujeito,
atribudo
segundo o
modo da
posse;
quando se diz
por exemplo:
Scrates est
calado ou
vestido; se,
pelo
contrrio,
medida do
sujeito, a
medida
extrnseca
sendo o
tempo ou o
lugar o
predicado ou
se reporta ao
tempo e se
tem o tempo
ou ao lugar e
se tem o
lugar quando
no se
considera a
ordem das
partes no
lugar, a
posio
quando se
considera
esta ordem.
De um outro
modo, de tal
sorte que o
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-2.htm (3 of 5)2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.2.
fundamento
do
predicamento
considerado
se encontre
sob uma
certa relao
no sujeito ao
qual
atribudo. Se
a ttulo de
princpio, temse a ao; se
a ttulo de
trmo, tem-se
uma
atribuio
segundo o
modo da
paixo, a
paixo tendo
o seu trmo
no sujeito
receptivo."
Metaf.,
V, l.
9, 891892
Se apreciarmos stes dados, seremos levados a reconhecer que
dois das predicamentos enumerados, mesmo correspondendo a
modos de ser e de atribuio realmente originais, no apresentam
entretanto um grande intersse como os outros. O habitas (a posse),
com efeito, designa um acidente to exterior ao ser que constitui em
si mesmo uma outra substncia (por exemplo, o vestimento); por
outro lado, apenas se refere a um tipo particular de sujeito, o
homem. O situs, (a situao), se distingue bem do lugar, o qual no
diz nada da situao relativa das partes, mas claro que um
predicamento derivado e, a ste ttulo, menos significativo que os
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-2.htm (4 of 5)2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.2.
outros. Aristteles mesmo nem sempre reteve stes dois
predicamentos em sua nomenclatura.
De resto, ste sistema de modalidades do ser apenas vlido para a
substncia material. S esta evidentemente quantificada, s esta
pode ter (uma de suas espcies pelo menos) posses exteriores, s
esta igualmente est submetida ao quadro das condies espaotemporais e das condies da ao transitiva. O estudo da
quantidade, da posse, do lugar, do tempo, da situao, da ao, da
paixo, pertence, pois, prpriamente filosofia da natureza. Aqui,
cumpre-nos apenas remet-lo para l. Restam duas categorias, a
qualidade e a relao, que, se encontrando no ser imaterial, dizem
respeito mais especialmente metafsica.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-2.htm (5 of 5)2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.3.
3. A QUALIDADE.
A doutrina da qualidade foi exposta por Aristteles principalmente
nas Categorias (c.8) e secundriamente na Metafsica (L.5, c.14). A
mais simples observao dsses textos manifesta que o filsofo
procedeu, segundo seu costume, por uma anlise emprica,
colecionando e classificando as principais modalidades de ser que
pareciam suscetveis de se alinhar nessa categoria. A forma
sistemtica tomada pela exposio clssica dessa questo obra de
seus comentadores, notadamente S. Toms.
Natureza da qualidade. Os gneros supremos, a bem dizer, no se
definem; so noes primitivas das quais se trata smente de ter
uma viso distinta. Aristteles leva a isto no caso que nos interessa,
convidando a considerar o efeito da categoria; a qualidade o que,
concretamente, "qualifica" a coisa:
qualitas
est
secundam
quam res
quales
dicuntur.
O fato de "qualificar" um sujeito pertence em uma coisa sua forma,
que lhe confere ser tal coisa especificamente distinta de outras
coisas. Mas esta determinao primeira no suficiente para
assegurar a perfeio de um ser, esta requerendo qualificaes
adventcias que pertencem ordem dos acidentes: por esta razo
que se ditinguem qualidades provenientes de um predicamento
especial.
Como ste se distingue dos outros predicamentos acidentais? Em
um sentido bastante geral pode-se dizer que todos os acidentes
determinam o sujeito, mas todos no o "qualificam", no o tornam
intrnseca e formalmente "tal". Assim, tornar divisvel, estender as
partes (o que diz respeito quantidade) no manifestamente
"qualificar"; quantidade e qualidade so, portanto, realmente
distintas. Quanto aos outros predicamentos, se, de alguma maneira,
podem ser ditos qualificar o sujeito, apenas o fazem do exterior, ou
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-3.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.3.
em referncia a qualquer coisa de outro sujeito. S a qualidade no
sentido estrito, a cr, por exemplo, ou as disposies virtuosas,
"qualificam" absoluta e intrinsecamente o sujeito substancial. Estse, pois, perfeitamente autorizado a considerar a qualidade como
uma categoria a parte.
- As espcies de qualidade.
Aristteles, no livro das Categorias, (c. 8), distingue quatro espcies
de qualidade, que S. Toms organiza em trs grupos (Ia IIae, q. 49, a.
2).
Em relao natureza mesma do sujeito substancial, a qualidade
toma os nomes de disposio e de habitus (1a espcie de
qualidade); stes modos de qualidade se diversificam por sua vez
em bons ou maus segundo so, ou no so, ordenados perfeio
da natureza considerada. A disposio se distingue do "habitus"
pela menor estabilidade que implica. Exemplo de habitus: as artes,
as cincias, as habilidades manuais, as virtudes.
Segundo a ordem atividade ou passividade, encontramos a
segunda e a terceira espcies de qualidade: a potncia e a
impotncia (2a espcie de qualidade) que afetam o sujeito enquanto
ste suscetvel ou no suscetvel de ter uma atividade; por
exemplo, a inteligncia, a imaginao; a vontade; as qualidades
passveis (passibiles qualitates) (3a espcie de qualidade): isto , as
qualidades que afetam imediatamente os sentidos e que se
encontram no princpio e no trmo das alteraes fsicas; no
peripatetismo eram a alinhadas, o quente, o frio, o sco, o mido,
etc.
Enfim, em relao quantidade concreta deve-se ainda distinguir a
forma e a figura (4a espcie de qualidade), que terminam e dispem
a quantidade, a qual requer necessriamente ser limitada. Exemplo:
uma figura esfrica, a forma de um vaso.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-3.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:18
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.4.
4. A RELAO
Com tda evidncia, as coisas criadas, na sua multido, entretm
entre si todo um mundo de relaes, igualdade, similitude,
causalidade etc., que as referem umas s outras de modo bem
diverso. No nos ocuparemos do que se chama de relaes
transcendentais (ou secundum dici). Entende-se com isto a ordem
segundo a qual uma coisa, na sua prpria natureza, se refere a uma
outra: por exemplo, a da vontade ao bem, da inteligncia ao ser, de
um modo geral da potncia ao ato. A relao transcendental no
designa uma realidade distinta da essncia mesma da coisa
considerada, mas exprime esta essncia enquanto referida; tal
relao faz parte pois, da definio da essncia. A relao
predicamental (ou secundum esse), que ser a nica a ser tratada
neste estudo, corresponde a uma realidade distinta do sujeito ao
qual se reporta, que no portanto includa na sua definio e
possui, por este fato, sua natureza prpria (Cf. para ste estudo:
Aristteles, Categorias, c. 5; Metaf., L. 5, c. 15).
- Natureza da relao predicamental.
Define-se a relao predicamental como um acidente cuja realidade
tda consiste em se referir a um outro:
Accidens
cujus
totum
esse est
ad aliud
se
habere.
A anlise mais elementar manifesta que trs elementos esto
implicados em tda relao predicamental, a saber: um sujeito, o
que possui a relao; um trmo, aquilo para o qual tende a relao;
um fundamento, o ponto de vista segundo o qual o sujeito referido
ao trmo. Exemplo: tal homem (sujeito) semelhante a tal outro
homem (trmo) por sua colorao branca (fundamento). O sujeito e
o trmo podem ser coletivamente designados como constituindo os
dois trmos da relao.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-4.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:19
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.4.
A natureza da relao predicamental levanta vrias dificuldades.
Uma tal relao, acabamos de dizer, um modo de ser cuja
realidade tda consiste em uma pura referncia a um outro. Se
assim, como uma tal categoria pode ainda ter, em face do seu
sujeito, um valor de acidente, uma vez que, por essncia,
referncia a um outro? preciso responder que, mesmo tendo por
natureza o ser ad aliud (o que sua razo prpria), a relao
pertence tambm a um sujeito e portanto um acidente: assim, a
paternidade possui qualquer coisa de efetivo para um homem. Mais
profundamente, verdadeiramente necessrio distinguir realmente a
relao de seu fundamento? A paternidade outra coisa que a ao
de procriar? Para que serve superpor assim ao mundo das
naturezas, que se referem j por si umas s outras, um universo de
entidades puramente relacionais? Isto, porm, necessrio, pois o
fato de se reportar a um outro constitui, com efeito, um modo de ser
e, portanto, uma categoria original. No se v, por outro lado, o que
o signo de sua autonomia ontolgica, que uma relao pode
aparecer, ou desaparecer, sem que seu termo com isto seja
modificado?
- Divises das relaes predicamentais.
A primeira distino a ser feita entre a relao de razo, cujo ser a
relao de um sujeito e seu predicado, por exemplo - smente de
razo, e a relao predicamental. S esta ltima designa um modo
de ser real, independente de tda operao do esprito: por exemplo,
a igualdade de dois tringulos. Para que uma relao seja real,
necessrio que o sujeito e o trmo sejam dois sres reais, distintos
um do outro, capazes de serem ordenados um ao outro, e enfim que
o fundamento da relao seja real.
Essencialmente, as relaes predicamentais se distinguem segundo
o seu fundamento. Se ste significa uma dependncia efetiva no ser,
temos uma relao de causalidade; se significa apenas uma relao
sem dependncia real, tratamos ento com tda a variedade das
relaes de simples convenincia(ou desconvenincia): identidade e
diversidade, fundadas na substncia; igualdade e desigualdade,
fundadas na quantidade; similitude e dissimilitude, fundadas na
qualidade.
Acidentalmente, as relaes se distinguem em mtuas, isto , em
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-4.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:19
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.10, C.4.
relaes reais implicando uma relao inversa, paternidade e filiao
por exemplo, e no mtuas, isto , em relaes reais s quais no
corresponde seno uma simples relao da razo, a cincia, por
exemplo, que como "habitus", se refere realmente ao seu objeto, ao
passo que ste no possui seno uma relao de razo no que diz
respeito ao sujeito cognoscente.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA10-4.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:19
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.1.
O ATO E A POTNCIA
1. ORIGEM DAS NOES DE ATO E POTNCIA.
Cf. S. Toms, Metaf., sobretudo I, l. 5, 7, 8, 9.
A teoria da distino do ser em ato e em potncia foi descoberta por
Aristteles que, se no lhe deu todos os desenvolvimentos de que
tal teoria era suscetvel, estabeleceu-a slidamente sbre suas
bases. S. Toms no ter seno que prosseguir na mesma linha o
esfro comeado para dar-lhe o seu acabamento.
E na Fsica, para explicar a mudana, que o Estagirita parece ter de
incio utilizado estas noes. J no 1. livro, a unio matria-forma
exprime, em um caso particular, a distino ato-potncia. Esta
distino formalmente posta em ao na explicao do
movimento, que se v assim definido: o ato do que em potncia
enquanto tal. Enfim, aps outras utilzaes destas noes, o tratado
acaba pela evocao dste primeiro motor, ato puro, em que se
resolve finalmente o movimento de todo o universo. Na Metafsica,
vemos reaparecer o ato e a potncia, ao lado das categorias, ao nvel
das divises primeiras do ser. Todo um livro, o -lhes especialmente
consagrado, livro onde se manifesta a preocupao de extrair estas
noes do problema particular do movimento, para elev-las at ao
nvel do ato imvel, forma pura. Assim se encontra colocado como
rima pedra de toque para a teologia do livro 12, devendo esta
reconhecer como carter prprio substncia primeira a atualidade
sem mistura. Se, por outro lado, observarmos que Aristteles faz um
uso contnuo das noes de ato e potncia em psicologia, que as
adapta lgica e mesmo s matemticas, no nos surpreenderemos
que alguns tenham desejado fazer destas noes algo como que a
pedra angular de todo seu sistema.
Retomemos a teoria em sua origem e tentemos, por nossa conta,
extrair nossas duas noes de ato e de potncia da anlise da
mudana. A soluo aristotlica dste problema tradicionalmente
apresentada como uma posio intermediria entre as doutrinas
extremas do eleatismo e o heracletesmo. Parmnides, no
admitindo nenhum meio trmo entre o ser e o no-ser, terminava por
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-1.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:19
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.1.
negar a realidade do devir: o ser, com efeito, no pode vir do ser que
j , pois isto no teria sentido; como tambm no pode proceder do
no-ser que no nada; no h, portanto, devir, h apenas o ser que
. Herclito, pelo contrrio, reconhecia a realidade da mudana que,
para le, era um dado primitivo, mas sob o fluxo das aparncias
parecia no reter nenhuma realidade estvel. No haveria, portanto,
ser. Mas j no a prpria existncia do devir que se v assim
comprometida, pois o que pode ser um devir que no se encaminha
rumo ao ser?
Como, pois, conservar ao mesmo tempo o ser e o devir?
Reconhecendo que entre o ser no estado acabado, o ser em ato e o
puro no-ser, h uma espcie de intermedirio, o ser em potncia,
que j pertence ao real sem estar ainda perfeitamente realizado.
Explicar-se- assim a mudana dizendo-se que a passagem do ser
em potncia ao ser em ato. Tomemos um exemplo. Um escultor
projeta uma esttua. Escolhe um bloco de mrmore que talha at ao
acabamento da esttua. O que se passou, metafsicamente falando?
Quando a esttua est terminada, diz-se que ela est em ato. Existia
ela antes? Evidentemente no existia em ato. Mas no possua ela
nenhuma realidade? Se o afirmamos, o processo da fabricao da
esttua torna-se ininteligvel, pois esta parece saltar do puro nada.
De fato, o escultor apenas pode iniciar a tarefa porque dispunha de
uma matria conveniente, o mrmore no caso, de onde, de algum
modo, extraiu a esttua. Esta a no estava ainda em ato, mas podia
da ser extrada, estava em potncia. A fabricao foi uma passagem
da esttua em potncia esttua em ato. Concluses anlogas
surgiram da anlise de processos naturais, o da germinao, por
exemplo. Tal planta que atingiu seu pleno desenvolvimento no
existia evidentemente em ato no gro do qual surgiu: entretanto, a
j estava, mas smente em potncia. Generalizando stes
resultados, e aplicando-os a todos os casos, poder-se- dizer que a
mudana a passagem do ser em potncia ao ser em ato. A
realidade do devir, como a do ser, encontram-se pois
salvaguardadas. Tal pode ser, bem esquemticamente figurada, a
origem da distino ato-potncia. Precisemos agora cada um dstes
trmos.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-1.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:19
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.2.
2. A POTNCIA.
A potncia uma dessas noes analgicas primitivas que a bem
dizer no podem ser definidas, mas que podemos smente nos
esforar por apreender atravs de exemplos, como por induo, e
nos aplicando em distingui-Ias daquilo que elas no so.
Ressaltemos de incio nossa noo distinguindo-a da noo vizinha
de possibilidade. Como o ser em potncia, o possvel refere-se
existncia: pode existir. Mas, de fato, no tem nenhuma realidade
nas coisas; tem smente uma realidade objetiva, ou de objeto
pensado, no esprito daquele que o concebe, e finalmente e
fundamentalmente na inteligncia divina (donde esta denominao
de potentia objectiva que se atribui ao possvel para significar que
apenas existe como objeto de pensamento, ao passo que a potncia,
no sentido prprio, a potentia subjectiva, isto a que tem seu
sujeito em um ser que lhe comunica sua realidade). O possvel ,
portanto, smente o que, no implicando contradio, est em
estado de ser atuado pela potncia divina. O ser em potncia, pelo
contrrio, pertence realidade da qual determina as ordenaes
efetivas s atuaes ulteriores. Deve-se observar, entretanto, que
mesmo pertencendo realidade atravs de seu sujeito, o ser em
potncia, em sua linha prpria, no est absolutamente em ato; em
particular, le no deve ser imaginado como envolvendo de modo
oculto o ato que lhe corresponde: o potencial no o implcito.
Como, ento, conceber positivamente a potncia? J o dissemos:
apreendendo-a de maneira analgica em casos particulares. A
esttua est em potncia no mrmore que no foi talhado, a
inteligncia est em potncia na medida em que no pensa
efetivamente etc... Nestes casos e em todos os que se puderem
imaginar, v-se que o que h de comum ao estado de potncia de
ser uma ordenao ao ato: potentia dicitur ad actum. Por esta
frmula exprimimos o que h de mais profundo na noo de
potncia. Precisando o que representa esta relao com o ato,
podemos dizer que se trata de uma relao de um estado de
imperfeio com um estado de perfeio. A esttua terminada
perfeita; no bloco de mrmore existia apenas em estado imperfeito.
Quem diz potncia diz necessriamente imperfeio. Ordenao ao
ato, imperfeio, tais so os dois caracteres comuns de tda
potncia.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:20
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.2.
- Divises da potncia.
Aristteles, no livro 9, procede segundo seu costume a uma
ordenao analgica da noo de potncia em trno de uma de suas
acepes que considera como fundamental (pelo fato de que o
agente a causa da paixo e, portanto, anterior a ela) a de potncia
ativa, isto de potncia de mudana de um outro enquanto tal.
Reporta-lhe de incio a potncia passiva, potncia que tem uma
coisa de ser transformada por uma outra enquanto outra, depois
distingue as potncias racionais e as potncias irracionais.
Primitivamente, Aristteles havia afastado da significao do trmo
potncias que seriam equvocas em relao s precedentes,
aquelas, por exemplo, que encontramos em geometria. Se temos em
conta stes dados, e se a acrescentamos as precises mais
importantes s quais a escolstica pde aportar, obteremos o
quadro seguinte:
A potncia prpriamente dita, potentia subjectiva, deve ser, desde o
incio, distinguida do possvel, potentia objectiva.
A potncia subjetiva se divide inicialmente em potncia ativa,
princpio da atividade no agente (principium transmutationis in aliud
in quantum est aliud), e potncia passiva, aptido que tem uma coisa
de ser transformada por uma outra (principium quod aliquis
moveatur ab alio in quantum aliud).
Em relao ao agente, a potncia passiva ser chamada natural ou
obediencial, segundo sua relao com um agente que lhe
imediatamente proporcionado, ou com um agente transcendente,
especialmente com a potncia divina.
Em relao ao ato, a potncia passiva se distingue ainda segundo
sua relao com um ato essencial (forma substancial, forma
acidental), ou com o ato mesmo de existncia.
As potncias ativas so incriadas ou criadas, e estas ltimas podem
ser ordenadas, seja a uma ao imanente, potncias racionais, seja
a uma ao transitiva, potncias irracionais.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:20
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.2.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:20
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.3.
3. O ATO.
Como a potncia, o ato dessas noes primeiras que no podem
ser apreendidas seno atravs de exemplos: "no necessrio, com
efeito, procurar tudo definir, mas preciso saber se contentar em
apreender a analogia; o ato estar, portanto, como o ser que
constri est para o ser que tem a faculdade de construir, o ser
desperto para o ser que dorme, o ser que v para o ser que tem os
olhos fechados mas possui a viso, o que est separado da matria
para a matria, o que foi elaborado para o que no elaborado.
Damos o nome de ato ao primeiro trmo destas diversas relaes, o
outro trmo a potncia." (Metafsica, 9, c.6). Sintetizando com S.
Toms tda esta enumerao indutiva, podemos dizer: "Actus est
quando res est, non tamen est sicut in potentia". Assim como a
potncia se caracteriza por sua relao com o ato, o ato se
manifesta na sua oposio potncia. A relao, todavia, no a
mesma nos dois sentidos. Se, com efeito, a potncia inclui o ato na
sua noo (dicitur ad actum), no se pode dizer inversamente que o
ato implica necessariamente a potncia; o ato , de incio, o que
efetivamente. E, de fato, h um ato puro que no relativo a nada.
Veremos isto melhor quando tratarmos da anterioridade do ato em
relao potncia. Na realidade, a noo positiva de ato a de ser
acabado, de perfeio, por oposio potncia que imperfeio.
- Divises do ato.
Logo aps ter precisado sua noo de ato, Aristteles relembra que
ela analgica, e distingue sem mais tardar suas duas modalidades
mais caractersticas:
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-3.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:20
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.3.
"o ato
tomado ora
no
movimento
relativamente
potncia,
ora como a
substncia
formal
relativamente
matria".
Metafsica,
L. 9, c. 6
A primeira destas modalidades do ato, a operao, actus operativus,
seria como o primeiro analogado de onde proviria, segundo uma
significao derivada, o ato esttico, actus entitativus. Levando em
conta algumas outras distines igualmente clssicas, chegamos a
ste quadro:
O ato se divide inicialmente em ato puro ou no recebido (isto , que
no est misturado com potncia, nem recebido em nenhuma
potncia) e em ato misto, o qual entra de diversas maneiras em
composio com a potncia.
Por sua vez, o ato misto se divide na medida em que forma ou
operao.
Na ordem esttica, o ato pode ser relativo quer essncia, ato
essencial, quer existncia, ato existencial.
Na ordem dinmica vale a distino da atividade espiritual, ato
imanente, e da atividade material, ato transitivo.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-3.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:20
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.3.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-3.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:20
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.4.
4. RELAES ENTRE O ATO E A POTNCIA.
Ato e potncia so correlativos. Entretanto h uma ordem entre
estas duas noes: o ato anterior e explica a potncia. Aristteles
procura demonstr-lo no captulo 9. Para isto, coloca-se
sucessivamente segundo quatro pontos de vista:
Inicialmente o ato anterior potncia segundo a noo, isto , a
potncia no definida seno pelo ato: por exemplo, a potncia de
construir pelo ato de construir, etc . . . Na ordem temporal preciso
distinguir. O indivduo particular est em potncia antes de estar em
ato: a semente precede o estado adulto. Mas do ponto de vista
superior da espcie preciso estabelecer que o estado perfeito, o
ato, deve sempre preceder o estado imperfeito, a potncia. Assim,
na ordem da gerao, deve-se necessariamente partir de um homem
feito. Segundo a substncia (ou segundo a perfeio) o ato
igualmente primeiro, e a razo principal que tudo que devm
"tende para o seu princpio e para o seu fim, pois o princpio a
causa final e o devir existe em vista do fim. Ora o fim o ato". A
anterioridade do ato funda-se aqui sbre a anterioridade da causa
final, que s pode ser evidentemente o ato. Enfim, Aristteles
acrescenta um ltimo argumento que, na trajetria da sua
metafsica, marca um progresso notvel. Os sres eternos, diz-nos
Aristteles, e isto admitido sem discusso, so anteriores aos
sres incorruptveis; ora, stes sres eternos no possuem a
potncia de no-ser; portanto, no esto em potncia; portanto,
existem sres em ato que so anteriores a tda potncia. Esta
demonstrao nos orienta j bem nitidamente na direo do ato
puro, o qual ser explicitamente tratado no livro 12.
- Tda atividade tem seu princpio no ato
Podem-se aproximar da afirmao precedente os adgios
aristotlicos que dizem que uma atividade no pode proceder seno
de um ser, e ste j em ato na linha em que vai agir: Nihil agit nisi
secundum quod est actu - Quod est in potentia non reducitur in
actum nisi per ens actu. A potncia no pode por si mesma, elevarse ao nvel do ato; ser preciso sempre que, na ordem da eficincia,
intervenha um ser em ato. Isto, convm observar, no vai de
encontro com o que havamos dito precedentemente a propsito da
necessidade de uma potncia ativa no agente. So dois pontos de
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-4.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:20
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.4.
vista complementares. Para que um agente possa ter uma eficincia,
preciso, ao mesmo tempo, que esteja em ato no que diz respeito
forma (ou perfeio) que vai transmitir, e preciso que esteja em
potncia (ativa) em relao operao a produzir. Assim a
inteligncia, atuada pela especies impressa, est em potncia (ativa)
em relao ao ato de inteleco.
- Limitao do ato pela potncia
At aqui, seguindo Aristteles, colocamos a distino do ato e da
potncia, definimos cada uma destas noes, distinguimos suas
modalidades principais, estabelecemos enfim a prioridade do ato. S.
Toms e um bom nmero de escolsticos generalizaram a aplicao
desta distino at fazerem dela, de uma certa maneira, o princpio
explicativo do conjunto da metafisica. O ser finito seria ento
essencialmente o que est submetido composio do ato e da
potncia; e como o prprio ser infinito no poder ser alcanado
seno a partir do ser finito, a teologia inteira repousar sbre estas
noes.
Exprime-se de modo corrente sse valor estrutural fundamental da
relao ato e potncia nesta tese: o ato no pode ser limitado seno
pela potncia: actus utpote perfectio, non limitatur nisi per
potentiam, quae sit capacitas perfectionis. Eis como se pode
demonstrar tal proposio. Por si o ato diz perfeio; por que, ento,
ser limitado? No pode ser por si mesmo, pois seria contraditrio
sustentar que a perfeio se limita por si mesma; s pode ser, pois,
por algum princpio que dela distinto, ainda que seja solidrio com
ela prpria, isto , pela potncia. Deve-se, pois, afirmar que em tda
composio de ato e de potncia, o ato limitado pela potncia, o
que acarreta a conseqncia de que o ato puro ser absolutamente
ilimitado ou perfeito. ste raciocnio no inexato, mas S. Toms,
que admite incontestavelmente a concluso, parece proceder de
modo ao mesmo tempo mais realista e mais sinttico, referindo-se a
uma viso de conjunto do ser participado e do ser imparticipado.
Notemos que, de encontro tese que acabamos de sustentar,
scotistas e suarezianos admitem que o ato pode ser limitado por si
mesmo. Basta para isso que sua causa eficiente, Deus em ltima
anlise, o constitua em tal grau de ser e no em tal outro.
- Multiplicao do ato pela potncia
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-4.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:20
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.4.
Esta tese pode ser considerada um corolrio da precedente. Se
temos, com efeito, um ato no limitado por uma potncia, ste ato
perfeito, mas smente pode ser nico, pois no se v como dois
sres igualmente perfeitos poderiam se distinguir um do outro: Nihil
autem per se subsistens quod sit ipsum esse poterit esse nisi unum
solum. Resulta da que se uma mesma perfeio se encontra
multiplicada, isto s pode ocorrer em virtude de um princpio
distinto dela, e que le mesmo no poderia ser outra coisa seno a
potncia que a recebeu.
- Realidade da distino ato-potncia
Contra as alegaes scotistas e suarezianas, segundo as quais a
distino ato-potncia no seria mais do que uma "distino formal"
ou uma distino de razo raciocinada, a Escola tomista afirmou a
realidade da distino entre o ato e a potncia, a qual de modo
algum parecia constituir uma dificuldade para S. Toms.
Ordinriamente, raciocina-se assim: a potncia diz por si mesma
capacidade de perfeio, o ato pelo contrrio significa na sua
natureza uma perfeio determinante; estas duas noes, tendo um
contedo que se ope, no podem, pois, com tda evidncia,
corresponder seno a entidades realmente distintas. O argumento
mais autnticamente tomista seria o seguinte: sendo recebido na
potncia atravs da causalidade ou da participao, o ato smente
pode ser algo realmente distinto desta potncia que o recebe.
Convm tambm observar que a distino real que manifestada a
posteriori pelo fato de que, em certos casos, a potncia pode se ver
privada do ato que antes a determinava: o sentido da vista por
exemplo, da viso efetiva. As dificuldades dos scotistas e dos
suarezianos relativas a esta tese parecem vir do fato de entenderem
de modo demasiado material a distino real. Esta, no caso do ato e
da potncia, no de modo algum uma distino de duas coisas que
se poderia realizar isoladamente, mas de dois princpios de ser que,
ainda que distintos, se determinam reciprocamente.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-4.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:20
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.5.
5. CONCLUSO: O ATO E A POTNCIA COMO PRINCPIOS
ORGANIZADORES DE TDA A METAFSICA TOMISTA.
Elaborados primitivamente para explicar a realidade do movimento,
as noes de ato e de potncia viram-se sistematicamente utilizadas
para dar conta da estrutura e correlativamente da limitao ou da
multiplicidade do ser criado - e inversamente da simplicidade, da
infinidade e da unicidade de Deus. Nesta perspectiva, as grandes
distines de matria e de forma, de substncia e dos acidentes e
mesmo a que nos resta estudar, de essncia e existncia, aparecem
como vrias notveis aplicaes da distino fundamental da
potncia e do ato, que se torna como que "a alma" de tda
metafsica tomista. Estas vises sintticas no so, sem dvida,
inexatas, e pode ser extremamente frutuoso reportar-se a elas, com
a condio, todavia, de que a originalidade prpria de cada uma
destas distines e a problemtica que se encontra em seu princpio
no seja esquecida e que no termine na iluso de uma espcie de
deduo a priori de tdas as grandes teorias metafsicas a partir do
esquema, colocado uma vez por tdas, do ato e da potncia. Feita
esta observao, nada podemos fazer de melhor, para resumir essa
viso de sntese, do que retomar as prprias frmulas das duas
primeiras teses tomistas propostas pela Congregao dos Estudos
(27 de julho de 1914).
I. A
potncia e
o ato
dividem o
ser de tal
maneira
que tudo o
que , ou
ato puro,
ou
composto
de
potncia e
de ato
como de
princpios
primeiros
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-5.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:21
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.5.
e
intrnsecos.
II. O ato,
como
perfeio,
smente
limitado
por uma
potncia
que seja
capacidade
de
perfeio.
Donde se
segue que
na ordem
em que o
ato puro,
ste no
pode
existir
seno
nico e
ilimitado; e
onde, pelo
contrrio,
le finito
e mltiplo
permanece
em um
verdadeiro
estado de
limitao
com a
potncia.
Nota: - Sbre ste valor sinttico da teoria do ato e da potncia em
metafsica, poder-se- consultar: Del Prado. De veritati fuudamentali
philosophiae christianae, e seu resumo francs na Rvue Thomiste,
maro de 1910; Garrigou-Lagrange. Applicationes tum physicae, tum
metaphysicae doctrinae de actu et potentia secundum Sanct.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-5.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:21
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.11, C.5.
Thomam, em Acta primi congressus thomistici internationalis;
Robert. Actus non limitatur nisi per potentiam em Rev. Philo. de
Louvain, 1949.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA11-5.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:21
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.1.
ESSNCIA E EXISTNCIA
1. INTRODUO.
A anlise que acaba de ser feita do ser, por intermdio da distino
ato-potncia, conduz naturalmente a uma pesquisa mais profunda e
mais precisa de sua estrutura segundo as noes de essncia e de
existncia. Pesquisa que nos levar a afirmar que, no ser criado,
essncia e existncia so princpios realmente distintos, o que , no
testemunho de Cajetano: maximum fundamentum doctrinae Sancti
Thomae. (Comentrio dos Segundos Analticos, c. 6).
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-1.htm2006-06-01 12:20:21
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.2.
2. O PROBLEMA DA DISTINO REAL.
A distino no ser de um aspecto essncia e de um aspecto
existncia um dstes dados imediatos que prticamente
reconhecido por todos. O ser nos aparece como "o que ", isto ,
como uma certa coisa, uma essncia, que tem a propriedade notvel
de ser ou de existir. Que se tente eliminar totalmente pelo
pensamento um dstes dois aspectos e a noo mesma de ser
desaparece.
Admitido isto, pode-se em seguida procurar precisar o que
representa corretamente esta relao essncia-existncia e que
lugar ou que funo tem, na estrutura mesma do ser, cada um dos
trmos que le implica. Duas posies caractersticas podem ser
adotadas na soluo do problema: ou se considera conjuntamente o
ser como um bloco indiviso, do qual a essncia e a existncia
definem smente dois aspectos subjetivos. Dir-se-, neste caso, que
entre essncia e existncia h smente uma distino de razo, isto
, que no tem realidade seno no esprito que a concebe, mesmo
que seja objetivamente fundada. Ou far-se- da essncia e da
existncia princpios ontolgicos distintos cuja composio daria
conta da estrutura metafsica profunda do ser. Afirma-se ento que
existe uma distino real entre essncia e existncia, especificandose bem, como veremos, que no se trata de uma distino de coisas
prviamente existentes - o que no teria sentido mas de princpios
interdependentes.
Do ponto de vista filosfico, ste problema se. encontra colocado
pelo fato da multiplicao formal e da limitao dos sres criados e,
subsidiriamente, pela questo da relao destes sres com o ser
incriado, nico e infinito. Eis a, com efeito, sres limitados e
mltiplos. Por que so les assim limitados e mltiplos?
Considerando a multiplicidade dos indivduos materiais, somos
levados a dizer que isto se deve ao fato de tais sres serem
compostos de matria e de forma: a matria recebe a forma que ela
limita e multiplica. Mas se nos colocamos em face de uma
multiplicidade de formas, e especialmente de formas puras, o que
so para S. Toms as substncias anglicas, a soluo invocada,
para o caso dos sres corporais, no tem mais valor: no h mais,
aqui, matria para limitar e multiplicar. ento que se levado a
perguntar se, no seio das prprias formas puras, no haveria uma
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-2.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:21
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.2.
composio, de outra ordem que a de matria e forma, que viria dar
conta da sua limitao e da sua multiplicao. Se, de outro lado, se
consideram os seres limitados na sua referncia ao ser ilimitado e
incriado, pode-se perguntar o que far com que tda essa
multiplicidade de sres no venha a se perder na unidade pantesta
do nico ser primeiro. Com tda evidncia deve haver entre os sres
limitados e o ser infinito na sua simplicidade uma diferena de
estrutura que parece requerer nos primeiros uma complexidade
interna.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-2.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:21
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.3.
3. HISTRICO DO PROBLEMA.
Aristteles, que no observou nitidamente o problema da
multiplicidade formal nem o da relao dos sres limitados com o
ato puro, no pde tratar explicitamente da distino que nos ocupa.
Nada, entretanto, a isto se ope em sua filosofia; pode-se mesmo
dizer que pela sua dupla orientao rumo ao concreto do indivduo
existente e rumo aos valres inteligveis da essncia, tal filosofia ia
lgicamente nesse sentido. com o neo-platonismo que se comea
verdadeiramente a abordar o assunto. Bocio em um texto do De
hebdomadibus, do qual em seguida nos serviremos em favor da
distino real, j distingue no ser o sse e o quod est, mas claro
que nada disse da realidade desta distino. preciso avanar at a
filosofia rabe para encontr-la explicitamente reconhecida. Avicena
ir mesmo at fazer da existncia uma espcie de acidente da
essncia, o que S. Toms, seguindo Averroes, retomar vivamente.
incontestvelmente ao Doutor anglico que cabe a honra de ter
elaborado esta doutrina e de ter sistemticamente desenvolvido as
conseqncias. Mas, nle procurar-se-ia em vo uma justificao
explcita e formal da realidade da distino em questo. A
controvrsia sbre ste assunto no estava ainda comeada.
Entretanto, essa tese se encontra implicada em todos os seus textos
de modo tal que todo o conjunto se desagrega se interpretarmos os
textos em um outro sentido. A polmica smente tomar
consistncia aps sua morte, quando Gilles de Roma, tendo
afirmado a realidade da distino, atraiu sbre si as crticas de Henri
le Gand. Ulteriormente Scoto e Suarez, negando a realidade da
distino, provocaro discusses sem fim. Para todo sse histrico
poder-se- consultar com fruto a Introduo da edio por RolandGosselin do Ente et Essentia de S. Toms.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-3.htm2006-06-01 12:20:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.4.
4. PROVAS DA DISTINO REAL.
Da obra de S. Toms podem-se extrair duas provas principais da
realidade dessa distino: a primeira fundando-se sbre a distino
objetiva de seus dois princpios, a segunda repousando sbre a
constatao de que em todo ser onde a existncia se encontra
recebida, a essncia e a existncia so realmente distintas.
Primeira prova (Cf. De ente et essentia, c. 5): Tudo o que no est
contido na concepo que formamos da essncia de uma coisa -lhe
acrescido do exterior; ora, colocado parte o caso do ser cuja
essncia seria existir, isto Deus, a existncia de uma coisa no
est contida na concepo que formamos de sua essncia, sendolhe, portanto, acrescentada.
"Tudo o que
no pertence
ao contedo
intelectual da
essncia ou
da qididade
lhe advm do
exterior e
entra em
composio
com ela,
sendo dado
que nenhuma
essncia
pode ser
apreendida
pela
inteligncia
sem suas
partes. Ora,
tda
essncia ou
qididade
pode ser
compreendida
sem que se
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-4.htm (1 of 4)2006-06-01 12:20:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.4.
tenha
conhecimento
de sua
existncia:
posso, com
efeito,
compreender
o que um
homem ou
um fnix e
ignorar
entretanto se
les existem
efetivamente
na realidade.
, portanto,
evidente que
a existncia
outra coisa
do que a
essncia ou
a qididade,
colocado
parte o caso
de uma coisa
cuja qidade
seria sua
prpria
existncia, e
esta coisa s
pode ser
nica e
primeira...
Donde se
segue que
em tda
coisa diversa
dela mesma,
uma coisa
sua,
existncia e
outra coisa
sua
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-4.htm (2 of 4)2006-06-01 12:20:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.4.
qididade, ou
sua natureza,
ou sua
forma".
Segunda prova. Na maior parte dos casos S. Toms desenvolve seu
pensamento colocando em paralelo o caso das coisas criadas, nas
quais h uma real distino da essncia e da existncia, e o caso do
ser primeiro cuja essncia idntica ao seu ser, o que supe,
evidentemente, demonstrada a existncia de Deus. ste argumento,
cujo fundo sempre o mesmo, pode revestir vrias formas. Eis
como se encontra na Suma Teolgica (Ia Pa, q. 3, a. 4).
Tudo o que est em um ser alm de sua essncia deve ser causado,
seja pelos princpios desta essncia ... seja por qualquer coisa de
exterior: "Quidquid est in aliquo quod est praeter essentiam ejus,
opportet esse causatum, vel a principiis essentiae vel ab aliquo
exteriori..."
Ora, impossvel que a existncia seja causada smente a partir dos
princpios essenciais de uma coisa, pois nenhuma coisa, se ela um
ser causado, capaz por si mesma de ser causa dste ser:
"impossibile est autem quod sit causarem tantum ex principiis
essentialibus rei, quia nulla res sufficit quod sit sibi causa essendi si
habeat esse causatum".
preciso pois que aquilo cuja existncia outra coisa do que a
essncia tenha seu ser causado por um outro: "oportet ergo quod
illud cujus esse est aliud ab essentia sua habeat esse causatum ab
alio".
Donde se conclui que, ao mesmo tempo, em Deus, cujo ser
incausado, h identidade entre essncia e existncia, ao passo que
nas criaturas, cujo ser causado, uma coisa a essncia (aliud) e
outra coisa a existncia (aliud).
Completa-se a prova observando-se que o ser cuja essncia
idntica existncia sendo nico, todos os outros sres implicam a
distino real e que o ser que se encontra no primeiro caso causa
dos outros.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-4.htm (3 of 4)2006-06-01 12:20:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.4.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-4.htm (4 of 4)2006-06-01 12:20:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.5.
5. SENTIDO EXATO DESTA DISTINO.
As objees que so feitas a esta tese repousam sbre
interpretaes incorretas que so oferecidas; faz-se mister precisar
exatamente os trmos.
O ser do qual se procuram determinar os princpios componentes
a substncia concreta existindo atualmente e no o simples
possvel. No especulamos, pois, a propsito de uma noo, mas
sim a propsito de realidades.
Nessa realidade distinguimos o sujeito essencial, res, e o que S.
Toms chama indiferentemente ipsum esse, actus essendi,
existentia; chamemos existncia. E afirmamos que essa distino
real. O que entendemos com isto? Que ela no existe simplesmente
no esprito ou na razo, mas que um dado estrutural do universo
real. Entretanto, preciso tomar cuidado em no se representar essa
distino como a de duas coisas que viriam se compor, tendo como
resultado uma terceira. No plano da criatura, antes do ser, no h
nem essncia, nem existncia, entidades que, por outro lado, so
absolutamente incapazes de existir independentemente uma da
outra. Nem a essncia nem a existncia existem isoladamente;
smente existe o ser que elas compem: so dois princpios
correlativos que s tm realidade enquanto se completam.
possvel precisar que papel desempenha cada um dos elementos
dessa distino? O prprio S. Toms nos ensina que o esse
desempenha a funo de ato e a essncia a de potncia.
A existncia se manifesta inicialmente como pura atualidade, e como
ato ou perfeio ltima: esse est actualitas omnium -actuum et
propter hoc est perfectio omnium perfectionum (De Pot., q. 7, a. 2, ad
9); ainda que a expresso seja equvoca: o que existe, de mais
formal em uma coisa. Em face disto, a essncia aparece como uma
potncia, isto , como uma capacidade real de receber, mas que de
um tipo bem diferente da matria, pois ela prpria em sua ordem
algo de atuado ou de determinado: a matria das substncias
espirituais (entendendo-se com isto a essncia) , diz-nos S. Toms,
um certo ser em ato, existindo em potncia: aliquid ens actu in
potentia existens (De substantiis separatis, c. 5, n: 35) . Essncia e
existncia possuem, pois, cada uma em sua linha, valor de princpio
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-5.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.5.
determinante, permanecendo, contudo, que a existncia o ato
ltimo, a perfeio derradeira.
No momento em que se diz, enfim, que a essncia recebe a
existncia, isto no maneira de um sujeito substancial que
recebe de um acidente uma determinao nova; a existncia no
um simples complemento do ser. Dever-se-ia dizer que ela o que
h de mais fundamental no ser concreto e que a essncia que vem
determin-la e limit-la.
Tdas estas consideraes nos convidam a no utilizar seno de
modo bastante analgico as noes de ato e de potncia no caso
privilegiado e nico onde tais noes definem as relaes da
essncia e da existncia no ser criado.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-5.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.6.
6. DA COMPOSIO DAS SUBSTNCIAS CRIADAS E DA
SIMPLICIDADE DO SER INCRIADO.
O que se acaba de dizer permite representar comparativamente a
estrutura dos diferentes sres, elevando-nos das substncias
materiais s substncias espirituais e destas a Deus.
As substncias materiais so duplamente compostas. Sua essncia
comporta, com efeito, uma matria que determina uma forma, e a
essncia assim composta , por sua vez, determinada por sua
existncia. A individuao de tais substncias tem por princpio a
matria e quantidade. Poder-se- neste caso estabelecer as
seguintes equaes:
quod est
=
indivduo
quo est =
essncia
quo est =
existncia
As substncias espirituais tm uma essncia simples e no esto,
pois, submetidas composio de essncia e existncia. A forma
subsistente aqui para si mesma o seu princpio de individuao.
Ter-se- ento:
quod est
=
essncia
quo est =
existncia
Assim, segundo o caso, a essncia pode ser considerada como um
sujeito, quod, ou como um princpio formal, quo. Sendo sempre a
existncia alis em um sentido bastante analgico, princpio formal.
O ser incriado, Deus, absolutamente simples. O que dizer que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-6.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.6.
nle no h sujeito que receberia a existncia. O esse subsistente
por si e idntico essncia. Por outro lado, ste esse infinito, no
sendo limitado por nada. Alm do mais, le necessrio, o ser de
Deus no possuindo nenhuma possibilidade de no ser. le aqule
que S. Toms gosta de denominar o ipsum esse subsistens.
Partindo da afirmao de que a essncia de Deus a de existir,
alguns pretenderam que em Deus no havia essncia: uma tal
proposio exata se se entende dizer com isto que sua existncia
no se encontra determinada por nenhum princpio formal, mas
falsa se se pretende negar que o ser de Deus no possui de maneira
alguma uma natureza ou que le seria um infinito indeterminado.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-6.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:22
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.7.
6. ORIGINALIDADE DA TEORIA TOMISTA DO SER.
Quando se observa de perto esta anlise do ser, pela distino real
do par essncia-existncia, assinala-se uma transformao profunda
da ontologia de Aristteles por S. Toms. E como o mostrou Gilson
na sua obra sbre L'tre et l'essence, isto d metafsica do Doutor
anglico uma significao bastante original que nem sempre foi bem
percebida, mesmo em sua Escola. A tendncia mais constante dos
filsofos, a histria o prova, foi sempre a de considerar o ser mais
como uma natureza, como uma essncia. Isto manifesto no
platonismo, e a ousia, como substncia de Aristteles, aparece
ainda como uma espcie de sujeito essencial. Avicena - que
Averroes criticar sbre ste ponto com muita vivacidade sustenta
aqui uma posio intermediria: a existncia nle aparece como uma
entidade arrancada da essncia, mas, permanecendo esta sempre
corno o fundo do ser, sse actus existendi no mais do que um
simples acidente que vem se acrescentar como que do exterior a
sse fundo primitivo. Se, com Gilson, prossegussemos nossa
indagao, veramos como uma boa parte da escolstica, em
seguida a Scoto e Suarez, assim como a filosofia moderna, de
Descartes a Hegel, passando por Wolf e Kant, deixou-se, de maneira
mais ou menos consciente, dominar por esta concepo
essencialista do ser.
Ora, se retornarmos a S. Toms, veremos cem cessar afirmar, no
que a existncia seja realmente distinta da essncia nos sres
criados, o que alis para le certamente no se apresenta como
problema, mas que a existncia ato, ou como a perfeio ltima do
ser e que o prprio Deus o Ipsum esse subsistens. O ser , pois,
para le, e tanto em Deus como nas criaturas, existncia por
excelncia. Tanto assim que mais exato considerar em seu esprito
- ainda que se possa dizer perfeitamente o contrrio - que o ser
uma existncia determinada por uma essncia. Em um sentido
bastante diferente, e preciso sublinh-lo, do que toma a palavra em
certas filosofias contemporneas, a metafsica de S. Toms pode ser
considerada existencialista. E, a ste ttulo, em face dos antigos
racionalismos, escolsticos ou modernos, apresenta-se como um
pensamento notvelmente original.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-7.htm (1 of 2)2006-06-01 12:20:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.12, C.7.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA12-7.htm (2 of 2)2006-06-01 12:20:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.1.
A CAUSALIDADE
1. INTRODUO.
O ser no smente forma esttica de existncia, le , ainda,
princpio de atividade: le causa. ste aspecto dinmico do ser
cujo estudo precisamos abordar agora. Aqui, ainda, penetramos em
um conjunto de questes bastante complexas. A noo de causa
daquelas que o pensamento humano faz constantemente aplo;
tambm uma das que os filsofos modernos criticaram com mais
acuidade e sbre a qual no fcil sintetizar as opinies dos
antigos.
A fim de proceder metdicamente vamos de incio, segundo nosso
costume, nos ater a apresentar, na sua perspectiva prpria, as idias
principais de Aristteles e de S. Toms sbre a causalidade.
Retomaremos em seguida, para experiment-la ao contato da crtica
moderna, a noo assim elaborada. Enfim, remontando at causa
primeira, conduziremos ao seu acabamento final a metafsica do ser.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-1.htm2006-06-01 12:20:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.2.
2. O ESTUDO DA CAUSALIDADE EM ARISTOTELES E EM S.
TOMS
No se encontra nem em um nem em outro dstes filsofos um
tratado completo sbre a causalidade. Suas concepes sbre ste
assunto so fragmentrias e, a bem dizer, mais implicadas nas
diversas demarches do seu pensamento do que desenvolvidas por
si mesmas. entretanto possvel, simplificando, reconduzir essas
concepes a dois centros principais de intersse: o da causalidade
na teoria da cincia e o da causalidade no estudo de Deus
(causalidade transcendente). A primeira destas elaboraes tda
inteira de Aristteles, ao passo que a segunda smente encontrou o
seu pleno desenvolvimento em S. Toms.
, de incio, nos Segundos Analticos e na Fsica (II) que se encontra
nossa noo. Basta aqui relembrar as concluses precedentemente
adquiridas: h duas principais.
A cincia o conhecimento pelas causas. a prpria definio da
cincia, dada por Aristteles nos Segundos Analticos e que le
retomou notadamente no segundo livro da Fsica e no primeiro livro
da Metafsica:
Scientia
est
cognitio
per
causas.
"Sabemos" uma coisa na medida em que conhecemos a causa; a
causa o princpio prprio da explicao cientfica.
Todavia, no nos deixemos confundir; se, como j observamos,
Aristteles e S. Toms parecem apresentar, de incio, a causa em um
contexto racional de explicao ou sob uma funo lgica, isso no
quer dizer que para les esta noo no tenha valor de realidade.
Efetivamente, se a causa d resposta aos "porqus", se ela explica,
porque ela em primeiro lugar princpio de realidade. Deve-se
mesmo dizer que fundamentalmente isto o que ela . E cabe a S.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-2.htm (1 of 3)2006-06-01 12:20:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.2.
Toms, em vrias oportunidades, sublinhar fortemente ste
realismo, afirmando que a causa se refere diretamente ao esse,
sbre a existncia, isto , sbre o que em si h de mais concreto:
hoc nomen vero causae importat in f luxum quemdam ad esse
causati (Metaf., V, I, 1).
A explicao causal nas cincias pode se efetuar segundo quatro
linhas de causalidade. a tese clssica por excelncia do
aristotelismo. H, na ordem da explicao fsica, quatro espcies de
causas a considerar: a causa material, a causa formal, a causa
eficiente e a causa final. Mas se, na cincia fsica, demonstra-se
pelas quatro causas, em matemtica deve-se considerar to
smente a causa eficiente, ao passo que em metafsica referimo-nos
sobretudo s causas formal, eficiente e final.
Em concluso, no plano que permanece sempre primeiro do ser
objetivo, a causa o que d efectivamente o ser e isto segundo as
diversas linhas de causalidade - ao passo que no plano derivado da
explicao, a causa o que d razo de cada ser e aqui ainda
segundo as mesmas quatro linhas possveis de explicao causal.
Uma causa pois essencialmente: aquilo de que uma coisa depende
segundo seu ser ou seu devir
Causae
autem
dicuntur
ex quibus
res
dependet
secundum
esse
suum vel
fieri.
Fs.,
I,
1, 1
Desta definio observar-se- que a causalidade implica
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-2.htm (2 of 3)2006-06-01 12:20:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.2.
necessriamente stes trs elementos:
distino
real da
causa e do
efeito;
dependncia
efetiva no
ser;
conseqentemente
anterioridade
da causa
sbre o
efeito.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-2.htm (3 of 3)2006-06-01 12:20:23
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.3.
3. A CAUSALIDADE EM TEOLOGIA.
As definies e divises acima concerniam j verdadeira noo
ontolgica de causa, mas elas a atingiam no plano da experincia ou
da explicao fsica; no estudo de Deus esta mesma noo vai-se
encontrar realizada de modo transcendente. O problema central
aqui o da demonstrao da existncia de Deus. Sabe-se que
Aristteles j havia conduzido com rigor essa demonstrao nos
livros VII e VIII da Fsica e no livro lambda da Metafsica. o
argumento do primeiro motor que, depurado de suas implicaes
cosmolgicas, se encontra na base da demonstrao tomista. S.
Toms acrescentar outras provas (Ia Pa, q.2, a.3: as cinco vias ou
provas clssicas da existncia de Deus). Dste conjunto de provas
consideraremos aqui, alm da demonstrao aristotlica pelo
movimento, a prova pelos graus de ser (Quarta via), e muito
sucintamente a prova pela finalidade.
- O argumento do primeiro motor.
Para a prpria demonstrao de Aristteles, basta se reportar
anlise feita precedentemente do livro VIII da Fsica. S. Toms na
Suma (Ia Pa, q. 2, a. 3) apenas reteve as linhas metafsicas
essenciais da prova.
Seu ponto de partida a constatao da existncia do movimento no
mundo. O movimento de que se trata aqui , em primeira anlise, a
mudana fsica observvel pelos sentidos; mas todo devir, tda
passagem da potncia ao ato pode ser invocada.
Ora, primeiro princpio, "tudo o que movido por um outro" - omne
quod movetur ab alio movetur - a passagem da potncia ao ato no
pode se explicar seno pela interveno de uma causa em ato. a
formulao mais comum no aristotelismo do princpio de
causalidade.
Segundo princpio: o prprio motor exige que seja movido mas "no
se pode remontar ao infinito na ordem dos motores", pois ento no
haveria primeiro motor, nem, em conseqncia, motor subordinado.
Em tda ordem, com efeito, preciso um primeiro que para ser
princpio da ordem deve transcend-la, isto , encontrar-se fora de
srie.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-3.htm (1 of 4)2006-06-01 12:20:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.3.
Em conseqncia, necessrio que se remonte at um primeiro
motor que no seja movido por nada e que todos identificam com
Deus.
Basta-nos aqui ter indicado a marcha geral da prova, reservandonos o direito de voltar ao princpio de causalidade que dela o
nervo. Basta-nos igualmente lembrar que a segunda e terceira
provas do artigo citado (Secunda e Tertia via) so construdas sbre
o mesmo esquema. Conforme a segunda via, S. Toms, tomando
como ponto de partida os encadeamentos de causas eficientes que
se podem experimentalmente constatar, remonta at a uma primeira
causa eficiente transcendente. Conforme a terceira via, S. Toms se
eleva das contingncias observadas nas coisas afirmao de um
primeiro ser necessrio.
- Prova pelos graus de perfeio.
Esta prova parece fazer aplo a um outro princpio diferente dos
precedentes. Eis a concatenao.
No ponto de partida constatamos que h nas coisas perfeies,
bem, verdadeiro, realizadas em graus diferentes. Notemos que se
trata aqui apenas de perfeies que, ultrapassando o quadro dos
gneros e das espcies, existem analgicamente: eminentemente os
transcendentais.
Ora, princpio da prova, no se pode falar de graus de uma perfeio
em diversos sujeitos seno em relao a um trmo que possui esta
perfeio ao mximo: magis et minus dicuntur de diversis secundum
quod appropinquant diversimode ad aliquid quod maxime est.
H, pois, algo que o mais verdadeiro e o melhor e em
conseqncia o mais ser.
Ora, o que mximo em um certo gnero de perfeio causa de
tdas as perfeies dste gnero que possam existir.
Portanto, existe finalmente, algo que, para todos os sres, causa
do seu prprio ser, de sua bondade e de tdas as suas perfeies e
que chamamos Deus.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-3.htm (2 of 4)2006-06-01 12:20:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.3.
De incio, esta prova, cuja significao foi ocasio de numerosas
controvrsias, parece fazer aplo a uma relao diferente daquela de
causalidade: dos diferentes graus de uma perfeio remonto por
uma inferncia imediata ao mximo desta perfeio. Mas, de fato, em
S. Toms, a prova apenas est acabada e culmina prpriamente em
Deus no momento em que se tomou conscincia de que ste
mximo em uma ordem dada de perfeio causa das realizaes
inferiores desta mesma perfeio. A relao de participao de que
se trata inicialmente implica pois a de causalidade. Dste modo esta
prova pelos graus de ser nos faz ver as relaes das criaturas e de
Deus sob uma luz original, de um modo de alguma maneira mais
sinttico do que quando nos colocamos no simples ponto de vista
da causalidade. Tda a seqncia do tratado de Deus em S. Toms
(Cf. notadamente a demonstrao capital da identidade em Deus da
essncia e da existncia Ia p.a, q. 3, a. 4) se v, alis, inspirada por
estas concepes participacionistas nas quais, ainda uma vez, no
se deve procurar uma metafsica que viria se opor da causalidade
ou simplesmente suplant-la.
- A prova pela finalidade.
O ltimo argumento invocado se apia sbre a finalidade. Seu ponto
de partida est na constatao experimental de fatos de finalidade
ou de ordenao no domnio do mundo fsico. Ora, a ordem implica
inteno; a inteno supe a inteligncia. Deve haver portanto, em
definitivo, algum ser inteligente que ordena ao seu fim tdas as
coisas da natureza. Ns o denominamos Deus.
Sabe-se que em virtude da aparente facilidade que existe em fazer
valer a ordem do mundo, ste argumento goza de um favor
particular nos textos correntes relativos existncia de Deus. Em
realidade, tal argumento de uma utilizao assaz delicada.
- Unidade na dependncia causal das provas de Deus.
Cada um dos argumentos supra citados constitui uma prova distinta
culminando em demonstrar sob um aspecto particular a existncia
de Deus, primeira causa. Entretanto, h algo como que um fundo
metafsico comum que se reencontra em cada uma delas: a idia do
ser contingente ou do ser que no tendo sua suficincia por si
mesmo supe o ser por si, o qual se basta a si mesmo, e ao qual o
primeiro reportado por um liame de dependncia causal. O ser que
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-3.htm (3 of 4)2006-06-01 12:20:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.3.
no por si, necessriamente por um outro, o qual por si. Tda a
teologia repousa sbre a inferncia causal.
Esta inferncia legtima? o que nos cabe examinar no momento.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-3.htm (4 of 4)2006-06-01 12:20:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.4.
4. JUSTIFICAO CRITICA DA CAUSALIDADE
Comeada pelos nominalistas, a crtica da causalidade prosseguiu
no cartesianismo para terminar, com o empirismo ingls do sculo
XVIII, em uma negao radical. Da por diante na filosofia moderna
tornar-se- corrente no considerar a causalidade seno como uma
categoria ilusria ou subjetiva. Dentre as razes que conduziram a
essa negao encontra-se, nos cartesianos, uma concepo
demasiado absoluta da autonomia da substncia ou da
exclusividade da eficcia da ao divina; a causalidade segunda ou
aquela que os sres criados podem exercer uns sbre os outros
encontra-se, pois, mais ou menos comprometida. Mas a crtica mais
radical resulta de uma interpretao fenomenista da experincia,
como a que se pode encontrar em Hume, na qual, reduz-se a
causalidade a uma pura relao de sucesso. Lano uma bola que
vem bater em outra e a pe em movimento, digo ento que o
movimento da primeira bola causou o da segunda. Na realidade, no
observei seno a sucesso dos dois movimentos. verdade que em
circunstncias anlogas pude constatar que os mesmos fatos se
reproduziram; e por isso que terminei por considerar a relao
entre os dois movimentos como uma relao de dependncia e que
finalmente erigi esta dependncia em princpio absoluto, "tudo o que
movido movido por um outro". Mas fazendo isso ultrapassei o
que me era dado. Kant pretendeu salvaguardar o carter geral e
necessrio da relao causal, mas, como no fz dela seno uma
categoria a priori da experincia, foi conduzido a recusar-lhe tda
aplicao transcendente. Na realidade, como seus predecessores,
vtima de uma concepo fenomenista do conhecimento sensvel,
isto , nega em princpio inteligncia o poder de apreender o
inteligvel no sensvel.
Contra estas concepes crticas que apenas evocamos preciso
manter a realidade da causalidade tanto no plano da experincia, no
sentido estrito, como no da afirmao dos princpios metafsicos
primeiros.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-4.htm2006-06-01 12:20:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.5.
5. A EXPERINCIA DA CAUSALIDADE.
A relao causal nos dada de incio como um fato da experincia.
Um objeto parece vir para mim por um outro em movimento.
Aproximo meu dedo de uma chama e, sentindo uma sensao de
queimadura, declaro que a chama foi a causa da minha queimadura.
A vida corrente no feita seno de constataes semelhantes.
Certamente, posso me enganar designando as causas, pois o dado
sensvel complexo e dificilmente analisvel, mas h evidncias de
dependncia simples, sobretudo na experincia de minha atividade
de conscincia, que posso dificilmente recusar: quero levantar meu
brao e o levanto efetivamente; permaneo persuadido de que sou
eu que fui a causa do movimento de meu brao. Tda a vida prtica,
e, poder-se-ia acrescentar, todo o pensamento cientfico repousa
sbre esta suposio de que os sres, de que temos a experincia,
agem uns sbre os outros.
H, pois, uma experincia generalizada de seqncias causais ou de
relaes de dependncia efetiva; a metafsica pretende ir mais longe,
at afirmao de um princpio absoluto de causalidade: a
causalidade aparece, ento, em certas condies como uma lei,
como uma exigncia absoluta do ser e no mais como um simples
fato.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20Provvisori/mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-5.htm2006-06-01 12:20:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.6.
6. O PRINCPIO DE CAUSALIDADE.
Apenas consideraremos a causalidade na linha da eficincia, a qual
, alis, aquela onde esta noo se encontra mais normalmente
posta em questo pela crtica. Nessa linha, duas provas principais,
uma mais particular, outra mais profunda, do principio de
causalidade podem ser dadas.
- Tudo o que movido movido por um outro.
a formulao aristotlica comum do princpio de causalidade.
Numerosas justificaes podem ser dadas no plano fsico. Aqui nos
situaremos por completo no ponto de vista da anlise metafsica do
movimento em potncia e ato, onde se atingem imediatamente as
razes metafsicas mais profundas. (Cf. S. Toms, Prima via, Ia Pa, q.
2, a. 3).
Partamos do movimento no sentido global, onde ste trmo designa
tda passagem da potncia ao ato, isto , prticamente todo o devir.
Por outro lado, consideremos a existncia do movimento como um
fato evidente. E eis como raciocinamos.
Todo movimento uma passagem da potncia ao ato.
Ora, um ser em potncia no pode ser atuado seno por um ser em
ato: de potentia autem non potest aliquid reduci in actu nisi per
aliquid ens in actu.
Por outro lado, nenhum ser podendo estar em ato e em potncia
soba mesma relao, resulta finalmente que a passagem da potncia
ao ato no pode se efetuar seno sob a ao de um outro que esteja
em ato: omne ergo quod movetur opportet ab alio moveri.
- O ser que no por si necessriamente por um outro.
Aqui tomamos nosso ponto de partida no mais na mudana, mas
no ser que no por si, isto , cuja existncia no decorre
necessriamente de sua natureza ou de sua essncia: o
contingente, o qual pode ser ou no ser; todos os sres que nos so
experimentalmente dados so sres contingentes.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-6.htm (1 of 4)2006-06-01 12:20:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.6.
Consideremos um ser contingente: por si, pode tanto existir como
no existir; isto , sua existncia vem de algum modo se acrescentar
sua essncia; devido a isto, tal ser uma unio, uma composio
de elementos diversos. Ora, o que diverso no pode por si
constituir uma unidade, a menos que uma causa exterior intervenha
para dar a explicao da unidade: "quae enim secundum se diversa
sunt, non conveniunt in aliquid unum, nisi per aliquam causam
adunantem ipsa" (Ia Pa, q. 3, a. 7). O ser contingente onde se
encontra realizada uma tal unificao de elementos diversos requer,
portanto, necessriamente uma causa.
- Justificao pelo princpio de razo de ser.
Reencontramos a mesma concluso considerando o princpio de
causalidade como uma aplicao do princpio de razo de ser.
Todo ser que no tem sua razo de ser por si, tem-na por um outro.
Ora, o ser contingente um ser nestas condies: sua existncia
no tem sua razo de ser na sua essncia; portanto, o ser
contingente tem sua razo de ser em um outro, isto , le causado.
- Valor do princpio de causalidade.
Observou-se justamente que o princpio de causalidade no um
princpio estritamente analtico, isto , que o predicado "ser por um
outro" no est contido no seu sujeito "o ser que no por si". Em
outras palavras, posso muito bem conceber o ser contingente, ste
objeto que percebo atualmente, sem remontar sua causa.
Entretanto, preciso estabelecer que, de modo derivado, o princpio
de causalidade uma verdade evidente, pois a causa se segue,
como uma propriedade necessria, natureza do contingente.
Desde que compreendi o que "o ser que no por si" e "o ser que
por um outro", vejo que h implicao dstes dois trmos, "o ser
que no por si por um outro"
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-6.htm (2 of 4)2006-06-01 12:20:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.6.
"licet habitudo
ad causam
non intret
definitionem
entis quod est
causatum,
tamen sequitur
ad ea quae
sunt de ejus
ratione, quia
ex hoc quod
aliquid per
participationem
est ens,
sequitur quod
sit causatum
ab alio. Unde
hujusmodi ens
non potest
esse quin sit
causatum,
sicut nec
homo quin sit
risibilis".
Ia
Pa,
q.
44,
a.
1,
ad
1
No fundo, esta constatao repousa sbre a impossibilidade em que
se encontra "o ser que no por um outro" em se ver multiplicado. "
O ser que no por um outro", com efeito, no pode ser seno "por
si". E portanto o contingente, se no fsse causado seria um "ser
por si"; haveria, por conseguinte, vrios "ser por si". Mas, por outro
lado, "o ser por si", aqule cuja natureza ser, deve ser nico, pois
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-6.htm (3 of 4)2006-06-01 12:20:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.6.
o ser infinito no pode ter semelhante: no h vrios Deuses. H,
pois, contradio.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-6.htm (4 of 4)2006-06-01 12:20:24
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.7.
7. A CAUSA PRIMEIRA
No temos o desgnio de dar nem mesmo um esbo de um tratado
de Deus, o que ultrapassaria o quadro de uma simples introduo
metafsica. Quereramos, todavia, mostrar como a posio na qual
acabamos prticamente por terminar concernente causa primeira,
ou o ser por si, vem dar o seu coroamento filosofia tomista do ser.
O ser nos apareceu de incio como o dado primeiro da inteligncia.
Considerando-o formalmente como ser, precisamos a sua estrutura
e determinamos suas propriedades, os transcendentais.
Ressaltamos em seguida a lista das suas modalidades particulares
mais notveis, as categorias, as quais se organizaram em trno do
modo de ser fundamental que a substncia. Tomando na anlise
da mudana um nvo ponto de partida, fomos levados a distinguir
no ser o ato e a potncia; depois, em face do fato da sua limitao e
da sua multiplicidade, afirmamos sua composio real de essncia e
existncia.
Se retornamos considerao da multiplicidade dos sres que nos
so dados na experincia, somos alertados por sua imperfeio e
sua insuficincia essenciais: mudam e so limitados; o ser no lhes
pertence de fato, so essencialmente dependentes. Desta indigncia
mesma nos elevamos at a reconhecer a existncia de um ser
primeiro, causa de todos os outros: o ser que se move, o ser que
depende da eficincia de um outro, o ser contingente, o ser
imperfeito, o ser que tende para um fim, supem um primeiro motor
imvel, uma primeira causa eficiente, um ser necessrio, um ser
perfeito, uma inteligncia ordenadora suprema, que supre tdas
estas deficincias e que todos chamamos Deus.
Para conduzir ao seu acabamento a metafsica do ser, necessrio
ainda precisar com S. Toms que a essncia mesma de Deus seu
ser, que le o ser por si (Cf. Ia Pa, q. 3, a. 4), e que todo outro ser
necessriamente criado por Deus ou que ser por participao (Ia
Pa; q. 44, a. 1). O circuito da ontologia se encontra ento acabado
tanto em seu ramo descendente como no seu ramo ascendente.
Esquemticamente, essa dupla demonstrao se conduziria assim.
Nas criaturas, h necessriamente distino entre essncia e
existncia. Acontecer o mesmo com Deus? No, pois sendo a
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-7.htm (1 of 4)2006-06-01 12:20:25
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.7.
primeira causa eficiente, no pode receber sua existncia de um
outro, nem mesmo de si prprio, no pode portanto possu-Ia seno
por sua natureza. No tendo, por outro lado, nenhuma
potencialidade, no pode ser, em sua essncia, seno o puro de sua
existncia. Sendo o primeiro existente, no pode ser, em virtude das
prprias leis da participao, seno por sua essncia. portanto
impossvel que em Deus a essncia seja diferente da existncia:
Impossibile est ergo, quod in Deo sit aliud esse, et aliud ejus
essentia.
Voltando-nos agora para as criaturas, deveremos dizer que
necessrio que todo ser seja criado por Deus. Se, com efeito, uma
coisa existe em um sujeito por participao, necessrio que seja
causada por aqule onde esta coisa existe por si. Ora, Deus o ser
que existe por si e no pode haver seno um ser que exista por si.
Segue-se que tdas as outras coisas diferentes de Deus no sejam o
seu ser, mas participem do ser. E, finalmente, tudo o que se
diversifica segundo diversas participaes de ser causado por um
primeiro ser que absolutamente perfeito: Necesse est igitur quod
omnia quae diversificantur secundum diversam participationem
essendi... causari ab uno primo ente quod perfectissime est.
Vista dsse ponto culminante, tda a metafsica do ser concreto nos
parece ento se exprimir com a mais absoluta simplicidade: no
princpio, o ser que existe por si mesmo, aqule cuja essncia
existir; na sua dependncia radical, os sres que no podem existir
por si mesmos, que recebem dle a sua existncia. o que exprime
a 3 das 24 teses tomistas: " porque na razo absoluta de seu ser
nico subsiste Deus, nico na sua simplicidade absoluta; tdas as
outras coisas que participam de seu ser tm uma natureza que
contracta seu ser, e so compostas, como de princpios realmente
distintos, de. essncia e existncia".
Restaria precisar como se deve entender com S. Toms essa
participao no ser de Deus que estabelece a criatura no seu
estatuto ontolgico prprio: mas isso pertence a esta metafsica
sinttica do tratado de Deus, nos limites da qual intentamos
permanecer. -nos suficiente remeter para esta questo aos
recentes trabalhos que revalorizaram ste aspecto do pensamento
do Doutor anglico: Fabro, La nozione metafisica di participazione
secondo san Tomaso d'Aquino; Geiger, La participation dans la
philosophie de saint Thomas d'Aquin.
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-7.htm (2 of 4)2006-06-01 12:20:25
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.7.
Em definitivo, tda a filosofia do ser repousa sbre o
reconhecimento da identidade que existe em Deus entre a essncia
e a existncia, identidade que faz dle o ser em plenitude no qual
todos os outros sres participam. E S. Toms reaproxima, no sem
um certo lirismo, esta verdade "sublime" da revelao do nome
divino no xodo
"Sbre
esta
verdade
sublime
Moiss foi
instrudo
por Deus,
le que fz
ao Senhor
esta
pergunta:
Se os
filhos de
Israel
vierem me
perguntar:
Qual seu
nome? O
que lhes
direi? E o
Senhor
respondeu:
Eu sou
aqule que
sou. Assim
falars aos
filhos de
Israel:
Aqule que
me
enviou a
vs; e com
isto
manifestava
que seu
nome
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-7.htm (3 of 4)2006-06-01 12:20:25
H. D. Gardeil Introduo Filosofia de S. Toms de Aquino QU: L.13, C.7.
prprio
Quem .
Ora, todo
nome tem
por fim
significar a
natureza
ou
essncia
de uma
coisa.
Resta pois
que o ser
divino
sua
essncia
ou sua
natureza.
Contra
Gentiles,
I, c. 52
file:///D|/Documenta%20Chatolica%20Omnia/99%20-%20.../mbs%20Library/001%20-Da%20Fare/METAFISICA13-7.htm (4 of 4)2006-06-01 12:20:25
Você também pode gostar
- Os 4 TemperamentosDocumento14 páginasOs 4 Temperamentosrenan18mcg100% (6)
- Autopiedade Neurótica e Terapia Anti Queixa - Gerard J.M. Van Den AardwegDocumento133 páginasAutopiedade Neurótica e Terapia Anti Queixa - Gerard J.M. Van Den Aardwegrenan18mcg100% (3)
- Síntese Tomista Pe. Reginald Garrigou-LagrangeDocumento547 páginasSíntese Tomista Pe. Reginald Garrigou-LagrangeLuiza Colassanto Zamboli100% (5)
- Constituição Cristã Do EstadoDocumento10 páginasConstituição Cristã Do Estadophlsmoby3899Ainda não há avaliações
- A Antropologia TomistaDocumento22 páginasA Antropologia Tomistamub100% (1)
- A VIRTUDE DO AMOR Pe. Paul de Jaegher PDFDocumento187 páginasA VIRTUDE DO AMOR Pe. Paul de Jaegher PDFRawellyton MedeirosAinda não há avaliações
- GRAÇA by PADRE Reginald Garrigou Lagrange OPDocumento203 páginasGRAÇA by PADRE Reginald Garrigou Lagrange OPLuiza Colassanto Zamboli100% (4)
- O Futuro Do Pensamento Brasileiro - Olavo de Carvalho PDFDocumento170 páginasO Futuro Do Pensamento Brasileiro - Olavo de Carvalho PDFRafael J Fortes100% (1)
- A Nova Teologia - Os Que Pensam Que VenceramDocumento0 páginaA Nova Teologia - Os Que Pensam Que Venceramfredvox4715Ainda não há avaliações
- São Tomás de Aquino - Suma Contra Os Gentios Vi Livro 1Documento173 páginasSão Tomás de Aquino - Suma Contra Os Gentios Vi Livro 1andrecaregnato100% (2)
- O Livre-Arbitrio - Santo AgostinhoDocumento151 páginasO Livre-Arbitrio - Santo Agostinhorenan18mcgAinda não há avaliações
- Teologia Moral Compêndio-1 Parte - Pe. Teodoro Da Torre Del GrecoDocumento215 páginasTeologia Moral Compêndio-1 Parte - Pe. Teodoro Da Torre Del Grecorenan18mcgAinda não há avaliações
- A Suma Teológica em Forma de CatecismoDocumento143 páginasA Suma Teológica em Forma de Catecismorenan18mcgAinda não há avaliações
- Commonitorium - São Vicente de LérinsDocumento33 páginasCommonitorium - São Vicente de Lérinsrenan18mcgAinda não há avaliações
- Biomecânica Interfaces Com o Esporte, Saúde e Exercício Físico - Nodrm PDFDocumento988 páginasBiomecânica Interfaces Com o Esporte, Saúde e Exercício Físico - Nodrm PDFcarlos100% (2)
- Jose Pedro Galvao de Sousa - Da Representacao PoliticaDocumento157 páginasJose Pedro Galvao de Sousa - Da Representacao PoliticaMaat ManningAinda não há avaliações
- Manual GeriatriaDocumento35 páginasManual GeriatriaAndreia Afonso100% (1)
- Cornelio Fabro - Deus (Reformatado) .PDF Versão 1Documento256 páginasCornelio Fabro - Deus (Reformatado) .PDF Versão 1Urlan Salgado de Barros100% (2)
- A Perspectiva Metafísica de Joseph Marechalk PDFDocumento204 páginasA Perspectiva Metafísica de Joseph Marechalk PDFLucas Reis100% (1)
- A Pascendi Explicada - Luzes para Os Católicos de HojeDocumento28 páginasA Pascendi Explicada - Luzes para Os Católicos de HojeTatianeFranzAinda não há avaliações
- Lógica TomistaDocumento14 páginasLógica TomistaalexacAinda não há avaliações
- 1 Dificuldades Gerais Da Psicologia Contemporânea para Compreender A Natureza Do Amor1Documento2 páginas1 Dificuldades Gerais Da Psicologia Contemporânea para Compreender A Natureza Do Amor1Miguel SorianiAinda não há avaliações
- Lições de Filosofia TomistaDocumento492 páginasLições de Filosofia TomistaIngrid VieiraAinda não há avaliações
- Introducao A Suma TeologicaDocumento92 páginasIntroducao A Suma Teologicakwalldio100% (9)
- Seleção de Textos - Cardeal J. RatzingerDocumento79 páginasSeleção de Textos - Cardeal J. RatzingerCarlos Lopes שלום100% (1)
- Lista de Autores TomistasDocumento8 páginasLista de Autores TomistasJonatas TaimonAinda não há avaliações
- O Ente e A Essência - Tomás de AquinoDocumento48 páginasO Ente e A Essência - Tomás de AquinoVitor Hugo Guimarães100% (1)
- John Finnis - Teoria de JustiçaDocumento153 páginasJohn Finnis - Teoria de JustiçaViniciusSilvaAinda não há avaliações
- As Ambiguidades de Marcel LefebvreDocumento6 páginasAs Ambiguidades de Marcel Lefebvrejesus2011aAinda não há avaliações
- Joseph Ratzinger - Meditação Sobre A FéDocumento22 páginasJoseph Ratzinger - Meditação Sobre A FéTollom100% (1)
- Mons Segur - Perguntas e RespostasDocumento188 páginasMons Segur - Perguntas e RespostasVinícius José Dias100% (1)
- Alceu Amoroso Lima - Meditação Sobre o Mundo Interior - 1955 - Livro PDFDocumento122 páginasAlceu Amoroso Lima - Meditação Sobre o Mundo Interior - 1955 - Livro PDFdidiodj100% (1)
- João de Santo Tomás - Sobre A Deposição Do PapaDocumento27 páginasJoão de Santo Tomás - Sobre A Deposição Do PapaHenrique SilvaAinda não há avaliações
- Contribuições Da Psicologia Tomista Ao Estudo Da Plasticidade Do Ethos PDFDocumento710 páginasContribuições Da Psicologia Tomista Ao Estudo Da Plasticidade Do Ethos PDFRebecaDiasAinda não há avaliações
- Santo Tomás, Psicólogo - Ignacio Andereggen PDFDocumento9 páginasSanto Tomás, Psicólogo - Ignacio Andereggen PDFRobert BarbosaAinda não há avaliações
- A Propriedade Na Doutrina Social Da IgrejaDocumento16 páginasA Propriedade Na Doutrina Social Da IgrejaPedro Gabriel Alves SampaioAinda não há avaliações
- Fulton Sheen Opio Do Povo Livro 1953Documento14 páginasFulton Sheen Opio Do Povo Livro 1953OliveiraBR100% (1)
- DEHEDBDocumento172 páginasDEHEDBpedroza08100% (1)
- A Ordem Moral em 19 Teses. Cornelio FabroDocumento7 páginasA Ordem Moral em 19 Teses. Cornelio FabroCaio HS de LimaAinda não há avaliações
- A Lógica TomistaDocumento28 páginasA Lógica TomistamubAinda não há avaliações
- Chantiver MomndDocumento58 páginasChantiver MomndKrause Hoffer100% (3)
- Iniciação À Filosofia de Santo Tomás de AquinoDocumento358 páginasIniciação À Filosofia de Santo Tomás de AquinoEmerson Ribeiro100% (1)
- PIEPER - As Virtudes Cardeais RevisitadasDocumento7 páginasPIEPER - As Virtudes Cardeais RevisitadasAntonio Leonardo de SouzaAinda não há avaliações
- Itinerário Da Mente para Deus - São BoaventuraDocumento57 páginasItinerário Da Mente para Deus - São BoaventuraPacific 13Ainda não há avaliações
- Unamuno Miguel de Verdade e VidaDocumento15 páginasUnamuno Miguel de Verdade e VidaAh Wang Miguel100% (1)
- Defesa Da Imaculada Conceição - João Duns EscotoDocumento18 páginasDefesa Da Imaculada Conceição - João Duns EscotoZé Calo AdventuresAinda não há avaliações
- Consciência Moral em John Henry NewmanDocumento126 páginasConsciência Moral em John Henry NewmanWeber BragaAinda não há avaliações
- Escola Tomista: Professor Carlos Nougué Aula 43Documento16 páginasEscola Tomista: Professor Carlos Nougué Aula 43TradconAinda não há avaliações
- Transcrição Da Aula Do NouguéDocumento8 páginasTranscrição Da Aula Do NouguéThiago José Gonçalves MendesAinda não há avaliações
- Catecismo Sobre o ModernismoDocumento15 páginasCatecismo Sobre o ModernismoendrioAinda não há avaliações
- Moral e Religião em Freud - Pe. Ignacio Andereggen PDFDocumento7 páginasMoral e Religião em Freud - Pe. Ignacio Andereggen PDFRobert BarbosaAinda não há avaliações
- REALE. para Uma Nova Interpretação de PlatãoDocumento2 páginasREALE. para Uma Nova Interpretação de PlatãoRodrigo Alves67% (3)
- Duns Scot o Ancestral Da Modernidade - Sidney Silveira PDFDocumento4 páginasDuns Scot o Ancestral Da Modernidade - Sidney Silveira PDFBruno TierAinda não há avaliações
- A Imortalidade Da Alma Humana Segundo Santo Tomás de AquinoDocumento20 páginasA Imortalidade Da Alma Humana Segundo Santo Tomás de AquinoAntonio Janunzi Neto50% (2)
- Finnis, Teoria Do Direito NaturalDocumento69 páginasFinnis, Teoria Do Direito NaturalÉrika SaraivaAinda não há avaliações
- Filosofia e Cristianismo1Documento10 páginasFilosofia e Cristianismo1Junior FernandesAinda não há avaliações
- Resumo Aula 10Documento12 páginasResumo Aula 10João VictorAinda não há avaliações
- Escola Tomista - Transcri o Da Aula 2 PDFDocumento16 páginasEscola Tomista - Transcri o Da Aula 2 PDFTássio Oliveira CostaAinda não há avaliações
- PIEPER Josef - Que e FilosofarDocumento35 páginasPIEPER Josef - Que e FilosofarMarcmelo100% (3)
- No Princípio Está a Communio: Textos selecionados sobre eucaristia, eclesiologia e mariologiaNo EverandNo Princípio Está a Communio: Textos selecionados sobre eucaristia, eclesiologia e mariologiaAinda não há avaliações
- Jorge Mario Bergoglio: As Raízes do Pensamento do Papa FranciscoNo EverandJorge Mario Bergoglio: As Raízes do Pensamento do Papa FranciscoAinda não há avaliações
- São Domingos e Sua Ordem - Fr. Bernadot O.P.Documento106 páginasSão Domingos e Sua Ordem - Fr. Bernadot O.P.renan18mcg100% (1)
- Werner Jaeger - Paideia, A Formação Do Homem GregoDocumento716 páginasWerner Jaeger - Paideia, A Formação Do Homem GregoKheóps Justo93% (42)
- Philosophia Elementar Racional e Moral - José Soriano de SouzaDocumento578 páginasPhilosophia Elementar Racional e Moral - José Soriano de Souzarenan18mcg100% (1)
- GILSON, Etienne. A Filosofia Na Idade MédiaDocumento484 páginasGILSON, Etienne. A Filosofia Na Idade MédiaProfFaria1100% (10)
- Regra de Santo AgostinhoDocumento5 páginasRegra de Santo Agostinhorenan18mcg100% (1)
- Assis Se Repete - Hirley Nelson de SouzaDocumento18 páginasAssis Se Repete - Hirley Nelson de Souzarenan18mcgAinda não há avaliações
- Reforma Agrária Questão de ConciênciaDocumento124 páginasReforma Agrária Questão de Conciênciarenan18mcg100% (1)
- Por Um Cristianismo Autêntico - Dom Antônio de Castro MayerDocumento211 páginasPor Um Cristianismo Autêntico - Dom Antônio de Castro Mayerrenan18mcgAinda não há avaliações
- Teologia Moral Compêndio-2 Parte - Pe. Teodoro Da Torre Del GrecoDocumento216 páginasTeologia Moral Compêndio-2 Parte - Pe. Teodoro Da Torre Del Grecorenan18mcgAinda não há avaliações
- Caminho de Perfeição PDFDocumento86 páginasCaminho de Perfeição PDFWilliam Santiago100% (3)
- Catecismo Católico (Grande) - Pe José DeharbesDocumento179 páginasCatecismo Católico (Grande) - Pe José DeharbescsavfnAinda não há avaliações
- Patrística - A Verdadeira Religião - o Cuidado Devido Aos Mortos - Santo AgostinhoDocumento33 páginasPatrística - A Verdadeira Religião - o Cuidado Devido Aos Mortos - Santo AgostinhoYuri SteinhoffAinda não há avaliações
- Contrição PerfeitaDocumento35 páginasContrição PerfeitaSpe DeusAinda não há avaliações
- A Reforma Da Liturgia RomanaDocumento43 páginasA Reforma Da Liturgia RomanaWeberson RamonAinda não há avaliações
- Dominus Est - É o Senhor - Reflexões Sobre A EucaristiaDocumento61 páginasDominus Est - É o Senhor - Reflexões Sobre A EucaristiaWill FelixAinda não há avaliações
- Santa Teresa Davila Livro Da VidaDocumento301 páginasSanta Teresa Davila Livro Da Vidarenan18mcgAinda não há avaliações
- Delassus H - A Conjuracao Anticrista Vol III Portuguese 1910Documento241 páginasDelassus H - A Conjuracao Anticrista Vol III Portuguese 1910IlluminhateAinda não há avaliações
- A Conjuracao Anticrista (Tomo 1)Documento149 páginasA Conjuracao Anticrista (Tomo 1)renan18mcg100% (1)
- A Influência Dos Jogos Eletrônicos Violentos Nos Adolescentes - Psicologia Geral - Psicologado - Artigos de Psicologia - Psicologado ArtigosDocumento18 páginasA Influência Dos Jogos Eletrônicos Violentos Nos Adolescentes - Psicologia Geral - Psicologado - Artigos de Psicologia - Psicologado ArtigosCaio LemosAinda não há avaliações
- 4718 18209 1 PB PDFDocumento468 páginas4718 18209 1 PB PDFWandencolk CoêlhoAinda não há avaliações
- BoschettiDocumento11 páginasBoschettiGessicaAinda não há avaliações
- Lista de Exercicios 02Documento4 páginasLista de Exercicios 02adenilsonboeiraAinda não há avaliações
- Desenvolvimento de Um Ensaio de Vida Acelerado Simplificado para Medidores Eletrônicos de Energia - Primeiros ResultadosDocumento12 páginasDesenvolvimento de Um Ensaio de Vida Acelerado Simplificado para Medidores Eletrônicos de Energia - Primeiros Resultadoseduardo_yamakawaAinda não há avaliações
- Bauman Carta 24Documento6 páginasBauman Carta 24napsic10Ainda não há avaliações
- Atividade 3 - Mat - Cálculo Numérico - 542023Documento7 páginasAtividade 3 - Mat - Cálculo Numérico - 542023Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações
- Training Global Land Handout PTDocumento4 páginasTraining Global Land Handout PTElaine ValdemirAinda não há avaliações
- Atividade de História - 1º AnoDocumento2 páginasAtividade de História - 1º Anowannessawillyane1607Ainda não há avaliações
- OneirocineseDocumento2 páginasOneirocineseJoão Victor AraújoAinda não há avaliações
- Conectores DiscursivosDocumento3 páginasConectores DiscursivosSilisori100% (1)
- Reforma Psiquiátrica e o Papel Do PsicólogoDocumento3 páginasReforma Psiquiátrica e o Papel Do PsicólogoYasmim VeigaAinda não há avaliações
- Marxismo, Realismo e Direitos Humanos PDFDocumento10 páginasMarxismo, Realismo e Direitos Humanos PDFJobson Barros0% (1)
- Dfpe - Fundamentos Da Psicologia EducacionalDocumento3 páginasDfpe - Fundamentos Da Psicologia EducacionalJuliana MonteiroAinda não há avaliações
- O Som Como Elemento Narrativo: o Papel Do Sound Design No Filme THX 1138Documento47 páginasO Som Como Elemento Narrativo: o Papel Do Sound Design No Filme THX 1138Artesãos do SomAinda não há avaliações
- RESULTADO FINAL EDITAL No 007 2023 EDUCACAO INDIGENA COTA NEGRODocumento25 páginasRESULTADO FINAL EDITAL No 007 2023 EDUCACAO INDIGENA COTA NEGROAdrielly CristinaAinda não há avaliações
- Meader 1978 IndiosDoNordeste PDFDocumento51 páginasMeader 1978 IndiosDoNordeste PDFPedro RatisAinda não há avaliações
- Cartilha NeurodiversidadeDocumento19 páginasCartilha NeurodiversidadeIngridbb100% (1)
- Ebook - Timidez - Você Não Está SozinhoDocumento16 páginasEbook - Timidez - Você Não Está SozinhoRegiane AnicésioAinda não há avaliações
- Regulamento de Atividades Complementares 1Documento25 páginasRegulamento de Atividades Complementares 1Duany DraytonAinda não há avaliações
- Exercícios de TeatroDocumento11 páginasExercícios de TeatroWillerson PaulaAinda não há avaliações
- EBDDocumento36 páginasEBDTulio Vila NovaAinda não há avaliações
- Lição 1Documento6 páginasLição 1Leandro di PaulaAinda não há avaliações
- Aletheia 1Documento4 páginasAletheia 1mjmbentoAinda não há avaliações
- Exemplo de Laudo de AvaliaçãoDocumento10 páginasExemplo de Laudo de AvaliaçãoDiego AlvesAinda não há avaliações
- Fichamento de Psicopedagogia ClínicaDocumento4 páginasFichamento de Psicopedagogia ClínicaAndreia Lucchesi MarquesAinda não há avaliações