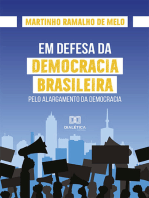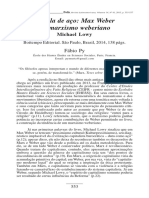Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
As Críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser A Habermans PDF
As Críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser A Habermans PDF
Enviado por
Flávia FrancoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
As Críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser A Habermans PDF
As Críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser A Habermans PDF
Enviado por
Flávia FrancoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
5
AS CRÍTICAS DE AXEL HONNETH
E NANCY FRASER À FILOSOFIA
POLÍTICA DE JÜRGEN HABERMAS
Jorge Adriano Lubenow*
RESUMO – O artigo apresenta os argumentos centrais da política
deliberativa de Jürgen Habermas (1), e as perspectivas críticas de
Axel Honneth (2) e Nancy Fraser (3) de forma a conferir à política
habermasiana uma dimensão mais realista, um conteúdo político de
vínculo mais concreto com a orientação emancipatória da práxis, e
capaz de lidar melhor com a diferença, a diversidade e o conflito.
PALAVRAS-CHAVE – Axel Honneth. Jürgen Habermas. Nancy Fraser.
Política. Reconhecimento.
ABSTRACT – The article presents the central arguments of Jürgen
Habermas’s deliberative politics (1), the critical standpoints offered by
Axel Honneth (2) and Nancy Fraser (3) so as to provide Habermasian
politics with a more realistic dimension, a political content with a more
concrete orientation of emancipatory praxis, and enable it to cope with
difference, diversity, and conflict.
KEYWORDS – Axel Honneth. Jürgen Habermas. Nancy Fraser. Politics.
Recognition.
1. A política deliberativa de Habermas
Na obra Faktizität und Geltung (1992),1 Habermas elabora um amplo
conceito de política deliberativa, ancorado num modelo de circulação de
poder denominado de “eclusas”, e com ênfase na institucionalização.
Neste modelo, os processos de comunicação e decisão do sistema político
estão ancorados no mundo da vida por uma abertura estrutural, permitida
por uma esfera pública sensível, porosa, capaz de introduzir no sistema
político os conflitos existentes na periferia.
A concepção de política deliberativa é uma tentativa de formular
uma teoria da democracia a partir de duas tradições teórico-políticas: a
* Doutor em Filosofia pela UNICAMP. Professor Adjunto I da UFPI. Professor Perma-
nente junto ao Mestrado em Ética e Epistemologia da UFPI e Pesquisador DCR/
CNPq 1C (2007-2010). E-mail: lubenow@ufpi.edu.br
1 Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Frankfurt: Suhrkamp, 1992, 2v.
Veritas Porto Alegre v. 55 n. 1 jan./abr. 2010 p. 121-134
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
concepção de autonomia pública da teoria política republicana (vontade
geral, soberania popular), com a concepção de autonomia privada da
teoria liberal (liberdades individuais, interesses particulares). Ela pode
ser concebida, simultaneamente, como um meio-termo e uma alternativa
aos modelos republicano e liberal.2
Para Habermas, dois modelos normativos de democracia dominaram
o debate até aqui: o liberal e o republicano. Diante destes, propõe
um modelo alternativo, o procedimental-deliberativo.3 A dimensão
política comparativa tomada pelo autor é a formação democrática da
opinião e da vontade;4 além disso, o entendimento distinto do processo
democrático carrega também compreensões normativas distintas de
estado e sociedade, e para a compreensão da legitimidade e da soberania
popular.
O modelo deliberativo acolhe elementos dos modelos liberal e
republicano e os integra de uma maneira nova e distinta num conceito
de procedimento ideal para deliberações e tomadas de decisão. Esta
compreensão do processo democrático tem conotações normativas mais
fortes que o modelo liberal, mas menos normativas do que o modelo
republicano. Como o republicanismo, a teoria discursiva da democracia
reserva uma posição central ao processo político de formação da opinião e
da vontade, entretanto sem entender como algo secundário a constituição
jurídico-estatal.5 Como o modelo liberal, também na teoria discursiva
da democracia os limites entre Estado e sociedade são respeitados.
Todavia, aqui, a sociedade civil, como base social das opiniões públicas
autônomas, distingue-se tanto dos sistemas de ação econômicos quanto da
administração pública. Dessa compreensão do procedimento democrático
resulta normativamente a exigência de um deslocamento dos pesos que
se aplicam a cada um dos elementos na relação entre os três recursos, a
saber, dinheiro, poder administrativo e solidariedade, a partir das quais
as sociedades modernas preenchem sua necessidade de integração e
de regulação. As implicações normativas são evidentes: a força socio-
integrativa da solidariedade, que não pode mais ser obtida, mas ser
extraída apenas das fontes da ação comunicativa, precisa desenvolver-se
em espaços públicos autônomos diversos e procedimentos de formação
democrática da opinião e da vontade política institucionalizados jurídico-
2 Jessé Souza. “A singularidade Ocidental como aprendizado reflexivo: Jürgen
Habermas e o conceito de esfera pública”, in ___, A modernidade seletiva. Brasília:
Ed. UnB, 2000, p. 59.
3 Jürgen Habermas, “Drei normative Modelle der Demokratie”, in ___, Die Einbeziehung
des Anderen. Suhrkamp, 2006, p. 277.
4 Habermas, “Drei normative Modelle der Demokratie”, p. 285.
5 Habermas, “Drei normative Modelle der Demokratie”, p. 287.
122 Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
estatalmente; e ser capaz de se afirmar contra os outros dois poderes,
dinheiro (mercado) e poder administrativo (estado).6
“Deliberação” é uma categoria normativa que sublinha uma concepção
procedimental de legitimidade democrática. Esta concepção normativa
gera uma matriz conceitual diferente para definir a natureza do processo
democrático,7 sob os aspectos regulativos (exigências normativas) da
publicidade, racionalidade e igualdade.8 O princípio procedimental
da democracia visa amarrar um procedimento de normatização (o que
significa: um processo de institucionalização da formação racional da
opinião e da vontade), através do caráter procedimental, que garante
formalmente igual participação em processos de formação discursiva da
opinião e da vontade e estabelece, com isso, um procedimento legítimo
de normatização. Nesse caminho via procedimento e deliberação, que
constitui o cerne do processo democrático, pressupostos comunicativos
de formação da opinião e da vontade funcionam como a “eclusa” mais
importante para a racionalização discursiva das decisões no âmbito
institucional. Procedimentos democráticos proporcionam resultados
racionais na medida em que a formação da opinião e da vontade
institucionalizada é sensível aos resultados de sua formação informal da
opinião que resulta das esferas públicas autônomas e que se formam ao
seu redor. As comunicações públicas, oriundas das redes periféricas, são
captadas e filtradas por associações, partidos e meios de comunicação,
e canalizadas para os foros institucionais de resolução e tomadas de
decisão:
A chave da concepção procedimental de democracia consiste precisamente no
fato de que o processo democrático institucionaliza discursos e negociações
com o auxílio de formas de comunicação as quais devem fundamentar a
suposição de racionalidade para todos os resultados obtidos conforme o
processo.9
A concepção deliberativa da democracia considera a participação
dos cidadãos nas deliberações e nas tomadas de decisão o elemento
central da compreensão do processo democrático. Nesse sentido, focaliza
os elementos formais e normativos, como a exigência do aumento da
participação dos cidadãos nos processos de deliberação e decisão e
o fomento de uma cultura política democrática. O procedimento da
deliberação não é apenas uma etapa de discussão que antecede a tomada
de decisão. Mais do que isso, ela tem o objetivo de justificar as decisões
6 Habermas, “Drei normative Modelle der Demokratie”, p. 288-289.
7 Habermas, “Drei normative Modelle der Demokratie”, p. 277.
8 Habermas, “Political communication in media society”, p. 4. (manuscrito, 2006)
9 Habermas, Faktizität und Geltung, p. 368.
Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134 123
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
a partir de razões que todos poderiam aceitar. Esse é o procedimento
deliberativo da razão pública: fornecer um espectro de razões que
poderiam ser aceitas por todos os possíveis atingidos, ainda que nem
todos compartilhem com o tema ou assunto em questão, ou com a mesma
filosofia de vida. Segundo Marcos Nobre:
O procedimento, para Habermas, é “formal”, mas não em oposição a conteúdos
determinados, de que ele seria a abstração, ou em relação aos quais ele seria
“vazio”, mas o processo capaz de permitir o surgimento do maior número
possível de vozes, de alternativas de ação e de formas de vida, garantindo seu
direito de expressão e de participação. Ele é formal também no sentido de que
o processo de deliberação política não pode ser orientado por nenhuma forma
de vida determinada, por nenhum modelo concreto do que deva ser a sociedade
ou os cidadãos que vivem em um Estado Democrático de Direito.10
Como podemos ver, a deliberação é um procedimento que indica “quem”
deve participar e “como”, mas não tem nada a dizer sobre o preenchimento
dos “conteúdos” normativos, sobre “o que” deve ser decidido. Ou seja,
as regras do jogo democrático – eleições regulares, princípio da maioria,
sufrágio universal, alternância de poder – não fornecem nenhuma
orientação nem podem garantir o “conteúdo” das deliberações e decisões.
Os “pressupostos idealizadores” – de inclusão, acesso universal, direitos
comunicativos iguais, participação sob igualdade de direitos, igualdade
de chances para todas as contribuições, ausência de coações – apenas
têm o caráter de garantir formalmente uma pressuposição fática para
gozar chances iguais.11 Por esse modo, o princípio formal da deliberação
democrática não pode ser confundido ou reduzido a outros bens,
também valiosos, como “justiça social”, “Estado de direito”, “direitos
sociais” e “direitos culturais”, mais próximos das teorias explicativas da
democracia, fundados nos interesses e nas preferências dos indivíduos
(preferências e interesses substantivos: ou sociais, ou materiais, ou
culturais, ou ainda outros). Os procedimentos deliberativos escapam
das restrições de uma única dimensão da razão prática, seja moral,
ética ou pragmática.12 Nesse sentido, os aspectos procedimentais do uso
público da razão, ao confiarem mais no procedimento deliberativo de uma
formação da opinião e da vontade, podem deixar questões em aberto.13
10
Marcos Nobre, “Introdução”, in: Marcos Nobre & Ricardo Terra. Direito e democracia:
um guia de leitura. Malheiros, 2007, p. 18.
11 Habermas, “Anhang zu ‘Faktizität und Geltung’”, in: Die Einbeziehung des Anderen,
p. 340-341.
12 Denílson Werle, “Democracia deliberativa e os limites da razão pública”, in: Marcos
Nobre & Vera Coelho. Participação e deliberação. Editora 34, 2004, p. 148-149.
13 Segundo Habermas, “não é possível estabilizar definitivamente expectativas de
comportamentos sociais, que dependem de soluções falíveis e precárias”, in:
Faktizität und Geltung, v. I, p. 57.
124 Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
Esta compreensão falível do paradigma procedimental tem implicações
sobre a compreensão da justiça e o sentido da igualdade. A compreensão
procedimental habermasiana visa explicitar, em forma de crítica, as
debilidades normativas dos modelos liberal e republicano, que, por
exemplo, fixam de antemão a escolha sobre o sentido da igualdade
jurídica; ou fixam de antemão quais assuntos são privados e quais
são públicos. Com o paradigma procedimental, a determinação do
sentido da igualdade é lançado no campo político de comunicação
pública. O conteúdo da igualdade jurídica deve ser considerado objeto
de uma disputa política. Um conflito no qual o sentido da igualdade é
decidido num processo de comunicação pública, conduzido pelos próprios
participantes e possíveis afetados por meio do exercício público de
formação democrática da opinião e da vontade. O modelo deliberativo
considera os próprios concernidos como responsáveis pela definição dos
critérios de igualdade a serem aplicadas ao sistema de direitos.
Com isso, a fundamentação de igualdades materiais é incorporada na
teoria democrática como uma disputa política em torno do que precisa
ser reconhecido. Uma luta pelo reconhecimento jurídico de necessidades
e exigências normativas peculiares em relação ao conjunto de toda a
comunidade jurídica, na qual os grupos interessados procuram apresentar
aos demais as experiências particulares de exclusão social, discriminação
e carências em vista do convencimento sobre a necessidade de um
tratamento jurídico formalmente diferenciado. Segundo o princípio amplo
da igualdade do conteúdo do direito, aquilo que é igual sob aspectos
relevantes deve ser tratado de modo igual, e aquilo que é diferente deve
ser tratado de modo diferente.14
Esta perspectiva procedimental abre a possibilidade de avaliação
motivada pela própria experiência sofrida com a não realização de
direitos, das alternativas existentes em relação à permanência no
paradigma social ou um retorno ao paradigma liberal. Nesse sentido,
Habermas encontra a emergência do paradigma procedimental já
enraizada em algumas vertentes da prática jurídica contemporânea,
que se vê encurralada entre a crítica ao modelo social e a rejeição do
retorno ao modelo liberal. No entanto, é em certos desenvolvimentos de
movimentos feministas de esquerda norte-americanos que Habermas
encontra a melhor expressão das exigências normativas, da necessidade
de uma orientação procedimentalista da prática jurídica contemporânea:
o movimento feminista, ao ter experimentado as limitações específicas de
ambos os paradigmas anteriores, estaria agora em condições de negar
a cegueira em relação às desigualdades factuais do modelo paternalista
14
Habermas, Faktizität und Geltung, p. 494-99.
Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134 125
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
social. Nesse caso, as diferentes interpretações sobre a identidade dos
sexos e suas relações mútuas têm de se submeter a discussões públicas
constantes, no qual as próprias concernidas podem reformular o tema ou
assunto em questão a ser reconhecido, e elas mesmas decidirem quais
as necessidades que precisam ser corrigidas pelo medium do direito.15
Os argumentos em favor da concepção deliberativa de esfera pública
e de política têm sido alvo de muitas críticas. Muitos teóricos que
se ocupam com teorias democráticas têm questionado as assunções
básicas da teoria política deliberativa que resulta da obra sobre direito
e democracia, apontando vários pontos frágeis: o seu incansável
procedimentalismo; o caráter idealista; de que a proposta de uma reforma
democrática das instituições não seria tão radical assim; a incapacidade
de fornecer princípios substantivos de justiça social; de que, apesar da
intencionalidade prática, Habermas não explicita nenhum destinatário
em particular; que as características ou pressupostos deliberativos
se manifestam apenas em formas específicas e restritas. A ênfase da
deliberação é nos elementos normativos e consensuais do modelo
deliberativo ou é uma ênfase realista os interesses e no potencial de
conflito neles contido? O modelo deliberativo consegue neutralizar e
suspender disparidades econômicas, sociais, culturais, cognitivas, entre
outras, e promover um resultado satisfatório, de igualdade e justiça?
Seu aspecto cognitivo realmente introduz uma gradual abolição destas
desigualdades e disparidades, promove igualdade e produz resultados
políticos justos? Enfim, trata-se de processos de deliberação ideal ou de
deliberação efetiva?
Não podemos acompanhar em sua amplitude a bibliografia crítica
sobre política deliberativa16. Para nossos propósitos, vamos aqui nos
15 Habermas, Faktizität und Geltung, p. 504-15. Sobre o debate feminista, ver: Young.
Justice and the politics of difference. Princeton Univ. Press, 1990; Young. Inclusion
and democracy. Oxford Univ. Press, 2000; Fraser. Justice interruptus. Routledge,
1997; Benhabib. Democracy and difference. Princeton Univ. Press, 1996; Benhabib.
The claims of culture. Princeton Univ. Press, 2002; Landes. “Jürgen Habermas,
the structural transformation of the public sphere: a feminist inquiry”, in: Praxis
International, 12 (1992), p. 106-127.
16 Sobre as vantagens e desvantagens da deliberação, ver: W. Scheuerman, “Between
radicalism and resignation: democratic theory in Habermas’s ‘Between Facts
and Norms’”, in: Dews, Habermas: a critical reader, 1999, p. 153; A. Bächtiger
et al., “Empirical Approaches to Deliberative Democracy”, in: Acta Politica
40, n. 2-3, 2005; J. Fishkin. Democracy and deliberation. Yale, 1995; Gutmann &
Thompson. Democracy and disagreement. Harward Univ. Press, 1994; Bohman & Regh.
Deliberative democracy. MIT Press, 1997; J. Elster. Deliberative democracy. Cambridge
Univ. Press, 1998; Rosenfeld & Arato. Habermas on law and democracy. Univ. of
California Press, 1998; J. Dryzek. Deliberative democracy and beyond. Oxford Univ.
Press, 2000; Fishkin & Laslett. Debating deliberative democracy. GB Verlag, 2002;
J. Parkinson. Deliberating in the real world: problems of legitimacy in deliberative
126 Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
limitar apenas os comentários críticos sobre a política habermasiana de
Axel Honneth e Nancy Fraser,17 por manterem uma relação estreita com
o campo teórico da Teoria Crítica.
2. A política do reconhecimento de Honneth
Axel Honneth, que sucedeu Habermas em seu posto na Universidade
de Frankfurt a partir de 1996, desenvolve uma variante política
significativamente diferente de Habermas, focada, não no entendimento
e no consenso, mas nas dimensões psicológicas e pessoais da dominação
e da emancipação; não numa concepção procedimental de política e de
lei, mas numa concepção formal da vida ética, cujo conceito central é do
“reconhecimento”.18
O cerne da crítica de Honneth é a compreensão habermasiana de
sociedade em dois níveis: sistema e mundo da vida (que nada mais
seria que um alargamento do conceito de racionalidade e de ação social,
acrescentando à dimensão sitêmica uma outra, o mundo da vida), dois
pólos opostos e nada a mediar entre eles. Este seria o “déficit sociológico”
democracy, Oxford Univ. Press, 2006; S. Macedo. Deliberative politics: essays on
democracy and disagreement. Oxford Univ. Press, 1999; B. Lösch. Deliberative
Politik. Moderne Konzeptionen von Öffentlichkeit, Demokratie und politischer
Partizipation. Westfälisches Dampfboot, 2005; R. Talisse. Democracy after liberalism:
pragmatism and deliberative politics. New York Univ. Press, 2005; Nobre & Coelho.
Participação e deliberação. Ed. 34, 2004; Werle & Melo. Democracia deliberativa.
Singular, 2007; Lubenow. “A categoria de esfera pública em Jürgen Habermas:
para uma reconstrução da autocrítica”, in: Cadernos de Ética e Filosofia Política
(USP), 10, 1 (2007), p. 103-123.
17 Axel Honneth. Kritik der Macht. Suhrkamp, 1985; Honneth. Kampf um Anerkennung.
Suhrkamp, 1992; Honneth. Pathologien der Vernunft: Gesichte und Gegenwart der
Kritische Theorie. Suhrkamp, 2007; Honneth, “The social dynamics of disrespect:
situating critical theory today”, in: P. Dews. Habermas: a critical reader. Blackwell,
1999, p. 320-337; Honneth, “The other of justice: Habermas and the ethical
challenge of postmodernism”, in: S. White. The Cambridge companion to Habermas.
Cambridge Univ. Press, 1995, p. 289-323; Fraser & Honneth. Umverteilung oder
Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Suhrkamp, 2003; Fraser,
“Rethinking Recognition”, in: New Left Review 3, 2000, p. 107-20; Fraser. “Rethinking
the public sphere: a contribution to the critique of the actually existing democracy”,
in: Calhoun. Habermas and the public sphere. MIT Press, 1992, p. 109-42. Além
disso, ver: Chambers, “The Politics of Critical Theory”, in: F. Rush. The Cambridge
Companion to Critical Theory, 2004, p. 219-47; Hanks. Refiguring critical theory:
Jürgen Habermas and the possibilities of political change. Univ. Press of America,
2002; Freundlieb. Critical Theory after Habermas: encounters and departures. Brill
Verlag, 2004; Marsh, “What’s critical about critical theory?”, in: Hahn. Perspectives
on Habermas. Open Court, 2000; Nobre, “Luta por reconhecimento: Axel Honneth
e a Teoria Crítica”, in: Honneth. Luta por reconhecimento. Ed. 34, 2003, p. 7-19;
Nobre. A teoria crítica. Zahar, 2004.
18 Honneth. Kampf um Anerkennung. Suhrkamp, 1992.
Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134 127
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
da teoria crítica da sociedade de Habermas.19 Em outras palavras:
haveria uma “insuficiência sociológica” na teoria habermasiana, apesar
do grande peso da Sociologia em sua primeira obra (Strukturwandel
der Öffentlichkeit, 1962), algo que também não teria sido corrigido
nas duas obras posteriores mais representativas do arcabouço teórico
habermasiano: Theorie des kommunikativen Handelns (1981) e Faktizität
und Geltung (1992).20 Por isso a sugestão honnethiana da “ação social”
como mediador necessário. A distinção habermasiana entre sistema e
mundo da vida seria mais analitica que empírico-descritiva, e o domínio
social da ação comunicativa tornaria incapaz de pensar o próprio sistema
e sua lógica instrumental como resultado de permanentes conflitos,
capazes de moldá-lo conforme as correlações de forças sociais e políticas.
Ou seja, para Honneth, Habermas se esquivou da base da interação
social, que não é o entendimento e o consenso, mas o conflito, e sua
gramática a luta por reconhecimento. Habermas seria por demais abstrata
e menânica, ignorando largamente o fundamento da ação social, que é
o conflito social. Por isso, Honneth vai partir dos conflitos sociais para
construir uma teoria com implicações mais práticas, empíricas. Por isso
lhe interessam aqueles conflitos que se originam de uma experiência de
desrespeito social, de um ataque a identidade pessoal ou coletiva, capaz
de suscitar uma ação que busque restaurar relações de reconhecimento
mútuo ou desenvolvê-las num nível evolutivo superior. As dimensões
experienciais tomadas por Honneth – e que também servem como critérios
normativos – são a esfera emotiva, a jurídico-moral e a da estima social.21
Dados estes argumentos, é preciso perguntar: a crítica de Honneth a
Habermas é basicamente uma crítica política? A interpretação honethiana
19
A crítica de Honneth à distinção habermasiana entre sistema e mundo da vida é
desenvolvida na obra Kritik der Macht. Suhrkamp, 1985.
20 Apesar do pano de fundo sociológico em sua primeira obra (Strukturwandel der
Öffentlichkeit, 1962), a partir da década de 70 Habermas busca remover a crítica
social arraigada nas condições historiográficas para as características universais da
ação comunicativa intersubjetiva (cf. Theorie des kommunikativen Handelns, 1981).
Esta reorientação é uma estratégia para ampliar a capacidade explicativa de sua
teoria e dar conta das novas dinâmicas e fenômenos que surgem e que desafiam a
compreensão do vínculo teoria-práxis. Nesse sentido, é importante a reformulação
da categoria de esfera pública, o resgate da importância da sociedade civil e a sua
ênfase institucional no quadro da teoria deliberativa da democracia nos anos 90 (cf.
Faktizität und Geltung, 1992). Mas, apesar disso, – e essa é a crítica de Honneth
e Fraser – as implicações práticas para uma extensão da categoria deliberativa
de política se tornaram problemáticas nas sociedades funcionalmente complexas
e culturalmente pluralistas, e exigem uma análise mais realista, um vínculo mais
concreto com uma orientação emancipatória da práxis.
21 Honneth. Kampf um Anerkennung, especialmente cap. 2 e 3. Ver também: Nobre,
“Luta por reconhecimento: Axel Honneth e a Teoria Crítica”, p. 13-18; Werle & Melo,
“Reconhecimento e justiça na teoria crítica da sociedade em Axel Honneth”, in:
Nobre. Curso livre de Teoria Crítica, Papirus, 2008, p. 183-198.
128 Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
de Habermas toma como ponto de partida a postura política habermasiana?
Enfim, qual é o cerne da política de Honneth? E qual é o cerne da crítica
de Honneth à política de Habermas? Parece-me que ela indireta. A crítica
é à teoria da sociedade (argumento direito) e, por consequência, à teoria
política (argumento indireto). Ou seja, a crítica de Honneth à Habermas dá-
se pela via da teoria social (e não pela via da política).22 Essa é a tese.
Por conseguinte, é preciso saber se a noção de “luta por reconhecimento”
realmente consegue preencher o déficit sociológico diagnosticado em
Habermas? E de que modo as reivindicações por reconhecimento são
justificados (incorporados) no plano político?
Para Chambers, apesar da perspectiva de Honneth querer ser “mais
prática”, “historicamente situada”, embora busque caracterizar a injustiça
e o conflito de modo mais concreto (do que Habermas), as implicações
políticas da teoria do reconhecimento não são mais claras – no sentido
de dizer “o que deve ser feito?” – e, nesse sentido, Honneth não seria
“mais político” que Habermas.23
Essa crítica à “insuficiência política” da teoria do reconhecimento
de Honneth também é colocada em questão por outros autores. Para
Werle e Melo, talvez a teoria crítica de Honneth esteja cometendo um
“déficit político”, pois não há a explicitação fundamental de um princípio
de justificação pública, em que os próprios cidadãos possam decidir
quais formas de reconhecimento e princípios de justiça são legítimos
ou ilegítimos. Em contrapartida, tal problema – dos critérios normativos
22 Essa hipótese é corroborada pela ordem cronológica das publicações envolvidas. É
preciso notar que o argumento de Honneth sobre o déficit sociológico de Habermas
aparece na obra sobre a crítica do poder (de 1985), e sua contraproposta aparece
na obra sobre o reconhecimento, de 1992. O problema – e isso reforça a hipótese de
que Honneth tem um déficit de argumentos políticos habermasianos – é que estas
duas obras, centrais na crítica à Habermas, não tomam como ponto de partida a
postura política madura de Habermas formulada e publicada na obra sobre direito
e democracia, em 1992. É curioso que em nenhuma das obras posteriores a luta por
reconhecimento Honneth busca sanar essa deficiência e incorporar os argumentos
e questões da obra política de Habermas (Faktizität und Geltung, 1992): nem em
Leiden an Unbestimmtheit (2001), que é uma reatualização da filosofia do direito de
Hegel com o propósito de fundamentar uma teoria da justiça vinculada à perspectiva
da Teoria Crítica, capaz de fornecer um diagnóstico do tempo, do “sofrimento de
indeterminação” como uma patologia que resulta da realização incompleta ou
insuficiente da vontade livre em âmbitos institucionais da sociedade moderna não
estruturados conforme a eticidade; nem em Verdinglichung (2005), que redefine, da
perspectiva de uma teoria do reconhecimento, a “reificação” como conceito-chave
da filosofia crítica; nem em Pathologien der Vernunft (2007), que trata da história e
atualidade da teoria crítica; nem em Disrespect: the normative foudations of critical
theory (2007), que explora os limites de uma teoria procedimental da justiça, as
relações sociais e as condições políticas de sua realização.
23 Chambers, “The politics of Critical Theory”, in: Rush. The Cambridge Companion
to Critical Theory, 2004, p. 238.
Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134 129
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
próprios de um contexto político que seriam capazes de avaliar as lutas
por reconhecimento nesse campo – talvez pudesse ser sanado se Honneth
propusesse uma outra esfera de reconhecimento, junto com as outras
– amor, direito e solidariedade – “uma forma propriamente política de
reconhecimento intersubjetivo”, que estivesse em consonância com a
concepção liberal igualitária da cidadania democrática:
(...) a proposta de Honneth de uma Teoria Crítica fundamentada nas relações
intersubjetivas de reconhecimento e de luta por reconhecimento, se, por um
lado, consegue fornecer meios para sanar o déficit sociológico da Teoria Crítica
em geral, e das teorias da justiça em particular, por outro, deixa em aberto uma
questão que não é menos fundamental: a política. (...) a política não tem um
estatuto específico na obra de Honneth. Não se coloca no horizonte de suas
preocupações a questão do critério normativo fundamental que poderia regular
a formação imparcial de acordos políticos para as lutas por reconhecimento.24
Para Saavedra e Sobottka, faz-se necessário, hoje, o pensamento
crítico das instituições do estado democrático de direito: “Como é
possível combinar a idéia hegeliana de luta por reconhecimento com as
instituições de um estado democrático de direito?”, e também “como é
possível pensar instituições a partir do conceito de reconhecimento, dado
que Honneth, desde o início, e ainda hoje, pretende desenvolver esse
conceito sem se fazer valer, como Habermas, da teoria dos sistemas?”25
Trata-se, de certa maneira, de uma questão que não diz respeito apenas
a teoria de Honneth, mas ao estatuto atual da teoria crítica mesma, da
sua capacidade propositiva em relação aos problemas e obstáculos à
emancipação nas sociedades contemporâneas, em compreender e avaliar
formas de pensamento e ação, na apresentação de potencialidades
próprias das instituições democráticas.
3. A política dos subaltern counterpublics de Fraser
Para Nancy Fraser, a política da Teoria Crítica (Horkheimer, Habermas,
Honneth) teria se afastado dos movimentos sociais.26 Em contrapartida, o
24 Werle & Melo, “Reconhecimento e justiça na teoria crítica da sociedade em Axel
Honneth”, in: Nobre. Curso livre de Teoria Crítica. Papirus, 2008, p. 197. Grifo meu.
25 G. Saavedra & E. Sobottka, “Introdução à teoria do reconhecimento de Axel
Honneth”, in: Civitas, Porto Alegre, 8, 1 (2008), p. 17-18.
26 A bibliografia básica é: Nancy Fraser, “Que é crítico na teoria crítica? O argumento
de Habermas e o gênero”, in Benhabib & Cornell. Feminismo como crítica
da modernidade. Rosa dos Tempos, 1987. Ver também: Fraser, “Rethinking
Recognition”, in: New Left Review, 3 (2000), p. 107-20; Fraser. Justice interruptus.
Critical reflections on the postsocialist condition. Routledge, 1997; e o debate com
Honneth, in: Fraser & Honneth. Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-
philosophische Kontroverse. Suhrkamp, 2003. Ver também: F. Silva, “Iris Young,
Nancy Fraser e Seyla Benhabib: uma disputa entre modelos críticos”, in: Nobre.
Curso livre de Teoria Crítica, Papirus, 2008, p. 199-226.
130 Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
debate americano busca religar o que estava separado desde Horkheimer:
reintroduzir o “elo” com os movimentos sociais.27
O que Fraser critica aqui é a inexistência de um projeto emancipatório
que pudesse reagregar adequadamente novas frentes de luta (desde
Horkheimer e Habermas), mas também nos debates atuais dos repre-
sentantes da Teoria Crítica em torno das “políticas de identidade”, das
“políticas culturais”, do “reconhecimento das diferenças” (especialmente
em Honneth e Young),28 em detrimento – ou substituição – à (antiga)
preocupação com a “redistribuição”, a “igualdade”, as “políticas sociais”
e “políticas de classe” (postura que é caracterizada em Fraser pela
expressão “condição pós-socialista”, cf. Justice interruptus. Critical
reflections on the postsocialist condition. Routledge, 1997). Para Fraser,
ao contrário, a política da Teoria Crítica deve indicar a resolução dos
conflitos. Ela precisa discutir e resolver casos concretos. Algo que até
agora a Teoria Crítica não conseguiu “dar uma solução”.29
Mas, qual é o ponto de referência empírico que serve de análise da
política de Fraser? A política vai virar consultoria de movimento social?
Este é o “gancho” da crítica de Nancy Fraser ao conceito-chave da política
de Habermas: está na crítica feminista ao entendimento elitista e burguês
da dinâmica interna da esfera pública. Tendo como pano de fundo sua
preocupação com a “redistribuição” e a “igualdade”, Fraser acentua as
disparidades sociais e a exclusão das mulheres da esfera pública política
habermasiana.30
Para Fraser, a teoria da esfera pública de Habermas, como ponto de
partida, é um recurso indispensável. Entretanto, requer uma interrogação
e reconstrução crítica.31 Para a autora de Justice Interruptus, o modelo
habermasiano de esfera pública formulado em Strukturwandel der
Öffentlichkeit, interessa para a compreensão de uma política feminista.
27 Algo não tomado também por Honneth, apesar deste reconhecer e depois acabar
se curvando ao debate americano (cf. o debate Honneth & Fraser. Umverteilung
oder Anerkennung? Suhrkamp, 2003). No entanto, Honneth não vai dizer como
“resolver conflitos” (quem é o destinatário da teoria crítica de Honneth?).
Este é questionamento de Fraser do deslocamento da “redistribuição” para
“reconhecimento” operada por Honneth.
28 Especialmente Axel Honneth. Kampf um Anerkennung. Suhrkamp, 1992; e Iris
Young. Justice and the politics of difference. Princeton Univ. Press, 1990.
29 Veja-se o que diz Fraser no artigo “Que é crítico na teoria crítica?”, p. 38: “A meu
ver, ninguém aperfeiçoou ainda a definição de Marx, de 1843, de Teoria Crítica
como ‘o auto-aclaramento das lutas e desejos de uma época’. O que é tão atraente
nessa definição é seu caráter francamente político”.
30 Fraser, “Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of the actually
existing democracy”, in: Calhoun. Habermas and the public sphere. MIT Press,
1992, p. 109-42.
31 Fraser, “Rethinking the public sphere”, p. 109-11.
Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134 131
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
Em outras palavras, a categoria de esfera pública é útil para descrever
o significado político de novas formas de práxis que emergem com
o movimento feminista nas décadas de 1970 e 1980. Atividades
políticas que operam com estruturas não-institucionais e que têm
gerado projetos coletivamente descentralizados, tais como grupos
e publicações feministas.32 Esses fenômenos, se articulados com a
esfera pública discursiva como categoria política central, adquirem um
caráter emancipatório, embora a categoria de esfera pública, ou seu
desenvolvimento histórico, sempre tenha funcionado como instrumento
específico de repressão e distinção;33 o princípio formal burguês da
igualdade de participação, que busca suspender ou eliminar a diferença
de status, sempre foi problemático. Por isso, Fraser não concorda com a
concepção (sociológica) da esfera pública habermasiana e, nesse sentido,
invalida o modelo liberal burguês de comunicação e participação pública,
que se assentaria sobre uma base social desigual, e que marginaliza
mulheres e classes plebéias.34 Esse diagnóstico lhe permite fazer uma
crítica da exclusão. Para Fraser, o que se faz necessário é eliminar as
disparidades sociais e as diferenças de gênero.
A condição necessária para igualdade participativa é que as desigualdades
sociais sejam eliminadas. Isso não significa necessariamente que todos
devam ter exatamente a mesma renda, mas requer um tipo de igualdade
que é inconsistente com relações de dominação geradas sistêmicamente [...]
Democracia política requer substantiva igualdade social.35
Como contraproposta, Fraser sinaliza a necessidade do reconhecimento
efetivo de certos públicos alternativos, subversivos, ou subaltern
counterpublics, nos quais circulam discursos de oposição de alguma forma
discriminados e excluídos da “esfera pública oficial”. E, nesse sentido,
recusa a idéia de que esses discursos alternativos e de oposição deixem
se abarcar em “uma” esfera pública homogênea, mas sim em “várias”
esferas públicas, autônomas, informais, que organizam e trazem à cena
pública temas e contribuições politicamente relevantes. Uma sociedade
cada vez mais pluralista, de enorme pluralização da sociedade civil, de
fragmentação das estruturas de sociabilidade e solidariedade, na qual
as aspirações emancipatórias vão sendo transferidas para outras (sub)
bandeiras, enfrenta também o problema da “orientação comum” dessas
32 Fraser, “Rethinking the public sphere”, p. 123. Ver também: Nancy Fraser, “Que é
crítico na teoria crítica? O argumento de Habermas e o gênero”, in: Benhabib &
Cornell. Feminismo como crítica da modernidade. Rosa dos Tempos, 1987.
33 Fraser, “Rethinking the public sphere”, p. 115.
34 Fraser, “Rethinking the public sphere”, p. 117-119.
35 Fraser, “Rethinking the public sphere”, p. 121.
132 Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
esferas autônomas, com as dificuldades de se constituir “uma” esfera
pública comum.36 Daí a introdução fraseriana da distinção entre weak
publics e strong publics.37
Referências
BENHABIB, Seyla. Democracy and difference. Princeton Univ. Press, 1996.
_____. The claims of culture. Princeton Univ. Press, 2002.
BENHABIB, Seyla; CORNELL, Drucilla. Feminismo como crítica da modernidade. Rosa
dos Tempos, 1987.
CALHOUN, Craig. Habermas and the public sphere. MIT Press, 1992.
CHAMBERS, Simone. “The politics of Critical Theory”. In: RUSH, F. The Cambridge
Companion to Critical Theory. 2004, p. 219-247.
DEWS, Peter. Habermas: a critical reader. Blackwell, 1999.
FRASER, Nancy. “Que é crítico na teoria crítica? O argumento de Habermas e o
gênero”. In: BENHABIB, S.; CORNELL, D. Feminismo como crítica da modernidade.
Rosa dos Tempos, 1987.
_____. “Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of the actually
existing democracy”. In: CALHOUN, C. Habermas and the public sphere. MIT Press,
1992, p. 109-142.
_____. Justice interruptus. Critical reflections on the postsocialist condition. Routledge,
1997.
_____. “Rethinking Recognition”, New Left Review, 3 (2000), p. 107-120.
FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-
philosophische Kontroverse. Suhrkamp, 2003.
FREUNDLIEB, Dieter. Critical Theory after Habermas: encounters and departures.
Brill Verlag, 2004.
HABERMAS, Jürgen. Faktizität und Geltung. Frankfurt: Suhrkamp, 1992. 2v.
_____. “Drei normative Modelle der Demokratie”. In: ____. Die Einbeziehung des
Anderen. Suhrkamp, 2006, p. 277.
_____. “Political communication in media society”. 2006 (manuscrito).
HAHN, Lewis. Perspectives on Habermas. Open Court, 2000.
HANKS, James K. Refiguring critical theory: Jürgen Habermas and the possibilities
of political change. Univ. Press of America, 2002.
HONNETH, Axel. Kritik der Macht. Suhrkamp, 1985.
_____. Kampf um Anerkennung. Suhrkamp, 1992.
_____. “The other of justice: Habermas and the ethical challenge of postmodernism”.
In: WHITE, S. The Cambridge companion to Habermas. Cambridge Univ. Press, 1995,
p. 289-323.
36 Fraser, “Rethinking the public sphere”, p. 123ss.
37 Fraser, “Rethinking the public sphere”, p. 132.
Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134 133
J. A. Lubenow – As críticas de Axel Honneth e Nancy Fraser à filosofia ...
HONNETH, Axel. “The social dynamics of disrespect: situating critical theory today”.
In: DEWS, P. Habermas: a critical reader. Blackwell, 1999, p. 320-337.
_____. Leiden an Unbestimmtheit. Suhrkamp, 2001.
_____. Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie. Suhrkamp. 2005.
_____. Pathologien der Vernunft. Geschichte und Gegenwart der Kritischen Theorie.
Suhrkamp, 2007.
_____. Disrespect: the normative foudations of critical theory. Polity Press, 2007.
LUBENOW, Jorge A. “A categoria de esfera pública em Jürgen Habermas: para uma
reconstrução da autocrítica”, Cadernos de Ética e Filosofia Política (USP), 10, 1 (2007),
p. 103-123.
LUBENOW, Jorge A.; NEVES, R. “Entre promessas e desenganos: lutas sociais, esfera
pública e direito”. In: NOBRE, M.; TERRA, R. Direito e democracia: um guia de leitura.
Malheiros, 2007, p. 249-267.
MARSH, James L. “What’s critical about critical theory?”. In: HAHN, L. Perspectives
on Habermas. Open Court, 2000.
NOBRE, Marcos. “Luta por reconhecimento: Axel Honneth e a Teoria Crítica”.
In: HONNETH, A. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais.
Ed. 34, 2003, p. 07-19.
_____. A teoria crítica. Zahar, 2004.
_____. (Org). Curso livre de Teoria Crítica. Papirus, 2008.
NOBRE, Marcos; COELHO, Vera. Participação e deliberação. Editora 34, 2004.
NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo. Direito e democracia: um guia de leitura. Malheiros,
2007.
RUSH, Fred. The Cambridge Companion to Critical Theory. Cambridge Univ. Press,
2004.
SAAVEDRA, Giovani A.; SOBOTTKA, Emil A. “Introdução à teoria do reconhecimento
de Axel Honneth”, Civitas, Porto Alegre, 8, 1 (2008), p. 9-18.
SILVA, Felipe G. “Iris Young, Nancy Fraser e Seyla Benhabib: uma disputa entre
modelos críticos”. In: NOBRE, M. Curso livre de Teoria Crítica, Papirus, 2008, p. 199-
226.
SOUZA, Jessé. A modernidade seletiva. Brasília: Ed. UnB, 2000.
WERLE, Denílson. “Democracia deliberativa e os limites da razão pública”. In: NOBRE,
M.; COELHO, V. Participação e deliberação. Editora 34, 2004, p. 148-49.
WERLE, Denílson; MELO, Rúrion S. “Reconhecimento e justiça na teoria crítica da
sociedade em Axel Honneth”. In: NOBRE, M. (Org.). Curso livre de Teoria Crítica.
Papirus, 2008, p. 183-198.
WHITE, Stephen. The Cambridge companion to Habermas. Cambridge Univ. Press,
1995.
YOUNG, Iris M. Justice and the politics of difference. Princeton Univ. Press, 1990.
_____. Inclusion and democracy. Oxford Univ. Press, 2000.
134 Veritas, v. 55, n. 1, jan./abr. 2010, p. 121-134
Você também pode gostar
- SOUZA, Jessé (Org.) - Os Batalhadores Brasileiros - Nova Classe Média Ou Nova Classe Trabalhadora-Editora UFMG (2012)Documento406 páginasSOUZA, Jessé (Org.) - Os Batalhadores Brasileiros - Nova Classe Média Ou Nova Classe Trabalhadora-Editora UFMG (2012)João Dias79% (14)
- Michel CrozierDocumento16 páginasMichel CrozierMarcelle Verginio Lima100% (2)
- Em defesa da democracia brasileira: pelo alargamento da democraciaNo EverandEm defesa da democracia brasileira: pelo alargamento da democraciaAinda não há avaliações
- Foucault X HabermasDocumento10 páginasFoucault X HabermasSílvio CarvalhoAinda não há avaliações
- A Virada Linguística e o Novos Rumos Da FilosofiaDocumento18 páginasA Virada Linguística e o Novos Rumos Da FilosofiaKárida MateusAinda não há avaliações
- MOSCA, G. A Classe PolíticaDocumento23 páginasMOSCA, G. A Classe PolíticaBruno Fernando da SilvaAinda não há avaliações
- CARVALHO, M. ANTUNES, J. MOURA, M. - Marx e Marxismo - ANPOF (2015) PDFDocumento356 páginasCARVALHO, M. ANTUNES, J. MOURA, M. - Marx e Marxismo - ANPOF (2015) PDFJefferson Martins VielAinda não há avaliações
- Urbinati, Nadia. Da Democracia Dos Partidos Ao Plebiscito Da AudienceDocumento23 páginasUrbinati, Nadia. Da Democracia Dos Partidos Ao Plebiscito Da AudienceAnderson SilvaAinda não há avaliações
- A Jaula de Aço - Max Weber e o Marxismo Weberiano Michael Lowy PDFDocumento5 páginasA Jaula de Aço - Max Weber e o Marxismo Weberiano Michael Lowy PDFSimonyPlattAinda não há avaliações
- BENHABIB, Seyla. Utopia e Distopia em Nossos Tempos PDFDocumento18 páginasBENHABIB, Seyla. Utopia e Distopia em Nossos Tempos PDFAnonymous QMFYEGcfZ7Ainda não há avaliações
- Bento Prado Na ContramaoDocumento18 páginasBento Prado Na ContramaoCarlosFernandesAinda não há avaliações
- BORON, Atílio A. - Pelo Necessário (E Demorado) Retorno Ao MarxismoDocumento16 páginasBORON, Atílio A. - Pelo Necessário (E Demorado) Retorno Ao MarxismoAll KAinda não há avaliações
- Giro Linguistico em GadamerDocumento40 páginasGiro Linguistico em GadamerNaum MateusAinda não há avaliações
- LIVRO TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO - PDF-ValdirDocumento238 páginasLIVRO TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO - PDF-ValdirRodrigo Nunes KopsAinda não há avaliações
- Yara FrateschiDocumento26 páginasYara FrateschiLucas CarusoAinda não há avaliações
- Pensando As Direitas Na America LatinaDocumento16 páginasPensando As Direitas Na America LatinaOlivia MAinda não há avaliações
- Hannah Arendt: A Sociedade de Massas e A LiberdadeDocumento14 páginasHannah Arendt: A Sociedade de Massas e A LiberdadeAdrianus ClaudiusAinda não há avaliações
- Darcy Ribeiro e A Antropologia No BrasilDocumento13 páginasDarcy Ribeiro e A Antropologia No BrasilLaura Cecilia LópezAinda não há avaliações
- Filhos Ilustres Da Bahia - Luiz de Aguiar Costa PintoDocumento4 páginasFilhos Ilustres Da Bahia - Luiz de Aguiar Costa PintoAleksanderCostaPintoAinda não há avaliações
- Neopositivismo e Filosofia AnaliticaDocumento16 páginasNeopositivismo e Filosofia AnaliticaAngelo MatavelAinda não há avaliações
- A Crítica de Carnap Aos Enunciados Da MetafísicaDocumento8 páginasA Crítica de Carnap Aos Enunciados Da MetafísicaAldrea AzevedoAinda não há avaliações
- O Jovem MarxDocumento109 páginasO Jovem MarxÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- HORKHEIMER, Max. A Situação Atual Da Filosofia Da Sociedade e As Tarefas de Um Instituto de Pesquisa SocialDocumento16 páginasHORKHEIMER, Max. A Situação Atual Da Filosofia Da Sociedade e As Tarefas de Um Instituto de Pesquisa SocialStar100% (1)
- BALCONI, Deleuze, Política e Estado (2018)Documento19 páginasBALCONI, Deleuze, Política e Estado (2018)Gilson Xavier de Azevedo100% (1)
- ManuscritosEconmicoseFilosficos KarlDocumento69 páginasManuscritosEconmicoseFilosficos Karlusem: Textos partilhados100% (1)
- Sennett, Autoridade (Resenha)Documento3 páginasSennett, Autoridade (Resenha)ÉvelynSmithAinda não há avaliações
- A "Disputa Do Positivismo Na Sociologia Alemã" - o Confronto Entre Karl Popper e Theodor Adorno No Congresso Da Sociedade de Sociologia Alemã de 1961Documento9 páginasA "Disputa Do Positivismo Na Sociologia Alemã" - o Confronto Entre Karl Popper e Theodor Adorno No Congresso Da Sociedade de Sociologia Alemã de 1961Rosi GiordanoAinda não há avaliações
- Maurício Tragtenberg - Um Sociólogo Libertário - Nildo VianaDocumento7 páginasMaurício Tragtenberg - Um Sociólogo Libertário - Nildo VianadomliterisAinda não há avaliações
- DELLA FONTE, Sandra Soares - A Formação Humana em DebateDocumento17 páginasDELLA FONTE, Sandra Soares - A Formação Humana em DebateMarabôAinda não há avaliações
- FLF0464!2!2015 Vladimir Safatle - Filosofia Da ArteDocumento6 páginasFLF0464!2!2015 Vladimir Safatle - Filosofia Da ArtesantoprabhupadaAinda não há avaliações
- Entre a subjetividade do intérprete e a objetividade do método científico: o problema hermenêutico da aplicação em GadamerNo EverandEntre a subjetividade do intérprete e a objetividade do método científico: o problema hermenêutico da aplicação em GadamerAinda não há avaliações
- HABERMAS, Jürgen. Técnica e Ciência Como "Ideologia"Documento2 páginasHABERMAS, Jürgen. Técnica e Ciência Como "Ideologia"Nanda FeminellaAinda não há avaliações
- O Método Comparativo e A Ciência PolíticaDocumento13 páginasO Método Comparativo e A Ciência Políticamarcosassis5Ainda não há avaliações
- Angela Castro GomesDocumento5 páginasAngela Castro GomesJuliana FariaAinda não há avaliações
- Introduçao Ao Pensamento Sociologico.Documento5 páginasIntroduçao Ao Pensamento Sociologico.Guilherme CavalliAinda não há avaliações
- Ludwig Feuerbach e o Fim Da Filosofia Alemã Clássica by Friedrich EngelsDocumento53 páginasLudwig Feuerbach e o Fim Da Filosofia Alemã Clássica by Friedrich EngelsVitor CarvalhoAinda não há avaliações
- Theodor Adorno e A Educação para o Pensar AutônomoDocumento4 páginasTheodor Adorno e A Educação para o Pensar AutônomoAnne Chan100% (1)
- Ellen Wood Capitalismo Contra Democracia Trabalho e DemocraciaDocumento21 páginasEllen Wood Capitalismo Contra Democracia Trabalho e Democraciathaynacostae100% (1)
- Adorno Margem Esquerda GGNDocumento17 páginasAdorno Margem Esquerda GGNSílvio CarvalhoAinda não há avaliações
- Adorno e HorkheimerDocumento8 páginasAdorno e Horkheimerolimpio funganhaAinda não há avaliações
- Marilena Chauí - Cidadania Cultural o Direito A CulturaDocumento224 páginasMarilena Chauí - Cidadania Cultural o Direito A CulturaMariana AvillezAinda não há avaliações
- Codato & Perissinotto, Marxismo e ElitismoDocumento12 páginasCodato & Perissinotto, Marxismo e ElitismoAdriano CodatoAinda não há avaliações
- FLP0101 - Pensamento Político Moderno - Política I (Profs. Cícero Araújo e Patrício Tierno)Documento5 páginasFLP0101 - Pensamento Político Moderno - Política I (Profs. Cícero Araújo e Patrício Tierno)licks.vinicius1649Ainda não há avaliações
- Texto 05 Pags 108-123 Cipriano-LuckesiDocumento16 páginasTexto 05 Pags 108-123 Cipriano-LuckesiAbiru1902Ainda não há avaliações
- BIANCHI, Álvaro. O Retorno A GramsciDocumento8 páginasBIANCHI, Álvaro. O Retorno A GramsciIsabela BentesAinda não há avaliações
- Elisa Reis, Sociologia Política e Processos PDFDocumento26 páginasElisa Reis, Sociologia Política e Processos PDFPaulo Gracino JúniorAinda não há avaliações
- Uma Idéia Fundamental Da Fenomenologia de Husserl SARTREDocumento3 páginasUma Idéia Fundamental Da Fenomenologia de Husserl SARTREMatsu MatsuAinda não há avaliações
- (Paulo Sergio Peres) Comportamento Ou Instituições, A Evolução Histórica Do Neo-Institucionalismo Da Ciência Política PDFDocumento20 páginas(Paulo Sergio Peres) Comportamento Ou Instituições, A Evolução Histórica Do Neo-Institucionalismo Da Ciência Política PDFMário SampaioAinda não há avaliações
- A Noção de Capitalismo Tardio Na Obra de Jürgen HabermasDocumento243 páginasA Noção de Capitalismo Tardio Na Obra de Jürgen Habermasjuandiegog12100% (2)
- Classes e Luta de Classes Reflexao Critica Sobre As Classes Sociais Nas Obras de Nicos Poulantzas e Erik Olin WrightDocumento32 páginasClasses e Luta de Classes Reflexao Critica Sobre As Classes Sociais Nas Obras de Nicos Poulantzas e Erik Olin WrightJéssica Soares100% (1)
- HABERMAS Jurgen O Discurso Filosofico Da Modernidade PDFDocumento275 páginasHABERMAS Jurgen O Discurso Filosofico Da Modernidade PDFLarisse SouzaAinda não há avaliações
- 11.12 - Claude Lefort - Direitos Do Homem e PolíticaDocumento18 páginas11.12 - Claude Lefort - Direitos Do Homem e PolíticaCharlotte Harris100% (1)
- Genealogia Kleber Prado Filho PDFDocumento17 páginasGenealogia Kleber Prado Filho PDFDaniel VieiraAinda não há avaliações
- O Pensamento de Raymond Aron - Ensaios e InterpretaçõesDocumento305 páginasO Pensamento de Raymond Aron - Ensaios e InterpretaçõesrillariAinda não há avaliações
- Lima VazDocumento14 páginasLima VazMarcos MayelaAinda não há avaliações
- A Moral em Marx - Crítica MarxistaDocumento15 páginasA Moral em Marx - Crítica MarxistaJulia ScavittiAinda não há avaliações
- Autoridade e Família - HorkheimerDocumento62 páginasAutoridade e Família - HorkheimerTatyane P. de Morais SoaresAinda não há avaliações
- Os intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasNo EverandOs intelectuais brasileiros e o pensamento social em perspectivasAinda não há avaliações
- Metamorfoses do mundo contemporâneoNo EverandMetamorfoses do mundo contemporâneoCecília Pescatore AlvesAinda não há avaliações
- BESSA, Karla.a Teoria Queer e Os Desafios Às Molduras Do Olhar (2014)Documento7 páginasBESSA, Karla.a Teoria Queer e Os Desafios Às Molduras Do Olhar (2014)Thor VerasAinda não há avaliações
- Walter Kohan - Infância e Educação em PlatãoDocumento16 páginasWalter Kohan - Infância e Educação em PlatãoThor VerasAinda não há avaliações
- Pignatari Decio ContracomunicacaoDocumento273 páginasPignatari Decio ContracomunicacaoAlexandre Baglioni MarzolaAinda não há avaliações
- Augusto de Campos - Décio Pignatari - Haroldo de Campos-Teoria Da Poesia Concreta - Textos Críticos e Manifestos (1950-1960) - Duas Cidades (1975)Documento208 páginasAugusto de Campos - Décio Pignatari - Haroldo de Campos-Teoria Da Poesia Concreta - Textos Críticos e Manifestos (1950-1960) - Duas Cidades (1975)IraldoMatias100% (5)
- Décio Pignatari - Informação Linguagem ComunicaçãoDocumento127 páginasDécio Pignatari - Informação Linguagem Comunicaçãojulio9063Ainda não há avaliações
- Os Nove MandamentosDocumento73 páginasOs Nove MandamentosMarcelo BizuradoAinda não há avaliações
- Roteiro de Aula - Intensivo I - D. Empresarial - Alexandre Gialluca - Aula 1 PDFDocumento21 páginasRoteiro de Aula - Intensivo I - D. Empresarial - Alexandre Gialluca - Aula 1 PDFLeticiaPeçanhaAinda não há avaliações
- Atividade - 4Documento3 páginasAtividade - 4Letícia AlcântaraAinda não há avaliações
- Amor Bandido Visita Intima PDFDocumento20 páginasAmor Bandido Visita Intima PDFrodolfoarrudaAinda não há avaliações
- Araujo Pinto. DEMOCRATIZAÇÃO, MEMÓRIA e Transição Nos Países LusofonosDocumento323 páginasAraujo Pinto. DEMOCRATIZAÇÃO, MEMÓRIA e Transição Nos Países LusofonosLidiane FriderichsAinda não há avaliações
- Colorido - BNCC - As 10 Competências Gerais Na Prática 2020Documento18 páginasColorido - BNCC - As 10 Competências Gerais Na Prática 2020Agnes CunhaAinda não há avaliações
- Meu Vaso de Alabastro No Evangelho de MatityahuDocumento1.000 páginasMeu Vaso de Alabastro No Evangelho de MatityahuHannahBenjamin Baran100% (1)
- FJS Lei 11.34306 Lei de DrogasDocumento1 páginaFJS Lei 11.34306 Lei de DrogasFernando José de SouzaAinda não há avaliações
- Avaliação I - IndividualDocumento5 páginasAvaliação I - IndividualRegis Regis100% (1)
- Princípios Básicos de Seguro e Sua Metodologia (Translated by The Brazilian Authority)Documento65 páginasPrincípios Básicos de Seguro e Sua Metodologia (Translated by The Brazilian Authority)Filipe JustinoAinda não há avaliações
- Ensino Médio Integrado - Notas Críticas Sobre Os Rumos Da TravessiaDocumento20 páginasEnsino Médio Integrado - Notas Críticas Sobre Os Rumos Da TravessiaLUIZ COLUSSIAinda não há avaliações
- Modelo Organizacional - DulceDocumento42 páginasModelo Organizacional - Dulceanderson menesesAinda não há avaliações
- O Fututo Do Constitucionalismo - Caderno de Resumos (2014)Documento481 páginasO Fututo Do Constitucionalismo - Caderno de Resumos (2014)Edvaldo Moita100% (1)
- Amélia Maraux, Iris Verena Oliveira e Marta Da Silva (Orgs) - Diferenças e Práticas FormativasDocumento381 páginasAmélia Maraux, Iris Verena Oliveira e Marta Da Silva (Orgs) - Diferenças e Práticas FormativasNatasha MariaAinda não há avaliações
- Ri 0102389-26.2015.8.05.0001 Voto Ementa Seguro Recusa Injustificada Pagamento Ausência Justa Causa ImprovDocumento3 páginasRi 0102389-26.2015.8.05.0001 Voto Ementa Seguro Recusa Injustificada Pagamento Ausência Justa Causa Improvguilherme advAinda não há avaliações
- Dissertacao PPGEdu - Fabio de Almeida SoaresDocumento114 páginasDissertacao PPGEdu - Fabio de Almeida SoaresalessandroAinda não há avaliações
- GOROROBADocumento34 páginasGOROROBAduzenta_01Ainda não há avaliações
- Projeto de Vida 2o Ano Ensino MedioDocumento7 páginasProjeto de Vida 2o Ano Ensino MedioTamires DamacenoAinda não há avaliações
- Com Equip Amen To de Protecao Adequado Trabalhador Nao Ganha InsalubridadeDocumento1 páginaCom Equip Amen To de Protecao Adequado Trabalhador Nao Ganha InsalubridadeAIRONMOLNARAinda não há avaliações
- Contr Compra e VendaDocumento7 páginasContr Compra e VendaFesp Contábil RegionalAinda não há avaliações
- Averbao de Tempo de ServioDocumento9 páginasAverbao de Tempo de ServioEmanuel PatrickAinda não há avaliações
- RESENHA: Linguagem Juridica Termos Tecnicos e JuridiquesDocumento2 páginasRESENHA: Linguagem Juridica Termos Tecnicos e JuridiquesJCNS1965100% (1)
- Resumo Tratado Sobre o Governo CivilDocumento10 páginasResumo Tratado Sobre o Governo CivilAirton ConceicaoAinda não há avaliações
- 7 - RBAC 156 - Anexo I À Resolução PDFDocumento96 páginas7 - RBAC 156 - Anexo I À Resolução PDFgiant360100% (1)
- Estudos Disciplinares VIII Nota 10Documento5 páginasEstudos Disciplinares VIII Nota 10Beatriz FerreiraAinda não há avaliações
- RJ Los PaleterosDocumento13 páginasRJ Los PaleterosAle VelosoAinda não há avaliações
- Queixa Inicial Maíra Mascarenhas Silva X Itaucard S.A ItaberabaDocumento15 páginasQueixa Inicial Maíra Mascarenhas Silva X Itaucard S.A ItaberabaOacir MascarenhasAinda não há avaliações
- Aula 05 - EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHODocumento12 páginasAula 05 - EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHOVini MacruzAinda não há avaliações
- U1 Fundamentos Da Administracao CEUBDocumento32 páginasU1 Fundamentos Da Administracao CEUBBoaz AvelinoAinda não há avaliações