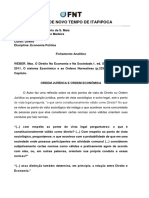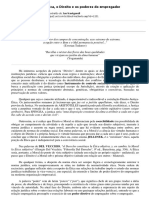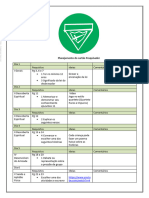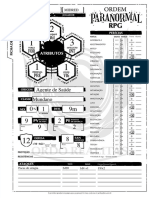Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Um Conceito Marxista de Salário PDF
Um Conceito Marxista de Salário PDF
Enviado por
Anonymous ahwlIp7U0Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Um Conceito Marxista de Salário PDF
Um Conceito Marxista de Salário PDF
Enviado por
Anonymous ahwlIp7U0Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigo
UM CONCEITO MARXISTA DE SALÁRIO
UN CONCEPTO MARXISTA DE SALARIO
A MARXIST CONCEPT OF SALARY
Jorge Luiz Souto Maior1
Resumo: Marx, mais de uma vez, deixa claro que “o capital sempre faz a força de trabalho funcionar por mais
tempo do que o necessário para a reprodução do valor desta última” e nisto consiste a produção do mais-
valor. No entanto, a forma jurídica faz parecer que o trabalho possui, em si, um valor, e que o salário representa
esse valor. A noção econômica clássica do salário faz parecer que o trabalho foi integralmente pago e o jurídico,
ao definir o instituto, ainda traz a ideia de que o salário é justo, vez que representa a medida no mínimo
suficiente para suprir as suas necessidades vitais. Além disso, o salário, juridicamente falando, é conceituado
como a “contraprestação pelo trabalho prestado”, como e houvesse uma equivalência nivelada entre trabalho
e salário. O mundo jurídico, assumindo esse pressuposto, nos conduz ainda mais à abstração alienante quando
se presta, na sequência, a pôr em discussão as diversas formas de remuneração. Já completamente afastados
da realidade, os estudos jurídicos sobre o salário nos conduzem, na sequência, ao exame de novas formas:
prazo do pagamento; formas fixação do salário e as regras de proteção para que o pagamento se realize. Ou
seja, quando mais se estuda a forma jurídica, mais se distancia da essência. Como diz Marx, “a forma-salário
extingue, portanto, todo vestígio da divisão da jornada de trabalho em trabalho necessário e mais-trabalho, em
trabalho pago e trabalho não pago”, sendo que pelo salário, “Todo trabalho aparece como trabalho pago”.
Em outras palavras, ainda: “No trabalho assalariado, ao contrário, mesmo o mais-trabalho ou trabalho não
pago aparece como trabalho pago”. Por outro lado, o Direito, notadamente o Direito do Trabalho, é um dado
cultural que não pode ser desprezado, vez que faz parte da vida dos trabalhadores e pode, em certo sentido,
por mais paradoxal que pareça, auxiliar na formulação de compreensões para afastar a alienação, tanto que se
trata de um direito reiteradamente atacado pela própria classe dominante, a quem as formas jurídicas em geral
beneficiam. As indenizações por dano moral e por assédio moral, cada vez mais frequentes na jurisprudência
trabalhista, e até mesmo as indenizações por dano social (“dumping social”) habitam o cotidiano trabalhista de
modo a, no mínimo, a causar certa tensão no sistema social, político, social e jurídico. Não são decisões que
revolucionam o processo produtivo. Não geram emancipação da classe trabalhadora e, pior, podem nos
conduzir à mitologia da forma jurídica, ao emaranhado de normas e de correntes doutrinárias que correm atrás
do próprio rabo e que acabam acorrentando as nossas mentes. Mas, sobretudo quando têm por base análises
que compreendem a totalidade histórica do modo de produção capitalista e se expressam por meio de uma
racionalidade reveladora, podem contribuir até mesmo para a formação da consciência de classe. Afinal, o
processo da revolução permanente se dá por meio de compreensões e formulações de pensamentos voltados
à solução de problemas concretos, que se apresentam a cada instante. A busca de uma crítica imanente em
todos os espaços de poder, de construção política, permitindo interações reais, é o alimento da ação
revolucionária, sendo certo que a construção de uma nova sociedade é, como dito, um processo.
Palavras-chaves: Capital; trabalho pago; salário.
Resumen: Marx, más de una vez, deja claro que “el capital siempre hace el trabajo mano de obra más de lo
necesario para la reproducción del valor de este ultimo”, y es la producción de plusvalía. Sin embargo, la forma
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 95
Artigo
jurídica hace que parezca que la obra tiene en sí misma un valor, y que los salarios representan este valor. La
noción económica clásica del salario parece que el trabajo ha sido totalmente pagadas y la legal, para definir el
instituto también trae la idea de que el salario es justo, ya que la medida es al menos suficiente para cubrir las
necesidades vitales. Además, el salario, en términos legales, se conceptualiza como “consideración por el
trabajo realizado”, y como no había una equivalencia de condiciones entre el trabajo y los salarios. El mundo
jurídico, asumiendo esa suposición nos lleva a alienar aún más la abstracción cuando uno paga, en secuencia,
a poner en cuestión las distintas formas de compensación. Ya completamente alejado de la realidad, los
estudios jurídicos sobre los salarios nos llevan, en secuencia, a tomar nuevas formas: plazo de pago; formas de
fijación de los salarios y las normas de protección para el pago se lleva a cabo. Es decir, cuando más se estudia
la forma jurídica, más distante de la esencia. Como dice Marx, “la forma-salario por lo tanto se extingue toda
huella de la división de la jornada laboral en trabajo necesario y el exceso de trabajo, el trabajo remunerado y
el trabajo no remunerado”, y el sueldo, “Todo el trabajo aparece como trabajo remunerado”. En otras palabras,
una vez más: “En el trabajo asalariado, por el contrario, incluso el más-trabajo o trabajo impago aparece como
trabajo remunerado.”. Por otro lado, la ley, en particular la Ley del Trabajo, es un objeto cultural que no se
puede descuidar, ya que es parte de la vida de los trabajadores y puede, en cierto sentido, por paradójico que
pueda parecer, ayudar a formular interpretaciones a lejos de la venta, por lo que es un derecho repetidamente
atacado por la propia clase dominante, a la que las formas jurídicas en beneficio general. La indemnización por
daño moral y el acoso moral, cada vez más frecuente en la legislación laboral, e incluso una indemnización por
el daño social (“dumping social”) habitan en el día a día de trabajo por lo menos a causar un poco de tensión en
el sistema social política, social y jurídica. ¿No son decisiones que revolucionan el proceso de producción. No
generar la emancipación de la clase obrera y, peor aún, nos puede llevar a la mitología de la forma jurídica, la
maraña de normas y tendencias doctrinales que persiguen la cola y terminan encadenar nuestras mentes. Pero,
sobre todo cuando se basan los análisis que componen la totalidad histórica del modo de producción capitalista
y se expresan a través de una racionalidad reveladora, incluso puede contribuir a la formación de la conciencia
de clase. Después de todo, el proceso de la revolución permanente es por medio de acuerdos y formulaciones
pensamientos se dirigieron a la solución de los problemas concretos que se plantean en cada momento. La
búsqueda de una crítica inmanente en todos los ámbitos de la energía, la construcción política, permitiendo
interacciones reales, es el alimento de la acción revolucionaria, dado que la construcción de una nueva sociedad
es, como se ha dicho, un proceso.
Palabras clave: Capital; trabajo remunerado; salario.
Abstract: Marx, more than once, makes clear that “the capital always does the workforce work longer than
necessary for the reproduction of the value of the latter” and it is the production of surplus value. However,
the legal form makes it appear that the work has in itself a value, and that the wages represent this value. The
classical economic notion of salary does seem that the work has been fully paid and the legal, to define the
institute also brings the idea that the salary is fair, since the measure is at least sufficient to meet the vital needs.
In addition, the salary, legally speaking, is conceptualized as “consideration for work done”, and as there was
a level equivalence between work and wages. The legal world, assuming that assumption leads us to further
alienating abstraction when one pays, in sequence, to call into question the various forms of compensation.
Already completely removed from reality, legal studies on wages lead us, in sequence, to take new forms: term
of payment; forms of wage fixation and protection rules for the payment takes place. Ie, when more one
studies the legal form, most distant of the essence. As Marx says, “the wage-form thus extinguishes every trace
of the division of the working day into necessary labor and over-work, paid work and unpaid work”, and the
salary, “All labor appears as paid labor”. In other words, again: “In wage labor, on the contrary, even the most-
work or unpaid labor appears as paid work.”. On the other hand, the law, notably the Labour Law, is a cultural
object which cannot be neglected, as it is part of life of workers and can, in a sense, paradoxical as it may seem,
help formulate understandings to away from the sale, so that it is a right repeatedly attacked by the ruling class
itself, to whom the legal forms in general benefit. The compensation for moral damage and moral harassment,
increasingly frequent in labor law, and even compensation for social harm (“social dumping”) inhabit the labor
every day to at least cause some tension in the social system political, social and legal. Are not decisions that
revolutionize the production process. Not generate emancipation of the working class and, worse, can lead us
to the mythology of the legal form, the tangle of rules and doctrinal trends that chase its tail and end up
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 96
Artigo
chaining our minds. But, especially when they are based analyzes that comprise the historical totality of the
capitalist mode of production and are expressed through a revealing rationality, may even contribute to the
formation of class consciousness. After all, the process of permanent revolution is by means of understandings
and formulations thoughts turned to the solution of concrete problems that arise in each moment. The search
for an immanent critique in all areas of power, political construction, allowing real interactions, is the food of
revolutionary action, given that the construction of a new society is, as said, a process.
Keywords: Capital; paid work; salary.
Marx, mais de uma vez, deixa claro que “o capital sempre faz a força de trabalho funcionar por mais
tempo do que o necessário para a reprodução do valor desta última” e nisto consiste a produção do mais-valor.
No entanto, a forma jurídica faz parecer que o trabalho possui, em si, um valor, e que o salário
representa esse valor. A noção econômica clássica do salário faz parecer que o trabalho foi integralmente pago
e o jurídico, ao definir o instituto, ainda traz a ideia de que o salário é justo, vez que representa a medida no
mínimo suficiente para suprir as suas necessidades vitais.
Além disso, o salário, juridicamente falando, é conceituado como a “contraprestação pelo trabalho
prestado”, como e houvesse uma equivalência nivelada entre trabalho e salário, sendo que por conta da
incidência de alguns outros institutos jurídicas, como férias e descanso semanal, ainda se tenta fazer crer que a
balança pende a favor do trabalhador por ser “beneficiado” com o recebimento de salário mesmo sem trabalhar.
Ou seja, quando se admite a inexistência do caráter sinalagmático do salário, em sua correspondência com o
trabalho prestado, se o faz de modo a exaltar o ganho do trabalhador, como se o princípio protetor do Direito
do Trabalho estivesse conferindo ao empregado uma posição de superioridade econômica frente ao empregador
e o próprio conceito de salário se ajusta para uma contraprestação devida pelo empregador em função do
trabalho prestado no seu conjunto, ou mesmo em razão da existência de um contrato de trabalho.
Mas repita-se: nos termos jurídicos há sempre uma predisposição em reconhecer que o trabalho
possui, em si, um valor, e que o salário o paga integralmente e de forma justa, sendo suficiente, no mínimo, para
satisfazer as necessidades vitais (alimentação, habitação, educação, saúde e lazer) não só do trabalhador, mas de
toda sua família.
O mundo jurídico, assumindo esse pressuposto, nos conduz ainda mais à abstração alienante quando
se presta, na sequência, a pôr em discussão as diversas formas de remuneração (em dinheiro ou “in natura”),
partindo para o “debate” para definir quais das formas de pagamento possui, ou não, natureza salarial, para o
efeito da verificação da incidência, ou não, de outras parcelas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), contribuição previdenciária, 13º, férias, etc., utilizando-se, para tanto, de novas fórmulas
artificiais. E diz-se, então, que se o pagamento é feito “pelo” trabalho prestado é salário e se é feito “para” que
o trabalho se efetive, não é salário, sendo que somente quando o pagamento, considerado salário, for “habitual”
é que as parcelas referidas terão incidência, não o tendo quando forem esporádicas, iniciando-se nova discussão
para fixar critérios objetivos que possam auxiliar na separação das situações.
Já completamente afastados da realidade, os estudos jurídicos sobre o salário nos conduzem, na
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 97
Artigo
sequência, ao exame de novas formas: prazo do pagamento; formas fixação do salário e as regras de proteção
para que o pagamento se realize.
Não se esqueça que tudo começa com um debate inútil acerca da origem da palavra salário, que chega
ao apontamento, bastante demorado, da divergência em torno das terminologias utilizadas por diversos autores
para designar o pagamento.
Ou seja, quando mais se estuda a forma jurídica, mais se distancia da essência. Como diz Marx, “a
forma-salário extingue, portanto, todo vestígio da divisão da jornada de trabalho em trabalho necessário e mais-
trabalho, em trabalho pago e trabalho não pago”, sendo que pelo salário, “Todo trabalho aparece como trabalho
pago”. Em outras palavras, ainda: “No trabalho assalariado, ao contrário, mesmo o mais-trabalho ou trabalho
não pago aparece como trabalho pago”.
A noção de contrato, que tem como base a noção de que é fruto de um ajuste formulado entre pessoas
livres e iguais, auxilia no mascaramento da realidade, já que se imagina que o valor do salário foi livremente
ajustado entre as partes e que representa a justa relação entre trabalho prestado e valor pago pelo trabalho.
O que Marx explica é que no modelo de produção capitalista não há como haver essa equivalência
entre trabalho e dinheiro pago, pois, do contrário, não haveria a produção de mais-valor, da transformação da
mercadoria força de trabalho em capital. Em suma, se o valor pago ao trabalho fosse exatamente o que ele
representa no preço da mercadoria (determinado pelo valor de uso e valor de troca), não haveria a reprodução
do capital e, portanto, não haveria o capitalismo.
Vejamos o seguinte exemplo: uma pessoa possui R$100.000,00 (cem mil reais) e se dispõe a produzir
sapatos com esse valor. É evidente que seu propósito é sair com mais que R$100.000,00 (cem mil reais) dessa
empreitada. Suponhamos que a matéria-prima tenha um valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e os outros
R$80.000,00 sejam gastos com mão-de-obra (salário e demais custos trabalhistas, fiscais etc.) de 80
trabalhadores. Se forem produzidos 100.000 (cem mil) pares de sapatos, estes deverão ser vendidos por mais de
R$1,00 cada. De todo modo, na perspectiva do trabalhador, daí por diante pouco importa por quanto será
vendido o sapato, vez que seu ganho já esteve determinado desde sempre, qual seja, inferior a R$0,80 por par e
é por isso que não é pago como uma mercadoria (já que em si não tem um valor) ainda que, de fato, seja o
trabalho dos trabalhadores que tenha transformado a matéria-prima em mercadoria. Além disso, na lógica do
capitalismo, que inclui o elemento necessário da concorrência, o lucro visualizado não pode estar vinculado ao
aumento do valor de venda da mercadoria, pois essa situação, aliada a uma distância muito estreita entre custo
da produção e valor de venda da mercadoria, potencializa enormemente os tais “riscos do negócio”. Assim, a
lógica econômica, para garantir a produção do capital, é da redução do valor pago pelo trabalho, mas não de
forma direta, nominal, como se diz, e sim pela estratégia de pagar apenas parte do trabalho executado, o que se
consegue pelo aumento da produção do trabalhador no mesmo período de tempo para o qual já se “ajustou” o
valor do salário.
Nessa equação, o fato de que o trabalho é “o elemento criador de valor” (o que o distingue das demais
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 98
Artigo
mercadorias), “é algo que está fora do alcance da consciência ordinária”.
Dito de outro modo, o valor do salário não está ligado ao valor do trabalho, que não existe em si, nem
mesmo como uma mercadoria, pois se mercadoria fosse seria trocado por uma mercadoria que lhe fosse
equivalente. O valor pago pelo trabalho, desconsiderando, ainda, o aspecto mais relevante de que é o trabalho
que cria valor, é o resultado de uma equação matemática que garanta ao capitalista a produção de capital. Mas
como o valor da mercadoria, determinado pelo valor de uso e valor de troca, está fora de seu alcance, a forma
mais eficiente é a de fazer com que o trabalhador lhe preste serviços gratuitamente durante a jornada de trabalho
e consiga, assim, atingir a produção, no mesmo período, seguindo o exemplo acima, de 200.000 pares pelo
mesmo valor de salário.
Importante entender que na lógica capitalista há uma noção necessária de que o trabalho deve possuir
um valor mínimo e isso por pelo menos três razões. Primeiro, porque na correlação de forças, os trabalhadores,
atraindo para si a lógica do exercício político democrático, aprenderam a reivindicar melhores salários; segundo,
porque o capitalismo precisa que existam trabalhadores com ganho que lhes permita também consumir; e
terceiro, e mais importante, porque o valor pago, integrado das noções jurídicas de contrato e de pagamento
justo, mascara o trabalho não pago.
No modo de produção capitalista é descartada, portanto, a extração do mais valor pela simples lógica
do salário cada vez menor ou, pior, do salário nenhum. Ora, se nenhum pagamento pelo trabalho fosse efetuado,
como se dava nos sistemas da corveia e da escravidão, o mais valor estaria garantido, mas isso, por si, não
resultaria em formação de capital.
Uma importante ressalva a fazer é que com a mundialização do capital a produção tende a se
direcionar para os locais onde os trabalhadores estejam dispostos a trabalhar por menores salários, o que,
inclusive, tem servido, na correlação de forças, em âmbito internacional, a pressionar os salários para baixo nos
locais onde, historicamente, atingiram níveis mais elevados.
Mas o certo é que se há um valor de salário mínimo, seja legal, seja determinado pela correlação de
forças, seja necessário mesmo para retroalimentar o consumo, é preciso que o mais valor se produza pelo mais
trabalho, ou seja, pelo trabalho não pago durante parte da jornada de trabalho.
Essa é a regra do jogo, sendo totalmente impróprio, portanto, falar em salário justo. Justo seria que o
trabalhador se apropriasse do fruto total do seu trabalho e como isso não se dá no modelo capitalista o
trabalhador passa, inclusive, por um processo de perda de subjetividade, já que seu trabalho é transformado em
mercadoria força de trabalho, que vende sem qualquer noção de valor, para produzir outras mercadorias que
não lhe pertencem, sendo que tantas vezes meramente produz uma peça para uma máquina, quando não executa
uma atividade mecanizada, sendo ele próprio parte da engrenagem.
Vale entender que Marx trata de uma compreensão generalizante, que determinada a característica do
sistema de produção capitalista como um todo, não se predispondo, pois, a discutir questões individuais que
possam, em experiência concreta, até contrariar essa lógica. É comum a utilização de situações individualistas
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 99
Artigo
(ou as “robinsonadas”, como se costuma dizer) para obstruir a compreensão do todo. É neste sentido, que, por
exemplo, proliferam as fórmulas de alienação traduzidas nas experiências de programas midiáticos como: “gente
que faz”, “histórias de sucesso”, tratando tanto de trabalhadores que se tornam empreendedores, quanto de
desempregados que se tornam empregados e de empregados que sobem na carreira, ganhando melhores salários.
Quando se fala do processo de produção do mais valor está se fazendo referência à relação capital e
trabalho no contexto geral e não a partir de situações específicas, localizadas. Os altos salários de uns poucos
podem dar a impressão equivocada da relação capital e trabalho.
Da jurisprudência trabalhista é possível extrair um bom exemplo dessa aparência. Muitas empresas de
corte de cabelo tratam com seus profissionais uma parceria meio a meio (50%). A empresa fica com 50% do
valor pago pelo cliente, arcando, ainda, com os custos da produção, e o profissional com 50%. Quando esses
cabeleireiros vão à justiça pedir a declaração do vínculo de emprego, que, se pensarmos na perspectiva da
essência, é a declaração de que existe uma relação de trabalho capitalista, os juízes, em geral, dizem que os dois
são sócios no negócio e negam ao cabeleireiro a condição de trabalhadores. Mas, de fato, a empresa fica com
50% de cada um dos trabalhadores e, certamente, o que lhe sobra é suficiente para a formação de capital, pois,
do contrário, não o faria.
A situação de um trabalhador ganhar um alto salário, ou seja, um ganho que foge do padrão médio,
gera uma perplexidade interessante, que denuncia a forma fantasiada com que se produzem alguns conceitos
jurídicos. Diz-se que quando um trabalhador ganha um salário acima do padrão ele não pertence à classe
trabalhadora e lhe é negada a proteção jurídica trabalhista. Mas, o Direito do Trabalho se identifica pela função
de servir à melhoria da condição social e econômica do trabalhador e, portanto, o cumprimento da função do
Direito do Trabalho não poderia representar a perda de direitos, pois, afinal, nem apenas de salário se faz a tal
noção jurídica do trabalho digno.
Fato é que diante das constatações supra, extraídas do ponto de vista da essência, o salário se definiria
não como contraprestação justa pelo trabalho, mas como o valor pago pelo trabalho prestado de modo a garantir
ao capitalista a reprodução do capital, sendo que as fórmulas jurídicas existem exatamente para garantir que essa
relação se concretize, ao mesmo tempo em que mascara a sua existência.
Há de se compreender que não há um determinante posto pela natureza no tema do salário, como faz
crer a conceituação jurídica. De fato, as regras do direito funcionam para manter o salário ao nível da reprodução
do capital, variando seus conteúdos como pêndulo, quando a própria lógica da concorrência entre os
trabalhadores, incentivada pela formação do exército de mão-de-obra, não for suficiente para atingir esse
objetivo.
Ao longo da história, vários são os exemplos de regulação da produção neste sentido da preservação
da lógica de reprodução do capital, seja no sentido de fixar um “salário máximo”, como havido na Inglaterra,
por disposição de uma Portaria de 1349 e de um Estatuto dos Trabalhadores, de 1351, seja no sentido de impor
trabalho a quem não tivesse meios próprios de sobrevivência, engrossando o exército de mão-de-obra.
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 100
Artigo
No referido estatuto havia determinação de que “qualquer homem ou mulher válido com menos de
60 anos, fosse vilão ou livre e não dispusesse de meios independentes de sustento, podia ser obrigado a aceitar
trabalho pelo salário prescrito”.
Nesse aspecto, é interessante verificar que ao contrário do que muitos tentam fazer crer, não houve
uma passagem imediata do trabalho servil para o trabalho livre e tampouco o trabalho livre era tão livre assim.
No curso da história, a constituição do proletariado, como fator de desenvolvimento do capitalismo, teve essa
fase de trabalho forçado, que se justificava não só por uma tentativa de aumentar a reserva de mão-de-obra,
para que a “lei da oferta e da procura” favorecesse o produtor, mas também porque diante das péssimas
condições de trabalho nem mesmo a necessidade alimentar era fator determinante para que alguém não
acostumado à disciplina de um trabalho fabril ou em minas de carvão, por exemplo, a ele se submetesse.
Conta-se que mesmo havendo lei que fixasse pena de enforcamento para os condenados que fossem
destacados para o trabalho nas minas de Gales do Sul eram comuns as fugas com a afirmação dos fugitivos de
que “preferiam ser enforcados a ficar presos àquele emprego”.
Mantida, ainda, uma lógica medieval, “Uma lei de 1496 – na Inglaterra – determinava que vagabundos
e pessoas ociosas deviam ser postas no tronco por três dias e três noites, e, no caso de reincidência, por seis dias
e seis noites”.
Segundo Maurice Dobb: (1987, p. 237):
O famoso estatuto de Eduardo VI decretava que quem se recusasse a trabalhar devia “ser
marcado com um ferro em brasa no peito” e “considerado escravo por dois anos de qualquer
pessoa que desse parte de tais ociosos”, sendo o senhor autorizado a levar seu escravo ao
trabalho “por pancada, agrilhoamento ou de outra maneira, por mais vil que seja esse
trabalho” e torná-lo escravo por toda a vida e marcá-lo a fogo na face ou testa se tentasse
fugir.
Essa situação persistiu vários anos. Conforme relato do mesmo autor: “A legislação elisabetana
determinava que a mendicância devia ser punida pela queimadura, através da cartilagem do ouvido direito e, na
reincidência, pela morte, sendo a primeira penalidade substituída humanitariamente em 1597 pela de ser despido
até a cintura e chicoteado até que o corpo estivesse coberto de sangue.” (DOBB, 1987, p. 237).
No período da Restauração da monarquia (Carlos II, 1660):
[…] a escassez da mão-de-obra se torna novamente uma queixa séria e a classe proprietária
fora seriamente assustada pela insubordinação dos anos do Commonwealth, o clamor no
sentido de que a intervenção legislativa mantivesse baixos os salários, levasse
obrigatoriamente os pobres ao emprego, ampliasse o sistema de hospícios e “casas de
correção” e eliminasse os pobres atingiu novamente um crescendo (DOBB, 1987, p. 237).
Nesse período:
Colbert desencadeou uma guerra aos miseráveis com brutalidade ainda maior do que a do
regime Tudor na Inglaterra: pessoas sem meios de subsistência tinham a alternativa de ser
expulsas do reino ou condenadas à escravidão das galés. “Caças aos vagabundos” eram
organizadas tanto na Holanda quanto na França para fornecer tripulações aos navios, e se
fazia pressão sobre os tribunais para que tornasse a condenação às galés uma punição comum,
ainda que por infrações pequenas. Havia frequentes recrutamentos forçados de mão-de-obra
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 101
Artigo
para estabelecimentos privilegiados de todos os tipos, e os pais que não mandassem os filhos
para a indústria eram ameaçados com multas pesadas. “Casas de correção” para os sem-
trabalho multiplicavam-se como estabelecimentos que eram virtualmente colônias de
trabalhos forçados, sendo seus ocupantes frequentemente alugados a empregadores
particulares. Em outros casos, a própria instituição era arrendada a um contratante (DOBB,
1987, p. 237).
Não é à toa, portanto, que a figura das grandes fábricas muitas vezes seja representada como uma
prisão.
Voltando à análise das formas jurídicas voltadas ao salário, é interessante verificar que Marx, em O
Capital, trata, especificamente, da modalidade do salário por tempo, destacando, sobretudo, a distinção entre
salário nominal e salário real.
Explica que “a soma de dinheiro que o trabalhador recebe por seu trabalho diário, semanal etc.
constitui a quantia de seu salário nominal, ou do seu salário estimado segundo o valor” (MARX, 2013, p. 613),
advertindo para o fato de que quando o salário é pago por hora, de fato, apenas parte dessa hora serve ao
trabalhador. Assim, ele não atingirá a quantidade de ganho necessário para suas necessidades se não se dedicar
a trabalhar horas a mais e como se cria a ilusão de que todas as horas estão sendo pagas, considerando o que
seria “o preço normal do trabalho”, mesmo a conexão entre trabalho pago e trabalho não pago é perdida e o
empregador poderá “prolongar anormalmente a jornada de trabalho sem que haja qualquer compensação
correspondente para o trabalhador”.
O jurídico auxilia nesse disfarce quando estabelece que quando o salário é pago por hora as horas
extras não pagas devem ser remuneradas apenas com o acréscimo do adicional (de 50%, por exemplo), vez que
a hora normal já foi paga, embora, de fato, não tenha havido, como demonstrado por Marx, pagamento algum.
No texto em estudo, Marx revela, ainda, que sem uma limitação legal há a formação de uma jornada
normal pelo costume, sendo que a sobrejornada, a hora extra, é mais bem paga, ainda que “numa proporção
ridiculamente pequena”. De todo modo, o baixo preço do trabalho, pago para o trabalho no tempo normal, faz
com que o trabalhador “para obter um salário suficiente” se submeta a trabalhar hora extra, que é mais bem
remunerada.
Marx (2013, p. 617) sentencia, no entanto, que “A limitação legal da jornada de trabalho põe um fim
a esse divertimento”.
Se pensarmos sob o aspecto da forma jurídica brasileira essa sentença ainda não se executa. Pois, a
limitação legal, vislumbrada por Marx, é a que proíbe o trabalho além de certo horário, que, portanto, torna um
ilícito o trabalho para além da jornada normal. No nosso caso, entretanto, a limitação legal é um convite à
reprodução da própria lógica denunciada por Marx, da realização de horas extras para compensar o baixo salário,
vez que se entende que o trabalho além do limite é um instituto legal, o da hora extra, que pode, inclusive, ser
prestada de forma ordinária. Não há, portanto, ilicitude no trabalho além da jornada normal, apenas uma
alteração de valor.
Esse é um ponto em que a crítica imanente pode contribuir bastante para denunciar as falácias da
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 102
Artigo
forma jurídica, pois o direito atribui à limitação da jornada o caráter de um direito fundamental, mas ao mesmo
tempo permite a supressão desse direito pela hora extra, a qual, ao mesmo tempo, funciona como forma de
reduzir o salário, que esse mesmo direito diz ser o bem maior do trabalhador, que recebe, inclusive, proteções
jurídicas especiais.
É o direito se esfarelando entre os dedos!!!
Bastante interessante, a propósito, é ver como o tema é tratado nos manuais e nas aulas de Direito do
Trabalho. Normalmente, fala-se, en passant, da limitação da jornada de trabalho, como ela foi constituída
historicamente (8, para o trabalho, 8, para o descanso, 8 para o lazer), e passa-se, em seguida, a tratar da hora
extra. O instituto que se estuda é, de fato, aquele que serve à destruição da limitação da jornada, apresentada
como conquista histórica dos trabalhadores. E esse estudo é meramente matemático: qual o adicional; como se
calcula; como se paga; incidências etc. Várias páginas dos manuais, apresentadas em duas ou três aulas, tratando
apenas disso. E o pior é que não se para por aí. Depois, mais várias páginas (e mais algumas aulas), explicando
como se faz para não pagar as horas extras: compensação; banco de horas... Aliás, tem muita gente que ganha
muito dinheiro, vendendo livros de Direito do Trabalho que são autênticos guias para não pagar direitos
trabalhistas...
Nesse aspecto, no entanto, vale a ressalva: a compreensão das coisas, saindo da realidade pervertida,
permite, também, que se visualize o papel que os institutos jurídicos produzem e se procure, então, pervertê-
los, não como forma de revolucionar a realidade, mas para não ser partícipe silencioso da perversidade, até
porque essa conturbação da ordem não depende de uma reforma jurídica, mas de mera releitura.
Há muito venho sustentando que hora extra só se justifica excepcionalmente, pois, como o próprio
nome diz, é hora extra. Aliás, de fato, o instituto tratado na Constituição não é hora extra, mas “serviço
extraordinário”, o que por si já deixa claro que se trata de uma situação extraordinária, excepcional, em
consonância, ademais, com a identificação da limitação da jornada como direito fundamental. Neste sentido, o
acréscimo de 50% só se aplica quando a extrapolação da jornada normal for esporádica. Para além disso se está
diante de um ato ilícito, cujo efeito não é pré-fixado em lei e nem poderia por contrariar a lógica constitucional.
E qual o percentual que se deve utilizar para remunerar a hora trabalhada, de forma ordinária, além
da jornada normal? Alguém já pode indagar... A esses é preciso pedir um pouco de calma!
Ora, todos que lidam com o Direito do Trabalho ficam logo desesperados para saber quanto
representa economicamente um ato qualquer, como se tudo devesse ser previamente quantificado. Essa
previsibilidade, no entanto, funciona a favor do capital e torna toda prática de exploração em ato lícito, mesmo
quando supera os parâmetros legais. Esse é, ademais, o modo como o direito (sobretudo, o Direito do Trabalho)
se presta mesmo a instrumentalizar o modelo de produção capitalista.
Veja, por exemplo, o que ocorre com a supressão do intervalo para refeição e descanso, que é
considerado direito fundamental, vez que ligado à saúde. Diante de um fato em que um trabalhador tenha
realizado serviço, anos a fio, sem intervalo, confere-se a ele o valor correspondente à hora suprimida, com
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 103
Artigo
adicional de 50%, sendo que as grandes discussões jurídicas a respeito partem de indagações como: “e se
suprimiu apenas 30 minutos?” “E se foram 15 minutos?” “O pagamento tem reflexos ou não?” Questões que
presentemente, é verdade, já foram superadas na jurisprudência, mas consumiram muito do esforço intelectual
de muitas pessoas durante muito tempo...
No embalo dos debates travados no fundo do abismo, muitas empresas resolveram o problema
jurídico da supressão do intervalo e passaram a pagar, em hollerith, a hora suprimida, com o adicional e os
reflexos. Chegam em audiência e já dizem: “já pagamos tudo”. E o juiz, levado pela lógica da forma jurídica,
argumenta com o reclamante que nada mais ele possuir para receber quanto àquele objeto, adiantando a
sentença.
Mas repare: se o intervalo era um direito fundamental não poderia ter sido posto à venda e muito
menos por um valor pré-determinado, de forma unilateral, pelo próprio agressor da ordem jurídica. Ninguém
chega na casa de alguém e diz: “já comprei sua casa pelo valor que você declarou no IPTU!”.
Mesmo que haja uma previsão legal para a supressão do intervalo, essa previsão só se entende para
situações de excepcionalidade, pois, do contrário, seria a própria desconsideração da existência do direito...
Essa ânsia de previsibilidade, baseada no pressuposto da tal “segurança jurídica”, mas que é uma
segurança que se concede, no Direito do Trabalho, a quem descumpre o direito, vai ao ponto de se vislumbrar
a criação de um parâmetro objetivo para as indenizações por dano moral (ou assédio moral). Já vi juízes dizendo
que para determinado tipo de ofensa moral, por dever de coerência, fixa sempre o mesmo valor – que é quase
sempre muito baixo por sinal. Ora, na perspectiva do empregador que possui vários empregados o que essa
postura representa? Representa conduzir para a licitude a prática ilícita, dada a quantificação prévia de sua
conduta.
O que quero dizer é que esses ilícitos devem gerar indenizações, cujo valor não seja pré-fixado, sendo
majorados na reincidência, potencializando-se os eventos na perspectiva de sua gravidade. Por exemplo, hora
extra prestada ordinariamente é grave, mesmo que pagas na forma da lei. Mais grave, por certo, é sequer pagá-
las. E mais ainda é não pagá-la mediante ardil, ou seja, com a produção de documentos que fraudam a realidade
(cartões de ponto etc.) e juntá-los aos autos de um processo judicial...
Expor alguém a uma condição vexatória, como ter que fazer necessidades fisiológicas no mato, é
grave. Mais grave é reiterar na conduta com outros trabalhadores, já avaliando o efeito econômico diante de
uma pretendida padronização das condenações a respeito do mesmo fato, reiterando, pois, na conduta, sendo
que o pior mesmo é tentar justifica a conduta com argumentos que em si desconsideram a condição humana
dos trabalhadores.
Mas aí é extremamente importante reparar que mesmo a aplicação da norma jurídica no sentido
proposto, que tende a corrigir essas irregularidades, impedindo a sua ocorrência, o efeito concreto não será a
produção de uma relação de trabalho economicamente justa. Será, meramente, ainda mais quando se veja
adicionada por ações de cunho inibitório, com conteúdo de obrigações de não fazer, o de impedir a perversão
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 104
Artigo
plena do sistema com as horas extras ordinárias; as horas extras não pagas; a supressão ordinária do intervalo; a
supressão ordinária não paga do intervalo; o tratamento desumano nas relações de trabalho.
Ocorre que sem horas extras; com respeito ao intervalo cumprido; com tratamento digno, ainda assim
não há a superação da lógica capitalista... Se pensarmos bem, essa obra jurídica grandiosa só nos devolve ao
ponto em que Marx sentenciou: “A limitação legal da jornada de trabalho põe um fim a esse divertimento”.
No caso, teríamos dado fim a essa diversão de maltratar o trabalhador, explorando-o para além do
limite legal, mantendo-se, por certo, a própria lógica do sistema de produção capitalista, que traz, consigo todos
os problemas já identificados.
De todo modo, parece importante dar esse passo, para prosseguir na caminhada, desde que se pontue,
sempre, qual a racionalidade que se está produzindo, que é, inclusive, essencial para reconstrução da sociedade,
que não se dará pela simples revolta ou pela barbárie (como se tem visto, aliás, na realidade brasileira).
Voltando ao ponto em que Marx adverte para a questão da redução do preço do trabalho, que permite
a extrapolação da jornada, vem o acréscimo de que essa redução é favorecida pela concorrência entre os
trabalhadores, já que a oferta de trabalho não aumenta na medida em que a hora extra permite que se obtenha
mais valor com o mesmo número de trabalhadores.
A questão da concorrência entre os trabalhadores é algo extremamente pernicioso aos trabalhadores
e tem sido reforçada, na lógica atual, não apenas pela lei da oferta e da procura, mas também pela lei do mal
menor, favorecida pela legalização das formas precárias de trabalho e mesmo pela ausência de punição concreta
das formas ilegais de exploração. É assim que o supervisor que trabalha sem limitação da jornada de trabalho
olha para o seu salário e para outros que ganham bem menos e diz, “tudo bem”; que o trabalhador médio, que
não consegue sair da faixa salarial em que se encontra há anos, olha para outros que estão perdendo o emprego
quando chegam aos 40 anos e diz, “tudo bem”; que os que estão começando na carreira e tem que se submeter
a metas absurdas de trabalho, além de se alimentarem da esperança de que um dia será melhor, olham para os
que não conseguiram o emprego e dizem, “tudo bem”; o que estão na base da hierarquia, sem muitas esperanças,
ganhando baixos salários, olham para os terceirizados e dizem, “tudo bem”; os terceirizados olham para os que
estão trabalhando em condições análogas a de escravos, não se reconhecendo como tais, e dizem, “tudo bem”;
e esses, mirando os desempregados e o próprio risco de sobrevivência, que, afinal, atinge a todos, dizem: “tudo
bem”.
Ocorre que a concorrência, inevitavelmente, atinge o próprio capitalista, pois o sistema assim impõe,
sendo que para obter vantagem sobre a concorrente o capitalista se dispõe, inclusive, a presentear o consumidor,
retirando do preço da mercadoria a parte não paga do preço do trabalho.
Isso, no entanto, anula a vantagem do capital sobre o trabalho e é por isso e não pela proteção do
trabalhador que o direito fixa regras que limitam a concorrência.
A outra modalidade de salário, o salário por peça, “não é senão uma forma modificada do salário por
tempo”, ou seja, a mesma coisa, trazendo, no entanto, a aparência de coisa diversa.
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 105
Artigo
Também no salário por peça há o mais valor e este se situa na quantidade de produtos que o
trabalhador concretiza em um determinado tempo, sendo parte para si e parte para o capitalista.
A vantagem para o capitalista nessa modalidade de salário é que havendo uma qualidade média
necessária, o trabalhador passa a ser controlador de sua própria atividade, sendo que há, também, a
previsibilidade quanto a uma quantidade média de produtos a se esperar par determinado tempo.
Há, nesse sistema, uma intensificação do trabalho, que remete, em termos atuais, à estratégias de
gestão de pessoal, ou, mais propriamente, à fixação de metas, que, ao mesmo tempo, gera maior tensão na
concorrência entre os próprios trabalhadores, provocando situações de desconforto pessoal no ambiente de
trabalho, notadamente o assédio moral.
Na transformação do trabalhador em algoz de si mesmo, é possível eliminar a supervisão, favorecendo
o advento do trabalho a domicílio.
No trabalho a domicílio o capitalista elimina o custo do supervisor e ainda de parte dos custos
necessários à produção, que, como passe de mágica, são transferidos ao trabalhador, tais como energia elétrica,
por exemplo. O “moderno” trabalho à distância só é possível nessa modalidade de salário, sendo certo que o
controle da jornada está subjacente na quantidade de peças exigidas.
Além disso, no trabalho por peça incentiva-se ao trabalhador, ele próprio, contratar trabalhadores
para lhe auxiliar na tarefa. É assim que se diz, por exemplo, que no trabalho a domicílio pouco importa quem
realiza o serviço.
Há, ainda, um incentivo à intensificação do trabalho. Como se costuma dizer: “quanto mais trabalha,
mais ganha”. É comum ver as defesas apresentadas em processos trabalhistas aduzindo que o empregado não
cumpriu o intervalo porque não quis, na medida em que isso lhe permitiu trabalhar mais para ganhar mais. É
comum também dizer que quando o empregado ganha por produção se trabalha hora extra nada lhe é devido
senão o adicional porque a produção correspondente ao sobretrabalho já lhe foi paga, não se considerando,
pois, que, na essência, não houve pagamento algum. Neste sentido, a alteração da Súmula 340 do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) não atinge o objetivo de remunerar, como extra, o trabalho em sobrejornada do
trabalhador comissionista, pois lhe confere apenas o adicional, acreditando que a hora já está paga, alterando
apenas a forma de cálculo da base sobre a qual incidirá o adicional.
De fato, se já não se remunera, integralmente, nem a jornada normal, não se poderia deixar de
determinar o pagamento da hora extraordinária, considerando o valor da hora normal mais o adicional,
calculando-se a hora normal a partir do salário total recebido.
Não se agindo dessa forma, o que se produz é uma redução do preço do trabalho, como advertido
por Marx.
Marx adverte, ainda, que essa modalidade de pagamento permite a “interposição de parasitas entre o
capitalista e o assalariado”, sendo certo que o pagamento do intermediário não é feito pelo capitalista, pois “O
ganho dos intermediários advém exclusivamente da diferença entre o preço do trabalho pago pelo capitalista e
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 106
Artigo
a parte desse preço que eles deixam chegar efetivamente ao trabalhador” (MARX, 2013, p. 624).
Essa situação que nada mais é que a atualmente denominada “terceirização”, que, curiosamente, se
apresenta em certa construção teórico-jurídica trabalhista como “técnica moderna decorrente da reengenharia
da produção”. Lembre-se que os salários dos terceirizados são sempre menores que os dos tais “trabalhadores
efetivos”.
A diferença é que enquanto Marx vislumbra essa possibilidade na desnecessidade de controle pelo
próprio capitalista quanto à quantidade e a qualidade, vez que esses efeitos seriam de interesse do trabalhador,
na terceirização o pagamento se faz por tempo de trabalho, transferindo-se para o intermediário a obrigação do
controle, com o que se compromete, juridicamente, com o capitalista.
Marx vislumbra um lado positivo do pagamento por peça, pois a dedicação dos trabalhadores, no
conjunto, pode, de fato, gerar o aumento do nível médio dos salários. Mas, o próprio Marx adverte que nessa
situação os empregadores recorrem a procedimentos para transformar forçadamente o salário por peça em
salário por tempo. No Direito do Trabalho autoriza-se ao empregador pleitear perante a Justiça do Trabalho a
alteração da modalidade de pagamento se as evoluções tecnológicas permitirem maior produção de peças por
trabalhador. Na nossa realidade histórica houve, concretamente, período em que os salários médios aumentaram
bastante, fruto das greves ocorridas de 1961 a 1963, e a consequência foi o advento da Lei n. 4.923/1965, do
período da ditadura militar, que permitia aos empregadores solicitarem junto à Justiça do Trabalho a redução
dos salários em até 25%, com redução de jornada proporcional.
No modelo atual, esse “ajuste” se dá pura e simplesmente com o exercício do denominado “direito
potestativo de resilição contratual” ou com a ameaça de dispensa coletiva de empregados, forçando uma
negociação coletiva para redução de salários, sob o fundamento teórico da “autonomia privada coletiva”.
Lembre-se, ainda, da lei de falências e, mais presentemente, do instituto da recuperação judicial, que
é o mecanismo jurídico criado para livrar as empresas de encargos, encargos estes que foram juridicamente
construídos. De fato, a recuperação judicial é a institucionalização do “calote”, da explicitação do estado de
exceção permanente, da forma de evitar a aplicação concreta do direito quando o equilíbrio, em favor do capital,
no avanço das correlações de forças, tende a ser corrompido.
No Brasil, a fórmula clássica de fazer recuar os avanços trabalhistas e gerar ineficácia às normas
favoráveis aos trabalhadores é a retórica constante de que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é cópia
da Carta del Lavoro; que os direitos trabalhistas no Brasil são rígidos demais, retrógrados, ultrapassados, que
geram altos custos aos empregadores, valendo-se, por fim, do argumento da globalização, que nos remete, de
certo modo, ao Capítulo 20 do O Capital, no sentido de que as empresas tendem a se direcionar aos locais onde
os salários forem menores.
Há no Direito do Trabalho, de todo modo, mecanismos para acabar com esse divertimento, como
dizia Marx, iniciando, necessariamente, com a demonstração das incongruências da própria construção teórica
trabalhista, que favorece a todas essas perversões.
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 107
Artigo
O direito trabalhista não é fascista, tendo sido, em parte, fruto de conquistas da classe trabalhadora,
que, aliás, em momento histórico determinado, na década de 1950, compreendeu inclusive que a satisfação
trazida pelas vitórias trabalhistas incrementava a luta política, tanto que muito da reação à organização dos
trabalhadores se concretizou por meio da imposição de sofrimento aos trabalhadores, com a retirada de direitos
(vide as décadas de 1960 e 1970).
A tercerização não tem respaldo jurídico, já que, para a CLT, o empregador é a empresa e esta é quem
detém os meios de produção, devendo-se entender esta pela totalidade e não pela parte. Ou seja, um
intermediário não altera a essência do processo produtivo e o empregador continua sendo a empresa e, mais
propriamente, quem ostenta o capital, pois afinal, no capitalismo é o capital que se reproduz pela exploração do
trabalho. É neste sentido, ademais, que se tem falado em subordinação reticular, ou subordinação em rede, para
identificar o processo produtivo e vincular, juridicamente, o capital ao trabalho.
A cessação imotivada dos vínculos de emprego encontra óbice na Constituição Federal, que garante
aos trabalhadores, a partir do postulado de permitir a melhoria da condição social destes, a relação de emprego
protegida contra a dispensa arbitrária, sendo certo que com relação às cessações coletivas o TST já se posicionou
firmemente a respeito, rejeitando o direito potestativo do empregador.
As indenizações de dano moral e por assédio moral, também, mostram-se cada vez mais frequentes
na jurisprudência trabalhista e até mesmo as indenizações por dano social (“dumping social”) habitam o cotidiano
trabalhista.
Não são decisões que revolucionam o processo produtivo. Não geram emancipação da classe
trabalhadora e, pior, podem nos conduzir à mitologia da forma jurídica, ao emaranhado de normas e de correntes
doutrinárias que correm atrás do próprio rabo e que acabam acorrentando as nossas mentes.
Mas, sobretudo, quando têm por base análises que compreendem a totalidade histórica do modo de
produção capitalista e se expressam por meio de uma racionalidade reveladora, essas decisões podem contribuir
até mesmo para a formação da consciência de classe.
Afinal, o processo da revolução permanente se dá por meio de compreensões e formulações de
pensamentos voltados à solução de problemas concretos, que se apresentam a cada instante. A busca de uma
crítica imanente em todos os espaços de poder, de construção política, permitindo interações reais, é o alimento
da ação revolucionária, sendo certo que a construção de uma nova sociedade é, como dito, um processo.
O fato é que no novo mundo não pretende apenas que os pobres tenham vez, o que se almeja é a
eliminação concreta das desigualdades, possibilitando-se que todas as pessoas, sem distinções, sejam aptas a
produzir inteligências essenciais à condição humana.
Referências:
DOBB, M. A Evolução do Capitalismo. Tradução Rowtledge and Kegan Paul. Rio de Janeiro: LTC, 1987.
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 108
Artigo
MARX, K. O Capital: o processo de produção do capital (Livro I). Tradução Rubens Enderle. São
Paulo: Boitempo, 2013.
Notas:
1 Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor livre docente da Universidade de São Paulo. E-
mail: jorge.soutomaior@uol.com.br.
Recebido em: 07/2014
Publicado em: 02/2015.
Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, p. 95-109, dez. 2014. 109
Você também pode gostar
- Apstila de Economia e Sociologia Do TrabalhoDocumento122 páginasApstila de Economia e Sociologia Do TrabalhoJorge Alexandre Oliveira Alves100% (1)
- Abnt NBR 15786Documento23 páginasAbnt NBR 15786Anonymous ahwlIp7U0Ainda não há avaliações
- Cat 533 e PDFDocumento16 páginasCat 533 e PDFrailson carvalho100% (1)
- Mecanico de RefrigeraçãoDocumento3 páginasMecanico de RefrigeraçãoPeterson Silva100% (1)
- Manifestações Clínicas Da Dor CrônicaDocumento8 páginasManifestações Clínicas Da Dor CrônicaAnonymous ahwlIp7U0Ainda não há avaliações
- Brousse o Destino Do Sintomapdf PDFDocumento6 páginasBrousse o Destino Do Sintomapdf PDFdihejoAinda não há avaliações
- Visão de Weber Sobre o TrabalhoDocumento4 páginasVisão de Weber Sobre o TrabalhoLucas PradoAinda não há avaliações
- Fich. Cap 2 Max WeberDocumento7 páginasFich. Cap 2 Max WeberRoberto MadeiraAinda não há avaliações
- Sebenta Direito de Trabalho FDUCDocumento75 páginasSebenta Direito de Trabalho FDUCRushNReadyAinda não há avaliações
- 2de7b1b4-4ce5-49cd-8484-b8a5a93083e0Documento3 páginas2de7b1b4-4ce5-49cd-8484-b8a5a93083e0Rodrigo Silva AraujoAinda não há avaliações
- A Visao de Trabalho em Karl MarxDocumento5 páginasA Visao de Trabalho em Karl MarxYanne LourençoAinda não há avaliações
- Visão de Weber Sobre o TrabalhoDocumento4 páginasVisão de Weber Sobre o TrabalhoLucas PradoAinda não há avaliações
- Sociologia Jurídica, Modernidade e Ciência Do DireitoDocumento12 páginasSociologia Jurídica, Modernidade e Ciência Do DireitoMaximiano RosaAinda não há avaliações
- Trabalho Eco PolDocumento11 páginasTrabalho Eco PolMarcella AbdallahAinda não há avaliações
- Discussão Temática de Mark Weber e Friedrich Engels - RespostasDocumento8 páginasDiscussão Temática de Mark Weber e Friedrich Engels - Respostasisabel piresAinda não há avaliações
- 2º Aula - Princípios PeculiaresDocumento6 páginas2º Aula - Princípios PeculiaresWillian SilveiraAinda não há avaliações
- Direito E Economia: A Aplicabilidade Do Princípio Da Função Social Da EmpresaDocumento14 páginasDireito E Economia: A Aplicabilidade Do Princípio Da Função Social Da EmpresaSara Nader MartaAinda não há avaliações
- A Ideia de Justica em MarxDocumento10 páginasA Ideia de Justica em MarxSthephanie SchulzAinda não há avaliações
- 017 SilvaDocumento8 páginas017 SilvaGabriel CastroAinda não há avaliações
- GUERRA FILHO Willis Santiago Reapreciacao Da AutopoieseDocumento17 páginasGUERRA FILHO Willis Santiago Reapreciacao Da AutopoieseAntonioPazAinda não há avaliações
- Reprodução Social Da Força de Trabalho e Classe Trabalhadora GlobalDocumento21 páginasReprodução Social Da Força de Trabalho e Classe Trabalhadora Globalfabiana diasAinda não há avaliações
- 08 - Do Jus Variandi - Francisco OliveiraDocumento6 páginas08 - Do Jus Variandi - Francisco Oliveiracarmen.schavinskiAinda não há avaliações
- 1 SociologiaDocumento11 páginas1 SociologiaSimone Drumond IschkanianAinda não há avaliações
- Trabalho de Teoria Critica Do Direito - Wassillys Fernandes SilvaDocumento6 páginasTrabalho de Teoria Critica Do Direito - Wassillys Fernandes Silvawassillys09fernandes123Ainda não há avaliações
- Atividade ExtraDocumento2 páginasAtividade Extraemilyester56Ainda não há avaliações
- Apostila - Aulas de IED - Parte 1 - 220419 - 164616Documento77 páginasApostila - Aulas de IED - Parte 1 - 220419 - 164616Francisco MesquitaAinda não há avaliações
- Capítulo IV - RepúblicaDocumento4 páginasCapítulo IV - RepúblicaÉllenton FreitasAinda não há avaliações
- Apostila de TGPDocumento73 páginasApostila de TGPbodaun100% (6)
- PACHUKANISDocumento32 páginasPACHUKANISThaty Milly da Silva AlexandrinoAinda não há avaliações
- 802-Texto Do Artigo-3186-1-10-20130331Documento18 páginas802-Texto Do Artigo-3186-1-10-20130331Gustavo LacerdaAinda não há avaliações
- Conceitos interseccionais para o Direito do Trabalho: Análise das Lesões Extrapatrimoniais na Reforma TrabalhistaNo EverandConceitos interseccionais para o Direito do Trabalho: Análise das Lesões Extrapatrimoniais na Reforma TrabalhistaAinda não há avaliações
- Salário Preço e Lucro FichamentoDocumento5 páginasSalário Preço e Lucro FichamentoRuy Cavalcante OliveiraAinda não há avaliações
- Teoria MarginalistaDocumento28 páginasTeoria MarginalistaArcelo Luis PereiraAinda não há avaliações
- STRECK,L.L. Um debate com (e sobre) o formalismo-valorativo...Documento16 páginasSTRECK,L.L. Um debate com (e sobre) o formalismo-valorativo...cristhianbrittoAinda não há avaliações
- Henri Lévy-Bruhl - Sociologia Do Direito, 2 Ed. (1997)Documento75 páginasHenri Lévy-Bruhl - Sociologia Do Direito, 2 Ed. (1997)Dora__80% (5)
- x5.6.4 - Respons. SocialDocumento110 páginasx5.6.4 - Respons. SocialZ. Iljitsch SamsaAinda não há avaliações
- Introducao-Ao-Direito Net Nº2Documento21 páginasIntroducao-Ao-Direito Net Nº2rachelcorreia19Ainda não há avaliações
- 2239 6264 1 PBDocumento16 páginas2239 6264 1 PBGabriel JulioAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro O Direito em Marx - Márcio Bilharinho Naves Por Celso KashiuraDocumento4 páginasResenha Do Livro O Direito em Marx - Márcio Bilharinho Naves Por Celso KashiuraFabio GarciaAinda não há avaliações
- dossie2022_04_14_13_29_43Documento13 páginasdossie2022_04_14_13_29_43LUIZ COLUSSIAinda não há avaliações
- RESUMO 1 e 2 Cap de Introdução Ao Estudo Do DireitoDocumento2 páginasRESUMO 1 e 2 Cap de Introdução Ao Estudo Do Direitoedwdragon124Ainda não há avaliações
- JustificativaDocumento23 páginasJustificativaKarla MartinsAinda não há avaliações
- Divisão Do Trabalho Social Marx, Weber e DurkheimDocumento7 páginasDivisão Do Trabalho Social Marx, Weber e DurkheimIgor AmorimAinda não há avaliações
- Filosofia Geral EjuridicaDocumento18 páginasFilosofia Geral EjuridicaVirgilio NetoAinda não há avaliações
- O Princípio Da Dimensão Coletiva Das Relações de ConsumoDocumento51 páginasO Princípio Da Dimensão Coletiva Das Relações de ConsumoDenise CanovaAinda não há avaliações
- Muralha: os juízes do trabalho e a ideologia da destruiçãoNo EverandMuralha: os juízes do trabalho e a ideologia da destruiçãoAinda não há avaliações
- Fichamento Cap48Documento5 páginasFichamento Cap48Bruno DuarteAinda não há avaliações
- Weber e Marx Capitalismo ModernoDocumento5 páginasWeber e Marx Capitalismo ModernoLouise TavaresAinda não há avaliações
- Teoria Geral Do Direito e Marxismo - PachukanisDocumento5 páginasTeoria Geral Do Direito e Marxismo - PachukanisWallaceDiasAinda não há avaliações
- A Captura Da Subjetividade-1Documento12 páginasA Captura Da Subjetividade-1Ícaro RodriguesAinda não há avaliações
- FILHO, Eduardo - A Função Social Do Contrato, Criteiros e Aplicação PDFDocumento18 páginasFILHO, Eduardo - A Função Social Do Contrato, Criteiros e Aplicação PDFIsabella CastroAinda não há avaliações
- Alenilton Cardoso - Hermenêutica Constitucional SolidáriaDocumento8 páginasAlenilton Cardoso - Hermenêutica Constitucional SolidáriaMathews OviedoAinda não há avaliações
- Por Um Direito Do Trabalho - CleberDocumento16 páginasPor Um Direito Do Trabalho - ClebergustavodinizgeoAinda não há avaliações
- Filosofia Jurídica - Av2Documento3 páginasFilosofia Jurídica - Av2Pietra AraújoAinda não há avaliações
- D - DIREITO DO TRABALHO-ANTÓNIO VICENTE MARQUES - 432.pgDocumento431 páginasD - DIREITO DO TRABALHO-ANTÓNIO VICENTE MARQUES - 432.pgJoão Viegas Milier'sAinda não há avaliações
- RAMOS, 2007 - O Processo Histórico Do Trabalho em SaúdeDocumento3 páginasRAMOS, 2007 - O Processo Histórico Do Trabalho em SaúdeMFonseca123Ainda não há avaliações
- Resumo Do Livro Teoria Dos Contratos - Novos ParadigmasDocumento12 páginasResumo Do Livro Teoria Dos Contratos - Novos ParadigmasRafael DiasAinda não há avaliações
- Mais Valia - Sociologia ClassicaDocumento2 páginasMais Valia - Sociologia ClassicaDanielle Nascimento SantosAinda não há avaliações
- O Princípio Da Proteção em XequeDocumento16 páginasO Princípio Da Proteção em XequeFabio SousaAinda não há avaliações
- DCV0511 Direito Civil Aplicado I (Morsello) - Isac Costa (2017)Documento36 páginasDCV0511 Direito Civil Aplicado I (Morsello) - Isac Costa (2017)vs52gt9c5bAinda não há avaliações
- Direito Constitucional AdministrativoDocumento28 páginasDireito Constitucional AdministrativoO Projeto das VidasAinda não há avaliações
- Mais-Valia Absoluta e RelativaDocumento5 páginasMais-Valia Absoluta e RelativaPaulo FernandesAinda não há avaliações
- Art 5 Marx,+a+mercadoriaDocumento15 páginasArt 5 Marx,+a+mercadoriaEvelhyn FreitasAinda não há avaliações
- A Ética, o Direito e Os Poderes Do EmpregadorDocumento6 páginasA Ética, o Direito e Os Poderes Do EmpregadorLuciano Junior de PaulaAinda não há avaliações
- 20 Questões Práticas em ErgonomiaDocumento29 páginas20 Questões Práticas em ErgonomiaAnonymous ahwlIp7U0100% (2)
- Análise Coletiva Do TrabalhoDocumento14 páginasAnálise Coletiva Do TrabalhoAnonymous ahwlIp7U0Ainda não há avaliações
- 03 Planejamento Do Cartao PesquisadorDocumento4 páginas03 Planejamento Do Cartao PesquisadorWanderson SousaAinda não há avaliações
- Auditor ISO 9001 Módulo 2 - VoittoDocumento23 páginasAuditor ISO 9001 Módulo 2 - VoittoRobsonAinda não há avaliações
- Ex 2022-10-10Documento191 páginasEx 2022-10-10AquiasAinda não há avaliações
- CNC-OMBR-MAT-18-0122-EDBR - Conexão de Micro e Minigeração Distribuída Ao Sistema ElétricoDocumento42 páginasCNC-OMBR-MAT-18-0122-EDBR - Conexão de Micro e Minigeração Distribuída Ao Sistema ElétricoJaime_LinharesAinda não há avaliações
- Curso 142592 Aula 01 v1 PDFDocumento49 páginasCurso 142592 Aula 01 v1 PDFSarinny CamargosAinda não há avaliações
- Dicionário Temático Desenvolvimento e Questão SocialDocumento52 páginasDicionário Temático Desenvolvimento e Questão SocialMárcia Esteves De Calazans67% (3)
- Nixo Ficha de DND/D&D ProntaDocumento3 páginasNixo Ficha de DND/D&D ProntaUnrealisticMoonAinda não há avaliações
- Jack VieiraDocumento2 páginasJack VieiramidredAinda não há avaliações
- Revisaoglobal 8 AnoDocumento16 páginasRevisaoglobal 8 AnoKris EduardoAinda não há avaliações
- Subindo Portas de 10 Giga No F1ADocumento3 páginasSubindo Portas de 10 Giga No F1AjosimariapuAinda não há avaliações
- FISPQ MOBIL - Mobiltemp SHC 32Documento10 páginasFISPQ MOBIL - Mobiltemp SHC 32Henrique CáfaroAinda não há avaliações
- Maringa 09 2018 Prova 06 24 Prova Eng CivilDocumento8 páginasMaringa 09 2018 Prova 06 24 Prova Eng CivilRubens GuerraAinda não há avaliações
- Planilia de Risco OficinaDocumento3 páginasPlanilia de Risco OficinaAdony AmorimAinda não há avaliações
- Modelo de Relat Rio FinalDocumento9 páginasModelo de Relat Rio FinalFernando PimentaAinda não há avaliações
- Itamaracá-A Pedra Que CantaDocumento8 páginasItamaracá-A Pedra Que CantaChristopher SellarsAinda não há avaliações
- 68 e Os AndarilhosDocumento24 páginas68 e Os AndarilhosClaudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- Apostila - Análise Química Qualitativa e QuantitativaDocumento29 páginasApostila - Análise Química Qualitativa e QuantitativaLourisvan CostaAinda não há avaliações
- COE Formas de Tratamento-AutoestudoDocumento19 páginasCOE Formas de Tratamento-AutoestudoHelton sitoeAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Fundamentos de EconomiaDocumento4 páginasPlano de Ensino - Fundamentos de EconomiaHugoAinda não há avaliações
- Noções de Acústica e Psicoacústica - AlunosDocumento5 páginasNoções de Acústica e Psicoacústica - AlunosTaís LeãoAinda não há avaliações
- (PROVIA) Baixo Custo WabcoDocumento24 páginas(PROVIA) Baixo Custo WabcoJohn Davis Mantovani SandovalAinda não há avaliações
- Resumo - Manual de IntercambioDocumento29 páginasResumo - Manual de IntercambioWallace RodriguesAinda não há avaliações
- A Sustentabilidade em Ecovilas: Práticas e Definições Segundo o Marco Da Economia SolidáriaDocumento234 páginasA Sustentabilidade em Ecovilas: Práticas e Definições Segundo o Marco Da Economia SolidáriaMarllingtonWillAinda não há avaliações
- Estudo de Mapeamento Sistemático Sobre As Tendências e Desafios Do Cloud Gaming (Apresentação)Documento23 páginasEstudo de Mapeamento Sistemático Sobre As Tendências e Desafios Do Cloud Gaming (Apresentação)Vinicius Cardoso GarciaAinda não há avaliações
- Mapas Mentais Na Tecnologia Da 3734Documento33 páginasMapas Mentais Na Tecnologia Da 3734Gilson PereiraAinda não há avaliações
- Travis by Mia Sheridan Sheridan Mia 1 Part 2Documento206 páginasTravis by Mia Sheridan Sheridan Mia 1 Part 2Lexi LimaAinda não há avaliações
- Escola de Hackers Nivel 2B Redes II PDFDocumento185 páginasEscola de Hackers Nivel 2B Redes II PDFalddannenAinda não há avaliações