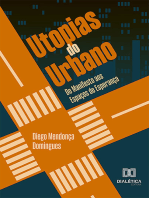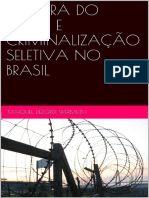Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
19219-Texto Do Artigo-79756-2-10-20180506 PDF
19219-Texto Do Artigo-79756-2-10-20180506 PDF
Enviado por
Elisabete BarbosaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
19219-Texto Do Artigo-79756-2-10-20180506 PDF
19219-Texto Do Artigo-79756-2-10-20180506 PDF
Enviado por
Elisabete BarbosaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A CIDADE , A LITERATURA E OS ESTUDOS
CULTURAIS : DO TEMA AO PROBLEMA
Renato Cordeiro Gomes*
-I-
Algumas observações empíricas podem servir como índices de
interesse que a cidade vem despertando no mundo inteiro, não só no
meio acadêmico, ou nas ações dos governos, ou de arquitetos e urbanistas
(como seria natural), mas também nas pessoas comuns, no habitante ou
usuário da própria cidade.
Em junho de 1996, realizou-se na Turquia, em Istambul, um
encontro patrocinado pela ONU, para discutir os problemas das grandes
cidades no mundo inteiro. “Habitat 2” foi a segunda reunião internacional
convocada com esse objetivo. Esse fórum de debates procurava
equacionar as questões que as megalópoles vêm criando para seus
habitantes. Os imensos conglomerados urbanos com o crescimento
populacional antes não imaginado apresentam condições de vida, em
geral, deprimentes: a poluição, os engarrafamentos de trânsito, a
precariedade dos transportes públicos, os problemas de saneamento
básico, de moradia (cresce o número de sem-tetos: pelos dados da ONU
há, nos países do Terceiro Mundo, 95 milhões de jovens e crianças
morando nas ruas), a mobilidade dos migrantes que continuam afluindo
em massa para os centros urbanos, ansiando por exercerem seu “direito
à cidade” (a expressão é de Henri Lefebvre). Processa-se, por outro lado,
no espaço concentrado das grandes cidades, o dramático contraste da
sociedade, de suas tensões e de seus conflitos: a extrema pobreza e a
extrema riqueza. Com o contingente de excluídos, crescem a cultura do
medo e os índices de violência. Essas foram algumas das questões da
pauta da Habitat 2, que não poderia esquecer o componente cultural, ao
* Professor Associado de Literatura Brasileira da PUC-Rio; Professor Adjunto aposentado da UERJ.
Renato Cordeiro Gomes
constatar o multiculturalismo das grandes cidades, que não são mais
homogêneas. A reunião de Istambul confirmou não estar mais a questão
da cidade circunscrita à esfera nacional, requerem soluções globalizadas,
num momento em que cerca de 80% do mundo, hoje, é urbano.
Outro evento, agora, no âmbito das artes, é outro índice forte do
privilégio dado à cidade. Refiro-me à belíssima exposição realizada no
Centro George Pompidou, em Paris, em 1994: La ville: art et architecture
en Europe – 1870-1993. Dividida em duas seções: “A cidade dos
artistas” e “A cidade dos arquitetos”, a mega-exposição, secundada
por outra menor que versava sobre os escritos de Walter Benjamim
sobre cidades, veio confirmar ser o destino da cidade o principal
empreendimento de nosso tempo. E a exposição pretendeu alimentar
esse grande debate do fim do século XX, obras de artistas que, de
1870 a nossos dias, testemunharam a cidade. O evento não só misturou
o fato social com o estético, mas também considerava inseparável a
história da cidade e a história da arte, sem esquecer o papel que os
artistas desempenharam na invenção de uma cultura moderna das
cidades, contribuindo para a construção do imaginário da modernidade
(cf. Jean Dethier: “Por un musée imaginaire”, 1994: 16). Interrogar o
pensamento sobre a cidade no século XX não é apenas fazer um
levantamento dos lugares; é antes querer alertar sobre sua atual
condição, para a qual não há mais uma doutrina coerente para garantir
a harmonia da vida da cidade. A teoria da cidade tornou-se impossível,
a cada instante ultrapassada pelo quantitativo. A cidade se dá em
espetáculo a seus habitantes, é o espetáculo da civilização em sua
história e sua atualidade; seu solo é o espelho que registra nossas
ações – afirma Alain Guiheux, um dos curadores da mostra (1994:
18-19). E exposição veio afinal mostrar que a visão totalizante da
cidade torna-se impossível, mas denota, antes, uma urgência, na medida
em que a cidade determina nosso cotidiano e dá forma aos nossos
quadros de vida; é nosso presente turbulento e nossos velhos medos.
Para enfrentar tais questões, a exposição utilizou todas as mídias e
convocou todas as disciplinas (François Barré, “Préface”, 1994:12).
Esses dois eventos juntam-se a fatos mais corriqueiros que
testemunham o aumento da bibliografia sobre as cidades, o fenômeno
urbano. As grandes livrarias americanas oferecem, hoje, uma seção de
“Urban Studies”, ao lado dos “Cultural Studies”, ou mesmo “Gay and
Lesbian Studies”, revelando uma área de estudos multidisciplinar centrada
na cidade. A notar ainda a quantidade de exposições (atualmente a sobre
os projetos de Le Corbusier para o Rio, bem como de mostras de cinema,
de filmes, de projetos que têm a cidade por objeto (ex. “Modernidades
Tardias no Brasil”, da UFMG, coordenado por Wander Mello Miranda,
cuja ênfase recai sobre o fenômeno urbano; ou “Paisagens urbanas”,
20 Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
A cidade, a literatura e os estudos culturais: do tema ao problema
coordenado por Nelson Brissac, em São Paulo), além da literatura que
não só no Brasil é cada vez mais urbana. Sem esquecer os estudos
históricos sobre as cidades, a nova geografia, os movimentos sociais
urbanos, certos projetos como o “Viva Rio”, além de manifestações musicais
como o rap, o funk, o pagode etc, fenômenos eminentemente urbanos
como foram, anteriormente, a bossa nova, o tropicalismo.
Essas meras constatações deixam, entretanto, uma pergunta: – por
que esse interesse pela cidade? Pergunta que, na semana passada, me
fazia uma jornalista da revista Veredas, do Centro Cultural Banco do Brasil,
que prepara uma matéria sobre a cidade e o flâneur (o porquê de voltar-
se a falar muito nesse personagem). Por esse viés, percebe-se que o tema
trazido à cena pela modernidade (modernidade e experiência urbana são
termos que se implicam mutuamente) tornou-se um problema, uma questão
prenhe de questões – diria Machado de Assis.
Algumas hipóteses para tal interesse vêm sendo levantadas por
estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento. Uns, como Canclini,
acreditam que as cidades voltam a pensar em si mesmas, devido à crise
dos grandes paradigmas ideológicos que leva os estudiosos a buscar
unidades de análise mais próximas, unidades que, como a cidade, são
dotadas de densidade histórica (Imaginários urbanos, p. 141, 148) – aspecto
que se atrela diretamente aos paradoxos da globalização, ou seja, a
“intensificação da interdependência transnacional e das interações globais,
que faz com que as relações sociais pareçam mais desterritorializadas”, e,
por outro lado, “o desabrochar de identidades regionais e locais alicerçadas
numa revitalização do direito às raízes” (Boaventura Santos: Pelas mãos
de Alice, 1996: 17-22). Em outras palavras, frente à globalização, dá-
se a afirmação do local identificado à cidade, a realidade mais próxima.
A desterritorialização gera, assim, fortes tendências para a reterritorialização
(a literatura revela claramente essa tensão), representadas por movimentos
sociais que afirmam o local, ou ainda por processos da comunicação de
massa, engendrando diferenças e formas locais de arraigamento (Canclini:
48). Nesse mesmo sentido, verifica-se que uma reestruturação
supranacional das políticas culturais necessita combinar-se com uma nova
visão das culturas étnicas e regionais, que não desapareceram no processo
de globalização (idem: 48).
Se, como acrescenta o antropólogo argentino, o espaço urbano é
o lugar privilegiado de intercâmbio material e simbólico do habitante
citadino, também se verifica aí uma distribuição desigual desse capital
simbólico, parte da agudização das contradições e desigualdades internas
das cidades.
Depois da crise dos anos 70 e 80, parece haver, em certas cidades,
a reversão da decadência, com a recuperação do papel das cidades. Dá-se
o que o italiano Aldo Bonini chamou de “renascimento das cidades”, em
Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
21
Renato Cordeiro Gomes
que ganha força a dimensão cultural. Esse fenômeno atrela-se ainda à
passagem da cidade à megacidade, da cultura urbana à multiculturalidade:
a coexistência de múltiplas culturas urbanas no espaço que chamamos
todavia urbano. Certamente, não se pergunta mais que é o específico
da cultura urbana, pois se há mais de uma cidade na cidade, há uma
complexidade multicultural, que antes não se considerava de maneira
forte, uma vez que a preocupação era a construção de uma unidade
nacional. Assim, a cidade – como sublinha Michel de Certeau (A
invenção do cotidiano) – a cidade é o teatro de uma guerra de relatos,
o que se pode entender tanto como a multiplicidade de vozes que
formam a cidade polifônica (Massimo Canevaci), quanto a ação dos
grandes relatos da TV e da publicidade que esmagam ou atomizam os
pequenos relatos de rua ou de bairro.
Essa multiculturalidade e essa guerra de relatos são coadjuvadas
pela própria geografia da cidade que sofreu modificações produzidas
mais pela dinâmica da comunicação e pelos circuitos financeiros que
pelas indústrias localizadas nos cinturões urbanos. Assim, mudam-se
os usos do espaço urbano ao passar das cidades centralizadas às
cidades multifocais, policêntricas, onde se desenvolvem novos centros.
Há necessidade, portanto, do habitante re-situar-se nesse cidade
disseminada, de que cada vez temos menos idéia onde começa, onde
termina, em que lugar estamos (além da cidade é ainda a cidade – cf.
Calvino). Tem-se, desta forma, baixa experiência do conjunto da cidade:
nos usos da cidade e nos imaginários, perdeu-se a experiência do
conjunto: a t o r e s t r a d i c i o n a i s p a r e c e m o c u p a r - s e d e p e q u e n o s
fragmentos (Canclini: 82).
Pela nova geografia urbana, a cidade não é mais o território
delimitado, percebido como próprio dessa cidade. Muda-se a própria
concepção de urbano (p. 86), que se atrela aos movimentos de
comunicação, à economia internacionalizada, palcos que se comunicam
entre si – o que leva a redesenhar-se o estudo das culturas urbanas, em
que se leva em conta não só a definição sociodemográfica e espacial da
cidade, mas a definição sociocomunicacional.
Outra hipótese para as preocupações contemporâneas que
privilegiam a cidade é, como um corolário do dito há pouco, a simbiose
entre cidade e cultura, cada vez mais flagrante nos estudos culturais, que
vêem o espaço da cidade como o texto cultural mais significativo para os
artistas e produtores de cultura hoje, e apontam para as inúmeras
possibilidades do imenso laboratório em que se transformou o espaço da
cidade entendida como esfera pública e como arena cultural.
Como ressalta Heloísa Buarque de Holanda, “hoje certamente se
fala mais em cidade do que de nação. Fala-se mais de cultura carioca,
paulista ou pernambucana do que de cultura nacional como até bem
22 Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
A cidade, a literatura e os estudos culturais: do tema ao problema
pouco tempo, sintoma que expressa uma certa descentralização da cena
cultural que passa agora a privilegiar a auto-afirmação de expressões
multiculturais. É o cenário da cidade, e não o da nação, que passa a ser,
como mostra Antonio Augusto Arantes, o espaço privilegiado para as
identificações culturais emergentes, para as articulações das diversas
representações sociais, ou, para usar um termo em alta, para a “etnificação
da cultura”. Um fenômeno fundamentalmente urbano. (Revista do
Patrimônio, n. 23, 1994: 18 – “Cidade ou cidades?: uma pergunta à
guisa de introdução).
Nesses estudos culturais que destacam a cidade, é fecundo levar
também em conta os imaginários urbanos coletivos que, junto às ficções,
desempenham relevante papel na formação das identidades. Como afirma
Canclini: “Este tipo de aproximação tem conseqüências para a construção
da cidadania cultural, porque esta cidadania não se organiza somente
sobre princípios políticos, segundo a participação “real” em estruturas
jurídicas ou sociais, mas também a partir de uma cultura formada nos
atos e interações cotidianos, e em projeção imaginária desses atos em
mapas mentais da vida urbana”. (1997: 96). A cidade pode também ser
encarada como uma comunidade imaginada, no sentido dado por Benedict
Anderson: é um artefato cultural, não um objeto cultural.
É por esse viés do imaginário que a literatura pode desempenhar
um papel significativo nesses estudos culturais em relação à cidade, se
quisermos ir além do essencialismo a-histórico da literariedade, se
quisermos ultrapassar o fechamento do texto em sua textualidade, quando
os estudos de literatura se conjugam com outras áreas do conhecimento,
num verdadeiro diálogo interdisciplinar. Para os estudos de literatura a
cidade de tema também passa a problema.
– II –
As relações entre literatura e experiência urbana tornam-se mais
contundentes e radicais na modernidade – como se pode depreender do
exposto na parte I deste trabalho – quando a cidade se apresenta como
um fenômeno novo dimensionado na metrópole que perde gradativamente
o seu métron. A desmedida do espaço afeta as relações com o humano.
Os condicionamentos sociais, políticos, econômicos e culturais
historicizam esse fenômeno urbano. Assim, sob o signo da mudança
identificado ao progresso e atrelado ao novo, alteram-se não só o perfil
e a ecologia urbanos, mas também o conjunto de experiências de seus
habitantes. Essa cidade da multidão, que tem a rua como traço forte de
sua cultura, passa a ser não só cenário, mas a grande personagem de
muitas narrativas, ou a presença encorpada em muitos poemas. Assim, é
Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
23
Renato Cordeiro Gomes
Paris para Victor Hugo, Balzac e Zola, ou para Baudelaire em seus poemas;
ou Londres para Dickens. No mesmo diapasão pode-se perguntar o que
significa Buenos Aires para Borges, ou Roberto Arlt, ou para Ricardo Piglia,
o contemporâneo herdeiro literário de ambos; ou Lisboa para Eça de
Queirós e Cesário Verde, ou para José Cardoso Pires; Belo Horizonte
para Nava, ou Drummond; o Rio de Janeiro para Machado de Assis, Lima
Barreto, João do Rio, Marques Rebelo, ou Rubem Fonseca.
Nesta perspectiva, indagar sobre as representações da cidade na
cena escrita construída pela literatura é, basicamente, ler textos que lêem
a cidade, considerando não só os aspectos físico-geográficos (a paisagem
urbana), os dados culturais mais específicos, os costumes, os tipos
humanos, mas também a cartografia simbólica, em que se cruzam o
imaginário, a história, a memória da cidade e a cidade da memória.
É, enfim, considerar a cidade como um discurso, verdadeiramente uma
linguagem, uma vez que fala a seus habitantes: falamos a nossa cidade,
onde nos encontramos, quando a habitamos, a percorremos, a olhamos,
como disse Roland Barthes (in “Semiologia e urbanismo”). A cidade escrita
é, então, resultado da leitura, construção do sujeito que a lê, enquanto
espaço físico e mito cultural, pensando-a como condensação simbólica e
material e cenário de mudança, em busca de significação. Escrever,
portanto, a cidade é também lê-la, mesmo que ela se mostre ilegível à
primeira vista; é engendrar uma forma para essa realidade sempre móvel.
Mapear seus sentidos múltiplos e suas múltiplas vozes e grafias é uma
operação poética que procura apreender a escrita da cidade e a cidade
como escrita, num jogo aberto à complexidade.
“De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete
maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas”, afirma Marco
Polo a Kublai Khan, em As cidades invisíveis, de 1972, espécie de livro-
suma sobre cidade, em que Italo Calvino, através da ficção, nos propõe
percursos múltiplos, em busca de respostas para as perguntas que a
realidade urbana vem instigando, desde o início da modernidade.
A situação dialogal entre os dois interlocutores gera grafias urbanas que
constituem o relato sensível dos modos de ver a cidade, produzindo uma
cartografia simbólica, captando a cidade enquanto “símbolo complexo
capaz de exprimir a tensão entre racionalidade geométrica e emaranhado
de existências humanas”, como ressalta Italo Calvino, no ensaio “Exatidão”,
uma das Seis propostas para o próximo milênio.
Neste romance, Marco Polo descreve a Kublai Khan as cidades do
império que o soberano desconhecia. O aventureiro veneziano viaja, na
verdade, no império da linguagem e constrói cidades imaginárias, todas
com nome de mulher. Traz uma forma vazia que é preenchida por formas
singulares e sensíveis, descritas com grande abundância de detalhes.
“Confirma-se a hipótese de que cada pessoa tenha em mente uma cidade
24 Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
A cidade, a literatura e os estudos culturais: do tema ao problema
feita exclusivamente de diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma,
preenchida pelas cidades particulares”.
Embora o escritor italiano reedite o narrador-viajante, arquétipo
do contador de histórias, aqui não importa a viagem, a aventura, mas
apenas as cidades. Este procedimento equivale a “viajar” pelo território
da literatura, por itinerários já esgotados, em que todas as histórias já
foram contadas até o limite da saturação e só é possível inventariar,
revisitar, reciclar. A tradição é estocagem, espécie de arquivo, que possibilita
uma arte combinatória, num jogo de deslocamentos, inversões,
substituições infinitas.
Saber ver é homólogo a saber narrar. Esta é a sabedoria que Marco
Polo demonstra ao grande Khan. A cidade é, na verdade, uma máquina de
narrar: aí residem os possíveis da narrativa. A narração do veneziano
consiste em percursos numa rede. Rede que é metáfora com a qual Barthes
define o texto (que se relaciona a tecido, pela etimologia comum), cuja
leitura é travessia, estabelecimento de conexões. Rede, ou retículo, que é
como Marco Polo define a cidade. O narrador procede, então, a uma
leitura-navegação por essas redes, engendrando outras cidades. Em cada
noção e cada ponto do itinerário, pode-se estabelecer, através de
deslocamentos, uma relação de afinidades ou de contrastes que leve a
estabelecer sentidos sempre móveis. O narrador reativa o estoque de
imagens urbanas, através do zapping (como se estivesse operando um
controle remoto, com o qual é possível selecionar sucessivos fragmentos
de diversos canais de televisão), e produz, se não for forçada a expressão,
cidades digitais. Digital, vinculado a dígito, a número, mas também ao
tátil, aos dedos. Fenômeno que se pode perceber claramente no “índice”
de As cidades invisíveis, que revela a ordem numérica da estrutura do
livro e indica “a predileção de Calvino pelas formas geométricas, pelas
simetrias, pelas séries, pela análise combinatória, pelas proporções
numéricas”, segundo confessa no ensaio “Exatidão”. Assim, continua ele,
“consegui construir uma estrutura facetada em que cada texto curto está
próximo dos outros numa sucessão que não implica uma
conseqüencialidade ou uma hierarquia, mas uma rede dentro da qual se
podem traçar múltiplos percursos e extrair conclusões ramificadas e
plurais”. As cidades, assim construídas pela fala de Marco Polo, implicam
uma cartografia imaginária, sobrepondo os tempos e os espaços numa
rede em que se busca uma infinidade de percursos, uma atividade de
conexões, acessando informações e cenas, imagens e cenários, que vão
desde aquelas sugeridas pelo Oriente das Mil e uma noites até as
relacionadas às megalópoles contemporâneas, daquelas cidades que só
mudam de nome no aeroporto, como diz Marco Polo: partir de Trude é
chegar “a outra Trude, igual ponto por ponto; o mundo é recoberto por uma
única Trude que não tem começo nem fim, só muda de nome no aeroporto”.
Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
25
Renato Cordeiro Gomes
O discurso que dá a ver as cidades invisíveis não duplica essas
cidades como num espelho: nunca se deve confundir uma cidade com o
discurso que a descreve, contudo existe uma relação entre eles, uma vez
que “os olhos não vêem coisas, mas figuras de coisas que significam
outras coisas”. Se na cidade tudo é símbolo, o olhar percorre as ruas
como se fossem páginas escritas. O poder gerativo da linguagem impede,
porém, que a cidade seja cristalizada em seus emblemas: há sempre margem
para uma combinatória outra, a fim de que outra cidade imaginária possa
existir, grafia urbana produzida pela atividade de leitura. Ler essas grafias
urbanas, portanto, é detectar e decifrar o fio condutor de seu discurso, o
seu código interno.
Esse processo torna-se mais complexo na modernidade que tem
na cidade o lugar privilegiado. Modernidade e experiência urbana
formam um binômio de dupla implicação. A cidade, assim, constitui
uma questão fundamental para os modernos; tornou-se uma paisagem
inevitável, pólo de atração e de repúdio, paradoxalmente uma utopia
e um inferno. Foi traço forte na pauta das vanguardas históricas do
início do século XX, e continua, neste final de século, a ser um
problema, objeto do debate pós-moderno, num momento em que a
era das cidades ideais caiu por terra.
A modernidade elegeu o futuro como tempo privilegiado e
identificou-se com a mudança, assimilando-a ao progresso. Nesta ótica,
a cidade – transitoriedade permanente (para usar o paradoxo proposto
por Carl Schorske) – foi pensada como lugar e objeto dessa mudança e
seria resultado de um ideal de perfeição e do desenvolvimento
tecnológico. O processo de modernização, entretanto, gerou megalópolis
problemáticas, em crise, atravessadas pela violência, pela desestabilização
de valores, pela lógica da exclusão, como se percebe nas narrativas de
Rubem Fonseca, ou no livro-reportagem Cidade partida, de Zuenir
Ventura. “Quem mora na cidade não tem garantia de nada” – assegura o
escritor americano Paul Auster, no romance No país das últimas coisas.
Esse processo também torna a cidade uma imensa arena de discursos
gastos e dispersos, lugar da inscrição e rasura dos signos que desafia o
olhar do habitante, que busca ler a ilegível linguagem da cidade
dimensionada na metrópole que perde o seu métron: a forma das cidades
sem forma, em que a desmedida do espaço afeta suas relações com o
humano. A cidade, assim, vai-se qualificando como a Babel que prospera
com a perda das conexões e a falta de referência aos valores do passado.
É palco para a atrofia progressiva da experiência, ligada à tradição, à
memória válida para toda a comunidade, substituída pela vivência do
choque, ligada à esfera do individual, como poetiza Baudelaire ( As flores
do mal), o primeiro poeta que fez da cidade o centro de sua poesia
moderna, e como estuda Walter Benjamim.
26 Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
A cidade, a literatura e os estudos culturais: do tema ao problema
Esses aspectos podem ser observados na literatura modernista
brasileira, a exemplo de poemas de Mário de Andrade, de Carlos
Drummond de Andrade, ou de Vinícius de Moraes, ou Manuel Bandeira,
ou ainda em narrativas de Lima Barreto, ou João do Rio, que cenarizam
em suas grafias urbanas as transformações do Rio de Janeiro do início do
século, testemunhando e documentando o processo de modernização
excludente instaurado no Brasil pelos donos da República. Essas narrativas,
entretanto, a exemplo dos textos de Marques Rebelo (anos 30), voltam-
se de preferência para os aspectos mais característicos, mais provincianos,
presos a essências localistas, tendo por base a territorialização e o
documental, dentro da tradição nacionalista.
A questão da representação da cidade na literatura brasileira
contemporânea se complexifica, quando a narrativa que tematiza o mundo
urbano ganha dominância incontestável, dramatizando a “cidade global”,
apresentando cenários urbanos largamente deslocalizados, onde tudo é
implicitamente urbano, onde não é mais praticamente possível uma geografia
à maneira de Lima Barreto, ou dos cronistas dos anos 50. Deste modo, se,
por um lado, em meio à globalização, verifica-se, nos relatos brasileiros
dos anos 80 e 90, uma volta aos aspectos mais característicos da cidade,
recuperados pela memória, na demanda, às vezes nostálgica, de uma
legibilidade que se atrela às marcas identitárias (a exemplo do conto “A
arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, de Rubem Fonseca), por outro
lado, as narrativas contemporâneas constroem a cidade imaginária liberta
de tais marcas. A vertiginosa multiplicidade de representações contextualiza-
se na cidade global, levando a verificar grande liberdade em relação ao
localismo, ao espaço de origem. Nesta linha, parece que a literatura brasileira
também procura seguir um caminho que vai da “grande cidade” ao “domínio
urbano do não-lugar” (William Sharp & Leonard Wallock: Visions of modern
city, 1987), domínio este que são os espaços – não-lugares (Marc Augé,
1992) – da cidade contemporânea dramatizados nos textos, quando revelam
ser a cidade qualquer e nenhum, ao mesmo tempo: “todas as cidades, a
cidade”, como já dissera eu no título do livro de 1994.
Esta perspectiva abre um fecundo veio para se estudar como nossas
narrativas da atualidade tematizam o descompromisso com o local e o
desaparecimento mesmo da cidade: “a metrópole é apenas uma paisagem
fantasmática” – assegura Paul Virilio (O espaço crítico, 1993).
A literatura brasileira dos anos 80 e 90, ao focalizar de dentro a
cidade, toma imensa liberdade quanto ao localismo e mostram apenas
fragmentos, imediações, lugares fixados por uma percepção míope do
todo, e de longe ela parece uma massa confusa, em que é difícil aplicar
os modelos fabricados pelas teorias da ordem urbana, como podemos
perceber a partir das formulações de Nestor García Canclini, em
Consumidores e cidadãos (1996).
Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
27
Renato Cordeiro Gomes
Esta cidade globalizada com suas imagens saqueadas de todas as
partes indica o não-compromisso com o local. Se este ainda procurava
marcar a identidade nacional através da presença encorpada nos textos
dos aspectos colhidos da realidade observada, até para marcar a oposição
em relação ao mundo rural, regional, o processo de modernização
cosmopolita que gerou a globalização, faz a grande cidade (mais do que
nunca “cosmópolis”) passar a exercer um papel estratégico novo, que
conjuga dispersão espacial e integração global, pondo em xeque o papel
da cidade-eixo como identidade do Estado-Nação. Percebe-se, hoje, que
a cidade para ser cenário da narrativa não necessita de presença encorpada.
Sua ausência deixa, entretanto, todas as suas marcas: a violência, a solidão,
a ausência de valores morais, a exacerbação do sexo, nenhum traço de
humanismo, a perda da philia, da cidade compartilhada; enfim, são
corroídos os traços que poderiam indicar uma identidade forte, traços
que se tornam débeis, rarefeitos. E, se essa cidade é toda e qualquer, não
há mais necessidade da descrição de um cenário que localize identidades.
Emblemático, neste sentido, é o conto sintomaticamente intitulado
“Cenários”, de Sérgio Sant’A nna (in O concerto de João Gilberto no Rio
de Janeiro, 1982), em que um escritor vai tentando encontrar o cenário
adequado e característico para a narrativa que está escrevendo. Vai
testando, c om sucessivas e minuciosas descrições, cenários urbanos para
aí localizar o argumento do texto em processo de elaboração. Cada
fragmento do texto, em que constrói o cenário específico, indica,
sucessivamente, em seu final, a expressão: “Não, não é bem isso”.
A última hipótese revela o processo metanarrativo e registra: ”E sim, talvez,
finalmente, um outro homem sozinho em seu apartamento e que procura
escrever nesta noite um texto, buscando palavras para cenários talvez
por palavras indizíveis, mas como se sua tarefa fosse esta, buscar o
impossível, mostrar uma realidade que escapa de nossas mãos como
sapo e sempre se coloca adiante” (p. 22). Num quarto vazio de uma
cidade qualquer não nomeada, busca o escritor deceptivamente dar forma
a um cenário, quando se lembra de um quadro de Edward Hope, visto
há muito tempo em Chicago: supunha ter encontrado o que procurava.
Mas conclui, quando não consegue recuperar o colorido do original:
“(...) este tom que deverá existir no original e que é precisamente o que
este escritor busca para si e que se encontra mais além, talvez porque
não caiba em palavras e sim nas obras nos pintores raros que conseguiram
captar o tal momento, o tal cenário, a tal cor, que é aquilo que estamos
sempre desejando para as palavras, escrevendo, para logo depois saber
que não, não é bem isso” (p. 22).
Cenários urbanos desrealizados e rarefeitos desse tipo que apontam
para a desconstrução do sentido de localismo, marcam um número
expressivo de narrativas da atualidade, que sinalizam a reação a qualquer
28 Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
A cidade, a literatura e os estudos culturais: do tema ao problema
perspectiva de se estabelecer uma identidade una e inquestionável, a
partir das cidades, e abrem mão de elaborar alegorias nacionais, quando
suprimem os vestígios do indivíduo nas megalópolis contemporâneas,
quando escrevem sobre homens que vivem empilhados nas cidades, como
declara o personagem-escritor entrevistado no conto “Intestino grosso”,
de Rubem Fonseca (1972), para quem não é mais possível buscar
identidades nacionais, nem tampouco metafísica através da literatura.
Afirma ele, quando repórter que o entrevista pergunta se existe uma
literatura latino-americana: “Não me faça rir. Não existe nem mesmo uma
literatura brasileira, com semelhanças de estrutura, estilo, caracterização,
ou lá o que seja. Existem pessoas escrevendo em português, o que já é
muito e tudo. Eu nada tenho a ver com Guimarães Rosa, estou escrevendo
sobre pessoas que vivem empilhadas na cidade enquanto os tecnocratas
armam o arame farpado”. Frente à problemática do mundo contemporâneo,
precipuamente urbano, para esse escritor: “Não dá mais para Diadorim”,
referindo-se ao famoso personagem de Grande sertão: veredas, de
Guimarães Rosa.
Olhando da perspectiva da cidade grande em crise, de uma era
pós-utópica, pode-se verificar como essas narrativas são respostas textuais
à problemática urbana contemporânea e como se articulam às convenções
retóricas das formas literárias. Essas respostas constroem e ativam as
imagens da cidade, que são cultural e historicamente determinadas. Tais
questões enfocam um problema básico: “o que é escrever/ler a cidade
brasileira contemporânea”, que leva a um corolário: “com que linguagem?”.
Considerando que a cidade é o lugar em que o fato e a imaginação
teriam de se fundir, aceitando, por outro lado, o fragmentário, o
descontínuo, e contemplando as diferenças, os discursos contemporâneos
cenarizam e grafam a cidade, com sua polifonia, sua mistura de estilos,
sua multiplicidade de signos, na busca de decifrar o urbano que se situa
no limite extremo e poroso entre realidade e ficção. A cidade, mais do
que nunca, continua sendo uma paisagem inevitável. Estar nela é buscar
respostas para nossas perguntas, mesmo que nos encantemos com suas
maravilhas, mesmo que vivamos em cidades ameaçadoras e não esperemos
mais a cidade perfeita, numa terra sem males prometida pelo progresso.
Se a cidade infernal está lá no fundo e nos suga num vórtice cada vez
mais estreito, diz Italo Calvino pela boca de Marco Polo, uma saída é
perceber quem e o quê não é inferno no meio do inferno.
Nessa guerra de relatos cuja arena cultural é a cidade, de que vem
se ocupando os estudos culturais, a literatura, como espero ter
comprovado, pode desempenhar um papel de relevância, se não quisermos
perder a hora presente. Como disse Barthes, em 1967, numa conferência
proferida no Instituto de História e Arquitetura da Universidade de
Nápoles: para decifrar a cidade, “o mais importante não é tanto multiplicar
Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
29
Renato Cordeiro Gomes
os inquéritos ou os estudos funcionais da cidade mas multiplicar as leituras
da cidade, de que, infelizmente, até ao presente, só os escritores nos
deram alguns exemplos” (“Semiologia e urbanismo”). Passados 31 anos
dessa fala, verifica-se que a literatura contemporânea (a brasileira é um
exemplo) se tornou eminentemente urbana, e juntamente com outros
discursos da cultura, vem, felizmente, oferecendo leituras múltiplas e
diversificadas da cidade. De tema ela virou problema que vem instigando
respostas que põem lenha na fogueira, ou sites na Internet, nesta guerra
de relatos urbanos.
30 Ipotesi: revista de estudos literários, Juiz de Fora, v. 3, n. 2 - p. 19 a 30
Você também pode gostar
- O Moderno em Debate - GORELIKDocumento6 páginasO Moderno em Debate - GORELIKJulia ZucolotoAinda não há avaliações
- Cidade e História - José DAssunção BarrosDocumento125 páginasCidade e História - José DAssunção Barrosdejalmafr100% (2)
- IS - Deriva, Psicogeografia e Urbanismo Unitário PDFDocumento111 páginasIS - Deriva, Psicogeografia e Urbanismo Unitário PDFDaviGalhardo100% (1)
- Orfeu Extático Na MetrópoleDocumento11 páginasOrfeu Extático Na MetrópoleSilvio AzevedoAinda não há avaliações
- CULTURAS HÍBRIDAS, PODERES OBLÍQUOS. CANCLINI, Nestor Garcia. 1998 PDFDocumento68 páginasCULTURAS HÍBRIDAS, PODERES OBLÍQUOS. CANCLINI, Nestor Garcia. 1998 PDFjoelsonmuzenza100% (1)
- Bosi Alfredo Dialetica Da Colonização PDFDocumento206 páginasBosi Alfredo Dialetica Da Colonização PDFIsadora Matos100% (1)
- LYOTARD, Jean-François - A Condição Pós-ModernaDocumento78 páginasLYOTARD, Jean-François - A Condição Pós-ModernaCleber Araújo Cabral100% (2)
- Aula 1 Paradigmas, Historiografia Crítica e Direito ModernoDocumento3 páginasAula 1 Paradigmas, Historiografia Crítica e Direito ModernoThiago Ribeiro FerrariAinda não há avaliações
- Cidade e CulturaDocumento4 páginasCidade e CulturaBeto CavalcanteAinda não há avaliações
- 2 - Imaginando A Democracidade - Carlos FortunaDocumento10 páginas2 - Imaginando A Democracidade - Carlos FortunaJulia O'DonnellAinda não há avaliações
- Modernidade e Mescla Cultural - Beatriz SarloDocumento6 páginasModernidade e Mescla Cultural - Beatriz SarloMoiiicaAinda não há avaliações
- Variações Sobre o Urbanismo Pós-ModernoDocumento12 páginasVariações Sobre o Urbanismo Pós-ModernoAdriano SoaresAinda não há avaliações
- Choay 1999 PDFDocumento24 páginasChoay 1999 PDFLeandro TeixeiraAinda não há avaliações
- 3110-Texto Do Artigo-7263-1-10-20080920Documento14 páginas3110-Texto Do Artigo-7263-1-10-20080920Carlos Roberto JúniorAinda não há avaliações
- 103-Manuscrito de Livro-195-3-10-20210710Documento185 páginas103-Manuscrito de Livro-195-3-10-20210710Artigos do CursoAinda não há avaliações
- Resenha Apologia A DerivaDocumento4 páginasResenha Apologia A DerivaAlejandra BruschiAinda não há avaliações
- Cidade e UrbanidadeDocumento9 páginasCidade e UrbanidadeBinô ZwetschAinda não há avaliações
- A Cidade Como Objeto de Estudo - Diferentes Olhares Sobre o UrbanoDocumento4 páginasA Cidade Como Objeto de Estudo - Diferentes Olhares Sobre o UrbanoHebert LimaAinda não há avaliações
- Reinventando Relações - Cultura e História Nos Dilemas Contemporâneos Da Arquitetura e Do UrbanismoDocumento12 páginasReinventando Relações - Cultura e História Nos Dilemas Contemporâneos Da Arquitetura e Do UrbanismocamilacfAinda não há avaliações
- Deriva PDFDocumento111 páginasDeriva PDFEduardo Medeiros100% (2)
- Regina Silveira e Os Anos 1970: A Encruzilhada Da Cultura de Massa e Do Meio Urbano No BrasilDocumento18 páginasRegina Silveira e Os Anos 1970: A Encruzilhada Da Cultura de Massa e Do Meio Urbano No BrasilTatiana FerrazAinda não há avaliações
- Paola Errancias UrbanasDocumento3 páginasPaola Errancias UrbanasNerize PortelaAinda não há avaliações
- A Concepção de Cidade em Diferentes Matrizes Teóricas Das Ciências SociaisDocumento10 páginasA Concepção de Cidade em Diferentes Matrizes Teóricas Das Ciências SociaisLaura BühlAinda não há avaliações
- HelioDocumento27 páginasHelioju schi0% (1)
- Conceitos de Projeto UrbanoDocumento20 páginasConceitos de Projeto UrbanoNeto CorreaAinda não há avaliações
- A Cidade e A Arte - Um Espaço de Manifestação - Manuela Ferreira - Annie Kopanakis PDFDocumento10 páginasA Cidade e A Arte - Um Espaço de Manifestação - Manuela Ferreira - Annie Kopanakis PDFBianca FasanoAinda não há avaliações
- 2005 - BERENSTEIN - Errancias Urbanas - A Arte de Andar Pela CidadeDocumento10 páginas2005 - BERENSTEIN - Errancias Urbanas - A Arte de Andar Pela CidadeVinicius SoaresAinda não há avaliações
- Fichamento Arq. 03Documento9 páginasFichamento Arq. 03gabriellyalcantara2413Ainda não há avaliações
- Paola Berenstein Jacques - ErrânciaDocumento10 páginasPaola Berenstein Jacques - ErrânciaC.FlaksmanAinda não há avaliações
- Cidade Cultura e Global I ZaoDocumento264 páginasCidade Cultura e Global I ZaoArquitetandossa100% (1)
- Verbete - Jornalismo de Cidades - Amanda - Texto para A Editoria de CidadesDocumento4 páginasVerbete - Jornalismo de Cidades - Amanda - Texto para A Editoria de CidadesWellington PereiraAinda não há avaliações
- Notas de Leitura - A Cidade Do Pensamento ÚnicoDocumento4 páginasNotas de Leitura - A Cidade Do Pensamento ÚnicoAmanda SalernoAinda não há avaliações
- BORIN, Marissa. Cidade e ModernidadeDocumento4 páginasBORIN, Marissa. Cidade e ModernidaderavereisAinda não há avaliações
- Cidade - Magnani - A Rua e A Evolução Da SociabilidadeDocumento6 páginasCidade - Magnani - A Rua e A Evolução Da SociabilidadeAmanda NogueiraAinda não há avaliações
- Cidades Rebeldes ResenhaDocumento6 páginasCidades Rebeldes ResenhaMayck Mattioli LimaAinda não há avaliações
- Cidade Cultura e Global I ZaoDocumento264 páginasCidade Cultura e Global I ZaoPaula GeorgiaAinda não há avaliações
- Rem Koolhaas Publica Generi..Documento7 páginasRem Koolhaas Publica Generi..vandermasterAinda não há avaliações
- 9160-Article Text-25978-1-10-20160502Documento11 páginas9160-Article Text-25978-1-10-20160502Jose Octavio Llopis HernandezAinda não há avaliações
- Cidade e Cultura: Esfera Pública e Transformação UrbanaDocumento3 páginasCidade e Cultura: Esfera Pública e Transformação UrbanaPaula Georgia0% (1)
- Contemporaneidade Urbana e Violencia EndDocumento16 páginasContemporaneidade Urbana e Violencia EndLuca FazziniAinda não há avaliações
- O Drama Barroco Carioca Nas Enchentes HiDocumento21 páginasO Drama Barroco Carioca Nas Enchentes HiAndrea Casa Nova MaiaAinda não há avaliações
- Contemporanea n07 CompletaDocumento101 páginasContemporanea n07 CompletahagagalvaoAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura - Gorelik (ESP)Documento3 páginasFicha de Leitura - Gorelik (ESP)liarocha08Ainda não há avaliações
- A Maravilhosa Cidade Espetáculo No Palco Do Jornalismo Belle ÉpoqueDocumento14 páginasA Maravilhosa Cidade Espetáculo No Palco Do Jornalismo Belle ÉpoqueMarta SchererAinda não há avaliações
- Utopias Urbanas e As Vias de Emancipação social-VIENANPARQ-SESSÃO TEMÁTICADocumento17 páginasUtopias Urbanas e As Vias de Emancipação social-VIENANPARQ-SESSÃO TEMÁTICAtatifranciAinda não há avaliações
- Sociologia UrbanaDocumento29 páginasSociologia UrbanaVibe OlisAinda não há avaliações
- Utopias do Urbano: do manifesto aos espaços de esperançaNo EverandUtopias do Urbano: do manifesto aos espaços de esperançaAinda não há avaliações
- 04 - 1998 - Arantes - A Ideologia Do Lugar Público BXDocumento61 páginas04 - 1998 - Arantes - A Ideologia Do Lugar Público BXdrizer160891Ainda não há avaliações
- Regina Silveira e Os Anos 1970: A Encruzilhada Da Cultura de Massa e Do Meio Urbano No BrasilDocumento18 páginasRegina Silveira e Os Anos 1970: A Encruzilhada Da Cultura de Massa e Do Meio Urbano No BrasilFortunio FortuniAinda não há avaliações
- Jane JacobsDocumento8 páginasJane JacobsilkesamarAinda não há avaliações
- Cidades Visíveis, Cidades Sensíveis, Cidades ImagináriasDocumento14 páginasCidades Visíveis, Cidades Sensíveis, Cidades ImagináriasJulia Silva GonçalvesAinda não há avaliações
- Resenha Crítica de Moderna - Alanis OliveiraDocumento3 páginasResenha Crítica de Moderna - Alanis OliveiraAlanis Dos Santos OliveiraAinda não há avaliações
- As Teorias Urbanas E O Planejamento Urbano No Brasil: Related PapersDocumento28 páginasAs Teorias Urbanas E O Planejamento Urbano No Brasil: Related PapersLUCAS ROLIMAinda não há avaliações
- Choay Sobre Antropologia Do EspaçoDocumento4 páginasChoay Sobre Antropologia Do EspaçohannibalcostaAinda não há avaliações
- Pallamim - Arte, Cultura e Cidade. Aspectos Estético-Políticos ContemporâneosDocumento195 páginasPallamim - Arte, Cultura e Cidade. Aspectos Estético-Políticos ContemporâneospaollaclayrAinda não há avaliações
- AULA 01 Urbanismo CompletaDocumento38 páginasAULA 01 Urbanismo CompletaAdryelle AmorimAinda não há avaliações
- O Fantasma da Utopia: Arquitetura e Pós-Modernismo, Outra VezNo EverandO Fantasma da Utopia: Arquitetura e Pós-Modernismo, Outra VezAinda não há avaliações
- A Concepção de Cidade em Diferentes Matrizes Teóricas Das Ciências SociaisDocumento10 páginasA Concepção de Cidade em Diferentes Matrizes Teóricas Das Ciências SociaisplataomacAinda não há avaliações
- Introdução - O Cinema e A Invenção Da Vida Moderna (Leo Charney e Vanessa R. Schwartz) 1Documento7 páginasIntrodução - O Cinema e A Invenção Da Vida Moderna (Leo Charney e Vanessa R. Schwartz) 1Beatriz BeraldoAinda não há avaliações
- A Antropologia Situacional de Michel AgierDocumento10 páginasA Antropologia Situacional de Michel AgierLucasTiboAinda não há avaliações
- Ocupações Artísticas Na Área Central de São Paulo: Identidade e Resistência em Meio A Pandemia Do COVID-19.12Documento17 páginasOcupações Artísticas Na Área Central de São Paulo: Identidade e Resistência em Meio A Pandemia Do COVID-19.12Andréa AfonsoAinda não há avaliações
- Antrop. Urban, Unidade 3.Documento23 páginasAntrop. Urban, Unidade 3.Ozaias RodriguesAinda não há avaliações
- Entre o(s) passado(s) e o(s) futuro(s) da cidade: Um ensaio de história urbana no brasil meridionalNo EverandEntre o(s) passado(s) e o(s) futuro(s) da cidade: Um ensaio de história urbana no brasil meridionalAinda não há avaliações
- Aula Sobre Os LusíadasDocumento2 páginasAula Sobre Os LusíadasRodrigoAinda não há avaliações
- Herança ClassicaDocumento98 páginasHerança ClassicaRodrigoAinda não há avaliações
- Oliveira Martins - Portugal Contemporaneo IIDocumento353 páginasOliveira Martins - Portugal Contemporaneo IIRodrigoAinda não há avaliações
- John Wesley Um Homem Com ZeloDocumento12 páginasJohn Wesley Um Homem Com ZeloCristian Rafael100% (1)
- As Tríades Do Portunhol Selvagem de Douglas Diegues Entre Textos e Sujeitos Uma Lingua Poeticamente CalculadaDocumento215 páginasAs Tríades Do Portunhol Selvagem de Douglas Diegues Entre Textos e Sujeitos Uma Lingua Poeticamente CalculadaAdilson JardimAinda não há avaliações
- Angela Cristina Borges Umbanda Quimbanda e Candomble Norte de MinasDocumento304 páginasAngela Cristina Borges Umbanda Quimbanda e Candomble Norte de MinassergioAinda não há avaliações
- O Ciúme Nas Relações Amorosas ContemporâneasDocumento146 páginasO Ciúme Nas Relações Amorosas ContemporâneasEmanuelle MinellaAinda não há avaliações
- Estudos Tomistas para o Séc. XxiDocumento160 páginasEstudos Tomistas para o Séc. XxiLucas Daniel Tomáz de AquinoAinda não há avaliações
- Eurocentrismo e o Projeto de Modernização Do BrasilDocumento279 páginasEurocentrismo e o Projeto de Modernização Do BrasilFábio Pohhi KrahôAinda não há avaliações
- Schwarz - Fim de SéculoDocumento5 páginasSchwarz - Fim de SéculoLuiza FriedrichAinda não há avaliações
- A Gramática Social Da Desigualdade Brasileira - Jesse SouzaDocumento19 páginasA Gramática Social Da Desigualdade Brasileira - Jesse SouzamateustgAinda não há avaliações
- Vanguardas EuropeiasDocumento3 páginasVanguardas EuropeiasVinibibica100% (1)
- A Crítica Da Modernidade - Reflexões Giddens, Wallerstein e OutrosDocumento7 páginasA Crítica Da Modernidade - Reflexões Giddens, Wallerstein e OutrosEmanuel MenimAinda não há avaliações
- Gianni Vattimo. O Fim Da ModernidadeDocumento10 páginasGianni Vattimo. O Fim Da ModernidadeMiguel Mutheli0% (1)
- Diferentes Concepçoes de InfÂncia e AdolescenciaDocumento11 páginasDiferentes Concepçoes de InfÂncia e AdolescenciaElocostacAinda não há avaliações
- Contextualização Histórica Da Modernidade ArtísticaDocumento67 páginasContextualização Histórica Da Modernidade ArtísticaluziagcredAinda não há avaliações
- 12857-Texto Do Artigo-39944-1-10-20200627Documento12 páginas12857-Texto Do Artigo-39944-1-10-20200627Jade SilveiraAinda não há avaliações
- KELLNER, DOUGLAS. Lendo Imagens Criticamente - em Direçao A Uma Pedagogia Pos ModernaDocumento52 páginasKELLNER, DOUGLAS. Lendo Imagens Criticamente - em Direçao A Uma Pedagogia Pos ModernaThiago Cardassi Sanches80% (5)
- Art 1+-+vol11+n1+jan - Jun +1996Documento33 páginasArt 1+-+vol11+n1+jan - Jun +1996Ana Clara VianaAinda não há avaliações
- 2008 - Imagens Urbanas - Os Diversos Olhares Na Formação Do Imaginário Urbano - 2 Ed.-1Documento298 páginas2008 - Imagens Urbanas - Os Diversos Olhares Na Formação Do Imaginário Urbano - 2 Ed.-1karine AlmeidaAinda não há avaliações
- Nacionalizar A África, Culturalizar o Ocidente e Reformular As Humanidades Na ÁfricaDocumento30 páginasNacionalizar A África, Culturalizar o Ocidente e Reformular As Humanidades Na ÁfricaSebáh-1959Ainda não há avaliações
- Autobiografia PossivelDocumento20 páginasAutobiografia PossivelAmanda CândidoAinda não há avaliações
- O Tempo, A Ficção e A MorteDocumento261 páginasO Tempo, A Ficção e A MorteEdiglê MelloAinda não há avaliações
- Nietzsche Turgueniev Niilismo PDFDocumento11 páginasNietzsche Turgueniev Niilismo PDFDeividy CorrêaAinda não há avaliações
- Abecedário Da Interculturalidade Vera CandauDocumento11 páginasAbecedário Da Interculturalidade Vera CandauGABRIELA FLOR VISNADI E SILVA100% (1)
- A Formação Da Sociologia No Mundo Moderno0001Documento13 páginasA Formação Da Sociologia No Mundo Moderno0001Gabriella ChagasAinda não há avaliações
- Casa SrchoderDocumento28 páginasCasa SrchoderAna Paula GurgelAinda não há avaliações
- Livro SDD Versão FinalDocumento395 páginasLivro SDD Versão FinalVirginia SternAinda não há avaliações
- Cultura Do Medo e Criminalizacao Seletiva No Brasil - Wermuth, Maiquel DezordiDocumento91 páginasCultura Do Medo e Criminalizacao Seletiva No Brasil - Wermuth, Maiquel DezordiRosane SilveiraAinda não há avaliações
- RANCIÉRE. Jacques. Desventuras Do Pensamento CríticoDocumento41 páginasRANCIÉRE. Jacques. Desventuras Do Pensamento CríticoAnldri AntonioAinda não há avaliações