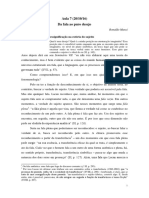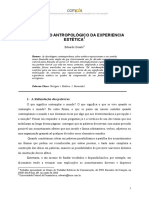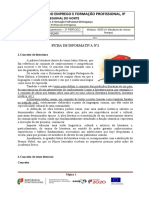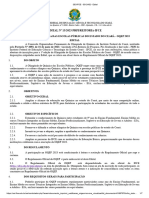Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Platão - Fedro
Platão - Fedro
Enviado por
Reinaldo JoséDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Platão - Fedro
Platão - Fedro
Enviado por
Reinaldo JoséDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Memória e escrita no Fedro de Platão1
Expositor: Ronie Alexsandro T. da Silveira2
Sabemos que a forma dialógica na qual se apresentam os textos platôni-
cos é a mais adequada para os efeitos pretendidos pela maiêutica de auxiliar a
alma a trazer à consciência o conhecimento. Com efeito, o diálogo requer a
participação efetiva da alma na discussão. De certa forma, é a própria alma ou,
mais exatamente, seu estado epistemológico-existencial que está em questão na
forma dialógica em que a escrita platônica se apresenta.
Essa imersão da alma na discussão é necessária se o que se pretende é
justamente alterar seu estado epistemológico ou o conjunto de suas crenças.
Sem ela, torna-se impossível arrancá-la de seu estado de entorpecimento. De
fato, nenhum discurso no qual a alma não se envolva pessoalmente pode pre-
tender alcançar esse objetivo que demanda uma alteração de sua postura interi-
or com respeito ao saber. Uma discussão sobre determinado assunto ou objeto
que não seja uma crença da alma que discute, erra definitivamente o alvo pre-
tendido pela Filosofia de Platão.
1
Esse texto é resultado parcial do projeto de pesquisa “A Função Epistemológica da Me-
mória em Platão e Aristóteles”, financiado pelo Fundo de Apoio à Pesquisa e pelo Progra-
ma UNISC de Iniciação Científica – ambos da Universidade de Santa Cruz do Sul.
2
Docente do Departamento de Ciências Humanas – Universidade de Santa Cruz do Sul
(ronie@dhum.unisc.br)
Cadernos de Atas da ANPOF, no 1, 2001.
142 Ronie Alexsandro T.da Silveira
Tal envolvimento pessoal é uma característica típica do discurso oral ao
exigir a permanente atenção dos interlocutores na discussão. Com efeito, estes
devem contestar, complementar ou concordar a cada passo – caso contrário, a
discussão segue ‘sem eles’ ou termina simplesmente. Nesse tipo de discussão,
envolvemo-nos diretamente na questão proposta e qualquer movimento intelec-
tual de distanciamento torna-se difícil na proporção inversa em que a atenção é
continuamente requerida. Nela, a possibilidade de rediscutir passagens árduas
ou obscuras se restringe a nossa capacidade de retomá-las através de nossa
memória convencional.
Entretanto, o diálogo platônico não se identifica simplesmente com o dis-
curso oral. Ele é, na verdade, uma exposição escrita de uma discussão oral em
que o está em questão são as crenças pessoais das almas que discutem. É esse
aspecto que garante que a própria alma se ponha e esteja em discussão e não
simplesmente a oralidade.
Podemos verificar, então, como essa imersão dos interlocutores – própria
do discurso oral e acrescida da temática das crenças pessoais – compõe uma
modalidade persuasiva mais adequada aos propósitos da Filosofia platônica.
Por outro lado, de um ponto de vista que nos é familiar, podemos verifi-
car que a escrita é superior a qualquer modalidade de discurso oral na medida
em que implica duas características importantes: a possibilidade da análise e a
exigência de autarquia.
A escrita, ao converter a língua em objeto, possibilita que sua existência
se estenda muito além de seu contexto oral de enunciação. Em tal âmbito, ela
desvincula-se da particularidade da memória individual e passa a habitar um
mundo próprio: o mundo dos artefatos visíveis.3
A língua falada sempre se encontra vinculada à situação concreta na qual
é enunciada; sua existência mesma é ocasional na medida em que a mensagem
não sobrevive à circunstância de sua origem, ela é breve e não se repete nunca
exatamente da mesma forma. Mesmo um texto decorado sempre sofrerá altera-
ções de acordo com a forma e o contexto em que é expresso pelo locutor e
3
HAVELOCK. p. 16.
Cadernos de Atas da ANPOF, no 1, 2001.
Memória e escrita no Fedro de Platão 143
termina assim que é recitado. A linguagem oral é sempre particular e a perma-
nência de uma mensagem já enunciada por esse meio dependerá sempre da
instável fixação na memória de um indivíduo.
Em um texto, pelo contrário, as revisões podem ser exaustivas e repeti-
das tanto quanto se faça necessário para uma compreensão completa do conte-
údo. Com efeito, podemos analisar um texto com maior facilidade dada a sua
permanente disponibilidade – diferentemente do discurso oral. Quando lemos
um texto, detemo-nos em algumas passagens, voltamos atrás, verificamos sua
consistência interna, revemos continuamente o caminho percorrido, enfim de-
mandamos dele um sentido unitário. Esse sentido é evidenciado pela sua arqui-
tetônica, pela estrutura lógica que articula cada passo com o seguinte e cada
parte com as demais de tal maneira que formem um edifício que fique de pé
pela força exclusiva de suas próprias fundações.
Um texto é, de um certo modo, um ser que possui autarquia: sua consis-
tência deve estar demonstrada nele ou, em último caso, em outros textos que
compõem, todos juntos, um edifício semelhante ao que descrevemos. É irrele-
vante que o texto seja empiricamente um ou mais seres, o que importa é o
caráter arquitetônico que revela sua pretensão à autarquia, à validade e à signi-
ficação em si mesmo.
Com base em tais considerações, torna-se particularmente interessante
observar como, exatamente, Platão chega a formular uma crítica que parece
predicar valores inversos a essas formas de discurso. Não podemos abstrair,
entretanto, o fato de que tal crítica se refere sempre ao caráter retórico que a
Anamnese platônica exige.
A crítica de Platão é apresentada no “Fedro” (274c-275b) na passagem
em que se descreve o mito de Theuth e Thamus. O primeiro desses persona-
gens é um antigo deus egípcio de Náucratis responsável pela invenção do núme-
ro, do cálculo, da geometria, da astronomia, do gamão, do jogo de dados e
também das letras. Thamus, por sua vez, era o rei a quem Theuth mostrava
suas invenções para serem admitidas junto aos egípcios. O rei julgava as inven-
ções e, de acordo com a explicação da utilidade e do benefício de cada uma, as
aprovava ou desaprovava. Quando chegam às letras, Theuth diz:
Cadernos de Atas da ANPOF, no 1, 2001.
144 Ronie Alexsandro T.da Silveira
“Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más me-
moriosos, pues se há inventado como um fármaco {phármakon} de la
memoria y de la sabiduría.” Pero él [Thamus] le dijo: “Oh artificiosísimo
Theuth! A unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o pro-
vecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, preci-
samente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes po-
deres contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán em
las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fián-
dose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres
ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es,
pues, um fármaco {phármakon} de la memoria lo que has hallado, sino
um simple recordatorio. Aparencia de sabiduría es lo que proporcionas a
tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin
aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al con-
trario, em la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y dificiles, ade-
más, de tratar porque han acabado por convertirse em sabios aparentes
em lugar de sabios de verdad.”
A virtude que Theuth atribui à escrita é a de aumentar a possibilidade de
armazenagem de informação para além da capacidade mnemônica convencional
ao prover os homens de um aparato de registro da fala e do pensamento. A
vantagem da escrita com relação à oralidade é, então, o caráter permanente
que a informação parece adquirir quando é salva daquela forma de existência
passageira e particular ligada à fala.
A escrita permitiria, através desse resgate existencial da informação, uma
desobstrução da memória humana como uma forma de preservação da informa-
ção já adquirida e, por conseqüência, a ampliação da memória social e da cultura.
O aspecto positivo evidenciado por Theuth diz respeito, assim, àquelas
características que descrevemos acima como a possibilidade da análise e a exi-
gência de autarquia. A escrita é uma modalidade de discurso que parece se
constituir como uma entidade substancial, isto é, sendo consistente e autárqui-
ca, ela naturalmente traz em si mesma sua razão de ser – como, aliás, todo ser
que se constitui de forma arquitetônica.
A escrita caracteriza-se, portanto, como um discurso que é epistemologi-
camente independente na medida em que tende a mostrar, em si mesmo, seus
Cadernos de Atas da ANPOF, no 1, 2001.
Memória e escrita no Fedro de Platão 145
próprios fundamentos. Aquilo que nele é expresso, deve se encontrar na depen-
dência de uma demonstração que é dada em si ou em um outro ser empírico com
o qual ele forma um escrito. Com efeito, quando lemos não nos remetemos pes-
soalmente ao autor para saber o que ele pretende dizer, pelo contrário, remete-
mo-nos ao próprio texto na expectativa de que ele nos diga o que quer dizer.
A crítica expressa por Thamus indica que a escrita terá justamente o efei-
to contrário daquele pretendido pelo seu inventor: ela produzirá esquecimento
por se constituir em um recurso exterior e não interior. Para ele, a atenção des-
pendida com a escrita produz desatenção com respeito à memória autêntica. O
que Thamus aponta como defeito da escrita parece também estar ligado ao seu
aspecto exterior.
Mas porque o discurso quando transposto para a escrita, quando apre-
sentado sob a forma de um objeto, torna-se uma modalidade retórica de alguma
forma condenável? Porque a exterioridade da escrita fomenta o esquecimento?
No que diz respeito à exterioridade da escrita e seu caráter de objeto,
podemos considerar que do ponto de vista da retórica filosófica é como se um
discurso elaborado como estratégia viva e singular para a conversão de um
certo gênero de alma passasse a dirigir-se genericamente a todas. A proprieda-
de que o discurso adquire ao ser escrito e circular indistintamente entre os ho-
mens contraria a necessidade retórica de que ele deve se referir a cada gênero
particular de alma de acordo com o seu grau de esquecimento.
O que constitui o aspecto negativo, portanto, é a desconsideração da par-
ticularidade e da diferença específica da alma a quem o discurso se dirige. Com
efeito, este último perde seu caráter contextual ao ser transposto para um âmbi-
to mais universal do que aquele que lhe é retoricamente adequado. Isto se deve
a sua forma de existir, à forma de artefato material ou de objeto. A escrita,
então, infringe a lei da retórica filosófica que preescreve a adequação do discur-
so a cada gênero de alma devido ao seu próprio estatuto ontológico: ela é um
objeto, um artefato.
Na crítica de Thamus ainda se encontra a afirmação de que a escrita é
somente um “recordatório” e não um fármaco para a memória. A escrita não
pode ser confundida com o processo de rememoração interno à alma, ela é
Cadernos de Atas da ANPOF, no 1, 2001.
146 Ronie Alexsandro T.da Silveira
somente um sinal exterior que pode ser utilizado como um meio para sua reali-
zação – parece ser esse o sentido de considerá-la como um “recordatório”, como
um meio através do qual a Anamnese é possível – um meio “hipomnemático”.
Mas isso significa admitir a existência de um certo caráter “anamnético” da es-
crita! Isto é, ela parece poder vir a ser um instrumento em acordo com os ter-
mos da retórica filosófica – o que parece contrariar aquela crítica baseada no
seu estatuto ontológico.
Entretanto, para que a escrita possa ser um instrumento adequado à re-
tórica filosófica, torna-se necessário que ela não seja compreendida como uma
instância autárquica. Pois se ela parece possuir sua razão de ser em si mesma,
isto implica em que não se pode considerá-la um instrumento para remeter a
alma para um significado que não se encontra no próprio texto. Seu caráter de
objeto parece fazer com que ela seja percebida como um ser que não requer
um complemento que a justifique e funcione como seu sustentáculo. A Anamne-
se requer, pelo contrário, um instrumento que deixe evidente sua dependência
com relação àquilo que é superior e em si mesmo; ela demanda um meio que
faça com que a alma passe ‘através dele’ e ainda que tal passagem seja promo-
vida ‘por meio dele’. A escrita, ao contrário, parece produzir o efeito de deter a
alma no estágio em que ela se encontra.
O fato de que a escrita possa ser considerada, eventualmente e em cir-
cunstâncias não especificadas, como retoricamente adequada e, ao mesmo
tempo, parecer impedir a realização da Anamnese estabelece um impasse com
respeito ao juízo que Platão faz sobre ela. Aparentemente, ambas as posições
podem ser atribuídas a ele – ou, se quisermos ser mais cuidadosos, as duas
encontram-se presentes no mito de Theuth e Thamus.
Um passo adiante seria reconhecer a ambigüidade (não de Platão mas)
das funções da própria escrita: ela nada acrescenta à retórica verdadeira mas, já
que ela existe de maneira artificial, é possível que, em determinadas circunstân-
cias, ela possa vir a ser retoricamente útil – ainda que, pelo seu caráter de obje-
to, ela possua uma tendência a se passar por autárquica. A ambigüidade encon-
tra-se em que a escrita pode desempenhar duas funções absolutamente distin-
tas com respeito à Anamnese: obstruí-la ou promovê-la.
Cadernos de Atas da ANPOF, no 1, 2001.
Memória e escrita no Fedro de Platão 147
Na passagem que citamos acima, Theuth afirma que a escrita é um fár-
maco (phármakon) para a memória – querendo com isso dizer que ela resolveria
o problema do caráter fugaz da oralidade e da memória humana. Mas Thamus
diz, ao contrário, que ela trará mais esquecimento. Assim como “Não há remédio
inofensivo. O phármakon não pode jamais ser simplesmente benéfico”, também
a escrita “não é melhor, segundo Platão, como remédio do que como veneno.”4.
Ora, não se pode deduzir antecipadamente qual será o efeito da aplicação
de um fármaco nos corpos em geral. Sua eficácia ou ineficácia depende sempre
do estado atual do corpo em que é aplicado e não pode ser avaliada abstrata-
mente. Também não se pode prever, pelo exame das propriedades do fármaco
os seus efeitos nos mais diversos corpos. Não é por excesso de prudência que
os laboratórios incluem nas indicações de posologia e composição dos medica-
mentos a observação de que, ‘até o momento, não foram observados efeitos
colaterais significativos’. Da mesma forma, os efeitos da escrita não podem ser
avaliados abstratamente, sem que se considere o estado epistemológico de cada
alma que dela se serve.
Considerada abstratamente e em si mesma, a escrita manifesta somente
esse caráter ambíguo que nela encontramos, uma potência que não é, a princí-
pio, nem positiva nem negativa. Todo valor que ela venha a possuir é construído
com referência àquele imperioso critério da retórica filosófica: o gênero de alma
com o qual ela estabelece relação.
Podemos caracterizar, de forma clara, as duas funções que a escrita pode
vir a exercer: uma em que ela se passa por autárquica e consistente e outra em
que ela reclama um pai ou o capital principal do qual ela é somente o rendimen-
to.5 Mas isso decorre de uma consideração abstrata da escrita, isto é, esta am-
bigüidade somente pode ser predicada a ela se a tomamos como se fosse um
objeto. Procedendo assim, cometemos uma petição de princípio pois optamos
por aquela primeira possibilidade funcional.
4
DERRIDA. p. 46.
5
Com relação à metáfora do pai, DERRIDA. Capítulo 2: “O Pai do Lógos”. Com relação à
metáfora do capital, “A República”(506a-d).
Cadernos de Atas da ANPOF, no 1, 2001.
148 Ronie Alexsandro T.da Silveira
Se compreendemos a escrita como uma instância válida por si mesma,
cometemos o sério equívoco de confundir o “recordatório” com o que deve ser
recordado, o referente com o referido – o “hipomnemático” com o “anamnético”.
Mas isso é um erro promovido pela perspectiva letrada de considerar a escrita
como um objeto e não propriamente um erro decorrente dela.
Uma avaliação apropriada da escrita como instrumento retórico em Platão
nos obrigaria a considerar, em cada caso particular, se ela é capaz de converter
a alma na direção do que lhe é superior, isto é, o quanto ela se aproxima do
ideal que a retórica filosófica preescreve.
Assim, em termos que julgamos conseqüentes com o pensamento de Pla-
tão, é necessário afirmar a existência de uma hierarquia ideal dos discursos
escritos. Ela parte, no seu ponto mais elevado, de uma escrita que consiga pro-
mover a Anamnese e termina, no seu nível inferior, com uma escrita que a obs-
trui completamente. Temos, assim, tipos de escrita hierarquicamente ordenados
segundo a possibilidade que cada um em particular possui de remeter a alma ao
que lhe é superior. O critério definidor dessa hierarquia é o grau de aproximação
particular que cada discurso possui com relação ao instrumento ideal da retórica
filosófica – que exige que consideremos os tipos de alma aos quais ele se dirige.
Esta hierarquia não estaria submetida, contra o que pode parecer razoá-
vel à primeira vista, a uma hierarquia dos discursos orais. Isto porque o ideal da
retórica filosófica é o valor ao qual devem ser comparados todos os discursos
para efeitos de sua avaliação enquanto instrumentos retóricos (filosóficos). As-
sim, ainda que a escrita pareça menos apta a realizar tais funções, não é verda-
deiro que sempre qualquer discurso escrito seja inferior a qualquer discurso oral.
Não há nenhum impedimento ontológico, portanto, de que um discurso
escrito seja superior a um discurso oral ainda que, pela sua natureza, a escrita
tenda a ser retoricamente menos eficaz. Os juízos sobre a propriedade e a im-
propriedade da escrita somente devem ser construídos na base de cada caso
particular em comparação com a definição ideal da retórica filosófica. Essa avali-
ação não se dá nem pela elaboração de uma regra geral válida para todos os
discursos escritos – o que terminaria simplesmente em uma condenação ou em
uma defesa - nem pela comparação entre eles.
Cadernos de Atas da ANPOF, no 1, 2001.
Memória e escrita no Fedro de Platão 149
Não nos parece adequado, dessa forma, atribuir a Platão a tese de que a
oralidade seja, sem mais, superior à escrita. O juízo de valor acerca da eficiência
retórica de um discurso, reiteramos, deve ser efetuado com base no ideal da
retórica filosófica e incide sobre cada discurso em particular – e não sobre os
gêneros oral e escrito. Pelo seu estatuto ontológico peculiar, a escrita tende a
ser menos eficiente aos propósitos daquele ideal. Embora isso não a torne, em
definitivo, retoricamente inferior à oralidade.
O diálogo platônico é a forma como se conjulgou o caráter de objeto da
escrita – seu estatuto ontológico – com os requisitos da retórica filosófica.
Referências Bibliográficas
DERRIDA, J. A farmácia de Platão. Trad. Rogério da Costa. 2. ed. São Paulo:
Iluminuras, 1997.
GAGNEBIN, J. M. Morte da memória, memória da morte: da escrita em Platão.
In: _____. Sete aulas sobre linguagem, memória e história. Rio de Janeiro:
Imago, 1997.
GIL, L. Divagaciones em torno al mito de Theuth y de Thamus. Estudios Clássi-
cos. n. 9, 1956. p. 343-360.
HAVELOCK, E. A. A revolução da escrita na Grécia e suas conseqüências cultu-
rais. Trad. O. José Serra. São Paulo: UNESP e Paz e Terra, 1996.
LLEDÓ, E. La memoria del Logos. Madrid: Taurus, [s.d.]
PAVIANI, J. Escrita e linguagem em Platão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1993.
PLATÃO. Diálogos. Madrid: Gredos, 1992.
_______. Fedro. Trad. J. Ribeiro Ferreira. Lisboa: Verbo, 1973.
PLATON. Phèdre. Trad. E. Chambry. Paris: Garnier-Flammarion, 1964.
REALE, G. História da Filosofia Antiga. Trad. Henrique C. de Lima Vaz e Marcelo
Perine. São Paulo: Loyola, 1994. v. II.
Cadernos de Atas da ANPOF, no 1, 2001.
Você também pode gostar
- Apreensão e Compreensão Do Texto e SentidoDocumento5 páginasApreensão e Compreensão Do Texto e SentidoElson Paiva100% (1)
- 0510 - Variação Morfossintática e Ensino de PortuguêsDocumento32 páginas0510 - Variação Morfossintática e Ensino de PortuguêsDavidson AlvesAinda não há avaliações
- Artigo - Enfermagem Do TrabalhoDocumento18 páginasArtigo - Enfermagem Do TrabalhoDaiane Miranda da Silva80% (5)
- UMA OUTRA ESCRITURA A PARTIR DO DIÁLOGO FEDRO - ArtigoDocumento8 páginasUMA OUTRA ESCRITURA A PARTIR DO DIÁLOGO FEDRO - ArtigoLeandro De Bona DiasAinda não há avaliações
- LEANDRO FERREIRA. A Trama Enfática Do Sujeito PDFDocumento9 páginasLEANDRO FERREIRA. A Trama Enfática Do Sujeito PDFGustavo HaidenAinda não há avaliações
- A Concepção de Texto Por Paul RicoeurDocumento8 páginasA Concepção de Texto Por Paul RicoeurTaynara MendesAinda não há avaliações
- Literatura BrasileiraDocumento95 páginasLiteratura BrasileiraMaria KelermanAinda não há avaliações
- Verdade e Metodo II 200 310Documento12 páginasVerdade e Metodo II 200 310Ederson RipardoAinda não há avaliações
- A Tradução Como Atividade de Desenvolvimento Da Criticidade em Sala de AulaDocumento13 páginasA Tradução Como Atividade de Desenvolvimento Da Criticidade em Sala de AulabealettresAinda não há avaliações
- Propaganda Do TênisDocumento15 páginasPropaganda Do TênisJessicaAraujoAinda não há avaliações
- A Grafia Psíquica Da Verdade No Diálogo FedroDocumento15 páginasA Grafia Psíquica Da Verdade No Diálogo FedroMariana AguiarAinda não há avaliações
- Filosofia Da Linguagem: Um Paralelo Entre Wittgenstein e NietzscheDocumento8 páginasFilosofia Da Linguagem: Um Paralelo Entre Wittgenstein e NietzscheMarcelo ManoelAinda não há avaliações
- Conceito e Sentido em Frege-IntroducaoDocumento23 páginasConceito e Sentido em Frege-IntroducaoPriscila CunhaAinda não há avaliações
- Benveniste - Da SubjetividadeDocumento9 páginasBenveniste - Da SubjetividadeCatextos EstudarAinda não há avaliações
- Unopar - Portfolio 2020Documento14 páginasUnopar - Portfolio 2020Carlos Magno Cardoso CantagalliAinda não há avaliações
- Livro Didático C6 - Habilidade 18Documento6 páginasLivro Didático C6 - Habilidade 18annahrunahAinda não há avaliações
- Analise Do DiscursoDocumento7 páginasAnalise Do DiscursoAlice MartinsAinda não há avaliações
- Fundamentos Epistemolc3b3gicos em Estudos Da LinguagemDocumento6 páginasFundamentos Epistemolc3b3gicos em Estudos Da LinguagemjoaquimpedrosilvaAinda não há avaliações
- Slides Concepção de LinguagemDocumento5 páginasSlides Concepção de LinguagemJefersoneLeiliane DouradoAinda não há avaliações
- Texto e DiscursoDocumento8 páginasTexto e DiscursoCris LenzAinda não há avaliações
- STEIN - em Busca Da Linguagem para Um Dizer Não Metafísico PDFDocumento16 páginasSTEIN - em Busca Da Linguagem para Um Dizer Não Metafísico PDFVitorHugoBalestPiovesanAinda não há avaliações
- Phaine Work RevDocumento15 páginasPhaine Work RevJoão Francisco Pereira CabralAinda não há avaliações
- Abordagem Teórica em Análise Do Discurso CríticaDocumento19 páginasAbordagem Teórica em Análise Do Discurso CríticaEvelinAinda não há avaliações
- 3 - Adriana Sales - As NÃO-COINCIDÊNCIAS Na ChargeDocumento25 páginas3 - Adriana Sales - As NÃO-COINCIDÊNCIAS Na ChargeTatiane HENRIQUE SOUSAAinda não há avaliações
- SM Artigo Leitura (01mai08)Documento8 páginasSM Artigo Leitura (01mai08)KBRAKLB100% (1)
- Comunicação Oral e EscritaDocumento27 páginasComunicação Oral e Escritaij.fontanAinda não há avaliações
- Souza, Análise de DiscursoDocumento9 páginasSouza, Análise de DiscursoMaruana Kássia Tischer SeraglioAinda não há avaliações
- Friedrich Schleiermacher - Introdução À HermenêuticaDocumento28 páginasFriedrich Schleiermacher - Introdução À HermenêuticaViviane PereiraAinda não há avaliações
- Verdade e MétodoDocumento6 páginasVerdade e MétodoMarcos MatAinda não há avaliações
- Polifonia Intertextualidade e ContextualizacaoDocumento5 páginasPolifonia Intertextualidade e ContextualizacaoEdilene02Ainda não há avaliações
- REDAÇÃO Módulo 10Documento3 páginasREDAÇÃO Módulo 10roberto pintoAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso - MussalinDocumento4 páginasAnálise Do Discurso - MussalinAllan DieguhAinda não há avaliações
- Vozes e Silêncio No Texto de Pesquisa PDFDocumento13 páginasVozes e Silêncio No Texto de Pesquisa PDFLimariamaAinda não há avaliações
- Rodada 02 Por InssDocumento94 páginasRodada 02 Por InssFelipe RosaAinda não há avaliações
- 38127-Texto Do Artigo-106158-1-10-20180703Documento6 páginas38127-Texto Do Artigo-106158-1-10-20180703claudia pontualAinda não há avaliações
- Hermenêutica Filosófica e LinguagemDocumento23 páginasHermenêutica Filosófica e LinguagemJane CecconelloAinda não há avaliações
- 2016 Curso Difusao Lacan Aula7Documento28 páginas2016 Curso Difusao Lacan Aula7nicacio18Ainda não há avaliações
- O Cogito Tácito Como Fundamento Da Teoria Do Conhecimento de Merleau-PontyDocumento9 páginasO Cogito Tácito Como Fundamento Da Teoria Do Conhecimento de Merleau-PontyLARICE SULAMITA FERREIRA DA COSTAAinda não há avaliações
- Aprender A Escrever É Aprender A Pensar PDFDocumento12 páginasAprender A Escrever É Aprender A Pensar PDFMentes QuanticasAinda não há avaliações
- Apostila 7° e 8° AnoDocumento162 páginasApostila 7° e 8° AnoInsituto Basilar TaubatéAinda não há avaliações
- Luiz de Melo e Celso Pagnan - Pratica de Texto Leitura e Redacao - 3a Ed. 2008Documento258 páginasLuiz de Melo e Celso Pagnan - Pratica de Texto Leitura e Redacao - 3a Ed. 2008João Victor SatyroAinda não há avaliações
- Literatura e Texto LiterárioDocumento4 páginasLiteratura e Texto LiterárioSílvia AlfaiateAinda não há avaliações
- Prática de Texto Leitura e Redação by Luiz Roberto Dias de Melo Celso Leopoldo PagnanDocumento258 páginasPrática de Texto Leitura e Redação by Luiz Roberto Dias de Melo Celso Leopoldo PagnanFernando Silva MendesAinda não há avaliações
- Maria Dulce Reis - Artigo PlatãoDocumento20 páginasMaria Dulce Reis - Artigo Platãor_arnautdf612Ainda não há avaliações
- Análise Do Texto Circuito Fechado - Ricardo RamosDocumento16 páginasAnálise Do Texto Circuito Fechado - Ricardo RamosIvonete NinkAinda não há avaliações
- Eduardo Duarte - O Fenômeno Antropológico Da Experiência EstéticaDocumento12 páginasEduardo Duarte - O Fenômeno Antropológico Da Experiência EstéticathalesleloAinda não há avaliações
- 7358 43953 1 PBDocumento10 páginas7358 43953 1 PBRicardo NetoAinda não há avaliações
- As Relacoes Entre Linguagem e Verdade PDFDocumento5 páginasAs Relacoes Entre Linguagem e Verdade PDFGabriela AlmeidaAinda não há avaliações
- FICHA INFORMATIVA #2 - Conceito de Literatura e Tipos de TextosDocumento4 páginasFICHA INFORMATIVA #2 - Conceito de Literatura e Tipos de TextosPaula100% (1)
- Idoc - Pub - Apostila de Portugues Instrumental Leitura e Produao Textual Cursos SuperioresDocumento46 páginasIdoc - Pub - Apostila de Portugues Instrumental Leitura e Produao Textual Cursos SuperioresPedro LucasAinda não há avaliações
- A Escrita Academica - Marcos Villela PereiraDocumento13 páginasA Escrita Academica - Marcos Villela PereiraMarcos Villela PereiraAinda não há avaliações
- ORLANDI Eni Puccinelli Analise Do Discurso - Princ PDFDocumento7 páginasORLANDI Eni Puccinelli Analise Do Discurso - Princ PDFAlice MourãoAinda não há avaliações
- Barthes e A Escritura: A Leitura e Proposição ExistencialDocumento12 páginasBarthes e A Escritura: A Leitura e Proposição ExistencialLilianneCobb100% (1)
- Corpo e DiscursoDocumento12 páginasCorpo e DiscursoLethicia GonçalvesAinda não há avaliações
- Apostila de Português Instrumental, Leitura e Produção Textual (Cursos Superiores)Documento46 páginasApostila de Português Instrumental, Leitura e Produção Textual (Cursos Superiores)Kaio Almeida83% (6)
- Função Do Campo Da Fala e Da Linguagem em PsicanáliseDocumento5 páginasFunção Do Campo Da Fala e Da Linguagem em PsicanálisePedro Paulo Valadao CoelhoAinda não há avaliações
- "Toda A Filosofia Ocidental", Segundo Alfred 2Documento3 páginas"Toda A Filosofia Ocidental", Segundo Alfred 2João Gabriel de C. N. S Lucas João Gabriel LucasAinda não há avaliações
- Ferreira - O AcontecimentoDocumento10 páginasFerreira - O AcontecimentoRodrigo Sousa FialhoAinda não há avaliações
- DISCURSO - E-Dicionário de Termos LiteráriosDocumento5 páginasDISCURSO - E-Dicionário de Termos LiteráriosFrederico SouzaAinda não há avaliações
- A Escrita À Luz Da Análise de Discurso (Indursky, 2009)Documento12 páginasA Escrita À Luz Da Análise de Discurso (Indursky, 2009)Paulo AntônioAinda não há avaliações
- A Instância Da Letra No Inconsciente - Ou A Razão Desde FreudDocumento8 páginasA Instância Da Letra No Inconsciente - Ou A Razão Desde FreudPedro VieiraAinda não há avaliações
- Introdução A PolíticaDocumento10 páginasIntrodução A PolíticaJose Carlos Carneiro SantosAinda não há avaliações
- VERNANT, Jean-Pierre. As Origens Do Pensamento GregoDocumento69 páginasVERNANT, Jean-Pierre. As Origens Do Pensamento GregoMarcos Antonio M AlvesAinda não há avaliações
- MARTON, Scarlett. Nietzsche Das Forças Cósmicas Aos Valores HumanosDocumento232 páginasMARTON, Scarlett. Nietzsche Das Forças Cósmicas Aos Valores HumanosJose Carlos Carneiro Santos67% (3)
- Apologia - TertulianoDocumento30 páginasApologia - TertulianoJose Carlos Carneiro SantosAinda não há avaliações
- Caminhos Pedagógicos Da InclusãoDocumento10 páginasCaminhos Pedagógicos Da InclusãoEdivania TenórioAinda não há avaliações
- Fichamento Ensino-Aprendizagem Algumas Tendências em Educação MatemáticaDocumento2 páginasFichamento Ensino-Aprendizagem Algumas Tendências em Educação MatemáticaMarília GinglassAinda não há avaliações
- Camargos LP Me AssisDocumento1.482 páginasCamargos LP Me AssisandreiaAinda não há avaliações
- Oqep 2023 EditalDocumento7 páginasOqep 2023 EditalDAVID RIBEIRO MOURAOAinda não há avaliações
- Prova LibrasDocumento4 páginasProva Librasjfp1971100% (1)
- Projeto Do Pibid Participacao Da Escola No Evento de Letras Agosto 2023 Assinado-1Documento3 páginasProjeto Do Pibid Participacao Da Escola No Evento de Letras Agosto 2023 Assinado-1Evandro AristimunhaAinda não há avaliações
- GeertzDocumento2 páginasGeertzBruno João FlorianoAinda não há avaliações
- A Transição Do Esporte Moderno para O Esporte Contemporâneo: Tendência de Mercantilização A Partir Do Final Da Guerra FriaDocumento8 páginasA Transição Do Esporte Moderno para O Esporte Contemporâneo: Tendência de Mercantilização A Partir Do Final Da Guerra FriaGraice Kelly DE Monaco KellyAinda não há avaliações
- Modelo TCC: Universidade Federal de São João Del Rei Curso: Adminsitração PúblicaDocumento21 páginasModelo TCC: Universidade Federal de São João Del Rei Curso: Adminsitração PúblicaWesley ReisAinda não há avaliações
- Tefftd-Opt Top Esp Fund Fil Teo Dir (Opt) IDocumento3 páginasTefftd-Opt Top Esp Fund Fil Teo Dir (Opt) IFernandoAinda não há avaliações
- Exercicios de EstatisticaDocumento7 páginasExercicios de EstatisticaPaulino AdaoAinda não há avaliações
- A Feminilidade Que Se Aprende PDFDocumento202 páginasA Feminilidade Que Se Aprende PDFFabiana RuizAinda não há avaliações
- Planificação AE - Maximo 5Documento11 páginasPlanificação AE - Maximo 5Helena Borralho100% (1)
- Diretrizes para Autores SBL ArchaiDocumento3 páginasDiretrizes para Autores SBL ArchaiDaniel Santibáñez GuerreroAinda não há avaliações
- Resumo - 1 - Teorias de Aprendizagem - Jose Albertina MunguambeDocumento8 páginasResumo - 1 - Teorias de Aprendizagem - Jose Albertina MunguambeJoséAinda não há avaliações
- Currículo Do Sistema de Currículos Lattes1Documento14 páginasCurrículo Do Sistema de Currículos Lattes1petersainthAinda não há avaliações
- Aula D05 PIpdfDocumento7 páginasAula D05 PIpdfDaniele LíviaAinda não há avaliações
- Diario 1408Documento49 páginasDiario 1408Everton CalegariAinda não há avaliações
- Inclusão Crianças DeficientesDocumento30 páginasInclusão Crianças DeficientesdeliveryworkAinda não há avaliações
- A Crise Do Sistema Educacional Na Alemanha - DW - 02-05-2024Documento4 páginasA Crise Do Sistema Educacional Na Alemanha - DW - 02-05-2024alyssonmassoteAinda não há avaliações
- MGC Trabalho1 ConectivismoDocumento7 páginasMGC Trabalho1 ConectivismocomentoAinda não há avaliações
- V. 41 n.01 Livro 1Documento290 páginasV. 41 n.01 Livro 1Pedro Henrique SilvaAinda não há avaliações
- 4 13 Andragogia EducacaodeadultosDocumento9 páginas4 13 Andragogia EducacaodeadultosJosimar Tomaz de BarrosAinda não há avaliações
- O Mediador Nos Cursos EFADocumento71 páginasO Mediador Nos Cursos EFAQuitéria Silva100% (2)
- 1º Torneio Escolar de Tênis de MesaDocumento7 páginas1º Torneio Escolar de Tênis de Mesafelipe_silveira_1Ainda não há avaliações
- Conteúdo GFBDocumento1 páginaConteúdo GFBDiego CiprianoAinda não há avaliações
- LIVRO Jogos Brinquedos e Brincadeiras PDFDocumento36 páginasLIVRO Jogos Brinquedos e Brincadeiras PDFAntonione X Eriane AntunesAinda não há avaliações
- Pesquisa em Gestão Pública PDFDocumento172 páginasPesquisa em Gestão Pública PDFfelipeAinda não há avaliações