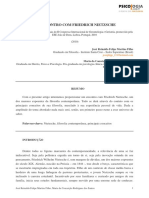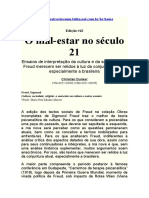Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Nietzsche e Freud Pensadores Da Modernidade
Nietzsche e Freud Pensadores Da Modernidade
Enviado por
João ViniciusDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Nietzsche e Freud Pensadores Da Modernidade
Nietzsche e Freud Pensadores Da Modernidade
Enviado por
João ViniciusDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ISSN 0104-4443
Licenciado sob uma Licença Creative Commons
[T]
Nietzsche e Freud: pensadores da modernidade
[I]
Nietzsche and Freud: philosophers of modernity
[A]
Vincenzo Di Matteo
Professor associado I da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, PE - Brasil, e-mail:
dimatteo@nlink.com.br
[R]
Resumo
O texto aproxima dois pensadores da modernidade, Nietzsche e Freud, a partir de duas
respectivas obras da maturidade: A genealogia da moral e O mal-estar na civilização. Após
uma análise dos respectivos diagnósticos clínicos das patologias da época, além dos prog-
nósticos e dos procedimentos terapêuticos por eles sugeridos, teceremos algumas consi-
derações pessoais concernentes às contribuições dos dois pensadores para a compreen-
são de nosso mundo atual e aos desafios que permanecem em aberto para pensarmos
uma teoria da vida e da cultura. Faremos isso com base neles, mas também contra e além
deles, minimizando os riscos ideológicos que sempre pairam sobre esse empreendimento.[#]
[P]
Palavras-chave: Nietzsche. Freud. Modernidade. Cultura. Patologia.[#]
[B]
Abstract
This text approaches two thinkers of modernity starting from two of their maturity”s works,
Moral genealogy and Civilization and its discontents. Following an analysis of the respec-
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
270 DI MATTEO, V.
tive clinical diagnosis of that period”s pathologies, the prognosis and therapeutic procedures
suggested by them, the author considers these two thinkers” contributions to the compre-
hension of the present world and the challenges that remain open to think a theory of life
and culture. It will be done based on these authors, but also against them and beyond them,
minimizing the ideological risks that always scud over this enterprise. [#]
[K]
Keywords: Nietzsche. Freud. Modernity. Culture. Pathology.[#]
Em A Gaia Ciência, Nietzsche ([1882] 1976, p. 228) nos adverte:
“Aquele que quer ser mediador entre dois pensadores recebe a marca
da mediocridade; não tem visão para o único; as aproximações e os
nivelamentos são características de olhos fracos”. É provável que tenha
razão, mais ainda em nosso caso. Aproximar dois pensadores, cujos
respectivos pensamentos registram inflexões significativas, que não
possuem e desconfiam de sistemas (FREUD, [1933] 1976; NIETZSCHE,
[1881] 2004; [1888] 2006), que reivindicam originalidade em suas ideias
(Nietzsche) ou pelo menos o mérito de terem desbravado caminhos
singulares para se chegar a elas (Freud), é sem dúvida um empreen-
dimento problemático. Mesmo assim, não faltaram razões para esse
exercício de aproximação que fascinou, ao longo do século XX, roman-
cistas, filósofos e psicanalistas.
Por que, então, retomar essa “famigerada conjunção” (NIETZSCHE,
[1888] 2006), no nosso caso, de Nietzsche e Freud? Não seria suficiente
o veredicto freudiano quando, há mais de 100 anos, marcou suas dife-
renças ao julgar o projeto nietzschiano como uma tentativa injustifica-
da de transformar o “ser” em “dever”, um projeto alheio à ciência e,
portanto, apenas moralista?1
O sentido de mais uma aproximação entre esses dois pensado-
res, em nosso caso, deve ser procurado, primeiramente, na convicção
de que ambos são “pensadores” da modernidade e não apenas críticos
Em 1908, a recém-fundada Sociedade Psicanalítica de Viena, sucessora da "comunidade psicanalítica das quartas feiras”
1
se confrontou por duas vezes com a obra de Nietzsche. Respectivamente, com A genealogia da moral em 01.04.1908 e Ecce
Homo em 28.10.1908 (ASSOUN, 1991, p. 16-24).
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
Nietzsche e Freud 271
dela, isto é, não se limitaram a um mero diagnóstico clínico das patolo-
gias da modernidade, mas se arriscaram na emissão de um prognóstico
e, em certos momentos, na sugestão de procedimentos terapêuticos.
Em segundo lugar, no fato de que os consideramos, como a figura ro-
mana de Jano bifronte (a divindade dos limites), pensadores que de-
marcam os confins da modernidade e de nossa contemporaneidade.
Para operacionalizar essa confrontação, foram selecionados dois
livros separados entre si por mais de 40 anos, mas que representam uma
amostra significativa para nosso propósito por refletirem o pensamento
maduro dos dois pensadores: A genealogia da moral (NIETZSCHE,
[1887] 1998) e O mal-estar na civilização (FREUD, [1930] 1974).
Na primeira, de fato, deságuam temas e problemas importantes
de obras anteriores, tais como a dupla pré-história do bem e do mal,
o valor e a origem da moral ascética, da justiça, do castigo, ao mesmo
tempo em que se anunciam os temas da decadência e do niilismo de
grande importância para as obras seguintes. Na segunda, Freud retoma
uma série de temas sobre moral e cultura abordados em textos anterio-
res e os articula, dessa vez, a partir da reformulação da teoria das pul-
sões em Além do princípio do prazer (FREUD, [1920] 1976) e do primeiro
tópico em O ego e o id (FREUD, [1923] 1976). O que está em jogo nas
duas obras são o valor da moral em Genealogia da moral (NIETZSCHE,
[1887] 1998) e o valor da cultura em O mal-estar na civilização (FREUD,
[1930] 1974), valores intercambiáveis na medida em que a má consci-
ência na linguagem do primeiro e o sentimento inconsciente de culpa
na do segundo constituem os dois principais sintomas que denunciam
uma “doença” que se alastra da moral para outros domínios da cultura
e desta para o psicológico e o fisiológico.
Nesse sentido, perguntamo-nos se e até que ponto seus diagnósti-
cos e prognósticos relativos à moral e à cultura da modernidade dão con-
ta também das “doenças” de nosso mundo globalizado ou se são fruto
de dois médicos e psicólogos da cultura, certamente geniais, mas desa-
tualizados para a inteligibilidade do nosso sofrimento contemporâneo.
Na leitura das obras mencionadas, daremos prioridade a uma chave
de interpretação que podemos chamar de clínica. O objetivo é respeitar o
procedimento genealógico nietzschiano, que articula indissociavelmente
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
272 DI MATTEO, V.
história, filologia, psicologia, fisiologia e medicina (NIETZSCHE, [1887]
1998), seja em atenção ao Freud da maturidade, que, em O mal-estar na
civilização, pensa a cultura recorrendo aos modelos de sua metapsico-
logia (tópico, dinâmico, econômico), àquele filogenético-arqueológico,
mas também ao modelo clínico de uma terapia das neuroses sociais
segundo a analogia das neuroses individuais. Além disso, buscamos
fazer jus a inúmeros significantes que pontuam as duas obras e reme-
tem a uma realidade biopsicomédica.
As patologias da modernidade na perspectiva de Nietzsche
Uma anamnese da doença do homem moderno
A modernidade pensada por Nietzsche não é tanto um perío-
do histórico bem recortado no tempo, aquela cultural considerada or-
gulhosamente como uma ruptura positiva com o mundo dos antigos
pelos modernos, mas como decadência por ele. Para ilustrar sua tese,
o genealogista, filólogo e psicólogo procede, então, a uma espécie de
anamnese desse homem moderno para mostrar-lhe que pretensos va-
lores elevados, tais como o ideal ascético, o amor e a compaixão para
com o outro, podem ser remetidos a suas origens mais prosaicas como
a dívida material, a violência consigo mesmo, o medo do poder dos
antepassados, o egoísmo. A orgulhosa autocompreensão do sujeito
moderno como indivíduo soberano, dotado de consciência e vontade
própria, não pode nos fazer esquecer que “nada foi comprado tão caro
como o pouco de razão humana e sentimento de liberdade que agora
constitui nosso orgulho” (NIETZSCHE, [1887] 1998, p. 104).2
Em linhas gerais, toda a história do pensamento ocidental, incluindo
a da modernidade, é a história de um niilismo que se radicaliza, na me-
dida em que a civilização é uma domesticação do homem: a vitória dos
Apenas para as citações da Genealogia da moral, dispensaremos a citação de autor-data e seguiremos o seguinte
2
procedimento: P, = Prólogo; I, II, III, = respectivamente Primeira, Segunda e Terceira Dissertação, seguido do número do
tópico e do número da página da edição de 1998. Dessa maneira, julgamos que o leitor poderá com mais facilidade localizar
o trecho citado também em outras edições. Os destaques em itálico são sempre dos respectivos autores (Nietzsche e Freud).
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
Nietzsche e Freud 273
escravos sobre os mais fortes mediante a invenção de “instrumentos da
cultura” (NIETZSCHE, [1887] 1998), razões, justificações, ficções, con-
vicções que, quando interiorizados pelo homem, destroem e pervertem
a sua vontade de poder na qual reside a essência da vida.
Na reconstrução das origens e do desenvolvimento da consciên-
cia e da má consciência, descreve-nos o processo evolutivo pelo qual
o animal humano se torna gradativamente um animal que pode fazer
promessas, um ser de consciência, um animal doente, um animal de
rebanho, ressentido e vítima de um ideal ascético culpabilizador e ne-
gador da vida. Naturalmente, a reconstrução-criação dessa anamnese
sui generis determinará a validade e os limites do diagnóstico e prog-
nóstico sobre o mal-estar da modernidade.
Os sintomas culturais e seu diagnóstico: a neurose religiosa
O significante “sintoma” é do próprio Nietzsche e ocorre várias
vezes no texto. Não possui um significado técnico nem necessaria-
mente pejorativo. A moral, por exemplo, deve ser entendida como conse-
quência, sintoma, mas também como causa, medicamento (NIETZSCHE,
[1887] 1998). Habitualmente, porém, reveste-se do significado mais ge-
ral entendido como um efeito que deixa entrever algo que se esconde
nele, sob ele, por trás dele; foi precisamente isso que o levou a não
poupar seus leitores de dar “uma olhada na imensidão de seus efeitos,
também de seus efeitos funestos” (NIETZSCHE, [1887] 1998, p. 135).
Na modernidade, atendem pelo nome de depressões prolongadas,
intoxicamento alcoólico, sífilis nos últimos tempos e, especialmente, neurose
religiosa (NIETZSCHE, [1887] 1998) responsável por uma moral da com-
paixão que nega a vida e se alastra como “[...] o mais inquietante sintoma
dessa nossa inquietante cultura europeia; como o seu caminho sinuoso
em direção a um novo budismo? A um budismo europeu? A um niilis-
mo?...” (NIETZSCHE, [1887] 1998, p. 11-12, grifo do autor).
A híbris do homem moderno pode até levá-lo a interpretar equi-
vocadamente pretensas conquistas culturais – democracia, anarquis-
mo, socialismo – como um progresso (NIETZSCHE, [1887] 1998). Não
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
274 DI MATTEO, V.
percebe, porém, que o que chama de um “avanço”, um “progresso”,
deve ser considerado como sintoma regressivo, um retrocesso, sinais
de uma vida que declina (NIETZSCHE, [1887] 1998).
A causa decisiva para o conjunto dessas doenças europeias da
modernidade é a religião cristã com sua moral de ressentimento perso-
nificada na figura do sacerdote ascético, aquele que inventou o “gran-
de estratagema” para aliviar a dor do homem ao responsabilizá-lo e
culpabilizá-lo por seu sofrimento. Com isso, deu-lhe um sentido, pois
o que o homem não suporta não é a dor, mas, sim, sua falta de sentido:
“o homem preferirá ainda querer o nada a nada querer...” (NIETZSCHE,
[1887] 1998, p. 149). Ao mesmo tempo, ministrou-lhe um remédio que
não cura e que o torna ainda mais doente. Transformou, de fato, em
pecado e punição (NIETZSCHE, [1887] 1998), p. 130) aquela primitiva
“má consciência animal”, adquirida quando o homem ficou “encerra-
do no âmbito da sociedade e da paz”. Com essa interpretação, aquele
inicial sentimento de culpa em seu estado bruto, da crueldade voltada
para trás contra si mesmo, acabou se transformando em algo doentio:
“Aqui há doença, sem qualquer dúvida, a mais terrível doença que ja-
mais devastou o homem [...]” (NIETZSCHE, [1887] 1998, p. 81, grifo
do autor) a ponto de a terra ter se transformado por muito tempo num
hospício (NIETZSCHE, [1887] 1998)!
Foi esse ideal ascético, no entender de Nietzsche, o que mais des-
trutivamente agiu “sobre a saúde e o vigor de raça dos europeus; pode-
mos denominá-lo, sem qualquer exagero, a autêntica fatalidade na histó-
ria da alma do homem europeu” (NIETZSCHE, [1887] 1998, p. 132, grifo
do autor) e, por ter corrompido a saúde da alma, corrompeu também o
gosto nas artes e na literatura (NIETZSCHE, [1887] 1998).
Prognóstico e terapêutica
Se o diagnóstico é sombrio, o prognóstico nietzschiano está aber-
to para expectativas historicamente viáveis mesmo que não em curto
prazo. Qual a estratégia proposta por Nietzsche? São apresentadas
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
Nietzsche e Freud 275
fundamentalmente duas: uma para “os acasos felizes” numa Europa
doente e outra para os doentes.
Se a condição doentia do homem é a normalidade dentro da his-
tória, é preciso que os “acasos felizes”, os “raros”, os “sãos”, os “mais
fortes”, os “bem logrados”, os “vitoriosos”, os “felizes”, os “poderosos
de corpo e alma” (NIETZSCHE, [1887] 1998, p. 111), protejam-se dos
doentes com uma separação total, mantendo o pathos da distância. Não
cabe a eles serem médicos, enfermeiros, consoladores, salvadores dos
doentes. Estes que cuidem de si mesmos (NIETZSCHE, [1887] 1998).
Para os doentes do ideal ascético, o remédio é deixar de acreditar
na mentira da existência de Deus, livrando-se do grande credor peran-
te o qual têm uma dívida (culpa) impagável. Nietzsche (NIETZSCHE,
[1887] 1998) até se permite deduzir que, gradativamente e até a vitória
definitiva do ateísmo, a humanidade poderá se livrar da culpa e acessar
a uma “segunda inocência”. O problema é que mesmo “o ateísmo incon-
dicional e reto” ainda está às voltas com sua vontade de verdade e não se
opõe realmente ao ideal ascético (NIETZSCHE, [1887] 1998, p. 147).
O verdadeiro pharmacon (veneno e medicamento) que nos pode
curar dessa doença da moral cristã se encontra nela mesma. Devemos a
ela, de fato, com sua exigência de veracidade, sua bimilenar “educação
para a verdade”, sua necessidade de “asseio intelectual” e progressiva
consciência científica na análise das coisas se hoje nos proibimos “a
mentira de crer em Deus” (NIETZSCHE, [1887] 1998, p.147, grifo do au-
tor). Foi esse rigor intelectual que produziu “os bons europeus e herdei-
ros da mais longa e corajosa autossuperação da Europa” (NIETZSCHE,
[1887] 1998, p. 148, grifo do autor).
Desaparecerá o cristianismo, não apenas como dogma, mas
também como moral? Segundo Nietzsche, estaríamos no limiar des-
se acontecimento quando a moral cristã terá que tirar sua mais forte
conclusão, aquela contra si mesma. Esse espetáculo em 100 atos será
encenado nos próximos dois séculos da Europa e promete ser “o mais
terrível, mais discutível e talvez mais auspicioso entre todos os espetá-
culos” (NIETZSCHE, [1887] 1998), p. 148).
Em longo prazo, portanto, o prognóstico para os doentes de ide-
al ascético é promissor, especialmente se consideramos a resposta que
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
276 DI MATTEO, V.
Nietzsche insinua às três perguntas que se coloca no final da segun-
da dissertação. Ele tem, sim, um projeto, o de derrubar o ideal da má
consciência e de tudo que lhe está associado, isto é, os ideais hostis
à vida e difamadores do mundo. Mas essa mensagem não se dirige
aos homens “bons”, “acomodados”, “cansados”, em suma, ao homem
moderno herdeiro dessa estranha vocação artística de se moldar pela
autotortura, mas a uma “outra espécie de espíritos” caracterizados por
uma necessidade de conquista, perigo, dor, possuidores de “sublime
maldade” própria de uma “grande saúde”. Esta, porém, não é atingível
no presente. “Algum dia”, num “mais futuro” virá aquele que é descri-
to como o homem redentor, o homem do grande amor e do grande des-
prezo, o espírito criador, aquele que nos redimirá da vontade do nada
e que devolverá “à terra sua finalidade e ao homem sua esperança, esse
anticristão e antiniilista”, cujo nome é Zaratustra, o ateu... (NIETZSCHE,
[1887] 1998, p. 84-85, grifo do autor).
As patologias culturais da modernidade na perspectiva de Freud
O mal-estar como sintoma
Não passa despercebida a um leitor minimamente atento a ques-
tão básica que perpassa o texto, isto é, a de um “mal-estar” na e da
cultural em geral e da modernidade em particular (ROUANET, 1993).
Um mal-estar aparentemente inexplicável e que pede uma inteligibili-
dade. Não é uma “crise” que se abate sobre um corpo orgânico ou so-
cial e que pode ser superada de alguma maneira. É mais um mal-estar
permanente, indefinível e indefinido, que não permite um diagnóstico
preciso nem um prognóstico consistente a não ser que produza sinto-
mas finalmente dizíveis, finalmente falantes (PONTALIS, 1991).
Os principais sintomas falantes do mal-estar moderno detecta-
dos por Freud encontramos fundamentalmente na esfera da sexualida-
de e, especialmente, da agressividade (FREUD, [1930] 1974). O signifi-
cante “sintoma” designa mais a primeira, e “sentimento inconsciente
de culpa”, a segunda (FREUD, [1930] 1974, p. 163). Há, porém, outros
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
Nietzsche e Freud 277
sintomas que falam em outras esferas setoriais da cultura, tais como
a religiosa, a científica-técnica e a político-social, sendo que a própria
cultura moderna como um todo pode ser considerada neurótica. Para
cada um deles, Freud elabora um diagnóstico, um prognóstico e, em
alguns casos, se permite até devaneios terapêuticos. Vamos apenas
enumerá-los com um breve comentário para cada um.
A religião como delírio de massa
Das patologias culturais, destacamos, primeiramente, a religião
em geral e o cristianismo em particular, que é a religião mais popular
da Europa e que resistiu, com seus aspectos “patentemente infantis”,
ao projeto emancipatório da Ilustração. O cristianismo não é a fonte
de todos os males da modernidade, como parece insinuar Nietzsche.
Freud lamenta mais sua dimensão de delírio paranoico na medida em
que se considera “a” única saída válida frente à dureza da vida e à
tríplice fonte de sofrimento (FREUD, [1930] 1974, p. 95). Além disso,
deprecia o valor da vida, mantém seus adeptos num estado de “infan-
tilismo psicológico” e arrasta para um delírio de massa, mesmo que
consiga poupar muitas pessoas de uma neurose individual (FREUD,
[1930] 1974, p. 104).
O sintoma do deus infeliz: a ilusão do progresso
Freud não me parece perceber a modernidade como “decaden-
te”. Contrariando, porém, sua formação positivista, não identifica ci-
vilização e progresso, o que não passaria de um preconceito (FREUD,
[1930] 1974, p. 117). Não desvaloriza, propriamente, o avanço técnico e
sua importância “para a economia de nossa felicidade”, mas constata
que isso por si só “não aumentou a quantidade de satisfação dos mo-
dernos, nem os tornou mais felizes por não ser nem a única pré-con-
dição da felicidade humana, nem o único objetivo do esforço cultural”
(FREUD, [1930] 1974, p. 107).
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
278 DI MATTEO, V.
Pela sua definição de cultura ou civilização, que se encontra em
O mal estar, ela tem duas funções: proteger os homens contra a natu-
reza e ajustar os seus relacionamentos mútuos (FREUD, [1930] 1974,
p. 109). Sem mencioná-lo explicitamente, Freud detecta certo fracasso
do projeto iluminista (ROUANET, 1993). A Revolução Industrial e o
progresso tecnológico, o progresso quantitativo (técnico) desacom-
panhado do progresso qualitativo (humanitário) (MARCUSE, 2001),
não tornaram o homem mais feliz. Esse progresso não diminuiu nos-
so mal-estar e essa frustração cultural “fará exigências severas à nos-
sa obra científica” e nos alerta que, se todas essas perdas não forem
compensadas, “sérios distúrbios” podem surgir (FREUD, [1930] 1974,
p. 118).
O sintoma da neurose sexual
Na modernidade, teria havido um recrudescimento tanto das
medidas repressoras contra a sexualidade polimorfa proscrita e até re-
pudiada (FREUD, [1930] 1974, p. 125) quanto das restrições até para
a sexualidade genital heterossexual, apenas tolerada e confinada ao
casamento monogâmico. Essa super-repressão sexual gerou neurose,
revolta e hipocrisia.
O prognóstico para essa patologia neurótica é incerto, mas não
trágico. Conforme a bonita analogia entre um planeta que gira um tor-
no de um astro sem renunciar a sua própria rotação sobre si mesmo,
não seria utópico sonhar numa acomodação entre uma “ética de felici-
dade egoísta” e outra “altruísta” que atendessem tanto às necessidades
dos indivíduos-sujeitos quanto às exigências pragmáticas da cultura
(FREUD, [1930] 1974, p. 165). Essa luta, travada dentro da economia da
libido, é comparável àquela referente à sua distribuição entre o ego e os
objetos. Como é possível certa acomodação final no indivíduo, “pode-
mos esperar, também, o fará no futuro da civilização, por mais que atu-
almente essa civilização possa oprimir a vida do indivíduo” (FREUD,
[1930] 1974, p. 166).
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
Nietzsche e Freud 279
O paradoxo insolúvel se encontra na relação pulsão agressiva-
-cultura-sentimento de culpa.
O sentimento inconsciente de culpa e agressividade
A novidade de Freud com relação a Nietzsche na abordagem do
sentimento de culpa consiste em conectá-lo com uma dupla origem: a
ontogenética e a filogenética, a articulação da pequena história do de-
senvolvimento de cada um com a saga de Totem e tabu.
Desamparo infantil, medo da perda do amor, inicial “ansieda-
de social” (medo da autoridade), internalização da autoridade paterna
com a superação do complexo de Édipo, estabelecimento do superego
e o consequente medo desse olho de Deus secularizado, que substi-
tui uma ocasional infelicidade externa decorrente do castigo por uma
permanente infelicidade interna, constituem as etapas que levam ao
verdadeiro nascimento do sentimento inconsciente de culpa quando a
agressividade é punida mesmo que apenas desejada.
As analogias com o modelo filogenético do assassinato do pai
primevo são evidentes, excetuando-se que, nesse “fato histórico plau-
sível”, a “culpa primária” (FREUD, [1930] 1974, p. 160) deveu-se a uma
agressividade efetivamente consumada (FREUD, [1930] 1974). Nas
duas histórias, fica evidenciado o importante papel desempenhado
pelo amor na origem da consciência moral e a “fatal inevitabilidade do
sentimento de culpa” (FREUD, [1930] 1974, p. 156), expressão da ambi-
valência afetiva e da luta entre Eros e Tanatos. Expressa-se inicialmente
no complexo edipiano da família nuclear, seguida da família ampliada
em comunidades e destas até a humanidade como um todo. A esse
aumento do poder de Eros se encontra inextricavelmente ligado um
aumento de sentimento de culpa.
A partir dessa interpretação da vida como portadora de duas
pulsões, sendo que a pulsão muda da morte remete a uma “inata incli-
nação humana para a ruindade, a agressividade e a destrutividade, e
também para a crueldade” (FREUD, [1930] 1974, p. 142), o prognóstico
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
280 DI MATTEO, V.
é sem esperança. O mal-estar não é algo contingente, mas estrutural,
algo da alçada do ato de civilizar o homem.
Contra o gigante Tanatos só resta administrar o quantum excessi-
vo de agressividade do superego cultural, tentar diminuir suas exigên-
cias que podem levar o mal-estar, expressão do sentimento inconscien-
te de culpa, a níveis insuportáveis (FREUD, [1930] 1974) e, finalmente,
manter a pulsão de morte sempre imbricada com a de vida tanto para
o sujeito quanto para a cultura.
Superego cultural e neurose da cultura moderna
Especialmente no último capítulo, Freud retoma as analogias
entre o desenvolvimento libidinal do indivíduo e o processo civiliza-
tório (FREUD, [1930] 1974), entre o superego individual e o cultural,
mais especificamente entre neurose individual e sociedades neuróticas,
entre uma terapêutica individual e a de determinadas comunidades
culturais. Trata-se de uma analogia com suas semelhanças e importan-
tes diferenças por ser o processo civilizatório um “processo especial”
(FREUD, [1930] 1974, p. 118), e “amplia” a analogia, cedendo em parte
“à tarefa tentadora” de mostrar que também a comunidade desenvolve
um superego cultural de maneira semelhante à origem e ao desenvol-
vimento do superego individual.
Freud não rotula explicitamente a cultura moderna de neuró-
tica, mas há vários indícios que justificam esse diagnóstico, especial-
mente a constatação de que há uma íntima relação entre superego
individual e superego cultural. À neurose sexual decorrente das exi-
gências excessivas do superego individual e cultural já detectada em
Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (FREUD, [1908] 1976)
acrescenta-lhe, no livro de 1930, aquela que é filha da pulsão agressi-
va. Administrá-la adequadamente se torna “o mais importante pro-
blema no desenvolvimento da civilização” (FREUD, [1908] 1976, p.
158), na medida em que um superego muito rígido produzirá revolta,
neurose ou infelicidade (FREUD, [1908] 1976). A troca de “uma parce-
la de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança”
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
Nietzsche e Freud 281
(FREUD, [1908] 1976, p. 137), realizada pelo “homem civilizado” em
geral, se tornou ainda mais problemática e dolorosa na modernidade
porque o sofrimento do sujeito moderno provavelmente poderia ser
evitado (FREUD, [1908] 1976).
Diagnosticado o mal-estar com tanta lucidez, era de se esperar
que Freud nos apresentasse o remédio. Ele, porém, recusa-se a erguer-se
como um profeta para consolar corações e mentes. Cada um terá que
encontrar sua própria salvação para enfrentar a dureza da vida. Quanto
ao futuro ético que nos espera, seu pensamento oscila entre uma tênue
esperança de que o ser humano possa efetuar algumas alterações no
curso da civilização e um “talvez” de resignação diante de um conflito
intransponível (FREUD, [1908] 1976). Ao mesmo tempo, reconhece que,
por tratar do ponto mais doloroso de toda a civilização, das relações
dos seres humanos entre si, a ética pode ser considerada como uma
tentativa terapêutica (FREUD, [1908] 1976). Não é uma ética religiosa
ou “natural-narcísica”. É uma ética que exige uma recompensa da vir-
tude aqui na terra, uma ética até mesmo aberta para uma mudança real
nas relações dos seres humanos com a propriedade, mas sem perder-se
na “ilusão insustentável” dos socialistas que se equivocam a respeito
da natureza humana ao acreditarem que a luta de classe desaparecerá
com a abolição da propriedade privada (FREUD, [1908] 1976).
Considerações finais
É possível que a interpretação que apresentamos da leitura
que Nietzsche e Freud fizeram da modernidade deixou de lado mui-
tos outros aspectos que mereciam atenção. É, portanto, consciente ou
inconscientemente, expressão do “violentar, ajustar, abreviar, omitir,
preencher, imaginar, falsear e o que mais seja próprio da essência do
interpretar” (NIETZSCHE, [1887] 1998, p. 139). Acrescentaria, a esses
aspectos, a necessária contingência e historicidade que converte toda
e qualquer interpretação numa tarefa infinita. Como Nietzsche ([1887]
1998) nos ensinou, só é definível o que não tem história. Não é o caso,
portanto, de palavras como vida, cultura, culpa, doença, saúde, as quais
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
282 DI MATTEO, V.
foram ganhando uma rica polissemia ao longo dos séculos e que nos
forçam a pensá-las e redescrevê-las indefinidamente.
No momento, resumiria minhas considerações a dez pontos,
mais como homenagem do que como crítica aos dois “mestres da sus-
peita”, que também poderíamos considerar como “mestres da modés-
tia” por apresentarem suas ideias como hipóteses, conjecturas, opini-
ões, perspectivas, pontos de vista, experimentações (FREUD, [1930]
1976; NIETZSCHE, [1987] 1998).
1) Mesmo reconhecendo a pertinência da advertência nietzschia-
na com a qual abrimos nosso texto, ratifico a conveniência de
continuarmos essas aproximações. Elas nos podem ajudar a des-
cobrir os vários, talvez inúmeros, “Freuds” e “Nietzsches” que
encontraremos a cada releitura e privilegiar aquele Freud e aque-
le Nietzsche mais criativos, mais heurísticos, que nos ajudem a
enxergar mais longe e alargar a compreensão que temos de nós
mesmos e de nossa época.
2) Descontado o risco ideológico que sempre paira sobre teorias
aparentemente meta-históricas, ambos vieram relembrar ao ho-
mem que a crueldade, a agressividade e a destrutividade cons-
tituem antigos e provavelmente indeléveis substratos da cultura
(FREUD, [1930] 1974; NIETZSCHE, [1908] 1995).
3) Penso que a leitura que Nietzsche e Freud fazem da moderni-
dade assenta, fundamentalmente, numa crítica à concepção de
sujeito, psiquismo, racionalidade, consciência ou como queira se
denominar a compreensão exaltada que o homem moderno fez
de si mesmo a partir do chamado logocentrismo ocidental europeu.
A alternativa proposta é a primazia dada a uma determinada
concepção de vida, de instintos e de pulsões que permitem ex-
plicar e compreender o mundo orgânico, o desenvolvimento do
indivíduo empírico e até mesmo o desenvolvimento da cultura.
4) Até que ponto, porém, a concepção de vida (palavra pivô, o pressu-
posto dos pressupostos nietzschianos para julgar a valorização das
tábuas de valores de uma determinada moral e o critério último para
diferenciar saúde e doença) deve ser entendida, “essencialmente”,
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
Nietzsche e Freud 283
em suas funções básicas, como o que “atua ofendendo, violentan-
do, explorando, destruindo, não podendo sequer ser concebida sem
esse caráter”? (NIETZSCHE, [1887] 1998, p. 65). Trata-se de um fato
ou de “uma” interpretação que conserva as marcas de uma época?
5) Uma problematização parecida pode ser dirigida às duas pulsões
detectadas por Freud a partir de “especulações sobre o começo
da vida e de paralelos biológicos” (NIETZSCHE, [1887] 1998,
p. 141). Em ambos os casos, o que está em jogo é o problema de
uma teoria da vida e dos riscos ideológicos e metafísicos que a
perpassam.
6) É verdade que a ancoragem da cultura ao mundo das pulsões e
da vida vem nos lembrar a precariedade dela para solucionar os
problemas humanos, pois não possui uma autonomia essencial
sobre uma natureza, que parece indiferente à nossa felicidade ou
infelicidade (FREUD [1930] 1974). No entanto, não deveria nos
levar a dissolver o humano no biológico e no natural como se ne-
les se encontrasse o álibi ou a redenção de nossos comportamen-
tos culposos ao nos justificar de nossos “pecados” libidinosos ou
agressivos. É verdade, afirma Laplanche (1997), que o homem é,
às vezes, não apenas um vivente, mas uma besta agressiva e de-
pravada, mas remeter nosso fundo último à animalidade é uma
concepção puramente fabricada, ideológica.3
7) Com relação às patologias culturais, penso que a grade de leitura
da modernidade tanto de Nietzsche quanto de Freud não pode
ser transposta automaticamente para compreensão de nossas
patologias contemporâneas. No caso específico do fundador da
psicanálise, o que é questionável não é apenas o “mito científico”
do Pai da horda, já criticado pelos antropólogos. A própria teo-
ria do Édipo ontogenético, com muita probabilidade, é fruto do
momento histórico específico em que foi formulada, ao pensar o
indivíduo e seu mal-estar dentro de uma sociedade monogâmica
Conferência pronunciada na Universidad Nacional de Buenos Aires e na Universidad de La Republica, em Montevideo, em
3
outubro de 1997 e, no contexto da III Jornada Norte-Nordeste do Círculo Brasileiro de Psicanálise, II Jornada da Sociedade
Psicanalítica da Paraíba, de 7 a 9 de novembro de 1997 em João Pessoa. A conferência, traduzida e gentilmente distribuída
aos participantes, tem como título "Psicanálise e biologia: realidades e ideologias".
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
284 DI MATTEO, V.
e de capitalismo industrial (MARCUSE, 1970). Hoje, parece que
o superego cultural de que nos fala Freud foi substituído por um
novo tipo aparentemente mais fraco, mais liberal, menos exigen-
te e culpabilizador, mais tolerante e permissivo, mais afinado
com nossa sociedade de consumo. Mesmo assim, também esse
deus pós-moderno, como o deus de prótese descrito por Freud
(FREUD, [1930] 1974, p. 111), é também um deus infeliz e sua
infelicidade atende pelo nome de depressões, toxicomanias, sín-
drome do pânico, distúrbios alimentares (bulimia, anorexia),
ansiedade, angústia, desamparo, paranoia e mania. Segundo
os próprios psicanalistas (BIRMAN, 1999; COSTA, 2000), essas
novas formas de sofrimento e de modalidades de inscrição da
subjetividade no mundo da atualidade precisariam de novos ins-
trumentos interpretativos.
8) Esses novos diagnósticos e prognósticos não serão fornecidos
por uma razão solitária, mesmo que privilegiada como as de
Nietzsche e Freud. Será um empreendimento necessariamente
conjunto, fruto de uma multiplicidade de contribuições como
expressão concreta de uma “racionalidade comunicativa” que
dialoga ad intra com o mundo das ciências da vida e ad extra com
os outros e seus pluralismos culturais.
9) Construir um mundo pessoal e comunitário, que seja paradoxal-
mente mesmo e outro, singular e universal, mais livre e seguro,
menos sofrido se não puder ser feliz, será um esforço também
infindável, mas nosso, humano, mesmo que sobre-humano ou
simplesmente “pós-humano”. Não é animado por uma esperan-
ça de natureza religiosa, nem por uma certeza teleológica de ca-
ráter filosófico. Trata-se apenas de uma aposta na razoabilidade
dos humanos, sem as garantias de um final feliz.
10) No âmbito da micro-história individual, apesar de nosso assu-
jeitamento às forças das pulsões e às exigências normativas e
restritivas da cultura, sempre resta para cada um uma difícil e
inalienável tarefa ética, não apenas moral, isto é, de assumir a
própria vida sem as próteses da consolação e da ilusão e ten-
tar, na medida do possível, fazer dela uma obra de arte, uma
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
Nietzsche e Freud 285
invenção permanente de si mesmo a partir de uma convivência
pelo menos tolerante – se não puder ser amistosa – com todos
aqueles com os quais teremos que necessariamente compartilhar
uma história, um mundo, nossos sonhos e nossos pesadelos.
Referências
ASSOUN, P-L. Freud e Nietzsche: semelhanças e dessemelhanças. 2. ed. São
Paulo: Brasiliense, 1991.
BIRMAN, J. O mal-estar na atualidade: a psicanálise e novas formas de sub-
jetivação [da pós-modernidade]. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
COSTA, J. F. Playdoier pelos irmãos. In: KEHL, M. R. (Org.). Função fraterna.
Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. p. 7-30.
FREUD, S. Moral sexual “civilizada” e doença nervosa moderna. Edição
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago,
1976. Publicado originalmente em 1908.
FREUD, S. Além do princípio do prazer. Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1976. Publicado originalmente
em 1920.
FREUD, S. O ego e o id. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas
Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1976. Publicado originalmente em 1923.
FREUD, S. O mal-estar na civilização. Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1974. Publicado originalmente
em 1930.
FREUD, S. Novas conferências introdutórias sobre a psicanálise: conferên-
cia XXXV: a questão de uma Weltanschauung. Edição Standard Brasileira das
Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1976. Publicado origi-
nalmente em 1933.
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
286 DI MATTEO, V.
LAPLANCHE, L. Psicanálise e biologia: realidades e ideologias. In: JORNADA
NORTE-NORDESTE DO CÍRCULO BRASILEIRO DE PSICANÁLISE, 3.;
JORNADA DA SOCIEDADE PSICANALÍTICA DA PARAÍBA, 2., 1997. João
Pessoa. Anais...João Pessoa: [s.n.], 1997.
MARCUSE, H. O envelhecimento da psicanálise. In: REICH, W. et al. Psi
canálise e sociedade. Lisboa: Presença, 1970.
MARCUSE, H. A noção de progresso à luz da psicanálise. In: MARCUSE, H.
Cultura e psicanálise. São Paulo: Paz e Terra, 2001. p. 112-138.
NIETZSCHE, F. Aurora. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. Publicado
originalmente em 1881.
NIETZSCHE, F. A gaia ciência. São Paulo: Hemus, 1976. Publicado original-
mente em 1882.
NIETZSCHE, F. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia
das Letras, 1998. Publicado originalmente em 1887.
NIETZSCHE, F. O crepúsculo dos ídolos, ou como filosofar com o martelo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2006. Publicado originalmente em 1888.
NIETZSCHE, F. Ecce Homo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Publicado
originalmente em 1908.
PONTALIS, J.-B. Atualidade do mal-estar. In: PONTALIS, J.-B. Perder de vista.
Rio de Janeiro: J. Zahar, 1991.
ROUANET, S. P. Mal-estar na modernidade. São Paulo: Companhia das
Letras, 1993.
Recebido: 23/06/2011
Received: 06/23/2011
Aprovado: 21/07/2011
Approved: 07/21/2011
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 23, n. 33, p. 269-286, jul./dez. 2011
Você também pode gostar
- Nietzsche, Filósofo Da Cultura - Revista CultDocumento4 páginasNietzsche, Filósofo Da Cultura - Revista CultJeverton Soares Dos SantosAinda não há avaliações
- Friedrich NietzscheDocumento30 páginasFriedrich NietzscheKaíke TavaresAinda não há avaliações
- Bingo Das VirtudesDocumento42 páginasBingo Das VirtudesMaria L De Freitas76% (17)
- Arvore de ValoresDocumento19 páginasArvore de ValoresSARA100% (1)
- Politica de Compras Hospital São PauloDocumento17 páginasPolitica de Compras Hospital São PauloSilvio Ferreira Corrêa100% (2)
- Blair Warren - S Forbidden Keys To PersuasionDocumento142 páginasBlair Warren - S Forbidden Keys To PersuasionEduardo Alves de LemosAinda não há avaliações
- Nietzsche - Do Niilismo Ao Naturalismo Na MoralDocumento124 páginasNietzsche - Do Niilismo Ao Naturalismo Na MoralLeandro RodriguesAinda não há avaliações
- Avaliação Formativa I - AP3 Etica (Madson)Documento21 páginasAvaliação Formativa I - AP3 Etica (Madson)erica ursulino pontes100% (4)
- Processo SAUDE DOENCA MENTAL PDFDocumento22 páginasProcesso SAUDE DOENCA MENTAL PDFcarlosedrapsiAinda não há avaliações
- Perec Aproximação Das Coisas ComunsDocumento4 páginasPerec Aproximação Das Coisas ComunsRenan SoaresAinda não há avaliações
- APPOA - Estruturas Clíncias, Revista 38-2 PDFDocumento56 páginasAPPOA - Estruturas Clíncias, Revista 38-2 PDFTatiane LindemannAinda não há avaliações
- A proposta ético-estética de Nietzsche: da crítica ao último homem à condução artística da vida cotidianaNo EverandA proposta ético-estética de Nietzsche: da crítica ao último homem à condução artística da vida cotidianaAinda não há avaliações
- Oswaldo Giacóia JR - Nietzsche (Coleção Folha Explica) (PDF) (Rev)Documento57 páginasOswaldo Giacóia JR - Nietzsche (Coleção Folha Explica) (PDF) (Rev)LuizAlbertoNeto100% (2)
- Nietzsche Do Niilismo Ao Naturalismo Da MoralDocumento124 páginasNietzsche Do Niilismo Ao Naturalismo Da MoralFlavio Sousa100% (1)
- O tipo psicológico do homem inventor de religião em Aurora de NietzscheNo EverandO tipo psicológico do homem inventor de religião em Aurora de NietzscheAinda não há avaliações
- Nietzsche SlideDocumento7 páginasNietzsche SlideMarcus Vinicios P da Silva100% (2)
- Nietzsche Artigo Introdu oDocumento9 páginasNietzsche Artigo Introdu oAnderson PereiraAinda não há avaliações
- 4 Instrucao Do AprendizDocumento6 páginas4 Instrucao Do AprendizAlberto Nunes100% (5)
- As Diversas Ordens SociaisDocumento1 páginaAs Diversas Ordens Sociaisbiestavel0% (1)
- Sobre Os Textos Sociais de Freud - Christian DunkerDocumento5 páginasSobre Os Textos Sociais de Freud - Christian DunkerRicardo Almeida PradoAinda não há avaliações
- Discutindo o Conceito de Relativismo Cultural Abrangências e LimitesDocumento10 páginasDiscutindo o Conceito de Relativismo Cultural Abrangências e LimitesWallace FerreiraAinda não há avaliações
- Novo Codigo de Etica em Enfermagem Parte VDocumento28 páginasNovo Codigo de Etica em Enfermagem Parte VEduarda OnorioAinda não há avaliações
- O Ocaso Da Interioridade e Suas Repercussões Sobre A ClínicaDocumento16 páginasO Ocaso Da Interioridade e Suas Repercussões Sobre A ClínicaLiaAinda não há avaliações
- Tongeren - Niilismo Odesafiador Diagnóstico de Nietzsche para Nossa Cultura Do Século XX e XXIDocumento9 páginasTongeren - Niilismo Odesafiador Diagnóstico de Nietzsche para Nossa Cultura Do Século XX e XXIVlkaizerhotmail.com KaizerAinda não há avaliações
- Aula 5 - FilosofiaDocumento20 páginasAula 5 - Filosofiagabriel.centenaro1998Ainda não há avaliações
- Manicômio e Loucura - Paulo AmaranteDocumento4 páginasManicômio e Loucura - Paulo AmaranteMelissa Gabrielle Costa de AzevedoAinda não há avaliações
- A Genealogia Da MoralDocumento4 páginasA Genealogia Da MoralFateru Coordenador FateruAinda não há avaliações
- Extensivoenem Filosofia Nietzsche - Niilismo 06 09 2019Documento8 páginasExtensivoenem Filosofia Nietzsche - Niilismo 06 09 2019David LimaAinda não há avaliações
- RESENHA L FrezzattiDocumento13 páginasRESENHA L FrezzattiKatieli P.Ainda não há avaliações
- Inicio de ProjetoDocumento7 páginasInicio de ProjetoTropeços FilosóficosAinda não há avaliações
- COLÓQUIO Rascunho2Documento14 páginasCOLÓQUIO Rascunho2Alessandra SantosAinda não há avaliações
- SILVA. Nietzsche - Educação, Cultura e SubjetividadeDocumento20 páginasSILVA. Nietzsche - Educação, Cultura e SubjetividadePaulo Rogério Da SilvaAinda não há avaliações
- Projeto de Tese - o Problema Da Morte de Deus Nietzsche Na Atualidade.Documento18 páginasProjeto de Tese - o Problema Da Morte de Deus Nietzsche Na Atualidade.Alessandra SantosAinda não há avaliações
- Trabalho Nietzsche e o Cânone 2Documento17 páginasTrabalho Nietzsche e o Cânone 2Alessandra SantosAinda não há avaliações
- Julião - Um Ensaio Sobre o Niilismo em NietzscheDocumento22 páginasJulião - Um Ensaio Sobre o Niilismo em NietzscheVlkaizerhotmail.com KaizerAinda não há avaliações
- Aline SanchesDocumento11 páginasAline SanchesKarina MartinianoAinda não há avaliações
- Artigo ZaratustraDocumento22 páginasArtigo ZaratustraMiguel MoutinhoAinda não há avaliações
- Mapa Mental NietzscheDocumento3 páginasMapa Mental NietzscheJoão HenriqueAinda não há avaliações
- Civilização e Cultura em Nietzsche: Domesticação e ElevaçãoDocumento8 páginasCivilização e Cultura em Nietzsche: Domesticação e ElevaçãoCatarina SforzaAinda não há avaliações
- Niilismo e Vontade de Verdade No Pensamento de NietzscheDocumento21 páginasNiilismo e Vontade de Verdade No Pensamento de NietzscheJoão Paulo Vilas BoasAinda não há avaliações
- Editorx08, Gerente Da Revista, 3354-8456-1-CEDocumento14 páginasEditorx08, Gerente Da Revista, 3354-8456-1-CEgvitorino284Ainda não há avaliações
- Trans-Humanismo e NietzscheDocumento24 páginasTrans-Humanismo e NietzschemiticodarkAinda não há avaliações
- Introdução À AntropologiaDocumento21 páginasIntrodução À AntropologiaMarcos Beal100% (1)
- 62452-Texto Do Artigo-296175-1-10-20201005Documento43 páginas62452-Texto Do Artigo-296175-1-10-20201005Conceicao Maria SousaAinda não há avaliações
- Fichamento NietzscheDocumento16 páginasFichamento NietzscheRafael DuarteAinda não há avaliações
- NiilismoDocumento16 páginasNiilismoWilliam VieiraAinda não há avaliações
- Psicofármacos e Psicanálise PDFDocumento15 páginasPsicofármacos e Psicanálise PDFcoimbravalerio100% (1)
- Psicanalise Na ContemporaneidadeDocumento12 páginasPsicanalise Na ContemporaneidadeJosé RubenAinda não há avaliações
- Ladic,+v20n2 5Documento20 páginasLadic,+v20n2 5Eduardo ParreiraAinda não há avaliações
- Uma Historia Da Verdade Flavio FerrariDocumento16 páginasUma Historia Da Verdade Flavio FerrariFlavio ferrariAinda não há avaliações
- Cultura e Educação No Pensamento Do Jovem Nietzsche, Pp. 138-153Documento16 páginasCultura e Educação No Pensamento Do Jovem Nietzsche, Pp. 138-153Rayssa FonsecaAinda não há avaliações
- Friedrich Nietzsche: Análise Literária: Compêndios da filosofia, #3No EverandFriedrich Nietzsche: Análise Literária: Compêndios da filosofia, #3Ainda não há avaliações
- Epistemologia em NietzscheDocumento7 páginasEpistemologia em NietzscheMarco ZulianAinda não há avaliações
- Nietzsche - Origem Da FilosofiaDocumento20 páginasNietzsche - Origem Da FilosofiajocimarjuniorAinda não há avaliações
- Mendonça - Nietzsche e A Arte Gaia Ciência Como Possível Antídoto Contra o NiilismoDocumento18 páginasMendonça - Nietzsche e A Arte Gaia Ciência Como Possível Antídoto Contra o NiilismoVlkaizerhotmail.com KaizerAinda não há avaliações
- Artigo 06 - O Paradoxal Estatuto Do Conhecimento JornalísticoDocumento18 páginasArtigo 06 - O Paradoxal Estatuto Do Conhecimento JornalísticoSamuel Carvalho GonçalvesAinda não há avaliações
- Trabalho Nietzsche e o CânoneDocumento16 páginasTrabalho Nietzsche e o CânoneAlessandra SantosAinda não há avaliações
- Revisao OverDocumento19 páginasRevisao OverPhillipe Castro de LiraAinda não há avaliações
- Aula 22-09-21Documento26 páginasAula 22-09-21suellen.acsfAinda não há avaliações
- A Crítica de Nietzsche A Cultura de MassaDocumento11 páginasA Crítica de Nietzsche A Cultura de MassaLinhares JuniorAinda não há avaliações
- Nietzsche e Os Estudos Históricos: Elogios e CríticasDocumento9 páginasNietzsche e Os Estudos Históricos: Elogios e CríticasranildoAinda não há avaliações
- Naffah Neto - Cadernos Nietzsche (1997)Documento8 páginasNaffah Neto - Cadernos Nietzsche (1997)Ale UnzagaAinda não há avaliações
- O FRAGMENTADO SUJEITO P+ôS-MODERNO E A RELIGI+âO MIDI+üTICADocumento11 páginasO FRAGMENTADO SUJEITO P+ôS-MODERNO E A RELIGI+âO MIDI+üTICAKarla Patriota BronszteinAinda não há avaliações
- Aula01 Etica PoliticaDocumento3 páginasAula01 Etica PoliticaGabriel BrandãoAinda não há avaliações
- Dialética 20do 20esclarecimento 20histDocumento8 páginasDialética 20do 20esclarecimento 20histKamylinha NuzziAinda não há avaliações
- Psi Cult Gen CliDocumento12 páginasPsi Cult Gen CliJefersonAinda não há avaliações
- Antístenes e A Fundação Do CinismoDocumento17 páginasAntístenes e A Fundação Do CinismoPedro Efken100% (1)
- A Criança de Ontem e de HojeDocumento6 páginasA Criança de Ontem e de HojePedro EfkenAinda não há avaliações
- Paulo Freire - Educacao Bancária e Educacao LibertadoraDocumento9 páginasPaulo Freire - Educacao Bancária e Educacao LibertadoraPedro EfkenAinda não há avaliações
- Pai Ausente Filho Carente - Guy CorneauDocumento18 páginasPai Ausente Filho Carente - Guy CorneauPedro Efken0% (1)
- Compulsão À Repetição e o Princípio de Prazer - Andre GreenDocumento9 páginasCompulsão À Repetição e o Princípio de Prazer - Andre GreenPedro EfkenAinda não há avaliações
- Freud e A Perversao Wallas PDFDocumento117 páginasFreud e A Perversao Wallas PDFPedro EfkenAinda não há avaliações
- Eletivas: Eeefm Eurico Salles 2023Documento23 páginasEletivas: Eeefm Eurico Salles 2023Rita Helena Andrade SachtAinda não há avaliações
- CARVALHO, Amilton Bueno. A Lei. O Juiz. O Justo PDFDocumento21 páginasCARVALHO, Amilton Bueno. A Lei. O Juiz. O Justo PDFAna Carolina Do Carmo PereiraAinda não há avaliações
- Filo Contemporânea - Chaui - Convite À Filosofia - Capítulo 5Documento5 páginasFilo Contemporânea - Chaui - Convite À Filosofia - Capítulo 5Alessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- Adolphe Tanquerey - Compêndio de Teologia Ascética e MísticaDocumento22 páginasAdolphe Tanquerey - Compêndio de Teologia Ascética e MísticaherodothoAinda não há avaliações
- Artigo Educação Profissional Tecnológica e PsicologiaDocumento15 páginasArtigo Educação Profissional Tecnológica e PsicologiaDanielaDiasAinda não há avaliações
- Modelo de Plano - ENSINO RELIGIOSODocumento4 páginasModelo de Plano - ENSINO RELIGIOSOvanessa9990% (1)
- Aula Degustação PDFDocumento14 páginasAula Degustação PDFCésar MascarenhaAinda não há avaliações
- Planejamento Anual Filosofia 2021Documento3 páginasPlanejamento Anual Filosofia 2021PauloMarchioriCorteAinda não há avaliações
- A Psi Nas Situações de Emergência e Desastres Uma Reflexão HumanistaDocumento42 páginasA Psi Nas Situações de Emergência e Desastres Uma Reflexão HumanistaAngelo CatarimAinda não há avaliações
- Cópia de Ética e Novas TecnologiasDocumento24 páginasCópia de Ética e Novas Tecnologiasrayanni.freireAinda não há avaliações
- O Vestígio e A Aura - Jurandir Freire - OCRDocumento37 páginasO Vestígio e A Aura - Jurandir Freire - OCRThomaz VilelaAinda não há avaliações
- O Homem e o Trabalho PDFDocumento15 páginasO Homem e o Trabalho PDFmerlinsrAinda não há avaliações
- Ago10 Juízosmorais 6Documento12 páginasAgo10 Juízosmorais 6Matilde MendesAinda não há avaliações
- Filosofia Jurídica PDFDocumento17 páginasFilosofia Jurídica PDFRo OoAinda não há avaliações
- A Etica e Deontologia Profissional 2Documento22 páginasA Etica e Deontologia Profissional 2Sheila De AlmeidaAinda não há avaliações
- Dei 1Documento65 páginasDei 1Marta FilipeAinda não há avaliações
- TPT - Introdução À TeologiaDocumento30 páginasTPT - Introdução À TeologiaSolange Rodriguez YokomizoAinda não há avaliações
- DEVRIES Rheta ZAN Betty. Uma Abordagem Construtivista PDFDocumento11 páginasDEVRIES Rheta ZAN Betty. Uma Abordagem Construtivista PDFKaluana Bertoluci BryanAinda não há avaliações
- Modelos de Fichamento e TextoDocumento8 páginasModelos de Fichamento e Textojoaolucas06Ainda não há avaliações
- Albertina Vicentini - Questões Sobre Tradução PDFDocumento16 páginasAlbertina Vicentini - Questões Sobre Tradução PDFDelcides MarquesAinda não há avaliações
- Lei Da Boa RazãoDocumento3 páginasLei Da Boa RazãoPedroAinda não há avaliações