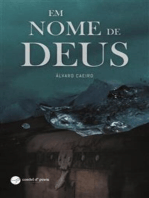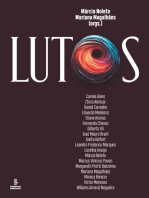Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2 - A Vida Começa Pela Morte
Enviado por
Letícia Yasmim Lima0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações1 páginaO documento discute como a morte revela a singularidade e a possibilidade de uma história própria para cada pessoa. Ele conta a história de como o pai do autor superou o medo de morrer aos 58 anos como seu avô, permitindo-se viver plenamente. Também discute como as pessoas tendem a viver de acordo com as histórias dos outros em vez de suas próprias histórias únicas, e como a consciência da mortalidade pode nos libertar para assumir nossas vidas.
Descrição original:
Título original
2- A Vida Começa Pela Morte
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO documento discute como a morte revela a singularidade e a possibilidade de uma história própria para cada pessoa. Ele conta a história de como o pai do autor superou o medo de morrer aos 58 anos como seu avô, permitindo-se viver plenamente. Também discute como as pessoas tendem a viver de acordo com as histórias dos outros em vez de suas próprias histórias únicas, e como a consciência da mortalidade pode nos libertar para assumir nossas vidas.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações1 página2 - A Vida Começa Pela Morte
Enviado por
Letícia Yasmim LimaO documento discute como a morte revela a singularidade e a possibilidade de uma história própria para cada pessoa. Ele conta a história de como o pai do autor superou o medo de morrer aos 58 anos como seu avô, permitindo-se viver plenamente. Também discute como as pessoas tendem a viver de acordo com as histórias dos outros em vez de suas próprias histórias únicas, e como a consciência da mortalidade pode nos libertar para assumir nossas vidas.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 1
São Paulo, quinta-feira, 27 de março de 2003
A vida começa pela morte
Perto de completar 58 anos, meu pai começou a agir de modo muito estranho, a ponto de
eu temer por sua vida. Passado seu aniversário, ele se recuperou. Dias depois, comentou
que seu pai havia morrido, vítima de um ataque de angina, aos 58 anos. Como todos os
achavam muito parecidos não só fisicamente mas no temperamento e jeito de ser, meu pai
conservara a crença de que morreria como meu avô. O aniversário de 58 anos era uma
data simbólica para ele. Como não morreu, deu-se conta de ter importado para si mesmo
uma história que não era a dele. Tinha permanecido refém da história de meu avô. Assim
esclarecido, meu pai pôde voltar-se para projetos que deixara guardados e que a morte
imaginada tornara impossíveis. Ele começou a viver naquele momento, porque a história
que podia ver então à sua frente era a de si mesmo. No filme "Crimes do Coração", três
mulheres, cuja mãe se suicidara não conseguem acertar o rumo de suas vidas enquanto
não desmancham a crença de que o suicídio era também o seu destino. Como meu pai e
essas mulheres, todos nós agimos da mesma maneira, embaralhando distraídos e
constantemente nossas histórias nas dos outros: por identificação, por amor, por medo, por
inércia ou porque é próprio dos seres humanos viver a vidas tendo os outros como
exemplo. Mas há momentos especiais, em que somos convocados a nos "desmisturar" - a
enxergar nossa singularidade e a possibilidade de uma história mais própria, realizada em
nosso próprio nome. São os momentos em que nos damos conta de que somos mortais.
Sempre se diz que, "para morrer, basta estar vivo" ou que "ninguém fica para semente",
que "cada um tem a sua hora"..., porém essas verdades soam distantes, como se não nos
dissessem respeito. No entanto, por ocasião de alguma doença, do envelhecimento ou da
perda de alguém, entendemos o inevitável: nossa vida tem um fim. Morrer deixa de ser um
acontecimento fortuito ou acidental. Ele nos pertence como nosso último gesto. Morrer
revela-se intrínseco à vida, definindo sua duração. Não são relógios e calendários que
marcam o tempo da nossa existência pessoal, mas nossa própria morte. E, no entanto,
não há como saber quando e como morreremos. Não há como escapar da morte ou
transferir para outros o nosso morrer. Não há como obter dos mortos um exemplo nem
algum comentário sobre como é morrer. Sabemos dos sentidos da morte, mas não
podemos saber como é morrer. Ninguém fala da morte sem sentir medo, angústia ou, no
mínimo, um incômodo. Daí que evitarmos tocar no assunto (há quem se benza, bata na
madeira, sinta um arrepio). Pelo pensamento, contudo, podemos aproximar a morte em
idéia, e não em realidade. Se conseguirmos enfrentar e atravessar a aversão imediata que
ela nos causa, será possível encontrar um tesouro escondido nas suas trevas. Morre quem
nasceu, quem veio à luz do mundo como um indivíduo único, exclusivo, inimitável e cuja
tarefa mais elementar é a de emprestar à vida a sua maneira. Entre nosso nascer e nosso
morrer, está a estrada a que chamamos existência. Sua travessia coincide com a
realização de nossa história peculiar e da pessoa que somos. Evitando aceitar nossa
própria morte, evitamos acolher também nossa própria existência e a história que só nós
podemos escrever. Nossa identidade não está no ente que somos, mas na história que
realizamos. O morrer abre o viver em nome próprio. Esse é o tesouro enterrado sob o
manto escuro da morte. Encontrá-lo nos faz sensíveis a nós mesmos e nos dá liberdade
para nos apossarmos da história que, por nascermos, nos foi entregue sob
responsabilidade pessoal.
DULCE CRITELLI, professora de filosofia da PUC-SP, é autora dos livros "Educação e
Dominação Cultural" e "Analítica do Sentido" e coordenadora do Existentia - Centro de
Orientação e Estudos da Condição Humana
Você também pode gostar
- Lista 2Documento4 páginasLista 2Giovanna BorgesAinda não há avaliações
- O que é o luto: Como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perdaNo EverandO que é o luto: Como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perdaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Descritores e DistratoresDocumento16 páginasDescritores e DistratoresTarcísio José Morais50% (2)
- Case OsklenDocumento85 páginasCase OsklenluanapmAinda não há avaliações
- Avaliação Formativa II - Revisão Da TentativaDocumento15 páginasAvaliação Formativa II - Revisão Da TentativaJoaquim Neto100% (1)
- KOVÁCS - Morte e Desenvolvimento Humano - Capítulos 1 e 9Documento29 páginasKOVÁCS - Morte e Desenvolvimento Humano - Capítulos 1 e 9Luiz Manoel MartinsAinda não há avaliações
- Essência da Existência: o sol que está tão longe... mas parece tão pertoNo EverandEssência da Existência: o sol que está tão longe... mas parece tão pertoAinda não há avaliações
- Morte e Morrer Prova Resumo ..Documento5 páginasMorte e Morrer Prova Resumo ..lailaAinda não há avaliações
- Morte InsightsDocumento2 páginasMorte InsightsMayelle Batista da SilvaAinda não há avaliações
- Suicídio É Algo Complexo de Mais para VocêDocumento2 páginasSuicídio É Algo Complexo de Mais para VocêVictor AtaideAinda não há avaliações
- A Criança e o Luto - A Vivência Da Morte Na InfânciaDocumento14 páginasA Criança e o Luto - A Vivência Da Morte Na InfânciaTalita GomesAinda não há avaliações
- Revista Grito de Alerta Vol.I Suicidio.Documento17 páginasRevista Grito de Alerta Vol.I Suicidio.AD CIDADE CUMBICA OFICIAL ANGELICAL KIDSAinda não há avaliações
- Espero Que Voce Morra - Ricardo VenturaDocumento328 páginasEspero Que Voce Morra - Ricardo VenturaDireitoUnilago Segundo Semestre2019100% (1)
- Espero Que VC MorraDocumento296 páginasEspero Que VC MorraThamyris SouzaAinda não há avaliações
- Morrer não dói: histórias de alguns pacientes marcantes na prática cirúrgicaNo EverandMorrer não dói: histórias de alguns pacientes marcantes na prática cirúrgicaAinda não há avaliações
- Cuidar Dos MortosDocumento58 páginasCuidar Dos MortosedibioAinda não há avaliações
- Quando MorremosDocumento28 páginasQuando MorremosCarlosAinda não há avaliações
- O Ser e o NadaDocumento6 páginasO Ser e o NadaRafael Simião OliveiraAinda não há avaliações
- QUE EU ESTOU FAZENDO COM A MINHA VIDA em PortuguesDocumento108 páginasQUE EU ESTOU FAZENDO COM A MINHA VIDA em PortuguesFlavio Silvano IdealAinda não há avaliações
- O Luto e o Silêncio Da MorteDocumento5 páginasO Luto e o Silêncio Da MorteFrancisco Rafael Da Silva DiasAinda não há avaliações
- Safranski, R. A - Morte - de - SocratesDocumento9 páginasSafranski, R. A - Morte - de - SocratesEDUARDO ADIRBAL ROSAAinda não há avaliações
- Luto por suicídio e posvenção: A outra margemNo EverandLuto por suicídio e posvenção: A outra margemAinda não há avaliações
- Somos Herdeiros de Estrelas Mortas - AZDocumento3 páginasSomos Herdeiros de Estrelas Mortas - AZAmanda SilvestreAinda não há avaliações
- Artigo Sobre A Morte e o MorrerDocumento8 páginasArtigo Sobre A Morte e o MorrerLigia ClaudiaAinda não há avaliações
- Mary Roach - Curiosidade Morbida PDFDocumento204 páginasMary Roach - Curiosidade Morbida PDFDaiany Caroline JonerAinda não há avaliações
- The Book ThiefDocumento3 páginasThe Book ThiefSabrina NerisAinda não há avaliações
- Morte e Desenvolvimento HumanoDocumento5 páginasMorte e Desenvolvimento HumanosupernutritivoAinda não há avaliações
- A Morte Iniciatica Do MaçonDocumento5 páginasA Morte Iniciatica Do Maçonmarcello pellegrinoAinda não há avaliações
- O Livro Do Viver e Do Morrer BaixeculturaDocumento112 páginasO Livro Do Viver e Do Morrer BaixeculturaHébert PimentelAinda não há avaliações
- Em Defesa Da Vida - Alguns Argumentos Contra o Suicidio (Rubens Santini)Documento24 páginasEm Defesa Da Vida - Alguns Argumentos Contra o Suicidio (Rubens Santini)Rubens SantiAinda não há avaliações
- Trechos Paixão Segundo GHDocumento6 páginasTrechos Paixão Segundo GHFábio KelbertAinda não há avaliações
- Morrer, A Plenitude Do Nascer PDFDocumento8 páginasMorrer, A Plenitude Do Nascer PDFKarla ChugamAinda não há avaliações
- Frases Sobre A MorteDocumento4 páginasFrases Sobre A MortePaulo Alves LinsAinda não há avaliações
- Aula 06 - E - PsicologiaDocumento47 páginasAula 06 - E - PsicologiaIzac SouzaAinda não há avaliações
- Os Destinos Do Extremo PDFDocumento3 páginasOs Destinos Do Extremo PDFSsica_AvelinoAinda não há avaliações
- MetodEstLit LAC Antologia TextosPoeticosDocumento15 páginasMetodEstLit LAC Antologia TextosPoeticosDiana GonçalvesAinda não há avaliações
- 6 - Sentido de Vida e Historia PessoalDocumento2 páginas6 - Sentido de Vida e Historia PessoalLetícia Yasmim LimaAinda não há avaliações
- Tanatologia z3pf2Documento8 páginasTanatologia z3pf2Víviam SantanaAinda não há avaliações
- Camus e o Sentido Da VidaDocumento3 páginasCamus e o Sentido Da VidalbeliniAinda não há avaliações
- Gaston BachelardDocumento9 páginasGaston BachelardSamuel DuarteAinda não há avaliações
- Aprender A Morrer o Medo Da Morte HomeopatiaDocumento88 páginasAprender A Morrer o Medo Da Morte HomeopatiaBertha Regina IgnácioAinda não há avaliações
- Apresentado Por: Marina Sales Rodrigues Da SilvaDocumento29 páginasApresentado Por: Marina Sales Rodrigues Da SilvaCaroline VanzinAinda não há avaliações
- Lídia Jorge Costa Dos MurmúriosDocumento2 páginasLídia Jorge Costa Dos MurmúriosLexas12345100% (1)
- O Medo Da LiberdadeDocumento5 páginasO Medo Da LiberdadeGonzalo CNAinda não há avaliações
- Resumo História Pessaol e Sentido Da VidaDocumento2 páginasResumo História Pessaol e Sentido Da VidaElisane SouzaAinda não há avaliações
- A Morte de Ivan IlitchDocumento15 páginasA Morte de Ivan IlitchMarcio SouzaAinda não há avaliações
- A Morte de Ivan IlitchDocumento15 páginasA Morte de Ivan IlitchLaurindo PanzoAinda não há avaliações
- O Alvorecer Do CéticoDocumento100 páginasO Alvorecer Do CéticonatintriplethreeAinda não há avaliações
- Ansioliticos - BZDDocumento31 páginasAnsioliticos - BZDLetícia Yasmim LimaAinda não há avaliações
- AntipsicoticosDocumento22 páginasAntipsicoticosLetícia Yasmim LimaAinda não há avaliações
- Altas Habilidades PsicologiaDocumento39 páginasAltas Habilidades PsicologiaLetícia Yasmim LimaAinda não há avaliações
- AntidepressivosDocumento54 páginasAntidepressivosLetícia Yasmim LimaAinda não há avaliações
- Teoria Humanista SlideDocumento17 páginasTeoria Humanista SlideLetícia Yasmim LimaAinda não há avaliações
- 6 - Sentido de Vida e Historia PessoalDocumento2 páginas6 - Sentido de Vida e Historia PessoalLetícia Yasmim LimaAinda não há avaliações
- 3 - Entre o Que o Que Não e Mais e o Que Nao e AindaDocumento1 página3 - Entre o Que o Que Não e Mais e o Que Nao e AindaLetícia Yasmim LimaAinda não há avaliações
- 1 - Morar, Cuidar, SerDocumento1 página1 - Morar, Cuidar, SerLetícia Yasmim LimaAinda não há avaliações
- 4 - Independencia Ou InterdependenciaDocumento1 página4 - Independencia Ou InterdependenciaLetícia Yasmim LimaAinda não há avaliações
- I Congresso Das Ciências Do OcultoDocumento19 páginasI Congresso Das Ciências Do OcultoJoseph Nithaiah100% (3)
- AVALIAÇÃO PARCIAL DE FÍSICA 1 AnoDocumento3 páginasAVALIAÇÃO PARCIAL DE FÍSICA 1 AnoizzyeurichAinda não há avaliações
- Apostila Dance e Recrie o Mundo Iniciando o Caminho Da Danc3a7aDocumento53 páginasApostila Dance e Recrie o Mundo Iniciando o Caminho Da Danc3a7aClaudine FalkAinda não há avaliações
- 20 Ficções Breves Contos e Cuentos PDFDocumento208 páginas20 Ficções Breves Contos e Cuentos PDFFatima AliAinda não há avaliações
- Teste Modelo 2 - 10º AnoDocumento5 páginasTeste Modelo 2 - 10º Anopaulofeitais100% (1)
- Livro Revelador Fala de Dramas e Obsessões de Richard SerraDocumento2 páginasLivro Revelador Fala de Dramas e Obsessões de Richard SerraVachevertAinda não há avaliações
- Sociologia - 3º Ano - WeberDocumento13 páginasSociologia - 3º Ano - WeberAaimr StevemAinda não há avaliações
- Etapa 1 - Sub Program A 2010 - Caderno CATETINHODocumento22 páginasEtapa 1 - Sub Program A 2010 - Caderno CATETINHOLucas GomesAinda não há avaliações
- História Da Ciência e Sua EvoluçãoDocumento2 páginasHistória Da Ciência e Sua EvoluçãoVitoria MirandaAinda não há avaliações
- Hino TJMGDocumento11 páginasHino TJMGFrancisco CarlosAinda não há avaliações
- Vygotski - Aprendizado e Desenvolvimento. Um Processo Sócio-HistóricoDocumento19 páginasVygotski - Aprendizado e Desenvolvimento. Um Processo Sócio-HistóricoTiago Caetano Martins100% (1)
- Ebook Gratuito Scrum Pmbok PDFDocumento52 páginasEbook Gratuito Scrum Pmbok PDFFabio Schneider100% (1)
- Verbos FrancêsDocumento9 páginasVerbos FrancêsThiago VieiraAinda não há avaliações
- Monografia PowerpointDocumento14 páginasMonografia PowerpointifuanduAinda não há avaliações
- Colocação PronominalDocumento22 páginasColocação PronominalJacky ReisAinda não há avaliações
- Monografia Eduardo Batista PDFDocumento176 páginasMonografia Eduardo Batista PDFFabrício DiasAinda não há avaliações
- Função CompostaDocumento54 páginasFunção CompostaMonique Nogueira100% (2)
- Atv 3° 1tri Ética-H2015Documento3 páginasAtv 3° 1tri Ética-H2015Marcos GoulartAinda não há avaliações
- 2 Trabalho de Psicologia GeralDocumento16 páginas2 Trabalho de Psicologia GeralArmando JuniorAinda não há avaliações
- Lista de Verifica - o ISO9001 2000 Auditoria InternaDocumento29 páginasLista de Verifica - o ISO9001 2000 Auditoria InternajoburbanoAinda não há avaliações
- A in Depend en CIA de AngolaDocumento248 páginasA in Depend en CIA de AngolaMMilbarAinda não há avaliações
- Introdução À Engenharia de Manutenção PDFDocumento2 páginasIntrodução À Engenharia de Manutenção PDFS. ChavesAinda não há avaliações
- Por Que Jesus Veio À Terra?Documento10 páginasPor Que Jesus Veio À Terra?jcruzAinda não há avaliações
- Arte RealismoDocumento31 páginasArte RealismoAdrianaAinda não há avaliações
- Ifi Amadiume - A Teoria Dos Valores Matriarcais de Cheikh Anta Diop Como Base para A Unidade Cultural AfricanaDocumento14 páginasIfi Amadiume - A Teoria Dos Valores Matriarcais de Cheikh Anta Diop Como Base para A Unidade Cultural AfricanaKaka PortilhoAinda não há avaliações
- Manual Do Pregador ÉticoDocumento102 páginasManual Do Pregador Éticojccaserta100% (2)