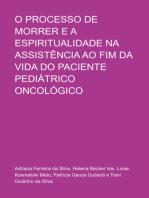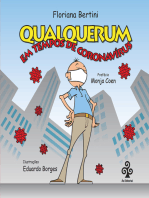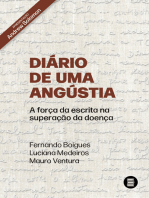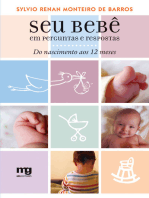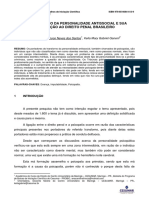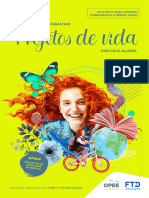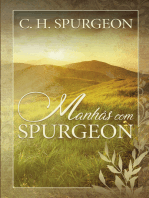Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Relação Da Criança Com A Morte
Enviado por
Brenda Chacon SilverioDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Relação Da Criança Com A Morte
Enviado por
Brenda Chacon SilverioDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Psychê
ISSN: 1415-1138
clinica@psycheweb.com.br
Universidade São Marcos
Brasil
Brun, Danièle
A relação da criança com a morte: paradoxos de um sofrimento
Psychê, vol. VII, núm. 12, dezembro, 2003, pp. 13-25
Universidade São Marcos
São Paulo, Brasil
Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30701202
Como citar este artigo
Número completo
Sistema de Informação Científica
Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal
Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto
A relação da criança com a morte:
paradoxos de um sofrimento1
Danièle Brun
Resumo
A autora, que há anos vem tratando de crianças doentes defrontadas com o perigo real de
morte, examina neste artigo a relação da criança com a morte e os paradoxos desta rela-
ção. Utilizando um livro autobiográfico como referência, confrontando sua narrativa com os
casos clínicos em que essa relação é atribuída a transformações identificatórias decorrentes
do processo de luto em relação aos desejos infantis dirigidos aos pais, e a resposta desses.
Unitermos
Morte; luto; desejo infantil; identificação; cura.
o curar crianças atingidas por patologias graves, arrancando-as de uma
A morte outrora inevitável, a medicina – e este é um dos paradoxos do
seu progresso – cria novas sintomatologias em seus jovens pacientes.
Suas angústias de morte, que se exprimem nos momentos críticos da doença,
podem apresentar um reforço inexplicável, uma vez afastado o perigo somático.
Em um livro no qual me refiro ao meu trabalho de psicanalista em
cancerologia pediátrica – A criança dada por morta: riscos psíquicos da cura (Brun,
1996) –, tomei como ponto de partida as reações de insatisfação dos pais após os
médicos terem anunciado a evolução favorável do quadro de câncer, e menciona-
da a probabilidade de cura. Em lugar de reconhecer os bons cuidados oferecidos
pelos médicos ao filho, os pais mostravam-se céticos quanto ao futuro, e toma-
dos por dúvidas sobre os riscos de metástases. A isso também se acrescentava a
impressão de uma profunda incapacidade ante a perspectiva de ter de respon-
der às perguntas da criança ou de seus irmãos sobre a história da doença,
levando em conta a ameaça de morte que permanecia atrelada ao diagnóstico.
O fato de a incomunicabilidade entre uma criança e seus pais basear-
se em um não dito a respeito da morte nada tem de particularmente novo.
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
14 | Danièle Brun
Tal incomunicabilidade é, por um lado, a expressão de uma censura que incide
sobre a ambivalência dos sentimentos, privando os pais de autenticidade, e
por outro, do tabu que ainda pesa sobre a morte, como em outros tempos
pesava sobre a sexualidade.
Levados por um movimento projetivo que trai o recalcamento de dese-
jos inconscientes, os pais receiam que a criança julgue-os mal por terem ima-
ginado que ela poderia morrer ou, eventualidade muito freqüente, por terem
pensado que seus sofrimentos iriam se atenuar se ela morresse logo. Essa
imagem projetiva de uma criança exercendo um julgamento inscreve-se, sem
dúvida, entre os numerosos motivos inconfessáveis que selam a solidez da
aliança terapêutica dos pais com os médicos no decorrer da doença.
A criança, por sua vez, desconhecendo o papel de censora que lhe é
conferido, age como se nada soubesse. Não se sente autorizada a apropriar-se
do saber que adquiriu sobre a doença por meio das informações dadas pelos
médicos, e que confirmam suas sensações, assim como as modificações de sua
imagem, de seu jeito e de sua aparência.
Tomando meu livro como referência, insisto aqui sobre a familiaridade
desconhecida, recalcada, da criança com a representação da morte.
É claro que estar presente por meio período durante dez anos junto a
crianças portadoras de câncer, necessariamente sensibiliza para os menores
sinais que elas possam emitir para falar de sua morte próxima. Fazer referên-
cia a sinais não significa que as palavras sejam raras ou que tenham menos
valor. Trata-se mais de insistir quanto aos desvios que a criança doente em-
prega para dizer o que ela percebe e o que antecipa de sua situação. Nesse
contexto, todas as palavras contam, mesmo aquelas cuja relação com a morte
é distante. Escutar uma criança enferma anunciar seu aniversário, sua volta
para casa ou para a escola, interessar-se por seus desenhos solicitando seus
comentários, são oportunidades cotidianas de descobrir com ela o que com-
preende e faz de uma situação de sursis.
Devido aos cuidados e aos repetidos exames a que é submetida, assim
como à angústia que adivinha nos pais e que se acrescenta à sua, a criança dá
a impressão, por vezes, de encarar a morte de frente. Ela o demonstra, breve
mas cruamente, a ponto de falar como um velho sábio. Teria adquirido, sob o
efeito do traumatismo, uma maturidade precoce? Sabe-se que o encontro com
a morte transforma a relação com o tempo e o desconhecido.
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
A relação da criança com a morte: paradoxos de um sofrimento | 15
Mas, quem pode saber a hora exata da morte de uma criança, mesmo
quando o médico conclui que é chegado o momento de renunciar ao trata-
mento? Todas as coisas importantes a respeito da relação da criança com a
morte se passam, portanto, antes que se aproximem as últimas horas, geral-
mente medicadas.
A criança e a representação da morte
Em contraponto à experiência adquirida por meio do trabalho com crian-
ças enfermas, a prática cotidiana da psicanálise com crianças leva a constatar a
liberdade, talvez mesmo a autenticidade, de que uma criança dispõe para falar
da morte, independentemente das diferenças de idade e de meio sócio-cultural.
Parece mesmo que na infância, o medo do escuro é mais intenso que o da morte.
Como compreender que o afastamento ou a ausência da mãe sejam uma fonte
tão freqüente de angústias nas crianças pequenas, antes que elas tenham intro-
duzido a morte em suas brincadeiras e fantasias? Trata-se aí, sem dúvida, de
premissas para o estabelecimento da equivalência, que elas se preparam para
efetivar, entre partir e morrer, e que Freud não deixou de destacar.
No capítulo V d’A interpretação dos sonhos, “Material e fonte dos
sonhos”, na seção “O sonho de morte de pessoas queridas”, Freud insiste, ao
mesmo tempo, sobre os desejos de morte que as crianças alimentam em relação
aos seus irmãos e irmãs, e sobre a facilidade das crianças para evocar a morte.
Quando se fala assim, não se pensa que a representação da morte na criança tenha
algo em comum com a nossa, além do nome. A criança não imagina o horror da
destruição, o frio da tumba, o aterrador do nada sem fim que o adulto, como ates-
tam todos os mitos sobre o além, suporta tão mal. O temor da morte lhe é estranho,
e é por isso que ela brinca com esta palavra tão assustadora, e ameaça as outras
crianças. “Se você fizer isso, vai morrer como o Francisco morreu”; as pobres mães
se apavoram, pois não podem esquecer que um grande número de seres humanos
não passa da infância. Uma criança de oito anos, quando levada ao museu de histó-
ria natural, pôde dizer à mãe: “Mamãe, eu te amo tanto que, se você morresse, eu
mandaria te empalhar e te colocaria no meu quarto para poder te ver o tempo
todo”. Tão diferente da nossa é a representação da morte pela criança.
Esta frase, n’A interpretação dos sonhos, é seguida de uma nota de
rodapé na qual Freud conta que, para seu espanto, uma criança de dez anos,
e muito inteligente, cujo pai acabara de morrer subitamente, fez a seguinte
observação: “Eu compreendo que meu pai morreu, mas não posso compreender
por que ele não volta para o jantar” (1900, p. 216-38).
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
16 | Danièle Brun
Com esta citação de Freud, penso que podem ser precisados os elementos
inerentes ao tema da relação da criança com a morte, ou seja, a coexistência
paradoxal de uma familiaridade interior com a morte, e de um pavor indizível,
consecutivo à tomada de consciência de sua realização. A criança brinca com a
idéia da morte como uma arma potente, mas não se dá conta de que ela é
definitiva; ignora o sentido do “nunca mais”, a não ser para transpô-lo como
uma presença sem falha. É por isso que a reação da criança à morte de alguém
próximo nada tem a ver com a inteligência.
O conjunto destas observações converge, a meu ver, para uma única
idéia: para a criança duas coisas contraditórias, ou uma coisa e seu contrá-
rio, nada têm de incompatível. Nesta particularidade do psiquismo infan-
til, que diz respeito à representação da morte, pode-se reconhecer uma
das particularidades do inconsciente, segundo Freud. O inconsciente, de
fato, não conhece a contradição, não conhece a alternativa, não reage à es-
colha por meio do “ou isso ou aquilo”, mas apenas ao modo do “uma coisa
não impede a outra”. Vê-se aí como igualmente pode-se entender que “o
desejo de morte não impede o desejo de vida” e “a hostilidade ou o ódio não
impedem o amor”.
Até onde conduzem esses paradoxos quando a morte se produz na rea-
lidade do cotidiano? Eles esclarecem o enigma do luto na criança?
A criança e o luto
Freud não menciona o luto na criança, a não ser para dizer que as mortes
sofridas na infância, em particular as de irmãos e irmãs pequenos, têm “uma
importância determinante para as futuras neuroses” (1900, nota de rodapé,
p. 220). Sabe-se que na ocasião é a si mesmo que ele está se referindo, pois
havia perdido um irmão, Julius, quando tinha dez anos. Essas mortes, diz
ele, deixam não apenas germes de remorsos, traço consciente dos desejos
hostis dos quais a criança vinda depois foi objeto, mas formam a base das
futuras neuroses, qualquer que seja a atitude consciente adotada na família
em tais circunstâncias.
O luto é uma das vias mais importantes de aproximação da relação da
criança com a morte. Quer se trate de si mesmo ou de um outro, é sempre de
uma parte de si mesma que a criança tem de fazer o luto. Nesse sentido, o luto
da criança assemelha-se ao de uma mãe.
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
A relação da criança com a morte: paradoxos de um sofrimento | 17
“Perder um filho é a pior coisa que pode acontecer a uma mulher, pois
uma criança não se substitui”. Esta fala de mãe, que comentei longamente
em A criança dada por morta, é complexa desde sua formulação no infinitivo
e na terceira pessoa do singular. Fala de mulher, invocando seu passado em
um presente indefinidamente renovado pelo emprego do infinitivo, diz desta
impressão de amputação que a perda de um filho produz. Fala de mãe – cujo
filho sobreviveu e cujas seqüelas, ainda que pouco limitantes, trazem a lem-
brança da doença – ouvida igualmente como uma fala de criança enlutada.
Criança que, uma vez que também venha a ser mãe, dará testemunho de sua
experiência de uma criança que em vão procurou compensar a perda de
outra – um irmão, uma irmã –, representativa de uma parte dela mesma, e
da qual sua mãe nunca pôde se consolar.
Ademais, como Freud dá a entender, os processos de luto não se limitam
ao desprendimento progressivo dos laços com o objeto amado. Eles induzem a
um profundo remanejamento da imagem de si e do estatuto de criança. Quer
a criança seja pessoalmente portadora de uma doença mortal, ou sobreviva à
perda de um parente próximo, o encontro com a morte cria uma perturbação
de suas referências identitárias e temporais. A eventualidade ou a efetivação
de uma morte real dá à existência de uma fantasia relativa à morte uma rea-
lização catastrófica, que pode ser medida pelas reações marcadas de
irracionalidade que se produzem.
Apesar dos rituais que a rodeiam, a morte escapa à domesticação. O
que a relação da criança com a morte comporta de selvagem, de primitivo
e de não convencional percebe-se antes nas reações da criança do que nas
dos adultos, geralmente mais hábeis e mais bem treinados para disfarçar
sua confusão.
A criança enlutada por uma parte de si mesma, que pode ser sua própria
pessoa ou uma outra, solicita nossas possibilidades de identificação e de apro-
priação das particularidades de sua lógica própria, que regularmente recon-
duzem à nossa infância esquecida.
A criança confusa frente à morte
Para ilustrar a complexidade dos riscos da morte e do luto na criança,
vou referir-me a um livro publicado simultaneamente na Inglaterra e em França,
em 1988, chamado A criança Lázaro (Mawson, 1998).
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
18 | Danièle Brun
A dedicatória e o curto prefácio do autor, Robert Mawson, dão a enten-
der que se trata de um ensaio autobiográfico. Neste livro, que se apresenta
como um romance de suspense para o grande público, e no qual a maioria dos
personagens comporta-se de maneira muito comum, até banal, o herói é um
menino de doze anos, expectador impotente de um grave acidente na rua,
cujas vítimas são sua irmãzinha e uma amiga.
A primeira frase do livro introduz o leitor, de saída, no cerne da histó-
ria, dando à criança uma lucidez da qual depois não haverá mais traço, da
qual ele não saberá nem poderá fazer nada, pois uma lucidez desse tipo está
fadada ao recalcamento.
“Aos doze anos, Ben Heywood achava injusto ter de assistir tão de perto
à morte de sua irmã. Entretanto, no instante em que aquilo aconteceu, ele
soube também que esta obrigação fazia parte da punição”.
Estes três sentimentos conscientes – injustiça, obrigação, punição –
dirigem o relato. Além de seu conteúdo, que emerge ao mesmo tempo da
vida comum e de um mundo de ficção criado pelos progressos tecnológicos da
medicina, encontra-se nessa narrativa elaborada sobre a morte evitada de
uma criança (a irmã de Ben H.), um exemplo convincente da loucura que a
eventualidade da morte de uma criança por uma doença grave pode produzir.
A lógica do cotidiano não pode, de maneira nenhuma, dar conta das manifes-
tações desta loucura, que lança o sujeito, quer seja adulto ou não, em zonas
desconhecidas de si mesmo.
A história de Ben Heywood e de sua família abre-se sobre uma situação
da vida cotidiana. Tudo se passa pela manhã, na hora de ir para a escola, e Ben
é aparentemente encarregado de acompanhar sua irmã, Frankie, e de apanhar
no caminho uma outra menina, Isabelle, a melhor amiga dela. Não faz isso de
boa vontade, mesmo porque, sem dúvida, esta função de acompanhante é
novidade para ele. Faz parte de uma mudança recente na família. A mãe está
separando-se do pai, a quem acusa de uma ligação com sua secretária.
Não é raro que a morte de uma criança, ou que a descoberta da morte
por uma criança, inscreva-se, de modo semelhante, em uma atmosfera de
romance ou de separação dos pais. Não creio que seja conveniente tomar a
situação familiar como uma causa privilegiada, suscetível de fazer sentido no
não sentido da morte. Mas esta é uma tentação à qual mal se pode resistir, tal a
maneira desconcertante como os acontecimentos se precipitam. E pode-se pen-
sar, ao longo da leitura do livro, que a resistência do menino em acompanhar a
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
A relação da criança com a morte: paradoxos de um sofrimento | 19
irmã até a escola, assim como sua irritação com ela, haviam sido aumenta-
das por uma irritação inconsciente criada pela demanda da mãe. A história
nada conta sobre isso, nem diz se cabia ao pai levar as crianças para a escola
antes da separação.
Nos fatos, como de costume, o acidente acontece estupidamente: a irmã
de Ben e sua amiga irritam-no tagarelando bobagens. Ele tem uma idéia
incongruente, como podem ter os meninos dessa idade, e na qual transparece
o menosprezo que tem pelas meninas. Enquanto elas seguem tranqüilamente
atrás dele, contando uma para a outra suas historinhas, ele lança um olhar
para o outro lado da rua, onde fica a banca do jornaleiro, e decide correr até lá
para comprar o último número de sua revista preferida e um tubo de pastilhas
de menta. Tem certeza de que pode ir e voltar antes mesmo que as duas
“matracas” atrás dele percebam.
É aí que acontece o acidente: Ben vê os olhos de sua irmã, Frankie,
aterrorizada, cruzarem os seus, os lábios da menininha formarem seu nome
como para pedir “socorro”, enquanto ela cede à pressão da sua amiga para
voltar atrás. E as duas crianças são colhidas por um ônibus. Isabelle, a amiga,
morre na hora. Quanto a Frankie, cairá em um coma considerado irreversível
até o momento em que sua mãe, decidida a tentar tudo, fará contato com
uma médica que, segundo dizem, faz milagres para arrancar crianças da
morte neurológica.
Como acontece muitas vezes nas famílias, a ênfase recai sobre o destino
da menina em coma, em detrimento de Ben, o bem comportado.
Assim termina uma vida de criança comum, e o leitor penetra na estra-
nheza do mundo interior de uma criança, da qual progressivamente se vai
esquecer a idade, sabendo bem que não se trata de forma alguma de um adulto
razoável. Mas ninguém é razoável nessa história, apesar das aparências.
Ben é deixado de lado durante a cena do acidente e no momento da
chegada da ambulância. Ele é visto mudo, espectador siderado. A única frase
que ele ouve pronunciar como um autômato, e da qual ele não terá lembrança
senão no final do livro, é a seguinte: “Meu Deus, são menininhas”.
O tempo que foi necessário para a criança reencontrar a lembrança e o
sentido dessa pequena frase e, depois, para que esta penetrasse em seu
entendimento, dá a medida do traumatismo que a atualização de um cenário
de morte representa na infância.
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
20 | Danièle Brun
A identidade perdida
A criança Lázaro permite seguir a multiplicidade de reações de um
menino de doze anos diante de um acontecimento que o faz perder sua iden-
tidade. É sob a rubrica da identidade perdida, tomando como referência o
que pude aprender com as crianças portadoras de câncer e com suas famílias,
que vou reagrupar o conjunto das reações de Ben. Parece-me que o caminho
percorrido para que ele possa reencontrar um comportamento de criança é
cuidadosamente reconstruído nesse livro. É preciso esperar pelas últimas
páginas para assistir uma cena na qual Ben sai do carro dos pais, pula para a
calçada e diz “Tchau mãe, tchau pai. Esqueci meus patins”.
A frase é anódina, mas menos do que parece, especialmente tendo em
vista as identificações inconscientes do menino, pois a médica que salvou
Frankie perdeu um irmão na infância, em um acidente de patinação sobre um
lago gelado. No entanto, a imagem da criança que se impõe ao leitor é a de um
retorno à realidade do cotidiano. Ao mesmo tempo em que vê Ben comportar-se
como uma criança em uma família novamente reunida, o leitor descobre que a
pequena Frankie, saída do coma, é todavia uma criança gravemente prejudi-
cada, em uma cadeira de rodas elétrica, com importantes seqüelas neuro-
lógicas. Os pais, que cuidam ternamente da filhinha, deixam aberta a
possibilidade de um novo bebê.
A palavra “luto” – não pode ser por acaso – não é pronunciada no
livro, ainda que seu processo seja o fio condutor da história. Quanto à ma-
neira como ela termina, dizer que é um banal happy end, com tudo o que
um happy end comporta de decepção e de desilusão, restitui de maneira
bem justa, a meu ver, os riscos ligados à inevitável queda de tensão que
acompanha o fim de um combate pela vida. Por ter sido desejada por muito
tempo, a satisfação do retorno à vida está sempre aquém do que se havia
esperado. Este é um dos maiores paradoxos do encontro dos pais com a
possível morte de uma criança, levando-se em conta a imensa mobilização
libidinal que ela suscita.
A relação da criança com a morte
As reações de Ben ao acidente de sua irmã apresentam-se como
interpretações da incomunicabilidade que a situação cria entre ele e os
adultos ao seu redor.
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
A relação da criança com a morte: paradoxos de um sofrimento | 21
Em primeiro lugar, ele se instala em um estado de sideração e mu-
tismo. Os pais, que acreditavam que ele estivesse na escola, procuram-no
em vão por toda parte durante algumas horas, até finalmente encontra-
rem-no em casa, jogado sobre a cama. Ele isolou-se, solitário, e quinze
dias mais tarde seus cabelos ficaram brancos. É bom lembrar que esta foi
também a reação de Karl Abraham depois da morte de seu pai, mas ele já
era adulto.
Uma psicóloga de crianças foi encarregada de cuidar dele, e ela o fez
de maneira compreensiva e paciente, mas tendo por objetivo fazê-lo falar de
sua irmã. Quando ela mencionou o acidente, Ben respondeu que Frankie
estava morta, que as duas, ela e Isabelle, estavam mortas.
Veio em seguida um período em que ele recusava-se a ir à escola e
opunha-se a ir ao hospital ver a irmã, que ele persistia em acreditar que esta-
va morta. Em nome de que era preciso forçar tanto a negação da realidade,
para transformá-la em uma aceitação? No dia em que finalmente pôde ir, ele
berrou seu desejo de morrer. A partir desse episódio, Ben deixou-se levar por
miragens – também se poderia dizer alucinações – e também, digamos, via-
gens durante as quais ele “a” via.
Quem ele via, sua irmã idealizada ou a morte? Não se sabe, o livro não
diz. Mas esse mundo de alucinações não era desprovido de alegorias nem de
erotismo: “Ele ficou lá, fascinado pelo balé íntimo do seu corpo, os saltos e
mergulhos incessantes das mãos e dos olhos. Enfim, ele recuou (...) Seus olhos
se reencontraram novamente, seus rostos se elevaram lentamente para as
estrelas, uma última vez. Depois ele desapareceu”.
Foi seu pai que, por milagre, o salvou do afogamento no mar. Este
afogamento era a conseqüência de um encontro chocante com uma reali-
dade, a do perigo, que no momento do relato não fazia nenhum sentido
para o menino. Naquele instante, ele só obedecia à fascinação do mar. En-
tão, sem levar em conta sua segurança, nem os que estavam em volta, ele
afastou-se em um barco que seu pai lhe havia dado recentemente para que
ele retomasse gosto pela vida. Procurando pelo filho que lhe havia escapado,
o pai percebeu o barco ao longe, no mar. Compreendeu que a criança que
procurava estava lá. Nessas condições, que são também as de uma identifi-
cação de criança ao percurso interior de sua própria criança, o pai salvou a
vida do filho.
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
22 | Danièle Brun
A fronteira entre o luto e a melancolia
Segundo Freud, a fronteira entre o luto e a melancolia é estreita, a fortiriori,
quando a perda do objeto transforma-se em perda do eu. “A identificação narcísica
com o objeto se torna então o substituto do investimento de amor, e a con-
seqüência é que, apesar do conflito com a pessoa amada, a relação de amor não
foi abandonada”. Esse processo é muito próximo do que pude observar nos pais,
em particular nas mães de crianças portadoras de câncer. “Se ela tivesse parti-
do, disseram-me algumas mães vários anos depois da doença das filhas, eu teria
partido com ela”. Longe de ser um eufemismo ou uma evitação deliberada da
palavra “morte”, o emprego do termo “partir” vale como uma reminiscência da
equivalência entre partir e morrer, cuja origem infantil é lembrada por Freud.
O irracional e a estranheza da viagem ou da aventura a que leva o encon-
tro com a morte decorrem certamente da regressão, bem como da identificação
narcísica ao objeto perdido, ou seja, o si mesmo em uma fusão com o outro. É isso
que vivem as mães por intermédio da criança, a carne de sua carne. É também
isso que percebe a criança ameaçada de morte, que se sente desde então investida
de uma dupla tarefa: enfrentar o perigo com seus próprios meios e acompanhar
a mãe para lhe permitir suportar seu desaparecimento.
Em A criança Lázaro as coisas não são tão claras, sem dúvida porque o
pai, por mais que tenha sido quase excluído pela mulher, mantém-se, entre-
tanto, em um papel central. Resta que a mãe só tem olhos e cuidados para a
filha. É ela quem ouve falar de uma médica que consegue prodígios para tirar
crianças do coma. É ela quem desejará arriscar tudo.
Teria sido melhor que Frankie tivesse morrido? É o que a psicóloga dá a
entender muito discretamente. É o que o pai às vezes pensa. Se não é raro
cultivar assim a ilusão de terminar pela morte com os tormentos gerados por
sua eventualidade, tal pensamento, até esse desejo, não deve se consumar.
É a expressão de uma revolta contra a impotência, em que se adivinham os
restos de um radicalismo dos primeiros anos da vida.
O movimento de identificação narcísica com o objeto perdido também é
o que inaugura o retorno à vida de Frankie. Ele acontecerá graças ao acompa-
nhamento de seu irmão. O que ele havia resistido a fazer na realidade do
cotidiano, no momento do acidente, será feito por iniciativa da médica.
A implicação da médica que salva a pequena Frankie do coma, em A
criança Lázaro, esclarece a de Ben no salvamento de sua irmã.
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
A relação da criança com a morte: paradoxos de um sofrimento | 23
A identificação do médico com seu doente não se deixa reduzir facilmente
a uma semelhança de situação. Mas no livro é este o caso. A médica, que é uma
jovem mulher superdotada, perdeu ela mesma um irmãozinho em um acidente
de patinação em um lago gelado, e parece nunca ter realmente se recuperado.
Esse luto não feito sem dúvida não é alheio à sua convicção, segundo a qual
o retorno à vida tem mais chance de dar certo se for feito a dois. Seu tratamento,
já testado com outros pacientes, consiste em sessões de hipnose, provocada com
uma aparelhagem eletrônica sofisticada. Não se trata de psicanálise no senti-
do próprio, mas de estados segundos, que não deixam de ter analogia com os
estados hipnóides pelos quais, no início, Freud esperava curar suas pacientes.
O leitor lembra-se então das “viagens” espontâneas de Ben, solitário, que
começaram seus processos de luto. Tais viagens, preliminares ao seu quase
afogamento, efetuavam-se sob o império da fascinação. Ele encontrava, sem
opor nenhuma resistência, a figura sedutora que o chamava e que para mim,
como leitora, era uma alegoria da morte – a imagem de sua irmã morta.
No tratamento da médica que conseguirá tirar a menina do coma, no
entanto, as viagens fazem parte da prescrição.
A aparelhagem eletrônica dá um ar moderno a essa aventura intemporal.
Os transes programados ajudarão Ben a juntar-se a Frankie, que – ao contrário
do que acontecia para ir à escola – não aceita de boa vontade o acompanha-
mento pelo caminho de volta à vida.
Por razões que não vou detalhar aqui, pois são circunstanciais, Elizabeth,
a médica, reencontrando o cerne da lembrança do acidente que custou a vida
de seu irmãozinho, entra, ela própria, em transe hipnótico. Assim é a última
cena desse retorno programado à vida das duas crianças.
O comentário que traria a recuperação da jovem médica, a propósito de
seu engajamento nessa luta pela vida, não encontra aqui uma justificativa.
Quanto à psicanálise como tal, não entra em questão, a não ser por meu inter-
médio e pelas reflexões que essa leitura me inspirou.
Na verdade, a situação não me parece fundamentalmente diferente da-
quelas que somos regularmente solicitados a nos encarregar no hospital ou
fora dele. Nem os médicos nem os pacientes estão familiarizados com a análise.
É a maneira como chegamos a ser leitores de uma história, que eles não sa-
bem que escreveram, que os autoriza a se apropriarem de certas faces do
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
24 | Danièle Brun
drama em cuja ocasião eles se aproximaram das portas da morte e da loucura.
O fato que depois a morte possa realmente ocorrer, porque o corpo é mortal,
não tem, em um segundo tempo, o mesmo impacto traumático.
Igualmente é uma das características da transferência, nesse tipo de
circunstância, perceber como e por quais voltas sutis a história da doença
inscreve-se na dinâmica psíquica do terapeuta.
Ao comentar “O sonho da criança que arde”, Freud chamou de “identifi-
cação histérica” o processo em atividade no relato, bem como na memorização
desse sonho (1900, Cap. VII, p. 443). Esta reflexão incita-me a pensar que a
noção de identificação histérica é mais próxima do que se supõe do movimento
melancólico, cuja fronteira com o luto é, como se pôde observar, bem estreita.
Digamos, enfim, que os acasos da função de acompanhante de Ben deixam
entrever a ambivalência de suas posições maternas. A atitude das crianças em
relação aos mais novos nunca é, na verdade, desprovida de identificação a uma
posição materna. Esta posição, observa Freud, é o reflexo de um antigo desejo que
vem da primeira infância – o de fazer um filho na mãe ou de ter um filho dela.
O paradoxo da relação da criança com a morte repousa, em parte, sobre
a estreiteza dos laços entre o nascimento e a morte, que se atam quando
emerge esse primeiro desejo de criança. Dirigido à mãe, em sua dupla compo-
sição edipiana e incestuosa, o desejo de lhe fazer um filho ou de ter um filho
dela é característico da feminilidade. Ele organiza as fantasias genealógicas
que se desenvolvem sob o efeito do traumatismo, e que representam o medo
de perder uma criança. Assim, a perspectiva da morte, com seu cortejo de
representações, reconduz para a gravidez de uma mulher, para o que o ventre
dela contém, imagem de si mesmo in utero. Desenvolvi longamente esta
fantasmagoria em A criança dada por morta, pois ela forma a trama de um luto
de criança e de mãe. Luto difícil, por vezes impossível, que homens e mulheres,
em nome de seu privilégio de adultos capazes de procriar, compensam pela
fabricação de uma outra criança.
Algumas mulheres que encontrei não hesitaram em dizer que sua criança
enferma lhes havia pedido um irmãozinho ou irmãzinha, e que este novo bebê
havia sido feito para agradar à criança doente. Não diziam isto apenas para se
justificar, ou desculpar-se por terem cedido ao desejo sexual. Desta maneira
enviesada, mostravam como tinham respondido a uma demanda de criança,
sem poderem reconhecer nela sua própria voz de criança enlutada, sentindo-se
culpada tanto da vida como da morte.
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
A relação da criança com a morte: paradoxos de um sofrimento | 25
Nota
1. Título original: Le rapport de l’enfant à la mort: paradoxes d’une souffrance. Tradução de
Eliana Borges Pereira Leite.
Referências Bibliográficas
BRUN, Danièle. L’enfant donné pour mort. 2ème édition remaniée. EsHel, coll. Remise en
question, dirigée M. Cifali (A criança dada por morta: riscos psíquicos da cura. São Paulo:
Casa do Psicólogo, 1996).
FREUD, Sigmund. (1900). L’iterprétation dês rêves. Paris: P.U.F., 1967. p. 216-38.
MAWSON, Robert. L’enfant Lazare. Plon, 1998.
Child Relation to Death: Paradoxes of a Sufferance
Abstract
The author, engaged more than one decade with children suffering from terminal diseases,
discuss their relation with death and its paradoxes. She confronts her findings with an
autobiographical narrative recently published on this matter. The profound identity
transformations are found to be due to mourning processes related to infantile desires
addressed to parents and their response.
Keywords
Death; mourning; infantile desire; identification; cure.
Danièle Brun
Psicanalista; Professora de Psicopatologia na Universidade Paris 7 – Denis Diderot.
66, Bd Saint Michel – 75006 – Paris/France
tel : 01 46 34-5376
e-mail: dan@club-internet.fr
– recebido em 05/06/03 –
– aprovado em 11/08/03 –
Psychê — Ano VII — nº 12 — São Paulo — jul-dez/2003 — p. 12-25
Você também pode gostar
- A Relação Da Criança Com A Morte - Paradoxos de Um Sofrimento PDFDocumento14 páginasA Relação Da Criança Com A Morte - Paradoxos de Um Sofrimento PDFDebi MullerAinda não há avaliações
- O Processo De Morrer E A Espiritualidade Na Assistência Ao Fim Da Vida Do Paciente Pediátrico OncológicoNo EverandO Processo De Morrer E A Espiritualidade Na Assistência Ao Fim Da Vida Do Paciente Pediátrico OncológicoAinda não há avaliações
- 253 1012 1 PBDocumento12 páginas253 1012 1 PBFábio RobertoAinda não há avaliações
- Considerações sobre o suicídio no Brasil: Teoria e estudo de casosNo EverandConsiderações sobre o suicídio no Brasil: Teoria e estudo de casosAinda não há avaliações
- Visão Da Criança Sobre A MorteDocumento8 páginasVisão Da Criança Sobre A MorteHelena DamascenoAinda não há avaliações
- Significados Do Cancer InfantilDocumento12 páginasSignificados Do Cancer Infantilbluecsg2Ainda não há avaliações
- Psicanálise com crianças na contemporaneidade: família, sintoma e medicalizaçãoNo EverandPsicanálise com crianças na contemporaneidade: família, sintoma e medicalizaçãoAinda não há avaliações
- Luto InfantilDocumento8 páginasLuto InfantilVanda OliveiraAinda não há avaliações
- O luto dos pais: como os homens entendem e enfrentam esta situaçãoNo EverandO luto dos pais: como os homens entendem e enfrentam esta situaçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Importância de Falar Da Morte Com Crianças - Beatriz Aguiar MesquitaDocumento81 páginasImportância de Falar Da Morte Com Crianças - Beatriz Aguiar MesquitaNathalie MarquesAinda não há avaliações
- Instituto Fratelli A Criança Com Câncer No HospitalDocumento19 páginasInstituto Fratelli A Criança Com Câncer No HospitalAna Beatriz De Sousa Rodrigues SilvaAinda não há avaliações
- Diário de uma angústia: A força da escrita na superação da doençaNo EverandDiário de uma angústia: A força da escrita na superação da doençaAinda não há avaliações
- Resumo Do Cap 1 Do Livro Sobre A Morte e o Morrer - Elizabeth Kubler RossDocumento3 páginasResumo Do Cap 1 Do Livro Sobre A Morte e o Morrer - Elizabeth Kubler RossJéssica Wunderlich LongoAinda não há avaliações
- A Mãe e o Bebê Prematuro: O que a Psicanálise Tem a Dizer?No EverandA Mãe e o Bebê Prematuro: O que a Psicanálise Tem a Dizer?Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Fichamento TanatologiaDocumento5 páginasFichamento TanatologiaFernanda AlvesAinda não há avaliações
- Seu bebê em perguntas e respostas: Do nascimento aos 12 mesesNo EverandSeu bebê em perguntas e respostas: Do nascimento aos 12 mesesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Neurose Infantil, Neuroses Da Infância PDFDocumento9 páginasNeurose Infantil, Neuroses Da Infância PDFBrenno Duarte P. de MedeirosAinda não há avaliações
- Estoicismo - PrometeusDocumento8 páginasEstoicismo - PrometeusSÍLVIO PAIVA DO SANTOS SILVAAinda não há avaliações
- Resumo Artigo Claudinei Edi Carlos Francyella Jéssica Maryjeany NatanDocumento7 páginasResumo Artigo Claudinei Edi Carlos Francyella Jéssica Maryjeany NatanFrancyella FroesAinda não há avaliações
- As Constelações Familiares na Medicina: O que as Histórias Revelam sobre Sintomas, Doenças e CuraNo EverandAs Constelações Familiares na Medicina: O que as Histórias Revelam sobre Sintomas, Doenças e CuraNota: 3 de 5 estrelas3/5 (5)
- Comunicação Sobre A Morte para Crianças - Estratégias de IntervençãoDocumento15 páginasComunicação Sobre A Morte para Crianças - Estratégias de IntervençãoBrenda ChaconAinda não há avaliações
- Morterepentinadegenitoreselutoinfantil MHTDocumento11 páginasMorterepentinadegenitoreselutoinfantil MHTfernandamancilhapsiAinda não há avaliações
- Clinica Da MelancoliaDocumento6 páginasClinica Da MelancoliaMaria Fernanda FernandesAinda não há avaliações
- A Morte de Um Filho Jovem em CircuntÂncia ViolentaDocumento7 páginasA Morte de Um Filho Jovem em CircuntÂncia ViolentasouzajulianeAinda não há avaliações
- A Clinica Psicanalitca Das Psicopatologias ContemporaneasDocumento3 páginasA Clinica Psicanalitca Das Psicopatologias ContemporaneasNicolas MilanAinda não há avaliações
- O Luto de Pais Consideracoes Sobre A Perda de Um Filho Crianca - EntrevistasDocumento16 páginasO Luto de Pais Consideracoes Sobre A Perda de Um Filho Crianca - EntrevistasFernando PereiraAinda não há avaliações
- Como Falar de Luto Com Crianças - UFPRDocumento26 páginasComo Falar de Luto Com Crianças - UFPRVal Santos100% (1)
- UntitledDocumento184 páginasUntitledviviane flem100% (1)
- 3404 7488 1 SMDocumento17 páginas3404 7488 1 SMSara BorotoAinda não há avaliações
- A Vivência Da Morte Na Criança e o Luto Na Infância RESENHADocumento2 páginasA Vivência Da Morte Na Criança e o Luto Na Infância RESENHAVictória Lazzarotto Boff ColleoniAinda não há avaliações
- Fronteiras Da Parentalidade, Clínica 0 A 3Documento12 páginasFronteiras Da Parentalidade, Clínica 0 A 3Ana Carolina PinaAinda não há avaliações
- Discurso Nao DitoDocumento16 páginasDiscurso Nao DitoJeane LimaAinda não há avaliações
- Tarefa 4Documento3 páginasTarefa 4priscila78Ainda não há avaliações
- A Psicanálise Da Criança - Um Estudo de Caso-Copiar PDFDocumento6 páginasA Psicanálise Da Criança - Um Estudo de Caso-Copiar PDFAlexanderAinda não há avaliações
- Livro Depressão em CriançaDocumento82 páginasLivro Depressão em CriançaAline Oliveira100% (1)
- O Adolescente e Seu PathosDocumento20 páginasO Adolescente e Seu PathosJuliana BaghdadiAinda não há avaliações
- O Conceito de Morte Nas Etapas Da Infância e Da AdolescênciaDocumento21 páginasO Conceito de Morte Nas Etapas Da Infância e Da AdolescênciaRosangela SouzaAinda não há avaliações
- 3 PBDocumento20 páginas3 PBFábio RobertoAinda não há avaliações
- Infância e Morte Um Estudo Acerca Da Percepção Das Crianças Sobre o Fim PDFDocumento9 páginasInfância e Morte Um Estudo Acerca Da Percepção Das Crianças Sobre o Fim PDFBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- A VIDA COM AUTISMO-finalDocumento130 páginasA VIDA COM AUTISMO-finalTiciana FernandesAinda não há avaliações
- CC Adols POC ARTIGO6Documento8 páginasCC Adols POC ARTIGO6MARIA DE FATIMA SANTANA DE NAZAREAinda não há avaliações
- Intervenção No Luto InfantilDocumento14 páginasIntervenção No Luto InfantilAna Lima100% (2)
- Intervenção No Luto InfantilDocumento14 páginasIntervenção No Luto InfantilNatália SantosAinda não há avaliações
- Como Falar Sobre Morte Com CriançasDocumento3 páginasComo Falar Sobre Morte Com CriançasBc Ferreira Bcferreira FerreiraAinda não há avaliações
- Françoise DoltoDocumento12 páginasFrançoise DoltoJuliana JunqueiraAinda não há avaliações
- A Criança e o Luto - A Vivência Da Morte Na InfânciaDocumento14 páginasA Criança e o Luto - A Vivência Da Morte Na InfânciaTalita GomesAinda não há avaliações
- O Adolescente e Suas Possibilidades de DefesaDocumento9 páginasO Adolescente e Suas Possibilidades de DefesaSamara CoutinhoAinda não há avaliações
- Autismo Kupfer PDFDocumento12 páginasAutismo Kupfer PDFAbenon MenegassiAinda não há avaliações
- Luto InfantilDocumento14 páginasLuto Infantilsara100% (5)
- Resumo - Sobre A Morte e MorrerDocumento26 páginasResumo - Sobre A Morte e MorrerMarian92% (37)
- Primeiras Paginas Palavras Berco-1Documento176 páginasPrimeiras Paginas Palavras Berco-1Laís LopesAinda não há avaliações
- 5 - A Psicopedagogia Hospitalar para Crianças e AdolescentesDocumento19 páginas5 - A Psicopedagogia Hospitalar para Crianças e AdolescentesEudeir BarbosaAinda não há avaliações
- A Criança, Sua Doença e Os Outros. MannoniDocumento7 páginasA Criança, Sua Doença e Os Outros. MannoniRossana Bragança100% (1)
- Resumo Sobre A Morte e MorrerDocumento11 páginasResumo Sobre A Morte e MorrerTAYNA100% (1)
- O Luto Na Infância e Seus Reflexos Na Adolecência PDFDocumento5 páginasO Luto Na Infância e Seus Reflexos Na Adolecência PDFGlauciene Ferreira Hermolau100% (1)
- Literatura Infantil Com Fins Catárticos e TerapêuticosDocumento10 páginasLiteratura Infantil Com Fins Catárticos e TerapêuticosBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Duas Razões para Não Chorar PDFDocumento18 páginasDuas Razões para Não Chorar PDFBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Admin, BJD 378 PDFDocumento9 páginasAdmin, BJD 378 PDFBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Desenvolvimento de Um Livro Ilustrado Abordando A Temática de Gênero - TCC PDFDocumento142 páginasDesenvolvimento de Um Livro Ilustrado Abordando A Temática de Gênero - TCC PDFBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- A Literatura Infantil Diante Da Morte Imagens Contemporâneas PDFDocumento57 páginasA Literatura Infantil Diante Da Morte Imagens Contemporâneas PDFBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Erik EriksonDocumento29 páginasErik EriksonBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Envelhecimento e Morte - Percepção de Idosas de Um Grupo de ConvivênciaDocumento23 páginasEnvelhecimento e Morte - Percepção de Idosas de Um Grupo de ConvivênciaBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- 4589 Article 24061 1 10 20200618Documento28 páginas4589 Article 24061 1 10 20200618Brenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- O Envelhecer e A MorteDocumento9 páginasO Envelhecer e A MorteBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Creditar A Morte À Velhice Pode Ser FatalDocumento6 páginasCreditar A Morte À Velhice Pode Ser FatalBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- A Luta Contra A Morte - Os Corpos, Modernidade Brasileira e Uma História Da VelhiceDocumento21 páginasA Luta Contra A Morte - Os Corpos, Modernidade Brasileira e Uma História Da VelhiceIgor DoiAinda não há avaliações
- A Psicologia Forense e A Identificação de Indivíduos PsicopatasDocumento19 páginasA Psicologia Forense e A Identificação de Indivíduos PsicopatasAdel Malek Alessandra GomesAinda não há avaliações
- A Fenomenologia Do Envelhecer e Da Morte Na Perspectiva de Norbert EliasDocumento11 páginasA Fenomenologia Do Envelhecer e Da Morte Na Perspectiva de Norbert EliasBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Tratamento Do Acusado Diagnosticado Com Transtorno deDocumento18 páginasTratamento Do Acusado Diagnosticado Com Transtorno deBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Transtorno de CondutaDocumento4 páginasTranstorno de CondutaAnderson CastroAinda não há avaliações
- Psicopatia o Construto e Sua Avaliação PDFDocumento10 páginasPsicopatia o Construto e Sua Avaliação PDFJuarez LucasAinda não há avaliações
- Ana Carolina Tinoco Neves SantosDocumento13 páginasAna Carolina Tinoco Neves SantosBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- A Construção Da Psicopatia No Contexto Da Cultura Do MedoDocumento10 páginasA Construção Da Psicopatia No Contexto Da Cultura Do MedoReis JotaAinda não há avaliações
- Intervenção AdequadaDocumento33 páginasIntervenção AdequadaBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Promover A Mudança em Personalidades Anti-SociaisDocumento13 páginasPromover A Mudança em Personalidades Anti-SociaisSoraia BarreirosAinda não há avaliações
- Camila Luciane NunesDocumento5 páginasCamila Luciane NunesJonathan DomingosAinda não há avaliações
- Psicopatia: Um Estudo Sobre A Criminalidade E O Olhar Da Psicologia Psychopathy: A Study On Crime and The Look of PsychologyDocumento17 páginasPsicopatia: Um Estudo Sobre A Criminalidade E O Olhar Da Psicologia Psychopathy: A Study On Crime and The Look of PsychologyBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Gênero e Jornada de Trabalho - Análise Das Relações Entre Mercado de Trabalho e FamíliaDocumento26 páginasGênero e Jornada de Trabalho - Análise Das Relações Entre Mercado de Trabalho e FamíliaBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Os Afazeres Domésticos Antes e Depois Da Pandemia - Desigualdades Sociais e de Gênero - DEMOGRAFIA - UFRNDocumento8 páginasOs Afazeres Domésticos Antes e Depois Da Pandemia - Desigualdades Sociais e de Gênero - DEMOGRAFIA - UFRNBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Mulher, Trabalho e Família Os Impactos Do Trabalho Na Subjetividade Da Mulher e em Suas Relações FamiliaresDocumento19 páginasMulher, Trabalho e Família Os Impactos Do Trabalho Na Subjetividade Da Mulher e em Suas Relações FamiliaresBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- 3 - Texto2 - Mulheres em Home Office Durante A Pandemia Da Covid19Documento12 páginas3 - Texto2 - Mulheres em Home Office Durante A Pandemia Da Covid19Alex Alves BastosAinda não há avaliações
- LEGENDA DOS Tres Compaheiros - S. Fco AssisDocumento19 páginasLEGENDA DOS Tres Compaheiros - S. Fco AssisBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- LEGENDA DOS Tres Compaheiros - S. Fco AssisDocumento19 páginasLEGENDA DOS Tres Compaheiros - S. Fco AssisBrenda Chacon SilverioAinda não há avaliações
- Dinâmicas para FazerDocumento3 páginasDinâmicas para FazerAnna Karoline AraújoAinda não há avaliações
- Os Vestigios Do Dia - Kazuo IshiguroDocumento313 páginasOs Vestigios Do Dia - Kazuo Ishiguroporra-caralhoAinda não há avaliações
- Notas Sobre A AmizadeDocumento17 páginasNotas Sobre A AmizadeDilson Sousa AmorimAinda não há avaliações
- SensualidadeDocumento4 páginasSensualidadelarissa boziAinda não há avaliações
- UntitledDocumento69 páginasUntitledMia Bianca BlanckAinda não há avaliações
- Apostila - Uma Vida Centrada No Evangelho - 20231201 - 164822 - 0000Documento56 páginasApostila - Uma Vida Centrada No Evangelho - 20231201 - 164822 - 0000Jhonatas AzevedoAinda não há avaliações
- Casal Intimidade Relações Conjugais e ExtraconjugaisDocumento47 páginasCasal Intimidade Relações Conjugais e ExtraconjugaisSandra Cristina de SouzaAinda não há avaliações
- Notas Sobre A Esperança e o Desespero - Luiz Felipe PondéDocumento73 páginasNotas Sobre A Esperança e o Desespero - Luiz Felipe PondéMônica PelegriniAinda não há avaliações
- Resumo - Quem Pensa EnriqueceDocumento15 páginasResumo - Quem Pensa Enriquecewagner sgobiAinda não há avaliações
- Apostila de Explicativa Sobre Marketing IndependenteDocumento50 páginasApostila de Explicativa Sobre Marketing IndependenteKallil RiquelmeAinda não há avaliações
- Gestalt e Grupos Uma Perspectiva Sistêmica - Therese A. TellegenDocumento70 páginasGestalt e Grupos Uma Perspectiva Sistêmica - Therese A. TellegenFernanda100% (1)
- DISSERTACA771O FINAL UFPE PPGECM ANDREIA BASTOS 2022.docx 3Documento145 páginasDISSERTACA771O FINAL UFPE PPGECM ANDREIA BASTOS 2022.docx 3JOSE DILSON BESERRA CAVALCANTIAinda não há avaliações
- 7 Poderosos Gatilhos MentaisDocumento13 páginas7 Poderosos Gatilhos MentaisbrunoAinda não há avaliações
- Material Didático - CopywritingDocumento139 páginasMaterial Didático - CopywritingRenata100% (1)
- O MANUAL DO TRADER RENOMADO - Victor Maia Trader PDFDocumento70 páginasO MANUAL DO TRADER RENOMADO - Victor Maia Trader PDFBussines LaraAinda não há avaliações
- Voce Nasceu Rico Bob Proctor PDFDocumento245 páginasVoce Nasceu Rico Bob Proctor PDFGABRIEL TANAKA100% (1)
- o+Manual+Do+Trader+Renomado+ +Victor+Maia+TraderDocumento70 páginaso+Manual+Do+Trader+Renomado+ +Victor+Maia+TraderMarcelo AndradeAinda não há avaliações
- Artigo Teoria Dos TraçosDocumento5 páginasArtigo Teoria Dos TraçosThiago Fernandes100% (1)
- O Segredo Da MeditaçãoDocumento2 páginasO Segredo Da MeditaçãoAnderson SantosAinda não há avaliações
- O Nascimento Da PsicologiaDocumento18 páginasO Nascimento Da PsicologiaMarcelo AntonioAinda não há avaliações
- Princípio Nove - PaciênciaDocumento4 páginasPrincípio Nove - PaciênciaschardosiminacioAinda não há avaliações
- Conceitos Contemporâneos de Gil, Deleuze e Guatarri Uma Desconstrução Do Pensamento ContemporâneoDocumento17 páginasConceitos Contemporâneos de Gil, Deleuze e Guatarri Uma Desconstrução Do Pensamento ContemporâneoMadalenaAinda não há avaliações
- Fund Moral Kant 6 EuDocumento11 páginasFund Moral Kant 6 EuDiogoSantosAinda não há avaliações
- CPL2Documento5 páginasCPL2Simoni SauerAinda não há avaliações
- Psicose - Apresentação SlideDocumento190 páginasPsicose - Apresentação SlideMYRELLA PEREIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- Jeffrey C. Wood - Dialectical Behavior Therapy Diary (2021) PORTUGUES GOOGLE PDFDocumento135 páginasJeffrey C. Wood - Dialectical Behavior Therapy Diary (2021) PORTUGUES GOOGLE PDFAdriano Gosuen100% (1)
- AF OPEE - Ebook - Dicas Atividades Projeto Vida Compressed 2703Documento15 páginasAF OPEE - Ebook - Dicas Atividades Projeto Vida Compressed 2703Monica Rodrigues De Toledo MonteiroAinda não há avaliações
- Resumo Arquitetura Da PersuasãoDocumento7 páginasResumo Arquitetura Da PersuasãoIgor MatheusAinda não há avaliações
- Parte 1 - Consciência Do DinheiroDocumento18 páginasParte 1 - Consciência Do DinheiroEliane Rodrigues Soares BezerraAinda não há avaliações
- Psicologia PositivaDocumento25 páginasPsicologia PositivaDayana BrainerAinda não há avaliações
- Deuses falsos: As promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança que realmente importaNo EverandDeuses falsos: As promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança que realmente importaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (27)
- 21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNo Everand21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (57)
- A Bíblia e sua família: Exposições bíblicas sobre casamento, família e filhosNo EverandA Bíblia e sua família: Exposições bíblicas sobre casamento, família e filhosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (3)
- Mulher do reino: Seu propósito, seu poder e suas possibilidadesNo EverandMulher do reino: Seu propósito, seu poder e suas possibilidadesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (6)
- Como ter o Coração de Maria no Mundo de Marta: Fortalecendo a Comunhão com Deus em uma Vida AtarefadaNo EverandComo ter o Coração de Maria no Mundo de Marta: Fortalecendo a Comunhão com Deus em uma Vida AtarefadaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (13)
- Poder e Alta Performance: O manual prático para reprogramar seus hábitos e promover mudanças profundas em sua vidaNo EverandPoder e Alta Performance: O manual prático para reprogramar seus hábitos e promover mudanças profundas em sua vidaNota: 2.5 de 5 estrelas2.5/5 (9)
- Faça o tempo trabalhar para você: e alcance resultados extraordináriosNo EverandFaça o tempo trabalhar para você: e alcance resultados extraordináriosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Águas no deserto: Encontrando Refrigério para os sedentosNo EverandÁguas no deserto: Encontrando Refrigério para os sedentosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- As 5 linguagens do amor para homens: Como expressar um compromisso de amor a sua esposaNo EverandAs 5 linguagens do amor para homens: Como expressar um compromisso de amor a sua esposaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (7)
- Escola dos Deuses: Formação dos líderes da nova EconomiaNo EverandEscola dos Deuses: Formação dos líderes da nova EconomiaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (7)
- Neurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNo EverandNeurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)
- Guia Completo das Terapias Alternativas: Métodos terapêuticos naturais que proporcionam saúde integralNo EverandGuia Completo das Terapias Alternativas: Métodos terapêuticos naturais que proporcionam saúde integralNota: 4 de 5 estrelas4/5 (15)
- O amor não dói: Não podemos nos acostumar com nada que machucaNo EverandO amor não dói: Não podemos nos acostumar com nada que machucaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (32)
- A coragem de ser responsável: Descubra se você é reativo ou proativo, omisso ou comprometidoNo EverandA coragem de ser responsável: Descubra se você é reativo ou proativo, omisso ou comprometidoAinda não há avaliações