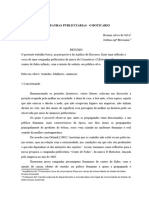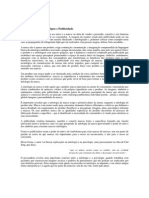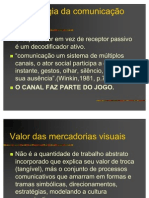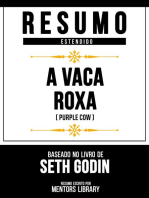Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
37-Texto Do Artigo-72-72-10-20151027
Enviado por
lucianoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
37-Texto Do Artigo-72-72-10-20151027
Enviado por
lucianoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
artigo ]
[ MARIA GABRIELA GAMA ]
Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do
Minho, em Portugal. Professora do Departamento de Ciências da
Comunicação e pesquisadora do Centro de Estudos de Comunicação
e Sociedade da mesma universidade.
E-mail: mgama@ics.uminho.pt
As marcas
adquiriram sex appeal
The brands acquired sex appeal
[resumo] De um modo sucinto, tentamos refletir como nos relacionamos com as
marcas, como estas nos aparecem como derradeiros refúgios de liberdade. Espécie
de upgrads que visam colmatar espaços em branco da nossa existência estilhaçada. [ 97 ]
Falar de marcas é falar de afetos, emoções, sensações, desejos. É falar sobre relação
estranha que estabelecemos com as coisas. Desenvolvemos uma ligação cada vez
maior com as marcas, cultivamos, veículos intensos. Assim, a razão tecnocientífica,
que tinha a pretensão de dessacralizar o real, foi explorando outras formas de sagra-
do, produzindo novas mitologias.
[ palavras-chave ]
marca; sex appeal; emoção; consumo.
[abstract] Briefly, we aim at reflecting how we relate to the brands, how they
appear as the ultimate refugees of freedom. A kind of upgrads that tend to fill out
blank spaces of our shattered existence. Talking about brands is to talk of affections,
emotions, sensations, desires. It is to talk about the strange relationship that we
establish with things. We developed a growing bond with brands, we cultivate intense
vehicles. Thus, the technoscientific reason, that was intended to desacralize the real,
has been exploring other forms of the sacred, producing new mythologies.
[keywords] brand; sex appeal; emotion; consumer.
artigo ] MARIA GABRIELA GAMA
Oh, não discutam a “necessidade”! O mais pobre dos mendigos pos-
sui ainda algo de supérfluo na mais miserável coisa. Reduzam a
natureza às necessidades da natureza e o homem ficará reduzido
ao animal: a sua vida deixará de ter valor. Compreendes por aca-
so que necessitamos de um pequeno excesso para existir?
Shakespeare citado por Baudrillard (1995, p. 39)
Falar de marcas é falar de seduções, de afetos, de emoções; é falar de portos de
abrigo, de utopias. Uma experiência individual, afetiva e sensitiva que nos liga reci-
procamente. As marcas surgem-nos como derradeiros refúgios oníricos de liberdade;
espécie de upgrads que visam colmatar espaços em branco da nossa existência esti-
lhaçada. Lee (2003, p. 145) sublinha: “Se nós estivéssemos completamente satisfeitos
com todos os aspetos das nossas vidas, não desejaríamos mais nada, e a indústria
da moda iria à falência”. A marca que “nos olha e é olhada” é cúmplice do nosso
devaneio pelo mundo das “coisas”. Podemos perspetivar o existir das marcas como a
consubstanciação de nós, desaguados nelas. Adquirirmos as nossas marcas de eleição
“(…) confronta-nos com coisas tão impalpáveis como o desejo, a crença e a emoção”
(MARTINS, 2005, p. 54).
O fator sexy inerente à marca convida-nos a “jogar o jogo” da sedução. Despro-
vida de preconceitos, revestida de um sem-número de fantasias, a marca fascina-nos;
instante catártico entre nós e ela que harmoniza as multíplices tensões que pautam o
nosso quotidiano. Apresentamo-nos através delas; somos através delas. O que deseja-
mos, segundo Lipovetsky (2011, p. 46), “é mais a marca do que o produto; a marca com
o seu estilo, o seu prestígio, o seu imaginário, a sua força de sonho”.
As marcas têm uma dimensão estabilizadora, equilibradora; nelas depositamos
tudo; há uma osmose entre nós e elas; universo sonhado de tudo o que nos falta na
[ 98 ] relação com o outro. Face a um tempo marcado pela alienação do mundo que ideolo-
gicamente constrói um outro, “os objetos são investidos de tudo aquilo que não existe
na relação humana” (BAUDRILLARD, 2000, p. 98).
O branding, de um modo sumário, é a gestão da marca; um processo bidirecional
que visa manter e reforçar a lealdade, a reputação, fomentar a autenticidade e avalizar
a qualidade dos produtos e serviços. Trabalhar a identidade da marca passa por torná-la
única; por desenvolver um conjunto de caracteres particulares que a tornam singular;
por torná-la peculiar, “uma atemporalidade e a necessária autenticidade que ajuda a
dar uma impressão de permanência” (KAPFERER e BASTIEN, 2009, p. 62, tradução livre).
Revestir a marca de uma série de facetas que vão para além das características dos
produtos, torná-la desejável. Trata-se, acima de tudo, de criar uma personalidade atra-
tiva. Segundo Aaker, a identidade da marca “é um conjunto exclusivo de associações
de marca que a marca estrategista busca criar ou manter” (2002, p. 68, tradução livre).
(In)tangibilidade e sedução das marcas
Sabemos que a existência das marcas não data de hoje, e que está intimamente
relacionada com o surgir da sociedade de consumo, na transição do século XIX para
o século XX, tendo-se desenvolvido de um modo avassalador durante o século XX e
neste início do século XXI. Segundo Lipovetsky (2011, p. 46), a “cultura-mundo é o
triunfo das global brands e dos seus logótipos universalmente conhecidos”. Marcas
que trabalham cada vez mais a sua identidade, a sua imagem e a sua reputação.
Na contemporaneidade, para percebermos o poder e a transformação da marca,
teremos que associá-la a uma tríade: “o consumo, a economia e a comunicação”
(SEMPRINI, 2010, p. 56). Ou seja, trata-se, acima de tudo, de trabalhar a dimensão
intangível das marcas, a sua força mitológica capaz de gerar “efeitos de sentido”.
Tudo assenta na intangibilidade das marcas. A intangibilidade materializada na
fantasia, na emoção, no sonho, em suma, no imaginário e no imaterial, ‘ganha terreno’
perante os aspetos tangíveis dos produtos. Trata-se continuamente de “surpreender, fa-
zer sonhar, criar um mito, transformar a marca numa estrela” (LIPOVETSKY, 2011, p. 236).
Sem oferecermos qualquer tipo de resistência, somos influenciados e encanta-
dos pelas marcas, deixamo-nos cativar, seduzir por um sem número de promessas;
simbolizam segurança, estabilidade, caução, espírito de pertença. Não esqueçamos
que a marca é, acima de tudo, uma convicção; é um compromisso que traz consigo
predicados, valores, benefícios. Trata-se sempre de levar o consumidor a entrar num
mundo imaginário, e nós, enquanto consumidores, anuímos. Lee (2003, p.6) afirma:
“Tu deverás acreditar submissamente no alcance das marcas de moda”.
Face ao universo onírico que nos permite viver num mundo por estrear, a não
aquisição de determinada marca que diz muito de nós faz com que sejamos pouco
ou nada complacentes para conosco próprios; não há condescendência possível; não
há uma anuição aos valores em que acreditamos. Na esteira de Olins, aprovamos as
marcas “que nos ajudem a dizer algo de nós próprios” (2005, p. 262).
A Birkin ou a Kelly Bag da Hermès, a 2,55 da Chanel, a Speedy, a Neverfull ou a
Alma da Louis Vuitton, por exemplo, revisitadas nas suas múltiplas versões em termos
de modelos, texturas, cores, padrões, tamanhos, são tão encantadoras, tão bem-pa-
recidas, tão graciosas, que é difícil resistir aos seus encantos. Sabemos o nome delas,
partilhamos histórias de sucesso e insucesso; acompanham-nos nas múltiplas viagens;
encontramo-nos com elas pelas ruas de Paris ou de Nova Iorque. Independentemente
da idade que têm, continuam a ser eternamente jovens, irreverentes, requintadas; têm
vida própria, têm valores, têm atitude, são, acima de tudo, espontâneas, adaptam-se
a qualquer situação, dizem muito de nós, mas, acima de tudo, são trendy, “destilam”
elegância, são chiques. Revelamo-nos através delas; “complementam e manifestam a
nossa personalidade” (OLINS, 2005, p. 262). Servindo-nos da conhecida oposição de
conteúdo latente e de conteúdo manifesto, diríamos que também no fenómeno das
marcas se evidencia a questão antropológica do sentido ser e do existir humano, como
se o enigma do homem se resolvesse “no dizer que quer ser dito”. Mas, como múltiplas
são as formas, e todas elas imperfeitas ou, melhor, inacabadas, de dizer o ser, o existir,
o viver do homem – como eloquentemente sinalizou o poeta António Gedeão –, é
legítimo e pertinente questionar a natureza ou identidade do sentido antropológico
que nas marcas se revela. Se as marcas nos provocam, nos mobilizam e nos encantam,
é sinal de que não são produtos banais, mas ícones da existência humana. [ 99 ]
Dabi Hall (p. 13), um especialista em marcas de moda da JY&A Consulting, em
Londres, afirma:
A marca pode acrescentar “valor” imediato aos produtos idênticos.
Branding é, infelizmente, a pedra angular de muitas marcas de moda
hoje em dia – não o design, a inovação, o corte, ou qualquer outra ha-
bilidade aperfeiçoada pelo designer. E o que a marca representa é tudo.
Na nossa fantasia pela esfera do consumo, as marcas adquirem vida; são deten-
toras de uma personalidade e ‘destilam’ sex-appeal. Marca como “dispositivo de sen-
tido que transforma os objetos em algo diferente e mais rico do que o são enquanto
puras mercadorias” (VOLLI, 2003, p. 124). Conforme a pertinente abordagem de Marx,
a mercadoria passou a ter um cunho fetichista.
A fetichização da marca como mercadoria
Walter Benjamin (1993, p. 201) na sua obra inacabada, subordinada ao título,
Paris, capitale du XIXe siècle: le livre des passages, afirma: “As coisas emanciparam-se
e passaram a ter um comportamento humano”. Isto é, a mercadoria, ser inanimado,
passou a ser tomada como se tivesse vida e, como tal, provocou uma inversão de va-
lores, em que o valor de troca se superioriza ao valor do uso. Este processo, próprio do
viver da contemporaneidade, virá a determinar também as relações entre os homens,
em que o seu enfoque parte da mercadoria e não do próprio homem, com as conse-
quentes implicações antropológicas.
Através das marcas somos transportadas para um mundo imaginário de uto-
pia e de promessa. Assim, transversalmente à nossa relação com as marcas, que é
metodicamente administrada pelo mercado, fomentam-se ligações, compartilham-se
experiências e identidades afins. Desenvolvemos uma ligação cada vez maior com as
marcas, cultivamos vínculos intensos. Investimos tudo no mundo das “coisas”. O que
nos encanta não são as singularidades das marcas, mas o que elas significam para
nós; o “capital” de felicidade que acrescentam à nossa existência em permanente
devir. Pode dizer-se que através da nossa relação com as marcas emerge um novo eu,
artigo ] MARIA GABRIELA GAMA
várias vidas/eus dentro de uma vida, vida vivida como jogo. Emerge uma nova ética da
felicidade: “deixa de ser uma oportunidade que nos surge, um momento afortunado,
(…) passa a ser a nossa condição, o nosso destino” (BRUCKNER, 2002, p. 45).
Tudo se joga na vertigem do instante. É a glorificação de um tempo em que
se trata, acima de tudo, de produzir rápida e continuamente o novo, de consumir
freneticamente. Queremos viver tudo e ao mesmo tempo. O que marca é o novo e
essa entronização do presente, da novidade, como já Debord (1991) assinalava na
década de 1960. Uma totalidade experimentada na fruição do presente. Segundo
Perniola (1985, p. 32-33), “o que acontece sempre aqui e agora, e esta possibilida-
de generativa está implícita em cada momento da vida” (1993, p.104). Igualmente,
Michel Maffesoli salienta que a “fruição do presente e o carpe diem tornam-se
valores massivos e irrecusáveis”.
Perante uma crise das ideologias, face à inexistência de grandes projetos que
nos mobilizem coletivamente, reclamamos para cada um de nós o direito de criarmos
o nosso universo onírico. Cada um de nós age como quer e quando quer, sem Deus
nem mestre, ou seja, “cada um se sente no direito de criar o seu mundo, de construir
imaginários individuais” (ibidem, 2006, p. 64). Fabricamos “mundos possíveis” que
“contribuem para dar uma resposta à incessante busca de sentido que caracteriza o
homem moderno” (idem, p. 288). Adquirirmos uma marca “é um ato de autoafirmação
e aprovação”. Universo utópico por excelência, “em que as aspirações são satisfeitas e
os valores reafirmados” (HEALEY, 2009, p. 10-11).
Kevin Robert, no seu livro, Lovemarks: the future beyond brands (2005), procura tra-
çar o seu percurso/experiência profissional e, simultaneamente, debruça-se sobre como
transformar uma marca numa lovemark. O autor parte do pressuposto que as marcas
perderam o poder atrativo, e o caminho passa por criar e manter ligações afetivas, ex-
periências emocionais duradouras. Ao longo do livro encontramos conceitos como amor,
intimidade, paixão, que constituem a tríade da transformação da marca em lovemark.
Para o autor, não há uma dissociação clara entre o universo da vida privada e o universo
[100] dos negócios e não tem a convicção de que consiga equilibrar estas duas dimensões.
De um modo sucinto, Robert salienta três ingredientes a serem trabalhados para que
as marcas se transformem em lovemarks: o mistério, a sensibilidade e a intimidade. O
mistério envolve o insondável; contém narrativas, reminiscências, metáforas onde o pas-
sado, o presente e o futuro se interligam. A áurea, o mistério criado à volta de uma deter-
minada marca para que a percebamos como ímpar, como única. O segundo ingrediente a
ser trabalhado é a dimensão sensitiva. Trata-se de fomentar um vínculo emocional a lon-
go prazo; sensações únicas que me são proporcionadas pela marca. O terceiro ingrediente
visa trabalhar a relação de intimidade entre a marca e os consumidores; uma relação que
se cria entre nós e a marca: “eu e ela somos uma só”. Tornamo-nos parceiras de múltiplas
aventuras, partilhamos experiências. Tal como vimos a defender, as marcas, para além de
serem objetos de desejo, tornaram-se “desencadeadoras” de paixões dominadoras.
Para além de uma determinada marca ser inigualável, imprescindível, esta deve
tornar-se irresistível. Assim, as marcas são trabalhadas no sentido de nos fazerem
“sucumbir” perante elas. A ligação entre mim e uma marca é, acima de tudo, uma li-
gação “amorosa”. Nesta relação jogam-se afetos, intimidades, cumplicidades, afinida-
des entre mim e a marca; uma ligação íntima assente numa lealdade que se pretende
eterna. Ainda na linha do autor, as lovemarks deixam, por exemplo, de ser património
dos seus fabricantes, dos seus distribuidores, e passam a ser um património a preser-
var dos consumidores que as elegem como tal; que vivem com elas/marcas relações
amorosas sólidas; experiências marcantes; pautadas pelo “amor”. Baudrillard (2000, p.
62) sustenta que “os objetos se tornaram mais complexos que o comportamento do
homem referente a estes”. Estranha relação que criamos com as “coisas”!
A racionalidade económica, possessa do espírito do lucro, precisa se reavivar num
constante fluir, criando uma premente necessidade de consumo. Para tal, aposta na
proliferação de marcas, na gestão destas garantindo-lhe um constante revigoramento
e, assim, a sua sobrevivência. Tudo é produção, tudo é consumo, tudo é entretenimento.
Michel Wolf (2003, p. 122) sublinha:
Temos percebido que nossas expectativas serão satisfeitas o tempo
todo (...). Produtos e marcas que trazem essa expectativa estão tendo
sucesso. Produtos que não trazem irão desaparecer (2003, p. 122).
Instância mítica na racionalidade tecnocientífica
À semelhança do homem primitivo, imbuído de um espírito mágico, que parece
continuar a governar-nos na contemporaneidade, o homem transfere para as marcas
as suas volições. Neste entendimento, para Baudrillard (1995, p. 23), “é uma mentali-
dade sensível ao miraculoso que rege a vida quotidiana, é a mentalidade primitiva (…),
trata-se da crença na omnipotência dos signos da felicidade”.
De um modo sucinto, diremos que o mito foi o primeiro esboço de inteligibilização
das coisas; foi, sobretudo, uma defesa pela incerteza perante a natureza que se apresen-
tava como múltipla, dissemelhante, instável e desordenada. A função do mito foi a pri-
meira tentativa de unir numa visão global os acontecimentos desorganizados do mundo.
George Gusdorf (1953, p. 21-23) afirma:
A transformação da existência exige a prossecução de um equilíbrio
frágil, ameaçado, cuja menor rutura exige impõe severas penalida-
des. Insegurança ontológica, geradora de angústia, como se a própria
vida do homem correspondesse a uma transgressão da ordem natural.
No seio desta primeira existência, presa do mundo, o mito afirma-se
como uma conduta de regresso à ordem. Intervém como protótipo de
equilíbrio do universo, como formulário de reintegração.
Entendendo a realidade como um todo, como um imenso ser vivo, numa solida-
riedade total e indistinta entre todas as coisas, o homem primitivo é dominado pelo
animismo e pelo antropomorfismo. Se tudo participa do todo, participa também do
sagrado, e o homem da consciência mítica, ao sacralizar a realidade, faz intervir a
ação decisiva dos deuses. O sagrado é o divino, o misterioso, mas é também o que
provoca o medo e o terror. Na esteira de Mircea Eliade ([19--] p. 107-108): “o mito
revela a sacralidade absoluta porque conta a atividade criadora dos deuses, desvenda
a sacralidade da sua obra”. Nessa linha de pensamento, o mito narra as dissemelhan- [ 101 ]
tes irrupções do divino no cosmos. No entanto, o mito não é apenas uma forma de
compreensão, mas é também uma norma de ação. Assim, o mito atualiza-se no rito
em que o sagrado intervém nos atos do quotidiano, pois só este é capaz de conferir
realidade e sentido ao mundo profano.
Mircea Eliade, em sua obra Mito do eterno retorno (1981, p. 18-19), acentua:
“Um objeto ou um ação adquirem um valor e, deste modo, tornam-se reais, porque
de qualquer forma participam de uma realidade que os transcende” Nesse sentido,
todos os atos humanos só têm valor e eficácia se forem repetições das ações originais
dos deuses. Em síntese, o mito narra a maneira como o homem vê o mundo; o real é
uma totalidade vivida onde domina uma mentalidade sincrética. Um mundo concreto,
cheio de ressonâncias afetivas intrinsecamente dramático, uma vez que na realidade
chocam entre si forças antagónicas.
A razão tecnocientífica, que tinha a pretensão de dessacralizar o real, parece
ter provocado outras formas de sagrado, produzindo novas mitologias. Parece ser da
própria racionalidade tecnocrática que brotam novos mitos e novas formas de sagra-
do. O homem produtor é, simultaneamente, o seu objeto; máquina desejante de que
nos fala Deleuze (1966, p. 297): “a máquina e o desejo aparecem ligados, a máquina
introduz-se no desejo, a máquina é desejante e o desejo maquinado”. Extasiados que
estamos com as marcas, validamo-las como soberanas em relação a nós, enlaçamo-
-nos nelas, estão para além de nós, mas dentro e fora de nós.
As pessoas reconhecem-se nas suas mercadorias; encontram a alma
no seu automóvel (…). O mecanismo que une o indivíduo à sociedade
mudou, e o controlo social enraizou-se nas novas necessidades que
produziu. (MARCUSE, 1994, p. 33)
Tudo se joga no universo do consumo, que não é, naturalmente, independente da
“produção” e da “distribuição”. Baudrillard (1995, p. 19) refere que “o consumo invade
toda a vida, em que todas as atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório,
em que o canal das satisfações se encontra (…) traçado, (…) em que o ‘envolvimento’
é total, (…) climatizado, organizado, culturalizado”.
artigo ] MARIA GABRIELA GAMA
O que nos leva a consumir, neste tempo que Lipovetsky qualifica como hiper-
moderno? No entender do autor, o que está em jogo é “uma sensação viva, um gozo
emotivo. (…) é adquirir uma pequena revivescência no quotidiano” (LIPOVETSKY, 2004,
p. 121). Para Bauman (2008, p. 75), “consumir significa investir na afiliação social de si
próprio, o que numa sociedade de consumo, traduz-se em vendabilidade”.
Baudrillard, na sua obra, Para uma crítica da economia política do signo (1983),
entende a lógica do consumo como um imperativo, assente no pressuposto de que
as nossas ações são predeterminadas pelo mercado. Deixando de ser uma retribuição
pessoal, o consumo, inundando o nosso sistema cultural, transformou-se numa es-
pécie de destino coletivo. Para Baudrillard, no consumo há uma deslocação da nossa
subjetividade, em que o objeto, em posição de domínio sobre o sujeito, acaba por
interferir na sua própria liberdade, sendo representado através dos objetos. Mais do
que consumirmos em função da funcionalidade dos produtos, consumimos em função
do que estes representam, tendo o seu significado, quer no âmbito pessoal, quer na
esfera das circunstâncias sociais, uma importância decisiva. Assim, acabamos por ser
consumidores, por exemplo, do status que os objetos nos dão, numa espécie de perso-
nificação destes. No entanto, há outras varáveis para além do status.
Norman (2004, p. 3-4) destaca que
os objetos das nossas vidas são mais do que meras posses materiais.
(…) Temos orgulho neles, não necessariamente porque aparentam ri-
queza ou status, mas pelo significado que trazem às nossas vidas.
[102 ] Olhamos e consumimos os objetos, encantados pela sua estetização, longe da
mera funcionalidade; os objetos são por nós percepcionados pelo lado lúdico, estético.
Assim, onde muitos conjeturam puro controlo e passividade, “pode encontrar-se satis-
fação, jogo e gosto pela estetização. O consumidor seduzido (…) não é um enganado,
mas um encantado” (LIPOVETSKY, 2004, p. 36).
Na contemporaneidade, toda a vida nos aparece marcada pela esteticização.
Uma estetização do real que anula qualquer outro olhar. Featherstone (2007, p. 121)
realça que a “estetização da realidade coloca em primeiro plano a importância do es-
tilo, estimulada também pela dinâmica do mercado (…) com a sua procura constante
por novas modas, novos estilos, sensações e novas experiências”.
A dimensão da beleza e os dados dos sentidos parecem funcionar como filtros
pelos quais se orienta e aquilata o pensar, o agir, o construir da vida psicológica, o
organizar da vida social. A própria moda, imersa numa lógica de cultura de consumo,
não foge a esse modelo que, tendo a sua génese no Ocidente, seguiu a vaga da globa-
lização. Os desejos têm agora como critério fundamental a dimensão estética.
Para finalizar, importa reconhecer que não há dúvida de que há muito a fazer
para seduzir os consumidores, despertar a sua atenção; no entanto, acreditamos que
não somos infuenciados pelas marcas, quando na realidade somos sim. É importante
ressaltar que ao adquirirmos marcas, adquirimos conceitos e adquirimos estilos de
vida que nos são fomentados pelo mercado à escala global.
Por que gostamos de marcas? Porque passaram a ser cúmplices de múltiplas
aventuras; porque o encantamento da marca nos ofusca e nos conquista; porque
a marca congrega em si a dimensão do desejo, da magia, da emoção e da sedução.
Porque as marcas nos transportam para um “mundo outro” que rompe com o nosso
quotidiano onde se joga tudo aquilo que não temos num mundo cada vez mais “coi-
sificado”. De acordo com Olins (2005, p. 234), “na desordem emocional que (…) nos
submerge quando compramos, sentimo-nos bem conosco próprios”.
O destino das marcas, o que nelas reverbera de infinitamente grande e de infini-
tamente pequeno, confunde-se ou assimila-se, afinal, ao destino do próprio homem,
do que é capaz, na esfera do infinitamente grande e do infinitamente pequeno.
REFERÊNCIAS
AAKER, D. Building strong brands. United Kingdom: Simon & Schuster, 2002.
BAUDRILLARD, J. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 1995.
______. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 2000. BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
______. Vida para consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
BENJAMIN, W. Paris, capitale du XIXe siècle: le livre des passages. Paris: Cerf, 1993.
BRUCKNER, P. A euforia perpétua: ensaio sobre o dever da felicidade. Lisboa: Notícias, 2002.
CASTILHO, K.; MARTINS, M. M. Discurso da moda: semiótica, design e corpo. São Paulo: Anhembi
Morumbi, 2008.
CLIFTON, R.; SIMMONS, J. Brands and Branding. London: Profile Books, 2003.
DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Lisboa: Mobilis in Mobilem, 1991.
DELEUZE, G. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Lisboa: Assírio & Alvim, 1966.
ELIADE, M. Mito do eterno retorno. Lisboa: Edições 70, 1981.
______. O sagrado e o profano. Lisboa:LBL,[19--].
FEATHERSTONE, M. Consumer culture and postmodernism. Los Angeles: Sage, 2007.
______.Undoingculture: globalization,postmodernismandidentity. London: Sage,1997. [103]
GUSDORF, G. Mythe et métaphysique. Paris: Flammarion, 1953.
KAPFERER, J.; BASTIEN, V. The luxury strategy: break the rules of marketing to build luxury brands.
United Kingdom: Kogan Page, 2009.
KAPFERER, J. Marcas: capital de empresa. Lisboa: CETOP, 1991.
LEE, M. Fashion victim: our love-hate relationship with dressing, shopping and the cost of style. New
York: Random House, 2003.
LIPOVETSKY, G.; JUVIN, H. O Ocidente mundializado: controvérsia sobre a cultura planetária. Lisboa:
Edições 70, 2011.
______. L’empire del’éphémère: la mode et son destin dans les societies moderns. Paris: Gallimard,1987.
MAFFESOLI, M. L’instant éternel: le retour du tragique dans les sociétés postmodernes. Paris: Denoël,
2000.
MARCUSE, H. El hombre uni dimensional. Barcelona: Ariel, 1994.
MARTINS, M. Crise no castelo da cultura: das estrelas para os ecrãs. Coimbra: Grácio, 2011.
______ A razão comunicativa nas sociedades avançadas. In: Rumos da sociedade da comunicação.
Lisboa: Vega, 2005, p. 51-57.
NORMAN, D. Emotional design: why we love (or hate) everyday things. New York: Basic Books, 2004.
OLINS, W. A marca. Lisboa: Edições 70, 2005.
PERNIOLA, M. Do sentir. Lisboa: Presença, 1993.
______. O sex-appeal do inorgânico. Coimbra: Ariadne, 2004.
SEMPRINI, A. A marca pós-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade contemporânea. São
Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010.
______. El marketing de la marca. Barcelona: Paidós, 1995.
WOLF, M. The entertainment economy: how mega-media forces are transforming our lives. New York:
Times Book, 1999.
Você também pode gostar
- Nowall School - Tom de Voz e ArquetiposDocumento15 páginasNowall School - Tom de Voz e ArquetiposDomênica P.100% (17)
- Conversando se entende: Aprendizados, técnicas e práticas para transformar conflitos em possibilidadesNo EverandConversando se entende: Aprendizados, técnicas e práticas para transformar conflitos em possibilidadesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- 1629147943storytelling Toolkit CompressedDocumento57 páginas1629147943storytelling Toolkit CompressedThais Tomaz DominguesAinda não há avaliações
- Identidade e Imagem Da MarcaDocumento128 páginasIdentidade e Imagem Da MarcaRodrigo Fernandes Pissetti100% (5)
- 1 - Umbanda Pé No ChãoDocumento123 páginas1 - Umbanda Pé No ChãoLucas Taveira Gonçalves100% (1)
- E Book EssenceDocumento40 páginasE Book Essenceaguiar100% (1)
- História Da Música I - Música HebraicaDocumento12 páginasHistória Da Música I - Música HebraicaStephanie FerrerAinda não há avaliações
- Caderno Ojubó IgbejíDocumento9 páginasCaderno Ojubó IgbejíBabalorisa Mauro T'osun96% (26)
- Uma jornada pelo autoconhecimento: aprenda a se diferenciar através do propósito da sua marcaNo EverandUma jornada pelo autoconhecimento: aprenda a se diferenciar através do propósito da sua marcaAinda não há avaliações
- Interpretação de Text5oDocumento10 páginasInterpretação de Text5oJoselice SiebraAinda não há avaliações
- Marketing de LuxoDocumento9 páginasMarketing de LuxoLarissa Almada100% (1)
- Central Press - ArquétiposDocumento15 páginasCentral Press - ArquétiposFilipe OliveiraAinda não há avaliações
- Marca VivaDocumento30 páginasMarca VivaMarjorie VeríssimoAinda não há avaliações
- 1570716445pi Content Mundo Pop PDFDocumento11 páginas1570716445pi Content Mundo Pop PDFdioalves100% (1)
- Branded Content PDFDocumento66 páginasBranded Content PDFValter SchuelerAinda não há avaliações
- A Emoção Na Arquitetura ComercialDocumento14 páginasA Emoção Na Arquitetura ComercialCamila BorghezanAinda não há avaliações
- Experiencias EmocionaisDocumento5 páginasExperiencias EmocionaisAna Strogenski100% (1)
- Evoluçao Das MarcasDocumento3 páginasEvoluçao Das MarcasAna TerraAinda não há avaliações
- Porque Nos ComunicamosDocumento9 páginasPorque Nos ComunicamosPaula Richelle AlmeidaAinda não há avaliações
- Invisibilidade Social e Cultura Do ConsumoDocumento4 páginasInvisibilidade Social e Cultura Do ConsumoIsabela MoraisAinda não há avaliações
- Aula 08-09 - Storytelling CorporativoDocumento91 páginasAula 08-09 - Storytelling CorporativoAnderson dos santosAinda não há avaliações
- Cultura e Pós-Modernidade - Aula 03 - UninterDocumento16 páginasCultura e Pós-Modernidade - Aula 03 - UninterfabianovgaAinda não há avaliações
- Branding Aula5Documento25 páginasBranding Aula5Matheus RodriguesAinda não há avaliações
- Ética e Persuasão Na Publicidade - ARTIGODocumento20 páginasÉtica e Persuasão Na Publicidade - ARTIGOMarcia MelloAinda não há avaliações
- Campanhas Publicitárias O BoticárioDocumento5 páginasCampanhas Publicitárias O BoticárioRosane AlvesAinda não há avaliações
- Propaganda, Felicidade e ConsumoDocumento5 páginasPropaganda, Felicidade e ConsumoRone SantosAinda não há avaliações
- A Marca Como Valor SimbólicoDocumento2 páginasA Marca Como Valor SimbólicoArnaldo RabeloAinda não há avaliações
- Slides de Aula Unidade IIIDocumento60 páginasSlides de Aula Unidade IIIChoi nnnAinda não há avaliações
- Renata Melhor Professora Amo Demais Não Tem Nenhuma Pessoa Tão Incrível Que Nem Ela SLK KKKJDocumento7 páginasRenata Melhor Professora Amo Demais Não Tem Nenhuma Pessoa Tão Incrível Que Nem Ela SLK KKKJGeorge LucasAinda não há avaliações
- A Publicidade Audiovisual Na Sociedade de ConsumoDocumento16 páginasA Publicidade Audiovisual Na Sociedade de ConsumoflagonsAinda não há avaliações
- A Relação Entre As Pessoas e As MarcasDocumento55 páginasA Relação Entre As Pessoas e As Marcasapi-26054553Ainda não há avaliações
- New SEND Slides Recife - Workshop Branding e CX - Hiller Training & Consulting - Março 2017Documento118 páginasNew SEND Slides Recife - Workshop Branding e CX - Hiller Training & Consulting - Março 2017z2mmyzfn6vAinda não há avaliações
- Rdação 30-10-Arte de Persuação-P-AvaliaçãoDocumento5 páginasRdação 30-10-Arte de Persuação-P-Avaliaçãoyves raphaelAinda não há avaliações
- Comportamento Do Cons Aula 7Documento26 páginasComportamento Do Cons Aula 7Guilherne PachecoAinda não há avaliações
- Fundamentos Sociais Do Design 10Documento1 páginaFundamentos Sociais Do Design 10Thalissa LewinAinda não há avaliações
- Ebook - Sebrae - Moda Arquetipos de MarcaDocumento22 páginasEbook - Sebrae - Moda Arquetipos de MarcaJeferson M. A. Almeida GonsalesAinda não há avaliações
- Consumo AutoralDocumento6 páginasConsumo AutoralIara Silva0% (1)
- Mitologia, Mito, Arquétipos e Publicidade Por Mary Cris PDFDocumento7 páginasMitologia, Mito, Arquétipos e Publicidade Por Mary Cris PDFVan TinoAinda não há avaliações
- Slides - Comunicação e LinguagensDocumento62 páginasSlides - Comunicação e LinguagensMarketing Util FestasAinda não há avaliações
- Hipermemoria Diogo Tonini Unoesc CcoDocumento6 páginasHipermemoria Diogo Tonini Unoesc CcoDiogo ToniniAinda não há avaliações
- Consumo Autoral ResenhaDocumento6 páginasConsumo Autoral ResenhaMatildes Pizzio TomasiAinda não há avaliações
- 6 - Ebook Arquetipos de MarcaDocumento30 páginas6 - Ebook Arquetipos de Marca4g554cp5ngAinda não há avaliações
- Avaliação GESTÃO E IDENTIDADE DE MARCASDocumento4 páginasAvaliação GESTÃO E IDENTIDADE DE MARCAStanahoohotmail.comAinda não há avaliações
- VOLLMER Tondato 2018 - CONSUMO - LOWSUMERDocumento14 páginasVOLLMER Tondato 2018 - CONSUMO - LOWSUMERPaloma MartinsAinda não há avaliações
- Humor Nas Redes Sociais - Como Conectar Pessoas e Fazer Negócios - 21jul2022Documento76 páginasHumor Nas Redes Sociais - Como Conectar Pessoas e Fazer Negócios - 21jul2022Jouce ValdameriAinda não há avaliações
- Discurso Publicitário - Na Teia Do IdeológicoDocumento7 páginasDiscurso Publicitário - Na Teia Do IdeológicoPaula CalilAinda não há avaliações
- Aula 1 - minicursoUFMG - Set16Documento22 páginasAula 1 - minicursoUFMG - Set16Rita GonçaloAinda não há avaliações
- Resenha - Magia e Capitalismo - ROCHA - Página 07 À 73 - Marcelo LemosDocumento4 páginasResenha - Magia e Capitalismo - ROCHA - Página 07 À 73 - Marcelo LemosmarceloblemosAinda não há avaliações
- O Slogan Como Instrumento Da Sucessão de Signos Na PublicidadeDocumento8 páginasO Slogan Como Instrumento Da Sucessão de Signos Na PublicidadeLuciana Souza ReinoAinda não há avaliações
- Antropologia Da Comunicação VisualDocumento14 páginasAntropologia Da Comunicação VisualAline CarvalhoAinda não há avaliações
- 146-Manuscript in Word Document (Required) - 2698-1-10-20221129Documento12 páginas146-Manuscript in Word Document (Required) - 2698-1-10-20221129Paulina AshlyAinda não há avaliações
- Marketing de ConteúdoDocumento6 páginasMarketing de ConteúdoRodrigoAinda não há avaliações
- A Publicidade Como Expressão Do Narcisismo Cultural Na Sociedade ContemporâneaDocumento9 páginasA Publicidade Como Expressão Do Narcisismo Cultural Na Sociedade ContemporâneaMailaAinda não há avaliações
- Relatorio Sobre Moda Com PropósitoDocumento1 páginaRelatorio Sobre Moda Com PropósitoMonica M SilvaAinda não há avaliações
- Atividade Coletiva Indústria Cultural 1Documento3 páginasAtividade Coletiva Indústria Cultural 1Andre Marcos da SilvaAinda não há avaliações
- MarketingDocumento12 páginasMarketingedilenelagedoAinda não há avaliações
- Vol 28 Subjetividade Small Data Observacao Participante 2019Documento9 páginasVol 28 Subjetividade Small Data Observacao Participante 2019emerson rodriguesAinda não há avaliações
- É Possível Dizer Não Ao Consumo PredatórioDocumento3 páginasÉ Possível Dizer Não Ao Consumo PredatórioGuilherme Augusto Souza PradoAinda não há avaliações
- 014 Anuncio PublicitarioDocumento11 páginas014 Anuncio PublicitarioMarco FirmeAinda não há avaliações
- Desumanismo - Saber Vender-SeDocumento4 páginasDesumanismo - Saber Vender-SeFrancisco CostaAinda não há avaliações
- A Subjetividade Na Sociedade Do DinheiroDocumento8 páginasA Subjetividade Na Sociedade Do DinheiroJoao Da Silva PintoAinda não há avaliações
- Resumo Estendido - A Vaca Roxa (Purple Cow) - Baseado No Livro De Seth GodinNo EverandResumo Estendido - A Vaca Roxa (Purple Cow) - Baseado No Livro De Seth GodinAinda não há avaliações
- O Passe No CEDocumento19 páginasO Passe No CEAnderson AzevedoAinda não há avaliações
- Encenação de NatalDocumento4 páginasEncenação de NatalElias PergentinoAinda não há avaliações
- Portal 7 Versão Final 01 15 Por 22 FINAL 2 1 230921 014456Documento280 páginasPortal 7 Versão Final 01 15 Por 22 FINAL 2 1 230921 014456Vanda SueliAinda não há avaliações
- Sertão Nordestino 3Documento61 páginasSertão Nordestino 3Robson Fernando de MeloAinda não há avaliações
- Aspectos Gerais Mitologia GregaDocumento3 páginasAspectos Gerais Mitologia GregaHanny RodriguesAinda não há avaliações
- Cópia de Matriz de Esforço X Impacto Apresentação de Brainstorm - 20230829 - 210355 - 0000Documento5 páginasCópia de Matriz de Esforço X Impacto Apresentação de Brainstorm - 20230829 - 210355 - 0000Dômilis GustavoAinda não há avaliações
- Cult of The Lamb - A HistóriaDocumento2 páginasCult of The Lamb - A HistóriaBlitzFredAinda não há avaliações
- Liev Tolstoi - Três MortesDocumento21 páginasLiev Tolstoi - Três MortesRonaldoSilveiraFilhoAinda não há avaliações
- As Portas de Entrada Da Igreja Adventista e o DiscDocumento18 páginasAs Portas de Entrada Da Igreja Adventista e o DiscClaudia MarinhoAinda não há avaliações
- Renovação VotosDocumento6 páginasRenovação VotosIr. Yara sdpAinda não há avaliações
- Roteirizacao SlidesDocumento27 páginasRoteirizacao SlidesMarcos AurélioAinda não há avaliações
- O Lado Negro Do CupidoDocumento92 páginasO Lado Negro Do CupidoTatiane PerfeitoAinda não há avaliações
- Hermenêutica Bíblica - Refazendo Caminhos - Ademar KaeferDocumento17 páginasHermenêutica Bíblica - Refazendo Caminhos - Ademar KaeferJuan TapiaAinda não há avaliações
- Completas de Sexta-Feira - Liturgia Das HorasDocumento1 páginaCompletas de Sexta-Feira - Liturgia Das HorasCristiano GomesAinda não há avaliações
- Pasta Líder Ja - Padrão MMNDocumento41 páginasPasta Líder Ja - Padrão MMNthalita Hellen gonçalves nascimentoAinda não há avaliações
- O Novo NascimentoDocumento2 páginasO Novo Nascimentoprpeixinho20Ainda não há avaliações
- Resumo A Republica Livro 2Documento2 páginasResumo A Republica Livro 2Afonso SoaresAinda não há avaliações
- Contrato Normas Formatura MissalDocumento3 páginasContrato Normas Formatura MissalErica Araujo100% (1)
- Missal Ordinário FinalDocumento33 páginasMissal Ordinário Finallurdes alexandreAinda não há avaliações
- Boletim 23012022 - qc3nj8vbDocumento7 páginasBoletim 23012022 - qc3nj8vbValdson AlmeidaAinda não há avaliações
- As 33 Saudações de Amor e Fé À Santíssima Virgem MariaDocumento3 páginasAs 33 Saudações de Amor e Fé À Santíssima Virgem Mariacontrole avaliacaoAinda não há avaliações
- Escola Dominical 4º TrimestreDocumento66 páginasEscola Dominical 4º TrimestrePrCelioSilvaAinda não há avaliações
- Igreja em Oração 2022-04-14Documento4 páginasIgreja em Oração 2022-04-14Gleydson OliveiraAinda não há avaliações
- PEIXOTO, M. Igreja Católica e Homossexualidade Conflitos e PerspectivasDocumento14 páginasPEIXOTO, M. Igreja Católica e Homossexualidade Conflitos e PerspectivasÉden RodriguesAinda não há avaliações
- Liderança Cristã e Gestão Pessoal - MatheusDocumento15 páginasLiderança Cristã e Gestão Pessoal - MatheusMatheus IanAinda não há avaliações
- Scion - P2Documento169 páginasScion - P2I G N OAinda não há avaliações
- Disciplinas Espirituais 2Documento4 páginasDisciplinas Espirituais 2Jeremias GonalvesAinda não há avaliações