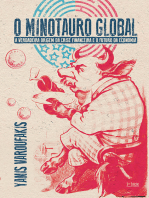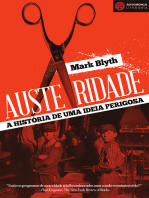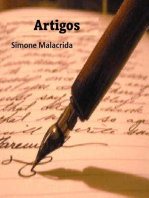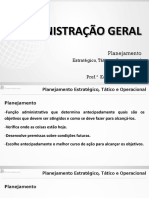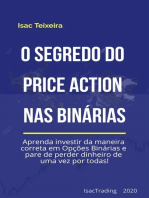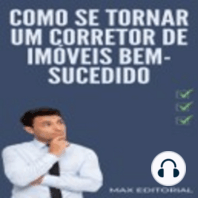Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Paula Beigueiman
Enviado por
joaopedromunhozdossantos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações4 páginasLivro contendo muitas palavras bonitas.
Título original
paula_beigueiman
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoLivro contendo muitas palavras bonitas.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações4 páginasPaula Beigueiman
Enviado por
joaopedromunhozdossantosLivro contendo muitas palavras bonitas.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
Algumas conseqüências do Consenso de Washington
Em fins de 1989 realizava-se, como é sabido, uma reunião de tecnocratas, inclusive
latino-americanos, cujas conclusões receberam a denominação de Consenso de Washington, a
capital que sediava o evento.
Em síntese, recomendava-se, em nome da “modernização”: a abertura comercial, o
arrocho fiscal e dos gastos públicos, a privatização das estatais, a desregulamentação em
geral, uma lei de patentes rigorosa. O Estado do Bem-Estar Social era substituído pelo
“mercado” e o monetarismo, e as teses de Keynes pelas de Hayek.
Na verdade, esse ideário já havia sido apresentado anteriormente pela entidade
patrocinadora do encontro, o Instituto Internacional de Economia, IIE na sigla em inglês. A
reunião se destinava a avaliar a implementação e aconselhar o seu prosseguimento.
Com o bloco soviético recém-levado à derrocada, promovia-se uma espécie de
celebração da unipolaridade.
Assim, em 1990, o presidente George Bush, pai, anunciava o projeto denominado
Iniciativa para as Américas, ou seja, a intenção de remover quaisquer barreiras econômicas
defensivas entre os países de todo o hemisfério, do Alaska à Terra do Fogo, estabelecendo um
mercado único. Era o germe da idéia de promover a criação da Área de Livre Comércio das
Américas (Alca), a ser implantada em 2005. Felizmente, essa pretensão inaceitável vem
encontrando a resistência nacional e popular de países-alvo, como é o caso do Brasil.
É nesse contexto de ascensão das teses do chamado Consenso que, em dezembro de
1993, era proposto no Brasil o Programa de Estabilização Monetária, elaborado com base em
cortes brutais no Orçamento, e a partir do falso pressuposto de considerar o déficit do setor
público como a fonte primária da inflação. Ignorava-se, por exemplo, o papel dos espúrios
encargos financeiros.
Os ataques neoliberais tomavam como alvo os direitos dos funcionários, a previdência
pública, as estatais e assim por diante. Na mesma linha, era defendida a eliminação das
restrições ao capital estrangeiro em setores como a exploração do subsolo e a energia elétrica.
A prescrição anti-nacional era completa e para atendê-la era preciso mutilar (como foi sendo
feito) a essência da Carta de 1988.
Quando, no início de julho de 1994, a nova moeda foi implantada, veio à tona a dura
realidade de um salário mínimo cotado em 64 reais.
A essa altura, o Real já passava a ser erigido em panacéia e fetichizado; nada podia ser
feito para prejudicá-lo — ou seja, havia que manter a retração do meio circulante.
Papel essencial na assessoria para a reforma monetária coube a Mario Henrique
Simonsen, que havia sido ministro da área econômica entre 1974 e 1979. Ele tinha sem
dúvida os melhores títulos para essa tarefa pois, ao deixar o ministério, passara a integrar o
conselho do Citicorp, nosso credor.
Também a missão econômica do FMI e até o próprio William Rhodes, do Citibank e
então chefe do comitê de bancos credores, acompanhavam com atenção, vivamente
interessados e de corpo presente, as manobras através das quais se impunha ao Brasil o
garrote da estabilização.
Já tinha havido historicamente outras tentativas nesse sentido.
Assim, em meados de 1956, quando uma missão econômica brasileira negociava um
empréstimo junto ao Eximbank, o País foi pressionado ao compromisso de promover um
urgente combate à inflação e aceitar uma série de condicionamentos envolvendo assuntos de
nossa estrita competência como nação soberana. Segundo registra Aristóteles Moura no
clássico Capitais Estrangeiros no Brasil, o programa antiinflacionário proposto incluía a
redução das despesas governamentais em todos os níveis e a limitação do crédito pelo Banco
do Brasil apenas às necessidades mais essenciais.
Por essa mesma época, as divisas iam se esvaindo, enquanto correlatamente a inflação
se aprofundava. Mas em vez de se sustar a sangria decorrente das remessas feitas pelos cartéis
para o exterior, o País era aconselhado pelo Fundo Monetário Internacional a praticar a
estabilização, adotando a camisa-de-força da restrição ao meio circulante “inflado”, com o
corte de despesas a qualquer custo.
Pressionada pelo FMI que apresentava a reforma como requisito para as concessão de
empréstimos, a administração chegou a pôr um plano de estabilização monetária em prática,
promovendo a redução de gastos e crédito. Contudo, ante a resistência generalizada daqueles
que sabiam que a causa da inflação era bem diversa da diagnosticada, o Presidente Jucelino
preferiu abandonar essa posição, desligando-se do FMI em junho de 1959, sob o aplauso
popular e das Forças Armadas.
No artigo O Fundo Monetário Internacional e os interesses do Brasil, publicado no
mesmo ano, o eminente jurista Osny Duarte Pereira ironizava o plano de estabilização.
“Cortem-se até mesmo hospitais e escolas, como aconselhou o chefe da delegação dos
EUA na reunião da Operação Pan Americana, em Buenos Aires. Mas conserve-se a
estabilidade em face do dólar, para manter iguais os lucros em moeda nacional e em dólares,
quaisquer que sejam as tragédias que afligirem o Brasil”.
Acrescentemos ainda ser evidente que a preocupação antiinflacionária a partir da ótica
imperialista nada tem a ver com a condenação do fato de que a inflação opera como elemento
apropriador suplementar da mais-valia. Ao contrário, trata-se primordialmente de “enxugar”
na medida do possível o meio circulante, de cujo circuito vão sendo apartadas as grandes
massas e, progressivamente, outras camadas.
Duas décadas depois do rompimento de 1959, o Brasil, levado à insolvência em
meados de 1982, acabaria por fim indo ao FMI, durante a presidência João Figueiredo.
Esse passo era considerado vergonhoso, ao contrário do que ocorre na atualidade,
quando as relações tão assimétricas com esse organismo internacional são tratadas como
naturais — e até positivas!
Diversamente, em 1982, os entendimentos em curso eram negados porque estavam
próximas as eleições, e o vazamento deles para a opinião pública prejudicaria o governo.
Em discurso pronunciado no Senado em 1º de dezembro de 1982e publicado com o
título de A rendição ao Fundo Monetário, Roberto Saturnino, membro da casa, denunciava
que, passada a eleição de novembro, se ficara sabendo que ainda em setembro de 1982 a
finança internacional havia informado ás autoridades de nosso país que o Brasil não receberia
mais créditos se não recorresse, na expressão do senador Saturnino, ao “avalista da
comunidade dos banqueiros, que é o Fundo Monetário Internacional”, como de fato ocorreu.
Assinado o acordo em janeiro de 1983, Celso Furtado publicava o famoso libelo
intitulado Não à recessão e ao desemprego. Era uma alusão à habitual conseqüência do
receituário do FMI, com seus ajustes e cortes. O livro também denunciava a humilhante
aceitação da tutela e monitoramento periódico, bem como as condicionalidades e
compromissos de toda a ordem, sendo os mais graves mantidos em sigilo ou apresentados
como deliberações espontâneas; e, pior que tudo, a perda da autonomia decisória.
Infelizmente, o que chocava no início dos anos 80 do século findo, tornou-se prática
rotineira no curso dos anos 90, no quadro do neoliberalismo do Consenso de Washington.
Como citei Celso Furtado, peço licença para um parêntese, a fim de mencionar uma
recordação que me é cara e diz respeito à banca examinadora do meu doutoramento.
Criador da Sudene e formulador da Operação Nordeste, esse ilustre economista
contudo não havia ainda participado, na condição de examinador, desse tipo de ato
acadêmico. Convidado pelo meu saudoso mestre e orientador Prof. Lourival Gomes Machado,
não apenas aceitou, integrando uma banca pela primeira vez, o que muito nos honrou a todos,
como me conferiu a nota máxima, para meu extremo desvanecimento.
Mas voltemos ao Plano Real, depois dessa digressão.
O que aconteceu logo nos primeiros anos de estabilização através da fórmula adotada,
todos conhecem: dependência do capital especulativo e juros altíssimos, retração econômica e
desnacionalização de empresas, alienação do valioso patrimônio público, desemprego e
supressão de direitos sociais, salários achatados, investidas contra a previdência pública. Os
estados ficavam impossibilitados de administrar, pois passou a lhe ser exigida uma contenção
impraticável dentro de um mínimo de governabilidade. Para esse fim, promulgou-se a
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo isso para executar um “ajuste” que tem como
objetivo contrair nosso meio circulante, mantendo-o no volume determinado pelas
conveniências do capital externo.
Ademais, ocorria que o Real estava sobrevalorizado, situação essa que durou até
janeiro de 1999, inundando o País de importações, inclusive supérfluas, o que representou
uma grande distorção e prejudicou a produção local.
Em vista disso, uma vez operada a desvalorização cambial, produziu-se em vários
setores empresariais um alvoroço otimista. Com efeito, como o preço do produto em reais
passou a corresponder a um montante menor de dólares, suas exportações se tornavam mais
baratas e competitivas.
O caso é que esses grupos contavam, para que nada perturbasse seus cálculos de
custos, com a preservação de um contexto geral de arrocho e uma mão-de-obra salarialmente
deprimida.
Em outras palavras, nessa ótica, a economia é projetada como plataforma de
exportações nacionais e transnacionais (em última análise destinada à obtenção de divisas
para o pagamento do serviço da dívida) com os empresários indiferentes ao quadro em que se
insere o esmagamento do mercado interno.
No momento, a preocupação desses setores do empresariado diz respeito ao
barateamento do dólar, em decorrência da entrada de maior volume de capital especulativo,
atraído pelos altos juros; nessas condições, o dólar das exportações se traduz em menos reais.
E há também, sem dúvida, o risco das importações supérfluas que prejudicam a produção
local, além dos perigos decorrentes da volatilidade do tipo do capital que ingressa. A
insegurança é tal que os próprios mentores do Consenso passaram a recomendar, para esses
casos, a intervenção no mercado; aliás, já estão propondo também cortes nos altíssimos juros.
Tudo isso configura uma discussão evidentemente legítima, mas insuficiente, pois as
vulnerabilidades essenciais do modelo em vigência não são questionadas.
Basta observar que os empresários auto-denominados “desenvolvimentistas”, além de
se haverem juntado ao coro dos que bradavam contra o “custo Brasil”, sempre deram e
continuam dando apoio à privatização e às chamadas “reformas”, como a previdenciária e a
trabalhista.
Já o modelo novo que a opinião crítica mais conseqüente vem preconizando e cuja
proposta está na ordem do dia, é completamente diverso do atual.
Sua referência é um projeto nacional que substitui os investimentos privados do centro
hegemônico pela acumulação de capital lastreada num mercado interno em crescimento, com
elevação dos salários reais e políticas de máximo emprego. Ao capital internacional se
reservaria apenas papel complementar, numa economia direcionada pelo Estado.
Há também, é claro, que atentar à questão fundiária, dados os absurdos e perigos da
manutenção de uma estrutura anacrônica de posse e uso da terra, a qual, além do mais,
permite a entrega de áreas inteiras por cessão ou venda e a preços aviltados, retirando-as
assim do controle soberano da Nação.
E principalmente não podemos esquecer que só os sistemas decisórios nacionais são
capazes de promover a ativação do potencial produtivo interno e de realizar a incorporação
econômica da imensa população ainda marginalizada.
O modelo liberal-monetarista já é considerado falido, particularmente na América
Latina. É suficiente mencionar o dramático exemplo dos países que aderiram ao Consenso de
Washington que agora se apresenta como Pós-Consenso, apesar de conservar o mesmo
esquema básico e cobrar o seu cumprimento pleno.
Apenas foram acrescentados alguns conselhos piedosos sobre a maneira de redistribuir
os recursos destinados aos mais necessitados, recursos esses tornados escassos justamente
pela política econômica adotada. Só para exemplificar essas sugestões, mencionemos uma que
volta e meia vem à baila: a complementação do orçamento por meio de cobrança a ser feita
aos estudantes da Universidade Pública!
Para finalizar, citarei um pequeno trecho do texto do cientista político Prof. Luiz
Toledo Machado, intitulado No fio da navalha. Ali se lê:
“Continuar na rota liberal-monetarista será suicídio anunciado a curto prazo. O Brasil
ostenta condições de superar a crise com recursos próprios, a começar pela reformulação do
Estado privatizado, pelo saneamento do mercado e pela instituição da necessária centralização
cambial. O problema está na formulação de uma estratégia para sair da armadilha da
dependência externa”.
E essa estratégia, acrescentemos, compreende a aglutinação das forças nacionais e
populares para resistir à chantagem do “mercado”, que vem sendo praticada sobre o nosso
novo governo. Mesmo porque, da intolerável submissão em nome da conquista da confiança,
decorre um conseqüente desgaste, tanto econômico como político.
Paula Beiguelman
Professora Emérita da USP
Você também pode gostar
- O Minotauro global: A verdadeira origem da crise financeira e o futuro da economiaNo EverandO Minotauro global: A verdadeira origem da crise financeira e o futuro da economiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- UNIDADE 2 Cap. 3 Luiz FilgueirasDocumento29 páginasUNIDADE 2 Cap. 3 Luiz Filgueirasfernandolimarmg5Ainda não há avaliações
- BRAGA, J.C.S. (2009) - Crise Sistêmica Da Financeirização e A Incerteza Das MudançasDocumento14 páginasBRAGA, J.C.S. (2009) - Crise Sistêmica Da Financeirização e A Incerteza Das Mudançascoreu26Ainda não há avaliações
- Nunca Existiu Emprego Fácil E, Nem Chefe Bonzinho!No EverandNunca Existiu Emprego Fácil E, Nem Chefe Bonzinho!Ainda não há avaliações
- Aula EPI 20232Documento159 páginasAula EPI 20232gabrielsampgomes22Ainda não há avaliações
- Saga brasileira: A longa luta de um povo por sua moedaNo EverandSaga brasileira: A longa luta de um povo por sua moedaAinda não há avaliações
- Anatomia Das Crises FinanceirasDocumento9 páginasAnatomia Das Crises FinanceirasGabi MarquesAinda não há avaliações
- E os Fracos Sofrem O Que Devem?: Os bastidores da crise europeiaNo EverandE os Fracos Sofrem O Que Devem?: Os bastidores da crise europeiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Economia e Mercado - Unidade IVDocumento3 páginasEconomia e Mercado - Unidade IVjane100% (2)
- A tirania do Sistema Financeiro: Da violação de princípios constitucionais à desconstrução da democraciaNo EverandA tirania do Sistema Financeiro: Da violação de princípios constitucionais à desconstrução da democraciaNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Apresentação Consenso de WashingtonDocumento37 páginasApresentação Consenso de WashingtonRodrigo de Melo MachadoAinda não há avaliações
- Direito Privado: concepções jurídicas sobre o particular e o social: - Volume 4No EverandDireito Privado: concepções jurídicas sobre o particular e o social: - Volume 4Ainda não há avaliações
- UMA HISTORIA DO PLANO REAL - Instituto MisesDocumento19 páginasUMA HISTORIA DO PLANO REAL - Instituto Misesleandro marquesAinda não há avaliações
- Crises Financeiras InternacionaisDocumento5 páginasCrises Financeiras InternacionaisEli Mamede da SilvaAinda não há avaliações
- Documento Sem TítuloDocumento9 páginasDocumento Sem TítulohyunlixnoahAinda não há avaliações
- De Breton Woods A Globalizacao ActualDocumento24 páginasDe Breton Woods A Globalizacao ActualIvan SemedoAinda não há avaliações
- A Hegemonia Neoliberal - Leda PaulaniDocumento2 páginasA Hegemonia Neoliberal - Leda PaulaniRonaldo Ribeiro FerreiraAinda não há avaliações
- Ad2 Dmeb WaltonDocumento6 páginasAd2 Dmeb WaltonWalton William Ferraz RochaAinda não há avaliações
- L.G.belluzzo-Os Antecedentes Da TormentaDocumento8 páginasL.G.belluzzo-Os Antecedentes Da TormentaAna Elidia TorresAinda não há avaliações
- 34830-Texto Do Artigo-117218-1-10-20120924Documento36 páginas34830-Texto Do Artigo-117218-1-10-20120924Gabi DalmagroAinda não há avaliações
- BELLUZO, Luiz Gonzaga. Os Antecedentes Da Tormenta - Origens Da Crise GlobalDocumento2 páginasBELLUZO, Luiz Gonzaga. Os Antecedentes Da Tormenta - Origens Da Crise GlobalMateus Modena0% (1)
- Compreensão Do DesenvolvimentoDocumento26 páginasCompreensão Do DesenvolvimentoRutherCarlosDanielAinda não há avaliações
- Pesquisa Econômica - Itamar FrancoDocumento7 páginasPesquisa Econômica - Itamar FrancoDanielle AlmeidaAinda não há avaliações
- Discutindo o Crash de 1929 e A Grande Depressão.Documento3 páginasDiscutindo o Crash de 1929 e A Grande Depressão.Crisly AlvesAinda não há avaliações
- BRAGA, José Carlos. Crise Sistêmica Da Financeirização e A Incerteza Das Mudanças. Estudos Avançados, V. 23, N. 65, P. 89-102, 2009Documento14 páginasBRAGA, José Carlos. Crise Sistêmica Da Financeirização e A Incerteza Das Mudanças. Estudos Avançados, V. 23, N. 65, P. 89-102, 2009Leo DantasAinda não há avaliações
- Economia Brasileira Após A DitaduraDocumento18 páginasEconomia Brasileira Após A DitaduraDepartamento de HistóriaAinda não há avaliações
- Capitulo 22 HEGDocumento3 páginasCapitulo 22 HEGLaryssa RodriguesAinda não há avaliações
- Documentário: Laboratório BrasilDocumento3 páginasDocumentário: Laboratório Brasilrafamkj100% (1)
- O Fim Do Regime de Bretton WoodsDocumento9 páginasO Fim Do Regime de Bretton WoodsAlvaro CoutinhoAinda não há avaliações
- Bretton Woods e o EuromercadoDocumento7 páginasBretton Woods e o EuromercadoCatarina DulebaAinda não há avaliações
- AVA - Desenvolvimento Economico Tema 03Documento20 páginasAVA - Desenvolvimento Economico Tema 03DGAinda não há avaliações
- Sistema Financeiro InternacionalDocumento16 páginasSistema Financeiro InternacionalValter PomarAinda não há avaliações
- O Processo de Globalização e A Sua Influência No Direito Interno - Frank Larrúbia Shih (Artigo)Documento11 páginasO Processo de Globalização e A Sua Influência No Direito Interno - Frank Larrúbia Shih (Artigo)Thiago FernandesAinda não há avaliações
- História Contemporânea Da Argentina, Luiz Alberto RomeroDocumento13 páginasHistória Contemporânea Da Argentina, Luiz Alberto RomeroPaulo Henrique Souza MartinsAinda não há avaliações
- Lista de Questões - ResumidaDocumento6 páginasLista de Questões - Resumidawesleyjssilva21Ainda não há avaliações
- Globalização ApostilaDocumento42 páginasGlobalização ApostilaButt HeadAinda não há avaliações
- Resumo Crise Financeira de 2008Documento9 páginasResumo Crise Financeira de 2008Lara LetíciaAinda não há avaliações
- A Crise de 1929 e A Grande Depressao PDFDocumento43 páginasA Crise de 1929 e A Grande Depressao PDFLarissa BastosAinda não há avaliações
- Resenha I - A Primeira Década RepublicanaDocumento3 páginasResenha I - A Primeira Década RepublicanaMichel FerreiraAinda não há avaliações
- Maria Eduarda Zoche - Laboratório BrasilDocumento1 páginaMaria Eduarda Zoche - Laboratório BrasilMARIA EDUARDA ZOCHE FERREIRAAinda não há avaliações
- Bretton WoodsDocumento5 páginasBretton WoodsElenildo Junior da SilvaAinda não há avaliações
- Aula 5 Globalização Financeira Parte 1Documento5 páginasAula 5 Globalização Financeira Parte 1edson camargoAinda não há avaliações
- FMIDocumento43 páginasFMIparralegoAinda não há avaliações
- É Preciso Aprender Economia Com A História e Não Apenas Com Modelos Matemáticos - Economia - EstadãoDocumento3 páginasÉ Preciso Aprender Economia Com A História e Não Apenas Com Modelos Matemáticos - Economia - EstadãoAriane AlcaláAinda não há avaliações
- A Crise Econômica Mundial e Seus Impactos Na Economia BrasileiraDocumento9 páginasA Crise Econômica Mundial e Seus Impactos Na Economia BrasileiraRenan TorresAinda não há avaliações
- A Roleta GlobalDocumento5 páginasA Roleta GlobalVictorAinda não há avaliações
- Concentracao Bancaria No Brasil Como CheDocumento8 páginasConcentracao Bancaria No Brasil Como CheRafael MendoncaAinda não há avaliações
- Ascensão Do DinheiroDocumento5 páginasAscensão Do DinheirokissianyAinda não há avaliações
- Tópicos Contemporâneos em ContabilidadeDocumento54 páginasTópicos Contemporâneos em ContabilidadeLeandra LeglaAinda não há avaliações
- A Crise No Alvorecer Do Sã©culo XXIDocumento4 páginasA Crise No Alvorecer Do Sã©culo XXIJoao Neutzling Jr.Ainda não há avaliações
- O Que É o Mercado Financeiro e de CapitaisDocumento10 páginasO Que É o Mercado Financeiro e de Capitaisrafael leviAinda não há avaliações
- Bretton Woods e A Globalização FinanceiraDocumento18 páginasBretton Woods e A Globalização Financeiramauralio100% (1)
- Dicionario Termos Financeiros InvestimentoDocumento668 páginasDicionario Termos Financeiros Investimentotamosai100% (5)
- Brasil em Contra Reforma - Elaine BeringhDocumento10 páginasBrasil em Contra Reforma - Elaine BeringhNatalia CoelhoAinda não há avaliações
- A Política Externa Dos Governos CollorDocumento17 páginasA Política Externa Dos Governos CollorCarlos Henrique Rosa BeloAinda não há avaliações
- Conhecimentos Gerais e Atualidades - Apostila 01Documento93 páginasConhecimentos Gerais e Atualidades - Apostila 01Geografia Geoclasy100% (3)
- IBET - Módulo 3 - Seminário 7Documento5 páginasIBET - Módulo 3 - Seminário 7Pedro Garcia100% (1)
- Inovações em Relações Públicas e Comunicação EstratégicaDocumento267 páginasInovações em Relações Públicas e Comunicação EstratégicaLuis FarinangoAinda não há avaliações
- Check List Projeto Paticular - Medição Coletiva-AgrupadaDocumento1 páginaCheck List Projeto Paticular - Medição Coletiva-AgrupadaLucas Vieira LimaAinda não há avaliações
- 17 - 04 - 2023 - Conhecimento Bancários - Edgar AbreuDocumento25 páginas17 - 04 - 2023 - Conhecimento Bancários - Edgar AbreuAna SeixasAinda não há avaliações
- Como-Montar Um AntiquárioDocumento25 páginasComo-Montar Um AntiquárioBruno CésarAinda não há avaliações
- Antunes Restaurante e Self Service Eireli 1 - Altera - oDocumento9 páginasAntunes Restaurante e Self Service Eireli 1 - Altera - oLucas MeloAinda não há avaliações
- Sistema Dirf - Fontes Pagadoras - Informações Apresentadas em Dirf Do Ano-Calendário Fernanda Rangel DominguesDocumento2 páginasSistema Dirf - Fontes Pagadoras - Informações Apresentadas em Dirf Do Ano-Calendário Fernanda Rangel DominguesNanda RangelAinda não há avaliações
- Ebook - Direito Dos Resíduos - Sistemas de Logística Reversa de Embalagens - Regulamentos Estaduais - Prof. Fabricio SolerDocumento274 páginasEbook - Direito Dos Resíduos - Sistemas de Logística Reversa de Embalagens - Regulamentos Estaduais - Prof. Fabricio SolerIsabella Dabrowski PedriniAinda não há avaliações
- Caixa Seleção Global ModeradoDocumento2 páginasCaixa Seleção Global ModeradoGuilhermeAinda não há avaliações
- Auditoria de RH Slide 5 VilfmDocumento15 páginasAuditoria de RH Slide 5 VilfmSINDIFORT ADMINISTRAÇÃOAinda não há avaliações
- Unidade II Matemática Aplicada À ContabilidadeDocumento12 páginasUnidade II Matemática Aplicada À ContabilidadeMarjuryAinda não há avaliações
- Aula 02 - Rogério RenzettiDocumento13 páginasAula 02 - Rogério RenzettiBrenda vianaAinda não há avaliações
- Tabela Comparativa Crimes Contra Administração PúblicaDocumento1 páginaTabela Comparativa Crimes Contra Administração PúblicaKarol Vale60% (5)
- Live 3 GAP - Escopo, Custos e RiscoDocumento20 páginasLive 3 GAP - Escopo, Custos e RiscoThuanne BaptistaAinda não há avaliações
- Planejamento Estratégico, Tático e OperacionalDocumento13 páginasPlanejamento Estratégico, Tático e OperacionalMARIO LUIZ FILHOAinda não há avaliações
- Quais Fatores Podem Interferir em Uma Análise?: Amanda Soares de MeloDocumento3 páginasQuais Fatores Podem Interferir em Uma Análise?: Amanda Soares de MeloVIVIANE KLEINAinda não há avaliações
- Tabela Aquastop 2021 CINDocumento4 páginasTabela Aquastop 2021 CINJoãoMiguelFernandesAinda não há avaliações
- CV Ricardo Portugues Abr 2022Documento2 páginasCV Ricardo Portugues Abr 2022ricardov2009Ainda não há avaliações
- Atividades Complementares2Documento118 páginasAtividades Complementares2VictoriaAinda não há avaliações
- Controlo InternoDocumento5 páginasControlo InternoIssufo Ibrahimo da NsfAinda não há avaliações
- Ferramenta Analisa Conversão - Linha RM - TDNDocumento7 páginasFerramenta Analisa Conversão - Linha RM - TDNBruno Winicius AmorimAinda não há avaliações
- GradilDocumento5 páginasGradilAnonymous lEBdswQXmxAinda não há avaliações
- Bens - Noção e ClassificaçãoDocumento16 páginasBens - Noção e ClassificaçãoBininha Super100% (1)
- BR 47 Iii Serie Suplemento 3Documento11 páginasBR 47 Iii Serie Suplemento 3Marcelo CarvalhoAinda não há avaliações
- Caderno Técnico - G11-Concreto DNITDocumento91 páginasCaderno Técnico - G11-Concreto DNITINGRID CAMILO DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Obrigação de Dar Coisa Certa: Caiu !Documento9 páginasObrigação de Dar Coisa Certa: Caiu !Carlos EduardoAinda não há avaliações
- Segurança em Sistemas Distribuídos (PAULO - GARCIA)Documento11 páginasSegurança em Sistemas Distribuídos (PAULO - GARCIA)Toni Braga100% (1)
- Vantagens de Ter Um Serviço de Higiene e Segurança No Trabalho Organizado PDFDocumento2 páginasVantagens de Ter Um Serviço de Higiene e Segurança No Trabalho Organizado PDFTany LevchukAinda não há avaliações
- R65 IGUÁ X Centro Via Aeroporto 1Documento2 páginasR65 IGUÁ X Centro Via Aeroporto 1agaby666Ainda não há avaliações
- RCM70 2005Documento44 páginasRCM70 2005Gilney PalharesAinda não há avaliações
- Deixe de ser pobre: Os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeiraNo EverandDeixe de ser pobre: Os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeiraNota: 4 de 5 estrelas4/5 (4)
- A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidadeNo EverandA psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidadeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Deixe de ser pobre: Os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeiraNo EverandDeixe de ser pobre: Os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeiraNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (5)
- Planejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IINo EverandPlanejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IIAinda não há avaliações
- Guia Prático de Planejamento PatrimonialNo EverandGuia Prático de Planejamento PatrimonialAinda não há avaliações
- Os engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNo EverandOs engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (24)
- Noções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNo EverandNoções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Finanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNo EverandFinanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (17)
- O CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNo EverandO CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (17)
- Currículo: Políticas e práticasNo EverandCurrículo: Políticas e práticasNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Guia Definitivo Para Dominar o Bitcoin e as CriptomoedasNo EverandGuia Definitivo Para Dominar o Bitcoin e as CriptomoedasNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- Como se Tornar um Corretor de Imóveis Bem-SucedidoNo EverandComo se Tornar um Corretor de Imóveis Bem-SucedidoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Análise técnica de uma forma simples: Como construir e interpretar gráficos de análise técnica para melhorar a sua actividade comercial onlineNo EverandAnálise técnica de uma forma simples: Como construir e interpretar gráficos de análise técnica para melhorar a sua actividade comercial onlineNota: 4 de 5 estrelas4/5 (4)
- Gerenciamento monetário para leigos e iniciantesNo EverandGerenciamento monetário para leigos e iniciantesNota: 3 de 5 estrelas3/5 (1)
- Manual de Gramática Aplicada ao Direito: aspectos práticos da norma culta da língua portuguesaNo EverandManual de Gramática Aplicada ao Direito: aspectos práticos da norma culta da língua portuguesaAinda não há avaliações