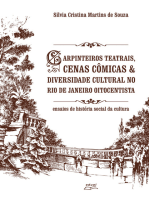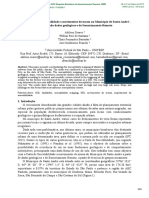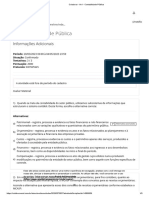Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Teatro de Rua Como Apropriação - CARREIRA
Teatro de Rua Como Apropriação - CARREIRA
Enviado por
Adriana Chaves0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações10 páginasTítulo original
Teatro de rua como apropriação - CARREIRA
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações10 páginasTeatro de Rua Como Apropriação - CARREIRA
Teatro de Rua Como Apropriação - CARREIRA
Enviado por
Adriana ChavesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
TEATRO DE RUA COMO
APROPRIAÇÃO DA SILHUETA URBANA:
HIBRIDISMO E JOGO NO ESPAÇO INÓSPITO
André Luiz Antunes Netto CARREIRA1
n RESUMO: Pretende-se refletir aqui sobre a exploração de fronteiras no campo
do teatro a partir da utilização do conceito de risco. A experimentação de técni-
cas de risco na preparação do ator e na construção do texto espetacular se ori-
enta à criação de cerimônias teatrais cujo eixo é a constituição de novos
vínculos entre a audiência e a performance.
n PALAVRAS-CHAVE: Teatro; risco; jogo; pós-modernidade.
Quando o grupo norte americano Living Theatre percorreu a Europa
nos anos 70, abriu uma discussão sobre os sentidos possíveis para o espe-
táculo ao ar livre num mundo que começava a se aproximar do conceito
de mundialização. Espetáculos como Seis atos públicos, com seus recor-
ridos procissionais, e A torre do dinheiro, com sua estrutura de vários
metros de altura, propunham um novo olhar sobre a tradição do fenô-
meno teatral de rua. A experiência do grupo criado por Julian Beck e
Judith Malina deve ser pensada a partir da referência da tradição medie-
val do teatro ao ar livre com caráter explicitamente religioso e também
das experiências político-espetaculares da Rússia dos bolcheviques e da
Alemanha antes da eclosão do nazismo. Apesar de o fenômeno teatral de
rua ter se transformado e se multiplicado em diferentes direções, é interes-
sante notar que, a partir dos anos 70, se instalaram, na Europa, idéias reno-
vadoras sobre essa modalidade teatral. Paradoxalmente, os discursos,
eminentemente politizados e militantes, que dominavam o mundo das
1 Professor do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC – 88035-001 –
Florianópolis – SC.
Trans/Form/Ação, São Paulo, 24: 143-152, 2001 143
idéias, não foram os que deixaram marcas mais profundas nas práticas
teatrais de rua que perduraram e fundamentaram a renovação teatral do
espaço da rua que observamos nos anos 80-90. Nos discursos teatrais dos
grupos de rua da América Latina, nota-se uma ausência de projetos esté-
ticos que propõe uma reflexão. A partir do final dos anos 70, o desequilí-
brio entre a missão social e política e a reelaboração de linguagens tea-
trais condenou muito desses grupos à perda de referencial artístico e à
defasagem com a época. É interessante observar que esses grupos, em sua
maioria, não propunham uma ampliação e transformação dos sentidos dos
espaços urbanos, senão uma adaptação do discurso teatral às condições
sociais e físicas da rua, preocupados quase exclusivamente com o nível
temático dos espetáculos. Consideravam o espaço da rua apenas no nível
dos objetivos políticos como lugar de encontro com o público. Paulatina-
mente, impregnados por dados culturais próprios do período histórico, os
grupos setentistas incorporaram a idéia de comunhão e, assim, o espaço
da rua passou também a significar o palco de um novo tipo de relação que
estava marcado por sentidos ritualísticos, conservando ao mesmo tempo
seu caráter político. Esse sentido de comunhão, pode ser visto como uma
compreensão das potencialidades do espaço da rua. Assim, a rua não
seria um lugar para o contato com o público apenas no sentido da difusão
de idéias políticas, mas sim da constituição de práticas de ressignificação
dos referentes culturais, da ruptura das distâncias impostas pelas institui-
ções. No entanto, é possível dizer que esse pensamento não foi articulado
com um novo olhar sobre a capacidade de significação do espaço da rua.
Não houve ainda um desenvolvimento extensivo dessa relação no con-
texto do teatro latino-americano e particularmente no Brasil. É esse o
aspecto que este artigo busca explicitar e discutir. A matriz dessas expe-
riências, citadas anteriormente, sugere a possibilidade de pensar o teatro
de rua a partir da idéia da abordagem do espaço urbano, para permitir uma
aproximação a essa modalidade teatral que não seja regida apenas pela
delimitação dos conteúdos temáticos e pela citação de referentes culturais
tradicionais, mas por suas regras de funcionamento como espetáculo e
pelo seu papel na reorganização do espaço urbano. O teatro de rua é uma
forma espetacular que nasce do assalto à silhueta urbana. A idéia de
silhueta urbana diz respeito aos aspectos físicos da cidade, mas também,
e principalmente, ao complexo de relações sociais que nascem do uso
desse espaço. Conseqüentemente, a interferência teatral nessa rede de
construções simbólicas, que se articulam no espaço urbano, produz uma
profunda ressignificação desse espaço e constrói o plano da cerimônia
social que é o próprio espetáculo teatral.
144 Trans/Form/Ação, São Paulo, 24: 143-152, 2001
A rua como espaço social e lugar do jogo
Para realizar um estudo do teatro de rua, é interessante, em primeiro
lugar, repensar o espaço que contém essa manifestação espetacular. É
necessário delimitar o funcionamento da rua e estabelecer como se dão
as conexões dos usos sociais da rua e o teatro que faz dela seu palco.
Roberto Lobato Corrêa (1989) define a grande cidade capitalista como
um conjunto de diferentes usos justapostos entre si. Esse espaço se define
por ser: simultaneamente fragmentado e articulado, cada uma de suas
partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de intensi-
dade muito variável. Essas relações manifestam-se empiricamente por
meio de fluxos de veículos e de pessoas associados às operações de carga
e descarga de mercadorias, aos deslocamentos cotidianos entre as áreas
residenciais e os diversos locais de trabalho, aos deslocamentos menos
freqüentes para compras no centro da cidade ou nas lojas do bairro, às
visitas aos parentes e amigos, e às idas ao cinema, culto religioso, praias e
parques. Quando pensamos na complexidade de usos dos espaços da
cidade, já estamos colocando nossa atenção nas práticas de significação
que articulam os sentidos da rua dentro do marco cultural no qual esta
está inserida. É nesse contexto que podemos refletir a relação teatro de
rua/teatro popular. Talvez não seja uma novidade propor clara diferenci-
ação entre a idéia de teatro popular e do teatro de rua. De forma reiterada,
estudiosos do teatro se referem ao teatro de rua como um componente do
teatro popular. Mas de fato, quando nos debruçamos sobre o teatro de rua
contemporâneo podemos ver uma miríade de projetos cênicos que explo-
ram formas teatrais que se relacionam muito mais com experimentações
vanguardistas do que com a cultura popular. No entanto, quando perce-
bemos a rua como um lugar da cultura popular nos inclinamos a pensar
que as manifestações espetaculares nesse âmbito devem estabelecer rela-
ções com esse campo cultural que delimitamos como popular. Mas se há
um vínculo entre o campo da cultura popular e o teatro de rua, esse vín-
culo se manifesta mais pela penetração dos sentidos do uso da rua, na
possibilidade de apropriação e transformação dos usos da rua, até mesmo
em uma lógica da rua, e não necessariamente no uso dos referentes estéti-
cos das formas culturais tradicionais ou na relação exclusiva com os
padrões socioeconômicos marginalizados. A rua, como espaço de convi-
vência, permite que o cidadão desfrute de um anonimato que o libera do
peso do compromisso pessoal. No espaço aberto da rua e em comuni-
dade, o sujeito urbano se sente mais capaz de atuar. Esse é um comporta-
Trans/Form/Ação, São Paulo, 24: 143-152, 2001 145
mento que facilita que na rua exista uma predisposição para o jogo e a
participação espontânea. Participação espontânea se refere aqui não neces-
sariamente a uma inclusão do público na cena, mas na disponibilidade de se
relacionar de múltiplas formas com o espetáculo, aceitando a invasão do
espaço coletivo.
O jogo foi definido pelo sociólogo francês Jean Duvignaud (1982)
“como uma atividade sem objetivos conscientes, um estado de disponibi-
lidade que foge a toda intenção utilitária” (p.41), livre e sem regras
“neste estado de ruptura do ser individual ou social, no qual a única coisa
que não se questiona é a arte” (p.35). O jogo é brincadeira, é fantasia. As
crianças fazem da calçada de sua rua a praia à qual chegam piratas. Os
adultos transformam, durante uma festa de Carnaval, as pedras do calça-
mento no âmbito onde cada um pode ser o que quiser. A rua, é portanto, o
espaço para o exercício da liberdade e da criatividade. No que se refere
ao comportamento do homem da rua, convivem duas tendências: a pri-
meira é uma atitude de respeito às regras sociais dominantes, a segunda é
a abertura ao jogo e à liberdade de ação. O equilíbrio entre a atitude
social dominante e o jogo é dinâmico, e se modifica de acordo com os
processos socioculturais do momento. Na rua existe um complexo jogo
social no qual está presente uma infinidade de inter-relações que regem
grande parte do comportamento dos cidadãos. Esse ordenamento não é imu-
tável, e portanto, é permeável à ação coletiva anteriormente descrita e se
transforma segundo a incidência dos acontecimentos. Sua dinâmica pode
parecer à simples vista muito lenta, mas sob o imperativo dos processos
sociais e políticos pode ser extremamente rápida e surpreendente tendên-
cia ao jogo se vê favorecida especialmente pela individualização, que é
provocada pela sensação de liberdade. Paradoxalmente, é pelo jogo da
rua – manifestado nas ações coletivas – que o indivíduo se expressa sem
freios e limitações. O jogo quando “evolui da sua esfera de fenômeno
subjetivo individual e penetra as estruturas da vida social (Duvignaud,
1982, p.54)” se faz transgressor, porque a mobilização da energia lúdica
coletiva questiona os códigos e as regras sociais estabelecidas. Ao se mate-
rializar na superfície do ser social, o jogo se plasma em manifestações cul-
turais de ruptura da ordem vigente. Esse jogo da rua, cujo exemplo mais
contundente talvez seja o Carnaval, abre a possibilidade da mais ampla
liberdade criadora, porque, enquanto dura, põe o mundo de cabeça para
baixo, inverte todos os valores. Nossa sociedade estabeleceu como regra
que as ruas cumprem uma série de funções específicas, e aquelas ativida-
des que extrapolam esses limites entram numa zona de conflito, pois
questionam não somente o uso da rua, mas também o poder de controle
146 Trans/Form/Ação, São Paulo, 24: 143-152, 2001
sobre o espaço cidadão. O jogo, enquanto experiência lúdica, é em essên-
cia questionador. Subverte a ordem que propicia tranqüilidade e a dese-
quilibra. É essa a característica que define o jogo como um elemento
perigoso que deve ser enquadrado como um fenômeno temporário para
seu controle. Jean Duvignaud (1982) fazendo referência ao jogo com
relação às festas como acontecimentos únicos, diz: “Durante esta explo-
são súbita e momentânea das relações humanas estabelecidas, rompe-se
o consenso, apagam-se os modelos culturais transmitidos de geração em
geração, não por uma transgressão qualquer, mas porque o ser descobre, às
vezes com violência, uma plenitude ou uma superabundância proibida na
vida cotidiana lógico; a festa não dura. É perecível no seu próprio princí-
pio” (p.34). No Carnaval, as mais amplas liberdades estão contidas em
quatro dias.
As manifestações políticas de rua não controladas por aparelhos po-
líticos, quando alcançam o grau de revolucionárias, isto é, quando põem
em risco o sistema de dominação sociopolítico, atingem a mesma liber-
dade do Carnaval, pois as regras desaparecem e a criatividade se faz
livre. Nesse caso, independentemente dos objetivos específicos da mani-
festação, aparece uma enorme variedade de reações que estão muito mais
relacionadas com a possibilidade de jogar, seja o papel de transformador
da realidade, seja simplesmente pôr para fora uma energia por muito
tempo contida. É essa característica rupturista, própria do comporta-
mento oriundo do jogo, que faz que o espaço da rua seja considerado
estratégico pelos organismos encarregados de manter a ordem social. Por
isso, o teatro de rua, ainda que não possa alcançar a dimensão do descon-
trole do Carnaval ou a força avassaladora das grandes manifestações sin-
dicais, explicita a possibilidade de ruptura ao provocar o jogo e ao convi-
dar os transeuntes a participar da criação – ainda que momentânea – de
uma nova ordem. Isso ganha importância por se tratar de um fenômeno
instalado em um espaço de vivência cotidiana – que diferentemente das
salas teatrais – que não enclausura os espectadores, mas que, ao ser total-
mente aberto, estreita a relação entre o acontecimento teatral e o hori-
zonte da cidade, provocando um imediato desdobramento dos signos
propostos pelo espetáculo.
Os vínculos com a cultura popular
Considerando a cultura popular como um conjunto de produção
simbólica que se constrói também como imagem especular da cultura
Trans/Form/Ação, São Paulo, 24: 143-152, 2001 147
culta, uma questão pertinente, segundo Fredric Jameson, seria averiguar
se ambos os movimentos culturais não se definem apenas como coisa re-
lacionada com este outro. Então a cultura da rua que se relaciona estreita-
mente com a idéia de jogo aparece delimitada pelas fronteiras da cultura
de entre muros, a cultura da instituição do interior dos edifícios. É o
adentro e o afora que permitirão a construção de um saber/fazer diferen-
ciado. A rua, por ser o espaço da circulação pública, onde estão desde o
marginal até o trabalhador de setores médios, constitui um espaço de
hibridação de usos que dá forma a um marco cultural próprio, mas que se
relaciona – por aproximação – com o campo da cultura popular. É nesse
território híbrido que se dá a aproximação entre o teatro de rua e a cultura
popular. De fato, essa aproximação não é somente temática. Pelo contrá-
rio, ela se dá no terreno das regras de funcionamento do espetáculo e das
modalidades de atenção do público. Isto é, a interferência da audiência
tem, nesse caso, uma influência muito grande na constituição do espeta-
cular. Quando falo da audiência (de sua interferência), quero dizer que,
por meio das atitudes do público, surge um vetor que representa necessa-
riamente a presença da cultura da rua/popular na cerimônia espetacular.
Como o fazer espetacular não pode desconhecer a força do público na arti-
culação de sentidos do espetáculo, o resultante do teatro de rua terá sem-
pre o elemento popular no seu bojo, ainda quando não o tenha – consci-
entemente – na sua temática. Poderíamos dizer que o popular estaria
sempre relacionado com o teatro de rua na sua existência como cerimo-
nia social, como acontecimento.
O teatro de rua como transgressão
A hierarquização espacial que estabelece a cidade capitalista consi-
dera alguns espaços como nobres e outros como marginais. Ao confinar
o espetáculo teatral nas salas, a cultura capitalista determinou que este
aceitaria perder seu caráter de festa e ganharia o valor de mercadoria.
Essa mercadoria tem mais valor nos espaços fechados onde o pagamento
de uma entrada não somente gera lucro, como também outorga hierar-
quia. Nesse marco, a manifestação teatral na rua ocupa, cada vez mais,
um espaço de marginalidade. A expressão dessa marginalidade denuncia
a cara segregacionista do sistema e, portanto, o questiona, transgredindo
assim as regras do uso espacial da cidade. Se o espaço profano da rua está
reservado especialmente para suas funções específicas, toda atividade
que esteja fora desse marco resultará, de certo modo, transgressora. Essa
148 Trans/Form/Ação, São Paulo, 24: 143-152, 2001
transgressão pode variar segundo graus ou intensidades, mas, ao fim,
questionará o sistema dominante. Ainda quando a cultura dominante
possa conviver com essa transgressão, cedendo alguns espaços, a expres-
são da rua continua sendo marginal ante o conceito de teatro respeitável
que forjou a sociedade. José Guilherme Merquior, filósofo brasileiro, diz
que “a arte tolerada pode gerar a crítica da sociedade que a tolera e segre-
gar o vírus de ruptura com dita sociedade” (1974, p.102). Que a socie-
dade tolere o teatro de rua não o faz menos transgressor, porque essa tole-
rância está marcada por uma atitude discriminatória que
permanentemente situa esse teatro no seu lugar de marginalidade, que é
um lugar de enfrentamento com o padrão cultural dominante. O simples
fato de o teatro de rua existir implica um potencial transgressor, mas a
concretização dessa transgressão se manifesta em diferentes ordens. Em
primeiro lugar, o teatro de rua transgride o caótico deslocamento das pes-
soas na ruas, pois, ainda que momentaneamente, propõe uma ruptura no
uso cotidiano da rua. Recria o espaço da rua e inventa uma nova ordem,
ao mesmo tempo que impõe às pessoas que caminham pela rua uma
mudança: de simples pedestres a espectadores. Em segundo lugar, ao
ocupar a rua, o teatro se faz permeável à influência do que se poderia cha-
mar cultura da rua, que seria a mescla de todas as culturas dos usuários
do espaço da rua, tudo aquilo que se manipula como modo de atuar pró-
prio da rua: os medos, os códigos gestuais, as formas de ocupação do espaço
etc. Essa cultura da rua estaria situada fora do padrão cultural dominante,
como fato paralelo e marginal. Outro aspecto dessa transgressão: o teatro
de rua toma elementos das manifestações de rua, especialmente aquelas
relacionadas com as lutas políticas ou sindicais. Esse fenômeno responde
ao que, no seio dessas manifestações, se desenvolveu numa maneira par-
ticular de ocupação e uso do espaço da rua que explicita o caráter demo-
crático da rua. O teatro de rua, tão transgressor como as lutas políticas,
toma emprestado a estas alguns elementos formais. Ainda que se possam
ver nas ruas manifestações artísticas que nada têm de transgressoras – espe-
cialmente naqueles casos em que as instituições da cultura levam espetá-
culos de âmbitos fechados aos palcos na rua, ou quando organismos ofici-
ais de cultura realizam atividades de rua –, pode-se dizer que
essencialmente o teatro de rua transgride o princípio hierárquico espacial
dentro do qual a sociedade burguesa enquadra as manifestações artísti-
cas. O teatro de rua será sempre um acontecimento com uma composição
híbrida, estará sempre em contato com os referentes da cultura culta e da
popular. O hibridismo é uma característica fundamental da rua que é o
âmbito que permite e fomenta a interferência múltipla de fatores na cons-
Trans/Form/Ação, São Paulo, 24: 143-152, 2001 149
trução do espetáculo de rua como cerimônia pública. A ampla diversi-
dade de sujeitos sociais que estão aptos a interferir na construção do
momento espetacular modifica o caráter do espetáculo, senão na totali-
dade da sua linguagem cênica, na sua relação concreta com o ambiente.
Utilizando termos da semiótica, poderíamos dizer que até o significante
do signo teatral sofre influências modificadoras na rua, dado que as pró-
prias regras que são propostas para a construção do espetáculo podem
mudar (e mudam) radicalmente na relação vigorosa que se estabelece na
representação de rua. A interferência do público multifacético (multisso-
cial) da rua tem a potencialidade de transformar o caráter do espetáculo
teatral, incorporando componentes da cultura popular e construindo no
evento espetacular um acontecimento da cultura popular. Um encontro
entre realizadores e audiência, que também pode se dar entre campos cul-
turais distintos, mas que se constrói como uma síntese cujo resultante é a
reapresentação da cultura popular, ou mais especificamente um exercí-
cio de reelaboração que funde esta com os referenciais da tradição teatral
ocidental. Ao construir sentidos atribuindo significados ao espetáculo, a
cultura de rua define o teatro de rua como acontecimento que se incor-
pora a esse marco cultural. Então, seria possível pensar que mesmo o
espetáculo mais experimental viria a interagir com a cultura popular,
compondo um objeto que é apropriado pelo olhar de quem está na rua, ou
mais especificamente pela cultura híbrida das ruas.
Conclusão
Com base nos conceitos explicitados anteriormente, poderíamos
pensar que seria mais apropriado trabalhar com a idéia de que a rua real-
mente significa, no caso da expressão “teatro de rua”, todos aqueles
espaços públicos que não são salas convencionais para representações
teatrais (tenham estas palco italiano ou não). Trabalhar com a delimita-
ção de espaços não convencionais – lugares da cidade –, como uma
ampliação dos conceitos de teatro de rua ou de praça, nos permite conser-
var a percepção das regras de uso da rua e suas influências nos processos
criadores de uma ampla gama de espetáculos cênicos. Refletir sobre o
teatro como exercício de apropriação da silhueta urbana, como prática de
enfrentamento com o espaço inóspito, nos obriga a um deslocamento
(reposicionamento) do nosso olhar. Esse novo ponto de vista situará,
necessariamente, o estudo ou até mesmo a realização do teatro nos espa-
ços não convencionais em um campo que já não será apenas o de uma
150 Trans/Form/Ação, São Paulo, 24: 143-152, 2001
modalidade de teatro popular. Será visto como um âmbito híbrido no
qual se fusionam dinamicamente elementos da cultura popular com
dados da tradição do teatro ocidental.
CARREIRA, A. L. A. N. Street theater as appropriation of the urban silhouette.
Trans/Form/Ação (São Paulo), v.24, p.143-152, 2001.
n ABSTRACT: The aim is to study the exploration of frontiers in the field of thea-
ter, on the basis of the concept of risk. The experimentation of risk technics in
the preparation of the actor and in the construction of the spectacle text is orien-
ted towards the creation of theatrical ceremonies whose axis is the constitution
of new links between the audience and the performance.
n KEYWORDS: Theater; risk; game; post-modernity.
Referências bibliográficas
AMMANN, A. B., BAREI, S. N. El teatro callejero: un rescate de lo popular. In:
Reflexiones sobre teatro latinoamericano del siglo veinte. Buenos Aires:
Galerna, Lenck Verlag, 1989.
AVILA, A. O lúdico e as projeções do mundo do barroco. São Paulo: Perspec-
tiva, 1980.
BARTHES, R. Mitologias. México: Siglo Veintiuno, 1988.
BENÍCIO, E. Teatro de rua do Nordeste do Brasil: uma forma de teatro popular.
São Paulo, 1991. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo.
BOAL, A. Tecnicas latinoamericanas de teatro popular. Buenos Aires: Corregi-
dor, 1975.
CARREIRA, A. Teatro de rua depois dos anos de autoritarismo. Revista Cader-
nos de Classe (Brasília), n.0, 1988.
______. El teatro callejero. El Otro Teatro. Buenos Aires. Libros del Quirquin-
cho, 1990.
______. Teatro callejero en la ciudad de Buenos Aires después de la dictadura
militar. Latin American Theatre Review, v.27, n.2, 1994a.
______. El teatro callejero en la Argentina y en el Brasil democraticos de la
década del ‘80 (La pasión puesta en la calle). Buenos Aires, 1994b. Tese
(Doutorado) – Universidad de Buenos Aires. (no prelo).
COHEN, D., GREENWOOD, B. The Buskers: A History of Street Entertain-
ment. London: David Charles Inc, 1981.
Trans/Form/Ação, São Paulo, 24: 143-152, 2001 151
CORRÊA, R. L. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 1989.
CRUCIANI, F., FALLETTI, C. El teatro de Calle. Técnica y manejo del espacio.
México: Gaceta/CECILT, 1992.
DE MARINIS, M. El nuevo teatro. Barcelona: Paidós, 1988.
DUVIGNAUD, J. Espectaculo y sociedad. Caracas: Tiempo Nuevo, 1970.
______. El sacrificio inutil. México: Fondo de Cultura Económica, 1979.
______. El juego del juego. México: Fondo de Cultura Económica, 1982.
FERRARA, L. D. 1981. A estratégia dos signos. São Paulo: Perspectiva, 1981.
FRENCH, W. W. Rich joy of the sixties: the street of New York City as theatrical
space. The Teatrical Space. Cambridge: Cambridge University Press,
1987.
GARCÍA CANCLINI, N. Culturas hibridas. México: Grijalbo, 1989.
GARCIA, S. Teatro da militância. São Paulo: Perspectiva, 1990.
GUIMARÃES, C., GONDIM, J. C., VANDEBENQUE, G. Tá na rua: um teatro
que descoloniza. Cadernos do Terceiro Mundo, ago.-set. 1982.
JAVIER, F. La renovación del espacio escénico. La Plata: Fundación Banco de
la Provincia de Buenos Aires, 1981.
KUNER, M. C. Street theatre, from entertainment to protest, the 1960’s to
1970’s. In: Maske Und Kothurn. Wien: Jahrgang-Böhlau Verlag, 1987.
LANGSTED, J. Is street theatre theatre? In: Maske Und Kothurn. Wien: Jahr-
gang: Böhlau Verlag, 1987.
MERQUIOR, J. G. Formalismo e tradição moderna: o problema da arte na crise
da cultura. São Paulo: Forense, 1974.
MUMFORD, L. La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y pers-
pectivas. Buenos Aires: Infinito, 1962.
RISSO PATRÓN, C. Apuntes de teatro callejero. Revista Espacios (Buenos
Aires), v.5, n.10, oct. 1991.
SAARINEN, E. La ciudad: su crecimiento, su declinación y su futuro. México:
Limusa, Wiley, 1967.
VAN ERVEN, E. Street theater in New York city in the 1980s: a choice of locus
within the dramatic spectrum. In: Within The Dramatic Spectrum. USA:
University Press of America, Inc, 1986.
WEISMAN, J. Guerrilla theatre: scenarios for revolution. New York: Anchor
Books, 1973.
152 Trans/Form/Ação, São Paulo, 24: 143-152, 2001
Você também pode gostar
- Diretrizes (SBP) - Reanimação NeonatalDocumento43 páginasDiretrizes (SBP) - Reanimação NeonatalRoberta Alves0% (1)
- Poeticas Do Espaço Artigo S BaldaniDocumento14 páginasPoeticas Do Espaço Artigo S BaldaniSamuel BaldaniAinda não há avaliações
- TELLES, Narciso e CARNEIRO, Ana (Org) - Teatro de Rua Olhares e PerspectivasDocumento115 páginasTELLES, Narciso e CARNEIRO, Ana (Org) - Teatro de Rua Olhares e PerspectivasPamela Maroto100% (3)
- Economia - Micro, Macro e Brasileira by Hélio Socolik, ConcursoDocumento179 páginasEconomia - Micro, Macro e Brasileira by Hélio Socolik, ConcursoJoás Murilo NunesAinda não há avaliações
- 1980 - Uma década de lutas nas ruas e na cena teatral da cidade de São PauloNo Everand1980 - Uma década de lutas nas ruas e na cena teatral da cidade de São PauloAinda não há avaliações
- Processos comunicacionais no teatro de rua: Performatividade e Espaço PúblicoNo EverandProcessos comunicacionais no teatro de rua: Performatividade e Espaço PúblicoAinda não há avaliações
- CaosDocumento24 páginasCaosAlexander RaskólnikovAinda não há avaliações
- Manual CaminhaoDocumento75 páginasManual CaminhaoAlan PardiniAinda não há avaliações
- André Carreira - A Cidade Como DramaturgiaDocumento11 páginasAndré Carreira - A Cidade Como DramaturgiaBianca Arcadier100% (2)
- Carpinteiros teatrais, cenas cômicas & diversidade cultural no Rio de Janeiro oitocentista: ensaios de história social da culturaNo EverandCarpinteiros teatrais, cenas cômicas & diversidade cultural no Rio de Janeiro oitocentista: ensaios de história social da culturaAinda não há avaliações
- CABALLERO Ileana Dieguez Cenarios Limina-2Documento44 páginasCABALLERO Ileana Dieguez Cenarios Limina-2Ferdinando MartinsAinda não há avaliações
- Teatro Performativo e A Cidade Como TerritórioDocumento11 páginasTeatro Performativo e A Cidade Como TerritórioMovimento Cidades InvisíveisAinda não há avaliações
- Arte e Vida Social - A Arte Segundo o Ponto de Vista Do GêneroDocumento22 páginasArte e Vida Social - A Arte Segundo o Ponto de Vista Do GêneroAlfredoTaunayAinda não há avaliações
- A Arte Engajada e Seus PúblicosDocumento21 páginasA Arte Engajada e Seus PúblicosRaíza CavalcantiAinda não há avaliações
- Cidade e História - José DAssunção BarrosDocumento125 páginasCidade e História - José DAssunção Barrosdejalmafr100% (2)
- cArtOgrAfiAs DO Sertão RosianoDocumento13 páginascArtOgrAfiAs DO Sertão RosianoAryanna OliveiraAinda não há avaliações
- Revista Urdimento 4Documento123 páginasRevista Urdimento 4RuteFerreiraAinda não há avaliações
- 3914 11137 1 PBDocumento22 páginas3914 11137 1 PBCaroline CarolineAinda não há avaliações
- PROJETODocumento9 páginasPROJETOCintia MaiaraAinda não há avaliações
- A Rua Como Palco - Arte e (In) Visibilidade SocialDocumento10 páginasA Rua Como Palco - Arte e (In) Visibilidade SocialGenilson BatistaAinda não há avaliações
- Teatro de Rua e A Democratização Da ArteDocumento18 páginasTeatro de Rua e A Democratização Da Arteisabella.brookesAinda não há avaliações
- Tema E Objeto de EstudoDocumento18 páginasTema E Objeto de EstudoLeandro FerreiraAinda não há avaliações
- Urdimento 4 PDFDocumento123 páginasUrdimento 4 PDFAlex Nascimento NascimentoAinda não há avaliações
- Teatro de Rua Mito e Criação No BrasilDocumento14 páginasTeatro de Rua Mito e Criação No BrasilwaldefranklyAinda não há avaliações
- 2110 6365 1 PBDocumento5 páginas2110 6365 1 PBBarbara HochAinda não há avaliações
- Teatro e Comunidade M PompeuDocumento15 páginasTeatro e Comunidade M PompeuLucas DalbemAinda não há avaliações
- Intervencao No Espaco PublicoDocumento7 páginasIntervencao No Espaco PublicoTiago VargasAinda não há avaliações
- A Democratização Da Arte de Rua Nos Dias Atuais No Brasil. 1Documento16 páginasA Democratização Da Arte de Rua Nos Dias Atuais No Brasil. 1Danielly Cristina Alves de SousaAinda não há avaliações
- Musica e Vida Urbana - AnitaDocumento20 páginasMusica e Vida Urbana - AnitaNelson PedonAinda não há avaliações
- Relação de Textos Sobre Músicos de RuaDocumento5 páginasRelação de Textos Sobre Músicos de RuaVenâncio Philippe Marques100% (1)
- O Ator Cidadão PDFDocumento11 páginasO Ator Cidadão PDFAmarildo de AlmeidaAinda não há avaliações
- Arte e AntropologiaDocumento9 páginasArte e AntropologiathaisAinda não há avaliações
- Arte de Rua - RS PDFDocumento17 páginasArte de Rua - RS PDFMaristani ZamperettiAinda não há avaliações
- Cidades Proibidas e ImaginadasDocumento15 páginasCidades Proibidas e ImaginadasPatricia FagundesAinda não há avaliações
- Cidades Proibidas e Imaginadas AbraceDocumento25 páginasCidades Proibidas e Imaginadas AbracePatricia FagundesAinda não há avaliações
- O Terceiro Andar +prefácioDocumento160 páginasO Terceiro Andar +prefácioRicardo PereiraAinda não há avaliações
- Cidade - Magnani - A Rua e A Evolução Da SociabilidadeDocumento6 páginasCidade - Magnani - A Rua e A Evolução Da SociabilidadeAmanda NogueiraAinda não há avaliações
- André Carreira - AMBIENTE, FLUXO E DRAMATURGIAS DA CIDADE Materiais Do Teatro de Invasão PDFDocumento10 páginasAndré Carreira - AMBIENTE, FLUXO E DRAMATURGIAS DA CIDADE Materiais Do Teatro de Invasão PDFFidel ReisAinda não há avaliações
- V - Enpaif - Experiências Errantes em Teatro para Tempos Pandêmicos - TaknamfDocumento15 páginasV - Enpaif - Experiências Errantes em Teatro para Tempos Pandêmicos - TaknamfTaknaAinda não há avaliações
- Depois da Avenida Central: Cultura, lazer e esportes nos sertões do BrasilNo EverandDepois da Avenida Central: Cultura, lazer e esportes nos sertões do BrasilAinda não há avaliações
- CIRILO Potencialidades Do Site Specific em Uma Reflexão Sobre A Dança em Paisagens UrbanasDocumento14 páginasCIRILO Potencialidades Do Site Specific em Uma Reflexão Sobre A Dança em Paisagens UrbanasFelipe CiriloAinda não há avaliações
- Pop-Cult-Descolado: A Cultura Pop Como Dispositivo e Maquinário Estético-SemióticoDocumento12 páginasPop-Cult-Descolado: A Cultura Pop Como Dispositivo e Maquinário Estético-SemióticolucianolukeAinda não há avaliações
- PUPO, Maria Lúcia Souza de Barros. Alteridade em Cena PDFDocumento12 páginasPUPO, Maria Lúcia Souza de Barros. Alteridade em Cena PDFclownmunidade100% (1)
- Pallamim - Arte, Cultura e Cidade. Aspectos Estético-Políticos ContemporâneosDocumento195 páginasPallamim - Arte, Cultura e Cidade. Aspectos Estético-Políticos ContemporâneospaollaclayrAinda não há avaliações
- A Rua Espaço, Tempo, Sociabilidade. (RESENHA)Documento4 páginasA Rua Espaço, Tempo, Sociabilidade. (RESENHA)Rafael RochaAinda não há avaliações
- Imp Ok - Cenas Culturais - Will StrawDocumento13 páginasImp Ok - Cenas Culturais - Will StrawJoão Paulo AraújoAinda não há avaliações
- Recepção Como EloDocumento41 páginasRecepção Como EloRodrigoCisoAinda não há avaliações
- Huchet StéphaneDocumento8 páginasHuchet StéphaneJanayna AraujoAinda não há avaliações
- 1436-Texto Do Artigo-4362-1-10-20180513Documento4 páginas1436-Texto Do Artigo-4362-1-10-20180513batatacaua81Ainda não há avaliações
- Arte UrbanaDocumento2 páginasArte Urbanadae.mdias2Ainda não há avaliações
- A Atuação Dos Blocos de Carnaval de Rua de Porto Alegre Como Elemento de Direito À CidadeDocumento23 páginasA Atuação Dos Blocos de Carnaval de Rua de Porto Alegre Como Elemento de Direito À Cidadefabiano.neme4721Ainda não há avaliações
- Rodrigo Andrade - Textos Dos SitesDocumento35 páginasRodrigo Andrade - Textos Dos SitesEducativo MONAinda não há avaliações
- Trabalho para ARTES VISUAIS/UNIPDocumento26 páginasTrabalho para ARTES VISUAIS/UNIPAlexandra EosAinda não há avaliações
- Antropologia UrbanaDocumento28 páginasAntropologia UrbanaelkawpAinda não há avaliações
- I JINECULT - EDUENF - 2022 Reflexões Errantes Sobre Cidade e As Artes Da Cena - TaknaMF 73-79Documento7 páginasI JINECULT - EDUENF - 2022 Reflexões Errantes Sobre Cidade e As Artes Da Cena - TaknaMF 73-79TaknaAinda não há avaliações
- Ações Performaticas Na Cidade o Corpo Coletivo Zalinda CartaxoDocumento12 páginasAções Performaticas Na Cidade o Corpo Coletivo Zalinda CartaxoMarcelo FecundeAinda não há avaliações
- SP04 - 019 A Pedagogia Do Espectador Por Celso FavaretoDocumento4 páginasSP04 - 019 A Pedagogia Do Espectador Por Celso FavaretoMaria De MariaAinda não há avaliações
- Revista FIT PDFDocumento53 páginasRevista FIT PDFÉrica HoffmannAinda não há avaliações
- Arte e Sociedade - Narrativas Sobre A CidadeDocumento7 páginasArte e Sociedade - Narrativas Sobre A CidadeGiancarlo AvantaggiatoAinda não há avaliações
- Da Narrativa No Teatro Ao Teatro NarrativoDocumento5 páginasDa Narrativa No Teatro Ao Teatro NarrativoLaion JôyseAinda não há avaliações
- Explorando As Dimensões Da Arte Urbana A Partir Das ApropriaçõesDocumento11 páginasExplorando As Dimensões Da Arte Urbana A Partir Das ApropriaçõesJulio RodriguesAinda não há avaliações
- 2141 3620 1 PBDocumento22 páginas2141 3620 1 PBPriscila CruzAinda não há avaliações
- Etnograficapress 1406Documento156 páginasEtnograficapress 1406LuzineleAinda não há avaliações
- Sujeitos Do Processo PenalDocumento31 páginasSujeitos Do Processo PenalValéria RodriguesAinda não há avaliações
- Aula10 1Documento3 páginasAula10 1Caique MarquesAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios 2 - RaissaDocumento2 páginasLista de Exercícios 2 - RaissaWdson JuniorAinda não há avaliações
- Apostila 2 Seis SigmaDocumento65 páginasApostila 2 Seis SigmaAna Cristina AngeloteAinda não há avaliações
- Instrução Beretta DantasDocumento32 páginasInstrução Beretta DantasHellen Quintana100% (1)
- Ciências - 6º ANO - 3Documento18 páginasCiências - 6º ANO - 3Leila Machado de JesusAinda não há avaliações
- Show Do MilhãoDocumento10 páginasShow Do MilhãoJacyelli CardosoAinda não há avaliações
- Aula4.1 ctrl2Documento39 páginasAula4.1 ctrl2Jotinha CiganoAinda não há avaliações
- Antenas e RadiopropagaçãoDocumento57 páginasAntenas e RadiopropagaçãoAlexandre QuintasAinda não há avaliações
- Mód. Dívida Ativa Gerar GRERJ Compartilhada Via Web Service PDFDocumento16 páginasMód. Dívida Ativa Gerar GRERJ Compartilhada Via Web Service PDFMarcos Cardoso de OliveiraAinda não há avaliações
- Orações Subordinadas Adverbiais IIIDocumento3 páginasOrações Subordinadas Adverbiais IIIAndrea HulewiczAinda não há avaliações
- Dissertacao JHONE LIMA SANTOSDocumento68 páginasDissertacao JHONE LIMA SANTOSEdson VerdeAinda não há avaliações
- Mapeamento Da Suscetibilidade A Movimentos de Massa No Município de Santo André - SP Utilizando Dados Geológicos e de Sensoriamento RemotoDocumento8 páginasMapeamento Da Suscetibilidade A Movimentos de Massa No Município de Santo André - SP Utilizando Dados Geológicos e de Sensoriamento RemotoJessica jessAinda não há avaliações
- Capítulo Do Livro - Diagrama de ParetoDocumento11 páginasCapítulo Do Livro - Diagrama de ParetoHérmaneWegelisAinda não há avaliações
- Souza Quandt Metodologia Livro Tempo Das Redes 2008-With-cover-page-V2Documento17 páginasSouza Quandt Metodologia Livro Tempo Das Redes 2008-With-cover-page-V2Marcos de SouzaAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios - Óptica GeométricaDocumento12 páginasLista de Exercícios - Óptica GeométricaTairone Paulo OliveiraAinda não há avaliações
- Catalogo Plus Sensor Desgaste BLUE Parts 08.08.2017Documento10 páginasCatalogo Plus Sensor Desgaste BLUE Parts 08.08.2017Victor LealAinda não há avaliações
- Colaborar - Av1 - Contabilidade PúblicaDocumento3 páginasColaborar - Av1 - Contabilidade PúblicaMayra MendonçaAinda não há avaliações
- Máquinas FrigoríficasDocumento17 páginasMáquinas Frigoríficasnoyus6666100% (3)
- Cosmopolitan Portugal N 279Documento130 páginasCosmopolitan Portugal N 279Carla PortelinhaAinda não há avaliações
- Desenho Universal No Patrimônio Cultural Tombado Aplicação e DesafiosDocumento9 páginasDesenho Universal No Patrimônio Cultural Tombado Aplicação e DesafiosFlavitcha MartinsAinda não há avaliações
- Trab BPF AmidoDocumento12 páginasTrab BPF AmidoAnna SeixasAinda não há avaliações
- Superb EM200 Portugues Manual New PDFDocumento48 páginasSuperb EM200 Portugues Manual New PDFThanandraPSRochaFerreiraAinda não há avaliações
- Impulso e Q de MovimentoDocumento4 páginasImpulso e Q de MovimentoGonzagaInfanteAinda não há avaliações
- Vol. 9 - Iniciação Cientifica em Educ. Profis. em Saúde - Articulando - Trabalho-Ciência-CulturaDocumento566 páginasVol. 9 - Iniciação Cientifica em Educ. Profis. em Saúde - Articulando - Trabalho-Ciência-CulturarosemaryAinda não há avaliações
- SigiloDocumento4 páginasSigiloMarcio EscobarAinda não há avaliações