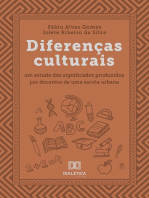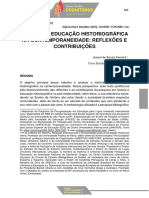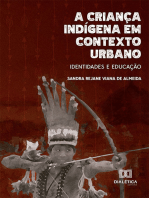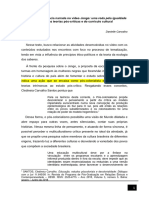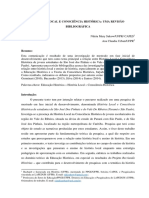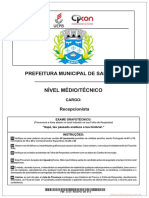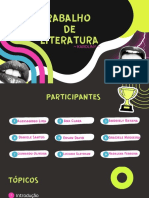Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Narrativas Populares Enquanto Motor para Uma Educacao Simbolica
Narrativas Populares Enquanto Motor para Uma Educacao Simbolica
Enviado por
Karoliny Oliveira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações4 páginasTítulo original
NARRATIVAS_POPULARES_ENQUANTO_MOTOR_PARA_UMA_EDUCACAO_SIMBOLICA
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações4 páginasNarrativas Populares Enquanto Motor para Uma Educacao Simbolica
Narrativas Populares Enquanto Motor para Uma Educacao Simbolica
Enviado por
Karoliny OliveiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
NARRATIVAS POPULARES ENQUANTO MOTOR PARA UMA EDUCAÇÃO
SIMBÓLICA: PROCESSO DOUTORAL PÓS QUALIFICAÇÃO
ALEXANDRE DA SILVA BORGES1; LÚCIA MARIA VAZ PERES²
1
Universidade Federal de Pelotas – alexandreborgesh@gmail.com
²Universidade Federal de Pelotas – lp2709@gmail.com
1. INTRODUÇÃO
O presente texto busca trazer ao debate o momento de pós-qualificação
doutoral da pesquisa que tem como título A Educação Simbólica em narrativas
tradicionais: aspectos do imaginário pongondó, a qual se insere na linha de
pesquisa Cultura Escrita, Linguagens e Aprendizagem do Programa de Pós-
Graduação em Educação, da Faculdade de Educação desta Universidade, e que
tem como objetivo central perceber, a partir do simbolismo prenhe em narrativas
pongondós (oriundas do Povo Novo/RS), contributos à formação dos sujeitos,
emergentes de um imaginário tradicional. O trabalho em questão é nutrido pelas
discussões ocorridas no Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Imaginário,
Educação e Memória (GEPIEM), do qual faz parte. No intuito de decorrer acerca
de um outro espaço formativo, não institucional (formal), que tenha por
características a naturalidade das “trocas simbólicas” (CASSIRER, 2005) e de
conhecimento por meio da oralidade, voltamo-nos os olhos para a cultura popular
do 3º Distrito do Município do Rio Grande/RS: Povo Novo. As narrativas dos
sujeitos pongondós são a fonte de pesquisa deste trabalho, e versam acerca de
crenças e hábitos da localidade: simpatias, benzeduras, modos-de-fazer,
artesania etc.
As noções teóricas que balizam este trabalho partem principalmente das
concepções da teoria do imaginário, com CASSIRER (2005), Gilbert Durand
(1988; 2012); da fenomenologia da História das Religiões e Religiosidades, com
Mircea Eliade (1991; 2011a; 2011b; 2013); e dos contributos teóricos referentes à
Educação e o Imaginário, mais especificamente com Alberto Filipe Araújo (2009)
e Lúcia Maria Vaz Peres (1996). No que tange a teoria durandiana, pode-se dizer
que a concepção de Homem está totalmente atrelada ao seu trajeto antropológico
(1988; 2012), o qual tematiza toda a produção humana enquanto fundamental
para a constituição do ser. Essa produção referente aos constructos dos
hominídeos, desde sua primeira aurora, é histórica, e deságua no modo em que
nos colocamos hoje, frente à natureza e às condições de vida. Contudo, a
maneira que acionamos esses referenciais, os quais são coletivos, partem de
uma transcendência da própria historicidade, comungando de um imaginário
humano que foge às balizas temporais e espaciais. Eis o que menciona a teoria
eliadiana quando aborda a ancestralidade do Homem em sua face a-histórica.
Ainda, seria por meio dos arquétipos, símbolos, emblemas, alegorias e imagens
que esse imaginário teria suas engrenagens. A imaginação teria aqui, segundo a
abordagem durandiana, a função de ser (re)equilibradora psicossocial e
eufemizadora das faces do tempo/morte. Nesse sentido, o intento de perceber
uma Educação Simbólica por meio de narrativas populares parte das noções
teóricas supracitadas, entendendo esse espaço não formal (Povo Novo) e suas
narrativas enquanto fatores potencialmente educativos, não apenas para a
eufemização da educação que aí está – cada vez mais redutora a partir das
concepções (a)políticas vigentes, mas também como possibilidade para se pensar
novas formas no que tange o cunho educacional e formativo. Defendo que a
Educação Simbólica se constitui como
[a] transmissão educativa, via os elementos simbólicos [...], se dá na
medida em que há um pertencimento do indivíduo com o rito. A relação
da Educação Simbólica com seu educando depende não apenas da
passagem do símbolo, do Cosmo ao Ser, mas sim de todo um cabedal
patrimonial. (BORGES, 2017, p. 111)
Assim, distinguimos esse tipo de educação voltada à integralidade humana,
ou melhor, à sua essência, pela sua natureza simbólica (CASSIRER, 2005),
daquilo que percebemos como noções padronizadas da educação formal
(escolar) e até mesmo informal (familiar). Para Peres (1996, p. 74),
[a] educação através das instituições educacionais, escola e família, de
modo geral, no mundo ocidental, encaminham a formação do indivíduo
através das relações em cadeias, polarizadas no poder e no dever. A
ação educativa geralmente acontece por reprodução dessas relações,
que fazem parte da nossa formação. São interações, invariavelmente,
pautadas em parâmetros histórico e socialmente internalizados
(ancestrais) que muitas vezes polarizam-se “pesadas” e negativamente.
Contudo, o caráter “ancestral” das relações educacionais mencionadas por
Peres está atrelado ao campo histórico, dessas experiências formativas que se
repetem invariavelmente. Diferente destas, as experiências proporcionadas por
uma Educação Simbólica traz a “ruptura” com o instituído, ao se valer do uso do
símbolo, mesmo que de forma inconsciente, para a transmissão de valores
culturais atemporais (naturalmente ancestrais).
2. METODOLOGIA
A metodologia centra-se na coleta de narrativas dos sujeitos pongondós. No
exato momento, os relatos acerca do conhecimento popular de três senhoras
(irmãs) da localidade compõem a base de dados a qual está em fase de
transcrição – totalizando 2 horas de gravação. O encontro com as irmãs Silveria
se deu na residência de uma delas, com a permissão de todas para o uso do
material nesta pesquisa. O processo de coleta das narrativas se deu em caráter
informal, com constantes interrupções das falas, por uma ou outra irmã, no
complemento do que diziam. Minha participação enquanto pesquisador também
foi de potencializador dos diálogos, fomentando com lembranças possíveis novas
incursões acerca do tema abordado. Pressupõe-se a participação de outros
sujeitos, porém na medida de saturação dos dados e convergências dessas
narrativas. O material até então coletado dispõe de nuances relativas à vida
embebida e expressada pelo viés popular/tradicional do conhecimento humano,
constituindo-se enquanto relevante dado para a observação de uma Educação
Simbólica.
A presente pesquisa está totalmente fincada no viés qualitativo e, no que
tange ao método, atrela-se aos meios propostos pela própria teoria. Contudo, a
coleta de dados pressupõe caminhos outros. Nesse ponto, distingo os processos
metodológicos utilizados até o momento da qualificação e as possíveis alterações
frente aos comentários da banca.
Como meio para a produção dos primeiros dados foi utilizado a Observação
Direta (2008), a qual pressupõe a atenção e ação do pesquisador em meio aos
sujeitos participantes, numa relação de igualdade onde o mesmo compartilha das
atividades, ritos, práticas e diálogos da pesquisa. Este viés da Observação Direta
é caracterizado pelo Modelo de Impregnação, no qual o sujeito pesquisador é
ativo em campo, na interação com os demais sujeitos, porém não busca auto-
analisar-se enquanto dado. Outra metodologia utilizada foi a História Oral (2011)
que está engajada na produção de documentos, e que surge pela demanda de
fontes em determinados lócus de pesquisa. Grupos em situação de
vulnerabilidade social, as comunidades tradicionais que transmitem/trocam seus
conhecimentos por meio da oralidade são exemplos de um coletivo de sujeitos
que tem o documento de sua história (fonte) por meio de sua própria narrativa. A
História Oral pressupõe método (todo o trâmite de coleta, gravação, transcrição e
composição textual), mas, também teoria, pelas bases teóricas que reclamam sua
especificidade.
Após a qualificação foi possível perceber que uso da Observação direta
somado ao uso da Historia Oral, converge ao campo das Narrativas
(auto)biográficas e Histórias de Vida (ABRAHÃO; PASSAGGI, 2012) – bibliografia
em levantamento e sob consulta.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta deste trabalho, como mencionado anteriormente, busca versar
sobre o processo da pesquisa em fase de pós-qualificação, apresentando as
indicações da banca avaliadora e possíveis rumos para o prosseguimento nessa
jornada de doutoramento. As novas metodologias a serem adotadas configuram-
se enquanto resultado deste processo. Contudo, resultam do momento de
qualificação, bem como do processo de constituição da tese até então, as
seguintes noções: a) a análise das narrativas pongondós (mesmo com três, ou
mais, sujeitos) pode apontar não apenas uma Educação Simbólica, ou seja, um
tipo de formação de cunho não-formal, mas também um modo de vida e uma
visão de mundo propriamente local, a partir do imaginário evidente (em parte) nas
referidas narrativas; e b) os conhecimentos narrados – sobre as práticas de cura
(benzeduras, simpatias, uso de ervas etc); as práticas de artesania (para o
sustento e/ou no intuito decorativo); os modos de vida em meio à região com
nuances rurais/agrícolas – indicam uma ancestralidade, que tenciona a própria
história desses sujeitos, numa transcendência espaço-temporal.
Dessa maneira, resulta o seguinte organograma da expressão do Imaginário
pongondó:
Imaginário Pongondó
Bidimensional
Imaginário Sócio-Cultural Imaginário Ancenstral
Histórico a-Histórico
a) Origens do povoado a) Práticas de cura
a¹) Presença Indígena a¹) Benzeduras
b) Dimensões geográficas a²) Simpatias
c) População a³) Uso de ervas
d) Economia b) Religiosidade (expressões)
e) Aspectos de urbanização c) modos-de-fazer
f) Escolarização c¹) artesania
g) Infraestrutura c²) trabalho
h) Instituições Religiosas
4. CONCLUSÕES
Neste momento, as conclusões possíveis podem deprender do organograma
citado acima, ou seja, o imaginário é bi-dimencional pongóndó é tanto composto
pela sua materialidade histórica (geral) quanto de suas trocas simbólicas via um
imaginário ancestral, que é, ao mesmo instante, atemporal e não-espacial. Esse
imaginário, parafraseando Durand (2012), é composto por imagens passadas
presentes e futuras que dizem respeito às crenças e hábitos da comunidade.
Como podemos notar no organograma, os caracteres dos quadros podem ligar-se
na medida em que identificamos sua convergência. É o caso da seta verde, a qual
interliga a herança indígena pongondó (visível nos artefatos presentes na região –
materialidade) com o uso de ervas – caractere ancestral e comum a mais povos.
Assim como a seta vermelha, interligando as artesanias com a necessidade do
sustento, atrelado portanto ao fator econômico.
Considerando as narrativas populares enquanto motor para uma Educação
Simbólica pressupõe-se que o conteúdo dos relatos, ainda em transcrição, poderá
apresentar mais que um estado sociocultural dos indivíduos em meio ao espaço
em que estão inseridos, apontando uma ancestralidade em suas práticas por
meio de um simbolismo presente neste imaginário, não apenas pongondó, mas
também do homo que se coloca enquanto symbolicus e religiosus (no sentido de
conexão com a natureza e na sua transcendência temporal). O possível contributo
à área educacional centra-se na sensibilidade das questões que envolvem o
simbolismo e o imaginário humano, mas também com vistas às particularidades
d’outros espaços formativos.
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, Alberto Filipe; ARAÚJO, Joaquim Machado de. Imaginário
Educacional: figuras e formas. Niterói: Intertexto, 2009.
BORGES, Alexandre da Silva. A Educação Simbólica na Cantoria de Santinho
em Povo Novo/RS: a musicalidade e a noite regendo o rito. 2017. 144f.
Dissertação (Mestrado em Educação), Faculdade de Educação, Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, 2017
CASSIRER, E. Ensaio sobre o Homem: introdução a uma filosofia da cultura
humana. Tradução: Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
DURAND, Gilbert. A imaginação simbólica. São Paulo: Cultrix, 1988.
_______. As Estruturas Antropológicas do Imaginário. São Paulo: Martins
Fontes, 2012.
ELIADE, Mircea. História das Crenças e das Ideias Religiosas. Rio de Janeiro:
Zahar, 2011a.
_____________________História das Crenças e das Ideias Religiosas. Rio de
Janeiro: Zahar, 2011b.
_____________________Imagens e Símbolos: ensaio sobre o simbolismo
mágico-religioso. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
_____________________ Mito e Realidade. São Paulo; Perspectiva, 2013.
JACCOUD, Mylène; MAYER, Robert. A observação direta e a pesquisa
qualitativa. In: A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos.
SALLUM JR, Basílio (Coordenador). Rio de Janeiro: Vozes, 2008.
PERES, Lúcia Maria Vaz. Significando o “não-aprender”. Pelotas: Educat, 1996.
Você também pode gostar
- Felicidade Ciência e Prática para Uma Vida Feliz Ana Beatriz Barbosa PDFDocumento185 páginasFelicidade Ciência e Prática para Uma Vida Feliz Ana Beatriz Barbosa PDFRenata Nunes100% (5)
- Uma Forca em Movimento PDFDocumento23 páginasUma Forca em Movimento PDFsergios_n100% (2)
- Arte Afro-Brasileira - o Que É Afinal?Documento19 páginasArte Afro-Brasileira - o Que É Afinal?Sérgio Rodrigo100% (1)
- Andrea Palladio - TgiDocumento75 páginasAndrea Palladio - TgiDouglas Ramos83% (6)
- MELO & MOURA. Perspectiva Etnográfica Como Proposta Metodológica de Ensino de SociologiaDocumento27 páginasMELO & MOURA. Perspectiva Etnográfica Como Proposta Metodológica de Ensino de SociologiaYan SantosAinda não há avaliações
- Identidade Capixaba 1Documento9 páginasIdentidade Capixaba 1tuttysfAinda não há avaliações
- O Ensino de Folclore Nas EscolasDocumento12 páginasO Ensino de Folclore Nas EscolasEdu OMAinda não há avaliações
- Vila Cruzeiro - Por Uma Pedagogia Territorial em Escolas de FavelaDocumento20 páginasVila Cruzeiro - Por Uma Pedagogia Territorial em Escolas de FavelamariaAinda não há avaliações
- Entrevista Marilia GagoDocumento12 páginasEntrevista Marilia GagolilourencatoAinda não há avaliações
- Apostila - História e Tradições ReligiosasDocumento138 páginasApostila - História e Tradições ReligiosasCezar JulioAinda não há avaliações
- Programa Antropologia e Educaà à o 20241 PedagogiaDocumento6 páginasPrograma Antropologia e Educaà à o 20241 PedagogiaMistura FemininaAinda não há avaliações
- Povoado Cruz - Contribuições Aos Estudos Dos QuilombosDocumento14 páginasPovoado Cruz - Contribuições Aos Estudos Dos QuilombosWellington Amâncio da SilvaAinda não há avaliações
- A Transmissão de Saberes No Contexto Das Culturas Populares e Tradicionais - FichaDocumento4 páginasA Transmissão de Saberes No Contexto Das Culturas Populares e Tradicionais - FichaAlan MonteiroAinda não há avaliações
- Ana Maria MonteiroDocumento20 páginasAna Maria Monteironisan35035Ainda não há avaliações
- Educacao Patrimonial Memoria e Saberes ColetivosDocumento10 páginasEducacao Patrimonial Memoria e Saberes ColetivosDéboraAinda não há avaliações
- Trabalho Ev127 MD1 Sa17 Id5244 16052019202155Documento12 páginasTrabalho Ev127 MD1 Sa17 Id5244 16052019202155eliadossantos1Ainda não há avaliações
- 1262-Texto Do Artigo-106106107970-1-10-20221215Documento18 páginas1262-Texto Do Artigo-106106107970-1-10-20221215Jacson SantosAinda não há avaliações
- 210-Texto Do Artigo-447-1-10-20150708-1Documento14 páginas210-Texto Do Artigo-447-1-10-20150708-1Tati MoreiraAinda não há avaliações
- Artigo Metodo-Etnografico LOPEZDocumento6 páginasArtigo Metodo-Etnografico LOPEZRose CavalcanteAinda não há avaliações
- A Cultura Material Como Metodologia Do Ensino Da Historia No Ensino Fundamental e Medio.Documento15 páginasA Cultura Material Como Metodologia Do Ensino Da Historia No Ensino Fundamental e Medio.fabioAinda não há avaliações
- Diferenças culturais: um estudo dos significados produzidos por docentes de uma escola urbanaNo EverandDiferenças culturais: um estudo dos significados produzidos por docentes de uma escola urbanaAinda não há avaliações
- Monteiro (2007)Documento12 páginasMonteiro (2007)Pedro Victor Barbosa AndradeAinda não há avaliações
- 2ACD 2bim Ressignificando AtividadeDocumento5 páginas2ACD 2bim Ressignificando AtividademariamariadejesusdefrancasousaAinda não há avaliações
- Cristiane Bartz de ÁvilaDocumento18 páginasCristiane Bartz de ÁvilaAna Rita MenezesAinda não há avaliações
- Projeto de Oficina PedagogicaDocumento6 páginasProjeto de Oficina Pedagogicathomas100% (1)
- Mulher No Livro DidáticoDocumento18 páginasMulher No Livro DidáticoRafael Azzi100% (1)
- A História, Hoje em DiaDocumento4 páginasA História, Hoje em DiaTerezinha Moreira Santana MOREIRAAinda não há avaliações
- ARTIGO - Ensino de Ensino de História Moderna No Livro DidáticoDocumento16 páginasARTIGO - Ensino de Ensino de História Moderna No Livro DidáticoWilliams Andrade De SouzaAinda não há avaliações
- Nelson, Resumo Saberes Locais No Ensino de HistóriaTrabalhoDocumento3 páginasNelson, Resumo Saberes Locais No Ensino de HistóriaTrabalhonay pAinda não há avaliações
- Cmrodrigues, Rfe VossDocumento25 páginasCmrodrigues, Rfe VossAbner Braz LimaAinda não há avaliações
- História e Educação Historiográfica Na Contemporaneidade: Reflexões e ContribuiçõesDocumento17 páginasHistória e Educação Historiográfica Na Contemporaneidade: Reflexões e ContribuiçõesJosuel de Souza FerreiraAinda não há avaliações
- Bragança, Ines. Historia de VidaDocumento22 páginasBragança, Ines. Historia de VidaTamara LimaAinda não há avaliações
- Grafismo em Ambiente Escolar Como Documento Da Cultura Jovem UrbanaDocumento5 páginasGrafismo em Ambiente Escolar Como Documento Da Cultura Jovem UrbanaBruno Silva LacerdaAinda não há avaliações
- Memória Nagô: Vicente Mariano e o Terreiro Senhor Do Bonfim Ilê Oxum Ajamin.Documento20 páginasMemória Nagô: Vicente Mariano e o Terreiro Senhor Do Bonfim Ilê Oxum Ajamin.Paulo VictorAinda não há avaliações
- História, Memória e Identidade - Refletindo Sobre A OralidadeDocumento16 páginasHistória, Memória e Identidade - Refletindo Sobre A OralidadeLaura DouradoAinda não há avaliações
- E Por Falar em IndiosDocumento220 páginasE Por Falar em IndiosBianca MonfardiniAinda não há avaliações
- A criança indígena em contexto urbano: identidades e educaçãoNo EverandA criança indígena em contexto urbano: identidades e educaçãoAinda não há avaliações
- Plano de Curso PGSS248 2024.1 01Documento4 páginasPlano de Curso PGSS248 2024.1 01PRBRAinda não há avaliações
- COHN, C. Antropologia, Etnografia e Educação - Questoes de para A Pesquisa A Partir Da Etnologia IndígenaDocumento27 páginasCOHN, C. Antropologia, Etnografia e Educação - Questoes de para A Pesquisa A Partir Da Etnologia IndígenadaisyfragosoAinda não há avaliações
- CARVALHO e PINHEIRO - Contribuições Da Pedagogia Griô Na EIDocumento18 páginasCARVALHO e PINHEIRO - Contribuições Da Pedagogia Griô Na EIcvieira.analauraAinda não há avaliações
- 1 - Slides Introd. Ao Estudo Da Hist e Da Hist Da EducaçãoDocumento24 páginas1 - Slides Introd. Ao Estudo Da Hist e Da Hist Da EducaçãoAmada CamposAinda não há avaliações
- A Tematica Indigena Na Escola-Páginas-1,3,9,308-330Documento26 páginasA Tematica Indigena Na Escola-Páginas-1,3,9,308-330Jéssica MeirelesAinda não há avaliações
- O Percurso Dos Surdos Na História e A Necessidade Da LibrasDocumento12 páginasO Percurso Dos Surdos Na História e A Necessidade Da Librasneresluana100% (1)
- ROBERTODocumento22 páginasROBERTOheliano souzaAinda não há avaliações
- "Os Primeiros Habitantes Do Brasil" - Representações Sobre Os - Povos Indígenas em Livros Didáticos de Ensino Fundamental PDFDocumento11 páginas"Os Primeiros Habitantes Do Brasil" - Representações Sobre Os - Povos Indígenas em Livros Didáticos de Ensino Fundamental PDFThiagoAinda não há avaliações
- Antropologia e Educação 1 PDFDocumento27 páginasAntropologia e Educação 1 PDFLetícia OliveiraAinda não há avaliações
- Os Humanos No Popol Vuh e Na Leyenda de Los Soles. Abordagens Das Fontes e Sua Presença No Ensino Básico Autor Koling, Paulo JoséDocumento12 páginasOs Humanos No Popol Vuh e Na Leyenda de Los Soles. Abordagens Das Fontes e Sua Presença No Ensino Básico Autor Koling, Paulo JoséjoãoAinda não há avaliações
- 324 1059 1 PB PDFDocumento15 páginas324 1059 1 PB PDFCida CabralAinda não há avaliações
- 13732-Texto Do Artigo-51948-1-10-20221212Documento15 páginas13732-Texto Do Artigo-51948-1-10-20221212loliveiratomeAinda não há avaliações
- DANIELLE CARVALHO - Trabalho Final Prof. Marcos NeiraDocumento7 páginasDANIELLE CARVALHO - Trabalho Final Prof. Marcos NeiraDanielle CarvalhoAinda não há avaliações
- Aprender Nos Terreiros: História, Cultura e Religiões de Matriz Africanas - Experiência DocenteDocumento1 páginaAprender Nos Terreiros: História, Cultura e Religiões de Matriz Africanas - Experiência DocenteMarcelinhu StudinskiAinda não há avaliações
- SUKOW e URBAN. Hist. Local e Consc. HistóricaDocumento11 páginasSUKOW e URBAN. Hist. Local e Consc. HistóricarothAinda não há avaliações
- Cidade e Identidade No Ensino Da HistóriaDocumento10 páginasCidade e Identidade No Ensino Da HistóriaLuis Fernando CerriAinda não há avaliações
- Etnografia e Pesquisa Educacional PDFDocumento10 páginasEtnografia e Pesquisa Educacional PDFJosevandro Chagas SoaresAinda não há avaliações
- A Educação No Cotidiano de Um Terreiro Do Tambor de Mina - REVISTA ENTRELUGARESDocumento20 páginasA Educação No Cotidiano de Um Terreiro Do Tambor de Mina - REVISTA ENTRELUGARESJoão ColaresAinda não há avaliações
- Argumento - Jorge Francisco Da Costa - PROFGEODocumento4 páginasArgumento - Jorge Francisco Da Costa - PROFGEOjorgefcstAinda não há avaliações
- Artigo - Consciência Histórica e Construção de IdentidadesDocumento12 páginasArtigo - Consciência Histórica e Construção de IdentidadesFernando Milani MarreraAinda não há avaliações
- Índios e Comunidade Escolar Sergipana. VOZES ALTERNATIVASDocumento15 páginasÍndios e Comunidade Escolar Sergipana. VOZES ALTERNATIVASDIOGO MONTEIROAinda não há avaliações
- Aula 0008 - História Local-O Reconhecimento Da Identidade Pelo Caminho Da InsignificânciaDocumento26 páginasAula 0008 - História Local-O Reconhecimento Da Identidade Pelo Caminho Da InsignificânciaDébora Barros dos Santos100% (1)
- 21979-Texto Do Artigo-92871-1-10-20130101Documento17 páginas21979-Texto Do Artigo-92871-1-10-20130101Elaine AlvesAinda não há avaliações
- Holos 1518-1634: Issn: Holos@Documento13 páginasHolos 1518-1634: Issn: Holos@calungaramosramosAinda não há avaliações
- Universidade Severino Sombra Carlos Mario Paes CamachoDocumento283 páginasUniversidade Severino Sombra Carlos Mario Paes CamachoJessica AmanajasAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre o Ludico em Sala de Aula - PedagogiaDocumento24 páginasTrabalho Sobre o Ludico em Sala de Aula - PedagogiaAlberto Valter VinagreAinda não há avaliações
- Cultura de MassaDocumento21 páginasCultura de MassaKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- 1134-Texto Do Artigo-4079-1-10-20100416Documento2 páginas1134-Texto Do Artigo-4079-1-10-20100416Karoliny OliveiraAinda não há avaliações
- Entrevista XidiehDocumento16 páginasEntrevista XidiehKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- LLV8025 - Aquisição Da Linguagem - 05428 - Cristiane LazzarottoDocumento6 páginasLLV8025 - Aquisição Da Linguagem - 05428 - Cristiane LazzarottoKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- 2013 - Aula Sapiencia Estudos InterculturaisDocumento26 páginas2013 - Aula Sapiencia Estudos InterculturaisKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Vanguard AsDocumento31 páginasVanguard AsKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Carta Aos EditoresDocumento1 páginaCarta Aos EditoresKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Aprendendo A Aprender A Literatura PopularDocumento19 páginasAprendendo A Aprender A Literatura PopularKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- PT How To Organize A Text - by SlidesgoDocumento36 páginasPT How To Organize A Text - by SlidesgoKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Manifesto Cubofuturista - Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro - Gilberto Mendonça TelesDocumento2 páginasManifesto Cubofuturista - Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro - Gilberto Mendonça TelesKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Gil VicenteDocumento29 páginasGil VicenteKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- 20 - 10 - Paulo Freire - Slide2Documento29 páginas20 - 10 - Paulo Freire - Slide2Karoliny OliveiraAinda não há avaliações
- My Creative Resume Pink VariantDocumento13 páginasMy Creative Resume Pink VariantKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Escrita e InteracaoDocumento12 páginasEscrita e InteracaoKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Manifesto FuturistaDocumento2 páginasManifesto FuturistaKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Admin, 11 Educ P Esc v7n2-2016 - Final 1Documento11 páginasAdmin, 11 Educ P Esc v7n2-2016 - Final 1Karoliny OliveiraAinda não há avaliações
- 87326Documento16 páginas87326Karoliny OliveiraAinda não há avaliações
- Figuras de Linguagem - SemânticaDocumento69 páginasFiguras de Linguagem - SemânticaKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- AULA 03 - 04 DIDÁTICA - Anízia Costa-27-42Documento16 páginasAULA 03 - 04 DIDÁTICA - Anízia Costa-27-42Karoliny OliveiraAinda não há avaliações
- Dom CasmurroDocumento9 páginasDom CasmurroKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- A Literatura de Cordel Como Instrumento para o Ensino de GramaticaDocumento7 páginasA Literatura de Cordel Como Instrumento para o Ensino de GramaticaKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- A Poesia Modernista de 30-45Documento20 páginasA Poesia Modernista de 30-45Karoliny OliveiraAinda não há avaliações
- Apresentação (2) .Documento15 páginasApresentação (2) .Karoliny OliveiraAinda não há avaliações
- ApresentaçãoDocumento8 páginasApresentaçãoKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Dom CasmurroDocumento7 páginasDom CasmurroKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- RecepcionistaDocumento17 páginasRecepcionistaKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Apresentação para Despedida de Solteira Moderna e Neon (Apresentação (169) )Documento12 páginasApresentação para Despedida de Solteira Moderna e Neon (Apresentação (169) )Karoliny OliveiraAinda não há avaliações
- Orange and Cream Delicate Organic Homemade Products Marketing Video PresentationDocumento7 páginasOrange and Cream Delicate Organic Homemade Products Marketing Video PresentationKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Aula MitoDocumento9 páginasAula MitoKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Seminário de LiteraturaDocumento6 páginasSeminário de LiteraturaKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Ceia de HojeDocumento3 páginasCeia de Hojelord reiAinda não há avaliações
- Livro Ebook A Seria Presenca de DeusDocumento26 páginasLivro Ebook A Seria Presenca de DeusAriana C osAinda não há avaliações
- Ficha de Inscrição para o Acampamento de JovensDocumento2 páginasFicha de Inscrição para o Acampamento de JovensEddFellipeAinda não há avaliações
- A Comunicação Com Os MortosDocumento4 páginasA Comunicação Com Os Mortosheitor25Ainda não há avaliações
- Etica No CandombleDocumento2 páginasEtica No CandombleSolange Da SilvaAinda não há avaliações
- O Papel Do Homem Como MaridoDocumento8 páginasO Papel Do Homem Como MaridoDalmo WernerAinda não há avaliações
- A Religiosa em SolidãoDocumento626 páginasA Religiosa em SolidãoChristian HadomiAinda não há avaliações
- CronologiaDocumento75 páginasCronologiaYago De SouzaAinda não há avaliações
- Discurso de Ódio Sob A Perspectiva de John Stuart MillDocumento16 páginasDiscurso de Ódio Sob A Perspectiva de John Stuart MillLeonardo ChagasAinda não há avaliações
- Tcc-Movimentohippie Gabriela VarellaDocumento23 páginasTcc-Movimentohippie Gabriela VarellaPlinio SilvaAinda não há avaliações
- A Literatura de Autoria FemininaDocumento16 páginasA Literatura de Autoria FemininaClayton Prem AlokAinda não há avaliações
- Segredos Da Prosperidade 3Documento8 páginasSegredos Da Prosperidade 3josé peixotoAinda não há avaliações
- Jogral NatalDocumento3 páginasJogral NatalLuan FerreiraAinda não há avaliações
- Salve Santa ImagemDocumento1 páginaSalve Santa ImagemMaria Julia Lopes100% (1)
- 02 - Um Rei Sonha Acerca Dos Impérios MundiaisDocumento34 páginas02 - Um Rei Sonha Acerca Dos Impérios MundiaisStanley FontenelleAinda não há avaliações
- Jimua EstatutosDocumento24 páginasJimua EstatutosHermenegildo MurçaAinda não há avaliações
- Roteiro 38 - Milagres e Sinais de JesusDocumento6 páginasRoteiro 38 - Milagres e Sinais de Jesusmarcos_aof_117134Ainda não há avaliações
- Apresentação Da Edse Aos PárocosDocumento7 páginasApresentação Da Edse Aos PárocosJoão Melo SilvaAinda não há avaliações
- O Que É A Temperança para AristótelesDocumento5 páginasO Que É A Temperança para AristótelesPistorius DavidAinda não há avaliações
- ROSA, Sueli Marques Rosa, A Justica Divina e o Mito Da Deficiencia FisicaDocumento11 páginasROSA, Sueli Marques Rosa, A Justica Divina e o Mito Da Deficiencia FisicaBruno HenriqueAinda não há avaliações
- Apostila de Estudo - Docx - Documentos GoogleDocumento34 páginasApostila de Estudo - Docx - Documentos GoogleFelipe AlmeidaAinda não há avaliações
- O Êxodo e A Conquista de CanaãDocumento4 páginasO Êxodo e A Conquista de CanaãIolanda MatosAinda não há avaliações
- VIEIRA, Antonio - Esperanças de PortugalDocumento61 páginasVIEIRA, Antonio - Esperanças de PortugalRebecaDiasAinda não há avaliações
- Catecismo Ilustrado - Versão DigitadaDocumento141 páginasCatecismo Ilustrado - Versão DigitadamarcosjtgomesAinda não há avaliações
- LV Abraham Hicks LOA 5 Lotus ViajanteDocumento16 páginasLV Abraham Hicks LOA 5 Lotus ViajanteJosileide De Castro SantanaAinda não há avaliações
- A Missa - Ano B - Nº 10 - Epifania Do Senhor - 03.01.21Documento4 páginasA Missa - Ano B - Nº 10 - Epifania Do Senhor - 03.01.21Leo BraboAinda não há avaliações