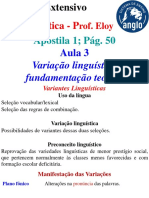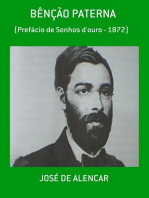Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Naturalismo - Paulo Abrantes
Naturalismo - Paulo Abrantes
Enviado por
GabrielGalli0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
62 visualizações26 páginasDireitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
62 visualizações26 páginasNaturalismo - Paulo Abrantes
Naturalismo - Paulo Abrantes
Enviado por
GabrielGalliDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 26
NATURALISMO EM FILOSOFIA DA MENTE
(In: Ferreira, A., Gonzalez, M. E. Q. e Coelho, J. C. (orgs.), Encontro com as
Ciencias Cognitivas - v. 4. So Paulo: Editora Cultura Acadmica, 2004, p. 5-37)
Paulo Csar Coelho Abrantes
Universidade de Brasilia
NATURALISMO: CONSIDERAES PRELIMINARES
Uma das dificuldades em avaliarmos o naturalismo - mesmo se nos restringimos s
suas verses mais recentes em epistemologia - a variedade de teses filosficas englobadas
sob essa denominao. No bvio que haja um ncleo comum de compromissos aceitos
por todas as variedades de naturalismo em epistemologia. Apesar disso, corrente o uso do
termo 'naturalismo' para designar uma orientao bastante robusta em epistemologia.
O naturalismo em epistemologia corresponde a uma combinao de todas, ou de
parte, das seguintes teses, configurando programas mais ou menos radicais:
a) Rejeio da possibilidade de uma justificao a priori para crenas e, de modo
particular, a contestao do pretenso status a priori da epistemologia;
b) Rejeio do fundacionalismo;
c) Externalismo (em teoria da justificao);
c) Psicologismo;
d) Fisicalismo;
e) Monismo metodolgico;
f) Cientificismo.
1
Como a temtica deste artigo no se situa primordialmente no domnio da
epistemologia, limito-me aqui a nomear essas teses, sem enunci-las ou analis-las (vrias
delas sero, de todo modo, discutidas em diferentes momentos neste artigo, particularmente
o fisicalismo).
2
O termo 'naturalismo' no empregado, usualmente, para distinguir programas em
filosofia da mente, como o caso em epistemologia. Neste artigo, proponho uma
classificao de diferentes posies que se poderiam considerar 'naturalistas' em filosofia da
mente.
Com esse fim, adoto estrategicamente o "guia" de Goldman (1998) para o
naturalismo em epistemologia. Vou distinguir, com base nessa tentativa de classificao,
1
H quem inclua o 'darwinismo' nessa lista, embora isso no seja usual. Ver, por exemplo, Rosemberg (1996).
Para Papineau (1993), o naturalismo entendido pelos filsofos de vrias maneiras, e pode estar associado s
seguintes teses: a) continuidade entre filosofia e cincia; b) rejeio do dualismo; c) rejeio do internalismo
em epistemologia; d) fisicalismo.
2
O leitor interessado no naturalismo epistemolgico poder consultar Abrantes (1995, 1998) e Abrantes &
Bensusan (2003).
2
modalidades anlogas de naturalismo em filosofia da mente, dividindo-as em trs grupos: o
naturalismo enquanto uma postura ontolgica, conceitual-lingustica ou metodolgica. Essa
transposio da epistemologia para a filosofia da mente no deve surpreender, na medida em
que os problemas fundamentais de ambas as reas esto intimamente conectados.
Como as propriedades de 'intencionalidade' e de 'conscincia' so especialmente
crticas para um programa naturalista em filosofia da mente, sirvo-me, tambm, da
classificao que prope Chalmers (1996) de distintas posturas frente ao status ontolgico
da conscincia, bem como da que discutem Stich et al. (1994), mais voltada para as atitudes
proposicionais (e, conseqentemente, para os problemas colocados pela intencionalidade de
alguns tipos de estados mentais).
Na medida do possvel, tento ilustrar, com referncias a diferentes filsofos
contemporneos, cada uma das modalidades identificadas de naturalismo e as
correspondentes modalidades de antinaturalismo. Dou uma ateno especial, mas no
exclusiva, s posies de Chalmers, de Searle e de Dennett.
Embora no seja este o objetivo principal do artigo, acredito que ele possa ser
utilizado como uma introduo ao problema mente-corpo, explorando as implicaes de
diferentes solues propostas para este que o problema central da filosofia da mente.
NATURALISMO ONTOLGICO (NATO)
controverso em que medida o naturalismo implica numa ontologia particular
como, por exemplo, o fisicalismo redutivo- posio que rejeita objetos, estados,
propriedades e processos alm daqueles postulados pela fsica. Mostrarei que o naturalismo
tambm compatvel com um fisicalismo no-redutivo, por exemplo.
De modo geral, podemos considerar naturalistas ontolgicas aquelas orientaes que
rejeitam o dualismo de substncia e que postulam que os estados e propriedades mentais so
idnticos, reduzem-se ou supervm a estados neurais.
3
Cada uma dessas postulaes pode
ser considerada 'fisicalista'.
NATO tem diversas variantes, correspondendo a diferentes concepes de reduo
e de supervenincia. Combinaes entre os tipos de reduo e os tipos de supervenincia
geram vrias sub-modalidades de naturalismo ontolgico. Algumas delas sero
exemplificadas a seguir.
I. FISICALISMO
4
REDUTIVO
O reducionismo frequentemente apresentado como uma posio que admite a
possibilidade de se reduzir as cincias de nvel alto, ou 'especiais' (como a psicologia, por
3
Mostrarei que posturas no-naturalistas correspondem a negar que estados mentais com contedo, por
exemplo, ou que possuem qualia, possam ser idnticos, redutveis ou mesmo que supervenham a estados
fsicos (e.g. neurais).
4
'Fisicalismo' e 'materialismo' estaro sendo usados, no que se segue, como sinnimos, salvo observao em
contrrio. Por vezes distingue-se, entretanto, tais termos. Ver os verbetes correspondentes em Guttenplan
(1995); Kim & Sosa (1995).
3
exemplo) s cincias 'fundamentais', como a biologia ou a fsica.
5
No contexto da presente
seo, o reducionismo relevante , propriamente, o ontolgico.
Numa ontologia fisicalista redutiva, no h nada alm das propriedades e leis
descritos pela fsica. No naturalismo fisicalista redutivo, postula-se uma reduo do mental
(do fenomnico, do intencional ou de estados com contedo) ao fsico. Essa reduo pode
tomar a forma de uma identidade entre propriedades mentais, de um lado, e propriedades
fsicas, de outro.
A teoria da identidade (brain state theory) exemplifica esta ltima posio, ao
postular uma identidade entre (tipos de) estados mentais e (tipos de) estados fsicos. Por
isso, essa soluo para o problema mente-corpo tambm conhecida como um 'fisicalismo
de tipo', que definirei de forma precisa na prxima seo. Na avaliao de J. Kim, o grande
legado da teoria da identidade foi de tornar praticamente hegemnica, entre os filsofos da
mente contemporneos, uma perspectiva fisicalista no tratamento do problema mente-corpo.
Kim caracteriza tal perspectiva, basicamente, pela rejeio do dualismo de substncia
proposto por Descartes.
Proponho que se inclua tambm posies eliminativistas nessa categoria de
fisicalismo redutivo, embora no se deva confundir 'eliminar' (e.g. conceitos ou termos
associados ao mental) com 'reduzir'. O eliminativismo a tese de que determidados estados
ou propriedades mentais simplesmente no existem, embora tendamos a v-los como a
referncia de conceitos utilizados na linguagem mentalista ordinria. O eliminativismo pode
ser associado, portanto, ao no-realismo com respeito aos conceitos ou termos mentalistas,
como eles so compreendidos, por exemplo, no mbito da psicologia de senso comum. Se
no existem os estados e propriedades a que se referem os conceitos associados ao mental,
no faz sentido tentar reduzi-los. Podemos ser no-realistas com respeito s chamadas
atitudes proposicionais ('crenas', 'desejos', etc. e, de modo geral, com respeito a estados
mentais com contedo), mas tambm com respeito s chamadas propriedades fenomnicas
associadas conscincia.
6
O chamado 'niilismo de qualia', defendido por Dennett entre
outros, exemplifica esta ltima posio.
problemtico tentar enquadrar na modalidade de naturalismo ontolgico o
chamado "materialismo eliminativo" de Paul Churchland.
7
Apesar do nome, essa corrente
no apresenta contornos ontolgicos claros no que diz respeito, propriamente, ao problema
mente-corpo. A tese central defendida por Churchland que a linguagem mentalista (a
linguagem da psicologia de senso comum) deve ser eliminada e, no, reduzida, por
5
Isso remete ao que Searle chama de 'reduo terica'. Ele distingue, como apresentarei adiante, diferentes
tipos de reduo.
6
O termo "conscincia" refere-se, ordinariamente, a diferentes capacidades. Mas h um crescente consenso,
entre filsofos da mente, em considerar a "experincia qualitativa", em especial as qualidades (qualia)
associadas s nossas sensaes, como o "problema difcil" (Chalmers, 1996, 1997) no domnio do mental.
Thomas Nagel popularizou a expresso "what it is like to be X"- que poderamos traduzir por "como ser X"-
para referir-se experincia de um indivduo X, possuidor de uma estrutura cognitiva particular e, portanto, de
uma "conscincia" particular do mundo. Nessa expresso, a varivel X pode ser substituda por um ente - um
homem, um morcego (como prefere Nagel) ou um indivduo de outra espcie biolgica - capaz de ter estados
mentais conscientes, e possuidor de um ponto de vista particular diante do mundo. Ver tambm nota 40.
7
Embora, por comodidade, eu v omitir o prenome a seguir, no deve haver confuso com uma outra filsofa,
a Patricia Churchland, cujas posies no so objeto deste artigo.
4
exemplo, linguagem da neurofisiologia. Como o que se pretende eliminar aqui no so
eventos ou propriedades, mas sim elementos lingusticos, essa orientao talvez localize-se
melhor na modalidade de naturalismo conceitual-lingustico. Voltarei, portanto, ao
materialismo eliminativo mais adiante.
O fisicalismo, entretanto, no implica necessariamente num reducionismo ou num
eliminativismo. Kornblith (1998), um destacado naturalista, embora considere que o
progresso cientfico fornea evidncias a favor do fisicalismo (ou seja, a favor da
constituio fsica de todas as coisas, como ele define essa doutrina), sustenta que o
estgio atual das cincias no apia o reducionismo e, muito menos, o eliminativismo.
Kornblith realista com respeito s espcies naturais postuladas por cincias como a
psicologia (p.ex. em psicologia cognitiva, tipos de estados mentais) e considera que tais
espcies tm poder causal genuno. Ele rejeita, conseqentemente, o epifenomenalismo
8
em
filosofia da mente. H, portanto, compatibilidade entre uma posio naturalista e a
autonomia das cincias especiais.
9
Pettit (1994) tambm percebe uma ambiguidade ontolgica no naturalismo: h
aqueles que defendem um reducionismo, ou mesmo um eliminativismo, restringindo
portanto a sua ontologia; e os que adotam uma ontologia mais rica, na qual tambm tm
lugar, por exemplo, propriedades que supervm s propriedades fsicas.
II. FISICALISMO NO-REDUTIVO
Acredito que, hoje em dia, seja este o mbito no qual a maioria dos filsofos da
mente se deslocam. O fisicalismo no-redutivo uma perspectiva que rejeita o dualismo de
substncia - levando a srio as evidncias empricas de que h covarincia entre o mental e o
fsico - e pressupe a dependncia do mental em relao ao fsico sem, no entanto, admitir
uma reduo do mental ao fsico.
II-1. A relao de supervenincia
A supervenincia normalmente empregada em tentativas de articulao de um
fisicalismo no-redutivo, enquanto pano de fundo ontolgico no tratamento do problema
mente-corpo. Pretende-se, com base nessa relao, assegurar a autonomia das cincias
especiais, como a psicologia, com respeito s fundamentais, como a fsica. A relao de
supervenincia pode ser formulada nos seguintes termos:
Indiscernibilidade fisica implica em indiscernibilidade psicolgica; ou,
equivalentemente, nenhuma diferena mental sem diferena fisica (Kim, 1996, p.10).
A partir dessa definio bsica, a relao de supervenincia pode ser formulada de
forma mais fraca ou mais forte.
10
8
O epifenomenalismo a doutrina que defende que estados mentais so causados por estados cerebrais, mas
que aqueles no tm poder causal, sendo meros 'epifenmenos'.
9
Para uma exposio mais detalhada do naturalismo de Kornblith, ver Abrantes (2004).
10
Assim, a indiscernibilidade fsica pode dizer respeito exclusivamente a indivduos tomados num mesmo
mundo, ou ento envolver comparaes de indivduos tomados em diferentes mundos possveis
(supervenincia local); num outro registro, a supervenincia pode unicamente comparar as distribuies
5
O princpio de supervenincia do mental ao fsico usado para comparar as posies
conhecidas como 'fisicalismo de particulares' (token physicalism) e 'fisicalismo de tipo' (type
physicalism). O 'fisicalismo de particulares' definido por Kim nos seguintes termos:
Todo evento que uma ocorrncia de um tipo de evento mental tambm uma
ocorrncia de um tipo de evento fsico (ou, em outras palavras, todo evento que possui uma
propriedade mental possui tambm alguma propriedade fsica) (Kim, 1996, p. 59).
Este princpio, por si s, no impe uma correlao entre propriedades mentais e
fsicas e, portanto, pode valer mesmo se no h supervenincia do mental ao fsico. Dois
eventos fsicos particulares, ambos de um mesmo tipo, podem estar, cada um deles,
correlacionado a um evento mental de um tipo diferente. Nesse sentido, o fisicalismo de
particulares no propriamente uma doutrina fisicalista (isso se aceitarmos que o princpio
de supervenincia define um fisicalismo mnimo, tese que analisarei na prxima seo).
11
A teoria da identidade mente-corpo implica um fisicalismo de tipo: Tipos de
eventos mentais so tipos de eventos fsicos; em outras palavras, propriedades mentais so
propriedades fsicas (Kim, ibid., p. 59).
O fisicalismo de tipo , portanto, uma posio reducionista: no h propriedades
mentais distintas de propriedades fsicas, e alm destas ltimas. Propriedades mentais e
fsicas so, na verdade, identificadas.
12
A supervenincia do mental ao fsico permite
definir, portanto, uma posio que mais forte do que o fisicalismo de particulares, porm
mais fraca do que o fisicalismo de tipo.
Filsofos com tendncias naturalistas ou fisicalistas mais radicais consideram,
entretanto, o conceito de supervenincia bastante suspeito, por parecer ressuscitar, com
uma nova roupagem, posies consideradas problemticas como o epifenomenalismo, o
emergentismo, etc. Uma das crticas noo de supervenincia que ela conduz a aceitar
relaes, por exemplo, entre o mental e o fsico, enquanto fatos brutos, no passveis de
globais de propriedades fsicas, de um lado, e mentais, de outro, em diferentes mundos possveis, no se
compromentendo com comparaes de como essas propriedades so instanciadas e esto relacionadas em
indivduos, comparados dois a dois, nesses mundos (supervenincia global). A supervenincia local implica a
global, mas no o contrrio. Por outro lado, o modo como especificamos a noo de possibilidade, se lgica
ou nomolgica pode, por sua vez, gerar variantes das relaes anteriores. No caberia, para os fins deste
artigo, discutir essas diversas noes de supervenincia, um tpico por si s bastante complexo.
11
O fisicalismo de particulares uma doutrina fraca demais, pois no pressupe que a cada vez que um evento
seja a ocorrncia de um certo tipo de estado mental - por exemplo, uma dor - ele tambm seja a ocorrncia do
mesmo tipo de evento fsico - digamos, a ativao da fibra C. Num determinado momento, um evento pode
instanciar esses dois tipos e, em outro momento, instanciar o mesmo tipo mental (uma dor) e um tipo fsico
totalmente diferente (por exemplo, a ativao da fibra D, e no mais a fibra C, como no evento anterior). Na
verdade, o fisicalismo de particulares compatvel at com a existncia de um outro mundo, idntico ao nosso
em todos os seus aspectos fsicos, mas no qual no haja sequer mentalidade (ver Kim, 1996, p. 61).
12
A teoria da identidade mente-corpo corresponde a afirmar a supervenincia lgica do mental (especialmente
do fenomnico) ao fsico. Segundo Chalmers, isso corresponde a uma posio reducionista: A epistemologia
da explicao redutiva vai ao encontro da metafsica da supervenincia de modo direto. Um fenmeno natural
explicvel redutivamente em termos de algumas propriedades de baixo-nvel precisamente quando ele
logicamente [e globalmente] superveniente a tais propriedades (Chalmers, 1996, p. 47-8). Chalmers distingue
essa supervenincia lgica, da supervenincia nomolgica, que vale somente para mundos com as mesmas leis
fsicas que vigem em nosso mundo. A supervenincia lgica implica a supervenincia nomolgica, mas no o
contrrio. Chalmers no diferencia a supervenincia metafsica da lgica, embora outros filsofos o faam,
com base na noo de necessidade a posteriori, tematizada por Kripke (Chalmers, ibid. p. 38).
6
serem, por sua vez, explicados.
13
Veremos que esta crtica pode tambm ser feita ao
dualismo que prope Chalmers.
II-2. O fisicalismo mnimo de J. Kim
Para Kim, o fisicalismo adota, no mnimo, as trs teses seguintes:
i) Superveniencia mente-corpo;
ii) Principio anticartesiano: no podem existir puros seres mentais (ou seja,
propriedades mentais sem contrapartida fsica);
14
iii) Depenaencia mente-corpo: propriedades mentais so determinadas por
propriedades fsicas (Kim, 1996, p. 11).
15
Qualquer doutrina mais fraca considerada, por Kim, no-fisicalista. O
reducionismo, por sua vez, corresponde a uma espcie mais forte de fisicalismo.
Kim no acredita que a relao de supervenincia configure uma soluo para o
problema mente-corpo: diferentes solues incompatveis para esse problema implicam a
supervenincia (Kim, 1998, p. 12). A supervenincia no pretende, portanto, oferecer uma
explicao para as correlaes entre estados mentais e estados fsicos; postular essa relao
simplesmente exclui formas extremas de dualismo, como o cartesiano (Ibid., p. 15).
16
Kim (1998, p. 101), de forma um tanto surpreendente, considera o funcionalismo
como uma concepo reducionista (embora, normalmente, se tenha considerado o
funcionalismo como uma alternativa teoria da identidade mente-corpo).
17
Ele critica a
anlise da reduo terica proposta por E. Nagel
18
e defende que a reduo de um estado ou
propriedade (e.g. mental) pressupe a 'funcionalizao' desse estado ou propriedade.
19
O
13
Para uma defesa da emergncia na explicao das relaes ontolgicas entre nveis, em lugar da relao de
supervenincia, que no proporcionaria essa explicao, ver Humphreys (1997a, 1997b).
14
Pode-se mostrar que este segundo princpio no implicado, estritamente, pela supervenincia.
15
O princpio da dependncia mente-corpo mais forte que o da supervenincia, que no pressupe
determinismo, mas s covarincia. A relao de determinao assimtrica, mas no a relao de
supervenincia.
16
Kim sentencia: "... A supervenincia no , portanto, uma relao metafsica 'profunda' sobre padres de
covarincia de propriedades, padres que possivelmente so manifestaes de relaes de dependncia mais
profundas. Se isso correto, a supervenincia mente-corpo [s] coloca o problema mente-corpo, no sendo
uma soluo para ele " (Kim, 1999, p. 14).
17
De modo a possibilitar a mltipla realizao de estados mentais - incompatvel com a teoria da identidade
mente-corpo, uma posio que, como vimos, reducionista - o funcionalismo caracteriza os estados mentais de
forma abstrata, em termos de sua funo na psicologia de um sistema cognitivo. Tal funo envolve as relaes
de um tipo de estado mental com outros estados mentais, com as entradas (estmulos) e sadas (respostas) do
sistema.
18
Sobre E. Nagel, ver nota 18.
19
Ao reduzir uma propriedade nas cincias fsicas, em primeiro lugar fazemos, segundo Kim, uma
reconstruo funcional dessa propriedade. Deixamos de ver essa propriedade como uma propriedade intrnseca
e passamos a v-la como uma propriedade extrnseca, por exemplo, caracterizada em termos de relaes
causais (Kim, 1999, p 24-5; 98 et seq.). Esse o procedimento-padro para se funcionalizar uma propriedade.
So exemplos de reconstrues desse tipo as definies de propriedades como 'temperatura', 'ser transparente' e
aquelas associadas ao 'gene'. A distino entre propriedades de primeira-ordem e de segunda-ordem tambm
relevante nesse contexto (Ver Abrantes&Amaral, 2002).
7
problema, contudo, que se fizermos esse tipo de reduo, os estados mentais perdem poder
causal autnomo: toda causalidade dar-se- no nvel dos realizadores fsicos dos estados
funcionalizados.
Chalmers concorda com Kim: a mltipla realizabilidade de um evento (e.g. mental)
no um empecilho para a sua explicao redutiva. Desde que a ocorrncia do evento possa
ser explicada em termos de uma ocorrncia (token) de nvel mais baixo, h reduo. Isso
quer dizer que o funcionalismo tout court em filosofia da mente , no final das contas,
reducionista (Chalmers, 1996, p. 43).
Num balano final das consequncias desse tipo de reduo via funcionalizao,
Kim enfatiza a (provvel) irredutibilidade da conscincia:
"... a notcia realmente ruim que algumas propriedades mentais, notadamente as
propriedades fenomenolgicas das experincias conscientes, parecem resistir
funcionalizao e isso significa que no existe maneira de responder por sua eficincia
causal dentro de um esquema fisicalista" (1998, p. 118-9).
E conclui com um tom pessimista:
"... todos os caminhos que se bifurcam a partir do fisicalismo parecem, ao final,
convergir possivelmente para o mesmo ponto, a irrealidade do mental " (Ibid. id.).
Apresentarei, numa prxima seo, o argumento em que Kim, partindo dos
pressupostos bsicos do fisicalismo, demonstra que estados mentais tm poder causal
somente na medida em que os indentifiquemos a estados fsicos. Esse argumento, se vlido,
compromete a esperana de se poder articular um fisicalismo de tipo no-redutivo, no qual
estados mentais possam ter um poder causal autnomo (condio sine qua non de um
realismo quanto ao mental).
II-3. O naturalismo no-materialista de Searle
Os "materialistas", como os caracteriza Searle, pretendem "naturalizar" a
intencionalidade e a conscincia, no sentido de reduzir os "fenmenos mentais" aos
"fenmenos fsicos (Searle, 1992, p. 2).
Searle tem o cuidado de distinguir, entretanto, vrios tipos de reduo:
a) reduo ontolgica: objetos/entidades de certos tipos no so considerados nada
mais que objetos de outros tipos;
b) reduo ontolgica de propriedades: um caso especial de (a), em que se reduz no
um objeto/entidade, mas sim propriedades;
c) reduo terica: este o tipo de reduo usualmente estudada pela filosofia da
cincia de cepa empirista-lgica;
20
d) reduo lgica ou definicional;
20
O modelo de reduo inter-terica mais conhecido foi proposto por E. Nagel. Mencionei, acima, este
influente filsofo da cincia quando estava apresentando as posies de Kim. No confundi-lo com o filsofo
da mente T. Nagel, mencionado em nota anterior.
8
e) reduo causal: os poderes causais da coisa reduzida so inteiramente
explicveis em termos dos poderes causais dos fenmenos redutores;
Searle partidrio de um naturalismo comprometido com uma reduo do ltimo
tipo (1992, p.115) . Passo a caracteriz-la.
Reaucionismo causal
Searle s usa duas vezes a expresso naturalismo biolgico em seu livro A
Reaescoberta aa Mente, e a faz corresponder tese que,
... eventos e processos mentais so causados por processos neurofisiolgicos no
crebro e so eles prprios caractersticas do crebro [...]. Eventos e processos mentais so
parte de nossa histria natural biolgica tanto quanto a digesto, a mitose, a meiose ou a
secreo de enzimas (Searle, 1992, p. 1, 106).
21
Em O Misterio aa Consciencia, a expresso naturalismo biolgico ocorre duas
vezes (Searle, 1997, p. xiv, 210), sempre no contexto de uma discusso sobre a conscincia.
Ele refere-se conscincia do seguinte modo:
A conscincia um fenmeno biolgico [...] Ela causada por microprocessos no
crebro, num nvel mais baixo [lower-level] e ela uma caracterstica do crebro nos nveis
de ordem mais alta [higher-oraer] (Searle, 1997, p. xiv).
Searle enfatiza que o seu naturalismo biolgico no uma forma de "materialismo",
j que ele vincula o materialismo ao reducionismo. Ao contrrio, para ele a conscincia
uma parte real do mundo real e no pode ser eliminada a favor de alguma outra coisa, ou
reduzida a ela (Searle, 1997, p. 210).
Segundo Searle, toda reduo, incluindo a causal, objetiva em princpio uma reduo
ontolgica. A conscincia, contudo, possuiria um carter especial, e sua reduo causal no
implicaria numa reduo ontolgica. Searle apresenta dois argumentos para sustentar essa
tese:
A) A conscincia uma propriedade causalmente emergente do crebro.
Uma propriedade de um sistema causalmente emergente quando ela no pode ser
deduzida, concebida [figurea out] ou calculada a partir simplesmente da composio e
arranjo dos elementos do sistema.
22
Uma propriedade emergente, para ser explicada, tem
que se levar em considerao tambm as interaes causais entre os elementos do sistema
(Searle, 1992, p. 112).
A conscincia, embora emergente, considerada por Searle uma propriedade fsica:
para ele no existiriam propriedades fenomnicas ao lado (ou alm) de propriedades fsicas.
Aquelas so causadas por estas ltimas.
23
21
Todas as tradues do livro de Searle de 1992 so minhas, feitas livremente a partir da edio original, em
ingls. O mesmo vale para os textos de Chalmers e de Dennett.
22
Searle distingue dois tipos de emergncia. Aqui trata-se da emergncia do primeiro tipo. Searle no acredita
que existam propriedades emergentes
de um segundo tipo. Para essa distino, ver
Searle (1992, p. 112).
23
Nesse sentido, Searle talvez pudesse ser considerado um fisicalista no-redutivo. Normalmente, fisicalismo e
materialismo so considerados termos sinnimos (ver nota 4) mas Searle, como vimos, no se considera
9
B) Mesmo no caso de propriedades fsicas (como calor, cor, etc.) a reduo
ontolgica s conseguida fazendo-se abstrao das caractersticas mentais (fenomnicas)
associadas a tais propriedades.
No caso da 'cor', do 'calor', etc. a reduo no constitui uma nova descoberta, mas
resulta de uma redefinio desses conceitos de modo a se excluir a "parte subjetiva" dessas
qualidades
24
. Os aspectos subjetivos ou "epistmicos" (sic.) que so deixados de lado para
se fazer a reduo no deixam, contudo, de existir, de ter "realidade"; esse o padro tanto
na reduo de qualidades primrias (e.g solidez, liquidez, etc.), quanto na de qualidades
secundrias (e.g. calor, cores, etc):
Em geral, o padro de nossas redues apia-se na rejeio da base epistmica
subjetiva para a presena de uma propriedade, como uma parte da constituio ltima
daquela propriedade. Ns descobrimos [fatos, coisas] a respeito do calor ou da luz por meio
da sensao/tato [feeling] e da viso, mas ns em seguida definimos o fenmeno de um
modo que independente da epistemologia (Searle, 1992, p. 122).
Tomemos como exemplo a reduo ontolgica da qualidade (ou propriedade)
vermelho. A partir do momento que se sabe que a experincia do vermelho causada pela
emisso de luz com uma certa frequncia SURSe-se a seguinte reduo ontolgica: o
vermelho a luz de frequncia 3DUD ID]HU-se essa reduo, para afirmar-se essa
identidade, deixa-se de lado os aspectos fenomnicos, subjetivos, ligados experincia do
vermelho (o quale do vermelho).
No caso da conscincia, Searle defende que ela no passvel desse tipo de reduo
(ou seja, atravs de uma redefinio) pois seus aspectos essenciais [meu termo] so
subjetivos (experienciais/aparenciais). No caso da conscincia, diz Searle, a aparncia a
realidade (Ibid. id.); o que nos interessa a prpria experincia subjetiva.
25
Na perspectiva defendida por Searle, eventos de alto-nvel (ou num macronvel) tm
poderes causais. Em particular, no caso de um evento mental como uma dor, ele causaria
outros eventos mentais e, eventualmente, de modo descendente, eventos no nvel fsico.
materialista pois associa essa posio ao reducionismo. Ver tambm, abaixo, a terceira tese defendida por
Chalmers.
24
As redues de entidades/propriedades fsicas envolvem, portanto, redefinies, nas quais uma parte do
(significado do) conceito inicial deixada de lado em funo de nossos interesses (dimenso pragmtica da
reduo ontolgica). Nas cincias fsicas, o interesse o de controle, da a importncia dada, nas redefinies,
aos nexos causais/funcionais, deixando-se de lado os aspectos subjetivos/experienciais (cf. Searle, 1992,
p.123).
25
Para Searle, isso no afetaria o nosso "quadro cientfico de mundo", pois no teria implicaes metafsicas
profundas. Seria unicamente uma decorrncia trivial de nossas prticas definicionais ou padres de
reduo: O constraste entre a redutibilidade do calor, da cor, da solidez, etc., de um lado, e a irredutibilidade
dos estados conscientes, de outro, no reflete nenhuma distino na estrutura da realidade, mas uma distino
nas nossas prticas definicionais. Ns podemos dizer o mesmo, adotando o ponto de vista do dualista de
propriedade: o contraste aparente entre a irredutibilidade da conscincia e a redutibilidade da cor, do calor, da
solidez, etc., na verdade s aparente. Ns realmente no eliminamos a subjetividade da cor, por exemplo,
quando ns reduzimos o vermelho a reflexos de luz; ns simplesmente paramos de chamar de vermelho a
essa parte subjetiva. Ns no eliminamos quaisquer fenmenos subjetivos com essas redues; ns
simplesmente paramos de cham-los pelos nomes antigos. Seja que tratemos a irredutibilidade de um ponto de
vista materialista, seja dualista, ns ainda ficamos com um universo que contm um componente fsico [sic!]
subjetivo irredutvel, enquanto um componente da realidade fsica (Searle, 1992, p. 123).
10
Searle rejeita, portanto, o epifenomenalismo e, como veremos, ao admitir a causao
descendente, compromete a tese, central para o fisicalismo, do fechamento causal do mundo
fsico.
26
Com respeito supervenincia, a posio de Searle bastante heterodoxa. Ele define
uma "supervenincia causal" do mental ao neurofisiolgico nos seguintes termos: "causas
neurofisiolgicas tipo-idnticas [type-iaentical] teriam efeitos mentais tipo-idnticos"
(Searle, 1992, p. 124). Essa supervenincia causal implica que estados neurofisiolgicos so
causalmente suficientes, embora no necessrios, para estados mentais.
27
Dennett (1993) interpreta o naturalismo biolgico de Searle como a negao da
existncia de um nvel intermedirio de processamento de informao, entre o nvel
neurofisiolgico e o nvel dos processos mentais. Searle , de fato, um crtico do
funcionalismo em filosofia da mente e do recente flerte desta ltima rea com as chamadas
cincias cognitivas, em especial a inteligncia artificial. Ele ficou famoso com a
controvertida experincia de pensamento (Geaankenexperiment) do "quarto chins", que
usou repetidas vezes na tentativa de refutar um dos elementos do credo cognitivista: o
modelo computacional de mente.
II-4. J. Kim e o problema da causao mental
O problema da causao mental representa, para Kim, um desafio para o fisicalismo,
constituindo, ironicamente, uma revanche do cartesianismo.
Para Kim, o desafio defender-se um fisicalismo robusto- que pressupe o
fechamento causal do domnio fsico- sem, no entanto, cair no reducionismo. H, porm,
vrios problemas com a causao mental, sendo que o da excluso causal tem implicaes
diretas para o fisicalismo (e, portanto, para o naturalismo).
Kim discute diversos modelos de causao mental, sendo um deles o de causao
superveniente. O modelo superveniente admite, por um lado, que haja causao num
macronvel, mas que essa causao seja superveniente causao no micronvel, isto , no
nvel fsico. Ou seja, eventos no macronvel mantm, nesse modelo, poder causal, no
desembocando no epifenomenalismo.
O modelo de causao superveniente mantm-se fisicalista em sua perspectiva por
fazer, assim mesmo, depender a causao no macronvel da causao no micronvel. Kim
faz-nos ver que esse um resultado que o emergentista, por exemplo, dificilmente aceitaria.
Para o emergentista, a partir do momento em que as propriedades no macronvel emergem,
os estados nesse nvel passam a ter um poder causal autnomo, no-derivado dos poderes
causais dos eventos no micronvel. No modelo de causao superveniente, o poder causal no
macronvel derivado do poder causal no micronvel.
Kim mostra, entretanto, que a causao superveniente ameaada por um dilema:
26
Trata-se da tese de que qualquer evento fsico s pode ter como causa um outro evento fsico.
27
Nos termos de Searle, identidade [sameness] neurofisiolgica garante a identidade na mentalidade, mas
identidade na mentalidade no garante a identidade neurofisiolgica" (Searle, ibid. p. 125).
11
a) se a supervenincia no vale, o mental torna-se um domnio ontologicamente
autnomo, no se ancorando no fsico, havendo a possibilidade do mental ter efeitos no
mundo fsico sem uma correspondente causa fsica. Perdemos, desse modo, o fechamento
causal do mundo fsico, e o fisicalismo no se sustenta.
b) se a supervenincia vale, ento temos sobredeterminao causal (um estado
mental sendo causado tanto por um outro estado mental quanto por um estado cerebral,
portanto, fsico). Para se evitar a sobredeterminao, o papel causal do estado mental torna-
se dispensvel e/ou temos novamente uma violao do fechamento causal do mundo fsico.
As relaes de estados mentais entre si, ou entre estados mentais e estados fsicos, no so
genuinamente causais (Kim, 1998, p. 45).
Concluso do dilema: se a supervenincia mente-corpo no vale, a causao mental
ininteligvel; se ela vale, a causao mental , de novo, ininteligvel. Logo, a causao
mental ininteligvel.
28
claro que esse dilema no se coloca para posies reducionistas, como a teoria da
identidade. Kim assinala que Searle, com a sua tese de que estados mentais so causados por
estados cerebrais, no escapa a esse dilema, tambm caindo numa sobredeterminao causal
(ver Kim, 1998, p. 48). A posio de Searle (de que no h sobredeterminao, mas
simplesmente descries feitas em diferentes nveis, que seriam compatveis) colapsaria
numa reduo (do mental ao cerebral), o que inconsistente com outras posies defendidas
por ele.
II-5. O monismo no-redutivo de Davidson
O "monismo anmalo" de Davidson pode ser considerado como um fisicalismo de
particulares (token physicalism). Davidson monista por defender que se considerarmos os
nexos causais e adotarmos a descrio adequada, isto , a fsica, todo evento mental torna-se
idntico a um evento fsico.
29
Ele rejeita, nesse sentido, qualquer tipo de dualismo.
30
Davidson nega, entretanto, que se possa estabelecer relaes nomolgicas entre tipos
mentais, ou ainda entre tipos mentais e tipos fsicos. Nesse sentido, o mental seria anmalo:
"O monismo anmalo assemelha-se ao materialismo ao afirmar que todos os eventos
so fsicos, mas rejeita a tese, usualmente considerada essencial ao materialismo, de que
podem ser dadas explicaes puramente fsicas dos fenmenos mentais" (Davidson, 1991, p.
250).
O "monismo nomolgico", ao contrrio do monismo anmalo, materialista por
supor a existncia de leis psicofsicas. Davidson nega essa possibilidade: "No h leis
psicofsicas estritas dado o carter dspar dos compromissos [commitments] dos esquemas
28
Kim apresenta esse impactante argumento no seu livro de 1998. Para uma discusso detalhada do mesmo, no
contexto do funcionalismo em filosofia da mente, ver Abrantes & Amaral (2002).
29
Davidson defende uma ontologia em que eventos so indivduos e, no, universais, como em Smart e outros.
30
Davidson rejeita tanto o dualismo de substncia cartesiano, que ele classifica como um dualismo anmalo,
quanto outras formas de "dualismo nomolgico", como paralelismos, o interacionismo, o epifenomenalismo
etc. Provavelmente Davidson tambm rejeitaria o dualismo nomolgico de Chalmers, que discutirei abaixo,
embora este filsofo se apresente como um naturalista.
12
mental e fsico" (Ibid. p. 253). As atribuies de atitudes proposicionais a agentes no
somente holista - pressupondo uma ampla teoria a respeito dos estados mentais do agente -
como os ajustes a serem feitos nessa teoria comprometem-se com um "ideal constitutivo de
racionalidade". Necessariamente, "concebemos o homem como um animal racional" (Ibid.
p. 254) ao fazer ajustes nessa teoria a respeito de indivduos, que tomamos como pessoas.
31
O monismo anmalo compatvel com a supervenincia do mental ao fsico. Para
Davidson, essa relao de supervenincia asseguraria o carter no reducionista da sua
posio.
32
A teoria fsica constitui um sistema fechado, no sentido de um fechamento causal. O
mental, ao contrrio, no constituiria um sistema fechado j que Davison admite o princpio
de que h dependncia causal de (pelo menos alguns) eventos mentais com respeito a
eventos fsicos. Portanto, h dependncia causal, mas independncia nomolgica, do mental
com respeito ao fsico:
"... eventos mentais como uma classe [tipo] no podem ser explicados pela cincia
fsica; eventos mentais particulares podem [ser explicados] quando conhecemos as
identidades particulares" (Ibid. p. 255).
Mas no esse o tipo de explicao que buscamos, por exemplo, para a ao de uma
pessoa, e sim uma que relacione eventos mentais com outros eventos mentais (e a ao
33
).
Adotando um explcito vis kantiano, Davidson admite que "o anomalismo do mental ,
portanto, uma condio necessria para que se veja a ao como [nomologicamente]
autnoma" (Ibid. id.).
No tenho a pretenso de avaliar em que medida a proposta de Davidson
consistente. O meu objetivo neste artigo mais modesto: mostrar que o fisicalismo no-
redutivo, alm de no se apresentar como uma posio unvoca, ainda enfrenta problemas
srios para afirmar-se como uma posio naturalista aceitvel e consistente em filosofia da
mente.
34
31
Poder-se-ia explorar as conexes entre essa noo davidsoniana de "anomalia" do mental e a "postura
intencional" de Dennett, que se recusa a adotar o realismo com respeito s nossas atribuies de estados
intencionais a outros agentes. A psicologia de senso comum (folk psychology) no teria, para Dennett, o status
de uma teoria qual se possa atribuir valores veritativos (ou seja, ela no seria verdadeira nem tampouco
falsa), mas estaria envolvida nas nossas prticas interpretativas cotidianas, visando a compreender e a prever o
comportamento dos nossos semelhantes. Como Dennett um naturalista, isso indica que o naturalismo no se
compromete, necessariamente, com um realismo a respeito do mental (pelo menos como ele entendido com
base nas categorias da psicologia de senso comum). Cf. o "materialismo eliminativo" de Churchland.
32
Vimos, na ltima seo, que o argumento de Kim contesta isso.
33
O termo 'ao' usualmente empregado, em lugar de 'comportamento', quando h causas mentais envolvidas,
como no caso aqui considerado.
34
Godfrey-Smith (comunicao pessoal) prope que se veja o trabalho filosfico-naturalista como o de
coordenar dois tipos de "fatos" (sic.) tomados, em princpio, como irredutveis: os relativos s nossas prticas
interpretativas, de um lado, e os relativos nossa constituio neurofisiolgica e seus vnculos com o mundo
fsico, de outro lado. O primeiro tipo de fato particularmente enfocado pela tradio davidsoniana,
sellarsiana e tambm, de certa forma, pela dennettiana. A proposta de Godfrey-Smith parte do reconhecimento
de que falharam, at agora, as ousadas tentativas de reduzir propriedades semnticas a propriedades fsicas,
como as de Millikan e de Dretske.
13
III. POSIES NATURALISTAS NO-FISICALISTAS
III-1. O dualismo naturalista de Chalmers
Existe uma variante extica de naturalismo que assumidamente no-fisicalista: o
"dualismo naturalista" de Chalmers. Esta variante do naturalismo, embora rejeite o dualismo
de substncia, compromete-se, no entanto, com um dualismo de propriedades juntamente
com a existncia de leis psicofsicas irredutveis (o que, como vimos, Davison rejeita).
Chalmers resume a sua posio em quatro teses:
Tese 1. A experincia consciente existe (Chalmers, 1996, p.161)
Tese 2. A experincia consciente no logicamente superveniente ao fsico (Ibid.
id.). Logo, como vimos acima, essa experincia no seria redutvel ao fsico.
35
Em princpio,
zumbis
36
so concebveis.
Tese 3. Se existem fenmenos que no so logicamente supervenientes aos fatos
fsicos, ento o materialismo falso (Ibid. id.)
O dualismo naturalista de Chalmers pode ser resumido ento nos seguintes termos:
a conscincia supervm naturalmente (ou seja, nomologicamente) ao fsico, mas no
supervm nem lgica nem metafsicamente ao fsico (Chalmers, ibid. p. 71) .
Um aspecto fundamental do naturalismo (no-materialista) de Chalmers o
pressuposto de que existem leis que vinculam propriedades fsicas a propriedades
fenomnicas: a experincia consciente surge do [arises from] fsico de acordo com
algumas leis da natureza, mas no , ela prpria, fsica (Chalmers, 1996, p.161).
Essas leis psicofsicas
37
assegurariam, para Chalmers, o carter naturalista da sua
posio, por faz-la compatvel, desse modo, com o quadro de mundo que nos traa a
cincia contempornea:
Na viso que eu advogo, a conscincia governada pela lei natural e,
eventualmente, pode haver uma teoria cientfica razovel dela. No h nenhum princpio a
priori que afirma que todas as leis naturais sero leis fsicas; negar o materialismo no
negar o naturalismo. Um dualismo naturalista expande a nossa viso de mundo, mas ele no
invoca as foras do obscurantismo (Ibid. p. 170; nfase minha)
importante notar como se amplia a concepo de natureza, com a distino entre
lei natural e lei fsica. Chalmers joga tambm com a ambiguidade do termo naturalismo:
dependendo da concepo de natureza que se tenha, teremos diferentes 'naturalismos'.
35
Sobre a relao de supervenincia lgica, ver notas 9 e 10.
36
'Zumbis' so personagens que povoam os mundos imaginrios dos filsofos da mente. Os zumbis tm, por
definio, comportamentos idnticos a pessoas como ns (ou seja, no podem ser distinguidos de ns com base
no seu comportamento unicamente, naquilo a que se pode ter acesso de um ponto de vista de terceira pessoa),
mas ao mesmo tempo admite-se que no tenham estados de conscincia, como ns. Em outras palavras, os
zumbis no tm experincia fenomnica, embora possam ter estados internos, 'mentais', de certo tipo (sem
qualia), controlando o seu comportamento.
37
Fao notar que a posio de Chalmers parece ser essencialista, no sentido definido por Popper (1972),
porque no admite que leis fundamentais (fsicas ou psicofsicas) possam vir a ser explicadas apelando-se para
mecanismos ou nveis ontolgicos 'inferiores'. Tais leis so, alm disso, atemporais para Chalmers (elas no
surgiram ou evoluram). Ver Chalmers, 1996, p. 170.
14
Chalmers, em seu debate com Searle, contesta o ponto de vista deste ltimo que,
como vimos, considera suficiente, para explicar o mental, oferecer uma descrio
neurofisiolgica completa:
Para explicar porque e como crebros do suporte [support] conscincia, no
seria suficiente contar uma estria sobre o crebro; para vencer o fosso, precisamos
adicionar leis-ponte independentes (Searle, 1997, p. 165).
Chalmers classifica a posio de Searle como a de um materialismo no-redutivo:
... embora no possa haver uma implicao [entailment] lgica dos fatos fsicos para os
fatos acerca da conscincia e, portanto, nenhuma explicao redutiva da conscincia, esta
ltima somente [fust] fsica... (1996, p.162; cf. p.164).
importante ressaltar que surge uma nova ambiguidade no contexto desse
confronto, agora no sentido do termo 'materialismo'. Searle, como vimos, no se considera
materialista porque associa o materialismo ao reducionismo. Mas Searle , para Chalmers,
um materialista por rejeitar tanto o dualismo de substncia quanto o dualismo de
propriedades. Vimos, de fato, que para Searle no existem propriedades fenomnicas ao
lado (ou alm) de propriedades fsicas.
A posio de Searle apresenta, para Chalmers, problemas internos e colapsa numa
das outras alternativas disponveis para o problema mente-corpo, provavelmente no
dualismo de propriedades. Vimos que Kim tambm aponta para outras inconsistncias no
naturalismo biolgico de Searle.
Tese 4. "O domnio fsico fechado causalmente" (Chalmers, 1996, p.161)
Chalmers v como um problema da sua posio que haja uma "irrelevncia das
propriedades fenomnicas para a explicao do comportamento", o que, nesse aspecto, o
conduziria a um certo tipo de epifenomenalismo (Ibid. p. 165). Apesar dessa consequncia,
sua posio teria a vantagem de ser naturalista em seu carter, retirando qualquer
"mistrio" da conscincia, enquanto fenmeno do mundo.
Searle certamente rejeitaria essa proposta de Chalmers, defendendo que propriedades
de alto nvel, como a conscincia, so eficazes causalmente (ver Searle, 1997, p. 161).
III-2. Sellars e as duas imagens de homem
A posio de Sellars , em vrios aspectos, anloga de Davidson. Contudo, embora
seja possvel ver em Sellars um compromisso com um naturalismo metodolgico (ver
Abrantes & Bensusan, 2003), ele certamente no um naturalista ontolgico. Sellars
ctico quanto possibilidade de se poder integrar as imagens "manifesta" e "cientfica" de
homem (como a proposta pela biologia, pela neurofisiologia, pela fsica, etc.):
"... para completar a imagem cientfica ns precisamos enriquec-la, no com mais
modalidades de se dizer o que o caso, mas com a linguagem da comunidade e das
intenes individuais..." (Sellars, 1963, p. 40).
Com essa proposta, Sellars pretende evitar, de um lado, o dualismo (de tipo
cartesiano), de outro uma postura no-realista com respeito s entidades postuladas pela
imagem cientfica de homem.
15
Nesse trecho, Sellars est se detendo, em particular, no tema do livre arbtrio, nas
dimenses tica, dos direitos e deveres etc. Ele, de fato, acredita que "... a irredutibilidade
do que pessoal a irredutibilidade do 'dever ser' ao 'ser' " (Ibid. p. 39). Essa objeo
famigerada falcia naturalista bastante comum, mas tem sido enfrentada pelos naturalistas.
Antes disso, Sellars tambm apresenta objees a tentativas de se identificar as sensaes a
processos neurofisiolgicos, antecipando a discusso atual em filosofia da mente em torno
da irredutibilidade das propriedades fenomnicas (qualia).
NATURALISMO CONCEITUAL-LINGUISTICO (NACON)
Essa modalidade de naturalismo no tem compromissos ontolgicos, como o
anterior (NATO), mas envolve teses a respeito dos nossos conceitos (morais, epistmicos,
mentais, etc.) e dos termos da linguagem que utilizamos nesses vrios domnios.
Especificamente com respeito filosofia da mente, NACON corresponde ao
tratamento que damos linguagem mentalista ou intencional, e aos conceitos do mental
referidos por essa linguagem.
Stich et al. (1994) propem uma categorizao de estratgias naturalistas em
filosofia da mente, especificamente com respeito ao problema da intencionalidade, que me
sugeriu algumas idias para desenvolver a modalidade NACON de naturalismo. Eles
distinguem duas estratgias de naturalizao de conceitos ou predicados intencionais:
A. Naturalizar predicados ou conceitos intencionais (como representa, cr, quer,
etc.) corresponde a fazer uma anlise conceitual (ou anlise de significado). Ou seja,
naturalizar mostrar que o predicado intencional coextensivo, em todos os mundos
possveis, a uma conjuno de predicados no-intencionais (ou seja, predicados usados em
teorias nas cincias fsicas).
38
Essa primeira estratgia de naturalizao - explicitada por Fodor, entre outros, nas
idas pocas em que grande parte do que se fazia em filosofia era anlise conceitual - no
atende, contudo, ao tipo de orientao metodolgica adotada pelos filsofos naturalistas,
como veremos na seo que dedico modalidade metodolgica de naturalismo. certo que
aqui no est em foco a metodologia, mas o naturalismo entendido como uma estratgia
para lidar com os conceitos e predicados intencionais, que permitiria, caso tenha sucesso,
substitu-los por conceitos e predicados fsicos de boa estirpe. Isso corresponde bastante
bem ao que Searle, ao elencar os vrios tipos de reduo, chama de "reduo lgica ou
definicional" (Searle, 1992, p. 115; ver seo II-3 acima).
39
Ele sugere que h uma
expectativa de que o sucesso de tais redues abriria caminho para redues propriamente
ontolgicas, mas grande parte dos filsofos ditos 'analticos' pretendiam, justamente, evitar
38
Se I um predicado intencional (e.g. uma relao como representa) ento naturalizar I propor uma
anlise do seguinte tipo: I(a,b) se e somente se N , onde a condio N est descrita num vocabulrio no-
intencional. Notar que o bicondicional de verdade necessria, j que verdadeiro em todos os mundos
possveis. Stich et al. (1994) apresentam a anlise conceitual (tambm conhecida como anlise de significado)
como sendo a priori. Trata-se, portanto, de um bicondicional necessrio a priori. Esse carter a priori da
anlise filosfica contradiz a tese (a), explicitada na p. 1 do presente artigo, onde tento caracterizar o
naturalismo em epistemologia, uma indicao de que essa estratgia no seria, a rigor, aceita pelos naturalistas.
39
Stich et al. (1994) tambm indicam, pertinentemente, que esse tipo de anlise pressupe uma teoria clssica
de conceitos. A respeito de teorias alternativas de conceitos, ver Oliveira (1993).
16
comprometimentos ontolgicos, restringindo com segurana o trabalho filosfico anlise
da linguagem, tendo como referencial as nossas intuies. De toda forma, indo de encontro
a Stich et al.(1994), duvidoso que tal estratgia possa ser considerada naturalista, em
sentido prprio.
B. Naturalizar um predicado ou conceito intencional descobrir as propriedades
essenciais a que ele se refere. O conceito intencional entendido, neste caso, como um
termo de espcie natural [natural kina term]. Do mesmo modo como descobrimos que gua
H
2
O, naturalizar um conceito intencional seria descobrir a sua essncia (ou as condies
de sua aplicao a algo no mundo).
40
Nessa segunda estratgia, a tarefa de naturalizar um predicado no pode ser realizada
a priori, como no caso anterior, apelando-se para nossas intuies de senso comum, mas
seria uma descoberta a posteriori, realizada propriamente no mbito da atividade cientfica.
Os autores levantam dvidas a respeito do sucesso de qualquer uma dessas estratgias de
naturalizao, mas no minha inteno neste artigo fazer uma avaliao das tentativas de
lev-las a cabo.
Stich et al. (1994) tambm mencionam, aps as duas estratgias acima apresentadas,
uma terceira na qual naturalizar mostrar que as propriedades intencionais so idnticas ou
supervm a propriedades no-intencionais. Essa estratgia naturalista enquadra-se,
perfeitamente, na modalidade de naturalismo ontolgico (NATO) que discuti na ltima
seo.
41
Portanto, o que me interessa para caracterizar modalidades de NACON so somente
as duas primeiras estratgias.
Materialismo eliminativo
Referi-me, anteriormente, ao materialismo eliminativo, uma posio em filosofia da
psicologia (e no propriamente em filosofia da mente) pelo fato de discutir o status da
psicologia intencional, da psicologia de senso comum (folk psychology). Churchland, o
principal articulador dessa posio, defende que essa psicologia uma teoria falsa e que,
portanto, no faria sentido tentar reduzi-la a uma teoria neurofisiolgica (uma reduo
terica). A situao seria anloga a de certas teorias da fsica - como a teoria do flogisto, a
teoria do calrico, as teorias do ter etc. - que so falsas e, por isso, seus termos tericos no
se referem a nada no mundo. No faria sentido, portanto, reduzir tais teorias, mas sim
elimin-las. Com respeito psicologia de senso comum, Churchland defende que devemos,
do mesmo modo, elimin-la e, claro, com ela todos os seus termos tericos, como os de
40
Isso corresponde a escrever o bicondicional I(a,b) se e somente se N , onde a condio N est, como no
caso anterior, escrita num vocabulrio no-intencional. Porm, este bicondicional possui agora um carter
distinto: afirma uma descoberta cientfica, a posteriori mas tambm necessria, se aceitamos os argumentos de
Kripke. Portanto, uma alternativa de naturalizao de conceitos (da epistemologia, da filosofia da mente, etc.)
seria v-los como termos de espcies naturais, referindo-se a propriedades essenciais, fsicas ou biolgicas.
Caberia s cincias descobrir a que propriedades tais termos se referem. Em outras palavras, a tarefa de chegar
a tais bicondicionais envolveria de forma crucial a pesquisa cientfica, no se limitando a um trabalho
filosfico-analtico, como na estratgia anterior.
41
Notar que as estratgias (A) e (B) tratam de predicados e conceitos, enquanto a terceira estratgia trata de
propriedades, configurando um claro comprometimento ontolgico.
17
atitudes proposicionais que, numa perspectiva realista, so equivocadamente associadas a
estados nas mentes (ou nos crebros) dos agentes aos quais as imputamos.
Podemos entender o materialismo eliminativo a partir das duas estratgias descritas
por Stich et al. (1994). O fracasso de ambas as estratgias, aplicadas ao caso da linguagem
intencional (a linguagem terica da psicologia de senso comum), levaria sua eliminao.
No caberia fazer uma anlise conceitual (estratgia A) de conceitos associados s atitudes
proposicionais, particularmente o de intencionalidade. Outra maneira de se entender o
materialismo eliminativo seria a de ver os termos e conceitos da psicologia de senso comum
como no se referindo a espcies naturais. Uma das implicaes disso a irrealidade do
mental. Churchland pressupe, claro, que os conceitos e predicados da neurofisiologia
referem-se a espcies naturais e, conseqentemente, podem figurar em leis, suas ocorrncias
tendo poder causal.
NATURALISMO METODOLGICO (NAME)
O naturalismo metodolgico afirma a continuidade entre a investigao filosfica e a
cientfica; em particular, defende que no h uma distino ntida entre os mtodos
empregados em cada um desses domnios de investigao.
Em epistemologia, NAME a verso quineana do naturalismo. Segundo essa
variante do naturalismo epistemolgico, a epistemologia deve ser uma cincia emprica ou
deve, pelo menos, ser informada e devedora [beholaen] dos resultados de disciplinas
cientficas (Goldman,1994,p.305). Para Quine (1987a, 1987b), essas disciplinas incluem,
pelo menos, a psicologia e a biologia evolutiva.
De modo anlogo, o naturalismo metodolgico em filosofia da mente consideraria
esta rea como situando-se propriamente no domnio das cincias (e.g. as cincias
cognitivas) adotando, como consequncia, os mtodos cientficos empregados nas mesmas,
e apoiando-se no conhecimento produzido por elas. Esta seria a maneira correta de enfrentar
problemas fundamentais como o problema mente-corpo, o problema de outras mentes etc.
Encontramos uma outra formulao do naturalismo em Guttenplan, que pode ser
traduzida em termos metodolgicos:
O naturalismo com respeito a algum domnio a viso de que tudo o que existe
naquele domnio, e todos aqueles eventos que ocorrem nele, so caractersticas
empiricamente acessveis do mundo (1995, p.449).
Se algo (uma entidade, um processo) empiricamente acessvel, ento pode ser
descrito de um ponto de vista de terceira-pessoa. Vimos que Searle, certamente, no
naturalista nesse sentido (1992, p. 71, 73), defendendo ao contrrio que, com respeito
conscincia, o nico ponto de vista admissvel o de primeira-pessoa - embora com respeito
ao comportamento, obviamente, possamos adotar um ponto de vista de terceira-pessoa. Tais
posies epistemolgicas tm diversas implicaes metodolgicas.
Um exemplo de naturalismo metodolgico com respeito ao mental o "mtodo
heterofenomenolgico" proposto por Dennett, que pressupe explicitamente o ponto de
vista de terceira-pessoa, em vez do ponto de vista de "primeira-pessoa plural", comumente
adotado nas discusses sobre a fenomenologia do mental (Dennett, 1991, p.70, 96).
18
No mtodo heterofenomenolgico, os relatos de vrios sujeitos so tomados como
fices, como descries de mundos heterofenomenolgicos (mundos povoados de 'objetos
intencionais'). Com base nessas fices, nesses fatos, que so categorizados pelo terico,
este se pergunta se os objetos intencionais mencionados nesses relatos correspondem a
objetos, eventos, processos etc. reais no crebro (ou na mente). Esta , para Dennett, uma
"investigao emprica"(1991, p. 98).
Ele descreve o mtodo heterofenomenolgico nos seguintes termos:
"... aqui temos um caminho neutro indo da cincia fsica objetiva, e de sua
insistncia no ponto de vista de terceira-pessoa, a um mtodo de descrio fenomenolgica
que pode (em princpio) fazer justia s experincias subjetivas mais privadas e inefveis,
ao mesmo tempo que nunca abandona os escrpulos metodolgicos da cincia" (Ibid., p.
72).
42
Mais recentemente, Dennett refora esse naturalismo que caracteriza a sua
investigao filosfica:
... desde o incio, eu trabalhei a partir do ponto de vista de terceira-pessoa adotado
pela cincia, e considerei minha tarefa a de construir uma estrutura fsica - ou melhor, a de
esboar as suas linhas gerais - que poderia ser vista como realizando o enigmtico
legeraemain da mente (Dennett, 1995, p. 236-7).
Dennett adota a postura de engenheiro, vendo a cincia cognitiva comprometida
com algo como a engenharia reversa (Ibid. p. 242; ver tambm Dennett, 1991). Como
Quine, Dennett defende um intercmbio entre a filosofia e as cincias:
Minha insistncia sobre a necessidade dos filsofos, antes de qualquer
desenvolvimento [holaing forth], abastecerem-se [to stoke up] na cincia relevante, e a
recusa de conduzir minhas investigaes pelo mtodo tradicional de definio e argumento
formal, tornou-me um filsofo da mente especialmente impuro (Ibid. p. 242).
Nessa passagem, Dennett explcito em recusar a anlise conceitual (que descrevi
na parte referente modalidade NACON de naturalismo) como sendo o mtodo
caracterstico da filosofia.
Posies contrarias ao naturalismo metoaologico
Em vrios momentos deste artigo indiquei que posies em ontologia, em
epistemologia e em metodologia restringem-se mutuamente. Pode-se esperar, por exemplo,
que os filsofos que adotam uma postura claramente contrria ao fisicalismo em filosofia da
mente tambm abracem posies metodolgicas antinaturalistas. Um exemplo disso o
modo como Searle e Dennett se confrontam no plano metodolgico.
42
Em What it is like to be a bat, ttulo do famoso artigo de T. Nagel (1991) que poderamos traduzir por
"Como ser um morcego", esse renomado filsofo da mente, embora radicalmente contrrio ao fisicalismo,
considera possvel avanarmos em direo a uma fenomenologia objetiva, com o desenvolvimento de novos
conceitos com essa finalidade, embora esse empreendimento no possa esgotar o que est envolvido na
experincia, que teria uma irredutvel componente subjetiva. Cf. Dennett (1991, p. 71).
19
Searle, como vimos, considera-se um 'naturalista biolgico', mas ele seguramente
no naturalista no plano metodolgico, apontando como uma das causas dos erros
filosficos a "aplicao dos mtodos da cincia em reas para as quais eles no so
apropriados" (Searle, 2000, p. 18). Uma dessas reas , justamente, a dos fenmenos
mentais.
Na sua crtica ao materialismo, Searle aponta as limitaes de uma metodologia que
adota um ponto de vista de terceira-pessoa quando aplicada ao domnio do mental. Um
exemplo disso seria a cincia cognitiva, que estaria segundo ele cometendo o mesmo erro do
behaviorismo, qual seja, o de estudar somente fenmenos objetivamente observveis
(Searle, 1992, p. xii; cf. Guttenplan, acima). Searle enfatiza, ao contrrio, a
interdependncia entre ontologia e metodologia:
J que um erro supor que a ontologia do mental objetiva, um erro supor que a
metodologia da cincia da mente deve preocupar-se somente com o comportamento
objetivamente observvel (Searle, 1992, p. 20).
Alm de afirmar a interdependncia entre a epistemologia, a metodologia e a
ontologia, Searle defende que esta ltima possui precedncia com respeito s demais
dimenses:
"A epistemologia para o estudo do mental no determina mais a sua ontologia do
que a epistemologia de qualquer outra disciplina determina a sua ontologia. Ao contrrio, no
estudo do mental, como em qualquer outro domnio, a questo central da epistemologia a
de capturar [to get at] a ontologia preexistente" (Searle, 1992, p. 23).
Percebe-se uma tenso entre esta postura e, ao mesmo tempo, a defesa de uma
interrelao estreita da filosofia com as cincias. Searle afirma, efetivamente, que os
objetivos da cincia e da filosofia so os mesmos: construir uma teoria "ao mesmo tempo
verdadeira, explicativa e geral" dos fenmenos do mundo. A nfase na generalidade no
gratuita, pois v nisso uma das caractersticas distintivas do trabalho filosfico. Essa teoria
deve ser, alm disso, adequada aos fatos. Os "fatos brutos" revelados pelos avanos no
conhecimento cientfico, como por exemplo pela neurofisiologia, podem exigir o abandono
de "compromissos filosficos", o que constituiu o ponto de partida do seu "naturalismo
biolgico".
Essa posio certamente no simptica para os que reivindicam uma total
autonomia, ou mesmo uma precedncia, da filosofia com respeito s cincias. Entretanto, os
naturalistas mais convictos tampouco ficam satisfeitos com a tentativa de Searle de
restringir a tarefa da filosofia, que seria a de mostrar, quando muito, como, por exemplo,
uma explicao neurofisiolgica da conscincia "possvel" (Searle, ibid. p. 55, 92),
aguardando que a cincia nos explique como estados neurofisiolgicos causam "realmente"
estados mentais conscientes. Embora Searle defenda uma mtua fertilizao da filosofia
pelas cincias, fica-se com a impresso de que ele simplesmente coloca os problemas, em
vez de fazer um esforo srio de solucion-los, deixando para os cientistas, digamos, o
trabalho pesado.
Para Searle, a investigao filosfica caracteriza-se, sobretudo, por fazer uma anlise
crtica dos pressupostos, do "pano de fundo" (backgrouna) composto por "posies-padro"
(aefault positions) que precedem a reflexo, distinguindo as falsas das verdadeiras e,
20
eventualmente, rejeitando as categorias mesmas nas quais esto formuladas. As solues
tradicionais para o problema mente-corpo, por exemplo, estariam marcadas por erros
conceituais to flagrantes que Searle surpreende-se que os seus pares, mesmo os mais
ilustres, no o percebam.
curioso, nesse sentido, o lugar que ocupa o senso comum nas estratgias
argumentativas searleanas. Apesar da nfase que d tarefa crtica da filosofia, Searle
defende, surpreendentemente, as "posies-padro" associadas ao senso comum (como a
posio realista, a que reconhece a existncia da conscincia, etc.) - que considera em sua
maioria verdadeiras - contra as posies defendidas por muitos filsofos, o que avalia como
"um fato triste" da sua "profisso".
McGinn ocupa, nesse registro antinaturalista, uma posio sui generis. Segundo ele,
tanto reducionistas e eliminativistas, como Churchland, quanto antireducionistas como
Searle, evidenciam a nossa incapacidade para lidar com o problema mente-corpo, para
oferecer uma viso unificadora do lugar que mentes ocupam no mundo fsico. H, para ele,
mistrios insondveis nesse campo. McGinn admite que essa viso unificadora possa existir
numa esfera platnica de idias, mas ela permanecer, contudo, inacessvel a seres com as
nossas limitaes cognitivas:
"... No deveria nos surpreender a descoberta de que nem todo aspecto do mundo
natural seja acessvel aos nossos poderes de compreenso. Ns no esperamos que outras
espcies, que resultaram da evoluo, sejam oniscientes; portanto, porque assumir que a
nossa inteligncia tenha evoludo com a capacidade de resolver qualquer problema que
possa ser colocado a respeito do universo, do qual somos uma parte to pequena e
contingente? [] Uma teoria do vnculo psicofsico pode existir em algum lugar no cu
Platnico; s ocorre que as nossas mentes esto a milhas de distncia de capturar em que
consiste essa teoria. Portanto, devemos estar preparados a nos mover erraticamente [to flail
arouna] na ignorncia, indo de um extremo implausvel a outro" (McGinn, 1999).
Esse pessimismo epistemolgico , sem dvida, contrrio ao otimismo que
usualmente caracteriza os naturalistas. O fato que nunca teremos certeza se a nossa
incompreenso do problema mente-corpo (ou de qualquer outro problema) revela uma
limitao cognitiva insupervel, ou se simplesmente as dificuldades esto a exigir mais
esforo, persistncia na investigao ou mesmo mudanas radicais em nossas concepes.
Posies 'misteristas' como a de McGinn parecem-me obscurantistas, por nos fazerem parar
prematuramente, se que algum pressuposto epistemolgico ou ontolgico deva nos fazer
parar...
OUTRAS MODALIDADES DE NATURALISMO
Goldman menciona uma outra modalidade de naturalismo em epistemologia, alm
das que tentei aqui adaptar para distinguir posies em filosofia da mente: o "naturalismo
substantivo" (Goldman, 1998, p. 113-117).
Ele inclui nessa modalidade de naturalismo, a busca de explicaes causais,
informacionais, contrafactuais ou confiabilistas (reliabilist) do conhecimento ou da
justificao. Por exemplo, seriam naturalistas aquelas epistemologias que vem o sujeito
epistmico em interao com o meio ambiente fsico, e o conhecimento como efeito dessa
21
interao.
43
Tais posies esto usualmente associadas ao externalismo em epistemologia, e
talvez possam ser aproximadas do externalismo em filosofia da mente. As epistemologias
evolutivas poderiam, tambm, enquadrar-se nessa variante de naturalismo substantivo, j
que propem explicaes do conhecimento com base no processo darwinista de seleo
natural (ver Abrantes, no prelo).
Acredito que possam ser incudas nessa modalidade de naturalismo substantivo
tentativas de aproximar a filosofia da mente das cincias cognitivas, em particular das
neurocincias, na busca de explicaes causais para estados e processos cognitivos.
Tambm poderiam ser enquadradas como 'naturalistas substantivas' as tentativas de se
adotar categorias emprestadas biologia para abordar problemas tradicionais em filosofia da
linguagem e filosofia da mente, relativos s noes de significado, referncia e
intencionalidade. Tenho em mente, aqui, o trabalho de Edelman, embora este autor no se
considere um filsofo, mas acredite que a biologia possa dar uma "nova direo" filosofia
(1992, p. 159). De toda forma, as fronteiras entre cincia e filosofia so, nesta modalidade
de naturalismo, ainda menos ntidas. O trabalho de Millikan (1995) situa-se,
indiscutivelmente, na confluncia de vrios programas em filosofia, e na apresentao ao
livro desta filsofa, Dennett particularmente enftico a respeito da sua orientao
naturalista:
... J que ns, seres humanos, somos somente uma parte da natureza -
supremamente complicados, mas pores no privilegiadas da biosfera - explicaes
filosficas de nossas mentes, conhecimento e linguagem devem, ao fim e ao cabo, estar em
continuidade com as cincias naturais e em harmonia com estas (apud Millikan, 1995, p.
ix).
Tambm poderiam ser considerados 'naturalistas substantivos' os programas que se
apiam na biologia evolutiva para reconstruir a filogenia de diferentes tipos de sistemas
cognitivos (ou de tipos de mentes).
44
Por razo de espao, e tambm porque essas
abordagens 'substantivas' distanciam-se do que usual se fazer em filosofia da mente,
limito-me, neste artigo, a essas poucas referncias a programas nessa modalidade de
naturalismo.
CONCLUSAO
Com base nas discusses anteriores proponho, ento, a seguinte classificao de
modalidades de naturalismo em filosofia da mente, acompanhados de alguns exemplos de
propostas que se enquadrariam em cada uma delas (embora em algumas modalidades no
tenha conseguido encontrar bons exemplos na literatura pertinente):
43
Exemplos incluem Paul Churchland e a sua tentativa de nos ver como "mquinas epistmicas" (1979, p.
125), bem como a teoria informacional do conhecimento de Dretske (1981). Traduzo aqui 'epistemic engine'
por 'mquina epistmica'.
44
Estou engajado, atualmente, num projeto de pesquisa voltado para o tema da evoluo de diferentes tipos de
sistemas cognitivos, incluindo sistemas intencionais como ns. Esse projeto pode ser visto como tendo uma
orientao 'naturalista substantiva', inspirada nos trabalhos de Godfrey-Smith (1998, 2002) e de Sterelny
(2002), entre outros. Eles classificam a sua orientao como um "naturalismo evolutivo".
22
Naturalismo ontolgico
Teoria da identidade
Eliminativismo
Fisicalismo mnimo
Naturalismo biolgico
45
Naturalismo evolutivo
46
Dualismo naturalista
Posies (ontolgicas) no-naturalistas incluiriam o dualismo de substncia de
Descartes e, talvez, o emergentismo
47
, entre outras.
Naturalismo conceitual-lingustico (NACON)
Naturalismo metodolgico (NAME)
O mtodo heterofenomenolgico
Em metodologia encontramos atitudes no-naturalistas em autores como Searle,
McGinn e, talvez, T. Nagel.
Naturalismo substantivo
Aplicaes das cincias cognitivas e da biologia ao problema do surgimento e da
insero de mentes no mundo fsico.
Algumas orientaes em filosofia da mente enquadram-se dificilmente nessas
modalidades, como o eliminativismo de Churchland, o monismo anmalo de Davidson e,
mesmo, o naturalismo biolgico de Searle, para dar alguns exemplos. Isso no deve
surpreender em qualquer tentativa de classificao, sobretudo de programas em filosofia.
A despeito da grande diversidade de tradies que poderiam ser classificadas de
naturalistas em filosofia da mente, acredito que essa classificao possa servir, nessa rea,
de um "guia", semelhana do que fez Goldman (1998) em epistemologia. Esse guia de
'naturalismos' em filosofia da mente pode tambm contribuir, por contraste, para uma
melhor delimitao de posturas antinaturalistas nessa rea.
48
Abril/05
45
Refiro-me ao uso que faz Searle desta expresso (ver seo II-3). Em que medida Searle , de fato, um
naturalista ontolgico consequente, algo passvel de discusso, como mostrei naquela seo. Ver nota 47.
46
Uso essa expresso no sentido em que a empregam Godfrey-Smith e Sterelny (ver nota 44).
47
Penso aqui na tese de Searle de que a conscincia um fenmeno emergente. Como esta tese est associada
possibilidade de uma causao descendente - o que entra em conflito com o fisicalismo - o naturalismo
biolgico de Searle tambm se enquadra mal na categoria de 'naturalismo ontolgico'. No excluo a
possibilidade, contudo, de se articular um emergentismo que possa ser, consistentemente, includo nessa
categoria de naturalismo.
48
Agradeo ao CNPq por uma bolsa que possibilitou o desenvolvimento desta pesquisa. Tambm sou grato a
um parecerista annimo pelos comentrios, que me permitiram identificar problemas numa verso anterior
deste texto.
23
BIBLIOGRAFIA
ABRANTES, P. Naturalizando a epistemologia. In: Abrantes, Paulo (org.) Epistemologia e
Cognio. Braslia: Editora da UnB, 1995, p. 171-218.
_________. Resenha de Philosophy of Mina, de J. Kim. Florianpolis: Principia, v.1, n.2,
1997, p. 312-25.
__________. Naturalismo epistemolgico: apresentao. In: vora, F.; Abrantes, P. (eds.)
Caaernos ae Historia e Filosofia aa Ciencia (CLE - UNICAMP), Srie 3, v. 8, n. 2, 1998,
p. 7-26.
__________. Resenha do livro de J. Searle, 'Mente, Linguagem e Sociedade: Filosofia no
mundo real'. Caaerno ae Resenhas aa Folha ae So Paulo, 13 de janeiro de 2001, p. 8.
__________. Resenha do livro de T. Nagel, 'A ltima palavra'. Caaerno ae Resenhas aa
Folha ae So Paulo, 10 de novembro de 2001.
__________. Metafsica e cincia: o caso da filosofia da mente. In: Chediak, Karla &
Videira, Antnio Augusto Passos (orgs.) Temas ae Filosofia aa Nature:a. Rio de Janeiro,
UERJ, 2004, pp. 210-239.
__________. O Programa de uma Epistemologia Evolutiva. Revista ae Filosofia da PUCPR
(Curitiba), no prelo.
ABRANTES, P.; AMARAL, F. Funcionalismo e Causao Mental. Manuscrito (Campinas),
v. XXV, p. 13- 45, 2002. Nmero especial: "Mental Causation".
ABRANTES, P.; BENSUSAN, H. Conhecimento, cincia e natureza: cartas sobre o
naturalismo. In: Simon-Rodrigues, S. (ed.) Filosofia e Conhecimento: aas formas platnicas
ao naturalismo. Braslia: Editora da UnB, 2003, p. 273-333.
CHALMERS, D. The conscious mina: in search of a funaamental theory. Oxford: Oxford
UP, 1996.
__________. Facing up to the problem of consciousness. In: Shear, J. (ed.) Explaining
Consciousness - the Hara Problem. Cambridge (MA): The MIT Press, 1997.
CHURCHLAND, Paul. Scientific realism ana the plasticity of mina. Cambridge: Cambridge
University Press, 1979.
__________. Matter ana consciousness. Cambridge (MA): MIT Press, 1990.
DAVIDSON, D. Mental events. In: Rosenthal D. (ed.) The nature of mina. NY: Oxford UP,
1991, p. 247-56.
DENNETT, D. Consciousness explainea. Boston: Little, Brown and Company, 1991.
__________. Review of Searle, The Rediscovery of the Mind. Journal of Philosophy, v. 60,
n. 4, p. 193-205, 1993.
__________. Kinas of mina. NY: Basic Books, 1996. Edio brasileira: Tipos ae Mente. RJ:
Rocco, 1997.
24
_______. Darwins aangerous iaea. Nova York: Simon & Schuster, 1995. Edio brasileira
publicada pela Rocco.
__________. Dennett, Daniel C. In: Guttenplan, S. (ed.) A Companion to the Philosophy of
Mina. Oxford: Blackwell, 1995, p. 236-244.
DRETSKE, F. Knowleage ana the flow of information. Cambridge (MA), 1981.
__________. Naturali:ing the Mina. Cambridge (MA): The MIT Press, 1997.
EDELMAN, G. Bright air, brilliant fire: on the matter of the mina. Londres: Penguin, 1992.
FRENCH, P. et al. Philosophical naturalism. Midwest Studies in Philosophy, vol. XIX.
Notre Dame (Indiana): University of Notre Dame Press, 1994.
GODFREY-SMITH, P. Complexity ana the function of mina in nature. Cambridge UP,
1998.
__________. On the Evolution of Representational and Interpretive Capacities. The Monist
85(1): 50-69, 2002.
__________. On Folk Psychology and Mental Representation (Comunicao pessoal).
GOLDMAN, A. Epistemologia naturalista e confiabilismo. In: vora, F.; Abrantes, P. (eds.)
Caaernos ae Historia e Filosofia aa Ciencia (CLE, Unicamp), srie 3, v. 8, n. 2, p. 109-45,
1998. Publicado originalmente em 1994 com o ttulo 'Naturalistic epistemology and
reliabilism'.
GUTTENPLAN, S. (ed.) A Companion to the Philosophy of Mina. Oxford: Blackwell,
1995.
HOOKER, C. Reason, regulation ana realism. Albany: SUNY University Press, 1995.
HUMPHREY, N. A History of the Mina. Londres: Harper Collins, 1993. Edio brasileira
publicada pela Campus.
HUMPHREYS, P. Emergence, not supervenience. Philosophy of Science, v. 64
(suplemento), n.4, 1997a. PSA96.
_________. How properties emerge. Philosophy of Science, v. 64, n.1, 1997b.
KIM, J. Philosophy of Mina. Colorado: Westview Press, 1996.
__________. Mina in a Physical horla. Cambridge (EUA): The MIT Press, 1998.
KIM, J.; SOSA, E. A Companion to Metaphysics. Oxford: Blackwell, 1995.
KITCHER, P. The Naturalists return. The Philosophical Review, v. 101, n.1, p. 53-114,
1992. Traduzido para o portugus In: vora, F.; Abrantes, P. (eds.) Caaernos ae Historia e
Filosofia aa Ciencia (CLE - Unicamp), srie 3, v. 8, n. 2, p. 27- 108, 1998.
KORNBLITH, H. (ed.) Naturali:ing Epistemology. Cambridge (EUA): The MIT Press,
1987.
__________. Naturalismo: Metafsico e Epistemolgico. In: vora, F.; Abrantes, P. (eds.)
Caaernos ae Historia e Filosofia aa Ciencia (CLE, Unicamp), srie 3, v. 8, n. 2, p. 147-169,
25
1998. Publicado originalmente em 1994 com o ttulo 'Naturalism: Metaphysical and
Epistemological'.
McGINN, C. The problem of consciousness. Oxford: Blackwell, 1993.
__________. Can we ever understand consciousness? New York Review of Books Archives,
10/06/1999.
MILLIKAN, R. Language, Thought ana other Biological Categories. Cambridge (MA):
The MIT Press, 1995.
NAGEL, T. What it is like to be a bat. In: Rosenthal D. (ed.) The nature of mina. NY:
Oxford UP, 1991, p. 422-8.
OLIVEIRA, M.B. Rumo a uma teoria dialtica de conceitos. In: Abrantes, Paulo (org.)
Epistemologia e Cognio. Braslia: Editora da UnB, 1995, p. 25-69.
PAPINEAU, D. Philosophical naturalism. Oxford: Blackwell, 1993.
PETTIT, P. Naturalism. In: Dancy, J.; Sosa, E. (eds.) A Companion to Epistemology.
Oxford: Blackwell, 1994, p. 296-7.
POPPER, K. Trs pontos de vista sobre o conhecimento humano. In: Popper,
K. Confecturas e Refutaes. Braslia: Editora da UnB, 1972, p. 125-146.
QUINE, W.V.O. Two dogmas of empiricism. In: Quine, W.V.O. From a logical point of
view. Nova York: Harper and Row,1963. A primeira edio de 1953, pela Harvard
University Press.
__________. Epistemology naturalized. In: Kornblith, H. Naturali:ing Epistemology.
Cambridge (EUA): The MIT Press, 1987a. Traduo em Portugus: Coleo Os
Pensadores.
__________. Natural Kinds. In: Kornblith, H. Naturali:ing Epistemology. Cambridge
(EUA): The MIT Press, 1987b. Traduo em Portugus na Coleo Os Pensadores.
__________. Two dogmas in retrospect. Canaaian Journal of Philosophy, v. 21, n.3, p.
265-274, 1991.
ROSENBERG, A. A field guide to recent species of naturalism. British Journal for the
Philosophy of Science, v. 47, p. 1-29, 1996.
ROSENTHAL, D. (ed.) The nature of mina. NY: Oxford UP, 1991.
SEARLE, J. Mente, cerebro e ciencia. Lisboa: Edies 70, 1984.
__________. The reaiscovery of the mina. Cambridge(MA): MIT Press, 1992. Traduo em
Portugus: A reaescoberta aa mente pela Martins Fontes.
_______. The mistery of consciousness. NY: The New York Review of Books, 1997.
Edio brasileira: O misterio aa consciencia. Paz e Terra.
_______. Mente, linguagem e socieaaae. RJ: Rocco, 2000.
SELLARS, W. Empiricism and the philosophy of mind. In: Sellars, W. Science, Perception
ana Reality. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1963, p. 127-96.
26
SOBER, E. Psychologism. J. Theory Soc. Behavior, v.8, n.2, p. 165-191, 1978.
STERELNY, K. Thought in a hostile worla. Malden (MA): Brackwell Publishing, 2003.
STICH, S. The fragmentation of reason. Cambridge (MA): The MIT Press, 1993.
STICH, S.; LAURENCE, S. Intentionality and Naturalism. Miawest Stuaies in Philosophy,
v. XIX (Philosophical Naturalism), p. 159-182, 1994.
STICH, S.; NISBETT, R.E. Justificattion and the psychology of human reasoning.
Philosophy of Science, v. 47, p. 188-202, 1980.
Você também pode gostar
- 1 Apostila de Tai Chi Chuan Estilo YangDocumento7 páginas1 Apostila de Tai Chi Chuan Estilo YangEduardo Silva Francisco67% (3)
- TCC - Eric Felipe Gomes RezendeDocumento75 páginasTCC - Eric Felipe Gomes RezendeEric Rezende100% (1)
- Three Lives Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossoms - Novel CompletaDocumento281 páginasThree Lives Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossoms - Novel CompletaVanessa MayresAinda não há avaliações
- Peeling Aula 2 (Continua Do Slide 35)Documento143 páginasPeeling Aula 2 (Continua Do Slide 35)Jackeline Alves100% (4)
- Fitoterapia NaturalDocumento41 páginasFitoterapia NaturalDirceuAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios - Matrizes e DeterminantesDocumento7 páginasLista de Exercícios - Matrizes e DeterminantesAlessandra Duarte PeixotoAinda não há avaliações
- A Estética RealistaDocumento13 páginasA Estética RealistajoaobenseAinda não há avaliações
- Aula 03 Variacao Linguistica Fundamentacao TeoricaDocumento21 páginasAula 03 Variacao Linguistica Fundamentacao Teoricaunceupon timeAinda não há avaliações
- 2 Fase Do Modernismo - PoesiaDocumento17 páginas2 Fase Do Modernismo - PoesiaRaquel MaschmannAinda não há avaliações
- Proposta de Redação 2ºano 4ºperDocumento2 páginasProposta de Redação 2ºano 4ºperCleidiane Gomes da Conceição GomesAinda não há avaliações
- A Estrutura Do Texto DissertativoDocumento4 páginasA Estrutura Do Texto DissertativoJANETE FEDERICOAinda não há avaliações
- Segunda Geração Modernista - PoesiaDocumento21 páginasSegunda Geração Modernista - PoesiaDeise VieiraAinda não há avaliações
- Reflexão Da Ufcd - Sociedade Tecnologia e CiênciaDocumento3 páginasReflexão Da Ufcd - Sociedade Tecnologia e CiênciaManuela Lancastre100% (1)
- Ditadura Militar BrasileiraDocumento16 páginasDitadura Militar BrasileiraMaria Eduarda Da Rosa HilarioAinda não há avaliações
- 3 Geração Do Modernismo Brasil PDFDocumento22 páginas3 Geração Do Modernismo Brasil PDFlina CardosoAinda não há avaliações
- A Coesão TextualDocumento2 páginasA Coesão TextualWeber do Carmo DomingosAinda não há avaliações
- Atividadesobreofilmelutero 161011231736Documento3 páginasAtividadesobreofilmelutero 161011231736litamoreiraAinda não há avaliações
- A Primeira Geração ModernistaDocumento21 páginasA Primeira Geração ModernistaElda OliveiraAinda não há avaliações
- Texto DissertativoDocumento2 páginasTexto DissertativoSimone CardozoAinda não há avaliações
- Analise de Antonio CandidoDocumento17 páginasAnalise de Antonio CandidoCarlos Alberto AfonsusAinda não há avaliações
- TropicalismoDocumento3 páginasTropicalismoTamires GonçalvesAinda não há avaliações
- 2 Fase Do Modernismo - Rachel de QueirozDocumento2 páginas2 Fase Do Modernismo - Rachel de QueirozAna Karina SilvaAinda não há avaliações
- CONTRATUALISMO - RoteiroDocumento11 páginasCONTRATUALISMO - RoteiroMarcos Roberto Rosa100% (1)
- AtividadeDocumento2 páginasAtividadeadelmaAinda não há avaliações
- Eu e Outras PoesiasDocumento77 páginasEu e Outras PoesiasDaniel LinoAinda não há avaliações
- Prova - 2 Série Lit ResDocumento13 páginasProva - 2 Série Lit ResBetina Baptista100% (1)
- O RealismoDocumento7 páginasO RealismoMarcelo SartelAinda não há avaliações
- Estilos Literários - ApostilaDocumento6 páginasEstilos Literários - ApostilaSamuel Di MacêdoAinda não há avaliações
- Segunda Fase Modernista - Prosa e PoesiaDocumento6 páginasSegunda Fase Modernista - Prosa e PoesiaAnaBea12Ainda não há avaliações
- Exercícios - PlatãoDocumento5 páginasExercícios - PlatãoEDUPAinda não há avaliações
- Avaliação RegenciaDocumento5 páginasAvaliação RegenciaMarcelle FerreiraAinda não há avaliações
- Capitaes AreiaDocumento3 páginasCapitaes AreiaJoao Pedro RabeloAinda não há avaliações
- O Realismo. Siqueira PDFDocumento23 páginasO Realismo. Siqueira PDFJesus RochaAinda não há avaliações
- Analise Do Poema VASO CHINÊSDocumento3 páginasAnalise Do Poema VASO CHINÊSPriscila Cruz100% (2)
- Literatura BrasileiraDocumento3 páginasLiteratura BrasileiraAnna Novaes100% (1)
- Estudo Dirigido Desenredo PCDocumento1 páginaEstudo Dirigido Desenredo PCgeisyydiasAinda não há avaliações
- JUSTINIANO TD ENEM Realismo em Machado de Assis FinalDocumento4 páginasJUSTINIANO TD ENEM Realismo em Machado de Assis FinalLD RodriguesAinda não há avaliações
- Concordância NominalDocumento28 páginasConcordância NominalBela CrisAinda não há avaliações
- TD - Exercício HumanismoDocumento3 páginasTD - Exercício HumanismoDaniele LíviaAinda não há avaliações
- Testes de Literatura Romantismo para EstudoDocumento5 páginasTestes de Literatura Romantismo para EstudoKaren EllenAinda não há avaliações
- Interpretação de Texto 13Documento5 páginasInterpretação de Texto 13Gabrielly Santos Magalhães100% (1)
- Romance Indianista Trabalho de PortuguesDocumento2 páginasRomance Indianista Trabalho de PortuguesAndrew ConradoAinda não há avaliações
- O Romantismo No BrasilDocumento9 páginasO Romantismo No BrasilMassachi JuniorAinda não há avaliações
- Concordância NominalDocumento13 páginasConcordância Nominaldiegolimarj2007Ainda não há avaliações
- Atividade de IntertextualidadeDocumento4 páginasAtividade de IntertextualidadeJonas CaiqueAinda não há avaliações
- 1º Ano Interpretação Nao Corra Atras Das Borboletas Do Ensino Medio WordDocumento3 páginas1º Ano Interpretação Nao Corra Atras Das Borboletas Do Ensino Medio WordIngrid Cordeiro0% (2)
- Questões de FilosofiaDocumento5 páginasQuestões de FilosofiageraldoAinda não há avaliações
- Vestibular-0227-Capitães Da Areia PDFDocumento61 páginasVestibular-0227-Capitães Da Areia PDFHeverton Eduardo PeresAinda não há avaliações
- Apostila Modernismo Português 1Documento35 páginasApostila Modernismo Português 1Iagonunes100% (1)
- Obra Unicamp Folheto o AteneuDocumento12 páginasObra Unicamp Folheto o AteneuProf BernardiAinda não há avaliações
- Termos Da OraçãoDocumento4 páginasTermos Da OraçãoMarluce BrumAinda não há avaliações
- Analfabeto PolíticoDocumento1 páginaAnalfabeto PolíticoAna Luiza MendesAinda não há avaliações
- Avaliação DiagnósticaDocumento2 páginasAvaliação DiagnósticaSâmella AlmeidaAinda não há avaliações
- Roteiro Vidas SecasDocumento1 páginaRoteiro Vidas Secasbodinho1Ainda não há avaliações
- Prova de Filosofia 3 AnoDocumento3 páginasProva de Filosofia 3 AnoRobiston Neves CasteloAinda não há avaliações
- Atividades de Predicação VerbalDocumento2 páginasAtividades de Predicação VerbalDanielle Morais100% (1)
- AdverbiaisDocumento3 páginasAdverbiaisJoelma LimaAinda não há avaliações
- Arcadismo Estudo DirigidoDocumento8 páginasArcadismo Estudo DirigidoKarina Bonisoni100% (1)
- O Sentido Profundo Da Obra de Machado de Assis, Gladstone Chaves de MeloDocumento13 páginasO Sentido Profundo Da Obra de Machado de Assis, Gladstone Chaves de MeloHugo BatistaAinda não há avaliações
- Conceitos Fundamentais Da Poética FichamentoDocumento8 páginasConceitos Fundamentais Da Poética FichamentoIngrid MartinsAinda não há avaliações
- Língua PortuguesaDocumento60 páginasLíngua PortuguesaCaroline BurityAinda não há avaliações
- Roteiro de Capitães Da AreiaDocumento1 páginaRoteiro de Capitães Da AreiaBrief Case SlideShare para mais resumos!Ainda não há avaliações
- ClassicismoDocumento8 páginasClassicismoCris KaraneAinda não há avaliações
- Modernismo 2 FaseDocumento11 páginasModernismo 2 FaseSônia VazAinda não há avaliações
- Correntes VegetativasDocumento15 páginasCorrentes VegetativasPSICOTERAPEUTA HELOISAAinda não há avaliações
- Asprem Taves Explicação Estudo Da Religião - RevDocumento23 páginasAsprem Taves Explicação Estudo Da Religião - ReverodcruzAinda não há avaliações
- Centro de Capacitação e Pesquisa Do Meio AmbienteDocumento8 páginasCentro de Capacitação e Pesquisa Do Meio AmbienteJefferson SouzaAinda não há avaliações
- Princípio Do Não Retrocesso Ambiental - Parque Estadual Da Serra Do Tabuleiro SCDocumento13 páginasPrincípio Do Não Retrocesso Ambiental - Parque Estadual Da Serra Do Tabuleiro SCbrunagavazzaAinda não há avaliações
- Homeopatia Agnus CastusDocumento2 páginasHomeopatia Agnus CastusFernanda FernandesAinda não há avaliações
- Retificadores Tri Ponto Medio TiristorDocumento19 páginasRetificadores Tri Ponto Medio TiristorAlexandreAinda não há avaliações
- Monografia Hércules SosresDocumento69 páginasMonografia Hércules Sosresd4ws5xbrhrAinda não há avaliações
- Aula 68 - Raciocinio L - Ógico - Aula 04 - Parte 04Documento68 páginasAula 68 - Raciocinio L - Ógico - Aula 04 - Parte 04marquinhocadAinda não há avaliações
- 12185-Texto Do Artigo-44360-1-10-20191014Documento5 páginas12185-Texto Do Artigo-44360-1-10-20191014Danilo GomesAinda não há avaliações
- Reflexão Sandra Correia 8909Documento4 páginasReflexão Sandra Correia 8909Cláudia SerraAinda não há avaliações
- Alimentos Livres de GlútenDocumento20 páginasAlimentos Livres de GlútenESTEPHÂNEA SIQUEIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- A Questão Social: O Anarquismo em Face Da CiênciaDocumento155 páginasA Questão Social: O Anarquismo em Face Da CiênciaRafael Morato ZanattoAinda não há avaliações
- Biologia Molecular Do Cancer PDFDocumento32 páginasBiologia Molecular Do Cancer PDFMardonny Chagas100% (1)
- Revista - Biotecnologia Ed 33Documento121 páginasRevista - Biotecnologia Ed 33Lucas Da Silva0% (1)
- Aula 1 - Processo de EnfermagemDocumento32 páginasAula 1 - Processo de EnfermagemCAILANE ARAUJO ALVESAinda não há avaliações
- Aula 2.2 - Esquema Geral para AnáliseDocumento25 páginasAula 2.2 - Esquema Geral para AnáliseDavid NicolasAinda não há avaliações
- JOMAR Catalogo - 2008 PDFDocumento29 páginasJOMAR Catalogo - 2008 PDFJoão SosaAinda não há avaliações
- Riscos No Ambiente de Trabalho No Setor de PanificaçãoDocumento25 páginasRiscos No Ambiente de Trabalho No Setor de PanificaçãoMarcus DragoAinda não há avaliações
- 2.1 - Unidade 02 - Dimensionamento À Compressão. Parte 01Documento30 páginas2.1 - Unidade 02 - Dimensionamento À Compressão. Parte 01Gustavo KozakAinda não há avaliações
- Lista 1Documento2 páginasLista 1Rebeca GarcesAinda não há avaliações
- Ficha 22 Capitulo2 - GranitoDoPortoDocumento3 páginasFicha 22 Capitulo2 - GranitoDoPortoLuís CorreiaAinda não há avaliações
- MapaastralDocumento9 páginasMapaastraljorge juniorAinda não há avaliações
- Apostila Tecnologia Do Álcool - 2014-1Documento124 páginasApostila Tecnologia Do Álcool - 2014-1TaliaAinda não há avaliações
- Granulometria Dos Solos (Conjunta) - NBR 7181Documento1 páginaGranulometria Dos Solos (Conjunta) - NBR 7181Israel OliveiraAinda não há avaliações
- 4.-Generalidades Sobre MiologiaDocumento55 páginas4.-Generalidades Sobre MiologiaLarisse SalvadorAinda não há avaliações