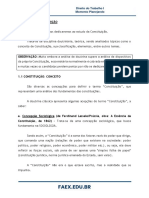Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila de Direito Constitucional
Apostila de Direito Constitucional
Enviado por
Flávio J. SouzaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila de Direito Constitucional
Apostila de Direito Constitucional
Enviado por
Flávio J. SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIDADE DIDTICA III DIREITO CONSTITUCIONAL (carga horria: 06 horas de aula). Assuntos e objetivos especficos: 1.
Princpios, direitos e deveres constitucionais (carga horria: 03 horas de aula). 1.1 - Interpretar os dispositivos constitucionais (carga horria: 01 hora de aula). Sugestes de objetivos intermedirios para o primeiro tempo de aula: Realizar a introduo da matria (apresentao da matria e do instrutor; discusso acerca da conduo das aulas e avaliaes); Apresentar noes doutrinrias gerais de Direito Constitucional; Identificar os principais dispositivos constitucionais a serem estudados no curso; Apresentar e analisar os princpios fundamentais da atual Constituio.
1. DO DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CONSTITUIO. 1.1. DO DIREITO CONSTITUCIONAL
1.1.1. Natureza e conceito O Direito fenmeno histrico - cultural, realidade ordenada, ou ordenao normativa da conduta segundo uma conexo de sentido. Consiste num sistema normativo. Como tal, pode ser estudado por unidades estruturais que o compem, sem perder de vista a totalidade de suas manifestaes. Essas unidades estruturais ou dogmticas do sistema jurdico constituem as divises do Direito, que a doutrina denomina ramos da cincia jurdica, comportando subdivises conforme mostra o esquema seguinte: (a) Constitucional (b) Administrativo (c) Urbanstica (d) Econmico (e) Financeiro (f) Tributrio (g) Processual (h) Penal (i) Internacional (pblico e privado) (a) do Trabalho (b) Previdencirio (a) Civil
(1) Pblico DIREITO (2) Social (3) Privado
(b) Comercial Podemos defini-lo como o ramo do Direito Pblico que expe, interpreta e sistematiza os princpios e normas fundamentais do Estado. Como esses princpios e normas fundamentais do Estado compem o contedo das constituies (Direito Constitucional Objetivo), pode-se afirmar, como o faz Pinto Ferreira, que o Direito Constitucional a cincia positiva das constituies. Sendo cincia, h de ser forosamente um conhecimento sistematizado sobre determinado objeto, e este constitudo pelas normas fundamentais da organizao do Estado, isto , pelas normas relativas estrutura do Estado, forma de governo, modo de aquisio e exerccio do poder, estabelecimento de seus rgos, limites de sua atuao, direitos fundamentais do homem e respectivas garantias e regras bsicas da ordem econmica e social. Assim sendo, podemos conceituar Constituio como sendo o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. 1.1.2. Classificao das Constituies Esttica ou dogmtica EUA e Brasil; No esttica ou histrica (consuetudinria) Inglaterra; Populares contam com a participao popular, por meio de constituintes eleitos; Outorgadas no contam com a participao popular; o governante as estabelece; Rgida alteraes realizadas mediante processo mais cuidadoso que o das leis ordinrias; Flexvel - alteraes realizadas mediante o mesmo processo das leis ordinrias.
A estabilidade das constituies no deve ser absoluta, no pode significar imutabilidade. No h constituio imutvel diante da realidade social cambiante, pois no ele apenas um instrumento de ordem, mas dever s-lo, tambm, de progresso social. Deve-se assegurar certa estabilidade constitucional, certa permanncia e durabilidade das instituies, mas sem prejuzo da constante, tanto quanto possvel, perfeita adaptao das constituies s exigncias do progresso, da evoluo e do bem-estar social. A rigidez relativa constitui tcnica capaz de atender a ambas as exigncias, permitindo emendas, reformas e revises, para adaptar as normas constitucionais s novas necessidades sociais, mas impondo processo especial e mais difcil para essas modificaes. 1.1.3. Objeto e contedo das constituies As constituies tm por objeto estabelecer a estrutura do Estado, a organizao de seus rgos, o modo de aquisio do poder e a forma de seu exerccio, limites de sua atuao, assegurar os direitos e garantias dos indivduos, fixar o regime poltico e disciplinar os fins scio-econmicos do Estado, bem como os fundamentos dos direitos econmicos, sociais e culturais. Nem sempre tiveram as constituies objeto to amplo. Este vem estendendo-se com o correr da histria. A cada etapa desta, algo de novo entra nos textos constitucionais, "cujo contedo histrico varivel no espao e no tempo, integrando,
na expresso lapidar de Bergson, a 'multiplicidade no uno' das instituies econmicas, jurdicas. A ampliao do contedo da constituio gerou a distino entre constituio em sentido material e constituio em sentido formal. Segundo a doutrina tradicional, as prescries das constituies, que no se referiam estrutura do Estado, organizao dos poderes, seu exerccio e aos direitos do homem e respectivas garantias, s so constitucionais em virtude da natureza do documento a que aderem; por isso, diz-se que so constitucionais apenas do ponto de vista formal. Quase a unanimidade dos autores acolhe essa doutrina. A despeito disso, permitimo-nos ponderar que esse apego ao tradicional revela incompreenso das dimenses do Direito Constitucional contemporneo. Tal fato se verifica, alm do mais, em conseqncia de no se arrolarem os fins e os objetivos do Estado entre os elementos essenciais que o constituem. Ora, concebido que a finalidade (fins e objetivos a realizar) se insere entre os elementos constitutivos do Estado e, considerando a ampliao das funes estatais atualmente, chegaremos concluso inelutvel de que o conceito de Direito Constitucional tambm se ampliou, para compreender as normas fundamentais da ordenao estatal, ou, mais especificamente, para regular os princpios bsicos relativos ao territrio, populao, ao governo e s finalidades do Estado e suas relaes recprocas. Diante disso, perde substncia a doutrina que pretende diferenciar constituio material e constituio formal e, pois, direito constitucional material e direito constitucional formal. 1.1.4. Elementos das constituies A doutrina diverge quanto ao nmero e caracterizao desses elementos. De nossa parte, entendemos que a generalidade das constituies revela, em sua estrutura normativa, cinco categorias de elementos, que assim se definem: (1) elementos orgnicos, que se contm nas normas que regulam a estrutura do Estado e do poder, e, na atual Constituio, concentram-se, predominantemente, nos Ttulos III (Da Organizao do Estado), IV (Da Organizao dos Poderes e do Sistema de Governo), Captulos I e II do Ttulo V (Das Foras Armadas e da Segurana Pblica) e VI (Da Tributao e do Oramento, que constituem aspectos da organizao e funcionamento do Estado); (2) elementos limitativos, que se manifestam nas normas que consubstanciam o elenco dos direitos e garantias fundamentais: direitos individuais e suas garantias, direitos de nacionalidade e direitos polticos e democrticos; so denominados limitativos porque limitam a ao dos poderes estatais e do a tnica do Estado de Direito; acham-se eles inscritos no Ttulo II de nossa Constituio, sob a rubrica Dos Direitos e Garantias Fundamentais, excetuando-se os Direitos Sociais (Captulo II), que entram na categoria seguinte; (3) elementos scio - ideolgicos, consubstanciados nas normas scio- ideolgicas, que revelam o carter de compromisso das constituies modernas entre o Estado individualista e o Estado Social, intervencionista, como as do Captulo II do Ttulo II, sobre os Direitos Sociais, e as dos Ttulos VII (Da Ordem Econmica e Financeira) e VIII (Da Ordem Social);
(4) elementos de estabilizao constitucional, consagrados nas normas destinadas a assegurar a soluo de conflitos constitucionais, a defesa da constituio, do Estado e das instituies democrticas, premunindo os meios e tcnicas contra sua alterao e infringncia, e so encontrados no art. 102, I, a (ao de inconstitucionalidade), nos arts. 34 a 36 (Da Interveno nos Estados e Municpios), 59, I, e 60 (Processo de emendas Constituio), 102 e 103 (Jurisdio constitucional) e Ttulo V (Da Defesa do Estado e das Instituies Democrticas, especialmente o Captulo I, porque os Captulos II e III, como vimos, integram os elementos orgnicos); (5) elementos formais de aplicabilidade, so os que se acham consubstanciados nas normas que estatuem regras de aplicao das constituies, assim, o prembulo, o dispositivo que contm as clusulas de promulgao e as disposies constitucionais transitrias, assim tambm a do 1 do art. 5, segundo o qual as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tm aplicao imediata.
2. PRINCPIOS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO BRASILEIRO
Para Comes Canotilho, constituem-se dos princpios definidores da forma de Estado, dos princpios definidores da estrutura do Estado, dos princpios estruturantes do regime poltico e dos princpios caracterizadores da forma de governo e da organizao poltica em geral. A anlise dos princpios fundamentais da Constituio de 1988 nos leva seguinte discriminao: (a) princpios relativos existncia, forma, estrutura e tipo de Estado: Repblica Federativa do Brasil, soberania, Estado Democrtico de Direito (art. 1); (b) princpios relativos forma de governo e organizao dos poderes: Repblica e separao dos poderes (arts. 1 e 2); (c) princpios relativos organizao da sociedade: princpio da livre organizao social, princpio de convivncia justa e princpio da solidariedade (art. 3,1); (d) princpios relativos ao regime poltico: princpio da cidadania, princpio da dignidade da pessoa, princpio do pluralismo, princpio da soberania popular, princpio da representao poltica e princpio da participao popular direta (art. 1, pargrafo nico); (e) princpios relativos prestao positiva do Estado: princpio da independncia e do desenvolvimento nacional (art. 3, II), princpio da justia social (art. 3, III) e princpio da no discriminao (art. 3, IV); (f) princpios relativos comunidade internacional: da independncia nacional, do respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, da autodeterminao dos povos, da no - interveno, da igualdade dos Estados, da soluo pacfica dos conflitos e da defesa da paz, do repdio ao terrorismo e ao racismo, da cooperao entre os povos e o da integrao da Amrica Latina (art. 4.).
UNIDADE DIDTICA III DIREITO CONSTITUCIONAL (carga horria: 06 horas de aula). Assuntos e objetivos especficos: 1. Princpios, direitos e deveres constitucionais (carga horria: 03 horas de aula). 1.2 - Aplicar os dispositivos constitucionais na soluo de situaes que enumeram direitos e deveres individuais, coletivos, sociais e polticos (carga horria: 02 horas de aula). Sugestes de objetivos intermedirios para o segundo tempo de aula: Apresentar os principais direitos e garantias individuais, analisando-os.
3. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS
3.1. ESTABILIDADE DOS DIREITOS SUBJETIVOS 3.1.1. Segurana das relaes jurdicas A temtica deste nmero liga-se sucesso de leis no tempo e necessidade de assegurar o valor da segurana jurdica, especialmente no que tange estabilidade dos direitos subjetivos. A segurana jurdica consiste no "conjunto de condies que tornam possvel s pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das conseqncias diretas de seus atos e de seus fatos luz da liberdade reconhecida". Uma importante condio da segurana jurdica est na relativa certeza que os indivduos tm de que as relaes realizadas sob o imprio de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituda. Realmente, uma lei feita para vigorar e produzir seus efeitos para o futuro. Seu limite temporal pode ser nela mesma demarcado ou no. Seu texto, s vezes, delimita o tempo durante o qual ela reger a situao ftica prevista. Outras vezes ela feita para regular situao transitria, decorrida a qual perde vigncia e, consequentemente, a eficcia. O mais comum, contudo, que uma lei, uma norma, s perca o vigor quando outra a revogue expressa ou tacitamente. Se a lei revogada produziu efeitos em favor de um sujeito, diz-se que ela criou situao jurdica subjetiva, que poder ser um simples interesse, um interesse legtimo, a expectativa de direito, um direito condicionado, um direito subjetivo. Este ltimo garantido jurisdicionalmente, ou seja, um direito exigvel na via jurisdicional. Recebe, assim, proteo direta, pelo que seu titular fica dotado do poder de exigir uma prestao positiva ou negativa. A realizao efetiva desse interesse juridicamente protegido, chamado direito subjetivo, no raro fica na dependncia da vontade do seu titular. Diz-se, ento, que o direito lhe pertence, j integra o seu patrimnio, mas ainda no fora exercido. Se vem lei nova, revogando aquela sob cujo imprio se formara o direito subjetivo, cogitar-se- de
5
saber que efeitos surtir sobre ele. Prevalece a situao subjetiva constituda sob o imprio da lei velha, ou, ao contrrio, fica ela subordinada aos difames da lei nova? nessa colidncia de normas no tempo que entra o tema da proteo dos direitos subjetivos que a Constituio consagra no art. 5, XXXVI, sob o enunciado de que a lei no prejudicar o direito adquirido, o ato jurdico perfeito e a coisa julgada. 3.1.2. Direito adquirido A doutrina ainda no fixou com preciso o conceito de direito adquirido. ainda a opinio de Gabba que orienta sua noo, destacando como seus elementos caracterizadores: (1) ter sido produzido por um fato idneo para a sua produo; (2) ter se incorporado definitivamente ao patrimnio do titular. A Lei de Introduo ao Cdigo Civil declara que se consideram adquiridos os direitos que o seu titular, ou algum por ele, possa exercer, como aqueles cujo comeo do exerccio tenha termo prefixo, ou condio preestabelecida inaltervel, a arbtrio de outrem (art. 6., 2. ). Para compreendermos um pouco melhor o que seja o direito adquirido, cumpre relembrar o que se disse acima sobre o direito subjetivo: um direito exercitvel segundo a vontade do titular e exigvel na via jurisdicional quando seu exerccio obstado pelo sujeito obrigado prestao correspondente. Se tal direito exercido, foi devidamente prestado, tornou-se situao jurdica consumada (direito consumado, direito satisfeito, extinguiu-se a relao jurdica que o fundamentava). Por exemplo, quem tinha o direito de casar de acordo com as regras de uma lei, e casou-se, seu direito foi exercido, consumou-se. A lei nova no tem o poder de desfazer a situao jurdica consumada. A lei nova no pode descasar o casado, porque estabeleceu regras diferentes para o casamento. Se o direito subjetivo no foi exercido, vindo a lei nova, transforma-se em direito adquirido, porque era direito exercitvel e exigvel vontade de seu titular. Incorporou-se no seu patrimnio, para ser exercido quando convier. A lei nova no pode prejudic-lo, s pelo fato de o titular no o ter exercido antes. Direito subjetivo " a possibilidade de ser exercido, de maneira garantida, aquilo que as normas de direito atribuem a algum como prprio". Ora, essa possibilidade de exerccio continua no domnio da vontade do titular em face da lei nova. Essa possibilidade de exerccio do direito subjetivo foi adquirida no regime da lei velha e persiste garantida em face da lei superveniente. Vale dizerrepetindo: o direito subjetivo vira direito adquirido quando lei nova vem alterar as bases normativas sob as quais foi constitudo. Se no era direito subjetivo antes da lei nova, mas interesse jurdico simples, mera expectativa de direito ou mesmo interesse legtimo, no se transforma em direito adquirido sob o regime da lei nova, que, por isso mesmo, corta tais situaes jurdicas subjetivas no seu iter, porque sobre elas a lei nova tem aplicabilidade imediata, incide. No se trata aqui da questo da retroatividade da lei, mas to-s de limite de sua aplicao. A lei nova no se aplica a situao subjetiva constituda sob o imprio da lei anterior. Vale dizer, portanto, que a Constituio no veda a retroatividade da lei, a no ser da lei penal que no beneficie o ru. Afora isto, o princpio da irretroatividade da lei no de Direito Constitucional, mas princpio geral de Direito. Decorre do princpio de que as leis so feitas para vigorar e incidir para o futuro. Isto : so feitas para reger
situaes que se apresentem a partir do momento em que entram em vigor. S podem surtir efeitos retroativos quando elas prpria o estabeleam (vedado em matria penal, salvo a retroatividade benfica ao ru), resguardados os direitos adquiridos e as situaes consumadas evidentemente. Direito adquirido e direito pblico. Cumpre fazer uma observao final a respeito da relao entre direito adquirido e direito pblico. No rara a afirmativa de que no h direito adquirido em face da lei de ordem pblica ou de direito pblico. A generalizao no correta nesses termos. O que se diz com boa razo que no corre direito adquirido contra o interesse coletivo, porque aquele manifestao de interesse particular que no pode prevalecer sobre o interesse geral. A Constituio no faz distino. 3.1.3. Ato jurdico perfeito A Lei de Introduo ao Cdigo Civil, art. 6, 1, reputa ato jurdico perfeito o j consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Essa definio d a idia de que ato jurdico perfeito aquela situao consumada ou direito consumado, referido acima, como direito definitivamente exercido. No disso, porm, que se trata. Esse direito consumado tambm inatingvel pela lei nova, no por ser ato perfeito, mas por ser direito mais do que adquirido, direito esgotado. Se o simples direito adquirido (isto , direito que j integrou o patrimnio, mas no foi ainda exercido) protegido contra interferncia da lei nova, mais ainda o o direito adquirido j consumado. A diferena entre direito adquirido e ato jurdico perfeito est em que aquele emana diretamente da lei em favor de um titular, enquanto o segundo negcio fundado na lei. "O ato jurdico perfeito, a que se refere o art. 153, 3 [agora, art. 5, XXXVI], o negcio jurdico, ou o ato jurdico stricto sensu; portanto, assim as declaraes unilaterais de vontade como os negcios jurdicos bilaterais, assim os negcios jurdicos, como as reclamaes, interpretaes, a fixao de prazo para a aceitao de doao, as comunicaes, a constituio de domiclio, as notificaes, o reconhecimento para interromper a prescrio ou com sua eficcia (ato jurdico stricto sensu)". Ato jurdico perfeito, nos termos do art. 153, 3 [art. 5, XXXVI], aquele que sob o regime da lei antiga se tornou apto para produzir os seus efeitos pela verificao de todos os requisitos a isso indispensvel. perfeito ainda que possa estar sujeito a termo ou condio. 3.1.4. Coisa julgada A garantia, aqui, refere-se coisa julgada material, no coisa julgada formal. Ficou, pois, superada a definio do art. 6, 3, da Lei de Introduo ao Cdigo Civil. Prevalece, hoje, o conceito do Cdigo de Processo Civil: Denomina-se coisa julgada material a eficcia, que torna imutvel e indiscutvel a sentena, no mais sujeita a recurso ordinrio ou extraordinrio (art. 467). Dizemos que o texto constitucional s se refere coisa julgada material, em oposio opinio de Pontes de Miranda, porque o que se protege a prestao jurisdicional definitivamente outorgada. A coisa julgada formal s se beneficia da proteo indiretamente na medida em que se contm na coisa julgada material, visto que pressuposto desta, mas no assim a simples coisa julgada formal. Tutela-se a
estabilidade dos casos julgados, para o que o titular do direito a reconhecido tenha a certeza jurdica de que ele ingressou definitivamente no seu patrimnio. A coisa julgada , em certo sentido, um ato jurdico perfeito; assim j estaria contemplada na proteo deste, mas o constituinte a destacou como um instituto de enorme relevncia na teoria da segurana jurdica. A proteo constitucional da coisa julgada no impede, contudo, que a lei preordene regras para a sua resciso mediante atividade jurisdicional. Dizendo que a lei no prejudicar a coisa julgada, quer-se tutelar esta contra atuao direta do legislador contra ataque direto da lei. A lei no pode desfazer (rescindir ou anular ou tornar ineficaz) a coisa julgada. Mas pode prever licitamente, como o fez o art. 485 do Cdigo de Processo Civil, sua rescindibilidade por meio de ao rescisria. 3.2. DIREITO SEGURANA 3.2.1. Consideraes gerais O Prof. Manoel Gonalves Ferreira Filho arrola os direitos segurana (direitos cujo objeto imediato a segurana) como categoria de direitos individuais, no propriamente como garantias individuais. E o caput do art. 5 fala em inviolabilidade do direito [...] segurana, o que, no entanto, no impede seja ele considerado um conjunto de garantias, natureza que, alis, se acha nsita no termo segurana. Efetivamente esse conjunto de direitos aparelha situaes, proibies, limitaes e procedimentos destinados a assegurar o exerccio e o gozo de algum direito individual fundamental (intimidade, liberdade pessoal ou a incolumidade fsica ou moral). 3.2.2. Segurana do domiclio O art. 5., XI, da Constituio consagra o direito do indivduo ao aconchego do lar com sua famlia ou s, quando define a casa como o asilo inviolvel do indivduo. A o domiclio, com sua carga de valores sagrados que lhe dava a religiosidade romana. A tambm o direito fundamental da privacidade, da intimidade, que esse asilo inviolvel protege. O recesso do lar , assim, o ambiente que resguarda a privacidade, a intimidade, a vida privada. A segurana aparelhada no dispositivo consiste na proibio de na casa penetrar sem consentimento do morador, a no ser em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinao judicial. Essas excees proteo do domiclio ligam-se ao interesse da prpria segurana individual (caso de delito) ou do socorro (desastre ou socorro) ou da Justia, apenas durante o dia (determinao judicial), para busca e apreenso de criminosos ou de objeto de crime. Importa o conceito de dia. O princpio que, para fins judiciais, o dia se estende de 6 s 18 horas. O objeto de tutela no a propriedade, mas o respeito personalidade, de que a esfera privativa e ntima aspecto saliente. A proteo dirige-se basicamente contra as autoridades. Visa impedir que estas invadam o lar. Mas tambm se dirige aos particulares. O crime de violao de domiclio tem por objeto tornar eficaz a regra da inviolabilidade do domiclio.
3.2.3. Segurana das comunicaes pessoais Trata-se de garantia constitucional que visa assegurar o sigilo da correspondncia e das comunicaes telegrficas e telefnicas (art. 5, XII), que so meios de comunicao interindividual, formas de manifestao do pensamento de pessoa a pessoa, que entram no conceito mais amplo de liberdade de pensamento em geral (art. 5, IV). Garantia tambm do sigilo das comunicaes de dados pessoais, a fim de proteger a esfera ntima do indivduo. Ao declarar que inviolvel o sigilo da correspondncia e das comunicaes telegrficas, de dados e telefnicas, a Constituio est proibindo que se abram cartas e outras formas de correspondncia escrita, se interrompa o seu curso e se escutem e interceptem telefonemas. Abriu-se excepcional possibilidade de interceptar comunicaes telefnicas, por ordem judicial, nas hipteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigao criminal ou instruo processual. V-se que, mesmo na exceo, a Constituio preordenou regras estritas de garantias, para que no se a use para abusos. O "objeto de tutela dplice: de um lado, a liberdade de manifestao de pensamento; de outro lado, o segredo, como expresso do direito intimidade''. A suspenso, sustao ou interferncia no curso da correspondncia, sua leitura e difuso sem autorizaro do transmitente ou do destinatrio, assim como as interceptaes telefnicas, fora das hipteses excepcionais autorizadas no dispositivo constitucional, constituem as formas principais de violao do direito protegido. A legislao penal (Cdigo Penal) e a especial (Cdigo das Comunicaes) prevem sanes aplicveis a esses crimes. 3.2.4. Segurana em matria penal. Constitui-se de garantias que visam tutelar a liberdade pessoal. Figura ela no art. 5, XXXVII a XLVII, mais a hiptese do inc. LXXV, sem falar no habeas corpus, includo entre os remdios constitucionais (infra). Essas garantias penais ou criminais protegem o indivduo contra atuaes arbitrrias, e podem ser consideradas nos grupos seguintes: (1) garantias jurisdicionais penais: (a) garantia da inexistncia de juzo ou tribunal de exceo (inc. XXXVII), acolhendo-se a o princpio do juiz natural, pr - constitudo, pelo qual vedada a constituio de juiz ad hoc para o julgamento de determinada causa; admite-se, contudo, o foro privilegiado, mas apenas os indicados na prpria Constituio, como o privilgio de Prefeito de ser julgado perante o Tribunal de Justia (art. 29, VIII), o de Deputados Federais, de Senadores e Presidente da Repblica de serem processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal; (b) garantia de julgamento pelo tribunal do jri nos crimes dolosos contra a vida e ainda assim com as garantias subsidirias da plenitude de defesa, do sigilo das votaes dos jurados e da soberania dos veredictos (inc. XXXVIII), valendo dizer: outro tribunal
no pode reformar o mrito da deciso do jri; pode anular o processo por vcio de forma, no mudar o mrito do julgamento; (c) garantia do juiz competente (incs. LIII e LXI), segundo a qual ningum ser processado nem sentenciado seno pela autoridade competente e nem preso seno por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciria competente, salvo flagrante delito e nos casos de transgresso militar ou crime propriamente militar definidos em lei; (2) garantias criminais preventivas: (a) anterioridade da lei penal (inc. XXXIX), de acordo com a qual no h crime sem lei anterior que o defina (regra do nullum crimen sine lege), nem pena sem prvia cominao legal (regra da nula poena sine lege), proscrevendo assim ordenamentos ex post pacto; (b) garantia da irretroatividade da lei penal, salvo quando beneficiar o ru (inc. XL); (c) garantia de legalidade e da comunicabilidade da priso, por isso que "a priso ilegal ser imediatamente relaxada pela autoridade competente" (inc. LXIII), e para maior eficcia desta garantia confere-se ao "preso o direito identificao dos responsveis por sua priso ou por seu interrogatrio" (inc. LXIV); (3) garantias relativas aplicao da pena: (a) individualizao da pena (inc. XLVI), ou seja, a aplicao da pena deve ajustar-se situao de cada imputado; (b) personalizao da pena (inc. XLV), vale dizer: a pena no passar da pessoa do delinqente, no sentido de que no atingir a ningum de sua famlia nem a terceiro, garantia, pois, de que ningum pode sofrer sano por fato alheio, salvo a possibilidade de extenso aos sucessores e contra eles executadas, nos termos da lei, da obrigao de reparar o dano e da decretao de perdimento de bens, at o limite do valor do patrimnio transferido; (c) proibio de priso civil por dvida, salvo a do responsvel pelo inadimplemento voluntrio e inescusvel de obrigao alimentcia e a do depositrio infiel (inc. LXV1I); (d) proibio de extradio de brasileiro, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalizao, ou de comprovado envolvimento em trfico ilcito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei (inc. LI); (e) proibio de extradio de estrangeiro por crime poltico ou de opinio (inc. VI), que j discutimos nas condies jurdicas dos estrangeiros; (f) proibio de determinadas penas (inc. XLVI): de morte (salvo em caso de guerra declarada), de carter perptuo, de trabalhos forados, de banimento e cruis;
10
(4) garantias processuais penais: de certo modo as anteriores tambm o so; mais especificamente, porm, podem ser citadas as seguintes: (a) instruo penal contraditria (inc. LV), que tem como contedo essencial a garantia da plenitude ou ampla defesa, com os meios e recurso a ela inerentes (incs. XXXV, a, e LV); (b) garantia do devido processo legal (inc. LIV), segundo a qual ningum ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, mas que, em verdade, tem sentido muito mais abrangente, pois significa tambm que algum s pode ser julgado e condenado por juiz competente previamente estabelecido na ordem judiciria e por crime que previamente tambm seja definido como tal em lei, sendo assim garantia conexa com a do juiz competente e da anterioridade da lei penal; (c) garantia da ao privada (inc. LIX), que garante ao interessado promover a ao privada nos crimes de ao pblica, se esta no for intentada no prazo legal; aqui, em certo sentido, tem-se uma forma de controle do Ministrio Pblico, que, em deixando de cumprir sua atribuio, fica sujeito substituio pelo interessado (vtima ou seu representante); (5) garantias da presuno de inocncia, segundo as quais ningum ser considerado culpado at o trnsito em julgado da sentena penal condenatrio (inc. XVII) e o civilmente identificado no ser submetido a identificao criminal, salvo nas hipteses previstas em lei (inc. LVIII); na verdade o texto inicial dizia "salvo nas hipteses excepcionais previstas em lei", mas uma proposta de redao do primeiro para o segundo turno eliminou o vocbulo, importante, "excepcionais"; a garantia de inocncia e de que ningum deve sofrer sano sem culpa que fundamenta a prescrio do inc. LXXV, segundo o qual "o Estado indenizar o condenado por erro judicirio, assim como o que ficar preso alm do tempo fixado na sentena"; (6) garantias da incolumidade fsica e moral: (a) vedao de tratamento desumano e degradante (inc. III); (b) vedao e punio da tortura: ningum ser submetido tortura (inc. III) e a prtica desta ser considerada, pela lei, crime inafianvel e insuscetvel de graa ou anistia (inc. XLIII); (7) garantias penais da no discriminao (incs. XLI e XLII), valendo dizer: "a lei punir qualquer discriminao atentatria dos direitos e liberdades fundamentais" e "a prtica do racismo constitui crime inafianvel e imprescritvel, sujeito pena de recluso, nos termos da lei"; deve-se observar, no obstante, que a inafianabilidade e especialmente a imprescritibilidade revelam um retrocesso na cincia penal; (8) garantia penal da ordem constitucional democrtica: o que consta do inc. XLIV do art. 5: "constitui crime inafianvel e imprescritvel a ao de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrtico".
11
Quadro Comparativo de Direitos e Garantias correlatas, segundo o Art. 5 da CF/88:
DIREITOS Art. 5. Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza GARANTIAS XLIa lei punir qualquer discriminao atentatria dos direitos e liberdades fundamentais. XLIIa prtica do racismo constitui crime inafianvel e imprescritvel, sujeito pena de recluso, nos termos da lei. (Liberdade de ao geral) II - ningum ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa seno em virtude de lei. (Direito vida e integridade fsica e moral) IIIningum ser submetido a tratamento desumano ou degradante. IV livre a manifestao do pensamento, sendo V assegurado o direito de resposta, proporcional ao vedado o anonimato agravo, alm da indenizao por dano material, moral ou imagem. VI inviolvel a liberdade de crena, sendo Garantida, na forma da lei, a proteo aos locais de culto e a assegurado o livre exerccio dos cultos religiosos suas liturgias. (liberdade de religio) VIIIpor motivo de crena religiosa ou de ...ningum ser privado de direitos, salvo se as invocar convices filosficas ou polticas, para eximir-se de obrigao legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestao alternativa, fixada em lei. IX livre a expresso da atividade intelectual, independentemente de censura ou licena. artstica, cientfica e de comunicao, Xso inviolveis a intimidade, a vida privada, a assegurado o direito a indenizao pelo dano material ou honra e a imagem (direito privacidade) moral decorrente de sua violao. (direito intimidade) XIa casa o asilo inviolvel do indivduo, ningum nela XIa casa o asilo inviolvel do indivduo, podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em (direito intimidade, ao recesso do lar) caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinao judicial. (direito intimidade das comunicaes pessoais) XII inviolvel o sigilo da correspondncia e das comunicaes telegrficas e telefnicas, salvo, neste ltimo caso, por ordem judicial nas hipteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigao criminal ou instruo processual penal. XV livre a locomoo no Territrio nacional em LXVIII conceder-se- habeas corpus sempre que tempo de paz algum sofrer ou se achar ameaado de sofrer violncia ou coao em sua liberdade de locomoo, por ilegalidade ou abuso de poder. XVItodos podem reunir-se pacificamente, sem independente de autorizao, desde que no frustrem outra armas, em locais abertos, reunio anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prvio aviso autoridade competente. XVII plena a liberdade de associao XVIIIa criao de associaes independe de autorizao, sendo vedada a interferncia estatal XIXas associaes s podero ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por deciso judicial. XXningum poder ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. XXII garantido o direito de propriedade XXIV a lei estabelecer o procedimento de XXIIIa propriedade atender a sua funo social desapropriao por necessidade ou utilidade pblica, ou por interesse social, mediante justa e prvia indenizao em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituio. IX livre a expresso da atividade intelectual, independentemente de censura ou licena. artstica, cientfica e de comunicao, Xso inviolveis a intimidade, a vida privada, a assegurado o direito a indenizao pelo dano material ou honra e a imagem (direito privacidade) moral decorrente de sua violao.
12
Quadro Comparativo de Direitos e Garantias correlatas, segundo o Art. 5 da CF/88:
(continuao) DIREITOS XXXIIItodos tm direito a receber dos rgos pblicos informaes de interesse coletivo ou geral (direito coletivo a informao) GARANTIAS LXXo mandado de segurana coletivo pode ser impetrado por: a) partidos polticos; b) organizao sindical, entidade de classe ou associao legalmente constituda e em funcionamento h pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. (direito geral legalidade da Administraodireito XXXIVso a todos assegurados, independentemente de a uma atuao democrtica dos Poderes Pblicos) pagamento de taxas: a) o direito de petio aos Poderes Pblicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obteno de certides em reparties pblicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situaes de interesse pessoal. (direito subjetivo jurisdio) XXXVa lei no excluir da apreciao do Poder Judicirio leso ou ameaa a direito. (direito subjetivo estabilidade dos negcios XXXVIa lei no prejudicar o direito adquirido, o ato jurdicos) jurdico perfeito e a coisa julgada. (direito ao juzo natural) XXXVIIno haver juzo ou tribunal de exceo. (direito de liberdade direito de no sofrer sano so protegidos pelas garantias penais que se acham por fato alheio direito incolumidade fsica e inscritas, em geral, nos incs. XXXVII a LXVII do art. 5. moral direito de defesa liberdade poltica e de opinio enfim, direito segurana em geral) (direitos pblicos subjetivos, lquidos e certos) LXIXconceder-se- mandado de segurana para proteger direito lquido e certo, no amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsvel pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pblica ou agente de pessoa jurdica no exerccio de atribuies do Poder Pblico. (direito intimidade e incolumidade dos dados LXXIIconceder-se- habeas data: [...] pessoaisdireito de acesso s informaes registradas em bancos de dadosdireito de retificao de dados) (direito probidade e moralidade da LXXIIIqualquer cidado parte legtima para propor Administrao) ao popular que vise a anular ato lesivo ao patrimnio pblico ou de entidade de que o Estado participe, moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimnio histrico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada m-f, isento de custas judiciais e do nus da sucumbncia.
Esses exemplos so suficientes para ilustrar a distino entre direitos e garantias. Cumpre, no entanto, no esquecer que as garantias constitucionais so tambm direitos, no como outorga de um bem e vantagem em si, mas direitos instrumentais, porque destinados a tutelar um direito principal.
13
UNIDADE DIDTICA III DIREITO CONSTITUCIONAL (carga horria: 06 horas de aula). Assuntos e objetivos especficos: 1. Princpios, direitos e deveres constitucionais (carga horria: 03 horas de aula). 1.2 - Aplicar os dispositivos constitucionais na soluo de situaes que enumeram direitos e deveres individuais, coletivos, sociais e polticos (carga horria: 02 horas de aula). Sugestes de objetivos intermedirios para o terceiro tempo de aula: Apresentar os principais direitos e garantias coletivas, analisando-os; Identificar os principais remdios constitucionais, analisando sua utilizao.
4. DIREITOS COLETIVOS, SOCIAIS E POLTICOS - GARANTIAS
4.l. GENERALIDADES: 4.2. GARANTIAS DOS DIREITOS COLETIVOS: 4.2.1. Colocao do tema 4.2.2. Esclarecimentos prvios 4.2.3. Mandado de segurana coletivo 4.2.4. Mandado de injuno coletivo 4.2.5. Ao popular
4.3. GARANTIAS DOS DIREITOS SOCIAIS: 4.3.1. Normatividade dos direitos sociais 4.3.2. Tutela jurisdicional dos hipossuficientes 4.3.3. Sindicalizao e direito de greve
14
4.3.4. Decises judiciais normativas A importncia dos sindicatos se revela ainda na possibilidade de celebrarem convenes coletivas de trabalho e, consequentemente, na legitimao que tm para suscitar dissdio coletivo de trabalho. Isso significa que se d s decises judiciais em tais casos extenso normativa que alcana toda a categoria profissional representada pelo sindicato suscitante beneficiando mesmo aqueles trabalhadores que sequer sejam sindicalizados (art. 114, 2). 4.3.5. Garantias de outros direitos sociais Diz-se que o ncleo central dos direitos sociais constitudo pelo direito do trabalho (conjunto dos direitos dos trabalhadores) e pelo direito de seguridade social. Em torno deles, gravitam outros direitos sociais, como o direito sade, o direito de previdncia social, o de assistncia social, o direito educao, o direito ao meio ambiente sadio. A Constituio tentou preordenar meios de tornar eficazes esses direitos, prevendo, p. ex., fonte de recursos para a seguridade social, com aplicao obrigatria nas aes e servios de sade e s prestaes providenciarias e assistenciais (arts. 194 e 195), assim como a reserva de recursos oramentrios para a educao (art. 212). Aos direitos culturais, impe-se ao Estado dar-lhes apoio, incentivos e proteo (art. 215). Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, o 1 do art. 225 define vrios procedimentos, incluindo estudo prvio de impacto ambiental, a que se dar publicidade, no caso de instalao de obras e servios causadores de degradao ao meio ambiente, assim como estatui meio de atuao repressiva de natureza penal, administrativa e civil (art. 225, 3). So ainda modulaes cuja eficcia prpria s a experincia vai confirmar. 4.4. GARANTIAS DOS DIREITOS POLTICOS 4.4.1. Definio do tema. Garantias polticas so aquelas que possibilitam o livre exerccio da cidadania. Tais so o sigilo do voto, a igualdade do voto. Inclui-se a tambm a determinao de que sejam gratuitos, na forma da lei, os atos necessrios ao exerccio da cidadania. 4.4.2. Eficcia dos direitos fundamentais Finalmente, a garantia das garantias consiste na eficcia e aplicabilidade imediata das normas constitucionais.
15
UNIDADE DIDTICA III DIREITO CONSTITUCIONAL (carga horria: 06 horas de aula). Assuntos e objetivos especficos: 2. Organizao e defesa do Estado (carga horria: 03 horas de aula). 2.1 - Descrever a organizao poltico - administrativa da Repblica Federativa do Brasil (carga horria: 01 hora de aula). Sugestes de objetivos intermedirios para o quarto tempo de aula: Apresentar as principais noes relativas aos princpios constitucionais do Estado Brasileiro: - Estrutura bsica da Federao e dos Trs Poderes; - Competncias dos entes federativos. Apresentar os mecanismos e finalidades do instituto da interveno federal.
5. DA ESTRUTURA BSICA DA FEDERAO
5.1. DOS PRINCPIOS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO BRASILEIRO 5.1.2. REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: 5.1.2.1. O Pas e o Estado brasileiros 5.1.2.2. Territrio e forma de Estado 5.1.2.3. Estado Federal: forma do Estado brasileiro 5.1.2.4. Forma de Governo: a Repblica 5.1.2.5. Fundamentos do Estado brasileiro 5.1.2.6. Objetivos fundamentais do Estado brasileiro 5.1.3. PODER E DIVISO DE PODERES: 5.1.3.1. O princpio da diviso de poderes 5.1.3.2. Poder poltico 5.1.3.3. Governo e distino de funes do poder 5.1.3.4. Diviso de poderes 5.1.3.5. Independncia e harmonia entre os poderes 5.1.3.6. Excees ao princpio 5.1.4. O ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO: 5.1.4.1. Caracterizao do Estado Democrtico de Direito 5.1.4.2. A lei no Estado Democrtico de Direito 5.1.4.3. Princpios e tarefa do Estado Democrtico de Direito.
16
5.2. DAS ENTIDADES COMPONENTES DA FEDERAO BRASILEIRA 5.2.1. Questo de ordem J estudamos os princpios do Estado Federal e sua aplicao Re pblica Federativa do Brasil, de sorte que no h mais por que regressar a eles aqui. Agora, nosso tema diz sobretudo respeito estrutura do Estado Federal brasileiro: sua organizao concreta, seus componentes, a tcnica de repartio do poder autnomo entre as entidades federativas. 5.2.2. Componentes do Estado Federal A organizao poltico - administrativa da Repblica Federativa do Brasil compreende, como se v no art. 18, a Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios. A Constituio a quis destacar as entidades que integram a estrutura federativa brasileira: os componentes do nosso Estado Federal. 5.2.3. Braslia 5.2.4. A posio dos Territrios 5.2.5. Formao dos Estados 5.2.6. Os Municpios na federao 5.2.7. Vedaes constitucionais de natureza federativa. 5.3. DA REPARTIO DE COMPETNCIAS 5.3.1. 0 problema da repartio de competncias federativas A autonomia das entidades federativas pressupe repartio de competncias para o exerccio e desenvolvimento de sua atividade normativa. Esta distribuio constitucional de poderes o ponto nuclear da noo de Estado federal. So notrias as dificuldades quanto a saber que matrias devem ser entregues competncia da Unio, quais as que competiro aos Estados e quais as que se indicaro aos Municpios. Os limites da repartio regional e local de poderes dependem da natureza e do tipo histrico de federao. Numas a descentralizao mais acentuada, dando-se aos Estados federados competncias mais amplas, como nos Estados Unidos. Noutras a rea de competncia da Unio mais dilatada, restando limitado campo de atuao aos Estados- membros, como tem sido no Brasil, onde a existncia de competncias exclusivas dos Municpios comprime ainda mais a rea estadual. A Constituio de 1988 estruturou um sistema que combina competncias exclusivas, privativas e principiolgicas com competncias comuns e concorrentes, buscando reconstruir o sistema federativo segundo critrios de equilbrio ditados pela experincia histrica. 5.3.2. 0 princpio da predominncia do interesse 5.3.3. Tcnicas de repartio de competncias 5.3.4. Sistema da Constituio de 1988
17
5.3.5. Classificao das competncias 5.3.6. Sistema de execuo de servios.
6. DA INTERVENO NOS ESTADOS E NOS MUNICPIOS
6.1. AUTONOMIA E INTERVENO 6.1.1. Autonomia e equilbrio federativo O Estado federal, como vimos antes, assenta no princpio da autonomia das entidades componentes e que se apia em dois elementos bsicos: existncia de governo prprio e posse de competncia exclusiva. Autonomia a capacidade de agir dentro de crculo preestabelecido, como se nota pelos arts. 25, 29 e 32 que a reconhecem aos Estados, Municpios e Distrito Federal, respeitados os princpios estabelecidos na Constituio. , pois, poder limitado e circunscrito e nisso que se verifica o equilbrio da federao, que rege as relaes entre Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios, todos autnomos nos termos da Constituio (art. 18). Esse equilbrio federativo realiza-se por mecanismos institudos na constituio rgida, entre os quais sobreleva o da interveno federal nos Estados e agora tambm no Distrito Federal e dos Estados nos Municpios, que est prevista nos arts. 34 a 36. 6.1.2. Natureza da interveno A interveno ato poltico que consiste na incurso da entidade interventora nos negcios da entidade que a suporta. Constitui o punctum dolens do Estado federal, onde se entrecruzam as tendncias unitaristas e a tendncias desagregantes. Interveno anttese da autonomia. Por ela afasta-se momentaneamente a atuao autnoma do Estado, Distrito Federal ou Municpio que a tenha sofrido. Uma vez que a Constituio assegura a essa entidades a autonomia como princpio bsico da forma de Estado adotada, decorre da que a interveno medida excepcional, e s h de ocorrer nos casos nela taxativamente estabelecidos e indicados como exceo ao princpio da no interveno, conforme o art. 34: "A Unio no intervir nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para [...]", e o art. 39: "O Estado no intervir em seus Municpios, nem a Unio nos Municpios localizados em Territrio Federal, exceto quando: [...]" arrolando-se em seguida os casos em que facultada a interveno estreitamente considerados.
18
6.2. INTERVENO FEDERAL NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL 6.2.1. Pressupostos de fundo da interveno. Casos e finalidades Os pressupostos de fundo da interveno federal nos Estados constituem situaes crticas que pem em risco a segurana do Estado, o equilbrio federativo, as finanas estaduais e a estabilidade da ordem constitucional. Trata-se de um instituto tpico da estrutura do Estado federal que tem por finalidade: (1) a defesa do Estado (Pas), quando, nos casos do art. 34, I e II, autorizada a interveno para: (a) manter a integridade nacional; (b) repelir invaso estrangeira; (2) a defesa do princpio federativo, quando, nos casos do mesmo art. 34, II, III e IV, facultada a interveno para: (a) repelir invaso de uma unidade da Federao em outra; (b) pr termo a grave comprometimento da ordem pblica; (c) garantir o livre exerccio de qualquer dos Poderes nas unidades da Federao; (3) a defesa das finanas estaduais, quando, nos casos do art. 34, V, permitida a interveno para reorganizao das finanas da unidade da Federao que: (a) suspender o pagamento da dvida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo fora maior; (b) deixar de entregar aos Municpios receitas tributrias fixadas na Constituio, dentro dos prazos estabelecidos em lei; (4) a defesa da ordem constitucional, quando o art. 34 autoriza a interveno: (a) no caso do inciso VI, para prover a execuo de lei federal, ordem ou deciso judicial; (b) no caso do inciso VII, para exigir a observncia dos seguintes princpios constitucionais: (b.1) forma republicana, sistema representativo, regime democrtico; (b.2) direitos da pessoa humana; (b.3) autonomia municipal; (b.4) prestao de contas da administrao pblica, direta e indireta. 6.2.2. Pressupostos formais. O ato de interveno: limites e requisitos Constituem pressupostos formais da interveno: o modo de sua efetivao, seus limites e requisitos. A interveno federal efetiva-se por decreto do Presidente da Repblica, o qual especificar a sua amplitude, prazo e condies de execuo e, se couber, nomear o interventor (art. 36, 1). H, pois, interveno sem interventor. que ela pode atingir qualquer rgo do poder estadual. Se for no Executivo, o que tem sido a regra, a nomeao do interventor ser necessria, para que exera as funes do Governador. Se for no Legislativo apenas, tornar-se- desnecessrio o interventor, desde que o ato de interveno atribua as funes legislativas ao Chefe do Executivo estadual. Se for em ambos, o interventor ser tambm necessrio para assumir as funes executivas e legislativas. O decreto de interveno depender:
19
(1) nos casos dos incisos I, II, III e V do art. 34, da simples verificao dos motivos que a autorizam; (2) no caso do inciso IV do art. 34, de solicitao do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisio do Supremo Tribunal Federal, se a coao for exercida contra o Poder Judicirio; (3) no caso de desobedincia a ordem ou deciso judicial (inciso VI do art. 34),3 de requisio do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justia ou do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a matria, no se diz no texto, mas evidentemente de conformidade com as regras de competncia jurisdicional ratione materiae; (4) no caso do inciso VII do art. 34, de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representao do Procurador - Geral da Repblica, representao essa que caracteriza a ao direta de inconstitucionalidade interventiva, a que j nos referimos antes; (5) no caso de recusa execuo de lei federal (art. 34, VI), de provimento, pelo Superior Tribunal de Justia, de representao do Procurador - Geral da Repblica; aqui no se trata de obter declarao de inconstitucionalidade, portanto essa representao tem natureza diversa da referida no inciso III do art. 36; seu objeto consiste em garantir a executoriedade da lei federal pelas autoridades estaduais, digamos que seja uma ao de executoriedade da lei. Nos casos dos incisos VI e VII do art. 34, o decreto de interveno limitar-se- a suspender a execuo do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade, isto , se for suficiente para eliminar a infrao queles princpios constitucionais neles arrolados. Aplica-se o processo estabelecido na Lei 4.337/64, com possibilidade de suspenso liminar do ato impugnado (Lei 5.778/72). Se, porm, a simples suspenso do ato no for bastante, efetivar-se- a interveno. Esta no mera faculdade, mas tambm um dever que se impe Unio, e, portanto, ao Presidente da Repblica, que ter de execut-la sempre que for necessria, uma vez que se cuida a de medida de defesa da Constituio, mormente nas hipteses de requisio dos Tribunais (art. 36, I a IV). 6.2.3. Controle poltico e jurisdicional da interveno O decreto de interveno ser submetido pelo Presidente da Repblica apreciao do Congresso Nacional no prazo de vinte e quatro horas, que ser convocado extraordinariamente, no mesmo prazo, se no estiver funcionando, para conhecer do ato interventivo, dispensada a exigncia se a suspenso do ato impugnado houver produzido seus efeitos nos casos de provimento representao do Procurador - Geral da Repblica (art. 36, 1 a 3). despiciendo dizer que o Congresso Nacional no se limitar a tomar cincia do ato de interveno, pois o decreto interventivo lhe ser submetido para apreciao, o que envolve julgamento de aprovao e de rejeio, como, alis, est expressamente estabelecido no art. 49, IV, que lhe d competncia exclusiva para aprovar ou suspender a interveno.
20
Se suspender a interveno, esta passar a ser ato inconstitucional, e dever cessar imediatamente, pois, se for mantida, constituir atentado contra os poderes constitucionais do Estado, caracterizando o crime de responsabilidade do Presidente da Repblica previsto no art. 85 da CF. 6.2.4. Cessao da interveno: conseqncias 6.2.5. O interventor. Responsabilidade civil
6.3. INTERVENO NOS MUNICIPlOS: 6.3.1. Fundamento constitucional 6.3.2. Motivos para a interveno nos Municpios 6.3.3. Competncia para intervir.
21
UNIDADE DIDTICA III
DIREITO CONSTITUCIONAL (carga horria: 06 horas de aula). Assuntos e objetivos especficos: 2. Organizao e defesa do Estado (carga horria: 03 horas de aula). 2.2 - Interpretar a destinao constitucional das Foras Armadas, relacionadas com o Estado de Defesa e de Sitio (carga horria: 01 hora de aula). Sugestes de objetivos intermedirios para o quinto tempo de aula: Analisar as principais noes relativas defesa do Estado e das instituies democrticas; Apresentar os mecanismos e finalidades do Estado de Defesa e do Estado de Stio; Analisar o papel constitucional das FFAA, seus princpios basilares e sua destinao constitucional; Interpretar a atuao das FFAA no Estado de Defesa e no Estado de Stio.
7. DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIES DEMOCRTICAS
7.1. DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE STIO 7.1.1. SISTEMA CONSTITUCIONAL DAS CRISES 7.1.1.1. Defesa do Estado e compromissos democrticos O ttulo em exame tem por rubrica "Da Defesa do Estado e das Instituies Democrticas". Nessa dimenso, inclui tambm um captulo sobre as Foras Armadas e outro sobre a segurana pblica. Correlacionando a defesa das instituies democrticas e Foras Armadas foroso convir que estas ficaram, na perspectiva constitucional, como instituies comprometidas com o regime democrtico inscrito na Constituio de 1988, em termos que j estudamos antes, o que torna mais grave qualquer desvio, ainda que circunstancial, que envolva desrespeito aos direitos fundamentais do homem, incluindo os individuais os sociais (a o direito de sindicalizao e o de greve), os polticos e de nacionalidade. Nesse mesmo compromisso ficam envolvidos os rgos da segurana pblica. A defesa do Estado aparece expurgada da conotao geopoltica os da doutrina da segurana nacional que informaram o regime revogado. A defesa do Estado defesa do territrio contra invaso estrangeira (arts. 34, II, e 137, II), defesa da soberania
22
nacional (art. 91), defesa da Ptria (art. 142), no mais a defesa deste ou daquele regime poltico ou de uma particular ideologia ou de um grupo detentor do poder. 7.1.1.2. Defesa das instituies democrticas Diego Valados observa, com David Easton, que "o equilbrio o elemento que caracteriza a ordem constitucional". Acrescenta que "o equilbrio constitucional consiste na existncia de uma distribuio relativamente igual do poder, de tal maneira que nenhum grupo, ou combinao de grupos, possa dominar sobre os demais", para concluir, agora com Catlin, que "a democracia o equilbrio mais estvel entre os grupos de poder". Da decorre, conforme os mesmos autores, que "a competio entre os distintos grupos sociais s tolervel na medida em que esses mesmos grupos estejam subordinados aos procedimentos constitucionais". Isso quer dizer que, fora desses parmetros, as competies pelo poder geram uma situao de crise, que poder assumir as caractersticas de crise constitucional, e esta, se no for convenientemente administrada, governada, poder provocar o rompimento do equilbrio constitucional e, por conseguinte, pr em grave risco as instituies democrticas. Quando uma situao dessas se instaura que se manifesta a funo do chamado sistema constitucional das crises considerado por Aric Moacyr Amaral Santos "como o conjunto ordenado de normas constitucionais, que, informadas pelos princpios da necessidade e da temporariedade, tm por objeto as situaes de crises e por finalidade a mantena ou o restabelecimento da normalidade constitucional''. So normas que visam a estabilizao e a defesa da Constituio contra processos violentos de mudana ou perturbao da ordem constitucional, mas tambm a defesa do Estado quando a situao crtica derive de guerra externa. Ento, a legalidade normal substituda por uma legalidade extraordinria, que define e rege o estado de exceo. Os princpios informadores do sistema constitucional das crises e, pois, dos estados de exceo foram bem lembrados por Aric Moacyr Amaral Santos, e so o princpio fundante da necessidade e o princpio da temporariedade.
7.1.2. ESTADO DE DEFESA 7.1.2.1. Defesa do Estado e estado de defesa 7.1.2.2. Pressupostos e objetivo Os fundamentos para a instaurao do estado de defesa acham-se estabelecidos no art. 136, e so de fundo e de forma. Constituem pressupostos de fundo do estado de defesa: (a) a existncia de grave e iminente instabilidade institucional que ameace a ordem pblica ou a paz social ou (b) a manifestao de calamidade de grandes propores na natureza que atinja a mesma ordem pblica ou a paz social. Naturalmente que no se h de tomar, por exemplo, a existncia de greve, por mais prolongada e intensa que seja, como uma ameaa ordem ou paz social que justifique a decretao da medida. Se a Constituio reconhece o
23
direito de greve sem limitaes, evidente que ela no pode ser tomada como algo fora da normalidade, para justificar a implantao de uma legalidade extraordinria. A calamidade sempre um fato de desajuste no mbito de sua verificao, mas, nos termos do texto constitucional, ela ter que ser de grandes propores e ainda gerar situao de sria perturbao ordem pblica ou paz social para servir de base decretao do estado de defesa. Os pressupostos formais do estado de defesa so: (a) prvia manifestao dos Conselhos da Repblica e de Defesa Nacional; (b) decretao pelo Presidente da Repblica, aps a audincia desses dois Conselhos (arts. 90, I, 91, 1, II, e 1365; (c) determinao, no decreto, do tempo de sua durao, que no poder ser superior a trinta dias, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual perodo (ou por perodo menor, evidentemente), se persistirem as razes que justificaram sua decretao; (d) especificao das reas por ela abrangidas; (e) indicao de medidas coercitivas, dentre as discriminadas no art. 136, 1. A audincia dos Conselhos da Repblica e de Defesa Nacional obrigatria, sob pena de inconstitucionalidade da medida. Contudo, tais Conselhos so apenas consultivos, o que vale dizer que sua opinio sempre de ser levada em considerao, mas no ser vinculativa. Portanto, se opinarem contra a decretao da medida, o Presidente da Repblica ficar com a grave responsabilidade de, desatendendo-os, assim mesmo decret-la, se assim entender indispensvel. Se o fizer e o Congresso a aprovar nos termos dos arts. 49, IV, e 136, 4 e 6, tudo fica conforme com a Constituio. Se o Congresso rejeitar a medida, poder surgir hiptese de crime de responsabilidade do Presidente da Repblica. O estado de defesa tem por objetivo preservar ou restabelecer a ordem pblica ou a paz social ameaadas por aqueles fatores de crise. 7.1.2.3. Efeitos e execuo do estado de defesa A decretao do estado de defesa importa, como primeira conseqncia, na adoo de legalidade especial para a rea em questo, cujo contedo depende do decreto que o instaurar, respeitados os termos e limites da lei, que a Constituio requer seja elaborada para disciplinar o tema. Dentre as possveis medidas coercitivas que podero vigorar em sua vigncia, citamos: (1) restries aos direitos de: (a) reunio, ainda que exercida no seio das associaes; (b) sigilo de correspondncia; (c) sigilo de comunicao telegrfica e telefnica; (d) ocupao e uso temporrio de bens e servios pblicos, na hiptese de calamidade pblica, respondendo a Unio pelos danos e custos decorrentes; (3) priso (a) por crime contra o Estado, pelo executor da medida, que dever comunic-la, com declarao do estado fsico ou mental do detido, ao juiz competente; (b) por outros motivos, nunca superior a dez dias, salvo autorizao do Poder Judicirio. 7.1.2.3. Controles O juzo de decretao do estado de defesa cabe ao Presidente da Repblica, mas no uma situao de arbtrio; fica sujeito a controles poltico e jurisdicional. O controle poltico realiza-se em dois momentos pelo Congresso Nacional. O primeiro no da apreciao do decreto de instaurao e no de prorrogao do estado de
24
defesa (em at 24 horas; se em recesso, convocao extraordinria em cinco dias e apreciao em at no mximo dez dias em qualquer caso; o Congresso continua funcionando durante o estado de defesa). O segundo sucessivo, quando deputados e senadores apreciaro a mensagem do Presidente ao Congresso relatando as providncias adotadas, com especificao e justificao delas, e ainda com a relao dos atingidos e da indicao das restries aplicadas. E se o Congresso no aceitar a justificao dada pelo Presidente da Repblica; se ele chegar concluso de que houve arbtrio, excesso? Parece-nos que, em tal caso, ficar caracterizado algum crime de responsabilidade do Presidente, especialmente o atentado a direitos individuais, pelo que pode ser ele submetido ao respectivo processo, previsto no art. 86 e regulado na Lei 1.079/50. Prev-se, ainda, um controle poltico concomitante, nos termos do art. 140, segundo o qual a Mesa do Congresso Nacional (art. 57, 5) designar Comisso composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execuo das medidas referentes ao estado de defesa. Membros da Mesa ou do Congresso? Parece-nos que membros da Mesa do Congresso que composta dos membros da Mesa do Senado Federal e da Cmara dos Deputados. O controle jurisdicional consta, por exemplo, do art. 136, 3, onde se prev que a priso por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, ser por ele comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxar, se no for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito autoridade policial, essa comunicao ser acompanhada de declarao do estado fsico e mental do detido no momento de sua autuao. Tambm a priso ou deteno de qualquer pessoa no poder ser superior a dez dias salvo autorizao do Poder Judicirio; no havendo tal autorizao, constrangimento, alm daquele perodo, ilegal e passvel de controle jurisdicional por via do habeas corpus. Demais, vedada a incomunicabilidade do preso, o que vale dizer que a priso fica sempre sujeita ao controle jurisdicional para o cumprimento dessa vedao. Finalmente, cessado o estado de defesa, cessaro seus efeitos, mas sem prejuzo da responsabilidade pelos ilcitos cometidos por seus executores ou agentes. Isso quer dizer que existir a possibilidade de controle jurisdicional sucessivo sobre a conduta dos executores ou agentes da medida.
7.1.3. ESTADO DE STIO 7.1.3.1. Pressupostos, objetivos e conceito Causas do estado de sitio so as situaes crticas que indicam a necessidade da instaurao de correspondente legalidade de exceo (extraordinria) para fazer frente anormalidade manifestada. So as condies de fato, sem as quais o estado de stio constituir um abuso injustificado. So pressupostos de fundo cuja ocorrncia confere legitimidade s providncias constitucionalmente estabelecidas. Essas causas esto previstas no art. 137, consubstanciadas em dois casos: 1) comoo grave de repercusso nacional ou ocorrncia de fatos que comprovem a
25
ineficcia de medidas tomadas durante o estado de defesa; (2) declarao de estado de guerra ou resposta a agresso armada estrangeira. H, portanto: (a) estado de sitio em caso de comoo grave de repercusso nacio nal, portanto um estado de crise que seja de efetiva rebelio ou de revoluo que ponha em perigo as instituies democrticas e a existncia do governo fundado no consentimento popular; (b) estado de sitio em caso de ocorrncia de fatos que comprovem a ineficcia de medidas tomadas durante o estado de defesa, que corresponde, praticamente, na converso deste em estado de stio; (c) estado de stio em caso de declarao de guerra; (d) estado de sitio em caso de agresso armada que exija pronta resposta, desembaraada de situao interna que porventura a dificulte. Os dois ltimos casos so de situao de guerra. No primeiro, trata-se de estado de guerra, juridicamente estabelecido, ou seja, guerra declarada nos termos dos arts. 49, II, e 84, XIX. No segundo, eventualmente em situao de guerra dependente de referendo do Congresso Nacional na conformidade dos mesmos artigos citados. Guerra, a, pois, sempre guerra externa, ou seja: s o estado de beligerncia com Estado estrangeiro que fundamenta o estado de stio na hiptese. A instaurao do estado de stio depende ainda do preenchimento de requisitos (pressupostos) formais, quais sejam: (a) audincia ao Conselho da Repblica e ao Conselho de Defesa Nacional; (b) autorizao, por voto da maioria absoluta do Congresso Nacional, para sua decretao em atendimento a solicitao fundamentada do Presidente da Repblica; (c) decreto do Presidente da Repblica. Quer dizer, o estado de stio decretado pelo Presidente da Repblica, ouvido aqueles dois Conselhos e autorizado pelo Congresso Nacional, que, se estiver em recesso, ser imediatamente convocado pelo Presidente do Senado Federal para reunir-se dentro de cinco dias, a fim de apreciar a solicitao, e, concedendo-a, permanecer em funcionamento at o trmino das medidas coercitivas (arts. 137 e 13~, 2 e 3). o decreto do Presidente da Repblica que instaura a normatividade extraordinria do estado de stio pela indicao de: (a) sua durao, que no poder ser superior a trinta dias, nem prorrogada, de cada vez (o que permite mais de uma prorrogao), por prazo superior, quando se tratar de estado de stio com base no inc. I do art. 137; e por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agresso armada estrangeira na hiptese do inc. II; (b) as normas necessrias sua execuo, ou seja, as instrues que devem reger a conduta dos executores da medida; (c) as garantias constitucionais que ficaro suspensas, dentre as autorizadas no art. 139. Publicado o decreto, o Presidente da Repblica designar o executor das medidas especficas e as reas abrangidas. Esses condicionamentos visam situar o estado de stio em limites estritamente necessrios ao restabelecimento da normalidade, para que no se sirva dele como instrumento para obter resultado diametralmente contrrio a seus objetivos, que so, pelo visto: (a) preservar, manter e defender o Estado Democrtico de Direito e, por conseguinte, as instituies democrticas; (b) dar condies de livre mobilizao de todos os meios necessrios defesa do Estado no caso de guerra. O estado de sitio consiste, pois, na instaurao de uma legalidade extraordinria, por determinado tempo e em certa rea (que poder ser o territrio nacional inteiro), objetivando preservar ou restaurar a normalidade constitucional, perturbada por motivo de comoo grave de repercusso nacional ou por situao de beligerncia com Estado estrangeiro. A aplicao de medidas coercitivas e a suspenso de direitos e garantias constitucionais so apenas meios para a consecuo de seus objetivos. So efeitos de sua decretao, a que dedicaremos as consideraes que seguem.
26
7.1.3.2. Efeitos do estado de stio A decretao do estado de stio importa, como primeira conseqncia, na substituio da legalidade constitucional comum por uma legalidade constitucional extraordinria. O contedo desta depende do decreto que instaura a medida, respeitados os limites indicados na Constituio. Tais limites, contudo, s so estabelecidos relativamente ao estado de stio decretado por motivo de comoo grave ou ocorrncia de fatos que comprovem a ineficcia do estado de defesa, conforme o disposto no art. 137, I. Na vigncia deste estado de sitio, s podero ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas coercitivas: (1) obrigao de permanncia em localidade determinada; (2) deteno em edifcio no destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, o que acaba por deter as pessoas em priso dos quartis da Marinha, do Exrcito ou da Aeronutica; (3) restries relativas inviolabilidade da correspondncia, ao sigilo das comunicaes, prestao de informaes e liberdade de imprensa, radiodifuso e televiso, na forma da lei, o que significa a necessidade de elaborao de uma lei que preveja a possibilidade e limites dessas restries, que, como se nota, importam em interceptao e censura aos meios de comunicao em geral; mas no se inclui, nessas restries, a difuso de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa; (4) suspenso da liberdade de reunio; (5) busca e apreenso em domiclio, o que uma derrogao da inviolabilidade do domiclio; (6) interveno nas empresas de servios pblicos (empresas de telecomunicaes, de transportes, de fornecimento de gua etc.); (7) requisio de bens. Cessado o estado de stio, cessaro os seus efeitos sem prejuzo da responsabilidade pelos ilcitos cometidos por seus executores ou agentes, que so, como foi dito, a legalidade extraordinria implantada com sua decretao e as providncias de sua execuo. Esta realiza-se por meio de delegado do Presidente da Repblica, como executor das medidas especficas consubstanciadas no decreto, nomeado depois de sua publicao, mas nada impede seja nomeado no prprio decreto de instaurao do estado de stio. Em regra, so nomeadas autoridades militares que se incumbem de tomar as medidas coercitivas autorizadas no decreto. 7.1.3.3. Controles do estado de stio Tal como no estado de defesa, o juzo de convenincia da instaurao do estado de stio cabe ao Presidente da Repblica quando ocorra um dos pressupostos de fundo que o justificam. Ele tem a faculdade de decretar, ou no, a medida, mas se o fizer, ter que observar as normas constitucionais que a regem. Vale dizer, o estado de stio, tanto
27
quanto o estado de defesa, no , nem pode ser, uma situao de arbtrio, porque uma situao constitucionalmente regrada. Por isso, fica sujeito a controles poltico e jurisdicional. O controle poltico realiza-se pelo Congresso Nacional em trs momentos: (a) um controle prvio, porque a decretao do estado de stio depende de sua prvia autorizao (art. 137); (b) um controle concomitante, porque, nos termos do art. 140, a Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os lderes partidrios, dever designar Comisso composta de cinco de seus membros (seus da Mesa, ao que nos parece) para acompanhar e fiscalizar a execuo das medidas referentes ao estado de stio, tal como em relao ao estado de defesa, consoante vimos; (c) sucessivo, ou seja, aps cessado o estado de stio, as medidas aplicadas em sua vigncia sero relatadas pelo Presidente da Repblica, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificao e justificao das providncias adotadas, com relao nominal dos atingidos e indicao das restries aplicadas. O controle jurisdicional amplo em relao aos limites de aplicao das restries autorizadas. Se os executores ou agentes do estado de stio cometerem abuso ou excesso de poder durante sua execuo, lgico que seus atos ficam sujeitos a correo por via jurisdicional, quer por via de mandado de segurana, quer por habeas corpus, quer por outro meio judicial hbil. Mesmo depois de cessado o estado de stio e seus efeitos. Poder ocorrer hiptese de responsabilizao jurisdicional.
8. DAS FORAS ARMADAS
8.1. DESTINAO CONSTITUCIONAL A Constituio estabelece que as Foras Armadas so instituies nacionais permanentes e regulares que se destinam defesa da Ptria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (art. 142). Constituem, assim, elemento fundamental da organizao coercitiva a servio do Direito e da paz social. Esta nelas repousa pela afirmao da ordem na rbita interna e do prestgio estatal na sociedade das naes. So, portanto, os garantes materiais da subsistncia do Estado e da perfeita realizao de seus fins. Em funo da conscincia que tenham da sua misso est a tranqilidade interna pela estabilidade das instituies. E em funo de seu poderio que se afirmam, nos momentos crticos da vida internacional, o prestgio do Estado e a sua prpria soberania. Dado o relevo de sua misso, nossas constituies sempre reservaram a elas posio especial. A do Imprio destacou-lhes um captulo com seis artigos, em que se lhes traam as linhas mestras (arts. 145 a 150). A primeira Constituio republicana no lhes abriu captulo especial, mas delas cuida em vrios dispositivos esparsos, reconhecendolhes a mesma destinao e relevo (arts. 14, 34, ns. 17 e 18 art. 48 ns. 3, 4 e 5, e arts. 73, 74, 76, 77 e 78). A Constituio de 1934 volta a destinar-lhes ttulo especfico denominado Da Segurana Nacional (Tt. VI) e a de 1937 desdobra a matria em dois captulos: um sobre os Militares da Terra e Mar (art. 160) e outro sobre a segurana
28
nacional, tcnica que tornou a ser adotada pelo constituinte de 1967 e 1969, que, em sees diferentes, cuidaram da segurana nacional e das Foras Armadas (respectivamente, arts. 89 a 91 e 92 a 94, e 86 a 89 e 90 a 93), enquanto a Constituio de 1946 inclura num s ttulo as Foras Armadas e o Conselho de Segurana Nacional (Tt. VII, arts. 176 a 183). A Constituio vigente abre a elas um captulo do Ttulo V sobre a defesa do Estado e das instituies democrticas com a destinao acima referida, de tal sorte que sua misso essencial a da defesa da Ptria e a garantia dos poderes constitucionais, o que vale dizer defesa, por um lado, contra agresses estrangeiras em caso de guerra externa e, por outro lado, defesa das instituies democrticas, pois a isso corresponde a garantia dos poderes constitucionais, que, nos termos da Constituio, emanam do povo (art. 1, pargrafo nico). S subsidiria e eventualmente lhes incumbe a defesa da lei e da ordem, porque essa defesa de competncia primria das foras de segurana pblica, que compreendem a polcia federal e as polcias civil e militar dos Estados e do Distrito Federal. Sua interferncia na defesa da lei e da ordem depende, alm do mais, de convocao dos legtimos representantes de qualquer dos poderes federais: Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Presidente da Repblica ou Presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro no poder constitucional. Juiz de Direito no poder constitucional. Juiz Federal no poder constitucional. Deputado no poder constitucional. Senador no poder constitucional. So simples membros dos poderes e no os representam. Portanto, a atuao das Foras Armadas convocada por Juiz de Direito ou por Juiz Federal, ou mesmo por algum Ministro do Superior Tribunal de Justia ou at mesmo do Supremo Tribunal Federal inconstitucional e arbitrria, porque estas autoridades, por mais importantes que sejam, no representam qualquer dos poderes constitucionais federais.
8.2. INSTITUIES NACIONAIS PERMANENTES As Foras Armadas so instituies nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da Repblica (art. 142). Foi a Constituio de 1891 que as declarou instituies nacionais permanentes (art. 14), o que j se encontrava implcito na Constituio imperial de 1824, que se referia a foras militares permanentes de mar e terra (art. 146). Concebendo-as como instituies nacionais, reconhece-lhes, a Constituio, importncia e relativa autonomia jurdica decorrente de seu carter institucional; declarando-as permanentes e regulares, vincula-as prpria vida do Estado, atribuindo-lhes a perdurao deste. Essa posio constitucional das Foras Armadas importa afirmar que no podero ser dissolvidas, salvo por deciso de uma Assemblia Nacional Constituinte. E, sendo regulares, significa que devero contar com efetivos suficientes ao seu funcionamento normal, por via do recrutamento constante, nos termos da lei.
29
8.3. HIERARQUIA E DISCIPLINA As Foras Armadas so organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da Repblica (art. 84, XII). Hierarquia o vnculo de subordinao escalonada e graduada de inferior a superior. Ao dizer-se que as Foras Armadas so organizadas com base na hierarquia sob a autoridade suprema do Presidente da Repblica, quer-se afirmar que elas, alm da relao hierrquica interna a cada uma das armas, subordinam-se em conjunto ao Chefe do Poder Executivo federal, que delas o comandante supremo (art. 84, XIII). Disciplina o poder que tm os superiores hierrquicos de impor condutas e dar ordens aos inferiores. Correlativamente, significa o dever de obedincia dos inferiores em relao aos superiores. Declarar - se que as Foras Armadas so organizadas com base na disciplina vale dizer que so essencialmente obedientes, dentro dos limites da lei, a seus superiores hierrquicos, como dizia o art. 14 da Constituio de 1891. No se confundem, como se v, hierarquia e disciplina, mas so termos correlatos, no sentido de que a disciplina pressupe relao hierrquica. Somente se obrigado a obedecer, juridicamente falando, a quem tem poder hierrquico. "Onde h hierarquia, com superposio de vontades, h, correlativamente, uma relao de sujeio objetiva, que se traduz na disciplina, isto , no rigoroso acatamento pelos elementos dos graus inferiores da pirmide hierrquica, s ordens, normativas ou individuais, emanadas dos rgos superiores. A disciplina , assim, um corolrio de toda organizao hierrquica". Essa relao fundamenta a aplicao de penalidades que ficam imunes ao habeas corpus, nos termos do art. 142, 2, que declara no caber aquele remdio constitucional em relao a punies disciplinares militares.
8.4. COMPONENTES DAS FORAS ARMADAS As Foras Armadas brasileiras so constitudas pela Marinha pelo Exrcito e pela Aeronutica (art. 142). No Imprio, eram compostas apenas das forcas de mar e de terra, formando a Armada e o Exrcito. O aparecimento da aviao, neste sculo, e seu emprego como arma de guerra, para desgosto de Santos Dumont, fez surgir nova organizao militar: a Aeronutica. Cada uma das trs foras goza de autonomia relativa, subordinadas ao Ministrio da Defesa, como ocorre nos EUA e em outros pases. Todas so, porm, entrosadas hierrquica e disciplinarmente e devem ser obedientes a um centro comum, que o seu comando supremo exercido pelo Presidente da Repblica.
30
8.5. FIXAO E MODIFICAO DOS EFETIVOS DAS FORAS ARMADAS A fixao e a modificao dos efetivos das Foras Armadas, para o tempo de paz, dependem de lei de iniciativa do Presidente da Repblica (art. 61, 1, I). Em tempo de guerra, no se cuidar propriamente de efetivos, mas de mobilizao nacional, compreendida a convocao de reservistas e de outras foras militares, o que se faz por decreto do Presidente da Repblica (art. 84, XIX). A Constituio no adotou o princpio da periodicidade para a fixao ou modificao dos efetivos das Foras Armadas, como fizeram a de 1824 que o previa de ano para ano, a de 1891 que manteve o princpio da fixao anual e as de 1934 e de 1946 que determinavam a fixao dos efetivos em cada legislatura. Pela atual, o Presidente da Repblica poder tomar a iniciativa de lei sobre o assunto quando julgar necessrio.
8.6. A OBRIGAO MILITAR Todas as Constituies brasileiras trouxeram normas que definiam as obrigaes dos brasileiros referentemente defesa da Ptria. A de 1891 estabeleceu que todo brasileiro era obrigado ao servio militar, em defesa da Ptria e da Constituio, na forma das leis federais. Isso no era ainda o servio militar obrigatrio regular, mas nos momentos em que a defesa da Ptria ou da Constituio exigisse a convocao de todos. Foi a partir de campanha do poeta Olavo Bilac em favor do servio militar obrigatrio para todos que se revelassem aptos, dentro dos limites dos efetivos previstos em lei, por via de recrutamento anual, que afinal fora instituda a obrigao de todos servirem numa das Armas que compem as Foras Armadas. A Constituio vigente manteve o princpio da obrigatoriedade nos termos do seu art. 143. 0 princpio a estatudo o de que o servio militar obrigatrio para todos nos termos da lei. Mas a Constituio reconhece a escusa de conscincia no art. 5, VIII, que desobriga o alistado ao servio militar obrigatrio, desde que cumpra prestao alternativa. O 1. do art. 143 incumbe s Foras Armadas, na forma da lei, atribuir servio alternativo aos que, em tempo de paz, aps alistados, alegarem imperativo de conscincia, entendendo-se como tal o decorrente de crena religiosa e de convico filosfica ou poltica, para se eximirem de atividades de carter essencialmente militar. Outras isenes vm no 2. do mesmo artigo, ao declarar que as mulheres e os eclesisticos ficam isentos do servio militar obrigatrio em tempo de paz, sujeitos, porm, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Em geral, o servio militar consiste na incorporao do indivduo s fileiras das tropas, de tiro de guerra ou cursos de preparao de oficiais da reserva, para receber adestramento e instrues militares, por determinado tempo, desincorporando-se, vencido este, na qualidade de reservista ou oficial da reserva. Os outros encargos so os de assistncia religiosa, enfermagem etc.
31
Pode parecer estranho que a Constituio tenha que determinar a obrigatoriedade de servios destinados defesa da Ptria a todos os brasileiros, dado que essa defesa j decorreria da prpria situao de cada um em funo de sua exclusiva pertinncia comunidade nacional, o que, por si, implica a necessidade tica de cada membro dessa comunidade lutar por sua sobrevivncia contra qualquer inimigo. Justifica-se, porm, a determinao constitucional, pois se trata de obrigao sumamente onerosa, no s por afastar o indivduo do seio da famlia e de suas atividades, como por exigir, s vezes, o tributo da prpria vida. A exigncia constitucional tem ainda o sentido de que ningum poder deixar de prestar a obrigao militar fundado em especial condio social ou religiosa, ainda que agora a escusa de conscincia em tempo de paz seja reconhecida nos termos vistos acima. Cuida-se de dever infungvel, como nota Seabra Fagundes, cuja lio nos vem orientando neste passo, e de carter estritamente pessoal, no comportando, por isso, execuo por substituio, como j se admitiu em outros pases. Aquele que, convocado para o servio militar, no se apresenta, fica considerado insubmisso, e aquele que estiver em servio e abandon-lo ser tido como desertor, prevendo a lei penas rigorosas para esses crimes militares. Se algum invocar imperativo de conscincia para no servir e recusar-se a cumprir prestao alternativa, sujeitar-se- pena de perda dos direitos polticos (art. 15, IV).
32
UNIDADE DIDTICA III
DIREITO CONSTITUCIONAL (carga horria: 06 horas de aula). Assuntos e objetivos especficos: 2. Organizao e defesa do Estado (carga horria: 03 horas de aula). 2.3 - Expor idias sobre a participao das FFAA no contexto do Estado brasileiro (carga horria: 01 hora de aula). Sugestes de objetivos intermedirios para o sexto tempo de aula: Apresentar as principais noes relativas aos direitos e deveres dos militares segundo a Constituio; Apresentar o papel constitucional da Justia Militar; Identificar os conceitos de defesa nacional e de segurana pblica, analisando competncias e responsabilidades relativas a cada conceito.
9. ORGANIZAO MILITAR E MILITARES
Cumpre apenas lembrar, com base no art. 142, 3, que cabe lei complementar estabelecer as normas gerais a serem adotadas. 9.1. CONCEITO DE MILITAR Entende-se por militares, segundo o artigo 142, 3, os membros das Foras Armadas, e por militares dos estados, nos termos do art.42, os integrantes das polcias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, Territrios e Distrito Federal. Logo, aps a Emenda Constitucional n 18, de 05 de fevereiro de 1998, no h mais que se falar em servidores pblicos militares, ficando a designao de servidores pblicos adstrita aos civis. Sua organizao e seu regime jurdico, desde a forma de investidura at as formas de inatividades, diferem fundamentalmente do regime dos servidores civis. Diferem at mesmo entre si. Por exemplo, os militares das Foras Armadas ou ingressam no servio por via do recrutamento, que forma de convocao para prestar o servio militar, ou por via de exame de ingresso nos cursos de formao de oficiais. A obrigatoriedade do servio militar (art. 143) no deixa margem realizao de concurso pblico semelhana do que ocorre para os servidores civis. O ingresso nas polcias militares voluntrio, e, por conseguinte, os interessados se submetem a provas de seleo de
33
vrios tipos para sua investidura, incluindo tambm as escolas de formao de seus integrantes oficiais. 9.2. DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DOS MILITARES A importncia constitucional das Foras Armadas e das polcias militares, como foras auxiliares e reserva do Exrcito, levou o legislador constituinte a cercar seus integrantes de garantias e prerrogativas. Por isso, tambm, limita o ingresso carreira de oficial das Foras Armadas aos brasileiros natos (art. 12, 3, VI). A Constituio distingue, porm, entre oficiais e no oficiais. Aqueles tm patente, ttulos e posto, ao passo que os no oficiais, que so as praas, s possuem o ttulo de nomeao e graduao. Patentes, ttulos, postos e uniformes. A patente era antigamente a carta rgia de concesso de um ttulo, posto ou privilgio militar de nvel superior. Hoje o ato de atribuio do ttulo e do posto a oficial militar; por isso, que Pontes de Miranda pde dizer que quem tem a patente tem o ttulo, o posto e o uniforme que a ela correspondem, bem como as prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes, diz a Constituio (art. 142, 3). Mas o ttulo e o posto no se confundem, como pode dar a entender o texto desse autor. Posto o lugar que o oficial ocupa na hierarquia dos crculos militares. O ttulo a designao da situao confiada ao titular dos postos (ex.: posto General de Exrcito; ttulo: Comandante de Exrcito). Uniforme a farda, que no privativa dos oficiais, mas, na forma e uso regulados em lei, o dos militares. As patentes dos oficiais das Foras Armadas so conferidas pelo Presidente da Repblica, e as dos oficiais das polcias militares e corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal, pelos respectivos Governadores (art. 42, 1). Graduao. o lugar da praa na hierarquia militar, mas sem garantias especiais de posto. Militar da ativa e inatividade militar. A Constituio garante as patentes dos oficiais da ativa, da reserva e dos reformados das Foras Armadas, das polcias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territrios e do Distrito Federal (arts. 142, 3, e 42, 1.). Fala vrias vezes em militar da ativa, transferncia para a reserva, reforma e agregao, indicando, com esses termos, situaes dos militares, que podem, em verdade, ser reduzidas a duas: atividade e inatividade. A primeira diz respeito ao militar que se encontra incorporado nas fileiras da tropa no exerccio do servio militar. E a situao do militar em efetivo exerccio de seu posto ou graduao. A inatividade o estado ou situao do militar afastado temporria ou definitivamente do servio da respectiva fora. A inatividade, assim, abrange a agregao, a transferncia para a reserva e a reforma. Cabe lei dispor sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condies de transferncia do servidor militar para a inatividade (art. 42, 1), com os mesmos direitos referentes reviso dos proventos da inatividade e sobre a penso estatudos para os servidores civis no art. 40, 4 e 5. Militar no exerccio de funo civil. Os servidores pblicos militares da ativa como em situao de inatividade podero ocupar cargos, empregos ou funo pblica. Quanto ao militar da ativa, h que distinguir, como o faz a Constituio (art. 142, 3), se cargo pblico civil permanente, ou se cargo, emprego ou funo pblica temporria, e, sendo deste ltimo tipo, se eletivo ou no eletivo. Se o militar da ativa for empossado em cargo pblico civil permanente (cargo de provimento em carter efetivo), ser imediatamente transferido para a reserva (art. 142,
34
3). Se aceitar cargo, emprego ou funo pblica temporria, no eletiva, ainda que da administrao indireta, ficar agregado ao respectivo quadro e somente poder, enquanto permanecer nessa situao, ser promovido por antigidade, contando-se-lhe o tempo de servio apenas para aquela promoo e transferncia para a reserva, sendo reformado depois de dois anos de afastamento, contnuos ou no; reforma a situao de inatividade (aposentadoria) definitiva do servidor militar, e isso que quer dizer o art. 142, 3, quando fala em transferncia para a inatividade, aps dois anos de reserva que tambm inatividade. Se o cargo for eletivo, dever: (a) afastar - se da atividade, se contar menos de dez anos de servio (art. 14, 8, b; no se diz como e em que carter se afastar da atividade, se para a reserva ou reforma; caber lei prevista no 3 do art. 142 resolver a questo; (b) se contar mais de dez anos de servio, ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passar automaticamente, no ato da diplomao, para a inatividade (reforma). de observar, contudo, que o militar, enquanto em efetivo servio, no pode estar filiado a partidos polticos (art. 142, 3). Perda da patente e do posto militar. O oficial das Foras Armadas s perder o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatvel, por deciso de tribunal militar de carter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra (art. 142, 3). Tribunal militar permanente o constante da organizao judiciria pr constituda, integrante do Poder Judicirio, como so os Tribunais e Juzes Militares previstos nos arts. 92, VI, e 122, competentes para processar e julgar os crimes militares. A indignidade e a incompatibilidade para com o oficialato dependem de declarao de um desses tribunais nas circunstncias previstas. A mera condenao a pena restritiva da liberdade no induz, s por si, a perda da patente e do posto. Se o militar for condenado pela justia comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentena transitada em julgado, ser submetido a julgamento perante tribunal militar permanente em tempo de paz ou tribunal especial em tempo de guerra, para o fim de ser eventualmente declarado indigno do oficialato ou com ele incompatvel, com a conseqncia da perda da patente e do posto (art. 142, 3). V-se por a que a condenao a pena restritiva de liberdade por mais de dois anos no implicar perda da situao militar, mas importar no julgamento de indignidade e de incompatibilidade. O tribunal militar no estar, contudo, obrigado a admitir estas s por causa da condenao. A natureza do crime apenado que levar apreciao e reconhecimento da indignidade ou incompatibilidade e, portanto, perda da patente e do posto. Se a condenao for a pena inferior a dois anos, no caber o procedimento de apurao da indignidade e da incompatibilidade para com o oficialato, nem, por conseguinte, da perda da patente e do posto. Finalmente, ao militar, como vimos, so proibidas a sindicalizao e a greve (art. 142, 3.). 9.3. DIREITOS TRABALHISTAS EXTENSIVOS AOS MILITARES Enfim, para terminar, cumpre apenas lembrar que o art. 142, 3, determina que aplicvel aos militares o disposto no art. 7., VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, ou seja: dcimo terceiro salrio; salrio - famlia; gozo de frias anuais remuneradas com, pelo menos, um tero a mais do que o salrio normal; licena gestante, sem prejuzo do emprego e do salrio, com a durao de cento e vinte dias; licena - paternidade; e assistncia pr - escolar para seus dependentes at os seis anos de idade.
35
10. DA SEGURANA PUBLICA
10.1. POLCIA E SEGURANA PBLICA "Polcia" e "segurana" so dois termos que demandam um esclarecimento prvio, antes que entremos na discusso da temtica da segurana pblica a que agora a Constituio reserva um captulo, onde institui principias sobre o assunto. Na teoria jurdica a palavra "segurana" assume o sentido geral de garantia, proteo, estabilidade de situao ou pessoa em vrios campos, dependente do adjetivo que a qualifica. "segurana jurdica" consiste na garantia de estabilidade e de certeza dos negcios jurdicos, de sorte que as pessoas saibam de antemo que, uma vez envolvidas em determinada relao jurdica, esta mantm-se estvel, mesmo se se modificar a base legal sob a qual se estabeleceu. "Segurana social" significa a previso de vrios meios que garantam aos indivduos e suas famlias condies sociais dignas; tais meios se revelam basicamente como conjunto de direitos sociais. A Constituio, nesse sentido, preferiu o espanholismo seguridade social, como vimos antes. "Segurana nacional" refere-se s condies bsicas de defesa do Estado. "Segurana pblica" manuteno da ordem pblica interna. Mas a se pe uma petio de princpio, j que a ordem pblica requer definio, at porque, como dissemos de outra feita, a caracterizao de seu significado de suma importncia, porquanto se trata de algo destinado a limitar situaes subjetivas de vantagem, outorgadas pela Constituio. Em nome dela se tm praticado as maiores arbitrariedades. 10.2. ORGANIZAO DA SEGURANA PBLICA 10.3. POLCIAS FEDERAIS 10.4. POLICIAS ESTADUAIS 10.5. GUARDAS MUNICIPAIS.
11. JUSTIA MILITAR
11.1. COMPOSIO A Justia Militar compreende: o Superior Tribunal Militar, que o rgo de cpula dessa Justia; os Tribunais e Juzes Militares institudos em lei, que so as Auditorias Militares, existentes nas circunscries judicirias, conforme dispe a Lei de Organizao Judiciria Militar (Decreto-lei 1.003/69). O Tribunal Superior Militar compe-se de quinze Ministros vitalcios, nomeados pelo Presidente da Repblica, depois de aprovada a indicao pelo Senado Federal, sendo trs dentre oficiais - generais da Marinha, quatro dentre oficiais - generais do Exrcito, trs dentre oficiais - generais da Aeronutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco civis (art. 123). Os Ministros civis sero escolhidos pelo Presidente da Repblica dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo: (1) trs, dentre advogados de notrio saber jurdico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional; (2) dois, por escolha paritria, dentre juzes auditores e membros do Ministrio Pblico da Justia Militar. 11.2. COMPETNCIA A lei dispor sobre a organizao, o funcionamento e competncia da Justia Militar. Mas a Constituio j determina que a ela compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
36
37
Você também pode gostar
- Apostila de Direito ConstitucionalDocumento36 páginasApostila de Direito ConstitucionalCelso LuizAinda não há avaliações
- Curso de Direito Constitucional Positivo (José Afonso da Silva)Documento4 páginasCurso de Direito Constitucional Positivo (José Afonso da Silva)matheusoliveirasoaresadv2Ainda não há avaliações
- Constituição MaterialDocumento8 páginasConstituição MaterialThaissa SlongoAinda não há avaliações
- Miguel - Direito Constitucional - R01 - Constituição. Conceito e ClassificaçãoDocumento25 páginasMiguel - Direito Constitucional - R01 - Constituição. Conceito e Classificaçãomiguel.moura646830Ainda não há avaliações
- Caderno 1 - 20 Todo Dia - FixciclandoDocumento17 páginasCaderno 1 - 20 Todo Dia - FixciclandoAdryano Mafaldo de SouzaAinda não há avaliações
- 2 - Conceitos e Tipos de Constituição PDFDocumento6 páginas2 - Conceitos e Tipos de Constituição PDFleoAinda não há avaliações
- Aula 2 - Conceito de Constitui oDocumento30 páginasAula 2 - Conceito de Constitui oRayça Mireli SantosAinda não há avaliações
- Damásio - Direito ConstitucionalDocumento10 páginasDamásio - Direito Constitucionalapi-3839973100% (3)
- MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL E OS LIMITES DE SUA APLICAÇÃO - Brasil EscolaDocumento27 páginasMUTAÇÃO CONSTITUCIONAL E OS LIMITES DE SUA APLICAÇÃO - Brasil EscolaRafael MateusAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 1 - Teoria Da ConstituiçãoDocumento8 páginasEstudo Dirigido 1 - Teoria Da ConstituiçãoLahra LopesAinda não há avaliações
- Teoria Normativa Da ConstituiçãoDocumento7 páginasTeoria Normativa Da ConstituiçãoVivian PassosAinda não há avaliações
- Resumo de Direito ConstitucionalDocumento11 páginasResumo de Direito ConstitucionalAmanda Correia100% (2)
- Resumo 1604205 Wellington Antunes 37709145 Direito Constitucional 2017 II Aula 09 Conceito e Classificacao de Constituicao IDocumento4 páginasResumo 1604205 Wellington Antunes 37709145 Direito Constitucional 2017 II Aula 09 Conceito e Classificacao de Constituicao Ijovempan2012Ainda não há avaliações
- Constitucional I - Aula 03 - Constituição corrente conceitualDocumento26 páginasConstitucional I - Aula 03 - Constituição corrente conceitualVinicius PaixãoAinda não há avaliações
- Teoria Da Constituição - Curso Ouse SaberDocumento20 páginasTeoria Da Constituição - Curso Ouse SaberqntavaresAinda não há avaliações
- A Problemática Da Constituição DirigenteDocumento18 páginasA Problemática Da Constituição DirigenteArielson SilvaAinda não há avaliações
- Sentido Da Constituição. Jorge Miranda, Manual, Págs. 07-23.Documento4 páginasSentido Da Constituição. Jorge Miranda, Manual, Págs. 07-23.Andressa BarbosaAinda não há avaliações
- 05 - Direito ConstitucionalDocumento117 páginas05 - Direito ConstitucionalSuellen SilveiraAinda não há avaliações
- Apostila Direito ConstitucionalDocumento40 páginasApostila Direito ConstitucionalPedro MoraesAinda não há avaliações
- DIREITO CONSTITUCIONAL (1)Documento117 páginasDIREITO CONSTITUCIONAL (1)apequenanobreAinda não há avaliações
- Estudando - Direito Constitucional - Prime Cursos5Documento2 páginasEstudando - Direito Constitucional - Prime Cursos5Elen MattosAinda não há avaliações
- 3 - ConstituiçãoDocumento12 páginas3 - ConstituiçãoRafael Tomazele 05Ainda não há avaliações
- 1° Fórum de debateDocumento2 páginas1° Fórum de debateEspe CossaAinda não há avaliações
- Direito Constitucioanal I 2019Documento117 páginasDireito Constitucioanal I 2019wineerndalaAinda não há avaliações
- 1 SEMANA. SEG - CONST - Classificação Das ConstituiçõesDocumento39 páginas1 SEMANA. SEG - CONST - Classificação Das ConstituiçõesMarina Menezes MoratoAinda não há avaliações
- Direito Constitucional (Resumos) : Capítulo I - Definição, Objeto e Fontes Do Direito Constitucional 1.1. Noção e Objeto Do Direito ConstitucionalDocumento48 páginasDireito Constitucional (Resumos) : Capítulo I - Definição, Objeto e Fontes Do Direito Constitucional 1.1. Noção e Objeto Do Direito ConstitucionalrayaAinda não há avaliações
- Função Da Constituição, Hierarquia E OrigemDocumento3 páginasFunção Da Constituição, Hierarquia E OrigemSocorroAinda não há avaliações
- Resumos de ConstitucionalDocumento49 páginasResumos de ConstitucionalDélia MedeirosAinda não há avaliações
- Direito ConstitucionalDocumento59 páginasDireito ConstitucionalThiago LamartinAinda não há avaliações
- A Importância Da Constituição Para o Sistema Jurídico_083214Documento9 páginasA Importância Da Constituição Para o Sistema Jurídico_083214Edilson ViegasAinda não há avaliações
- Direito Constitucional e ConstituiçaoDocumento30 páginasDireito Constitucional e ConstituiçaoDay SouzaAinda não há avaliações
- Direito ConstitucionalDocumento5 páginasDireito Constitucionalmariabeatriz 2014Ainda não há avaliações
- DIREITO CONSTITUCIONAL I - Conceito e Noções PreliminaresDocumento26 páginasDIREITO CONSTITUCIONAL I - Conceito e Noções PreliminaresJoseph WoodAinda não há avaliações
- Direito Constitucioanal I 2016 - Aulas PP-1Documento114 páginasDireito Constitucioanal I 2016 - Aulas PP-1Emerson CasimiroAinda não há avaliações
- Teoria Geral Do Direito ConstitucionalDocumento64 páginasTeoria Geral Do Direito ConstitucionalBruna EmanueleAinda não há avaliações
- Aula - Concepções (16.08.22)Documento14 páginasAula - Concepções (16.08.22)Iúca Mendonça BarrosAinda não há avaliações
- Aula 01 - Direito ConstitucionDocumento8 páginasAula 01 - Direito ConstitucionelyanderAinda não há avaliações
- Direito MaterialDocumento86 páginasDireito MaterialMaria Fernanda Gonçalves RochaAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2023-12-05 À(s) 17.19.19Documento85 páginasCaptura de Tela 2023-12-05 À(s) 17.19.19mgvgkr47dzAinda não há avaliações
- Importancia e Estrutura Da ConstituiçãoDocumento5 páginasImportancia e Estrutura Da ConstituiçãojannainaazevedAinda não há avaliações
- Pacote Materiais Nocoes de Direito ConstitucionalDocumento165 páginasPacote Materiais Nocoes de Direito ConstitucionalraianyprausemartinsAinda não há avaliações
- A Constituição Da República Federativa Do Brasil de 1988 É A Lei Fundamental e Suprema Do BrasilDocumento4 páginasA Constituição Da República Federativa Do Brasil de 1988 É A Lei Fundamental e Suprema Do Brasilanon-959497Ainda não há avaliações
- Constituiã - Ã - o Como Fenã - Meno Jurã - DicoDocumento19 páginasConstituiã - Ã - o Como Fenã - Meno Jurã - DicoMavenAinda não há avaliações
- Constituição Federal: BizuDocumento17 páginasConstituição Federal: Bizujoyce100% (2)
- aula-2-teoria-e-fundamentos-da-constituic3a7c3a3oDocumento6 páginasaula-2-teoria-e-fundamentos-da-constituic3a7c3a3oJAIROAinda não há avaliações
- Estrutura Da Constituicao Preambulo Principios FundamentaisDocumento11 páginasEstrutura Da Constituicao Preambulo Principios FundamentaisThays AssunçãoAinda não há avaliações
- 08-Direito Constitucional - Parte 01 - Caderno SistematizadoDocumento8 páginas08-Direito Constitucional - Parte 01 - Caderno SistematizadoRobinson LemosAinda não há avaliações
- BR 06 Iii Serie Suplemento 02 2014Documento74 páginasBR 06 Iii Serie Suplemento 02 2014helderAinda não há avaliações
- Apontamentos CPDC IDocumento32 páginasApontamentos CPDC IRita MarquesAinda não há avaliações
- Módulo 1 - Formação Constitucional Do BrasilDocumento17 páginasMódulo 1 - Formação Constitucional Do BrasilEduardo RiedelAinda não há avaliações
- Direito Constitucional (Cers+damasio+lfg) I - 2016 PDFDocumento263 páginasDireito Constitucional (Cers+damasio+lfg) I - 2016 PDFAlvaro Filho100% (1)
- Exame Teórico de Direito - Poder Judicial MendozaDocumento157 páginasExame Teórico de Direito - Poder Judicial MendozaScribdTranslationsAinda não há avaliações
- Apostila Resumo de Direito Constitucional para ConcursoDocumento8 páginasApostila Resumo de Direito Constitucional para ConcursoHudson OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila de Direito ConstitucionalDocumento48 páginasApostila de Direito ConstitucionalGabriela Maccari HolthausenAinda não há avaliações
- 7 - Teoria Geral Da Constituição - Questionário PDFDocumento19 páginas7 - Teoria Geral Da Constituição - Questionário PDFMarcelo Magalhães DuarteAinda não há avaliações
- Direito Constitucional IDocumento8 páginasDireito Constitucional IStacie BenderAinda não há avaliações
- 3 Classificacao e Elementos Da Constituicao e A Historia Constitucional E1643118023Documento79 páginas3 Classificacao e Elementos Da Constituicao e A Historia Constitucional E1643118023samile sousaAinda não há avaliações
- Trabalho Constituição 1988Documento23 páginasTrabalho Constituição 1988Maria Julia PinheiroAinda não há avaliações
- Direito Constitucional Transitório: um estudo acerca da emendabilidade do ADCTNo EverandDireito Constitucional Transitório: um estudo acerca da emendabilidade do ADCTAinda não há avaliações