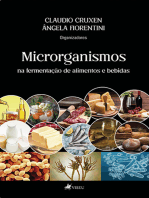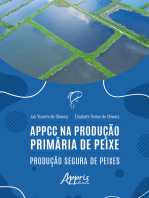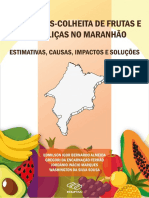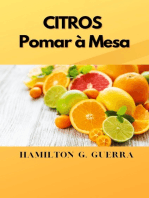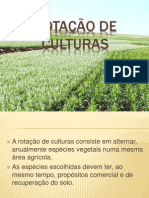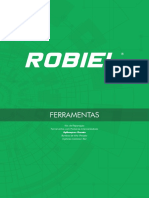Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tecnologia de Produtos Agricolas de Origem Animal
Enviado por
Marcio Sitoe0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
64 visualizações0 página[1] O documento apresenta noções básicas sobre tecnologia de alimentos de origem animal, definindo termos como alimento, matéria-prima alimentar e indústria de alimentos. [2] Apresenta as principais operações utilizadas na tecnologia de alimentos, como tratamentos da matéria-prima, preparo, embalagem e distribuição. [3] Discorre sobre os principais métodos de conservação de alimentos, como processos físicos, químicos e biológicos.
Descrição original:
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documento[1] O documento apresenta noções básicas sobre tecnologia de alimentos de origem animal, definindo termos como alimento, matéria-prima alimentar e indústria de alimentos. [2] Apresenta as principais operações utilizadas na tecnologia de alimentos, como tratamentos da matéria-prima, preparo, embalagem e distribuição. [3] Discorre sobre os principais métodos de conservação de alimentos, como processos físicos, químicos e biológicos.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
64 visualizações0 páginaTecnologia de Produtos Agricolas de Origem Animal
Enviado por
Marcio Sitoe[1] O documento apresenta noções básicas sobre tecnologia de alimentos de origem animal, definindo termos como alimento, matéria-prima alimentar e indústria de alimentos. [2] Apresenta as principais operações utilizadas na tecnologia de alimentos, como tratamentos da matéria-prima, preparo, embalagem e distribuição. [3] Discorre sobre os principais métodos de conservação de alimentos, como processos físicos, químicos e biológicos.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SO CARLOS
CENTRO DE CINCIAS AGRRIAS
DEPARTAMENTO DE TECNOL OGI A AGROI NDUSTRI AL E SOCI OECONOMI A RURAL
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
NOES BSICAS
PROF. : OCTVI O ANTNI O VALSECHI .
ARARAS, SP
2001
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
NOES BSICAS
Def i ni es :
O que al i ment o?
toda substncia ou mistura de substncias, em estado slido, l quido ou
pastoso, ou qualquer outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo os
elementos normais sua formao, manuteno e desenvolvimento.
O que al i ment o i n nat ur a" ?
todo o alimento de origem vegetal, animal ou mineral, que para consumo
imediato exige apenas a remoo da parte no comest vel.
O que mat r i a-pr i ma al i ment ar ?
toda substncia de origem vegetal, animal ou mineral, em estado bruto,
que para ser utilizada como alimento, precisa sofrer um tratamento e/ou
transformao de natureza qu mica, f sica ou biolgica.
O que s e ent ende por I nds t r i a de Al i ment o?
Entendemos por Indstria de Alimento aquela que se ocupa da aplicao dos
processos f sicos, qu micos e biolgicos s matrias-primas alimentares e aos
alimentos in natura, no sentido de conferir-lhes condies adequadas de
utilizao, de assegurar-lhes o tempo de vida til e melhorar suas qualidades
nutricionais e organolpticas.
O que s e ent ende por Tec nol ogi a de Al i ment os ?
A aplicao de mtodos e tcnicas para o preparo, armazenamento,
processamento, controle, embalagem, distribuio e utilizao dos alimentos.
A Cincia dos Alimentos inclui o estudo das caracter sticas f sicas, qu micas
e biolgicas dos alimentos.
A Tecnologia de Alimentos inclui a seqncia de operaes desde seleo da
matria-prima at o processamento, preservao e distribuio dos alimentos.
O que v i s a a Tec nol ogi a de Al i ment os ?
A Tecnologia de Alimentos orienta-se em duas direes: por um lado h o
in cio, a continuao ou o incremento da produo de alimentos mais sofisticados,
mais nutritivos, mais convenientes e mais atrativos, compreendendo uma srie de
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 1
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
alimentos que s podero ser adquiridos por pessoas de elevado poder aquisitivo;
por outro lado, o desenvolvimento dos processos tecnolgicos se orienta tambm
para o aproveitamento de subprodutos e para a produo de alimentos mais
nutritivos, que sejam oferecidos a baixo preo e possam ser utilizados por grande
parte da populao mundial, hoje carente de alimentos.
Qual a i mpor t nc i a da Tec nol ogi a de Al i ment os ?
A industrializao dos produtos agr colas pode contribuir consideravelmente
na melhoria da dieta de um pa s e do estado nutricional de seus habitantes.
A Tecnologia de Alimentos o v nculo entre a produo e o consumo dos
alimentos e s alcana bom rendimento se estiver intimamente associada aos
mtodos e progressos da produo agropecuria e aos princ pios e prticas da
nutrio humana.
Quai s oper a es s o c omument e ut i l i zadas na t ec nol ogi a de Al i ment os ?
- Manus ei o da mat r i a- pr i ma
- Trat ament os prel i mi nares:
- limpeza, seleo e classificao;
- fumigao;
- resfriamento;
- armazenamento.
- Transpor t e par a a f bri ca
- Pr epar o da mat r i a- pr i ma e oper a es pr el i mi nar es
- Li mpeza e pur i f i cao:
- lavagem seco, lavagem, aspirao;
- filtrao
- fumigao
- clorao da gua
- remoo das partes indesejveis (pel cula, v sceras,
ossos etc.);
- desintegrao e separao dos componentes (extrao,
moagem, triturao, centrifugao, filtrao etc.).
- Manuf at ur a dos pr odut os f i nai s .
- For mul ao.
- Oper ao de el aborao
- envelhecimento e maturao
- classificao e filtrao
- cristalizao
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 2
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
- envelhecimento e defumao
- secagem
- processamento pelo calor
- tratamento pelo frio (refrigerao e congelamento).
- Embal agem e di s t r i bui o
- embalagem
- empacotamento
- armazenamento
- transporte para mercado.
Como s e c l as s i f i c a os al i ment os s egundo s ua or i gem?
Classificam-se em animal, vegetal e mineral.
Quai s s o os al i ment os de or i gem ani mal ?
- Mel
- Ovos
- Carnes em geral
- Leite e seus derivados
- Pescados
Do que s o f or mados os al i ment os ?
a) Prote nas
b) Hidratos de carbono ou carboidratos
c) Gorduras ou lip deos
d) Sais minerais
e) Vitaminas
f) gua.
Quai s as f un es de c ada gr upo dos f or mador es dos al i ment os ?
a) Pr ot e nas
Responsveis pela construo e reconstruo dos tecidos do corpo,
desde o embrio at a idade adulta.
Ex: carnes, leite, ovos, soja, lentilha, feijo.
b) Carboi drat os
So fornecedores de energia.
Ex: mel, acar, melado, farinha, cereais.
c) Li p deos
Fornecedores de calor e energia, e so condutores de vitaminas.
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 3
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Ex: manteiga, carnes gordas, abacate, amendoim.
d) Sai s mi nerai s
Responsveis pelo crescimento, formao do sangue, e entram na
constituio dos tecidos, dentes e ossos.
Asseguram o funcionamento normal dos nervos e msculos. Os mais
importantes so:
Clcio: maior constituinte do esqueleto (leite);
Fsforo: estrutura dos msculos e sistema nervoso (leite, carnes,
ovos);
Ferro: formao dos tecidos (gema de ovo, f gado, ostra);
Iodo: desenvolvimento mental (peixes de gua salgada, frutos do mar).
e) Vi t ami nas
So indispensveis para a boa sade e vigor. Embora encontrados em
pequenas doses nos alimentos, agem com grandes efeitos;
So vrias as vitaminas encontradas nos alimentos e que tem ao
importante no organismo, entre elas destacamos:
Vi t ami na A
- Regula e mantm em boas condies o tecido epitelial;
- promove o crescimento normal do organismo;
- protege os rgos da viso;
Alimentos onde se encontra essa vitamina: manteiga, leite, ovos,
f gado, leo de f gado de peixes.
Conservao - mesmo aps o cozimento a vitamina A conserva-se bem
nos alimentos de boa estabilidade, no se destri
pelo calor e so lipossolveis.
Vi t ami na B
- Auxilia na digesto de carboidratos;
- atua sobre o apetite, deixando-o normal;
- equilibra os nervos e msculos;
- assegura o crescimento normal.
Alimentos onde encontramos essa vitamina: gema de ovo, carne de
su nos.
Conservao - resiste razoavelmente ao calor, no sofrendo
destruio rpida. Conserva-se mais no calor seco que
no mido e hidrossolvel.
Vi t ami na C
- Manuteno das paredes dos vasos sang neos;
- indispensvel para a formao e crescimentos dos ossos;
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 4
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
- formao dos dentes;
- previne infeces comuns.
Essa vitamina praticamente no encontrada em produtos animais.
Conservao - Pssima resistncia ao calor e hidrossolvel.
Vi t ami na D
- Fixadora de clcio e fsforo nos ossos e dentes;
- previne o raquitismo;
Alimentos onde encontramos essa vitamina: leo de f gado de peixes,
manteiga, leite, ovo, peixes, f gado.
Conservao - uma das mais resistentes ao calor e lipossolvel.
O que s e ent ende por Cons er v a o de Al i ment o?
a aplicao aos alimentos de processos ou conjunto de tcnicas, visando a
impedir ou dificultar a atuao dos elementos promotores de alterao, de modo a
assegurar-lhes um considervel aumento da vida til, a par da fixao - tanto
quanto poss vel - das suas propriedades originais.
Como s e c l as s i f i c am os Mt odos de Cons er v a o?
Classificam-se quanto ao modo de atuao e quanto sua natureza.
Quanto ao modo de atuao podem ser:
- Germicida: eliminam os microorganismos;
- Bacteriosttico: impedem ou dificultam a vida microbiana;
Quanto natureza podem ser:
- F si cos
- Temperatura:
calor (pasteurizao, esterilizao, desidratao,
dessecao, defumao);
frio (refrigerao, congelamento, liofilizao).
- Radiaes Ionizantes;
- Osmose Reversa.
- Qu mi cos
- Substncias Orgnicas (cidos e seus sais), acares, lcoois,
formalde dos;
- Substncias Inorgnicas (sais de cidos inorgnicos), metais,
gases, perxidos.
- Bi ol gi cos
- Antibiticos e Fermentaes.
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 5
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Quai s os pr oc es s os ut i l i zados na I nds t r i a de Al i ment os ?
Processos F sicos: Apenas operaes mecnicas de subdivises simples ou
com separao de partes. Ex: Centrifugao, corte, rala,
prensa, sedimentao.
Processos Qu micos: Utiliza-se o emprego de substncias qu micas. Ex:
Obteno de margarina por hidrogenao de leos.
Curas de carnes
Processos Biolgicos: Quando existe atuao de microorganismos e/ou de
enzimas. Ex: Queijos, iogurtes, vinho, vinagre,
cerveja.
Qual a f i nal i dade da I nds t r i a de Al i ment os ?
- Promover o abastecimento adequado s populaes, permitindo
acesso fcil aos diferentes alimentos necessrios em quantidade e qualidade
alimentao humana;
- Aproveitar em escala crescente, os res duos de importncia
econmica;
- Obter novas modalidades de mesclas alimentares complementadas
ou enriquecidas;
- Atender as exigncias dos mercados consumidores.
Qual o pr i nc i pal el ement o na I nds t r i a de Al i ment o?
O principal elemento a gua que deve ser limpa e de boa qualidade para
no comprometer o produto final.
Quai s os obj et i v os da c ons er v a o dos al i ment os ?
A atuao dos processos de conservao comumente empregados pela
Indstria de Alimentos tem com objetivos:
- Eliminar ou dificultar a atuao de microorganismos (bactrias,
mofos e leveduras);
- destruir as enzimas ou inibir a ao enzimtica;
- diminuir o teor der gua dos alimentos, j que isto favorece no s a
multiplicao de microorganismos, como a atividade enzimtica.
Quai s as f i nal i dades e as v ant agens da c ons er v a o dos al i ment os ?
Alm da finalidade de promover o aumento da vida de prateleira do alimento
resguardando, tanto quanto poss vel, suas propriedades originais, a conservao
apresenta, em decorrncia, as seguintes vantagens:
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 6
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
- Fazer face, com xito, aos per odos de entressafra;
- promover o necessrio equil brio entre a oferta e a procura, por
ocasio de safras deficitrias ou nulas;
- regular o fluxo das demandas exigidas pelo setor de transformaes
da Indstria de Alimentos;
- ampliar o mbito da comercializao, inclusive no setor
internacional;
- prover o abastecimento adequado das populaes, possibilitando a
estas, em todas as partes do mundo, acesso fcil aos diferentes
alimentos habituais dieta humana, permitindo, desse modo, uma
crescente universalizao dos padres alimentares recomendados
pela cincia da nutrio, independentemente do local ou da poca em
que estes alimentos sejam produzidos;
- reduzir o peso e o volume dos alimentos - facilitando e tornando mais
barato o transporte - no caso em que os processos empregados
impliquem em perda de gua, como o caso da salga, da
dessecao, da desidratao convencional ou da liofilizao.
Como os mi c r oor gani s mos s e c ompor t am f r ent e t emper at ur a e c om
podemos c l as s i f i c -l os ?
Os microorganismos comportam-se, frente temperatura, do seguinte modo:
- A 0
o
C, so praticamente inativos e tal inatividade se acentua,
medida que a temperatura vai aumentando, em graus negativos;
- medida que a temperatura, a partir de 0
o
C, vai subindo na escala
termomtrica, no sentido positivo, a atividade dos microorganismos
vai crescendo progressivamente, at atingir um timo entre 35 e
40
0
C;
- aps 40
0
C, tal atividade vai decaindo, at que, aos 100
0
C, a quase
totalidade dos microorganismos destru da, mesmo em se tratando
de microorganismos termfilos;
Os microorganismos, quanto temperatura, so classificados em:
- Psicrfilos, cujo timo de ao se encontra em torno de 10
0
C;
- mesfilos (onde se enquadram os microorganismos patognicos),
cujo timo de atuao se situa em torno de 36,5
0
C;
- termfilos, cujo timo de atuao se encontra em torno de 55
0
C.
O que s e ent ende por apl i c a o de c al or e c omo podemos def i ni - l o
quant o ao s eu modo de at ua o e s ua nat ur eza?
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 7
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Fala-se em aplicao de calor, quando submetemos um alimento a
temperaturas superiores a 20
0
C, fazendo-se variar a intensidade da temperatura, de
acordo com o processo que se pretende aplicar; assim, na defumao lenta
(tambm chamada a frio), a temperatura oscila entre os 25 e os 30
0
C, enquanto
na appertizao (esterilizao industrial), atinge ou, mesmo, ultrapassa os 130
0
C.
O calor quanto ao modo de atuao se enquadra entre os mtodos
nitidamente germicidas; isto, quando a sua intensidade de, pelo menos, 100
0
C,
pois somente a partir desta temperatura, que se conseguem a destruio de
microorganismos e das enzimas.
Quanto a sua natureza, o calor se enquadra entre os mtodos f sicos.
O que i nt er es s a s aber s obr e os pr oc es s os que ut i l i zam o c al or na
c ons er v a o de al i ment os ?
Em todos os processos de conservao pelo calor interessam,
principalmente, dois fatores, a saber:
a) alcanar o grau de temperatura desejado e
b) a manuteno da ao do calor.
O primeiro de grande importncia, pela sua influncia sobre os caracteres
organolticos do produto final; um aquecimento que no atinja o grau de
temperatura adequado, no ser suficiente para a destruio dos microorganismos
e o que ultrapasse este ponto, promove grandes modificaes no produto, no s
quanto aos caracteres organolticos, como, tambm, quanto composio qu mica
e ao valor nutritivo. Se os produtos a conservar fossem sempre os mesmos,
exigindo, conseqentemente, um mesmo grau de temperatura, tudo seria simples;
mas, na Indstria de Alimentos, os produtos so heterogneos, de modo que no se
pode estabelecer um regime geral para todos e isto, justamente, o que complica a
determinao do ponto de esterilizao.Correntemente, para a grande maioria dos
produtos, ele est sempre acima de 100
0
C (de 115 a 120
0
C), sendo, contudo, menor
(cerca de 90
0
C), quando se emprega a tyndalizao, tambm chamada de
esterilizao fracionada, que consiste em se submeter o produto, sucessivamente,
ao calor e ao frio, por vrias vezes, de maneira a atingir os microorganismos
esporulados.
Quanto ao seu segundo fator - manuteno do calor - a questo no ,
apenas, atingir o grau de temperatura desejado, mas, sim, mant-lo por um per odo
adequado de tempo.
Infelizmente, no h normas que o determinem, j que ele est relacionado
com a consistncia, a natureza e a estrutura do alimento a conservar, pois estes
elementos que conferem ao produto maior ou menor grau de condutibilidade
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 8
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
trmica, uma vez que, dentro dos recipientes, a transmisso do calor se faz por
conveco; como as matrias orgnicas so ms condutoras e sendo necessrio
que o calor se expanda por toda a massa e todas as camadas, o aquecimento no
pode durar menos de 30 minutos, alcanando, em alguns tipos de conserva, at 2
horas. Assim, no caso de leguminosas secas (ervilhas, gro de bico, feijes etc.)
que deixam espaos livres entre as diversas unidades, a transmisso por
conveco se faz muito bem; nas carnes com molho (almndegas, etc.) tal
transmisso j no se processa to bem, em virtude do volume excessivo dos
pedaos de carne; finalmente, nos produtos de consistncia uniforme (extrato de
tomate, massas de frutas, gelatinas etc.), ainda mais dificilmente processa a
conveco.
Quai s s o as t c ni c as de apl i c a o do c al or ?
- Pasteurizao;
- Apertizao;
- Defumao;
- Desidratao.
O que s e ent ende por Pas t eur i za o e c omo podemos c l as s i f i c - l a?
Entre as diversas tcnicas de aplicao do calor, uma das mais comuns vem
a ser a PASTEURI ZAO - utilizada para alimentos l quidos - na qual so
empregadas temperaturas apenas suficientes para des t r ui r a f l or a mi c r obi ana
pat ogni c a; lembramos, aqui, que os microorganismos patognicos so mesfilos,
isto , tm o seu timo de atuao em torno de 36
0
C, no resistindo a temperaturas
superiores a 65
0
C. Na pasteurizao, visamos a duas finalidades num mesmo
proveito, a saber: mxima destruio de microorganismos e esporos, com o m nimo
de alterao do produto, o que vem a ser duas coisas completamente opostas. Da ,
intervirem, no caso, dois fatores, isto , tempo e temperatura; segundo a
combinao que se faa com eles, vamos ter trs tipos de clssicos de
pasteurizao, a saber:
a) a pasteurizao chamada baixa ou lenta; na qual o produto submetido a
temperaturas de 60 a 70
0
C, durante cerca de 30 minutos;
b) a pasteurizao dita alta ou rpida, feita a temperaturas de 70 a 75
0
C,
durante 2 a 4 minutos e.
c) a pasteurizao em capa delgada, realizada a temperaturas de 70 a 75
0
C,
por um per odo de 10 a 15 segundos.
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 9
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Como cuidado complementar (preservao), qualquer dos tipos de
pasteurizao seguido de resfriamento rpido a uma temperatura de cerca de
5
0
C, sendo o produto, em seguida, envasado em recipientes esterilizados.
O que s e ent ende por Apper t i za o?
Outra tcnica de aplicao de calor vem a ser a APPERTI ZAO, tambm
chamada, impropriamente de esterilizao, Nas consideraes gerais que fizemos
sobre o calor, j nos referimos a ela o suficiente, recordando, aqui, que se aplica a
produtos previamente envasados e se efetua a temperaturas de mais ou menos
120
0
C, sob presso de 5 libras, variando o tempo de aplicao, com o maior ou
menor grau de condutibilidade trmica do produto. Como cuidado complementar, os
envases devem ser submetidos a resfriamento rpido.
O que s e ent ende por Def uma o e quai s s uas c ar ac t er s t i c as quant o a
s ua modal i dade?
Outra tcnica de aplicao de calor vem a ser a DEFUMAO. A fumaa de
certas madeiras contm produtos diversos, tais como cresis, fenis, guaiacis,
lcoois met lico e et lico, cido actico e frmico, CO
2
, CO, alde do frmico etc. -
conjunto denominado de substncias empireumticas - que tm ao anti-sptica,
atuando, portanto, como bactericida; esta ao acompanhada pelo calor, razo
pela qual a defumao considerada um processo de conservao misto. Na
aplicao do processo, devem ser evitadas as madeiras resinosas, que iriam
conferir gosto e cheiro desagradveis aos produtos. A defumao, processo mais
comumente empregado para carnes (presuntos, lombo etc.), embutidos (paio,
lingias etc.) e pescados (arenques, ovas etc.), aplicada, via de regra, aps um
tratamento prvio, de cura, obtendo-se, com ela, os seguintes efeitos:
a) ligeiramente desidratante;
b) proporciona substncias antioxidantes, o que evita a rancificao;
c) confere propriedades organolticas especiais ao produto;
d) deixa a superf cie do produto impregnadas de anti-spticos e germicidas;
e) possui ao tenderizante (amaciadora), pelo aumento da atividade
enzimtica.
H duas modalidades de defumao, a saber: a rpida ou quente que se
processa em temperaturas de 70, at 100
0
C e a chamada lenta ou fria, porque
bem mais demorada e na qual a temperatura raramente ultrapassa os 25/30
0
C.
O que s e ent ende por Des i dr at a o?
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 10
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Outra tcnica de aplicao de calor vem a ser a DESI DRATAO,
compreendendo-se, como tal, a perda de gua pelos alimentos, o que conseguido
atravs da dessecao, ou secagem ao sol e pela desidratao propriamente
dita, ou seja, quando a perda de gua provocada atravs de mtodos industriais.
Quanto aos seus efeitos, pode-se dizer que a dessecao consiste numa perda
parcial de gua dos alimentos, enquanto que a desidratao vem a ser a perda, ao
mximo poss vel, da gua contida nos alimentos.
A dessecao, ou seja, a simples exposio do alimento ao sol e ao vente,
limita-se, conseqentemente, a locais e pocas em que tal exposio seja
favorvel, restringindo-se sua aplicao a frutas aquosas (damascos, figos, uvas,
ameixas etc.) e, em regies particularmente favorveis, pelo alto ndice de
insolao e regime de ventos, como o caso do nordeste brasileiro, aplicada
tambm a carnes e certos tipos de peixes (carne e peixe de sol).
A desidratao industrial, pelos cuidados de higiene com que efetuada,
confere aos alimentos altos ndices de sanidade e de estado sanitrio,
assegurando-lhes um tempo de vida til bastante prolongado, em virtude da quase
total retirada de gua dos mesmos; j a dessecao, tendo em vista as condies
ambientais em que se realiza (cu aberto), expe os alimentos no s ao ataque de
microorganismos (contaminaes), como, tambm, ao de macroelementos,
principalmente moscas, pssaros e roedores; alm disto, a quantidade de gua que
neles permanece muito maior, o que favorece a atividade microbiana e
enzimtica, reduzindo, assim, o tempo de vida til dos alimentos.
Em vista do exposto, trataremos, apenas da desidratao, ou seja, da perda
de gua conseguida atravs da aplicao de tcnicas industriais, que so diversas
e que variam de acordo com a natureza do alimento. Assim, para alimentos
l quidos, so habitualmente usados:
- aquecimento em cmaras a vcuo (ex: obteno leite evaporado);
- sistema de nebulizao;
- sistema de cilindros aquecidos;
- liofilizao.
No que diz respeito a alimentos slidos, as tcnicas mais usadas so:
- cmaras com movimentao de ar aquecido;
- tneis com ar aquecido em contracorrente;
- secadores a vcuo;
- liofilizao, tcnica que ser detalhada ao tratarmos do frio.
A desidratao apresenta aspectos positivos, a par de outros tantos
negativos. Entre os primeiros, podemos destacar:
a) custo relativamente baixo;
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 11
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
b) ao bacteriosttica, por eliminao da gua dispon vel;
c) facilita e torna menos onerosos o transporte e a estocagem dos produtos
obtidos, por acentuada diminuio de peso e de volume dos mesmos;
d) aumento considervel do tempo de vida til.
Quanto aos aspectos negativos, encontramos:
a) descaracterizao total da morfologia dos alimentos, quer slidos, quer
l quidos;
b) geralmente, no promove uma boa reconstituio, mesmo em se tratando
de alimentos l quidos;
c) a perda parcial dos princ pios nutritivos termo-lbeis.
Como cuidados complementares, observamos:
a) a utilizao de envases impermeveis, visando, essencialmente, a evitar a
umidade;
b) sempre que a natureza do envase o permita, indicado promover o vcuo
nos mesmos, ou substituir o ar por um gs inerte, com vistas a impedir a
oxidao;
c) estocar os envases em temperaturas no superiores a 15
0
C.
O que s e ent ende por apl i c a o do f r i o e c omo podemos def i ni - l o quant o
ao s eu modo de at ua o e s ua nat ur eza?
Fala-se em aplicao de frio, quando submetemos um alimento a
temperaturas inferiores a 20
0
C, fazendo-se variar a intensidade da temperatura, de
acordo com o processo que se pretende aplicar; assim, enquanto que para a
conservao de hortalias, so usadas entre 5 e 10
0
C (positivos), na conservao
de outros alimentos (carnes, por exemplo), podemos usar choques de frio, com
temperaturas de 40
0
C negativos, ou mais.
O frio, quanto sua atuao, se enquadra entres os mtodos que, atuando
diretamente sobre os germes, impedem ou dificultam a vida microbiana e a atuao
das enzimas.
Quanto sua natureza, o frio se enquadra entre os mtodos f sicos.
Enquanto o emprego do calor destri no s microrganismos e enzimas, mas,
tambm, a vitalidade das clulas constitutivas dos alimentos, o frio se limita,
durante todo o tempo de sua atuao, a inativar os primeiros e a manter em
suspenso os fenmenos vitais prprios das clulas, fenmenos esses que retomam
sua continuidade, to pronto cesse a atuao do frio. Por outro lado, o frio o
agente f sico - a par das radiaes ionizantes - que menos descaracteriza os
alimentos e menor modificao provoca no seu valor nutritivo, caracteres
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 12
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
organolticos e composio qu mica, fatos estes muito importantes no s para a
Diettica e Dietoterapia, como, tambm, para a Tcnica Diettica.
Quai s as c ondi es bs i c as nec es s r i as par a um bom r es ul t ado em
c ons er v ar al i ment os pel o empr ego do f r i o?
Para se obterem bons resultados com o emprego do frio, deve ser
respeitada, pelo menos trs condies bsicas, a saber:
- que se parta de alimentos absolutamente sos e em perfeitas condies
sanitrias;
- que os alimentos sejam submetidos ao frio, logo aps a sua obteno; isto,
no sentido de roubar-lhes seu prprio calor, j que este favorece a evoluo
das diversas causas biolgicas de alterao (ao enzimtica, fora
germinativa, processo de maturao etc.) e permite a multiplicao de
microrganismos;
- que o emprego do frio mantenha uma continuidade, desde o inicio do
processo, at a ocasio em que os alimentos sobre os quais atuem, venham
a ser utilizados pelo consumidor. Industrialmente, tal continuidade
conhecida como cadeia de frio.
Quai s f at or es s o c ons i der ados par a que s e t enha mel hor r endi ment o na
apl i c a o do f r i o?
Para se obter o melhor rendimento na aplicao do frio, deve-se observar a
Lei de Fourier:
A quantidade de calor, por caloria - hora, cedida por um corpo ao meio
frigor fico, diretamente proporcional a trs fatores, a saber:
Al f a - Vem a ser o coeficiente de condutibilidade trmica do agente
frigor fico que se utilize; nas cmaras frigor ficas comuns, tal agente o ar;
conseqentemente, neste caso, alfa muito pequeno, porque o coeficiente de
condutibilidade trmica de todos os gases pequeno; j os l quidos, o tm de dez a
vinte vezes maior. Esta a razo pela qual, no caso do pescado, usa-se,
preferencialmente, como agente frigor fico, a salmoura.
Del t a T - Vem a ser a diferena de temperatura existente entre a temperatura
do alimento a resfriar e a do meio frigor fico; assim, quanto menor o valor de Delta
- T, mais rapidamente ser atingida a temperatura desejada. No caso do
congelamento, por exemplo, o modo pelo qual se consegue reduzir este valor,
roubando, previamente, temperatura ao alimento, pela refrigerao, de modo,
porm, a no se alcanar a temperatura cr tica em que se formam os cristais.
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 13
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
S - Vem a ser a superf cie do material a resfriar e se encontra diretamente
vinculado relao S/M (superf cie sobre massa); o resfriamento tanto mais
rpido, quanto maior for a superf cie e tanto mais leve seja o produto. A espessura
do mesmo determinada pela direo m nima da seo mxima do pedao que se
quer resfriar; assim, quanto menos espesso, mais rpido ser o resfriamento.
Quai s s o os mt odos de apl i c a o do f r i o ut i l i zados pel a I nds t r i a de
Al i ment os ?
- Pr - Refrigerao;
- Refrigerao;
- Congelamento;
- Liofilizao.
O que s e ent ende por Pr - Ref r i ger a o?
Como o nome indica a Pr-Refrigerao consiste numa etapa prvia
refrigerao: nela, leva-se o alimento a uma temperatura positiva, prxima de 0
0
C
(geralmente, cerca de 4
0
C), com a finalidade de diminuir o fator Delta-T, isto , a
diferena de temperatura existente entre o alimento e o ambiente onde vai sofrer a
refrigerao propriamente dita.
O que s e ent ende por Ref r i ger a o?
A Refrigerao consiste em levar o alimento a uma temperatura de 4
0
C a -
1
0
C, no sentido de inibir no s a multiplicao microbiana, como todas as outras
causas biolgica de alterao dos mesmos, principalmente a ao enzimtica.
O que s e ent ende por Congel ament o e quai s s uas v ant agens ?
um processo no qual submete-se o alimento, desde alguns graus
cent grados negativos, at os chamados choque de frio; o congelamento pode ser
lento, isto , levar 2 a 3 dias (dependendo das caracter sticas e volume do
alimento), porm, atualmente, quase que s empregada. O congelamento rpido
ou choques de frio, tcnica que permite ultrapassar rapidamente a chamada
temperatura cr tica - que, no caso de carnes, situa-se entre os -1,6
0
C e -3,9
0
C; se
assim no for feito, o frio vai promover a congelamento da gua de constituio em
cristais muito grandes (como ocorre quando se aplica a congelamento lento), que
rompem a estrutura celular, por ocasio do descongelamento; no caso do
congelamento rpido, ao contrrio, produzem-se cristais muito pequenos, que no
provocam esse inconveniente, j que, ao ser descongelado o alimento, eles se
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 14
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
reincorporam imediatamente ao protoplasma de que originalmente faziam parte, de
modo que no h irreversibilidade dos colides.
As pr i nc i pai s v ant agens do c ongel ament o:
- aumento considervel do tempo de vida til, em virtude da ao
bacteriosttica e paralisao de todas as causas biolgicas de
alterao;
- manuteno na estrutura morfolgica e f sica;
- idem quanto aos caracteres organolticos e composio qu mica;
- excelente estabilidade de armazenamento, desde que respeitadas as
condies adequadas de umidade e temperatura;
- manuteno dos princ pios nutritivos e termolbeis.
O que s e ent ende por l i of i l i za o e quai s s uas v ant agens ?
Li of i l i zar significa levar ao estado seco uma soluo congelada, impedindo o
seu descongelamento enquanto se processa a sua evaporao; isto , a soluo,
reduzida a um slido gelado, sublima o prprio solvente e se transforma,
diretamente, em substncia seca. Essa sublimao se processa a presso baixa, o
que implica no emprego de um alto vcuo. A substncia a ser liofilizada deve ser,
inicialmente, congelada, ou melhor, levada a uma temperatura menor que seu ponto
euttico (mistura de componentes slidos que, ao fundir-se, fica em equil brio com
um l quido da mesma composio que a sua, e cuja temperatura de fuso um
m nimo na curva, ou na superf cie de fuso do sistema.) ou ponto criidrico, para, a
seguir, ser submetida ao alto vcuo, para efeito de sublimao. O slido resultante,
perfeitamente seco, conserva a forma original e a reduo de volume m nima.
Com base em dados experimentais, nasceram as diversas tcnicas e os
diversos aparelhos para liofilizar; todos, indiscutivelmente representados por um
recipiente de evaporao, um condensador frio e uma bomba de alto vcuo. O
vapor que se libera pela sublimao do material congelado, presente na cmara de
evaporao, captado pelo condensador, no qual, evidentemente, deve ser
resfriado a uma temperatura inferior quela do material em liofilizao. Registre-se
que a aplicao prtica do mtodo limita-se s substncias cujo l quido solvente a
gua e, portanto, o que sublima, durante a liofilizao, o gelo.
Em resumo: quanto aplicao, a substncia a ser liofilizada envasada em
recipientes apropriados e, aps congelamento rpido, submetida a um vcuo
intenso que promove a sublimao do gelo formado; ao final do processo, resta
uma pequena quantidade de gua residual, que retirada elevando-se um pouco a
temperatura, at que permaneam no produto, to somente de 0,5 a 0,1% de
umidade.
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 15
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Constituindo a liofilizao um processo que preserva a integridade f sica e a
composio qu mica das substncias a ele submetidas (mantendo, outrossim, a sua
estrutura molecular, conferindo-lhe a garantia de pronta solubilidade e condies
de trabalho absolutamente estril, alm de permitir a sua estocagem por tempo
indeterminado, mesmo temperatura ambiente), torna-se um processo de eleio
para a conservao de inmeros alimentos, tais como, carne, ovos, leite, sucos etc.
Teoricamente, grande variedade de alimentos pode ser liofilizada; na prtica,
porm, deve ser considerado o custo da operao, isto , a sua rentabilidade
comercial. Com relao a este fato, o mais importante a considerar a capacidade
de aparelhagem e a sua maneira operacional, ou seja, ela deve ter um rendimento
to alto, que torne a operao barata, de modo a poder ser aplicada inclusive aos
alimentos de baixo valor monetrio.
A liofilizao tem sido usada comercialmente, em medicamentos e
substncias afins, embora exista aplicao no processamento de camares,
lagostas, bananas, sucos de frutas e extratos de bebidas estimulantes,
especialmente o caf.
Alm das mesmas vantagens obtidas no congelamento, podemos somar as
seguintes:
- em virtude da temperatura empregada, muito baixa a perda de
constituintes volteis (apesar do alto vcuo), sendo, portanto, o
processo ideal para a conservao de sucos de frutas como laranja,
abacaxi, maracuj e outras espcies aromticas;
- no h formao de espuma, pelo fato das substncias proticas no
sofrerem desnaturao;
- garante a completa e instantnea reconstituio dos alimentos;
- garante a perfeita disperso das part culas coloidais, evitando, com
isso, a tendncia que tem de se concentrarem, isto , de
coagularem;
- em virtude do alto vcuo usado durante todo o processo, no existe
oxignio suficiente, mesmo para as mais rpidas oxidaes, de modo
que mesmo os constituintes mais facilmente oxidveis ficam
protegidos desta reao indesejvel;
- absoluta estabilidade do produto final, em virtude da escass ssima
quantidade de gua que resta;
- grande reduo do peso do alimento, j que fica reduzido,
praticamente, ao seu extrato seco.
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 16
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
O que s e ent ende s obr e r adi a es i oni zant es e c omo podemos ut i l i z-l a
na I nds t r i a de Al i ment os ?
A irradiao de alimentos, tambm chamada de esterilizao a frio,
concorre para a soluo dos problemas relacionados conservao de alimentos,
em moldes perfeitamente competitivos com os mtodos j conhecidos. No obstante
haverem decorridos mais de 30 anos, desde que foram iniciados os primeiros
esforos no sentido de usar a tecnologia da irradiao na conservao de
alimentos, ainda no se pode constatar, pelo menos entre ns, a aplicao
comercial de tal tecnologia nem a sua aceitao incondicional. A irradiao,
atualmente, pode ser utilizada no terreno do abastecimento alimentar, para:
- prolongar o tempo de vida til de frutas e outros tipos de vegetais;
- garantir um bom armazenamento, desde que combinada a baixas
temperaturas;
- retardar o amadurecimento de frutas;
- destruir os fungos causadores de alteraes;
- combater os insetos comprometedores das colheitas;
- controlar o per odo de germinao, especialmente o de batatas e o
de cebolas;
- aumentar as colheitas, por irradiao das sementes;
- esterilizar ou pasteurizar produtos aliment cios diversos;
- melhorar certos caracteres organolticos de alguns alimentos, como
o aroma e o sabor do caf, de leos essenciais, a brancura da
farinha de trigo etc.
Tecnicamente, h dvidas sobre se a irradiao deve ser inclu da, ou no,
entre os aditivos; sob certos ngulos - a saber, quando atua como conservador e
melhorador - pode ser considerada como tal, embora a quantidade de aditivos
propriamente ditos relacionados aos alimentos, possa ser avaliada atravs de
anlises qu micas, j que os aditivos remanescem nos alimentos. Embora isso no
suceda com as radiaes ionizantes, nos Estados Unidos, a Food and Drugs
Administration as consideram como aditivos.
Em Tecnologia de Alimentos existe, relativamente aplicao da irradiao e
s doses empregadas, uma terminologia prpria, tal seja:
RADEURIZAO (radiao - pasteurizao), quando se usa doses baixas, de
5 a 10 krads.
RADCIDAO (radiao - bactericida), quando se usam doses mdias, de 10
a 100 krads.
RADAPPERTIZAO (appertizao), quando se usam doses elevadas, de 4,5
a 5,6 Mrads.
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 17
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Os efeitos, como os nomes sugerem, so, respectivamente, de
pasteurizao, de ao bactericida e de esterilizao.
O que s e ent ende por f er ment a o na I nds t r i a de Al i ment os ?
Embora todos os mtodos de conservao visem, principalmente, a destruir
os microorganismos ou a impedir a sua multiplicao, h casos em que lanamos
mo de determinados microorganismos, no sentido de evitar a alterao por
putrefao dos alimentos; isto, porque existe uma diferena n tida entre
fermentao e putrefao; enquanto a primeira um processo de oxidao
anaerbia (ou parcialmente anaerbia) de glic dios, a putrefao significa uma
degradao anaerbia dos prot deos; ambas, causadas por grupos de
microrganismos diferentes. A produo de certa quantidade de cidos, pelos
primeiros, baixando o pH do meio, cria condies desfavorveis para a atuao dos
segundos. Assim, por exemplo, na acidificao do leite, algumas bactrias -
especialmente os bacilos - atuam sobre a lactose, transformando-a em cido
lctico, fato que impede o desenvolvimento da flora proteol tica que, atuando sobre
as prote nas, levaria o leite putrefao. Para que os microrganismos sejam
considerados teis, com vistas fermentao, devem ser capazes de crescerem
rapidamente em um substrato e meio adequados e serem facilmente cultivveis em
grandes quantidades; outrossim, devem manter uma constante fisiolgica sob as
condies anteriores e produzir, fcil e abundantemente, as enzimas essenciais
reao que se deseja.
A rigor, a fermentao no deve ser considerada, propriamente, um mtodo
de conservao, mas, sim, um processo de obteno de produtos aliment cios, j
que, na grande maioria das vezes, o produto final, aps sofrer a ao de fermentos,
(prprios, ou adicionados) adquire caracter sticas totalmente peculiares e bem
diversas das do alimento original. o que ocorre, por exemplo, com as bebidas no
- alcolicas - fermentadas (cerveja sem lcool, ginger - beer, vinagre etc.), com as
fermento - destiladas (aguardentes e suas variedades), com os encurtidos (picles,
chucrute, azeitonas etc.), com os leites acidfilos (coalhada, iogurte etc.), com a
manteiga, com o po e com as carnes curadas.
Os cuidados complementares fermentao consistem em evitar o ataque de
mofo, j que estes, metabolizando os cidos formados, levam o produto a um pH
elevado, o que favorece a atuao da flora proteol tica e, conseqentemente, a
putrefao. Assim, em muitos casos, faz-se necessrio o enlatamento e, para os
produtos no envasados em lata, a estocagem refrigerada.
Registre-se que, em alguns casos, o valor nutritivo do alimento aumenta, no
que respeita a vitaminas do complexo B, em virtude da atuao de leveduras.
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 18
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Quai s os f at or es que i nf l uenc i am a at ua o dos mi c r or gani s mos nos
pr oc es s os de f er ment a o na I ndus t r i a de Al i ment os ?
H diversos fatores que influenciam a atuao dos microrganismos, a saber:
- o pH do meio; sendo este, na maioria dos alimentos, inferior a 7
(exceo feita s carnes frescas, onde de cerca de 7,2) favorece
a atuao de microrganismos de fermentao;
- as fontes de energia para os microrganismos, as quais so, por
ordem de disponibilidade:
a) os glic dios solveis
s) os lcoois e cidos deles derivados
c) os prot deos - a comear pelos solveis; e, finalmente,
d) os lip deos.
- a disponibilidade em oxignio; se for generosa, resulta em
multiplicao microbiana, mas se for escassa, em aumento do
processo fermentativo;
- a temperatura do substrato, que determina, dentro de certos limites,
a natureza dos microrganismos capazes de produzir o tipo de
fermentao desejada;
- a ao do cloreto de sdio, que exerce, de acordo com a
concentrao, um papel seletivo sobre a flora que deve atuar.
Quai s s o as pr i nc i pai s s ubs t nc i as or gni c as ut i l i zadas na I nds t r i a de
Al i ment os e c omo s o empr egadas ?
SUBSTNCI AS ORGNI CAS
Entre estas, encontramos, principalmente, os cidos orgnicos e seus sais,
os Acares, os Formalde dos e os lcoois.
Os c i dos or gni c os so empregados com a finalidade de promover uma
acidificao inicial no meio, de maneira a impedir ou retardar a multiplicao dos
microrganismos, at que um outro processo de conservao propriamente dito,
comece a atuar.
J os s ai s dos x i dos or gni c os , so empregados, geralmente a posteriori
dos processos de conservao, no sentido de garantir a continuidade dos efeitos
destes, no que diz respeito atuao microbiana.
Os a c ar es - mais comumente, a sacarose - atuam como conservadores,
pelo fato de serem altamente higroscpios, retendo, assim, a umidade dos
alimentos, que no poder, em conseqncia, ser utilizados pelos microrganismos.
Esta a razo pela qual quanto maior for a concentrao de acar no meio, tanto
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 19
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
maior ser a sua capacidade de atuar como agente conservador, como ocorre, por
exemplo, no caso das gelias, das compotas e dos doces em massa.
Quando a concentrao pequena, como ocorre na conservao de carnes
por salga, os acares so empregados, a , como aditivos, visando:
a) mascarar o gosto amargo de certas impurezas provenientes do sal e da
adio de nitritos;
b) fornecer substrato para o desenvolvimento de bactrias redutoras, que
iro transformar os nitratos em nitritos;
c) amaciar a carne, pela sua ao tenderizante e.
d) produzir, por fermentao, uma certa quantidade de cidos, tornando,
assim, o meio desfavorvel ao desenvolvimento de bactrias proteol ticas.
Os l c ooi s , como agentes de conservao, atuam exercendo, ao anti-
sptica e resultam de fermentaes naturais que ocorrem, por exemplo, nas
bebidas alcolicos - fermentadas e nas fermento - destiladas.
Os f or mal de dos , pelas suas propriedades altamente anti-spticas, so
proibidos pelas legislaes sobre a alimentao dos diversos pa ses, sendo
permitida nos alimentos, apenas a presena daqueles que resultam da queima de
madeiras, como um dos componentes das chamadas substncias empireumticas,
utilizadas em defumao.
Quai s s o as pr i nc i pai s s ubs t nc i as i nor gni c as ut i l i zadas na I nds t r i a
de Al i ment os e c omo s o empr egadas ?
SUBSTNCI AS I NORGNI CAS
Entre estas, encontramos os Sais de cidos inorgnicos - principalmente o
NaCl, os nitratos e os nitritos e os hipocloritos - e, ainda, os Metais, os Gases e os
Perxidos.
A ao de natureza germicida, que os met ai s pes ados exercem sobre os
microrganismos (especialmente sobre as leveduras) denominada ao
oligodimmica. O metal mais comumente usado a prata e o processo recebe,
industrialmente, o nome de mtodo catadyn.
Os gas es , na conservao de alimentos, atuam como coadjuvantes de outros
processos; o que ocorre com o dixido de carbono, como suporte da conservao
pelo frio, com o nitrognio e, ainda, com o dixido de carbono, atuando como gases
inertes nos enlatados submetidos appertizao.
Dentre os per x i dos , a gua oxigenada foi bastante empregada como um
preservativo do leite fresco. Atualmente, embora em pequena escala, podemos
observar o seu uso nos processos de pasteurizao.
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 20
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Os ni t r at os e ni t r i t os , tal como ocorre com os acares, so empregados
como aditivos nos processos de salga de carne e isso porque, a par de sua ligeira
ao bacteriosttica sobre os anaerbios, conferem ao produto final uma colorao
rsea, bastante aproximada da colorao original do alimento. Tal fato pode ser
explicado porque a carne fresca deve sua colorao mioglobina, substncia muito
semelhante hemoglobina. Quando tratamos a carne fresca apenas pelo sal de
cozinha, a mioglobina convertida em metamioglobina, de cor acinzentada e pouco
atraente, cor esta que se acentua pelo aquecimento; em contrapartida, se juntarmos
nitrato ao sal ou salmoura, ele convertido a nitrito, pela ao de bactrias
redutoras. O nitrito formado se combina com a mioglobina, formando o complexo
nitroso - mioglobina, composto de colorao rsea, estvel, que, pelo aquecimento,
convertido em nitroso - hemocromogneo, que confere ao produto a colorao
vermelho vivo observados nos produtos assim tratados.
Para apressar os processos de cura, pode-se usar, diretamente, o nitrito,
mas deve-se ter muito cuidado, para evitar que o excesso e/ou a m distribuio
provoque no produto, manchas de colorao marrom, caracter sticas, com gosto
nitidamente amargo. Por isso, o mais usual o emprego concomitante de nitratos e
nitritos, de modo a se ter, sempre, uma fonte formadora de nitrito, pela reduo
progressiva do nitrato. Registre-se que nitratos e nitritos no so substncias
inofensivas; quando em excesso, podem provocar fenmenos de cianose grave,
devido ao seu efeito redutor tambm sobre a hemoglobina, impedindo a esta de
exercer o seu papel como transportadora de gases.
Os hi poc l or i t os , geralmente de clcio ou de sdio, liberam cido hipocloroso
(HClO), agente oxidante poderoso e, igualmente, germicida potente, destruindo os
microrganismos por oxidao, ou por clorao direta de suas prote nas celulares.
Os hipocloritos so habitualmente empregados no tratamento da gua
utilizada na Indstria de Alimentos, bem como nas salmouras e, ainda, na
higienizao de utens lios e da maquinaria. Podem, tambm, ser utilizados para a
desinfeo do gelo empregado no transporte de pescado e na lavagem de frutas e
hortalias.
O emprego do c l or et o de s di o - processo industrialmente conhecido como
salga - constitui um mtodo de conservao misto, j que, embora sendo ele uma
substncia qu mica, atua principalmente por um efeito f sico, visto que a presso
osmtica exercida pelas suas solues concentradas, torna a gua de constituio
dos alimentos inaproveitvel para os microorganismos; a clula animal, no caso,
funciona como uma membrana permevel, deixando escapar sua gua de
constituio. Alguns autores admitem que, alm da ao desidratante, o sal se
combina com as prote nas, formando o chamado complexo salino - protico.
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 21
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
O cloreto de sdio pode ser empregado diretamente sobre o alimento (salga
a seco), porm, mais comumente, sob a forma de salmoura, sob a forma de banho
e, algumas vezes, de injeo. Quanto quantidade a empregar, quando ela visa,
apenas, a esperar que se manifeste a fermentao cida, pode ser de, apenas, 8 a
10%; se, porm, o que se visa impedir a multiplicao microbiana, as quantidades
vo de 13% at solues saturadas (26,5%).
Quai s as pec t os pos i t i v os e negat i v os r ef er ent es at ua o do c l or et o de
s di o na I ndus t r i a de Al i ment os ?
As pec t os pos i t i vos da at ua o do NaCl
- por ser altamente higroscpico, promove, por osmose, a retirada da gua
de constituio dos alimentos, privando-a dela os microrganismos;
- sensibiliza os germens ao do dixido de carbono;
- ao ionizar-se, libera on Cl
-
, txico para os microorganismos;
- reduz a solubilidade de O
2
na gua, dificultando a vida dos aerbios;
- inibe as enzimas proteol ticas;
- aumentando a presso osmtica, promove a plasmlise dos
microorganismos;
- em solues superiores a 13%, destri a Tri chi nel l a Spi ral i s;
- em solues saturadas (26,5%), destri, num per odo de 2 a 3 semanas, as
larvas do Ci st i cercus bovi s e as do Ci st i cercus cel ul osae;
- de preo muito baixo.
As pec t os negat i vos da at ua o do NaCl :
- diversos germens, entre eles, o Mycobact er i um t ubercul osi s, a ele resistem
por meses;
- no tem poder destruidor sobre as toxinas;
- nos produtos salgados no arejados (charque, lombo salgado etc.) pode
ocorrer o desenvolvimento de flora halfita;
- promove a perda de parte dos princ pios nutritivos solveis dos alimentos;
- se o sal empregado no for de muito boa qualidade, alm de conferir gosto
anormal ao produto, torna-o mais higroscpio.
O cloreto de sdio, alm de agir como selecionador da flora ambiente,
quando em concentraes baixas, bem assim como agente conservador, quando em
concentraes adequadas, , ainda, empregado na Indstria de Alimentos, como
exaltador da palatabilidade de certos produtos, como acontece no caso dos pes,
dos queijos e da manteiga salgada.
Como cuidados complementares salga deve-se promover o arejamento do
produto, para evitar a possibilidade do desenvolvimento de flora halfita, que vai
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 22
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
gerar o que, comercial e popularmente, conhecido como vermelho; pode-se
recorrer, tambm, utilizao de envoltrios adequados - cry o vac - devendo a
estocagem ser feita de modo a prevenir o ataque por parte do macrorganismos,
especialmente moscas e predadores.
NOVAS TECNOLOGI AS DE CONSERVAO
Dentre as novas tecnologias de conservao destacamos as "trmicas" tais
como:
-o aquecimento hmico onde o alimento atua como um resistor que se
aquece pela passagem de uma corrente eltrica em seu interior e
-os novos sistemas de trocadores de calor mais eficientes para
processamento assptico.
As tecnologias ditas "no-trmicas" compreendem:
-a ultrafiltrao para concentrao a frio de produtos fluidos e tambm sua
pasteurizao/esterilizao;
-a luz pulsante de alta energia que utiliza lmpadas de flash de alta potncia
que, quando disparadas, aquecem a superf cie de alimento at 2.000C em
milimicro 50 kV/cm, que provoca a ruptura da parede celular causando, desta
forma, a destruio dos microorganismos deteriorantes;
-o pulso eltrico de alta energia da ordem de 50 kV/cm, que provoca a
ruptura da parede celular causando, desta forma, a desnutrio dos
microorganismos deteriorantes;
-a radiao ionizante de alta energia, ainda que no to nova, tem
encontrado aplicaes mais amplas para a destruio de patgenos em alimentos,
principalmente Sal monel l a sp. e Li st er i a em carnes de frango e hambrgueres;
-as altas presses, da ordem de 4.000 a 10.000 atm, cujo princ pio baseia-se
na desnutrio das estruturas das prote nas, ocasionando, desta forma, danos aos
sistemas vitais dos microorganismos;
-os mtodos combinados, que associam fatores de stress sobre os
microorganismos, como pH, atividade de gua, princ pios ativos antimicrobianos,
temperatura, potencial redox, etc;
-a atmosfera modificada/controlada que, modificando a composio gasosa
do espao livre no interior das embalagens ou cmaras de estocagem ou silos,
reduz e/ou inibe o metabolismo respiratrio dos tecidos vivos dos microorganismos
e insetos, prolongando, assim, o per odo de vida-de-prateleira dos produtos
agropecurios;
-a microencapsulao que, envolvendo produtos sens veis ao ar, umidade e
outros fatores de degradao, permite a conservao por tempo prolongado de
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 23
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
aromas, vitaminas, pigmentos, etc. Permite ainda em certas aplicaes controlar a
taxa de liberais compostos.
Algumas tecnologias tm surgido para obteno de novos produtos/materiais
com alta qualidade.
A principal delas a extrao supercr tica que utiliza dixido de carbono em
condies supercr ticas, isto : temperaturas superiores a 31C a presses
superiores a 73bar. Controlando-se estas variveis poss vel se fazer uma
"sintonia fina" para solubilizar fraes de interesse para serem extra das.
A extruso supercr tica utiliza a alta presso do gs carbnico no estado
supercr tico e que contm dissolvido o composto de interesse, para produzir a
expanso de material extrusado. Desta forma, durante a expanso ocorre a
despressurizao do sistema e, como conseqncia, o soluto fica retido na matriz
expandida.
A fritura, ainda que conhecida de h muito, tem encontrado avanos tanto no
uso de novos materiais de fritura como, por exemplo, o Olestra, como em
tecnologias mais sofisticadas de controle desta operao.
O corte criognico com uso de nitrognio l quido de produtos destinados ao
congelamento. A vantagem deste processo a ausncia de l quidos e que dever
contribuir na minimizao de efluentes l quidos para tratamento, assim como pr
condicionar o produto para o congelamento.
A produo de bebidas com part culas em suspenso, obtidas pelo uso
adequado de hidrocolides.
importante destacar que as tecnologias j estabelecidas so boas, sendo
que geralmente demandam anlise de operao para otimizao de processo e
segurana de sade pblica. Na prtica, dentro de um mercado globalizante, pode
ser fator de sucesso de um produto.
( *)REALI ZAES DA CI NCI A DE ALI MENTOS NO SCULO XX
Neste sculo, as realizaes na cincia de tecnologia de alimentos
melhoraram a segurana e a qualidade do que comemos. Entre as vrias inovaes,
destacamos algumas das melhores, separadas por dcadas.
1900 - A embalagem a vcuo, que tem seu ar removido, foi criada para
prolongar a validade dos alimentos. O processo de hidrogenao foi inventado para
prevenir que as gorduras saturadas se tornem ranosas. Patentes americanas e
britnicas propuseram o uso de radiao por on para eliminar bactrias (1905). As
frutas congeladas foram comercializadas nos Estados Unidos e o congelamento de
peixes foi iniciado. O processo de congelamento, que transforma toda a gua nos
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 24
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
alimentos em gelo, resultou em um prolongamento da validade dos alimentos e
diminuio do desperd cio.
1910 - Primeira produo de massas em grande escala nos Estados Unidos.
1920 - desenvolvido o processo de congelamento rpido de alimentos e
iniciada a comercializao de vegetais congelados pelo processo de fervura rpida.
Ferver rapidamente os alimentos antes de congel-los preserva as enzimas que
inibem a descolorao e estimulam o desenvolvimento dos sabores, melhorando
assim a qualidade dos vegetais congelados. A fortificao de alimentos tem in cio
com a adio de iodo ao sal de mesa (1924).
1930 - O processo de congelamento a vcuo, que o congelamento rpido
seguido por secagem a vcuo em baixa temperatura, foi inventado para preservar
os alimentos. Nessa dcada a Vitamina D comea a ser adicionada ao leite atravs
de radiao ultravioleta (1933).
1940 - Inicia-se, em grande escala, a produo automatizada de alimentos.
Alimentos concentrados, desidratados e congelados, como sucos c tricos, so
produzidos em grande quantidade para ser enviados aos militares norte-americanos
no exterior.
A farinha de trigo comea a ser fortificada com vitaminas e ferro (1940).
Processamento e empacotamento assptico (alta temperatura, esterilizao
em curto per odo dos alimentos e seus recipientes) so desenvolvidos, melhorando
a qualidade, segurana dos alimentos e reteno dos nutrientes.
1950 - A embalagem de atmosfera controlada desenvolvida para prolongar
a validade dos alimentos frescos. Ela controla o oxignio e o dixido de carbono
nas embalagens para limitar a respirao e produo de etileno, e retarda o
amadurecimento e estrago. Em 1953, as foras armadas norte americanas comeam
o programa de irradiao de alimentos e descoberta a estrutura dupla do DNA,
marcando o fundamento da compreenso gentica e desenvolvimento da tecnologia
de recombinao do DNA.
1960 - A primeira planta de congelamento de alimentos a vcuo aberta e o
caf congelado a vcuo entra no mercado. Esse processo envolve um rpido e
profundo congelamento, seguido pela sublimao da gua atravs do aquecimento
do produto congelado em uma cmara a vcuo. Preserva os alimentos, retm sabor
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 25
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
original, aroma, tamanho, forma e textura quando desidratados. O processamento
controlado por computador melhora a qualidade e eficincia do produto. O FDA
aprova a irradiao para evitar estrago do trigo e da farinha de trigo (1963), para
inibir germinao nas batatas (1964) e para prolongar a validade das batatas
(1965). Latas asspticas so adotadas pelos produtores de alimentos.
1970 - O sistema de Anlise de Ponto Cr tico de Controle de Perigo (HACCP)
desenvolvido em conjunto pela administrao da Aeronutica Espacial Nacional,
Pillsbury Co. e o Natick Laboratories das foras armadas norte americanas, para
melhorar a qualidade e segurana dos alimentos processados para os astronautas.
A tecnologia de recombinao do DNA desenvolvida (1973).
1980 - As embalagens com atmosfera modificada, atravs da injeo de gs
de nitrognio, foram introduzidas para prolongar a validade dos alimentos e
proteg-los de estrago, oxidao, desidratao, perda de peso e queima.
Processamento e embalagem asspticos foram adotados nos Estados Unidos. O
Food and Drug Administration (FDA) aprova a irradiao para o controle da
Trichinella Speralis em carne de porco, para retardar o amadurecimento de alguns
vegetais e frutas (1986) e para o controle de microrganismos em temperos e ervas
(1986).
1990 - O sistema HACCP adotado pelos produtores de alimentos, em parte
por ser obrigatrio pelo FDA, para peixes e produtos derivados de frutos do mar
(1995), e pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), para
controlar bactrias ofensivas em aves congeladas frescas (1990) e carnes
vermelhas (1997). O processo de pasteurizao para cascas de ovo, aquecimento
hmico (passa uma corrente eltrica atravs do alimento para rapidamente aquec-
lo at uma temperatura de esterilizao) e pasteurizao rpida (aquecimento e
esfriamento rpido) de sucos frescos so comercialmente aplicados para melhorar a
segurana e qualidade dos alimentos. O processamento por alta presso (presso
hidrosttica de 50.000 a 100.000 psi) aplicado em alimentos embalados frescos
para matar os microrganismos, sem alterar o sabor, aparncia e valor nutritivo. A
pasteurizao a vapor e a vcuo de carcaa de boi introduzida para reduzir
micrbios. A enzima de engenharia rDNA chymosi n substitui o coalho na produo
da maioria dos queijos, por ser produzida em grande quantidade, e possibilita maior
consistncia na qualidade e pureza do produto. O primeiro alimento de engenharia
rDNA, um tomate com amadurecimento retardado, foi introduzido comercialmente
(1994). Sistemas de embalagem ativa, que interagem com o contedo ou com a
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 26
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
atmosfera interna da embalagem, so desenvolvidos para melhorar a qualidade dos
alimentos. Sucos c tricos que no so derivados de concentrados so
comercializados.
So introduzidos os produtos de gros fortificados com cido flico (1998) e
suco de laranja com clcio.
Alguns importantes acontecimentos do sculo estendem-se durante vrias
dcadas, como o enriquecimento de alimentos (os nutrientes perdidos no
processamento so adicionados de volta aos alimentos) e a fortificao (adio de
nutrientes que no esto originalmente presentes nos alimentos) para fornecer aos
consumidores importantes nutrientes e prticas seguras de enlatar alimentos.
Apesar do processo de enlatar alimentos ter sido desenvolvido entre 1775 e 1810,
s foi nos ltimos 60 anos que os cientistas de alimentos determinaram os
processos trmicos necessrios para enlatar determinados vegetais com segurana.
Um processo de enlatar seguro resulta em produtos comerciais esterilizados e com
prazo de validade mais longo.
PREVI SES PARA OS ALI MENTOS DO NOVO MI LNI O
O qu o ano 2000 guarda para os alimentos? Cientistas de alimentos dos
Estados Unidos enxergam sees dos supermercados exclusivas para alimentos
funcionais (produtos que fornecem benef cios sade alm dos nutrientes bsicos)
e p lulas para otimizarem a nutrio.
Eu vejo as prateleiras dos supermercados lotadas de alimentos funcionais
que so direcionados a pessoas com problemas de sade espec ficos, prev
Fergus Clydesdale, PHD, Professor e Diretor do departamento de Cincia de
Alimentos da Universidade de Massachusetts. Estes alimentos podem ser
codificados por cores que correspondem disposio gentica das doenas
crnicas, como cncer, diabetes e problemas do corao, ou aos riscos de sade,
como colesterol alto ou problemas de presso. Pessoas sens veis a tais problemas
de sade podero ento comprar alimentos com cdigos apropriados e, assim,
reduzir os riscos de sade. Esta idia combina com a tendncia atual, de os
consumidores usarem os alimentos como remdio. Segundo Health Focus (1998),
um tero dos consumidores escolhem regularmente alimentos para propsitos
mdicos, como mel para dores de garganta e suco de cramberry para infeces
urinrias.
As pessoas talvez tenham a opo de obter seus nutrientes dirios atravs
de p lulas ao invs de alimentos, diz Manfred Kroger, PHD, professor do
departamento de Cincia de Alimentos da Universidade do Estado da Pennsylvania:
Talvez tenhamos, por exemplo, vending machines que nos permitiro program-
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 27
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
las a partir de um perfil de sade e ento obter a p lula com o mximo de nutrientes
necessrios.
Porm Kroger reconhece que as p lulas no substituiro o prazer de comer,
no atualmente, mas compensaro os benef cios das substncias em alimentos que
ainda no so identificados. As pessoas, provavelmente, iro continuar a saborear
suas comidas favoritas, como steaks e chocolates, porm as p lulas nutrientes
iro compensar dietas no to saudveis ou complementar s saudveis.
( *) ESTA CRONOLOGI A DERI VADA EM PARTE DO FASC CULO DA FOOD
TECHNOLOGY , UMA PUBLI CAO DO I NSTI TUTE OF FOOD
TECHNOLOGI STS (I FT) , DOS ESTADOS UNI DOS.
Bi bl i ogr af i a Cons ul t ada
Alguns colorantes alimentarios, espesantes, condensados de humo y otras
sustancias FAO Informe tecnico 556 - 1974
Alimentos enlatados. Princ pios de controle de processamento trmico e avaliao
de fechamento de recipientes - ITAL - Campinas, Brasil - 1975
Atividade de gua: influncia sobre o desenvolvimento de microrganismos e
mtodos de determinao em alimentos. Martha Nelly, Uboldi Eiroa Campinas -
Boletim do ITAL v. 18 n 3 - Campinas, Brasil - 1981
Avaliao toxicologica de certos aditivos alimentares - FAO Informe tecnico 599 -
1976
Avaliao toxicologica de certos aditivos alimentares - FAO Informe tecnico 617 -
1978
Biologia dos fungos, bactrias e virus. Greta B. Stevenson - Editora Pol gonoS.A. -
So Paulo, Brasil - 1974
Caracter sticas das bactrias importantes em Tecnologia de Alimentos. Fumio
Yokoya - Faculdade de Tecnologia de Alimentos da Universidade de Campinas
- 1975
Coliformes totais e gerais como indicadores de contaminao. Mauro Faber Leito,
Coletnea do ITAL v. 4 - Campinas - Brasil - 1971/72
Cor da carne e defumao em fumaa l quida. L gia A. Hsu eJ . D.Sink - ITAL v. 8 -
Campinas, Brasil - 1977
Desenvolvimento microbiano em embalagens de cereais e produtos derivados.
Mauro Faber Leito, B.A.J ordo, Ivone Delazari - Boletim do Ital 4983-92 -
Campinas, Brasil - 1974
Estudos preliminares sobre o efeito do repetido congelamento e descongelao de
carne bovina, na qualidade e valor nutritivo do suco exsudado - Boletim do
ITAL n 48 - Campinas, Brasil - 1976
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 28
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Food Microbiology. Roberts and Faskinner - Academic Press - London N. York -
1983
Food Packaging. Stanley Sacharow e Roger C. Griffin - The AVI Publishing
Company Inc. - Estados Unidos - 1973
Higiene Industrial aplicada nas indstrias de alimentos. Fumio Yokoya - Instituto
Nacional de Tecnologia - Rio de J aneiro, Brasil - 1977
Influncia da embalagem na contaminao de produtos aliment cios. Luiz Fernando
Ceribeli Madi - Boletim do Ital n 18 - Campinas, Brasil - 1981
Irradiao de alimentos. Frederico M. Wiendl - Boletim da SBCTA - Brasil - 1978
Isolamento de microrganismos elaboradores de enzimas xilose-isomerase e xi litols-
desidrogenase. Hilary C. de Menezes, Paulo Celso Biasioli - ITAL - Coletnea
v. 7 - Campinas, Brasil - 1976
Isolamento de microrganismos produtores de celulase. Tobias J . Barreto de
Menezes, Paulo Roberto de Lima e Thomaz Ara kaki - ITAL Coletnea v. 7
tomo 1 - Campinas, Brasil - 1972
Limpeza e desinfeco na indstria de alimentos. Fumio Yokoya - ITAL Boletim 43 -
Campinas, Brasil - 1975
Lista de aditivos evaluados en cuanto a su inocuidad en eI uso alimentaria
FAO/OMS - 1974
Microbiologia. Pelczar, Reid, Chan Mc Graw-Hill do Brasil - So Paulo Brasil 1981
Microbiologia das carnes. Ivone Delazari - ITAL Boletim 52 - Campinas, Brasil -
1977
Microbiologia de alimentos congelados. Microflora de vrios alimentos congelados.
Ivone Delazari - Boletim Ital n 1 v. 17 - Campinas, Brasil - 1980
Microbiologia de alimentos desidratados. Mauro Faber Leito, Ivone Delazari,
Hamilton Mazzoni - ITAL Boletim v. 5 - Campinas, Brasil - 1973/74
Microbiologia do pescado e controle sanitrio no processamento Mauro Faber
Leito - ITAL Boletim v. 17 n 1 - Campinas, Brasil - 1977
Princ pios de Tecnologia de alimentos. Altanir J aime Gava - Editora Nobel S.A. -
So Paulo, Brasil - 1984
Princ pios gerais de tecnologia e inspeo do pescado. Glnio Cavalcante de
Barros - Departamento de Tecnologia da Universidade Rural do Rio de J aneiro
- Brasil - 1971
Processamento de alimentos congelados. FAO e P.N.U.D. - ITAL - Campinas - 1972
Processamento do leite longa vida por temperatura ultra alta e breve tempo.
Genevaldo de Souza - ITAL Boletim 48 - Campinas, Brasil - 1976
Produo de alimentos por fermentao lctica. Tobias de Menezes ITAL Boletim 32
- Campinas, Brasil - 1972
Progress in Industrial Microbiology. M. J . Bull - Elsevier Scientific Publishing
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 29
TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGRCOLAS DE ORIGEM ANIMAL
Company - Amsterdan N. York 1982
Specifications for identity and purity thickening agents, anticakin agents,
antimicrobial antioxidants, emulsifiers - FAO - Rome - 1978
Tecnologia da defumao de produtos crneos, L gia A. Hsu - ITAL boletim 52 -
Campinas, Brasil - 1977
Tecnologia das fermentaes. Urgel de Almeida Lima, Eugnio Aquarone, Walter
Borzani - Editora Edgard Blucher - So Paulo, Brasil - 1975
Tobias, J . B. de Menezes, Mauro Faber Leito, Nlson Teixeira de Mendona - ITAL
v. 1 - Campinas, Brasil - 1965/66
Tpicos de Microbiologia Industrial. Eugnio Aquarone, Walter Borzani, Urgel de
Almeida Lima - Editora Edgard Blucher Ltda. So Paulo, Brasil 1975
Prof. Dr. Octvio Antnio Valsechi 30
Você também pode gostar
- Microrganismos na fermentação de alimentos e bebidasNo EverandMicrorganismos na fermentação de alimentos e bebidasAinda não há avaliações
- APPCC na Produção Primária de Peixe: Produção Segura de PeixesNo EverandAPPCC na Produção Primária de Peixe: Produção Segura de PeixesAinda não há avaliações
- AULA 1 - Introdução A Tecnologia AgroindustrialDocumento27 páginasAULA 1 - Introdução A Tecnologia AgroindustrialLetícia Luz100% (1)
- Ementa - Processamento de Produtos de Origem VegetalDocumento3 páginasEmenta - Processamento de Produtos de Origem VegetalHelderAinda não há avaliações
- Agricultura OrgânicaDocumento59 páginasAgricultura OrgânicaDaniela LouraçoAinda não há avaliações
- Apostila de Olericultura IDocumento101 páginasApostila de Olericultura IRoberto NascimentoAinda não há avaliações
- BRT Fruticulturatropical v.1Documento184 páginasBRT Fruticulturatropical v.1erlonAinda não há avaliações
- SementesDocumento3 páginasSementesCarona FeisAinda não há avaliações
- Manejo e Aplicação de Defensivos PDFDocumento100 páginasManejo e Aplicação de Defensivos PDFSérgio SantiagoAinda não há avaliações
- Potencialidades Da Moringa Oleifera Lam. No Semiárido Nordestino BrasileiroNo EverandPotencialidades Da Moringa Oleifera Lam. No Semiárido Nordestino BrasileiroAinda não há avaliações
- Agroecologia e Agricultura OrganicaDocumento8 páginasAgroecologia e Agricultura Organica• OBGEOTIVO •Ainda não há avaliações
- Aula 16. Receituário Agronômico ExercíciosDocumento50 páginasAula 16. Receituário Agronômico ExercíciosFernando FelixAinda não há avaliações
- Apresentação Sem TítuloDocumento35 páginasApresentação Sem TítuloMaria FernandaAinda não há avaliações
- CONTROLE BIOLÓGICO - EmbrapaDocumento22 páginasCONTROLE BIOLÓGICO - EmbrapaFernando WonsAinda não há avaliações
- DOC63 - Princípios de Agroecologia No Manejo Das Pastagens Nativas Do Pantanal - EMBRAPADocumento35 páginasDOC63 - Princípios de Agroecologia No Manejo Das Pastagens Nativas Do Pantanal - EMBRAPARafael BernardinoAinda não há avaliações
- Aula 6.1 Transformações Bioquímicas em Produtos Hortícolas Após A ColheitaDocumento23 páginasAula 6.1 Transformações Bioquímicas em Produtos Hortícolas Após A ColheitaAdriana Cibele Mesquita DantasAinda não há avaliações
- LPV 506 A01 - Amendoim Apostila AgronegocioDocumento24 páginasLPV 506 A01 - Amendoim Apostila AgronegocioGiovani Galli100% (1)
- Perdas Pós-ColheitaDocumento10 páginasPerdas Pós-ColheitaLeandro CasadoAinda não há avaliações
- Livro. Fruticultura TropicalDocumento57 páginasLivro. Fruticultura TropicalJefferson Cavalcante100% (1)
- Apostila Processamento Minimo FrutasDocumento69 páginasApostila Processamento Minimo Frutasdunhejapiim7778Ainda não há avaliações
- Livro - Digital Perdas Pós Colheita Editora ISBN 978 65 86619 34 8Documento160 páginasLivro - Digital Perdas Pós Colheita Editora ISBN 978 65 86619 34 8Raylson De SÁ Melo UFCAinda não há avaliações
- Aula 7 - 23 - 08 Cultivo Do AbacaxiDocumento49 páginasAula 7 - 23 - 08 Cultivo Do AbacaxiPauloKosterSiedeAinda não há avaliações
- Aula Sistemas AgroflorestaisDocumento74 páginasAula Sistemas AgroflorestaisElaine Cristina TeixeiraAinda não há avaliações
- Cultura Do ArrozDocumento252 páginasCultura Do ArrozCarlos RegisAinda não há avaliações
- Qualidade Microbiológica de Frutas e HortaliçasDocumento43 páginasQualidade Microbiológica de Frutas e HortaliçasGabriela CoutrinAinda não há avaliações
- Aspectos Fisiológicos Do Desenvolvimento de Frutas e HortaliçasDocumento29 páginasAspectos Fisiológicos Do Desenvolvimento de Frutas e HortaliçasAndrea Regina Leite do NascimentoAinda não há avaliações
- Cultivo de Hortaliças OrgânicasDocumento18 páginasCultivo de Hortaliças OrgânicasDivisópolis Emater-MGAinda não há avaliações
- Aula 1. Introdução A Biotecnologia VegetalDocumento33 páginasAula 1. Introdução A Biotecnologia Vegetalsaymonacchile50% (2)
- Feijão Apostila PDFDocumento38 páginasFeijão Apostila PDFGuilherme Matos Pinheiro100% (1)
- Legislacao Alimentos PDFDocumento16 páginasLegislacao Alimentos PDFfmayumiAinda não há avaliações
- Indústria de PesticidasDocumento124 páginasIndústria de PesticidasValéria Araújo Cavalcante100% (1)
- Aula 1, AgroecologiaDocumento63 páginasAula 1, AgroecologiamatheuslsnAinda não há avaliações
- Apresentação Da Cultura Do Milho,-1Documento17 páginasApresentação Da Cultura Do Milho,-1WasleyAinda não há avaliações
- Reflexões sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural: Volume IINo EverandReflexões sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural: Volume IIAinda não há avaliações
- Orientações Para O Uso De Fitoterápicos E Plantas MedicinaisNo EverandOrientações Para O Uso De Fitoterápicos E Plantas MedicinaisAinda não há avaliações
- Aula de AgroecologiaDocumento9 páginasAula de AgroecologiaAntonny SampaioAinda não há avaliações
- Cir Tec 94Documento33 páginasCir Tec 94Altino QuirinoAinda não há avaliações
- Bolores e LevedurasDocumento9 páginasBolores e LevedurasRaíssa AlencarAinda não há avaliações
- Sistema de Produção de MilhoDocumento69 páginasSistema de Produção de MilhoPatricia GusmãoAinda não há avaliações
- Microbiologia Dos AlimentosDocumento17 páginasMicrobiologia Dos AlimentosMarcus Vinicius Gaede ScarabeliAinda não há avaliações
- Nossas Plantas Medicinais Instrucoes Praticas e Preparacoes 151014212704 Lva1 App6891Documento23 páginasNossas Plantas Medicinais Instrucoes Praticas e Preparacoes 151014212704 Lva1 App6891Cleide Helena MacedoAinda não há avaliações
- Cereais Materias PrimasDocumento23 páginasCereais Materias PrimasAdriana Cibele Mesquita DantasAinda não há avaliações
- APOSTILA PS-COLHEITA ANO 2019 - Atualizada PDFDocumento131 páginasAPOSTILA PS-COLHEITA ANO 2019 - Atualizada PDFJúlio Augusto ConheceAinda não há avaliações
- Conversão de Sistemas de Produção Convencionais para Sistemas de Produção OrgânicosDocumento24 páginasConversão de Sistemas de Produção Convencionais para Sistemas de Produção OrgânicosOlesio SouzaAinda não há avaliações
- Adubação Nitrogenada da Cultura do Trigo: com Base na Clorofilometria Via Aeronave Remotamente PilotadaNo EverandAdubação Nitrogenada da Cultura do Trigo: com Base na Clorofilometria Via Aeronave Remotamente PilotadaAinda não há avaliações
- Manual de Certificação de Produtos OrgânicosDocumento6 páginasManual de Certificação de Produtos OrgânicosDebora Bovo ArnaudAinda não há avaliações
- Rotação de CulturasDocumento26 páginasRotação de CulturasIIERA_SE50% (2)
- MINICURSO CD 7 A Cultura Da GoiabeiraDocumento55 páginasMINICURSO CD 7 A Cultura Da GoiabeiraHelton SilvaAinda não há avaliações
- Adubação OrgânicaDocumento10 páginasAdubação OrgânicamaniadeplantarAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução À Microbiologia Dos AlimentosDocumento32 páginasAula 1 - Introdução À Microbiologia Dos AlimentosCORINA ILDA DA SILVA FERREIRAAinda não há avaliações
- Trigo PDFDocumento20 páginasTrigo PDFAdriane RochaAinda não há avaliações
- ESTUDO DIRIGIDO 1 - Analise Alimentos ProntoDocumento6 páginasESTUDO DIRIGIDO 1 - Analise Alimentos ProntoElvis Silva MenezesAinda não há avaliações
- Calagem e Adubação de PastagensDocumento48 páginasCalagem e Adubação de PastagensElaine Cristina Teixeira100% (1)
- Processamento de Produtos de Origem VegetalDocumento80 páginasProcessamento de Produtos de Origem VegetalLigia SampaioAinda não há avaliações
- Conservação Pelo CalorDocumento37 páginasConservação Pelo CalorSanyelle Lima100% (1)
- Fungos EntomopatogênicosDocumento15 páginasFungos Entomopatogênicosbrusso22Ainda não há avaliações
- Cultura Do Feijão Aula CompletaDocumento44 páginasCultura Do Feijão Aula Completagrasiela fernandesAinda não há avaliações
- Entomologia No Séc. XXDocumento28 páginasEntomologia No Séc. XXMarcio SitoeAinda não há avaliações
- Controle de PragasDocumento54 páginasControle de PragasCarolina MarinhoAinda não há avaliações
- E-Book - Onde Esta Jonathan Makeba - AltairDocumento163 páginasE-Book - Onde Esta Jonathan Makeba - AltairMarcio SitoeAinda não há avaliações
- Meio AmbienteDocumento16 páginasMeio AmbienteMarcio SitoeAinda não há avaliações
- Cupins Ordem IsopteraDocumento11 páginasCupins Ordem IsopteraMarcio SitoeAinda não há avaliações
- English 101 1 3Documento5 páginasEnglish 101 1 3Marcio SitoeAinda não há avaliações
- Resultado - Laboratorio Amaral Costa - 7912458575890Documento6 páginasResultado - Laboratorio Amaral Costa - 7912458575890Anderson ParanahAinda não há avaliações
- Primeiro Cio Pós-Parto Das Cabras e Ovelhas NoDocumento7 páginasPrimeiro Cio Pós-Parto Das Cabras e Ovelhas NoJosé Cutrim JuniorAinda não há avaliações
- Meu Consigliere (Serie Irresist - Vanderlucia MartinsDocumento354 páginasMeu Consigliere (Serie Irresist - Vanderlucia Martinsdiogo millerAinda não há avaliações
- Módulo 1Documento29 páginasMódulo 1marisson oliveiraAinda não há avaliações
- Estastica Questionario IDocumento11 páginasEstastica Questionario IAugusto FerronatoAinda não há avaliações
- Fique Onde Esta e Entao Corra - John BoyneDocumento121 páginasFique Onde Esta e Entao Corra - John BoyneElton Araujo0% (1)
- POWERFLEX HF CP 1kV USO MOVELDocumento1 páginaPOWERFLEX HF CP 1kV USO MOVELHilton Flores ApolinárioAinda não há avaliações
- Apostila Anatomia IDocumento236 páginasApostila Anatomia IMaria Clara100% (2)
- APOSTILA CONCLUIDA - Aluno Ok (Reparado)Documento56 páginasAPOSTILA CONCLUIDA - Aluno Ok (Reparado)Pr. Ricardo RodolfoAinda não há avaliações
- A Franco - Maconaria Tornada Inteligivel Aos Seus Adeptos - Oswald WirthDocumento189 páginasA Franco - Maconaria Tornada Inteligivel Aos Seus Adeptos - Oswald WirthCarlos RenerAinda não há avaliações
- Como Verificar Componentes Eletrônicos Básicos Usando Um MultimetroDocumento9 páginasComo Verificar Componentes Eletrônicos Básicos Usando Um MultimetroNilton MendesAinda não há avaliações
- Microsoft Word - Exercício 58 Resolvido e ComentadoDocumento14 páginasMicrosoft Word - Exercício 58 Resolvido e ComentadoEduardo Oliveira QueirozAinda não há avaliações
- Article 393344 1 10 20221008Documento13 páginasArticle 393344 1 10 20221008LucaxS2 OPAinda não há avaliações
- Catálogo Ferramentas CommonRail 19858846Documento29 páginasCatálogo Ferramentas CommonRail 19858846neilAinda não há avaliações
- Roteiro PodcastDocumento9 páginasRoteiro Podcasthelder maia100% (2)
- 42 - Manual Empilhadeira Elétrica Lotvs ECL - OS e OS-4DDocumento74 páginas42 - Manual Empilhadeira Elétrica Lotvs ECL - OS e OS-4DMichele Araujo DaihaAinda não há avaliações
- Cantigas de Amor e de Amigo ADocumento4 páginasCantigas de Amor e de Amigo AKenedi AzevedoAinda não há avaliações
- Modelo de Contrato de Estagio Nao RemuneradoDocumento2 páginasModelo de Contrato de Estagio Nao RemuneradoRegiane alvesAinda não há avaliações
- FichaBD ExemplodeTesteDocumento3 páginasFichaBD ExemplodeTesteTomás MarchãoAinda não há avaliações
- Evolução HumanaDocumento25 páginasEvolução HumanaAle_Xandre_BIOAinda não há avaliações
- TELLES, Stella. Língua Portuguesa - FonologiaDocumento29 páginasTELLES, Stella. Língua Portuguesa - Fonologianihilista777Ainda não há avaliações
- Memórias Póstumas de Brás CubasDocumento3 páginasMemórias Póstumas de Brás CubasCamila Juliana SantanaAinda não há avaliações
- Segredo Obscuro Da Psicologia - o Guia Essencial para A Persuasão, Manipulação Emocional, Engano, Controle Da Mente, Comportamento Humano, PNLDocumento89 páginasSegredo Obscuro Da Psicologia - o Guia Essencial para A Persuasão, Manipulação Emocional, Engano, Controle Da Mente, Comportamento Humano, PNLLuis Mariano de CamposAinda não há avaliações
- Mapa - DidáticaDocumento4 páginasMapa - DidáticaGT ASSESSORIA ACADÊMICAAinda não há avaliações
- Captura de Tela 2023-07-07 À(s) 11.50.42Documento148 páginasCaptura de Tela 2023-07-07 À(s) 11.50.42NatháliaSantosAinda não há avaliações
- Exercícios Testes Diagnósticos INI 2020 Sem RespostasDocumento4 páginasExercícios Testes Diagnósticos INI 2020 Sem RespostasFrancis Almeida Macario BarrosAinda não há avaliações
- Apostila DroneDocumento27 páginasApostila DroneFabiano Alves654p vgyy77Ainda não há avaliações
- Diagramação de Material DidáticoDocumento11 páginasDiagramação de Material DidáticoSirlene Lopes100% (1)
- Lista2 ProbestDocumento7 páginasLista2 ProbestThais MonteiroAinda não há avaliações
- 4.1.1. Ingestão, Digestão e Absorção em Seres Vivos HeterotróficosDocumento20 páginas4.1.1. Ingestão, Digestão e Absorção em Seres Vivos HeterotróficosClashGamerAinda não há avaliações