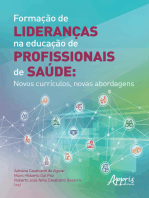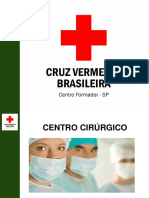Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Administracao Aplicada A Enfermagem
Administracao Aplicada A Enfermagem
Enviado por
Luana LacerdaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Administracao Aplicada A Enfermagem
Administracao Aplicada A Enfermagem
Enviado por
Luana LacerdaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A
A
D
D
M
M
I
I
N
N
I
I
S
S
T
T
R
R
A
A
O
O
A
A
P
P
L
L
I
I
C
C
A
A
D
D
A
A
E
E
N
N
F
F
E
E
R
R
M
M
A
A
G
G
E
E
M
M
I. Teorias Administrativas ..........................................................02
II. Princpios Gerais de Administrao ........................................03
III. Funes ou Elementos administrativos ...................................05
IV. Modelos de Gesto em Organizaes Hospitalares .................06
V. Gerencia, liderana, superviso e auditoria ............................08
VI. Elaborao de Instrumentos Administrativos .........................18
VII. Administrao de recursos materiais e recursos humanos ...24
VIII.Gerenciamento de Resduos de Servios de Sade.................43
IX. Relacionamento interpessoal. ...............................................47
ADMINISTRAO APLICADA ENFERMAGEM
Fayol define o ato de administrar como: PREVER, ORGANIZAR, COMANDAR,
COORDENAR E CONTROLAR. Atualmente, sobretudo com as contribuies da Abordagem
Neoclssica da Administrao, em que um dos maiores nomes Peter Drucker, os
princpios foram retrabalhados e so conhecidos como Planejar, Organizar, Dirigir e
Controlar - PODC. Ressalte-se, ento, que destas funes as que sofreram
transformaes na forma de abordar foram "comandar e coordenar" que hoje chamamos
de Dirigir (Liderana).
TEORIAS ADMINISTRATIVAS, SUAS NFASES E SEUS PRINCIPAIS ENFOQUES
nfase Teorias administrativas Principais enfoques
TAREFAS Administrao cientfica
Racionalizao do trabalho no nvel
operacional
Teoria clssica
Teoria neoclssica
Organizao Formal;
Princpios gerais da Administrao;
Funes do Administrador
Teoria da burocracia
Organizao Formal Burocrtica;
Racionalidade Organizacional;
ESTRUTURA
Teoria estruturalista
Mltipla abordagem:
Organizao formal e informal;
Anlise intra-organizacional e anlise
interorganizacional;
Teoria das relaes humanas
Organizao informal;
Motivao, liderana, comunicaes e
dinmica de grupo;
Teoria comportamental
Estilos de Administrao;
Teoria das decises;
Integrao dos objetivos organizacionais
e individuais;
PESSOAS
Teoria do desenvolvimento
organizacional
Mudana organizacional planejada;
Abordagem de sistema aberto;
I TEORIAS ADMINISTRATIVAS
Teoria estruturalista
Teoria neo-estruturalista
Anlise intra-organizacional e anlise
ambiental;
Abordagem de sistema aberto;
AMBIENTE
Teoria da contingncia
Anlise ambiental (imperativo
ambiental);
Abordagem de sistema aberto;
TECNOLOGIA Teoria dos sistemas
Administrao da tecnologia (imperativo
tecnolgico);
AS PRINCIPAIS TEORIAS ADMINISTRATIVAS E SEUS PRINCIPAIS
ENFOQUES
A teoria geral da administrao comeou com a NFASE NAS TAREFAS, com a
administrao cientfica de Taylor. A seguir, a preocupao bsica passou para a NFASE
NA ESTRUTURA com a teoria clssica de Fayol e com a teoria burocrtica de Max Weber,
seguindo-se mais tarde a teoria estruturalista. A reao humanstica surgiu com a
NFASE NAS PESSOAS, por meio da teoria comportamental e pela teoria do
desenvolvimento organizacional. A NFASE NO AMBIENTE surgiu com a Teoria dos
Sistemas, sendo completada pela teoria da contingncia. Esta, posteriormente,
desenvolveu a NFASE NA TECNOLOGIA. Cada uma dessas cinco variveis - tarefas,
estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia - provocou a seu tempo uma diferente teoria
administrativa, marcando um gradativo passo no desenvolvimento da TGA. Cada
TEORIA ADMINISTRATIVA procurou privilegiar ou enfatizar uma dessas cinco variveis,
omitindo ou relegando a um plano secundrio todas as demais.
O CORPO SOCIAL o rgo e o instrumento da funo administrativa; tal funo
restringe-se ao pessoal (chamado corpo social). Para o bom funcionamento de tal corpo,
so necessrias certas condies, as quais ele denomina princpios, afastando a idia de
rigidez e aplicando, em seu lugar, a de flexibilidade.
Conforme Fayol, no existe limitao ao nmero de tais princpios e enumera
aqueles que teve oportunidade de aplicar com mais freqncia:
DIVISO DO TRABALHO consiste em dividir cada uma das tarefas em
operaes mais simples (especializao) A diviso proposta por Fayol em muito se
assemelha segunda parte do mtodo para pesquisa cientfica proposto por REN
II - PRINCPIOS GERAIS DE ADMINISTRAO
DESCARTES, na qual ele prope a diviso do assunto a ser estudado em tantas partes
quantas forem necessrias para o seu entendimento.
AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE Conceitua a autoridade como o poder de
dar ordens e de se fazer obedecer; no sendo possvel conceb-las individualmente.
Afirma que toda regra tem de ser provida de sano, sem a qual desaparece na empresa
o esprito de responsabilidade.
DISCIPLINA Respeito s regras estabelecidas. A boa direo inspira
obedincia.
UNIDADE DE COMANDO Cada agente, para cada ao, s deve receber ordens
de um nico chefe. Aqui caberia uma comparao com o jargo muito chefe para pouco
ndio: a pluralidade de chefes para um nico setor dilui a autoridade de cada um deles
sobre seu subordinado.
SUBORDINAO Prevalncia dos interesses gerais da organizao. A
conceituao de Fayol em muito se assemelha a um princpio jurdico do Direito
Administrativo: o interesse geral prevalece sobre o pessoal (ou seja: em havendo
divergncia entre os interesses da Sociedade e os do indivduo, os primeiros prevalecem
sobre o segundo).
REMUNERAO DO PESSOAL tem de ser eqitativa, justa, evitando-se a
explorao. Deve haver equilbrio entre os interesses da empresa e os dos funcionrios.
O tipo de remunerao depende da apreciao deste equilbrio.
CENTRALIZAO Deve Haber um nico ncleo de comando centralizado,
atuando de forma similar ao celebro, que comanda o organismo. Tudo o que aumenta a
importncia das funes dos subordinados do terreno da descentralizao, tudo o que
diminui a importncia, pertence centralizao.
HIERARQUIA Cadeia de comando por escalas. Afirma a necessidade de
comunicao lateral entre as escalas de comando.
ORDEM Por meio da racionalizao do trabalho, estabelece-se o lugar de cada
coisa e de cada pessoa.
EQIDADE Distingue a diferena entre justia e eqidade. Justia poderia ser
conceituada como a realizao das convenes estabelecidas, enquanto que equidade
seria o uso da razo onde no h conveno; seria a capacidade de estimular o pessoal
a empregar, no exerccio de suas funes, toda a vontade de devotamente que capaz.
ESTABILIDADE DO PESSOAL O funcionrio precisa de tempo para adaptar-se
tarefa que lhe foi incumbida, desloc-lo sem que este tempo lhe for concedido (sem que
sua iniciao tenha sido finalizada) e adotar esta atitude como premissa na
administrao de um organismo acarretar que nenhuma funo jamais seja
desempenhada a contento.
INICIATIVA Os liderados devem ser incentivados a buscarem por si s, as
solues para os problemas que surgirem.
ESPRITO DE EQUIPE O corpo social deve experimentar uma unio similar
unio de organismos biolgicos, sem que isso ocorra, os objetivos no sero comuns e
os esforos no sero dirigidos de forma adequada s aspiraes da empresa.
FAYOL AFIRMA A EXISTNCIA DE CINCO ELEMENTOS DE ADMINISTRAO:
1) Previso, 2) Organizao, 3) Comando, 4) Coordenao e 5) Controle, que podem
ser sintetizados na sigla POCC.
1 - PREVISO Fayol conceitua previso como o ato de calcular o futuro e preparar as
aes para que as metas sejam atingidas, tal previso se faz com um programa de ao.
Estabelece que existem vantagens e desvantagens na previso. Como vantagem afirma
que um programa de ao facilita a utilizao dos recursos da empresa e a escolha dos
melhores meios a empregar para atingir os objetivos; estabelece que a desvantagem
reside na dificuldade de se confeccionar um bom programa anual.
2 - ORGANIZAO o ato de dotar uma empresa de tudo quanto for til ao seu
funcionamento (matrias-primas, utenslios, capital e pessoal). Subdivide a organizao
em organizao material e social, tratando apenas do segundo.
3 - COMANDO Fayol afirma que constitudo o corpo social , preciso faz-lo
funcionar, sendo esta a misso do comando. Conceitua a arte de comandar como o
conjunto de certas qualidades pessoais e sobre o conhecimento dos princpios gerais de
administrao. O comando requer certos preceitos, dos quais Fayol separa oito: c.1) ter
conhecimento profundo de seu pessoal; c.2) excluir os incapazes; c.3) conhecer bem os
convnios que regem as relaes entre a empresa e seus agentes; c.4) dar bom
III - FUNES OU ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS
exemplo; c.5) fazer inspees peridicas do corpo social, recorrendo nestas inspees
ao auxlio de quadros sinpticos; c.6) reunir seus principais colaboradores em
conferncias, onde se preparam a unidade de direo e a convergncia dos esforos;
c.7) no se deixar absorver pelos detalhes e c.8) incentivar no pessoal a atividade, a
iniciativa e o devotamento.
4 - COORDENAO Fayol conceitua coordenar como o ato de estabelecer a harmonia
entre todos os atos de uma empresa de maneira a facilitar o seu funcionamento e o seu
sucesso. dar ao organismo material e social de cada funo as propores
convenientes para que eles possa desempenhar seu papel segura e economicamente.
5 - CONTROLE Consiste em verificar se tudo corre de acordo com o programa
adotado (programa de ao item a do presente), as ordens dadas e os princpios
admitidos.
1 - O MODELO DE GESTO
Neste modelo, as decises so descentralizadas, as equipes de enfermagem
participam ativamente da tomada de decises, assumindo a responsabilidade sobre os
resultados. Em mdia, 80% das decises locais, que envolvem assuntos de enfermagem,
podem ser resolvidas no local de prestao da assistncia, sem necessidade de envolver
as gerncias. O conceito empregado tem, como meios de operao, fruns de deciso
(Times Assistenciais, Conselhos da Prtica, Gerenciamento e Educao e Pesquisa), que
so compostos por membros de todos os nveis hierrquicos, desde diretores at
profissionais que prestam assistncia beira do leito. Para exemplificar o exposto, um
paciente queixa-se da tcnica utilizada para a troca de sua bolsa de dilise. A lder de
enfermagem daquela unidade quem recebe todas as queixas e elogios periodicamente.
Nesse caso, ela encaminha a reclamao ao Time Assistencial, que analisa
localmente e toma decises para correo do problema. O Time Assistencial um frum
composto de representantes de todos os profissionais de enfermagem daquela Unidade,
especialmente os da linha de frente. O problema s ser encaminhado a um dos
Conselhos se envolver o Sistema de Enfermagem como um todo. A grande diferena
que no modelo anterior de gesto, a lder de enfermagem tomaria a conduta final.
2 MODELOASSISTENCIAL
O Sistema de Enfermagem do hospital desenvolve um cuidado integral e individual,
fundamentado em evidncias cientficas e no trabalho interdisciplinar. Baseia suas
decises no julgamento clnico do enfermeiro, de forma a melhor atender s necessidades
IV MODELOS DE GESTO EM ORGANIZAES HOSPITALARES
do paciente e famlia, obtendo sua participao ativa nas decises sobre o cuidado a ser
prestado. O paciente o centro do processo de cuidar, integrado na tomada de deciso e
participante do planejamento e implementao deste cuidado. Esta viso do cuidado,
como principal foco da Enfermagem, deriva da Filosofia e Cincia do Cuidar desenvolvida
pela teorista de enfermagem Jean Watson, que combina uma viso humanista e uma base
slida de conhecimentos cientficos. Nesta viso de mundo, associada s habilidades de
pensamento crtico, a cincia do cuidado tem como foco a promoo da sade e no
somente a cura da doena.
Neste cenrio, o profissional central o Enfermeiro Assistencial. Ele o responsvel
pelo planejamento dos cuidados e estabelecimento de vnculo com o paciente e sua
famlia.
O Enfermeiro, neste modelo, possui igualmente o papel de integrador, facilitador e
coordenador das relaes entre paciente, equipe multiprofissional, mdicos e instituio,
beira do leito.
Importante lembrar que o modelo assistencial adotado pela Instituio uma diretriz
clara de como a organizao prope-se a atingir sua excelncia assistencial. essencial
que o enfermeiro tenha a clareza de seu papel neste contexto e aproprie-se dele com
autoridade e responsabilidade. Assim, dentre os vrios papis que este profissional possa
agregar no transcorrer do processo assistencial, sua atividade deve estar alinhada com
sua atuao tico-profissional.
3 - O MODELO DE EDUCAO CONTINUADA.
O desenvolvimento tcnico-cientfico, como uma das principais diretrizes do Sistema
de Enfermagem, visa propiciar a capacitao profissional e a humanizao do
atendimento, fornecendo subsdios implantao do modelo assistencial institucional e o
atendimento ao paciente e mdico.
O modelo descentralizado, realizado localmente junto equipe de enfermagem e
inclui um plano diretor voltado a atender as necessidades de desenvolvimento e
capacitao de enfermeiros e do nvel mdio de enfermagem.
Esta iniciativa exigiu, entre outras aes, a reviso das competncias clnicas dos
enfermeiros e a implantao do Plano de Desenvolvimento das Competncias Clnicas do
Enfermeiro (PDCCE), que entre as suas finalidades tem como meta consolidar o
pensamento crtico do enfermeiro e otimizar a interface com a equipe multidisciplinar. O
PDCCE um mtodo educacional que possibilitou identificar e classificar os enfermeiros de
acordo com as suas competncias clnicas e a aplicao do conhecimento cientfico na
prtica assistencial . Este processo liderado por enfermeiros experientes, com mestrado
ou doutorado, e cujo diferencial est em sua atuao direta junto a pacientes e equipes e
no em salas de aula.
O plano de Treinamento e Desenvolvimento de Auxiliares e Tcnicos do Sistema de
Enfermagem tem seus objetivos direcionados para implementao de uma sistemtica
regular de capacitao, de modo a facilitar atitudes proativas e permanente interao
destes profissionais com os assuntos referentes assistncia ao paciente e de gesto
organizacional. O trabalho de uma liderana desafia pessoas por meio da idia de que
uma mudana no to simples, mas inevitvel. As mudanas podem causar
conseqncias que nem sempre podero ser antecipadas ou evitadas. Existe um hiato
entre o ontem e o contexto atual. Ao invs de ficarem congelados com o temor de
encontrarem o lado escuro da mudana, os lderes nunca devem desistir de continuar se
movendo para que estabeleam um servio de excelncia no novo contexto do sculo XXI.
preciso construir um meio para que transitemos de um lado para o outro.
Precisamos definitivamente pensar como lderes num novo contexto. Se tomarmos tempo
para criarmos uma viso e um propsito para nossa vida, possivelmente conseguiremos
pensar nosso trabalho com um olhar mais abrangente, mais crtico e estratgico.
GERENCIA
O trabalho de enfermagem, enquanto parte do trabalho coletivo em sade,
apresentado anteriormente, realiza-se em diferentes instituies de sade, sejam elas
pblicas ou privadas.
O processo de trabalho de enfermagem particulariza-se em uma rede ou
subprocessos que so denominados cuidar ou assistir, administrar ou gerenciar,
pesquisar e ensinar.
No processo de trabalho gerencial, os objetos de trabalho do enfermeiro so a
organizao do trabalho e os trabalhos e os recursos humanos de enfermagem. Para a
execuo desse processo, utilizado um conjunto de instrumentos tcnicos prprios da
gerencia , ou seja, o planejamento, o dimensionamento de pessoal de enfermagem, o
recrutamento e seleo de pessoal, a educao continuada e/ ou permanente, a
superviso, a avaliao de desempenho e outros. Tambm utilizam-se outros meios
ou instrumentos como fora de trabalho, os materiais, equipamentos e instalaes,
alm dos diferentes saberes administrativos.
A gerncia tomada enquanto processo de trabalho de enfermagem pode ser
aprendida por dois grandes modelos: o primeiro com foco no indivduo e nas
organizaes, denominado de modelo racional; e o segundo centrado na abordagem
das prticas sociais e sua historicidade, ou seja, o modelo histrico-social.
O modelo racional corresponde ao enfoque predominante nos estudos e na pratica
do gerenciamento de enfermagem e esta fundamentado na Teoria Geral da
V GERNCIA, LIDERANA, SUPERVISO E AUDITORIA
Administrao (TGA). Neste modelo, a tarefa atual da administrao interpretar os
objetivos propostos pela organizao e transform-los em ao organizacional atravs
do Planejamento, Organizao, Direo e controle de todos os esforos realizados em
todas as reas e em todos os nveis da organizao, a fim de alcanar tais objetivos da
maneira mais adequada situao.
No gerenciamento, fundado na flexibilidade, a produo voltada e conduzida
pela demanda, variada, diversificada e pronta para suprir o consumo , que
determina a produo; sustenta-se na existncia de um estoque mnimo e do melhor
aproveitamento possvel do tempo de produo, e num processo produtivo flexvel e
que o trabalhador polivalente.
Outra abordagem que permite apreender o gerenciamento a das prticas
sociais ou modelos histrico-social. Nesse modelo, o gerenciamento apreendido a
partir da perspectiva das praticas de sade, historicamente estruturadas e socialmente
articuladas , buscando responder s contradies e tenses presentes no cotidiano
dos servios. Nesse sentido, a gerencia no esta voltada apenas para organizao e o
controle dos processos de trabalho, mas tambm para a apreenso e satisfao das
necessidades de sade da populao. O que requer tomar em considerao a
democratizao das instituies de sade e a ampliao da autonomia dos sujeitos
envolvidos nos processos de cuidado- usurios e trabalhadores.
O processo de trabalho de gerencia na pratica de enfermagem est orientado por
finalidade imediata que organizar o trabalho e mediada de desenvolver condies
favorveis para a realizao do processo cuidar, individual e coletivo.
Diante da finalidade de organizar a assistncia para favorecer o processo cuidar,
individual e coletivo , a transformao operada no processo de trabalho gerencial incide
prioritariamente , sobre os trabalhadores, enquanto, objeto do trabalho.
Os meios e instrumento de que se utiliza os saberes administrativos e suas
ferramentas , tais como o planejamento , a coordenao, o controle e a direo, dentre
outros mais especficos. Vale destacar que as atividades, prprias da gerencia, so
organizadas de determinada forma, em que esto presentes a rotinizao e a
normatizao; a hierarquia, o controle e a autoridade; a diviso do trabalho por
categorias de trabalhadores, por turnos, por atividade etc.
PROCESSO DE TRABALHO GERENCIAL EM ENFERMAGEM
O processo de trabalho gerencial apreendido da perspectiva das prticas de sade
socialmente estruturadas tem um papel fundamental na construo de um modo de
fazer sade voltado para a necessidade de sade. No exerccio desse papel e pautadas
na articulao e integrao, quatro dimenses so inerentes atividade gerencial:
1) Tcnica, 2) Poltica, 3) Comunicativa e de 4) Desenvolvimento da cidadania.
DIMENSO TCNICA:
Refere-se a aspectos gerais e instrumentais do prprio trabalho , tais como
planejamento , coordenao , superviso , controle e avaliao, tanto nos recurso
humanos como nos materiais e fsicos.
DIMENSO POLTICA:
aquela que articula o trabalho gerencial ao projeto que se tem a empreender ,
esto presentes as determinaes de carter poltico-ideolgicas e econmicas.
DIMENSO COMUNICATIVA:
Essa diz respeito ao carter de negociao presente no lidar com as relaes de
trabalho na equipe de sade e nas relaes da unidade com a comunidade.
DIMENSO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA:
Essa implica tomar a gerncia como uma atividade que contm uma e est contida
numa perspectiva de emancipao dos sujeitos sociais , quer eles os agentes presentes
no processo de trabalho , ou os clientes que utilizam os servios de sade.
A nfase nas organizaes ou nas necessidades de sade orienta formas distintas
de gerenciamento operadas em enfermagem, implicando formas tambm diversas de
organizao desses trabalhos, que so determinantes da assistncia de enfermagem
prestada populao, bem como de sua qualidade .
NECESSIDADE
DE SADE
PROCESSO DE
TRABALHO
ASSISTENCIAL
FINALIDADE
Ateno Integral a
Sade.
GERENCIAL
LIDERANA
Funo do lder, forma de dominao baseada no prestigio pessoal e aceita
pelos dirigidos.
Teoricamente, a prtica da liderana na enfermagem no difere , em essncia , de
outras reas. Para melhor compreender de como ocorre o fenmeno liderana na
enfermagem, algumas abordagem so necessrias, uma delas o significado que
atribudo a liderana, a outra trata da caractersticas do lder e a influencia do poder
no processo da liderana.
A LIDERANA APARECE NA LITERATURA DAS CINCIAS SOCIAIS COM PELO
MENOS TRS SIGNIFICADOS MAIS IMPORTANTES:
LIDERANA COMO ATRIBUTO DE UMA POSIO, nessa viso um conceito relativo
que implica dois termos: um agente influenciador e as pessoas influenciadas .
LIDERANA COMO CARACTERSTICA DE UM INDIVDUO, nesta so identificados os
traos individuais, fsicos, intelectuais e de personalidade dos lideres ( Liderana
inata).
LIDERANA COMO PARTE DE UM GRUPO, aquela considerada como um fenmeno
que surge medida que o grupo se forma e se desenvolve, nesse sentido a liderana
considerada situacional , a interao indivduo/meio uma constante , e a liderana
uma conseqncia dessa interao.
CARACTERSTICA DO LDER:
atribudo ao lder :
A coordenao das atividades do grupo;
Planejamento dessas atividades;
Estabelecimento de polticas ;
Conhecimento tcnico especfico ;
a comunicao entre o grupo e o meio ambiente :
Coordenao interna do grupo ;
Determinao de reconpensas e punies e
Substituio da responsabilidade individuais .
importante salientar que a autoridade do lder deriva da contribuio que d ao
grupo para atingir os obetivos propostos.
ESTILOS DE LIDERANA:
Existem vrios estudos que descrevem os estilos de liderana:
LIDERANA AUTOCRTICA , este tipo de liderana explora e estimula a
dependncia mediante a satisfao de necessidades evidenciadas pelos liderados ,
esse estilo favorece a centralizao de poder , e enfraquece as iniciativas individuais e
promove comportamento submisso dos membros do grupo.
LIDERANA DEMOCRTICA, esse estilo de liderana leva em considerao o
desenvolvimento das habilidades e capacidade de seus membros , a qualidade do
desempenho e a interao dos indivduos do grupo.
importante que o lder democrata tenha segurana tcnico-profissional , uma
vez que essa equalizao de poder ameaadora principalmente se o loder tiver
competncia profissional inferior a de seus subordinados .
LIDERANA AUTORITRIA, Considera-se aquele lder que pressupe o homem
como um ser preguioso e pouco merecedor de confiana
MTODO CONTINGENCIAL DE LIDERANA, este mtodo adota o conceito que o
comportamento adaptativo do lder , e considera que os diferentes estilos de
comportamento do lder podem ser eficiente ou ineficientes ,dependendo dos
elementos envolvidos na situao .
ESTILO GERENCIAL 3D: Esse estilo baseado na eficcia dos estilos , h uma
integrao aos conceitos de estilos de liderana e os requisitos situacionais de
ambiente especifico . Diz-se portanto que, quando um lider apropriado para um
determinada situao, chama-se eficaz, quando no , ineficaz.
De acordo com esse mtodo no exite lder ou estilo ineficaz , a eficcia depende da
situao em que o lder atua.
O PODER DO ENFERMEIRO E A LIDERANA
Na formao do enfermeiro , com raras excees, enfatizado o cumprimento
das ordens e regras, a responsabilidade inquestionvel pela execuo das atividades
a ele prescritas e o conhecimento direcionado para a assistncia direta ao paciente
hospitalizado.
Na realidade da prtica assistencial o enfermeiro encontra , nessas organizaes
, um ambiente que favorece o cumprimento s ordens dadas e a responsabilidade
inquestionvel, mas no a assistncia de enfermagem direta ao paciente . Essa
assistncia no direta, uma vez que na grande parte do tempo o enfermeiro
assume atividades denominadas administrativas, entre elas as referentes
administrao do pessoal de enfermagem. no desempenho dessas atividades que o
enfermeiro formaliza seu papel organizacional assumindo, frequentemente , cargos de
chefia. Talvez pela capacitao tcnica especfica ou por motivos como interesses
organizacionais ou ainda pelas necessidades do grupo dirigido, o enfermeiro assume
geralmente a liderana do grupo de enfermagem
As organizaes de sade onde ocorre essa pratica selam esse compromisso das
formas mais variada . Assim, os manuais de procedimentos atribuem ao enfermeiro o
papel de chefe ou lder, os organogramas refletem uma posio estratgica na
hierarquia institucional e a estrutura informal concede-lhe um certo poder. Por sua
vez , o enfermeiro aceita o papel e procura desempenh-lo de acordo com as
expectativas do grupo e da instituio. Nesse contexto percebe-se um impasse , pois o
enfermeiro sente-se dividido entre o atender s necessidades expectativas do
grupo de enfermagem, s do grupo de sade (usurio) e s organizaes. Somam-se
as sua expectativas enquanto profissional e pessoa.
O ESTILO DE LIDERANA ADOTADO
Quando o enfermeiro , atendendo a uma necessidade do grupo de enfermagem ,
assume um estilo de liderana democrtico e participativo, passa, muitas vezes, a ter
problemas com a administrao superior. Desse modo, comum encontrar-se o
enfermeiro amoldando se estilo de liderana s propostas organizacionais , ou seja ,
adotando um estilo de liderana autocrtica. Em conseqncia, o grupo produz
quantitativamente bem, mas em geral qualitativamente mal e sempre sem o
conhecimento da totalidade do trabalho realizado. O grupo mantido imaturo e
dependente .
Isso acontece porque a proposta de liderana democrtica no coincide com a
proposta organizacional. Raramente encontramos , na administrao de pessoal de
sade, proposta de liderana.
Por ouro lado, o modelo vivenciado pelo enfermeiro junto administrao superior
por ele reproduzido junto ao grupo de enfermagem. Isto tambm explica a freqente
adoo , pelo enfermeiro , de um estilo autocrtico de liderana.
Segundo a proposta mais atual de estilo de liderana, que a contingencial, h a
necessidade e o lder criar ou reconhecer um ambiente favorvel, como tambm
conhecer as expectativas dos liderados antes de adotar um estilo de liderana.
Cabe ao enfermeiro, portanto, refletir sobre a pratica da liderana na enfermagem
por ele vivenciada , e analis-la segundo os fatores que a determinam.
Somente o conhecimento dessa realidade que permite a possibilidade de
escolha.
SUPERVISO EM ENFERMAGEM
O SUPERVISOR, antes visava apenas obteno do mximo rendimento dos
funcionrios, sendo indiferente necessidade de cada um, passa a visualizar o ser
humano, a se preocupar em compreende-lo e em ajud-lo a desenvolver-se. Desse
modo, ao conceito da funo superviso foi acrescido o carter educativo. A
fiscalizao, utilizada at ento como meio para deteco de erros e punio , foi
substituda pelo controle associado educao.
O elemento supervisor passou a preocupar-se com o passar do tempo com o
planejamento , a execuo e avaliao do trabalho, visando sempre sua melhoria e ao
crescimento do pessoal .
O papel do elemento supervisor mudou para o de um orientador e facilitador no
ambiente de trabalho.
CONCEITOS:
A funo superviso tem recebido uma variedade de definies, muitas vezes
semelhantes entre s.
Uma as mais importantes a definio segundo o Ministrio da Sade, a
SUPERVISO um processo educativo e contnuo, que consiste fundamentalmente em
motivar e orientar os supervisionados na execuo de atividades com base em normas,
a fim de manter elevada a qualidade dos servios prestados.
A superviso vem sendo caracterizada como uma funo administrativa que
envolve um processo de orientao contnua de pessoal com a finalidade de
desenvolve-lo e capacit-lo para o servio.
ATIVIDADES E OBJETOS DA FUNO SUPERVISO.
Na enfermagem, o elemento supervisor desenvolve, junto aos funcionrios,
atividades diversificada como:
Discusso das convices , valores e objetivos de servio de enfermagem;
Caracterizao da clientela atendida.
Identificao das necessidades de assistncia de enfermagem;
Planejamento e desenvolvimento das aes de enfermagem segundo os critrios
e as prioridades definidas;
Avaliao da qualidade da assistncia de enfermagem prestada;
Previso e proviso de recursos humanos , materiais , fsicos e oramentrios
necessrios ao desenvolvimento das atividades de enfermagem ;
Identificao da necessidade de treinamento e orientao de funcionrios ;
Elaborao, implantao e avaliao de normas, procedimentos e rotinas e manual
do servio de enfermagem;
Manuteno de um sistema de informao;
Preveno de situaes problemticas;
Estratgias de motivao para os funcionrios; entre outras atividades especficas da
realidade dos servios de enfermagem.
Na enfermagem, so poucos os enfermeiros que no desenvolvem a funo
superviso, pois desde os que prestam cuidados diretos aos pacientes at os que
chefiam divises ou servios de enfermagem, todos de maior ou menor complexidade
que visam ao aprimoramento do pessoal de enfermagem e manuteno de condies
necessrias para a prestao de uma assistncia eficiente e eficaz. Esses so os
objetivos principais da funo superviso.
FASES PARA O DESENVOLVIMENTO DA SUPERVISO:
A funo superviso, no seu desenvolviment, abrange trs etapas: Planejamento,
Execuo e Avaliao.
1 - PLANEJAMENTO DA FUNO SUPERVISO:
A partir do momento em que o elemento supervisor passa a almejar o alcance
de determinados objetivos , sente a necessidade de planejar aes.
O planejamento compreende desde a percepo de uma necessidade de ao
at a deciso quanto a o que ser feito , por quem e quando. Desse modo, o elemento
supervisor ter informaes a respeito do que ser feito no dia , semana, ms , ou at
mesmo ano, podendo, a partir disso, prever e prover os recursos humanos e materiais.
Existem alguns instrumentos que so comumente utilizados para o planejamento
da funo superviso, entre eles Plano de superviso, cronograma e roteiro.
PLANO DE SUPERVISO
O plano de superviso elaborado com dados principais como: perodo, atividades,
e os objetivos a serem alcanados. O perodo de tempo deve ser compatvel com a
complexidade dos objetivos, caso contrario no haver tempo suficiente ou sobrar
muito tempo. As atividades descritas no plano devem ser coerentes para com os
objetivos propostos.
Desse modo o plano de superviso um instrumento importante , pois ensina a
racionalizar o tempo e as aes , tornando-os apropriados aos objetivos , o que
propicia maiores possibilidades de sucesso.
CRONOGRAMA
Normalmente o Enfermeiro elabora um cronograma de atividades quando quer
priorizar ou determinar quando desenvolver determinadas atividades. Assim sendo
um cronograma consta a relao de atividades e dos dias ou perodos em que sero
executadas.
ROTEIRO
No roteiro so correlacionadas informaes a respeito do objetivo da
superviso, da rea supervisionada, dos aspectos analisados, dos resultados
encontrados, das orientaes dadas, com nfase nos problemas e recomendaes
feita no local. Porem existem roteiro mais simples onde apenas atividades a serem
desenvolvidas so listadas.
2 - EXECUO DA FUNO SUPERVISO:
O Enfermeiro precisa como requisito para o desenvolvimento da funo
superviso competncia profissional , habilidade para relacionar-se com as pessoas ,
motivao para o desenvolvimento do pessoal , crena no potencial do ser humano
e na importncia do envolvimento de todos os funcionrios nas decises relativas
s rotinas de trabalho ,visando manuteno de uma assistncia de enfermagem
eficaz.
AVALIAO DA FUNO SUPERVISO:
O Enfermeiro que desenvolve a funo superviso deve, durante todo o processo,
desde o planejamento, iniciar a avaliao dos resultados obtidos . Essa avaliao
durante o processo ou seja, a imediata- oferece subsdios importantes para
replanejamento da funo enquanto ela ocorre. Ao trmino de todas as aes
planejadas , deve se feita uma avaliao geral onde so analisados, desde os
resultados obtidos , a pertinncia dos objetivos e das aes, e as tcnicas e
instrumentos utilizados. O resultado dessa avaliao dessa avaliao imediata fornece
subsdios para o aperfeioamento da funo superviso.
DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO DA FUNO SUPERVISO
Existem situaes que dificultam o desenvolvimento da funo superviso.
limitando o alcance dos objetivos traados, entre as quais pode-se citar:
A existncia de uma filosofia de enfermagem que no enfatiza a importncia
do desenvolvimento de pessoal e da manuteno de relaes interpessoais
fundamentadas no respeito mtuo .
A existncia de uma poltica de trabalho centralizadora , autoritria e tarefista ,
e no estimuladora da participao dos funcionrios no processo decisrio , nem de
uma postura reflexiva , conscientizadora , mantendo-os , assim , imaturos e incapazes
de interferir no processo vivenciado.
Inadequao dos recursos humanos, materiais , fsicos e financeiros.
RESULTADOS ADVINDOS DA PRATICA DE UMA SUPERVISO EFICAZ.
Ao aprimorar a funo superviso , o enfermeiro est contribuindo para que
alguns resultados sejam alcanados . Entre eles, a manuteno de um nvel elevado
na qualidade da assistncia de enfermagem , a manuteno da satisfao do cliente
dos familiares e dos funcionrios , o reconhecimento da qualidade da assistncia de
enfermagem e a manuteno de condies propcia ao desenvolvimento e motivao
do pessoal , ao trabalho em equipe e adaptao das tcnicas de trabalho natureza
do homem enquanto trabalhador.
AUDITORIA EM ENFERMAGEM
AUDITORIA uma avaliao sistemtica e formal de uma atividade , por algum
no envolvido diretamente na sua execuo , para determinar se essa atividade est
sendo levada a efeito de acordo com seus objetivos.
AUDITORIA EM ENFERMAGEM a avaliao sistemtica da qualidade da
assistncia de enfermagem , verificada atravs das anotaes de enfermagem no
pronturio do paciente e/ou das prprias condies deste . Chega-se a concluso de
que auditoria a comparao entre a assistncia prestada e os padres de
assistncia considerados como aceitveis.
AUDITORIA OPERACIONAL
Consiste na realizao de atividades voltadas para controle das aes desenvolvidas pela
rede de servios do Distrito Sanitrio.
Concentra-se nas condies da rede fsica, nos mecanismos de regulao e no
desenvolvimento das aes de sade.
AUDITORIA ANALTICA
Baseia-se no desenvolvimento de atividades que tm por objetivo aprofundar as anlises
de aspectos especficos do sistema de sade do Distrito Sanitrio, ou seja, voltada
para a avaliao quantitativa, inferindo, em algumas situaes, a qualidade das aes de
sade do Distrito Sanitrio.
AUDITORIA OPERACIONAL
* LOCUS DE AO
O Sistema Nacional de Auditoria foi criado pela Lei n 8.689 de 7 de maro de
1993, artigo 6, e regulamentado pelo Decreto-Lei n 1.651 de 28 de setembro 1995.
Tanto a lei como o decreto tiveram um processo de discusso intensa entre as trs
esferas de governo, a fim de preservar ao mximo os preceitos contidos nas leis
8.080/90 e 8.142/90 e na Constituio Federal.
A operao do sistema de auditoria deve ocorrer descentralizadamente, com
definio das competncias de cada esfera de governo.
O Decreto n 1.651/94 definiu que as atividades de auditoria ficam a cargo do
Departamento de Controle, Avaliao e Auditoria, subordinado Secretaria de
Assistncia Sade, do Ministrio da Sade.
O sistema integrado por uma Comisso Corregedora Tripartite, composta pela
direo nacional do SUS, representantes do Conselho Nacional de Secretrios Estaduais
da Sade e do Conselho Nacional de Secretrios Municipais da Sade.
Cabe a cada nvel de governo as seguintes competncias, para atividades de
auditoria:
NVEL FEDERAL
a. aplicao dos recursos transferidos aos estados e municpios, mediante anlise dos
relatrios de gesto;
b. as aes e servios de sade de abrangncia nacional;
c. os servios de sade sob sua gesto;
d. os sistemas estaduais de sade;
e. as aes, mtodos e instrumentos implementados pelo rgo estadual de controle,
avaliao e auditoria.
NVEL ESTADUAL
a. aplicao dos recursos estaduais repassados aos municpios;
b. as aes e servios previstos no plano estadual de sade;
c. os servios de sade sob sua gesto;
d. os servios municipais e os consrcios intermunicipais de sade;
e. as aes, mtodos e instrumentos implementados pelos rgos municipais de
controle, avaliao e auditoria.
NVEL MUNICIPAL
a. as aes e servios estabelecidos no plano municipal de sade;
b. os servios de sade sob sua gesto (pblicos e privados);
c. as aes e servios desenvolvidos por consrcio intermunicipal ao qual o municpio
esteja associado.
MANUAIS
Os manuais, instrumentos integrantes do sistema de informao da organizao,
transmitem, por escrito, orientaes aos elementos da equipe de enfermagem para o
desenvolvimento das atividades.
Enquanto instrumentos de informao, os manuais reproduzem a estrutura
formal (informao escrita) do servio de enfermagem.
CONCEITO, IMPORTNCIA E CARACTERISTICAS DOS MANUAIS:
Entende-se por manual de enfermagem o instrumento que rene, de forma
sistematizada, normas, rotinas, procedimentos e outras informaes necessrias para a
execuo das aes de enfermagem.
Essas informaes podem estar agrupadas em um nico manual ou divididas de
acordo com sua finalidade: manual de normas, rotinas e procedimentos; manual de
educao em servio; manual de funcionrios, manual de formulrios e outros.
O manual tem por finalidades esclarecer dvidas e orientar a execuo das aes
de enfermagem, constituindo um instrumentos de consulta.
Assim, o manual deve ser constantemente submetido analise crtica,ser
atualizado sempre que necessrio, considerando tambm os avanos advindos dos
resultados das pesquisas realizadas na rea de enfermagem.
ELABORAO DOS MANUAIS
Os manuais podem ser elaborados a partir de duas situaes: 1 quando na fase
de organizao e programao das atividades de um servio; 2 e quando este j est
VI ELABORAO DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS
em funcionamento e requer a atualizao de normas e procedimentos. Em ambas as
situaes, a metodologia a ser aplicada a mesma.
A elaborao de um manual de enfermagem podem ser sintetizadas em 05 (cinco)
etapas como:
1 Diagnostico da situao; 2 Determinao dos assuntos;
3 Estruturao e confeco dos instrumentos; 4 Implantao; 5 Avaliao.
1 DIAGNOSTICO DA SITUAO
O diagnostico feito, com base no levantamento e na analise de informaes do
servio de enfermagem.
O levantamento precedido da definio sobre que informaes sero coletadas e
sobre como sero como ser feito esse levantamento . Algumas informaes so
bsicas para ele:
A estrutura organizacional em que o servio esta inserido;
Os objetivos que devem ser alcanados em funo das necessidades de
sade da sua clientela;
As aes de enfermagem que devem ser desenvolvidas e por quem;
Problemas enfrentados na prestao da assistncia de enfermagem e etc..
Essas informaes podem ser levantadas pela utilizao de algumas tcnicas,
como: entrevista, questionrio, observao e discusso em grupo. A escolha de uma
outra tcnica depende do tipo de informao a ser levantada.
De posse dessas informaes, o prximo passo analis-las para o alcance do
diagnostico da situao.
Quando os elementos do grupo se predispem ou so envolvidos a participar
dessa fase, h maior comprometimento com os resultados, o que garante maior
adequao do manual ao contexto e maior satisfao dos indivduos participantes.
2 DETERMINAO DOS ASSUNTOS
A analise das informaes coletadas define que instrumentos (normas, rotinas,
procedimentos e etc.) o manual deve conter e qual o contedo desses instrumentos.
Nessa fase, o grupo decidir, por exemplo, se para um determinado assunto ser
melhor a elaborao de um procedimento ou de uma rotina, de acordo com a situao
analisada.
3 ESTRUTURAO E CONFECO DOS INSTRUMENTOS
A estruturao do contedo informativo, envolve a ordenao (seqncia lgica,
agrupamentos) e apresentao dos assuntos (numerao, linguagem, disposio na
folha). A estruturao fsica do manual envolve a definio do tipo de papel, meio de
localizao do assunto etc.
Aps essas definies de estrutura, cabe discutir quem ir escrever os
instrumentos: enfermeiro(a), um grupo escolhido ou todos aqueles que utilizaro o
manual. Independentemente de quem ir escrever, importante que o contedo seja
analisado pela pessoa diretamente envolvida na situao. Por exemplo, na confeco de
uma rotina de encaminhamento de material para exame, o atendente que executa esta
atividade pode melhor analisar a sua adequao.
A cpia provisria do manual deve ser submetida a uma reviso para a correo
de possveis erros, aps a verificao, ser feita a impresso final e montagem dos
instrumentos. Terminada a elaborao do manual, ele deve ser aprovado nos nveis
hierrquicos superiores.
4 IMPLANTAO
A implantao do manual, quando elaborado por todos, torna-se mais fcil, pois
as informaes nele contidas representam o consenso do grupo que o colocar em
pratica. No entanto, caso no tenha havido a participao da maioria dos funcionrios,
faz-se necessrio o preparo do grupo para a sua implantao, esclarecendo
principalmente seus objetivos, contedo e resultados.
Na fase de implantao, deve-se considerar, tambm, o local de permanncia do
manual, sendo prefervel mant-lo em lugar acessvel aos usurios. De nada adianta
manter o manual trancado na gaveta ou sala de quem elaborou, pois ele se destina aos
usurios, devendo ser por eles utilizado; caso contrrio, foge s suas finalidades.
5 AVALIAO
O manual deve ser utilizado e, para isto, suas informaes devem sofrer
constantes avaliaes e reformulaes. Um material desatualizado provalvemente se
tornar desacreditado.
A atualizao pode ser programada para perodos previstos ou quando surgirem
mudanas, desde que todos os usurios sejam previamente orientados.
CONTEDO DO MANUAL
O contedo do manual determinado pela necessidade de informao da unidade
onde ser implantado. O manual poder conter:
A estrutura administrativa de organizao e do servio de enfermagem;
As normas, rotinas e procedimentos relacionados ao pessoal, assistncia que
dever ser prestada ao cliente, aos materiais etc..
Os diagnsticos de enfermagem e seus referidos cuidados;
A descrio das funes que cada elemento da equipe deve realizar;
O quadro do pessoal da unidade;
E qualquer outras informaes necessrias para um bom funcionamento do
servio da enfermagem;
Essas informaes podem estar contidas em um nico manual, ou separados,
dependendo das caractersticas, finalidades das mesmas.
MANUAL DE NORMAS
As normas so conjuntos de regras ou instrues para determinar procedimentos,
mtodos, organizao, que so utilizados no desenvolvimento das atividades de
enfermagem. So leis, guias que definem o modo e quem deve realizar as aes de
enfermagem.
CRITERIOS PARA ELABORAO
Segundo a Associao Brasileira de Enfermagem, uma norma, para servir de guia,
deve ser formulada obedecendo alguns critrios:
estabelecida por uma autoridade reconhecida, como por exemplo, o
enfermeiro da unidade.
Baseia-se num principio, por exemplo: principio da assepsia;
Traduz objetivos e descreve as condies necessrias para alcanar um ideal;
Deve ser flexvel, permitindo o raciocnio e a iniciativa;
Deve ser ampla e expressa de maneira clara e concisa, adequada a
propsitos, e definida para poder determinar se foi ou no cumprida;
Deve basear-se em teorias e prticas atualizadas e estabelecer metas para
melhoria;
Os critrios de avaliao que a acompanham devem estabelecer medidas
qualitativas e quantitativas do servio de enfermagem;
Deve estar sujeita a continua reviso e avaliao;
* EXEMPLOS DE NORMAS:
- A prescrio dos cuidados de enfermagem dever ser feita pelo enfermeiro
encarregado, segundo condutas estabelecidas.
- Todo acidente ocorrido com o pessoal de enfermagem, durante a realizao das
atividades, dever ser imediatamente informado chefia de enfermagem.
- Os materiais para exame laboratorial de rotina devero ser encaminhados ao
laboratrio, diariamente, at as 9 horas.
- Todo paciente cardaco dever ser pesado, diariamente, pelo atendente de
enfermagem designado para cuid-lo.
- os funcionrios de enfermagem devero estar na unidade onde trabalham,
devidamente uniformizados, at as 7 horas.
MANUAL DE ROTINAS
A rotina, conforme definio do Ministrio da Sade, o conjunto de elementos
que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizados.
a descrio sistematizada dos passos a serem dados para a realizao das aes
componentes de uma atividade, na seqncia da execuo.
Uma rotina instrui sobre o que deve ser feito, quem deve fazer e onde.
ELABORAO
A rotina especifica de cada unidade, uma vez que seus passos e agentes
dependem dos recursos existentes nessa unidade. Por exemplo: em uma unidade que
dispe de mais recursos, o curativo feito pelo enfermeiro; em outra que no tem
esse profissional em numero suficiente, ser feito pelo auxiliar de enfermagem.
Neste caso, cada unidade ter uma rotina diferente; alm dos agentes diferentes,
a linguagem diferente; e a descrio das aes devero estar de acordo com o preparo
de quem ir execut-la.
As rotinas podem conter as seguintes informaes:
- nome da organizao da sade;
- nome da unidade a quem se destina;
- titulo da rotina;
- normas inerentes a rotina, quando couber;
- identificao do agente da ao;
- aes a serem realizadas;
- outras informaes necessrias.
TIPOS DE ROTINAS
Existem trs tipos principais de rotina: de colunas, textual, e fluxograma.
Rotina forma de COLUNA: ofecere rpido visualizao da informao
necessria, facilitando sua consulta. composta de trs colunas bsicas: o agente
(quem), ao (o qu) e observao (onde). Os agentes so os nicos elementos
(podendo nesse caso ser colocado numa norma) e a coluna dos mesmos cita os tipos
de profissionais envolvidos na rotina (equipe de enfermagem ou multidisciplinar).
Rotina TEXTUAL: Como o prprio nome diz a forma de texto, podendo
seguir tpicos (normas, agentes, aes, observao) da rotina de colunas.
Rotina FLUXOGRAMA: Representa graficamente as aes a serem
realizadas, utilizando smbolos identificados em uma legenda. Pode ser vertical ou
horizontal dependendo da disposio em que ocorre a seqncia das aes. Tambm
composta por colunas: convenes, agentes, descrio das aes.
MANUAL DE PROCEDIMENTOS
Procedimento a descrio detalhada e seqencial de como uma atividade deve
ser realizada. sinnimo de Tcnica.
O procedimento, ao contrario da rotina, geralmente uniforme para toda a
organizao, pois esta baseado em princpios cientficos e, assim, no se modifica,
independentemente de quem o realiza. Por exemplo, um procedimento de sondagem
vesical realizado por um enfermeiro, ou por um mdico sempre da mesma maneira. O
tipo de material utilizado pode ser modificado, mas a tcnica de fazer a sondagem
geralmente no.
ELABORAO
importante que os passos do procedimentos sejam suficientemente detalhados
e explicativos, para redimir todas as dvidas de quem vai execut-lo.
Assim como a rotina, o procedimento tambm deve ter uma identificao exata. O
procedimento pode conter as seguintes informaes:
- nome da organizao da sade;
- nome da unidade de enfermagem;
- titulo do procedimento;
- finalidade;
- princpios a serem observados
- material necessrio;
- Preparo do paciente;
- preparo do ambiente;
- descrio dos passos;
- anotao no pronturio;
TIPOS DE PROCEDIMENTOS
Existem dois tipos principais de procedimento: textual e de colunas.
O procedimento textual descritivo como um texto.
O procedimento de colunas pode unir vrios informaes, como, por exemplo,
finalidade e descrio dos passos, material e descrio dos passos, e outros, de acordo
com a informao que se quer salientar.
* OBS: O manual como instrumento de consulta ajuda na soluo das duvidas, mas
sozinho no efetivo. H necessidade de se aliar a consulta ao manual superviso das
atividades desenvolvidas, pois, mesmo com todo cuidado na elaborao, podem ainda
surgir duvidas e necessidades de orientao.
O objeto da administrao de recursos humanos so as pessoas e suas relaes
dentro da organizao. No entanto, certamente no esse o seu objetivo. sempre
necessrio esclarecer o formulador dos objetivos que se quer atingir. Nessas condies,
pode-se dizer que a administrao de recursos humanos serve para manter a
organizao produtiva, eficiente, eficaz, a partir da mobilizao adequada das pessoas
que ali trabalham. A ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS pode ser compreendida
como: um subsistema de uma organizao, pois pessoas realizam o trabalho das
organizaes. Mesmo quando existe uma intensa substituio do elemento humano por
mquinas, as pessoas recolhem o produto transformado pelas mquinas, ligam-nas,
desligam-nas, decidem quando acion-las e quando consert-las (e at contratos de
manuteno para elas)... O termo "recurso humano" torna-se compreensvel em funo
da utilizao do modelo de teoria geral de sistemas.
CONCEPO DA ORGANIZAO COMO SISTEMA
Modificao do mesmo modelo segundo reas de preocupao do administrador.
VII ADMINISTRAO DE RECURSOS MATERIAIS E RECURSOS
HUMANOS
O SUBSISTEMA DE ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS
Considerar o modelo de sistemas leva a compreender a organizao como um
sistema aberto (que interage com o ambiente que a rodeia) e complexo (composto de
uma srie de subsistemas com diferentes finalidades, todos idealmente com o mesmo
objetivo). A administrao de recursos humanos dentro da organizao pode ser
classificada como um de seus subsistemas. Para descobrir os componentes desse
subsistema, deve-se compreender a trajetria do indivduo sob a tica da organizao.
O modelo "lgico" apresentado a seguir no real, pois a realidade no se rende
perante esse tipo de formulao. Como qualquer modelo pressupe, trata-se de uma
simplificao. A deciso sobre a qualificao dos trabalhadores seria uma das primeira
informaes a servir como subsdio para desencadear o ciclo do subsistema da
administrao de recursos humanos. Assim que aqueles trabalhadores estiverem em
pleno exerccio de suas funes, hora de desencadear um componente em geral
considerado entre os ltimos - a avaliao dos recursos humanos. Nem a definio de
necessidades costuma ser o primeiro passo, nem a avaliao - se e quando feita - deve
ser o ltimo. O importante ter em mente que essas atividades devem ser realizadas. O
momento da sua realizao indicado pela prpria vida organizacional.
SUPRIMENTO
Para obter o suprimento de trabalhadores, a organizao possui duas funes
tradicionalmente concebidas: RECRUTAMENTO E SELEO. Este texto busca apresentar
a teoria em seus termos ideais, acompanhados de algumas crticas. RECRUTAMENTO
significa, teoricamente, buscar o trabalhador ideal, esteja ele onde estiver, e interess-lo
em tornar-se um membro da organizao. Na verdade, h dois extremos nessa funo
de recrutamento externo:
1 - O profissional desejado existe, especializado e foi localizado numa
organizao diferente daquela para a qual se quer atra-lo. A ocorre um mecanismo de
seduo, que consiste em atrair esse profissional utilizando condies mais vantajosas.
Mesmo na rea da sade, onde existe o mito dos grandes especialistas, crticos para
realizar algumas tarefas na rea tcnica, essa situao bastante rara - ela se limita a
algumas categorias profissionais, quando no a alguns nomes, em geral de tcnicos em
sade e quase nunca de gestores. Exceto nestas situaes excepcionais, os servios se
contentam com quem conseguem obter (no necessariamente tendo claro o que
desejariam).
2 - No h definio clara a respeito de quem se deseja como o futuro ocupante
de cargos da organizao, desde que preencham as condies necessrias. Nesta
situao, define-se o perfil do cargo, descrevem-se seus requisitos e se providencia a
divulgao desta informao em locais apropriados. Por exemplo, caso se desejem
agentes de sade sem qualificao prvia na rea de sade (a ser oferecida pelo
municpio), mas que residam na regio, o lugar mais apropriado para a divulgao do
anncio pode ser a sede da associao comunitria, a igreja ou a escola local. Caso se
busque um engenheiro com conhecimento em engenharia biomdica, h poucos locais
aos quais encaminhar o pedido de currculos.
A SELEO DE PESSOAL, por sua vez, viria - idealmente - aps o recrutamento e
teria por finalidade descobrir, entre os que se candidatam, aqueles que "interessam"
organizao, aqueles mais adequados ao trabalho. A seleo, em geral, ocorre quando
h excesso de oferta de candidatos, de modo a tentar garantir que os melhores
ingressem na organizao. Seria desejvel que essa circunstncia ocorresse sempre, de
forma a aumentar a probabilidade de que um nvel mnimo de exigncias fosse
cumprido. A definio desse nvel mnimo e sua exigibilidade compete, mais uma vez,
aos responsveis pelas decises da organizao. Por exemplo, a inexistncia de um
mdico para uma unidade de emergncia pode ou no significar a contratao de um
profissional pouco qualificado, se ele for o nico candidato. Tambm cabe definir qual a
situao de menor risco para a organizao ou seus usurios. Deve-se definir os critrios
de ingresso e adequ-los, sempre que necessrio. H diversos tipos de mecanismos de
seleo, entre esses dois casos extremos:
1- CONCURSO PBLICO, em que a lgica prevalente oferecer a toda a
populao - desde que se encaixe no perfil exigido - o direito de se candidatar a uma
dada posio;
2- INDICAO, segundo a qual o responsvel consulta as pessoas em quem
confia (ou de quem depende) a respeito do indivduo ideal para exercer determinadas
funes. O critrio, nesse caso, pode ser tcnico (a pessoa mais competente para
realizar aquela funo) e/ou poltico (a pessoa mais conveniente para realizar aquela
funo).
Por mais que essas decises paream rotineiras, deveriam ser consideradas como
estratgicas, pois influenciam os rumos e os resultados pretendidos pela organizao. O
fato de ser sobrinho do diretor-geral no necessariamente capacita algum a ser o
responsvel por compras ou pelo planejamento. A relao de parentesco tampouco
desqualifica uma pessoa. Ainda resta considerar os exames mdicos e psicotcnicos
admissionais, se os requisitos no se restringirem ao conhecimento. Por exemplo,
desejvel que um tcnico de laboratrio enxergue bem, mas um operador de cmara
escura pode ser cego, sem que isso interfira negativamente em seu trabalho. Um
motorista de ambulncia deveria ter maior tolerncia ao estresse que um datilgrafo e
uma telefonista necessita de pacincia, embora possa ter problemas dermatolgicos. A
possibilidade de o trabalhador se dedicar por um longo perodo ao servio municipal
deveria ser levado em conta, bem como sua percepo desse fato.
Um fator relativamente novo no Brasil comea a ser discutido - embora, em outros
pases, j seja corriqueiro - o das quotas por gnero e por raa. Embora a discusso
esteja mais presente em funo de acesso educao, cabe prever mais este objeto de
deciso.
MANUTENO
Aps o indivduo ser recrutado, selecionado, socializado, aceito e ter comeado a
trabalhar na organizao, por uma srie de motivos - entre os quais os custos
mencionados anteriormente - passa a ser necessrio mant-lo dentro dela. O conceito
de manuteno valoriza o contrato psicolgico, que comea a assumir a forma de um
acordo mais objetivo, mediado por relaes de trabalho.
Contrato pode ser definido como um instrumento por meio do qual diferentes
partes afirmam formalmente suas vontades, direitos e obrigaes.
Freqentemente, o contrato de trabalho menciona funo, nmero de horas e
remunerao. Todo o resto transcende o documento formal, seja porque mais cmodo
deixar que as circunstncias se resolvam sozinhas, seja porque ningum tem certeza se
conveniente tentar regular as relaes de carter pessoal.
DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento profissional definido por meio das atividades de treinamento
tcnico e de reciclagem. Para ter bons resultados nas organizaes, no basta ser bons
profissionais - eles precisam desempenhar suas tarefas de acordo com as determinaes
ou com os padres da organizao. A idia subjacente ao treinamento oferecer ao
profissional mais uma habilidade ou mant-lo atualizado naquelas de que j dispe, seja
devido s inovaes tecnolgicas em suas reas de atuao, seja pela necessidade de
incorporar uma nova atividade entre aquelas desenvolvidas na organizao, seja ainda
pela constatao de um desempenho insatisfatrio do tcnico. Em qualquer caso, o
sistema de desenvolvimento deve estar atento ao que ocorre na sua organizao, pois
deve tomar conhecimento, alm da avaliao do desempenho dos trabalhadores, das
inovaes introduzidas.
RECICLAGEM o eufemismo costumeiramente utilizado para se referir ao
treinamento sem ferir suscetibilidades. De fato, treinamento pressupe partir de um
nvel homogneo de conhecimento, geralmente prximo de zero. Seria o equivalente da
"ciclagem". Dessa forma, reciclagem seria atualizao, reviso de conhecimentos,
aprimoramento daquilo que, a rigor, j se sabia.
AVALIAO
A avaliao de recursos humanos requer uma apreciao mais global. Existe um
desempenho de contedo tcnico, cuja avaliao est sob responsabilidade dos
supervisores imediatos, supondo que estes tenham conhecimento tcnico suficiente para
faz-lo e contato com as normas mais atualizadas, externas organizao e internas a
ela. Ao mesmo tempo, o rgo de Recursos Humanos pode oferecer ajuda por meio de
instrumentos que eventualmente formalizem a avaliao, bem como mediante a
compilao dos diversos resultados de avaliao tcnica de cada funcionrio no tempo e
a respeito de uma dada atividade pela organizao como um todo.
FUNO ATIVIDADES PRINCIPAIS
Suprimento Recrutamento e seleo
Aplicao Alocao e socializao
Manuteno Remunerao, carreira, condies de trabalho
Desenvolvimento
Treinamento, desenvolvimento de recursos humanos,
desenvolvimento organizacional
Avaliao
Do recurso humano, da administrao de recursos humanos e
da organizao
DIMENSIONAMENTO PESSOAL (CLCULO)
A resoluo 293/2004 esclarece a fundamentao dos clculos e formulas
recomendada nos Anexos I, II, III e IV, disponveis no site www.portalcoren-rs.gov.br.
Para efeito de clculos, devem ser consideradas como horas de Enfermagem, por
leito, nas vinte quatro horas:
- 3,8 horas de Enfermagem, por cliente, na assistncia mnima ou autocuidado;
- 5,6 horas de Enfermagem, por cliente, na assistncia intermediaria;
- 9,4 horas de Enfermagem, por cliente, na assistncia semi-intensiva;
- 17,9 horas de Enfermagem, por cliente, na assistncia intensiva;
UTILIZANDO O COEFICIENTE DE MARINHO, A FORMULA DE CALCULO DE
PESSOAL :
QP=KM x Total de Horas de Enfermagem (THE)
UTILIZANDO A FORMULA USADA POR FUGULLIN PARA O CALCULO DE
PESSOAL USA-SE A FRMULA:
QP= Numero de leitos (% de ocupao)x Hs de Enf x dias semana
Jornada semanal de trabalho
Para utilizar as duas formulas os quatro exerccios a seguir permitem esclarecer o
raciocnio apresentado:
* EXEMPLO1: Qual a necessidade de pessoal de enfermagem para uma unidade
assistencial de 24 leitos de pacientes cirurgicos nos diferentes turnos, sendo 16 so de
cuidados intermedirios e 08 com cuidados mnimos? (90% de ocupao)
90 % de 16L= 14 total de cuidados intermedirios
90 % de 08L= 07 cuidados mnimos.
THE= 7 x 3,8 + 14 x 5,6
THE= 26,6 + 78,4= 105
Numero de pessoal = 0,2236 x 105= 23,47 Profissionais de Enfermagem
N de leitos: 90 % de 16L= 14
90 % de 08L= 07
Numero de Pessoal= 14L x 5,6h x 07L x 3,8h x 7 dias de semana=
36h
Numero de Pessoal= 78,40 + 26,60 x 7= 735= 20.42
36h 36h
Numero de Pessoal= 20.42 acrescidos de 15% de ndice de segurana tcnico (IST) /
Resoluo COFEN N 293/2004.
Numero de Pessoal= 20.42 + 03 = 23 Profissionais de Enfermagem.
* EXEMPLO 02: Voc deve planejar uma unidade de internao para 28 pacientes,
destes 15 so pacientes com cuidado intensivos e 13 pacientes com cuidados semi-
intensivos, distribudos nas vinte quatro horas com 100% de ocupao.
Usando a formula da resoluo 293/2004
QP= Coeficiente de Marinho (KM) x Total de Horas de Enfermagem (THE)
Usando a formula de Fugullin:
Numero de Pessoal= Numero de leitos (% de ocupao)x Hs de Enf x dias semana
Jornada semanal de trabalho
Numero de Pessoal= 15L x 17,9h x 13L x 9,4h x 7 dias de semana=
36h
Numero de Pessoal= 268 + 122,20 x 7= 2.731,40= 75.87
36h 36h
Numero de Pessoal= 75.87 acrescidos de 15% de ndice de segurana tcnico (IST) /
Resoluo COFEN N 293/2004.
Numero de Pessoal= 75.87 + 11.38 = 87.25 Profissionais de Enfermagem nos 4 turnos
* EXEMPLO 03: Em uma unidade com 36 pacientes distribudos em 21 pacientes com
cuidados mnimos, e 15 pacientes com cuidados intermedirios, qual ser a necessidade
de pessoal de Enfermagem para os 24 horas com ocupao de 80%?
Numero de Pessoal= 17L x 3,8h x 12L x 5,6h x 7 dias de semana=
36h
Numero de Pessoal= 64.60 + 67.20 x 7= 922.60= 25,63= 26
36h 36h
Numero de Pessoal= 26 acrescidos de 15% de ndice de segurana tcnico (IST) /
Resoluo COFEN N 293/2004.
Numero de Pessoal= 26 + 3,9 = 29,9= 30 Profissionais de Enfermagem
* EXEMPLO 04: Em uma Unidade peditrica com 24 leitos e uma ocupao de 80%,
qual o quadrado do pessoal necessrio para atendimento nas 24 horas, sendo 12
pacientes com cuidados intermedirios e 12 pacientes com cuidados semi-intensivos?
N de leitos: 80 % de 12L= 9,6= 10.
80 % de 12L= 9,6= 10.
Numero de Pessoal= 10L x 5,6h x 10L x 9,4h x 7 dias de semana=
36h
Numero de Pessoal= 56 + 94 x 7= 1050,00= 29,17
36h 36h
Numero de Pessoal= 29,17 acrescidos de 15% de ndice de segurana tcnico (IST) /
Resoluo COFEN N 293/2004.
Numero de Pessoal= 29,17 + 4,38= 33.55 Profissionais de Enfermagem
importante que os (as) Responsveis Tcnicas (RT) pelo Servio de Enfermagem
tenham estes calculos como balizamento de seu quadro operacional baseado na gesto
eficiente e eficaz da Enfermagem com propostas objetivas e metas definidas e
acompanhadas em sua execuo.
GESTO DE RECURSOS MATERIAIS
O OBJETIVO BSICO DA ADMINISTRAO DE MATERIAIS consiste em colocar os
recursos necessrios ao processo produtivo com qualidade, em quantidades adequadas,
no tempo correto e com o menor custo. Materiais so produtos que podem ser
armazenados ou que sero consumidos imediatamente aps a sua chegada. Baseado
nesse conceito, esto excludos os materiais considerados permanentes, como
equipamentos mdico-hospitalares, mobilirio, veculos e semelhantes, e includos,
portanto, os demais produtos, como medicamentos, alimentos, material de escritrio, de
limpeza, de conservao e reparos, de uso cirrgico, de radiologia, de laboratrio,
reagentes qumicos, vidraria, etc.
FALTA DE MATERIAL
O diagnstico inadequado leva a uma ao que no produzir os efeitos
desejados. As causas da falta de materiais podem ser identificadas em trs diferentes
grupos:
* CAUSAS ESTRUTURAIS
Falta de prioridade poltica para o setor: baixos investimentos, baixos salrios,
corrupo, servios de baixa qualidade, etc.
Clientelismo poltico: diretores incompetentes, fixao de prioridades sem a
participao da sociedade, favorecimentos, etc.
Controles burocrticos: que agem sobre os instrumentos, particularmente
naqueles de carter econmico, levando desvalorizao das aes executadas e
invertendo o referencial das organizaes. importante lembrar que no basta
fazer as coisas corretamente: deve-se tambm fazer as coisas certas. A
burocracia somente se preocupa com o rito - a ela no interessa o produto final.
Centralizao excessiva: produz danos imensos na rea de materiais. Compras
centralizadas e baseadas exclusivamente em menores preos so exemplos que
devem ser evitados.
* CAUSAS ORGANIZACIONAIS
Falta de objetivos: quando os objetivos no esto claros, cada unidade cria seu
prprio sistema de referncia. Como conseqncia, pode ocorrer uma dissociao
entre a rea fim e as reas meio.
Falta de profissionalismo da direo.
Falta de capacitao e de atualizao do pessoal.
Falta de recursos financeiros.
Falta de controles.
Corrupo.
Falta de planejamento.
Rotinas e normas no estabelecidas adequadamente.
* CAUSAS INDIVIDUAIS
Diretores Improvisados: inseguros ou incapazes de inovar, sem condies de
manter um dilogo adequado com a rea fim.
Funcionrios desmotivados: sem compromisso com a instituio. Seu principal
objetivo a manuteno do emprego.
A administrao de materiais, equipada de tecnologia adequada, poder evitar,
em parte, a falta de materiais, porm essa ao isolada no suficiente sem a
eliminao das causas. A administrao de materiais isoladamente no capaz de evitar
as faltas.
APNDICE
Para a elaborao de um catlogo de materiais, devem-se seguir os seguintes
passos:
Obter apoio tcnico e poltico para seu uso;
Criar um grupo responsvel pela padronizao de materiais, ligado ao nvel
poltico da organizao e cujos membros sejam respeitados pelos seus
conhecimentos tcnicos e tenham capacidade de dilogo com seus pares;
Obter informaes a respeito da morbidade prevalente, da complexidade da rede,
dos materiais utilizados, das caractersticas de demanda e do modelo assistencial, da
capacitao profissional do pessoal da rea de sade, das caractersticas do mercado
fornecedor; avaliar catlogos de organizaes semelhantes e dos eventuais
problemas de logstica;
Decidir a estrutura do catlogo, os critrios de seleo, a classificao e a
codificao dos produtos, bem como a classificao por nvel de uso;
Selecionar os materiais;
Definir os nveis de utilizao dos itens;
Difundir o catlogo;
Divulgar normas de utilizao do catlogo;
Atualizar o catlogo conforme a necessidade;
Revisar o catlogo periodicamente.
SUBSISTEMA DE CONTROLE
Suas funes so gesto e valorao de estoques. Utiliza como entradas do
processo as normas contbeis da organizao para determinar o valor dos estoques, os
objetivos definidos em relao aos nveis de estoques a serem mantidos, os catlogos
existentes, as relaes de entrada e sada de materiais.
O ideal a existncia de reas distintas para compras e armazenamento. Essa
medida permite um duplo controle dos estoques existentes, alm do controle fsico-
financeiro. Para maiores detalhes, veja o captulo destinado estrutura organizacional
para rea de materiais.
VALORAO DE ESTOQUES
Determinar o valor dos estoques uma tarefa que depende de vrios fatores, e
existem diversos mtodos para sua execuo. Ao analisar-se o custo de um produto na
entrada do estoque, devemos considerar todos os valores envolvidos na sua aquisio,
que vo alm do simples custo do produto em si. Devem ser observados os gastos com
fretes, seguros e impostos, que afetam enormemente o custo do material em estoque.
Por essa razo, prefere-se determinar o valor do produto na sada do estoque, e h trs
possibilidades de faz-lo:
1. MTODO PEPS OU FIFO (FIRST IN FIRST OUT): o primeiro a entrar o
primeiro a sair do estoque. Esse mtodo proporciona maior lucro para a empresa.
2. MTODO UEPS OU LIFO (LAST IN FIRST OUT): o ltimo a entrar o primeiro
a sair. A empresa registra menor lucro contbil.
3. MTODO DO CUSTO MDIO PONDERADO: fornece um resultado mais real.
Cada mtodo apresenta vantagens e desvantagens. A escolha depende dos
objetivos de cada empresa. No Brasil, a Lei 4.320/69, em seu art. 106, determina que
os rgos pblicos faam uso do custo mdio ponderado.
INDICADORES DE GESTO
A literatura apresenta vrios dados que funcionam como indicadores da gesto de
materiais. Alguns deles so citados a seguir:
Porcentagem de funcionrios de compras: no mximo, 2% do total de
funcionrios do hospital.
Nmero de compras por comprador ao ms: aproximadamente 200 aquisies por
comprador/ms.
Custo de um pedido: divide-se o custo do setor de compras pelo nmero total de
aquisies efetuadas no perodo. O resultado no deve ser superior a 10 dlares.
Nvel de servio: uma relao expressa em porcentagem - diviso do nmero
total de pedidos atendidos pelo nmero de solicitaes recebidas, multiplicada por
100. O ideal que essa relao seja o mais prximo de 100%.
Tempo mdio de abastecimento: o tempo decorrido entre a solicitao de compra
e a entrega do produto. importante que se monitore esse perodo, o que pode
ser feito por amostragem.
Giro de estoque ou rotatividade: um indicador que reflete o nmero de vezes que
o estoque roda em um determinado perodo. A expresso matemtica para
calcul-lo :
Consumo no perodo (em unidades)
Giro =
Estoque mdio no perodo (em unidades)
CONSUMO NO PERODO (EM UNIDADES)
O dado referente ao estoque mdio de um determinado item obtido calculando-
se a mdia dos estoques dirios do produto no perodo considerado. Uma forma
simplificada de clculo substitui o estoque mdio do perodo pelo nmero de unidades
em estoque no ltimo dia do perodo considerado. Assim, se um hospital consome 200
caixas de seringas de 10 ml por ms e possui um estoque mdio de 400 caixas, o giro
desse item ser 0,5. Isso significa que o estoque do produto girou meia vez em um ms.
O inverso do giro (ou antigiro) indica o nmero de perodos necessrios para o consumo
do estoque. No caso acima, dois perodos, que equivalem a dois meses.
Valores elevados de giro indicam a necessidade de compras freqentes; por outro lado,
valores baixos revelam um volume elevado de estoque e, portanto, grandes valores
monetrios imobilizados. A monitorao de preos e quantidades adquiridas so
ferramentas importantes para o administrador de materiais. O estudo desses
parmetros fornece indicaes acerca de variaes percentuais de preos em
determinado perodo, variaes de quantidades em estoque ou aumento de consumo.
APNDICE
A definio do momento da compra depende do modelo adotado para a renovao
dos estoques. Assim, como foi visto, pode-se comprar quando o estoque chega ao ponto
considerado mnimo ou aguarda-se o perodo preestabelecido para que seja feita a
avaliao dos estoques. Um sistema hbrido utiliza perodos de reviso associados ao
conceito de estoques mnimos, e as compras sero feitas ao se atingir o prazo de
renovao ou o estoque mnimo. Os modelos citados indicam as quantidades a serem
adquiridas no momento do pedido.
As quantidades a serem compradas podem ser dimensionadas tambm por outros
mtodos. Entre os mais utilizados, est o chamado lote econmico de compra, que
busca reduzir os custos de obteno e de posse do material. A expresso matemtica
utilizada para o clculo do LEC :
LEC = 2 x C1 x b , em que C2 x I
C1 = custos envolvidos na aquisio, tais como custo do pessoal de compras, custo de
editais, publicidade, etc.;
b = demanda mdia anual prevista para o item (em unidades);
C2 = custo unitrio final do item;
I = taxa (e, portanto, um valor percentual) que exprime o custo de manuteno do
estoque.
Nessa taxa encontram-se os custos de seguro, juros sobre o material imobilizado,
custo do espao fsico, etc.
* Exemplo: se o custo de aquisio de um item (C1) 6 dlares; a demanda mdia
anual (b) de 800 unidades; o custo unitrio final (C2) de 10 dlares, e o custo de
manuteno do estoque 30%, o lote econmico de compra ser:
LEC = 2 x 6 x 800
10 x 0,3
Efetuando-se os clculos, chegamos a um valor de LEC = 57 unidades.
Existem outros ndices que podem ser calculados para auxiliar a realizar a melhor
compra. Tais frmulas de clculo so encontradas na literatura especializada.
SUBSISTEMA DE COMPRAS
A venda de materiais por uma empresa pblica feita seguindo-se determinados
princpios legais. Tal venda desempenhada pela funo de alienao de materiais e a
freqncia com que ocorre muito baixa. A razo para que no existam muitos casos de
alienao reside no fato de que a atividade de compra e venda com caractersticas
comerciais no objetivo principal de rgos pblicos e , portanto uma ocorrncia
fortuita. Importa saber que a funo existe e permite a transferncia de um bem (ou
servio) pblico para terceiros. Por outro lado, a funo de aquisio reveste-se de
caractersticas prprias do setor pblico. Comprar buscar o atendimento s
necessidades de produtos (ou servios), conforme os requisitos de qualidade
estabelecidos pelo processo produtivo, no tempo correto, com os melhores preos e
condies de pagamento. Cada organizao, seja pblica, seja privada, realiza essa
funo segundo as normas internas, quase sempre controlada pela administrao
superior. Nas empresas particulares, dependendo de sua complexidade, existem
diferentes graus de controle do processo de compra, diversos graus de complexidade e
instncias do processo.
Em empresas pblicas, as normas esto estabelecidas em dispositivos legais, cuja
complexidade varia conforme o valor do compromisso financeiro envolvido. Denomina-
se licitao o processo formal de aquisio executado por rgos pblicos, desenvolvido
conforme os preceitos estabelecidos para tal fim, com o objetivo de atender s
necessidades da organizao quanto compra de produtos, bens ou servios destinados
ao processo produtivo. As licitaes no Brasil esto regulamentadas pela Lei 8.666 de
21 de junho de 1993, atualizada pelas leis 8.883 de 8 de junho de 1994 e 9.648 de 27
de maio de 1998. Todo administrador pblico deve necessariamente t-las, l-las e
conhec-las.
AS ENTRADAS PRINCIPAIS DO SISTEMA so a legislao (princpios da licitao),
o mercado, as empresas assemelhadas (verificar como, de quem, a que preo esto
comprando instituies semelhantes), solicitaes fora do catlogo, relatrios de
movimentao de estoque, catlogo de especificaes.
LICITAO
1. PRINCPIOS DA LICITAO
As licitaes possuem determinados princpios bsicos que devem ser observados
para que ao final do processo este seja vlido e atenda aos objetivos da compra (ver
definio acima).
PROCEDIMENTO FORMAL
Os regulamentos internos das organizaes tratam de estabelecer as regras que
nortearo as relaes entre os licitantes e a administrao, adequando o processo
licitatrio aos diplomas legais obrigatrios. O estabelecimento de regras claras, sem
aumento da burocracia, e o cumprimento da legislao so os objetivos a serem
perseguidos no momento da definio do regulamento interno.
PUBLICIDADE DOS ATOS
Considerando-se que a licitao, por definio, um processo pblico, no se
pode imaginar que os diversos passos de seu desenvolvimento no o sejam. No existe
licitao secreta. A todos os interessados deve ser garantido o acesso a informaes,
desde que cumpridas as formalidades exigidas por lei. A publicidade dos atos licitatrios
varia conforme o tipo de processo e sua importncia, podendo ser apenas uma
publicao interna ou efetuada por um meio de divulgao de grande alcance.
IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES
O processo no pode conter clusulas que possam favorecer ou eliminar
determinados fornecedores, desde que qualificados, e o tratamento dispensado aos
participantes deve ser igual. Convm lembrar que permitido estabelecer critrios
mnimos para que um fornecedor participe do processo. Esses critrios visam garantir o
cumprimento do contrato, e no estabelecer diferenas de tratamento entre os
proponentes.
SIGILO NA APRESENTAO DE PROPOSTAS
A organizao responsvel pela manuteno do sigilo das propostas at o
momento da abertura delas. A quebra do sigilo promover desigualdade entre os
participantes, ferindo o princpio acima.
VINCULAO AO EDITAL
O edital serve para mostrar aos participantes os bens, servios ou produtos que
sero adquiridos e as regras utilizadas durante o processo. Estas no podem ser
alteradas durante o certame, assim como no devem ser elaborados contratos para
aquisio de itens diferentes daqueles estabelecidos ao incio dos trabalhos e
consignados no edital. Vale dizer que, no caso de materiais de consumo, a descrio dos
produtos, em geral, reproduz a especificao do material, sendo esta mais uma razo
para que se tenha cuidado ao elaborar a descrio dos produtos, conforme foi ressaltado
quando se abordou a funo de normalizao.
JULGAMENTO OBJETIVO
O julgamento das propostas deve ser feito com base em critrios objetivos, se
possvel mensurveis, observando-se a qualidade, o rendimento do produto, os preos,
os prazos de pagamento e entrega, e outros que possam ser solicitados, integrantes do
edital, sendo vedada a introduo de parmetros arbitrrios e no consignados no
edital. Aqui tambm ser possvel verificar a importncia de uma especificao correta.
A lei recomenda que se d prioridade ao critrio de menor preo quando do julgamento
das propostas. Pode-se dizer que a especificao feita com cuidado levar aquisio do
material correto ao menor preo. Opinies tcnicas devem ser solicitadas sempre que
necessrio, convocando-se os usurios para que participem da tomada de deciso.
ADJUDICAO COMPULSRIA
A adjudicao um ato do processo em que a organizao define que o vencedor
da licitao vai fornecer o produto. Um procedimento licitatrio sem vcios gera, aps o
julgamento, o direito de o vencedor estabelecer o contrato com a instituio. S se
admite que seja adjudicado a quem perdeu nos casos em que o vencedor no puder
fornecer, seja por desistncia expressa, seja por outros casos previstos na legislao.
2. AS FASES DO PROCESSO LICITATRIO
REQUISIO DE COMPRA E ABERTURA DO PROCESSO
Para que se inicie um procedimento de compra, h a necessidade de uma
requisio de compra. Sua emisso ocorre de forma automtica quando existe um
sistema eletrnico, ou gerada manualmente na ausncia deste. O momento da
emisso da requisio depende do modelo de gesto de estoques adotado. A requisio
de compra o documento inicial para a montagem do processo.
AUTORIZAO DE COMPRA E RESERVA DE VERBA
Uma vez tomadas as providncias preliminares, o processo remetido
autoridade maior da organizao que detm a competncia para aprovar a despesa.
Aps essa etapa, o responsvel pela rea financeira tem a obrigao de reservar o
recurso para efetuar a aquisio. Definio da modalidade, edital e convocao de
fornecedores o edital pea fundamental em um processo de compra (ver Princpios da
licitao).
DEVE CONTER DE FORMA CLARA:
Descrio do objeto a ser adquirido;
Informaes sobre prazos e condies do processo licitatrio;
Solicitao de garantias;
Forma de pagamento e reajustes, se for o caso;
Solicitao de descrio das condies especiais para o recebimento dos produtos;
Critrios para que o fornecedor participe da licitao;
Critrios a serem utilizados no julgamento;
Informaes gerais a respeito do processo em questo;
Indicaes especficas, quando necessrio;
Normas internas da organizao.
Em geral, a rea de compras responde pelos dados referentes estimativa de
preos, alm de inserir no processo as normas que o regero, bem como o regulamento
interno de licitaes. A Instruo Normativa n 18/1997 do Ministrio da Administrao
Federal e Reforma do Estado, publicada no Dirio Oficial de 29 de dezembro de 1997,
disciplina a contratao de servios de vigilncia e limpeza.
O HCFMUSP coloca em seus editais de registro de preos para aquisio de
medicamentos alguns itens importantes, como a apresentao pelos licitantes de: "Carta
de credenciamento expedida pelo fabricante, garantindo qualitativa e quantitativamente
o fornecimento, quando a proposta for apresentada por representante ou distribuidor."
"O no cumprimento desta exigncia obrigar o fornecedor a apresentar em no mximo
72 (setenta e duas) horas o documento solicitado, sob pena de desclassificao do item
cotado."
"Se necessrio, poder ser solicitado s empresas participantes a apresentao de
trabalhos clnicos cientficos, nacionais ou internacionais, a respeito do princpio ativo
produzido pelo laboratrio."
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
A modalidade escolhida depende dos valores envolvidos. A legislao define para
cada modalidade o prazo durante o qual poder ser feito o recebimento de propostas por
meio de protocolo geral da instituio. Decorrido esse tempo, pode-se proceder
abertura delas.
ABERTURA, QUALIFICAO, OPINIO TCNICA, JULGAMENTO E ADJUDICAO
Em geral, as aberturas so marcadas com antecedncia, de acordo com os prazos
legais. A abertura feita por funcionrios designados para tal finalidade, em local
claramente identificado no edital. Aps a abertura, os fornecedores que cumpriram as
exigncias do edital continuam a participar do processo e aqueles que no o fizeram so
excludos. Essa a fase de qualificao. Definidos os participantes, a comisso
designada para efetuar o julgamento poder solicitar de especialistas um laudo tcnico
que auxilie o julgamento das propostas apresentadas. Deve-se ressaltar que esse passo
no obrigatrio. Sempre que a comisso tenha segurana e conhecimento para emitir
o seu julgamento, deve faz-lo, s recorrendo ao parecer para esclarecimento dos casos
que suscitem dvidas. O julgamento tornado pblico e formalizado mediante a
adjudicao
RECURSO
O recurso pode ser interposto at cinco dias aps o ato que o motivou. To logo seja
recebido, os demais participantes devem ser notificados da existncia do fato.
O recurso deve ser dirigido autoridade superior por intermdio da autoridade que
praticou o ato que gerou o recurso proposto.
HOMOLOGAO E CONTRATO
A homologao s pode ser feita aps decorrido o prazo legal para a apresentao
de recursos contra a adjudicao. um ato da autoridade superior da instituio e na
prtica significa a autorizao para que o proponente ao qual foi adjudicado o
fornecimento possa, finalmente, celebrar o contrato com a entidade compradora do
produto, bem ou servio. O setor administrativo recebe o processo devidamente
homologado, procedendo confeco do contrato e cuidando dos passos para sua
assinatura. Somente aps esse procedimento que ser emitido o empenho, com a
autorizao para a entrega do material ou a prestao do servio. No caso de compras,
a lei define as hipteses em que h a obrigatoriedade do contrato; do contrrio, o
empenho considerado documento equivalente.
3. O FORNECEDOR
Segundo a legislao, as empresas que participam de determinadas modalidades
de licitao devem apresentar documentos que forneam provas da capacidade jurdica
e de regularidade fiscal da empresa. Os primeiros so documentos que toda empresa
legalmente estabelecida possui. Os demais servem para comprovar que a empresa
cumpre as obrigaes fiscais.
Dependendo dos valores do contrato, os dispositivos legais podem requerer que o
fornecedor demonstre sua idoneidade financeira. Podem ser solicitados tambm
atestados que contenham informaes acerca de desempenho no fornecimento de
produtos, bens ou servios semelhantes a outras instituies. a chamada capacitao
tcnica. Cabe organizao executar aes para aumentar as possibilidades de
fornecimento por meio da manuteno de um cadastro atualizado de fornecedores, com
anotaes de eventuais ocorrncias e avaliaes.
Quando houver falhas por parte do fornecedor, deve-se aplicar as penalidades
previstas. Para tal aplicao, importante que haja registro formal das falhas atribudas
ao fornecedor. Por outro lado, a organizao deve manter as suas obrigaes em dia
para com os fornecedores, se quiser conserv-los.
4. REVOGAO E ANULAO
No transcurso de um procedimento licitatrio podem ocorrer atos que o
embarguem, parcial (alguns itens) ou totalmente. Tanto a REVOGAO quanto a
ANULAO levam ao mesmo resultado, ou seja, a suspenso do trmite; porm,
existem diferenas entre os dois conceitos.
A REVOGAO um ato que a administrao pode tomar no interesse pblico,
desde que justifique devidamente a sua necessidade. Assim, possvel revogar
determinados itens ou mesmo todo o processo. Suponhamos que determinado item de
consumo regular, especfico para certo procedimento, esteja sendo adquirido pela
emisso de um pedido de suprimento regular. Durante a tramitao do processo, ocorre
uma deciso de transferir tal tipo de servio para outra instituio. Nesse caso,
aplicvel a revogao, que se justifica pela alterao do perfil de atendimento. Enquanto
a revogao uma medida que pode ser tomada visando ao interesse da administrao,
a ANULAO constitui, na realidade, um dever do administrador. Caso no o faa,
haver a possibilidade de que o Judicirio tome essa providncia. A anulao
determinada por alguma ilegalidade existente no processo que obriga a sua interrupo.
5. JULGAMENTO
o ato que seleciona a proposta mais vantajosa, que atenda aos critrios
especificados no edital, e fatores a serem considerados. O parecer tcnico, quando
solicitado, pode ser referido como elemento levado em considerao para a escolha da
proposta vencedora.
Entre os fatores que podem ser comparados para o julgamento e que devem
constar do edital podem-se citar: qualidade, rendimento, preos, condies de
pagamento, prazos, etc.
Na licitao do tipo "menor preo", esse critrio deve prevalecer sobre os demais.
Nos casos de melhor tcnica e preo, h a necessidade de apresentao de cada uma
dessas propostas em envelopes separados para que se proceda qualificao tcnica
antes do julgamento final.
6. MODALIDADES DE LICITAO
As modalidades de licitao, como foi visto anteriormente, so definidas pelos
limites de valores fixados pela legislao. Torna-se importante, portanto, a pesquisa de
preos tanto para reservar-se a verba (compromisso) quanto para definio da
modalidade a ser adotada.
CONVITE
Modalidade utilizada para valores menores, em que os prazos de recebimento das
propostas so menores (cinco dias). um expediente mais gil que permite a
contratao de fornecedores cadastrados ou no. O convite vlido desde que sejam
apresentadas no mnimo trs propostas lcitas.
TOMADA DE PREOS
Nessa modalidade s podem participar fornecedores devidamente cadastrados,
podendo faz-lo at trs dias antes da data estipulada para o recebimento das
propostas. As tomadas de preos devem ser publicadas em rgos da imprensa oficial
de modo resumido, com indicao do local onde o edital completo pode ser obtido. As
propostas podem ser entregues num prazo de quinze dias aps a data da publicao.
CONCORRNCIA
Usada para contratos de maior valor. Podem participar proponentes cadastrados
ou no, desde que atendam aos requisitos solicitados pelo edital para a qualificao dos
participantes. Independentemente dos valores envolvidos, obrigatrio seu uso para os
casos de alienao (venda) de bens imveis, concesso de direito de uso, obras pblicas
e para o registro de preos. A publicidade feita com antecedncia de trinta dias em
jornal de grande circulao e no Dirio Oficial.
LEILO
Ocorre com a participao de qualquer interessado na aquisio dos bens mveis
que no servem mais administrao. Seu prazo de publicao de quinze dias
anteriores data estipulada para o evento.
CONCURSO
a forma disposta para escolher um trabalho artstico, cientfico ou semelhantes.
Podem participar quaisquer interessados. So institudos prmios aos vencedores que
atendam aos critrios estipulados no edital. O edital deve ser publicado com
antecedncia de 45 dias.
Considerando-se a situao de estabilidade econmica, merece um detalhamento
maior a modalidade de concorrncia mediante o registro de preos. Ao final deste
captulo h um modelo de proposta de edital com comentrios e outro de contrato.
PREGO
O prego uma modalidade de licitao de uso exclusivo da Administrao Pblica
Federal. Os editais so publicados na internet e, dependendo dos valores envolvidos, na
imprensa oficial e jornais de grande circulao. Pode ser usado para qualquer valor
estimado de contratao.
As propostas so entregues Comisso de Licitao. A de menor preo e as
ofertas at 10% acima dela so selecionadas para os lances verbais.
Conforme a Resoluo da Diretoria Colegiada, da Agncia Nacional de Vigilncia
Sanitria/ANVISA - RDC N 306, de 7 de dezembro de 2004, O GERENCIAMENTO DOS
RESDUOS DE SERVIOS DE SADE (RSS) constitudo por um conjunto de
procedimentos de gesto. Estes procedimentos so planejados e implementados a partir
de bases cientficas e tcnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a
produo de resduos de servios de sade e proporcionar aos resduos gerados, um
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando proteo dos trabalhadores, a
preservao da sade pblica, dos recursos naturais e do meio ambiente.
O gerenciamento inicia pelo planejamento dos recursos fsicos e dos recursos
materiais necessrios, culminando na capacitao dos recursos humanos envolvidos.
Todo laboratrio gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resduos
de Servios de Sade - PGRSS, baseado nas caractersticas dos resduos gerados.
O PGRSS a ser elaborado deve ser compatvel com as normas federais, estaduais
e municipais, e ainda deve estar de acordo com os procediemntos institucionais de
Biossegurana, relativos coleta, transporte e disposio final.
MANEJO
O manejo dos resduos de servios de sade o conjunto de aes voltadas ao
gerenciamento dos resduos gerados. Deve focar os aspectos intra e extra-
estabelecimento, indo desde a gerao at a disposio final, incluindo as seguintes
etapas:
VIII GERENCIAMENTOS DE RESIDUOS DE SERVIOS DE SADE
1 SEGREGAO
Consiste na separao dos resduos no momento e local de sua gerao, de
acordo com as caractersticas fsicas, qumicas, biolgicas, o seu estado fsico e os riscos
envolvidos.
2 ACONDICIONAMENTO
Consiste no ato de embalar os resduos segregados, em sacos ou recipientes que
evitem vazamentos e resistam s aes de punctura e ruptura. A capacidade dos
recipientes de acondicionamento deve ser compatvel com a gerao diria de cada tipo
de resduo.
Os resduos slidos devem ser acondicionados em sacos resistentes ruptura e
vazamento e impermeveis, de acordo com a NBR 9191/2000 da Associao Brasileira
de Normas Tcnicas (ABNT). Deve ser respeitado o limite de peso de cada saco, alm de
ser proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.
Colocar os sacos em coletores de material lavvel, resistente ao processo de
descontaminao utilizado pelo laboratrio, com tampa provida de sistema de abertura
sem contato manual, e possuir cantos arredondados.
Os resduos perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes resistentes
punctura, ruptura e vazamento, e ao processo de descontaminao utilizado pelo
laboratrio.
3 IDENTIFICAO
Esta etapa do manejo dos resduos, permite o reconhecimento dos resduos
contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informaes ao correto manejo dos RSS.
Os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta interna e externa, os recipientes
de transporte interno e externo, e os locais de armazenamento mdevem ser
identificados de tal forma a permitir fcil visualizao, de forma indelvel, utilizando-se
smbolos, cores e frases, atendendo aos parmetros referendados na norma NBR 7.500
da ABNT, alm de outras exigncias relacionadas identificao de contedo e ao risco
especfico de cada grupo de resduos.
O Grupo A de resduos identificado pelo smbolo internacional de risco
biolgico, com rtulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.
O Grupo B identificado atravs do smbolo de risco associado, de acordo com a
NBR 7500 da ABNT e com discriminao de substncia qumica e frases de risco.
O Grupo C representado pelo smbolo internacional de presena de radiao
ionizante (triflio de cor magenta) em rtulos de fundo amarelo e contornos pretos,
acrescido da expresso Rejeito Radioativo.
O Grupo E possui a inscrio de RESDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco
que apresenta o resduo
4 - TRANSPORTE INTERNO
Esta etapa consiste no translado dos resduos dos pontos de gerao at local
destinado ao armazenamento temporrio ou armazenamento externo com a finalidade
de apresentao para a coleta.
O transporte interno de resduos deve ser realizado atendendo roteiro
previamente definido e em horrios no coincidentes com a distribuio de roupas,
alimentos e medicamentos, perodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de
atividades. Deve ser feito separadamente de acordo com o grupo de resduos e em
recipientes especficos a cada grupo de resduos.
Os carros para transporte interno devem ser constitudos de material rgido,
lavvel, impermevel, resistente ao processo de descontaminao determinado pelo
laboratrio, provido de tampa articulada ao prprio corpo do equipamento, cantos e
bordas arredondados, e identificados com o smbolo correspondente ao risco do resduo
neles contidos. Devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza o rudo.
Os recipientes com mais de 400 L de capacidade devem possuir vlvula de dreno
no fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga
permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do
Ministrio do Trabalho e Emprego.
5 - ARMAZENAMENTO TEMPORRIO
Consiste na guarda temporria dos recipientes contendo os resduos j
acondicionados, em local prximo aos pontos de gerao, visando agilizar a coleta
dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o
ponto destinado apresentao para coleta externa. No pode ser feito armazenamento
temporrio com disposio direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatria a
conservao dos sacos em recipientes de acondicionamento.
O armazenamento temporrio pode ser dispensado nos casos em que a distncia
entre o ponto de gerao e o armazenamento externo justifiquem.
A rea destinada guarda dos carros de transporte interno de resduos deve ter
pisos e paredes lisas, lavveis e resistentes ao processo de descontaminao utilizado. O
piso deve, ainda, ser resistente ao trfego dos carros coletores. Deve possuir ponto de
iluminao artificial e rea suficiente para armazenar, no mnimo, dois carros coletores,
para translado posterior at a rea de armazenamento externo. Quando a sala for
exclusiva para o armazenamento de resduos, deve estar identificada como Sala de
Resduos.
No permitida a retirada dos sacos de resduos de dentro dos recipientes ali
estacionados.
Os resduos de fcil putrefao que venham a ser coletados por perodo superior a
24 horas de seu armazenamento, devem ser conservados sob refrigerao, e quando
no for possvel, serem submetidos a outro mtodo de conservao.
O armazenamento de resduos qumicos deve atender NBR 12235 da ABNT.
6 TRATAMENTO
O tratamento preliminar consiste na descontaminao dos resduos (desinfeco
ou esterilizao) por meios fsicos ou qumicos, realizado em condies de segurana e
eficcia comprovada, no local de gerao, a fim de modificar as caractersticas qumicas,
fsicas ou biolgicas dos resduos e promover a reduo, a eliminao ou a neutralizao
dos agentes nocivos sade humana, animal e ao ambiente.
Os sistemas para tratamento de resduos de servios de sade devem ser objeto
de licenciamento ambiental, de acordo com a Resoluo CONAMA n. 237/1997 e so
passveis de fiscalizao e de controle pelos rgos de vigilncia sanitria e de meio
ambiente.
O processo de esterilizao por vapor mido, ou seja, autoclavao, no de
licenciamento ambiental. A eficcia do processo deve ser feita atravs de controles
qumicos e biolgicos, peridicos, e devem ser registrados.
Os sistemas de tratamento trmico por incinerao devem obedecer ao
estabelecido na Resoluo CONAMA n. 316/2002.
7 - ARMAZENAMENTO EXTERNO
Consiste na guarda dos recipientes de resduos at a realizao da etapa de coleta
externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veculos coletores. Neste
local no permitido a manuteno dos sacos de resduos fora dos recipientes ali
estacionados.
8 COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS
Consistem na remoo dos RSS do abrigo de resduos (armazenamento externo)
at a unidade de tratamento ou disposio final, utilizando-se tcnicas que garantam a
preservao das condies de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da
populao e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientaes dos rgos
de limpeza urbana.
A coleta e transporte externos dos resduos de servios de sade devem ser
realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT.
9 - DISPOSIO FINAL
Consiste na disposio de resduos no solo, previamente preparado para receb-
los, obedecendo a critrios tcnicos de construo e operao, e com licenciamento
ambiental de acordo com a Resoluo CONAMA n.237/97.
RELAES HUMANAS
As relaes interpessoais desenvolvem-se em decorrncia do processo de
interao. Nos podemos nos relacionar com as pessoas profissionalmente ou
simplesmente porque tivemos empatia por ela(s), ou ainda por vrios motivos.
Do ponto de vista profissional, se as pessoas aprendessem a se relacionar
profissionalmente de forma correta, poderamos evitar muitos problemas nos locais de
trabalho.
No ambiente de trabalho o que predomina e o que devemos avaliar so as
condies para uma verdadeira harmonia entre o homem e o trabalho, e vice-versa.
A base concreta para um bom relacionamento ter percepo dos nossos deveres
e obrigaes, e dos limites e regras que fazem a relao social ser harmnica.
RELAO PROFISSIONAL PACIENTE
A qualidade de um servio assistencial de Enfermagem esta associada qualidade
da relao interpessoal que ocorre entre pacientes e os profissionais encarregados da
assistncia.
MODELOS DE RELAO PROFISSIONAL PACIENTE
As diferenas possibilidades da relao profissional-paciente podem ser resumidas
em:
IX RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
ATIVIDADE PASSIVIDADE: H a atividade do profissional e a passividade do paciente.
o tipo de relao que se encontra nas urgncias, estado de coma e cirurgias, em que o
profissional deve fazer algo por um paciente que permanece passivo.
DIREO COOPERAO: H a direo pelo profissional e cooperao do paciente. Em
todas as afeces em que o paciente capaz de fazer algo, o profissional lhe pede esta
cooperao (enfermidade aguda, infecciosa, acidentes).
PARTICIPAO MUTUA E RECPROCA: H participao mutua e reciproca do
profissional e do paciente. Este tipo de relao tpico das enfermidades crnicas, das
readaptaes e de todos os estados em que o paciente pode cuidar de si e assumir o
tratamento.
A distancia psicolgica que existe entre duas pessoas e que se modifica no
decorrer do tratamento distingue trs fases:
A DO APELO HUMANO, DE ANGUSTIA O profissional responde a demanda do
enfermo, satisfazendo sua necessidade.
AO DO AFASTAMENTO E DA OBJETIVIDADE o perodo do diagnostico; corresponde
ao exame cientifico, o profissional j no considera o enfermo como uma pessoa, se no
como objeto de estudo;as relaes afetivas passam ao segundo plano;
A DE PERSONALIZAO DA RELAO Uma vez realizado diagnostico e estabelecida a
teraputica. O profissional pode aproximar-se do paciente, havendo a integrao dos
elementos das fases, isto , dos aspectos cientficos e humanos.
Você também pode gostar
- Práticas pedagógicas em enfermagem: Processo de reconstrução permanenteNo EverandPráticas pedagógicas em enfermagem: Processo de reconstrução permanenteNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Planilha para Check List Das NrsDocumento85 páginasPlanilha para Check List Das Nrspoteitor100% (1)
- Edital N. Iep CPCP - 013.03.2023 - Cefc PM 2023.2Documento11 páginasEdital N. Iep CPCP - 013.03.2023 - Cefc PM 2023.2Jose FabricioAinda não há avaliações
- Projeto Final de Auxiliar de SaúdeDocumento15 páginasProjeto Final de Auxiliar de SaúdeJohn NicholsAinda não há avaliações
- FEI-Registos de EnfermagemDocumento46 páginasFEI-Registos de EnfermagemAndreia Gomes100% (1)
- A Política Nacional para A População em Situação de RuaDocumento38 páginasA Política Nacional para A População em Situação de RuaNadielle SilvaAinda não há avaliações
- Aula 01 Administração e Teorias de Adm e A EnfermagemDocumento17 páginasAula 01 Administração e Teorias de Adm e A EnfermagemCarina RibeiroAinda não há avaliações
- EEnf - Pré e Pós-Operatório de Colecistectomia - Orientações e Cuidados de Enfermagem para Pacientes e FamiliaresDocumento33 páginasEEnf - Pré e Pós-Operatório de Colecistectomia - Orientações e Cuidados de Enfermagem para Pacientes e FamiliaresIsaac Alves100% (1)
- Aula - Aspectos Éticos e Legais Na Assistência de Enfermagem No Bloco CirúrgicoDocumento51 páginasAula - Aspectos Éticos e Legais Na Assistência de Enfermagem No Bloco CirúrgicoAnnemarie Loeschke100% (1)
- A Humanização Na Saúde - PPT TCCDocumento10 páginasA Humanização Na Saúde - PPT TCCCarina L Franca100% (2)
- Formação de Lideranças na Educação de Profissionais de Saúde: Novos Currículos, Novas AbordagensNo EverandFormação de Lideranças na Educação de Profissionais de Saúde: Novos Currículos, Novas AbordagensAinda não há avaliações
- 6579 - Cuidados Na Saúde MentalDocumento3 páginas6579 - Cuidados Na Saúde MentalDagdaPicks67% (3)
- Grade Da Enfermagem UFMGDocumento4 páginasGrade Da Enfermagem UFMGAssim Falou ZaratustraAinda não há avaliações
- Resumo - Teorias de EnfermagemDocumento5 páginasResumo - Teorias de EnfermagemNey BarrosAinda não há avaliações
- Dimensionamento DE ENFERMAGEMDocumento43 páginasDimensionamento DE ENFERMAGEMGurigaud2009Ainda não há avaliações
- Administração em Enf.Documento66 páginasAdministração em Enf.welbercarvalhoAinda não há avaliações
- Teorias e Processo de Enfermagem 2022Documento85 páginasTeorias e Processo de Enfermagem 2022Amanda Araujo100% (1)
- Noções de AdministraçãoDocumento25 páginasNoções de AdministraçãoFabricio Braganca Silva100% (1)
- Processo de EnfermagemDocumento24 páginasProcesso de EnfermagemLeandro LopesAinda não há avaliações
- Teoria Das N.H.B.Documento46 páginasTeoria Das N.H.B.Biiaah BonifácioAinda não há avaliações
- Organização Do Serviço de EnfermagemDocumento24 páginasOrganização Do Serviço de EnfermagemAndréa Dantas100% (3)
- Plano de Curso de Fundamentos de EnfermagemDocumento1 páginaPlano de Curso de Fundamentos de EnfermagemAuristenio Silva Ferreira100% (1)
- Seminário-Diagnóstico de EnfermagemDocumento31 páginasSeminário-Diagnóstico de EnfermagemRobeísa DanyaAinda não há avaliações
- Apostila de Enfermagem Clinica e Cirugica IIDocumento31 páginasApostila de Enfermagem Clinica e Cirugica IIJulio AntunesAinda não há avaliações
- Aula Gestão HospitalarDocumento97 páginasAula Gestão HospitalarNayara Sales50% (2)
- 1 Conceito-de-Sistematização-da-Assistência-de-Enfermagem-e-Processo-de-EnfermagemDocumento54 páginas1 Conceito-de-Sistematização-da-Assistência-de-Enfermagem-e-Processo-de-EnfermagemBruno SouzaAinda não há avaliações
- Aula Dia 15 Instrumentos Básicos de EnfermagemDocumento18 páginasAula Dia 15 Instrumentos Básicos de Enfermagemletirss100% (3)
- Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem em Instituições de SaúdeDocumento33 páginasDimensionamento de Pessoal de Enfermagem em Instituições de SaúdeGabriella NeonAinda não há avaliações
- Posicionamento Do PacienteDocumento17 páginasPosicionamento Do PacienteVaninha MeloAinda não há avaliações
- Aula 2 - Funções Do Hospital Classificação Do HospitalDocumento6 páginasAula 2 - Funções Do Hospital Classificação Do HospitalCladinei BohnAinda não há avaliações
- Anotações de Enfermagem 2Documento33 páginasAnotações de Enfermagem 2Ana Paula Barreto NascimentoAinda não há avaliações
- Enfermagem em Urgência e EmergênciaDocumento4 páginasEnfermagem em Urgência e EmergênciaJaniel Celio Dos SantosAinda não há avaliações
- Tecnicas de Enfermagem PDFDocumento120 páginasTecnicas de Enfermagem PDFHermenegildo chitumbaAinda não há avaliações
- Enfermagem Gestao em Saude e Redes de Atencao 2019Documento57 páginasEnfermagem Gestao em Saude e Redes de Atencao 2019Eliana BessaAinda não há avaliações
- Estudo de Caso DMDocumento24 páginasEstudo de Caso DMAcassiaVCAinda não há avaliações
- Aula 1 Sae Adulto 21 - 2Documento33 páginasAula 1 Sae Adulto 21 - 2efcuadrosAinda não há avaliações
- Estrutura Organizacional Dos Serviços de Saude e A Atuação Da EnfermagemDocumento10 páginasEstrutura Organizacional Dos Serviços de Saude e A Atuação Da EnfermagemAtenção Básica MiradorAinda não há avaliações
- Liderança em EnfermagemDocumento18 páginasLiderança em EnfermagemRaphael Marinho100% (1)
- Sae - Cipe PDFDocumento47 páginasSae - Cipe PDFBárbara CunhaAinda não há avaliações
- 4 Aula Teorias de Enfermagem No Processo CuidarDocumento9 páginas4 Aula Teorias de Enfermagem No Processo CuidarMichelle Cristina100% (1)
- Processo de EnfermagemDocumento108 páginasProcesso de EnfermagemPaula100% (2)
- Aula 1 Termos TecnicosDocumento10 páginasAula 1 Termos TecnicosLilian Gomes santos0% (1)
- Adm EnfermagemDocumento45 páginasAdm EnfermagemClovis MoraisAinda não há avaliações
- Anotações de Enfermagem - Coren SPDocumento24 páginasAnotações de Enfermagem - Coren SPJonathan Paiva100% (1)
- Abdome Agudo Inflamatório ApresentaçãoDocumento28 páginasAbdome Agudo Inflamatório ApresentaçãoTati SilvaAinda não há avaliações
- Instrumentos+Básicos+Do+Cuidar+Da+Enfermagem (1983) Abcdpdf PPT para PDFDocumento26 páginasInstrumentos+Básicos+Do+Cuidar+Da+Enfermagem (1983) Abcdpdf PPT para PDFNatalia MotaAinda não há avaliações
- AULA 9 Feridas CirúrgicasDocumento39 páginasAULA 9 Feridas CirúrgicasMadalena Sousa100% (1)
- Aula 11 Centro CirurgicoDocumento58 páginasAula 11 Centro CirurgicoLeoTron25Ainda não há avaliações
- 31.05 - Nocoes de Administracao em Enfermagem Aula 01Documento47 páginas31.05 - Nocoes de Administracao em Enfermagem Aula 01girlandorodrigues100% (1)
- EG Aula 4 Cuidados Conforto 2Documento17 páginasEG Aula 4 Cuidados Conforto 2A voz de Deus100% (1)
- Banho 19 PDFDocumento73 páginasBanho 19 PDFAnna AltoeAinda não há avaliações
- Aula Sobre Plano de CuidadoDocumento14 páginasAula Sobre Plano de CuidadoCélia FonsecaAinda não há avaliações
- Apostila Farmacologia Enfermagem 2015Documento177 páginasApostila Farmacologia Enfermagem 2015edsonenf100% (2)
- Aula 02 - Fundamentos Teóricos Da Prática de EnfermagemDocumento76 páginasAula 02 - Fundamentos Teóricos Da Prática de EnfermagemMaciel Lima100% (2)
- Evolução Do Pensamento Administrativo e A EnfermagemDocumento16 páginasEvolução Do Pensamento Administrativo e A EnfermagemEdilson DiasAinda não há avaliações
- Funcoes Do HospitalDocumento4 páginasFuncoes Do HospitalKalilly LemosAinda não há avaliações
- Chave de TécnicasDocumento3 páginasChave de TécnicasMárcio Stelvio Miranda da Silva100% (1)
- Assistência A EnfermagemDocumento45 páginasAssistência A EnfermagemWellison FernandoAinda não há avaliações
- NandaDocumento4 páginasNandashinshan2Ainda não há avaliações
- SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: Percepção de Docentes e DiscentesNo EverandSIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: Percepção de Docentes e DiscentesAinda não há avaliações
- Administração em Enfermagem: como lidar com dificuldades no exercício gerencialNo EverandAdministração em Enfermagem: como lidar com dificuldades no exercício gerencialAinda não há avaliações
- Educação em saúde: Desafios para uma prática inovadoraNo EverandEducação em saúde: Desafios para uma prática inovadoraAinda não há avaliações
- Saúde Coletiva: interfaces de humanização: - Volume 3No EverandSaúde Coletiva: interfaces de humanização: - Volume 3Ainda não há avaliações
- Assistência De Enfermagem No Pré-natalNo EverandAssistência De Enfermagem No Pré-natalAinda não há avaliações
- Anatomia das veias gastrocnêmias em cadáveres humanos adultosNo EverandAnatomia das veias gastrocnêmias em cadáveres humanos adultosAinda não há avaliações
- TCC 1 RejaneDocumento11 páginasTCC 1 RejaneRejane MonteiroAinda não há avaliações
- Alvará Sanitário Inicial - Modelo Regin - 3Documento35 páginasAlvará Sanitário Inicial - Modelo Regin - 3Breno FelixAinda não há avaliações
- Entrevista Com A Enf. Da UBS.Documento5 páginasEntrevista Com A Enf. Da UBS.Alice CarvalhoAinda não há avaliações
- Gabarito Do Concurso Silva Jardim-RJ Sai Na Terça (12) Pelo IBDODocumento1 páginaGabarito Do Concurso Silva Jardim-RJ Sai Na Terça (12) Pelo IBDOjoicecanutoAinda não há avaliações
- Pop Cti PN Ucp - 019 Manuseio Da IncubadoraDocumento11 páginasPop Cti PN Ucp - 019 Manuseio Da IncubadoraAdiane Nepel FernandesAinda não há avaliações
- Prevent IvaDocumento85 páginasPrevent IvaLuiza Maria BeckenkampAinda não há avaliações
- Cuidados Com EnfermagemDocumento54 páginasCuidados Com Enfermagemsoroca goAinda não há avaliações
- Norma NIRDocumento6 páginasNorma NIREmanuel C. De JesusAinda não há avaliações
- Noripurum OdtDocumento2 páginasNoripurum OdtEllen AraujoAinda não há avaliações
- Aspectos Éticos e Legais - Registros de EnfermagemDocumento70 páginasAspectos Éticos e Legais - Registros de EnfermagemFernanda NegrãoAinda não há avaliações
- 6 Chamadacadastrodereservadetrabalhadoreseprofissionaisdesaude PSS 001 2022 Portaria 2058Documento13 páginas6 Chamadacadastrodereservadetrabalhadoreseprofissionaisdesaude PSS 001 2022 Portaria 2058Félix AlbinoAinda não há avaliações
- Enfermagem: Volume 15 - N. 1/2007Documento53 páginasEnfermagem: Volume 15 - N. 1/2007Karina YurchenkoAinda não há avaliações
- Aula 2 - Entidades de ClasseDocumento19 páginasAula 2 - Entidades de ClasseSavio Dias100% (1)
- Pop 5.23 - Gavagem em Recém-NascidoDocumento2 páginasPop 5.23 - Gavagem em Recém-NascidoCaroline FariasAinda não há avaliações
- Enfermagem em Centro Cirúrgico: Classificações Dos Tratamentos CirúrgicosDocumento9 páginasEnfermagem em Centro Cirúrgico: Classificações Dos Tratamentos CirúrgicosKelly BarrosAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido Saúde PúblicaDocumento1 páginaEstudo Dirigido Saúde PúblicanuelwangAinda não há avaliações
- SClínico FAQs 0.1Documento29 páginasSClínico FAQs 0.1edison marquesAinda não há avaliações
- Segurança Na PrescriçãoDocumento13 páginasSegurança Na PrescriçãoErick HenriqueAinda não há avaliações
- Contribuições Da ABENFO À Proposta de Diretriz Nacional de Assistência Ao Parto NormalDocumento6 páginasContribuições Da ABENFO À Proposta de Diretriz Nacional de Assistência Ao Parto NormalSandroAinda não há avaliações
- Aula 1 - Apresentação e IntroduçãoDocumento11 páginasAula 1 - Apresentação e Introduçãocarolina QwertAinda não há avaliações
- (20240200-PT) Health News - 240329 - 090957Documento90 páginas(20240200-PT) Health News - 240329 - 090957Victor UwpAinda não há avaliações
- Questões Cálculo de MedicamentosDocumento3 páginasQuestões Cálculo de Medicamentosmarcos brasil galvaoAinda não há avaliações
- Plantas Medicinais Cultivo e Uso Terapêutico Cartilha PLAME @saDocumento79 páginasPlantas Medicinais Cultivo e Uso Terapêutico Cartilha PLAME @saPâmela Bastos0% (1)
- PDFDocumento17 páginasPDFJúlio FlávioAinda não há avaliações