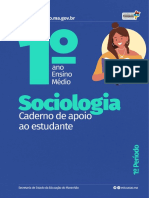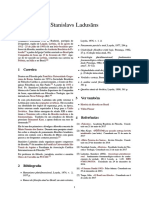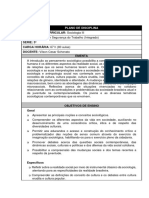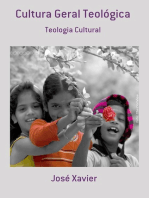Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Sociologia PDF
A Sociologia PDF
Enviado por
Gualdino Antão0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações68 páginasTítulo original
A Sociologia.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações68 páginasA Sociologia PDF
A Sociologia PDF
Enviado por
Gualdino AntãoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 68
SOCI OLOGI A
PAULO MRCI O KLEI N
1 SOCI OLOGI A E SOCIEDADE
2 SOCIOLOGIA E POLTICA
3 CULTURA E IDEOLOGIA
4 3 9
SO C IO LO G IA
MDULO 1
SOCIOLOGIA E SOCIEDADE
A Lei 9.394/96 estabelece como uma das finalidades centrais do Ensino Mdio a
construo da cidadania do educando, evidenciando, assim, a importncia do
ensino da Sociologia no Ensino Mdio. Tendo em vista que o conhecimento soci-
olgico tem como atribuies bsicas investigar, identificar, descrever, classificar e
interpretar/explicar todos os fatos relacionados vida social, logo permite
instrumentalizar o aluno para que possa decodificar a complexidade da realidade
social. (PCNEM, p. 318)
Tem po previsto: 16 horas
Finalidades do Mdulo
C riar condies de planejar aulas e atividades pedaggicas estruturadas a
partir do conceito de sociedade.
D iversificar os tipos de dinm icas com os quais se trabalha.
Ter condio de estabelecer relaes interdisciplinares com outras disciplinas
com o, por exem plo, H istria, A ntropologia, Poltica, Filosofia, etc.
Poder apresentar aos alunos questes conceituais e m etodolgicas prprias
das C incias Sociais.
Facilitar a apropriao, pelo educando, das seguintes com petncias e habilidades:
identificar, analisar e com parar os diferentes discursos sobre a realidade: as explica-
es das C incias Sociais, am paradas nos vrios paradigm as tericos, e as do senso
com um ;
produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das observa-
es e reflexes realizadas;
construir instrum entos para um a m elhor com preenso da vida cotidiana, am pliando a
viso de m undoe o horizonte de expectativas, nas relaes interpessoais com os
vrios grupos sociais;
construir um a viso m ais crtica da indstria cultural e dos m eios de com unicao de
m assa, avaliando o papel ideolgico do m arketingenquanto estratgia de persua-
so do consum idor e do prprio eleitor;
com preender e valorizar as diferentes m anifestaes culturais de etnias e segm entos
sociais, agindo de m odo a preservar o direito diversidade, enquanto princpio est-
tico, poltico e tico que supera conflitos e tenses do m undo atual;
construir a identidade social e poltica, de m odo a viabilizar o exerccio da cidadania
plena, no contexto do Estado de D ireito, atuando para que haja, efetivam ente, um a
reciprocidade de direitos e deveres entre o poder pblico e o cidado e tam bm entre
os diferentes grupos.
Conceitos
C incia.
Sociologia.
Sociedade.
SO C IO LO G IA - Mdulo 1
4 4 0
Fato social, ao social, classe social.
C otidiano.
Interdisciplinaridade.
Materiais necessrios
Lousa e giz.
Papel e caneta.
Tesoura e cola.
Envelopes.
Reprodues dos textos dos A nexos.
G ravao em C D ou fita K-7 das m sicas:
Parque industrial, de Tom Z (A nexo 4)
C om idae Televiso, dos Tits (A nexo 6)
A parelho de som com C D -player e toca-fitas.
Folhas de cartolina.
M aterial de desenho (lpis de cor, etc.).
Dinmica de trabalho
Atividade 1
Pea para os participantes form arem grupos de cinco com ponentes.
Tire cpias e recorte as frases do A nexo 1 (pginas 446-447) um a a um a, em
tiras de papel, e ponha cinco delas em um envelope. A ps fazer o m esm o
com as tiras restantes, distribua um envelope para cada grupo.
Repetindo: cada envelope deve conter cinco sentenas
escritas cada uma em uma tira diferente.
O riente os grupos a separar as sentenas, classificando-as com o sociolgicas,
antropolgicas ou polticas, ou ainda com o no relacionadas com as cincias
sociais. D iga para colarem as frases, j classificadas, em folhas de papel.
Pea para cada grupo explicar sua classificao ao restante da turm a.
Para encerrar, leve os participantes a analisarem e apontarem os objetivos da
tarefa realizada, percebendo-a com o sugesto de atividade para a sala de
aula. Faa um resum o das concluses na lousa.
Conceitos: C incias Sociais; A ntropologia; Sociologia; Poltica.
Competncias: identificar, analisar e com parar os diferentes discursos
sobre a realidade social.
Atividade 2
D ivida a classe em grupos e distribua o A nexo 2 (pgina 447) a todos os par-
ticipantes.
4 4 1
A ps a leitura do texto, proponha as seguintes questes para debate dentro
dos grupos:
a. Q uais disciplinas da rea de C incias H um anas poderiam se utilizar desse texto?
(Interdisciplinaridade)
b. Especificam ente, a quais disciplinas das C incias Sociais o texto se refere?
c. A quais tem as da Sociologia o texto se refere de m aneira m ais enftica?
Incentive os participantes dos grupos a relatarem situaes relacionadas ao
tem a do texto que eles tenham vivido.
C onvide cada grupo a apresentar suas concluses.
Term inadas as apresentaes, refira possveis tem as no percebidos pelos
grupos.
Conceitos: C in cias H u m an as; C in cias So ciais; So cio lo g ia;
interdisciplinaridade; contextualizao.
Competncias: identificar, analisar e com parar diferentes conceitos
das C incias Sociais e, especificam ente, da Sociologia.
Atividade 3
D ivida a sala em grupos e distribua o A nexo 3 (pginas 448-450), cujos textos
tratam de fato social (Texto 1), ao social (Texto 2) e classe social (Texto 3).
O riente a leitura, dizendo para os grupos assinalarem e discutirem interna-
m ente os principais conceitos apresentados.
Escolha trs grupos e encarregue-os de apresentar os textos, um por grupo.
A ps as apresentaes, abra um debate coletivo sobre a im portncia do m -
todo cientfico para a anlise da sociedade.
Para m aior contextualizao, discuta com a classe evidncias que confirm em
a histria da hum anidade com o a histria das lutas de classe.
Conceitos: fato social; ao social; classe social.
Competncias: identificar, analisar e com parar os diferentes discursos
sobre a realidade: as explicaes das C incias Sociais, am paradas nos
vrios paradigm as tericos, e as do senso com um .
Atividade 4
C om a classe organizada em grupos, pea para os participantes apontarem
as diferenas entre conhecim ento popular e conhecim ento cientfico (senso
com um e cincia).
A note na lousa as principais diferenas.
Em seguida, ponha em debate os preconceitos e as cincias, assim com o a
sabedoria popular e o senso com um .
SO C IO LO G IA - Mdulo 1
4 4 2
Conceitos: senso com um ; conhecim ento cientfico; preconceitos; as
diversidades.
Competncias: com preender e valorizar as diferentes m anifestaes
culturais de etnias e segm entos sociais, agindo de m odo a preservar o
direito diversidade, enquanto princpio esttico, poltico e tico que
supera conflitos e tenses do m undo atual.
Atividade 5
Pea para os participantes se organizarem em grupos e proponha a estes a
elaborao de listas com as caractersticas essenciais de trs diferentes tipos
de sociedades:
a. sociedade tribal;
b. sociedade m edieval;
c. sociedade capitalista.
O riente para que sejam contem plados os aspectos sociais, polticos, econ-
m icos, religiosos, etc., dessas sociedades.
C onvide os grupos a apresentarem as listas elaboradas e v estabelecendo
com paraes entre as m esm as.
Sugira que cada grupo elabore um desenhocaracterizando/sim bolizando
um dos tipos de sociedade.
Proponha e conduza a contextualizao das caractersticas levantadas para
a sociedade capitalista.
Conceitos: sociedade tribal; sociedade m edieval; sociedade capitalis-
ta; diferenas entre tipos de sociedades.
Competncias: identificar, analisar e com parar os diferentes discursos
sobre a realidade; produzir novos discursos sobre as diferentes realida-
des sociais, a partir das observaes e reflexes realizadas; com preen-
der as transform aes no m undo do trabalho.
Atividade 6
Prom ova a audio da m sica Parque industrial, de Tom Z, e em seguida
distribua o A nexo 4 (pgina 451).
Proponha que os professores, reunidos em grupos, analisem a letra da can-
o, extraindo significados.
Socialize e am plie a discusso, introduzindo os tem as: sociedade industrial,
m ito do progresso, consum o, cultura de m assa, m eios de com unicao de
m assa, indstria cultural.
Em preenda a atualizao tem tica, explorando as relaes entre 1968, data
de lanam ento da cano, e 2002.
Prossiga com a anlise esttica do som do m ovim ento tropicalista e do som
que produzido hoje.
4 4 3
Conceitos: sociedade industrial; m ito do progresso; consum o; cultura
de m assa; m eios de com unicao de m assa; indstria cultural.
Competncias: com preender e valorizar as diferentes m anifestaes
culturais; construir um a viso m ais crtica da indstria cultural e dos
m eios de com unicao de m assa.
Atividade 7
D istribua o A nexo 5 (pgina 452) para leitura e discusso do m esm o em grupos.
Proponha que cada grupo elabore um texto que sintetize o conceito de ideologia.
Q uando tiverem term inado, pea para dois grupos apresentarem seus textos.
Incentive os outros grupos a fazerem com entrios e com plem entaes.
Ponha em discusso a seguinte questo:
Quais seriam as idias dominantes, hoje, no Brasil?
Conceitos: ideologia; conscientizao; viso crtica da sociedade e da m dia.
Competncias: construir um a viso m ais crtica da indstria cultural e
dos m eios de com unicao de m assa, avaliando o papel ideolgico do
m arketingenquanto estratgia de persuaso do consum idor e do
prprio eleitor.
Atividade 8
Entregue aos professores as letras de C om idae Televiso, dos Tits, transcri-
tas no A nexo 6 (pginas 452-453). Prom ova em seguida a audio dessas m sicas.
Solicite que se form em grupos com a incum bncia de analisar as canes.
C onvide os grupos a exporem suas concluses, aps o que inicie um debate
em torno de: ideologia, a cano de protesto, protesto e consum o.
Conceitos: ideologia; indstria cultural; a cano de protesto; protes-
to e consum o.
Competncias: identificar e analisar os diferentes discursos sobre a
realidade; construir um a viso crtica da cultura e da televiso.
Atividade 9
D ivida a classe em grupos e escreva na lousa:
Uma sociedade dividida em classes sociais injusta porque gera
desigualdades sociais.
Leve os grupos a apresentarem evidncias cotidianas dessas desigualdades.
Em seguida, escreva esta questo:
Como possvel interferir na realidade social, para mud-la?
SO C IO LO G IA - Mdulo 1
4 4 4
D um tem po para que os grupos apresentem sugestes.
Proponha na lousa m ais esta questo:
Em que medida a educao pode ser vista como fator de mudan-
a social e como ato de cidadania?
C onvide os grupos a exporem suas concluses.
Conceitos: desigualdades sociais; anlise do cotidiano; ao individual
e ao coletiva; m udana social e cidadania.
Competncias: construir a identidade social e poltica, de m odo a viabilizar
o exerccio da cidadania plena; perceber a si m esm o com o elem ento ativo,
dotado de fora poltica e capacidade de transform ar a sociedade; cons-
truir instrum entos para um a m elhor com preenso da vida cotidiana.
Atividade 10
Entregue cpias do A nexo 7 (pginas 454-455) para leitura individual em grupos.
Term inada a leitura, proponha que cada grupo elabore um a sntese do texto.
Pea para um dos grupos expor a sntese que fez e incentive os dem ais a
com ent-la.
Prom ova um a rodada de relatos de experincias com O ngs.
Conceitos: m ovim entos sociais; poltica; Estado.
Competncias: construir a identidade social e poltica, de m odo a
viabilizar o exerccio da cidadania plena.
Atividade 11
D ivida a classe em grupos e proponha que cada um elabore cinco questes
sobre os tem as e conceitos at agora apresentados (ver lista no encerram en-
to deste M dulo).
Pea para os grupos apresentarem oralm ente as questes.
Sugira que as questes sejam trocadas entre os grupos e respondidas por escrito.
Solicite a apresentao das respostas e em seguida abra um a rodada de co-
m entrios sobre as m esm as.
Conceito: avaliao diagnstica.
Competncias: identificar, analisar e com parar os paradigm as teri-
cos da Sociologia; produzir discursos tericos sobre a realidade social.
Atividade 12
Proponha a elaborao em grupos de projetos para cam panhas de cidadania.
C ada grupo deve criar um projeto que envolva atividades de cidadania para a
4 4 5
escola ou para a com unidade. Exem plos de atividades: lim peza da escola,
reciclagem de lixo, m ovim entos antidrogas ou antiviolncia, etc.
O riente para que os projetos apresentem : objetivos, aes, etapas, form as
de avaliao, recursos e cronogram a.
C onvide cada grupo a apresentar seu projeto.
Conceitos: cidadania; participao poltica; elaborao de projetos.
Competncias: produzir novos discursos sobre as diferentes realida-
des sociais, a partir das observaes e reflexes realizadas; construir a
identidade social e poltica.
O M dulo 1 foi elaborado com a finalidade de contem plar alguns dos grandes
tem as caractersticos do conhecim ento sociolgico: a Sociologia com o cincia;
a Sociologia com o cincia do social; as diferenas entre cincia e senso com um ;
o trabalho nas diferentes organizaes sociais; a sociedade industrial e o m ito
do progresso; a ideologia, a indstria cultural e o consum o; as form as do esta-
do; a poltica e os m ovim entos populares; e, finalm ente, a participao poltica
e a construo da cidadania. D essa form a, atende s indicaes e solicitaes
dos PC N EM sobre os conhecim entos de Sociologia, A ntropologia e Poltica.
A s atividades propostas buscam desenvolver as com petncias e habilidades
requeridas, enfatizando a contextualizao, a interdisciplinaridade e o olhar sobre
o cotidiano.
Consulte tambm
A RA N H A , M . Lcia de A rruda; M A RTIN S, M aria H elena Pires. Filosofando: introduo
Filosofia. So Paulo: M oderna, 1993.
C H A U , M arilena. O que ideologia? So Paulo: Brasiliense, 1980.
C O STA , C ristina. Sociologia: introduo cincia da sociedade. So Paulo: M oderna, 1997.
G RA M SC I, A ntonio. Concepo dialtica da histria. Rio de Janeiro: C ivilizao
Brasileira, 1986.
M A RX, Karl; EN G ELS, Friedrich. A ideologia alem. So Paulo: H ucitec, 1984.
O LIVEIRA , Prsio Santos de. Introduo Sociologia. So Paulo: tica, 2000.
TO M A ZI, N elson D cio. Iniciao Sociologia. So Paulo: A tual, 1993.
SO C IO LO G IA - Mdulo 1
4 4 6
Anexo 1
1. possvel estabelecer relaes entre a biografia de qualquer indivduo e a
sociedade na qual ele est inserido.
2. A interpretao que a cantora d a estas canes m oderna entretanto,
voc sente que voltou no tem po ao ouvi-las.
3. Pesquisas em nm ero cada vez m aior de stios podero at m esm o revelar
ligaes entre os ancestrais dos ndios am ericanos e os europeus da Idade
da Pedra.
4. Q ualquer pessoa, em qualquer sociedade, em qualquer cultura, quer saber
quem so seus antepassados.
5. O trfico negreiro m oldou as histrias do Brasil e de A ngola entre os scu-
los 16 e 18.
6. O s debates sobre a esquerda possvel ou desejvel sem pre com eam pela
justificada renncia a m uitas coisas ruins que a esquerda representou
no sculo passado.
7. O s seres hum anos nascem involuntariam ente subm etidos a um a ordem soci-
al e poltica preexistente, fruto de acasos, am bies e reform as acum uladas
durante sculos.
8. O interesse de classe se transfigura em interesse de todos os m em bros da
sociedade.
9. O docum entrio um a obra de arte que carrega a viso de m undo de seu
criador, tanto quanto qualquer film e de fico esteticam ente engajado.
10. A verdade pura e sim ples raram ente pura e jam ais sim ples. (O . W ilde)
11. O docum entrio brasileiro ainda precisa falar da classe m dia e por que no
da elite.
12. preciso dobrar o nm ero de pessoas que se engajam em trabalhos em
prol da com unidade.
13. O m ovim ento totalm ente apoltico e se inspira no que acontece nos EU A .
14. O terceiro setor um segm ento da econom ia que no est diretam ente
ligado ao governo e nem ao setor produtivo privado.
15. O terceiro setor atua em trabalho voluntrio, assistncia social, solidarieda-
de e resgate e exerccio da cidadania.
16. A populao excluda tem que conhecer seus direitos, direito sade, edu-
cao, m oradia, etc.
17. O setor privado brasileiro est cada vez m ais preocupado e consciente de
sua responsabilidade social.
18. O escritor torna dizvel o que no se sabia dizer.
19. Erik Satie foi o prim eiro a desconfiar que a m sica no deveria ser arquite-
tura, m as decoraes de interiores.
20. um film e sobre o papel desestabilizador da beleza. O desejo que a beleza
provoca vira um crim e a ser punido.
21. C om o cantavam os Rolling Stones, o tem po realm ente no espera por
ningum .
4 4 7
Anexo 1
22. Com os film es independentescada vez m ais parecidos com os de estdio,
o cinem a am ericano entra no novo sculo sem o oxignio da vanguarda.
23. Situaes extrem as com o revolues e am ores im possveis sem pre forne-
ceram farto m aterial para o cinem a.
24. Q uando garoto ele era daquelas crianas que ficam horas olhando para o
cu e adivinhando form as nas nuvens.
25. O fotgrafo percorre m uitas praias antes de eleger o cenrio de seu m ais
recente trabalho.
26. Era to doloroso viver neste pas que as pessoas s queriam esquecer a
realidade.
27. A idia de trabalho, com o coisa separada das outras atividades, algo que
no existe nas sociedades tribais.
28. N a vida m oderna o Estado exerce um controle quase total sobre a vida das
pessoas.
29. O s m ovim entos sociais esto presentes em todas as sociedades, indicando
a ocorrncia de processos de m udana.
30. A s explicaes m sticas ou religiosas que os hom ens do realidade fazem
parte da cultura hum ana.
Anexo 2
Diretas 1984
A ps cinco sucesses presidenciais decididas a portas fechadas, a socie-
dade civil sente a necessidade de retom ar a responsabilidade pelo destino po-
ltico do Brasil.
O m ovim ento das diretas um a das grandes m obilizaes do sculo.
A tos pblicos, iniciados em novem bro de 1983 com a pequena presena de
m ilitantes do PT, crescem e chegam a reunir 1 m ilho de pessoas, em 25 de
janeiro.
um a coligao que rene sindicatos de em presrios e de trabalhado-
res, estudantes e intelectuais, jovens e velhos. A em enda constitucional das
diretas acaba derrotada no C ongresso. M as o lastro de legitim idade carregado
pelo m ovim ento perm ite que, em janeiro de 1985, saia do C olgio Eleitoral um
presidente de oposio.
Folha de S. Paulo, edio especial: O sculo da imagem, 9/12/1999, p. 12.
SO C IO LO G IA - Mdulo 1
4 4 8
Anexo 3
Texto 1
O surgimento da Sociologia
A ugusto C om te (1798-1857) tradicionalm ente considerado o pai da
Sociologia. Foi ele quem pela prim eira vez usou essa palavra, em 1839, no seu
Curso de Filosofia Positiva. M as foi com Em ile D urkheim (1858-1917) que a
Sociologia passou a ser considerada um a cincia e com o tal se desenvolveu.
D urkheim form ulou as prim eiras orientaes para a Sociologia e dem ons-
trou que os fatos sociais tm caractersticas prprias, que os distinguem dos
que so estudados pelas outras cincias. Para ele, a Sociologia o estudo dos
fatos sociais.
Fatos sociais
U m exem plo sim ples nos ajuda a entender o conceito de fato social, se-
gundo D urkheim . Se um aluno chegasse escola vestido com roupa de praia,
certam ente ficaria num a situao m uito desconfortvel: os colegas ririam dele,
o professor lhe daria um a enorm e bronca e provavelm ente o diretor o m anda-
ria de volta para pr um a roupa adequada.
Existe um m odo de vestir que com um , que todos seguem . Isso no
estabelecido pelo indivduo. Q uando ele entrou no grupo, j existia tal norm a,
e, quando ele sair, a norm a provavelm ente perm anecer. Q uer a pessoa gos-
te, quer no, v-se obrigada a seguir o costum e geral. Se no o seguir, sofrer
um a punio. O m odo de vestir um fato social. So fatos sociais tam bm a
lngua, o sistem a m onetrio, a religio, as leis e um a infinidade de outros fen-
m enos do m esm o tipo.
Para D urkheim , os fatos sociais so o m odo de pensar, sentir e agir de um
grupo social. Em bora os fatos sociais sejam exteriores, eles so introjetados
pelo indivduo e exercem sobre ele um poder coercitivo. Resum indo, podem os
dizer que os fatos sociais tm as seguintes caractersticas:
n generalidade o fato social com um aos m em bros de um grupo;
n exterioridade o fato social externo ao indivduo, existe independen-
tem ente de sua vontade;
n coercitividade os indivduos se sentem obrigados a seguir o com porta-
m ento estabelecido.
Em virtude dessas caractersticas, para D urkheim os fatos sociais podem
ser estudados objetivam ente, com o coisas. D a m esm a m aneira que a Biolo-
gia e a Fsica estudam os fatos da natureza, a Sociologia pode fazer o m esm o
com os fatos sociais.
Prsio Santos de O liveira, Introduo Sociologia, So Paulo, tica, 2000, p. 13.
4 4 9
Anexo 3
Texto 2
Weber e a ao social
Enquanto para D urkheim a nfase da anlise recai na sociedade, para o
socilogo alem o M ax W eber (1864-1920) a anlise estar centrada nos ato-
res e em suas aes.
Para W eber, a sociedade no seria algo exterior ou superior aos indivdu-
os, com o em D urkheim . Para ele, a sociedade pode ser com preendida a partir
do conjunto das aes individuais reciprocam ente referidas. Por isso, W eber
define com o objeto da sociologia a ao social. O que um a ao social? Para
W eber qualquer ao que o indivduo faz orientando-se pela ao de outros.
Recordem os o exem plo j colocado do eleitor. Ele define seu voto orientando-
se pela ao dos dem ais eleitores. O u seja, tem os a ao de um indivduo, m as
essa ao s com preensvel se percebem os que a escolha feita por ele tem
com o referncia o conjunto dos dem ais eleitores.
A ssim , W eber dir que toda vez que se estabelecer um a relao signifi-
cativa, isto , algum tipo de sentido entre vrias aes sociais, terem os ento
relaes sociais. S existe ao social quando o indivduo tenta estabelecer
algum tipo de com unicao, a partir de suas aes, com os dem ais.
N em toda ao, desse ponto de vista, ser social, m as apenas aquelas
que im pliquem algum a orientao significativa visando outros indivduos.
W eber d um interessante exem plo. Im aginem os dois ciclistas que andam
na m esm a rodovia em sentidos opostos. O sim ples choque entre eles no
um a ao social. M as a tentativa de se desviarem um do outro j pode ser
considerada um a ao social, um a vez que o ato de desviar-se para um
lado j indica para o outro a inteno de evitar o choque, esperando um a
ao sem elhante com o resposta. Estabelece-se, assim , um a relao signi-
ficativa entre am bos.
A partir dessa definio, W eber afirm ar que podem os pensar em di-
ferentes tipos de ao social, agrupando-as de acordo com o m odo pelo
qual os indivduos orientam suas aes. A ssim , ele estabelece quatro tipos
de ao social:
1. A o tradicional: aquela determ inada por um costum e ou um hbito
arraigado.
2. A o afetiva: aquela determ inada por afetos ou estados sentim entais.
3. Racional com relao a valores: determ inada pela crena consciente
num valor considerado im portante, independentem ente do xito desse valor
na realidade.
4. Racional com relao a fins: determ inada pelo clculo racional que
coloca fins e organiza os m eios necessrios.
N elson D acio Tom azi (C oord.), Iniciao Sociologia, So Paulo, A tual, 1993, p. 20.
SO C IO LO G IA - Mdulo 1
4 5 0
Anexo 3
Texto 3
Marx e as classes sociais
A s idias liberais consideravam os hom ens, por natureza, iguais poltica e
juridicam ente. Liberdade e justia eram direitos inalienveis de todo cidado.
M arx, por sua vez, proclam a a inexistncia de tal igualdade natural e observa
que o liberalism o v os hom ens com o tom os, com o se estivessem livres das
evidentes desigualdades estabelecidas pela sociedade. Segundo M arx, as de-
sigualdades sociais observadas no seu tem po eram provocadas pelas relaes
de produo do sistem a capitalista, que dividem os hom ens em proprietrios e
no-proprietrios dos m eios de produo. A s desigualdades so base da for-
m ao das classes sociais.
A s relaes entre os hom ens se caracterizam por relaes de oposio,
antagonism o, explorao e com plem entaridade entre as classes sociais.
M arx identificou relaes de explorao da classe dos proprietrios a
burguesia sobre a dos trabalhadores o proletariado. Isso porque a posse
dos m eios de produo, sob a form a legal de propriedade privada, faz com
que os trabalhadores, a fim de assegurar a sobrevivncia, tenham de vender
sua fora de trabalho ao em presrio capitalista, o qual se apropria do trabalho
de seus operrios.
Essas m esm as relaes so tam bm de oposio e antagonism o, na m e-
dida em que os interesses de classe so inconciliveis. O capitalista deseja
preservar seu direito propriedade dos m eios de produo e dos produtos e
m xim a explorao do trabalho do operrio, seja reduzindo os salrios, seja
am pliando a jornada de trabalho. O trabalhador, por sua vez, procura dim inuir
a explorao ao lutar por m enor jornada de trabalho, m elhores salrios e par-
ticipao nos lucros.
Por outro lado, as relaes entre as classes so com plem entares, pois
um a s existe em relao outra. S existem proprietrios porque h um a
m assa de despossudos cuja nica propriedade sua fora de trabalho,
que precisam vender para assegurar a sobrevivncia. A s classes sociais so,
pois, apesar de sua oposio intrnseca, com plem entares e
interdependentes.
A histria do hom em , segundo M arx, a histria da luta de classes, da
luta constante entre interesses opostos, em bora esse conflito nem sem pre se
m anifeste socialm ente sob a form a de guerra declarada. A s divergncias, opo-
sies e antagonism os de classes esto subjacentes a toda relao social, nos
m ais diversos nveis da sociedade, em todos os tem pos, desde o surgim ento da
propriedade privada.
C ristina C osta, Sociologia: introduo cincia da sociedade,So Paulo, M oderna, 1997, p. 85-86.
4 5 1
Anexo 4
Parque industrial
Tom Z
Retocai o cu de anil
Bandeirolas no cordo
Grande festa em toda a nao
Despertai com oraes
O avano industrial
Vem trazer nossa redeno
Tem garotas-propaganda
Aeromoas e ternura no cartaz
Basta olhar na parede
Minha alegria num instante se refaz
Pois temos o sorriso engarrafado
J vem pronto e tabelado
somente requentar e usar
somente requentar e usar
Porque made made made
Made in brazil
A revista moralista
Traz uma lista dos pecados da vedete
E tem jornal popular que
Nunca se espreme porque pode derramar
um banco de sangue encadernado
J vem pronto e tabelado
somente folhear e usar
somente folhear e usar
Porque made made made
Made in brazil
Tom Z, LP Tropiclia, Philips, 1968.
SO C IO LO G IA - Mdulo 1
4 5 2
Anexo 5
Ideologia
U m sistem a de crenas ilusrias relacionadas a um a classe social determ i-
nada. A s idias dom inantes de um a poca representam as idias da classe do-
m inante. (M arx)
Viso de m undo que tem por funo conservar a unidade da sociedade. A
ideologia pode conferir hegem onia a um a determ inada classe social. (G ram sci)
C onjunto lgico e sistem tico de representaes e regras de conduta que
do aos m em bros de um a sociedade dividida em classes um a explicao racio-
nal s diferenas, cam uflando-as e criando um sentim ento de coeso social,
com a finalidade de m anter a dom inao de um a classe sobre outra. (M arilena
C hau)
Contra-ideologia
O papel da cincia e da filosofia o de crtica da ideologia, para rom per as
estruturas que justificam as form as de dom inao. (M . Lcia A ranha)
Anexo 6
Texto 1
Comida
A rnaldo A ntunes
Bebida gua
Comida pasto
Voc tem sede de qu?
Voc tem fome de qu?
A gente no quer s comida
A gente quer comida, diverso e arte
A gente no quer s comida
A gente quer sada para qualquer parte
A gente no quer s comida
A gente quer bebida, diverso, bal
A gente no quer s comida
A gente quer a vida como a vida quer
4 5 3
Bebida gua
Comida pasto
Voc tem sede de qu?
Voc tem fome de qu?
A gente no quer s comer
A gente quer comer, quer fazer amor
A gente no quer s comer
A gente quer prazer pra aliviar a dor
A gente no quer s dinheiro
A gente quer dinheiro e felicidade
A gente no quer s dinheiro
A gente quer inteiro e no pela metade
Necessidade desejo
Necessidade vontade
Texto 2
Televiso
A . A ntunes, M . From er, T. Belloto
A televiso me deixou burro, muito burro demais
Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais
O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida
E agora toda noite quando deito boa noite, querida
O Cride, fala pra me!
Que eu nunca li num livro
Que um espirro fosse um vrus sem cura
V se me entende pelo menos uma vez, criatura!
O Cride, fala pra me!
A me diz pra eu fazer alguma coisa mas eu no fao nada
A luz do sol me incomoda ento deixo a cortina fechada
que a televiso me deixou burro, muito burro demais
E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais
O Cride, fala pra me!
Que tudo que a antena captar meu corao captura
V se me entende pelo menos uma vez, criatura!
O Cride, fala pra me!
A m bas as m sicas in Tits, C D Acstico, M TV.
Anexo 6
SO C IO LO G IA - Mdulo 1
4 5 4
Anexo 7
As ONGs e a opinio pblica
Pesquisa sobre a influncia das organizaes no-governam entais, as
O N G s, em cinco pases industrializados (Estados U nidos, Frana, Inglaterra,
A lem anha e A ustrlia), encom endada em presa am ericana de relaes p-
blicas Richard Edelm an por em presas m ultinacionais e publicada em dezem -
bro do ano passado, apresenta resultados im pressionantes quanto ao prest-
gio das O N G s na opinio pblica.
Em term os gerais, o que se destaca que as pessoas tm o dobro de
confiana nas O N G s do que nos governos, nas em presas e na m dia. N a Fran-
a essa diferena ainda m ais gritante. L as O N G s so trs vezes m ais
credveis que o governo, cinco vezes e m eia m ais credveis que as em presas
privadas e nove vezes m ais credveis que a im prensa.
Para os europeus, os nom es que inspiram m ais confiana so O N G s com o
G reenpeace, A nistia Internacional e M dicos Sem Fronteiras. A m etade das
pessoas entrevistadas declarou que as O N G s representam os valores nos quais
elas tam bm crem . A s razes do sucesso: as O N G s esto sem pre na ofensi-
va, difundem suas m ensagens diretam ente ao pblico, so capazes de form ar
coalizes, tm causas claras e com preensveis, agem com a velocidade da
Internet e sabem falar para a m dia.
A pesquisa detectou tam bm que esse enorm e poder que as O N G s hoje
possuem de m obilizar a opinio pblica, aliado s suas crticas s polticas p-
blicas, inquieta os governos, cuja tendncia, para se defenderem , denegrir a
im agem daquelas que passam a considerar suas adversrias. Essas resistnci-
as com eam a se desarm ar lentam ente, com o reconhece um diplom ata fran-
cs, que diz: Todo m undo sabe hoje em dia que a ao no-governam ental
indispensvel e que as O N G s fazem parte do debate dem ocrtico. A polm ica
em torno delas sim plesm ente um a reao ao seu sucesso.
E quanto m enos dem ocrticos e m ais atingidos pelas crticas das O N G s,
m ais os governos reagem virulentam ente. A t um a C PI no C ongresso os seto-
res conservadores brasileiros criaram para atac-las. Esses parlam entares
am pliam o fosso entre o m undo da poltica e a sociedade, pois tam bm aqui a
opinio pblica apia e legitim a as O N G s.
N a m esm a poca em que a em presa Richard Edelm an divulga os resulta-
dos da sua pesquisa, a A ssociao Brasileira de O N G s, A bong, divulga pesqui-
sa realizada pelo lbope.
Espelhando o perfil de escolaridade do brasileiro, conhecem as O N G s
81% dos que j freqentaram a universidade, 45% dos que freqentaram o
colgio, 26% dos que freqentaram o ginsio e apenas 11% dos que term ina-
ram seus estudos no prim rio.
D eclararam que as O N G s ajudam a sociedade brasileira 58% dos brasi-
leiros. D eclararam que as O N G s atrapalham 13% . N ada m enos que 27% dos
brasileiros afirm aram que gostariam de participar de um a O N G . N o caso da
4 5 5
Anexo 7
juventude, essa m anifestao ainda m ais forte: 36% dos jovens de 16 a 24
anos m anifestam seu desejo de integrar um a organizao no-governam ental.
Seus principais argum entos so: possuem um papel fundam ental no Bra-
sil de hoje, atendem as necessidades que no so atendidas pelo Estado, orga-
nizam a sociedade civil para lutar por seus direitos, existem para defender os
interesses dos m ais necessitados e existem para fiscalizar a ao do Estado.
A s O N G s, grupos de cidados que se organizam na defesa de direitos,
contam com o apoio de grande parte da sociedade, m as tm lim itado seus
trabalhos porque vivem sem pre em trem endas dificuldades de sobrevivncia.
Poderiam fazer m uito m ais e engajar m aior nm ero de pessoas nos seus traba-
lhos se o reconhecim ento pblico que tm tam bm fosse m aterializado no
apoio de fundos pblicos ao seu fortalecim ento institucional e ao de sua atua-
o, com o ocorre em m uitos outros pases.
N este m om ento de am pliao dos horizontes dem ocrticos em nosso
Estado, o Frum Paulista de O N G s se prepara para apresentar propostas ao
Frum So Paulo Sculo 21, prom ovido pela A ssem blia Legislativa do Estado
de So Paulo, e C m ara M unicipal de So Paulo. O objetivo poder atender
m elhor s expectativas que grande parte da populao deposita nas O N G s.
Silvio C accia Bava, in Folha de S. Paulo, 27/2/2001, p. A -3.
SO C IO LO G IA
4 5 6
MDULO 2
SOCIOLOGIA E POLTICA
Ampliar a noo de poltica, enquanto um processo de tomada de decises sobre
os problemas sociais que afetam a coletividade, permite ao aluno, por um lado,
perceber como o poder se evidencia tambm nas relaes sociais cotidianas e nos
vrios grupos sociais com os quais ele prprio se depara: a escola, a famlia, a
fbrica, etc. E por outro, dimensionar o erro de assumir uma postura que negue a
poltica enquanto uma prtica socialmente vlida, uma vez que no discurso do
senso comum ela vista apenas como mera enganao. At mesmo porque
negar a poltica seria contrariar a lgica da cidadania, que supe a participao
nos diversos espaos da sociedade. (PCNEM, p. 323)
Tem po previsto: 16 horas
Finalidades do Mdulo
C riar condies de planejar aulas e atividades pedaggicas voltadas para os
aspectos polticos das relaes sociais.
D iversificar os tipos de dinm icas com os quais se trabalha.
Exercitar a interdisciplinaridade e a contextualizao.
Poder trabalhar, junto com os alunos, os conceitos tericos e m etodolgicos
da Sociologia e da Poltica.
Facilitar a apropriao, pelo educando, das seguintes com petncias e habili-
dades:
identificar, analisar e com parar os diferentes discursos sobre a realidade: as explica-
es das C incias Sociais, am paradas nos vrios paradigm as tericos, e as do senso
com um ;
produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das observa-
es e reflexes realizadas;
construir instrum entos para um a m elhor com preenso da vida cotidiana, am pliando a
viso de m undoe o horizonte de expectativas, nas relaes interpessoais com os
vrios grupos sociais;
construir a identidade social e poltica, de m odo a viabilizar o exerccio da cidadania
plena, no contexto do Estado de D ireito, atuando para que haja, efetivam ente, um a
reciprocidade de direitos e deveres entre o poder pblico e o cidado e tam bm entre
os diferentes grupos.
Conceitos
Poltica e relaes de poder.
Estado e regim es polticos.
D em ocracia.
C idadania e participao poltica.
C otidiano.
4 5 7
Materiais necessrios
Lousa e giz.
Textos dos A nexos.
Papel sulfite.
Dinmica de trabalho
Atividade 1
D ivida a classe em quatro grupos e escreva na lousa a seguinte afirm ao:
A poltica a mais nobre das aes humanas.
D iga para dois dos grupos gerar argum entos em defesa da afirm ao; j para
os outros dois grupos proponha o oposto, ou seja, que produzam argum entos
de negao da m esm a.
A ps um tem po, pea para os grupos apresentarem seus argum entos.
C onfrontados os prs e os contras, proponha que se tente estabelecer con-
juntam ente um consenso, que tanto pode ser de justificao, negao ou
relativizao do sentido da afirm ao inicial. Tal consenso deve ser traduzido
em um a nova afirm ao que dever ser anotada na lousa.
A partir da afirm ao criada coletivam ente, sugira que os grupos tentem es-
tabelecer um a definio prpria de poltica.
Pea para os grupos apresentarem suas definies.
Conceitos: poltica; a teoria e a prtica da poltica.
Competncia: produzir novos discursos sobre a realidade social, a par-
tir das observaes e reflexes realizadas.
Atividade 2
D istribua o A nexo 1 (pgina 464) e d um tem po para a leitura do texto.
Incentive os participantes a com entarem o texto. Leve-os tam bm a falarem
de seus sentim entos e das relaes que m antm com a poltica profissional e
outras form as de ao poltica.
A bra em seguida um a discusso coletiva, levando os participantes a estabe-
lecerem relaes entre:
a. poltica e econom ia;
b. alienao poltica e problem as sociais;
c. cidadania, poltica profissional e possibilidades de transform ao do social atravs
de aes polticas;
d. poltica nacional e poltica internacional.
Se achar conveniente, escreva esses itens na lousa, um a um , m edida que
se for debatendo.
O riente a form ao de vrios grupos e proponha-lhes que redijam um par-
grafo sintetizando a im portncia e o alcance da conscientizao poltica.
Pea para os grupos lerem para a classe os textos produzidos.
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 5 8
Conceitos: poltica e polticos; relaes entre poltica e econom ia e pro-
blem as sociais; alienao; cidadania e participao social; globalizao.
Competncias: construir a identidade social e poltica, de m odo a
viabilizar o exerccio da cidadania plena; construir instrum entos para
um a m elhor com preenso da vida cotidiana.
Atividade 3
Proponha a form ao de novos grupos e distribua o A nexo 2 (pginas 465-466).
D um tem po para que os grupos leiam e discutam o texto. Em seguida, soli-
cite que sintetizem em um pargrafo o conceito terico de poltica.
Prom ova a socializao dos resultados, convidando os grupos a apresenta-
rem as snteses elaboradas.
A m pliando a discusso, pea para os grupos referirem exem plos que eviden-
ciem os conceitos apresentados no texto do A nexo 2: poltica e polticos, luta
pelo poder, poder e fora, politicagem , instituies polticas, legitim idade do
poder, poder enquanto relao. A note esses term os na lousa.
Encam inhe um a anlise coletiva da A tividade.
Conceitos: poltica e poder; poder e fora; poltica com o relao.
Competncias: identificar, analisar e com parar os diferentes discursos
sobre a realidade: as explicaes das C incias Sociais,am paradas na
teoria poltica; produzir novos discursos sobre as diferentes realidades
sociais, a partir das observaes e reflexes realizadas.
Atividade 4
D ivida a classe em cinco grupos e distribua o texto do A nexo 3 (pgina 467).
Solicite que os grupos elaborem um pargrafo que sintetize o conceito de Estado.
Q uando tiverem term inado, pea para cada grupo apresentar o seu texto.
Sorteie (ou distribua) as palavras IG REJA , FO LC LO RE, A RTE, IM PREN SA , G O VERN O ,
um a para cada grupo. Em seguida, oriente os grupos a discutirem internam ente, a
partir do A nexo 3, o princpio de legitim idade relacionado com a palavra sorteada.
A bra um a rodada para que os grupos possam apresentar suas concluses.
Conceitos: Estado; legitim idade do Estado; princpios de legitim idade do poder.
Competncias: construir a identidade social e poltica, de m odo a
viabilizar o exerccio da cidadania plena.
Atividade 5
Proponha que os professores, divididos em grupos, tentem estabelecer as
caractersticas das principais form as histricas de Estado: absolutista, liberal,
socialista, totalitrio, neoliberal.
4 5 9
Solicite que os grupos apresentem suas idias e, em seguida, abra um debate
em torno da seguinte tem tica: A tualm ente, o Estado exerce (ou no) um
controle quase total sobre a vida das pessoas.
Esgotado o debate, m obilize um a discusso sobre O Estado neoliberal e a
dem ocracia brasileira.
Conceitos: Estado absolutista, liberal, socialista, totalitrio, neoliberal;
neoliberalism o e dem ocracia no Brasil.
Competncias: construir a identidade social e poltica, de m odo a
viabilizar o exerccio da cidadania plena; identificar, analisar e com pa-
rar os diferentes discursos sobre a realidade.
Atividade 6
D istribua o A nexo 4 (pginas 468-469) para um a prim eira leitura individual.
Em seguida, com alguns professores se revezando na leitura em voz alta,
analise e discuta o texto com a classe.
C oloque em debate a seguinte questo:
Por que importante discutir, junto aos alunos, as idias anar-
quistas?
Esgotado o debate, proponha que os participantes discutam em grupos o signi-
ficado de: utopia, m ovim entos de juventude, liberdade total, negao da auto-
ridade, oposio ao sistem a. Se necessrio, escreva essas expresses na lousa.
Pea para cada grupo apresentar suas concluses, a partir das quais faa
um a sntese dos conceitos na lousa.
Conceitos: anarquism o: sociedade sem Estado; utopia; liberdade; autoridade.
Competncias: produzir novos discursos sobre a realidade social; iden-
tificar, analisar e com parar os paradigm as tericos das C incias Soci-
ais; construir a identidade social e poltica, de m odo a viabilizar o exer-
ccio da cidadania plena.
Atividade 7
O rganize a classe em quatro grupos e distribua o A nexo 5 (pginas 469-470)
para um a prim eira leitura do texto.
Escolha dois grupos para atacar as idias do texto e atribua aos outros dois a
tarefa de defend-las. Para tanto, d um tem po para a releitura e discusso
do texto nos grupos.
Pea para os grupos exporem seus argum entos.
Em seguida, a partir das idias do texto, envolva a todos na anlise e discus-
so de dois recentes problem as sociais brasileiros: revoltas nos presdios e
aum ento da crim inalidade.
Prosseguindo com o debate, indague sobre as respostas a tais problem as
apresentadas pelos m ovim entos sociais, partidos polticos e governo.
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 6 0
Para encerrar, encam inhe um a discusso a respeito das diferenas entre re-
volta popular e m ovim entos sociais organizados.
Conceitos: desobedincia civil; poltica e classes sociais; reviso da his-
tria; m ovim entos sociais.
Competncias: construir a identidade social e poltica, de m odo a
viabilizar o exerccio da cidadania plena; construir instrum entos para
um a m elhor com preenso da vida cotidiana; produzir novos discursos
sobre a realidade social.
Atividade 8
D ivida a classe em grupos e distribua para leitura o A nexo 6 (pginas 471-
472). D iga para cada grupo elaborar por escrito um a sntese das idias do
texto de Rosie M uraro.
Q uando tiverem term inado, pea para um dos grupos apresentar seu relat-
rio e, se for o caso, perm ita que outros grupos faam com plem entaes.
Tendo todos o texto m o, abra um a discusso coletiva que contem ple:
a. exem plos de sistem as sim blicos;
b. origens e conquistas do m ovim ento fem inino;
c. outros m ovim entos sociais im portantes;
d. um a tentativa de definio do que m ovim ento social.
N a seqncia, estim ule os professores a darem testem unho de participao
em m ovim entos sociais, bem com o de conquistas perceptveis dos m esm os.
Para finalizar, estabelea juntam ente com a turm a um a caracterizao dos
m ovim entos sociais com o form as alternativas de ao poltica.
Conceitos: m ovim entos sociais; sistem as sim blicos; ao poltica al-
ternativa; contextualizao.
Competncias: construir instrum entos para a am pliao da viso de m un-
do; construir a identidade social e poltica, de m odo a viabilizar o exerccio
da cidadania plena; produzir novos discursos sobre a realidade social.
Atividade 9
D ivida a classe em pelo m enos quatro grupos e proponha que respondam por
escrito s seguintes questes sobre ecologia:
a. O atual m ovim ento ecolgico um a nova form a de utopia poltica?
b. Ele no tende a priorizar a natureza em detrim ento do hom em ?
c. O novo sculo ser ecologicam ente correto?
Q uando os grupos tiverem term inado, convide-os a relatarem suas respostas.
D istribua o A nexo 7 (pginas 472-473) para m etade dos grupos e o A nexo 8
(pgina 474) para os grupos restantes. D iga para cada grupo elaborar um a
sntese do texto recebido.
4 6 1
Escolha dois grupos que tenham recebido textos distintos para apresentarem
as respectivas snteses.
Para finalizar, proponha que todos os grupos levantem tem as para debates, a
partir do discurso dos autores, e v anotando-os na lousa.
Conceitos: poltica e ecologia; poltica e natureza; ideologia;
interdisciplinaridade.
Competncias: produzir novos discursos sobre as diferentes realidades
sociais; construir instrum entos para a am pliao da viso de m undoe
do horizonte de expectativas; construir a identidade social e poltica.
Atividade 10
D ivida a classe em grupos e escreva na lousa a questo a seguir, para que os
grupos a respondam por escrito:
O que significa, hoje, ser de direita ou de esquerda, politicamen-
te falando?
Pea para cada grupo apresentar suas respostas.
Em seguida, distribua o A nexo 9 (pginas 475-476) para leitura e anlise do
texto nos grupos. Enquanto os grupos trabalham , circule entre eles ouvindo
as discusses e incentivando a participao ativa de todos os com ponentes.
Escolha dois grupos para apresentar um a sntese oral das principais idias do
texto de Fernando Savater, filsofo espanhol.
Prom ova o confronto das respostas dadas pelos grupos no incio da A tividade
com as idias de Savater. Indague os grupos sobre eventuais m udanas nos
pontos de vista.
Conceitos: participao poltica; sistem as polticos; poltica e vida coti-
diana; ideologias polticas.
Competncias: construir a identidade social e poltica, de m odo a
viabilizar o exerccio da cidadania plena; construir instrum entos para um a
m elhor com preenso da vida cotidiana, am pliando a viso de m undo.
Atividade 11
D istribua o A nexo 10 (pginas 476-478) para leitura em grupos. D iga a estes
para elaborarem um a sntese por escrito do texto.
Pea para dois grupos apresentarem a sntese feita e estim ule os dem ais a
tecerem com entrios e fazerem acrscim os.
M obilize um debate tendo com o tem a as evidncias de injustia na vida cotidiana.
Esgotada a discusso, proponha que os grupos elaborem propostas de ativi-
dades pedaggicas para os alunos do Ensino M dio, a partir do texto de F-
bio C om parato.
Prom ova um a rodada de apresentao pelos grupos das propostas de ativi-
dades.
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 6 2
Conceitos: justia; dem ocracia; soberania popular; neoliberalism o e
globalizao; direitos hum anos.
Competncias: identificar, analisar e com parar os diferentes discursos
sobre a realidade; produzir novos discursos sobre as diferentes realida-
des sociais, a partir das observaes e reflexes realizadas; construir a
identidade social e poltica; construir instrum entos para um a m elhor
com preenso da vida cotidiana.
Atividade 12
O rganize a classe em grupos e proponha que respondam por escrito se-
guinte questo:
O que democracia?
Q uando os grupos tiverem term inado, solicite que apresentem suas respostas.
D istribua o A nexo 11 (pginas 478-479) para leitura e anlise do texto nos grupos.
Pea para dois grupos exporem um a sntese oral do texto e incentive os de-
m ais a se m anifestarem a respeito.
Proponha aos grupos a criao de atividades pedaggicas explorando o tem a
da dem ocracia, atividades essas dirigidas aos alunos do Ensino M dio.
Conceitos: dem ocracia; liberdades polticas; dem ocratizao do coti-
diano; direitos hum anos.
Competncias: construir a identidade social e poltica, de m odo a
viabilizar o exerccio da cidadania plena, no contexto do Estado de D i-
reito, atuando para que haja, efetivam ente, um a reciprocidade de di-
reitos e deveres entre o poder pblico e o cidado e tam bm entre os
diferentes grupos.
Este M dulo foi elaborado com a finalidade de contem plar alguns dos
principais contedos da C incia Poltica atravs do olhar da Sociologia:
a atividade poltica; as relaes entre poltica e poder; a legitim idade
do Estado e de outras instituies sociais; as diferentes form as histri-
cas do Estado; as utopias polticas; a soberania popular e os m ovim en-
tos sociais; as ideologias polticas; a justia, os direitos hum anos e a
dem ocracia e, finalm ente, o neoliberalism o e a globalizao.
D essa form a, o M dulo atende s indicaes e solicitaes dos PC N EM
sobre os conhecim entos necessrios de Poltica e Sociologia para a for-
m ao da cidadania e a construo de um a sociedade dem ocrtica.
4 6 3
Consulte tambm
A RA N H A , M . Lcia de A rruda; M A RTIN S, M . H elena Pires. Filosofando: introduo
Filosofia. So Paulo: M oderna, 1993.
C O STA , C aio Tlio. O que anarquismo. So Paulo: Brasiliense, 1985.
SO U ZA , Snia M . Ribeiro de. Um outro olhar: Filosofia. So Paulo: FTD , 1995.
W EFFO RT, Francisco C . (O rg.). Os clssicos da poltica. Vol. 1 e 2. So Paulo: tica, 1991.
W O O D C O C K, G eorge. Os grandes escritos anarquistas. Porto A legre: L& PM , 1981.
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 6 4
Anexo 1
O analfabeto poltico
Bertolt Brecht
O pior analfabeto
o analfabeto poltico.
Ele no ouve, no fala, no participa
dos acontecim entos polticos.
Ele no sabe que o custo de vida,
o preo do feijo, do peixe, da farinha,
do aluguel, do sapato e do rem dio
dependem das decises polticas.
O analfabeto poltico to burro
que se orgulha e estufa o peito
dizendo que odeia poltica.
N o sabe o im becil
que da sua ignorncia poltica
nascem a prostituta, o m enor abandonado,
o assaltante e o pior de todos os bandidos,
que o poltico vigarista, pilantra, corrupto
e lacaio das em presas nacionais e
m ultinacionais.
In Sonia M . Ribeiro de Souza, Um outro olhar: Filosofia, So Paulo, FTD , 1995, p.154.
4 6 5
Anexo 2
INTRODUO POLTICA
Introduo
N a conversa diria, usam os a palavra poltica de diversas form as que no
se referem necessariam ente a seu sentido fundam ental. A ssim , sugerim os a
algum que seja m ais polticona sua m aneira de agir, ou nos referim os
polticada em presa, da escola, da Igreja, enquanto form as de exerccio e
disputa do poder interno. Podem os falar ainda do carter poltico de um livro
de literatura, ou da arte em geral.
M ais prxim o do sentido de poltica que nos interessa nesta U nidade,
sem pre nos referim os poltica quando tratam os de cincia, de m oral e,
especificam ente, de trabalho, lazer, quadrinhos, corpo, am or, etc. Em bora
no se confunda com o objeto prprio de cada um desses assuntos, a poltica
perm eia todos eles.
H tam bm o sentido pejorativo da poltica, dado pelas pessoas desen-
cantadas diante da corrupo e da violncia, associando-a politicagem ,
falsa poltica em que predom inam os interesses particulares sobre os coletivos.
M as afinal, de que trata a poltica?
A poltica a arte de governar, de gerir o destino da cidade.
Etim ologicam ente poltica vem de plis (cidade, em grego).
Explicar em que consiste a poltica outro problem a, pois, se acom pa-
nharm os o m ovim ento da histria, verem os que essa definio varia e tom a
nuances as m ais diferentes. O m esm o ocorre quando lem bram os que o poltico
aquele que atua na vida pblica e investido do poder de im prim ir determ i-
nado rum o sociedade.
M ltiplos so os cam inhos, se quiserm os estabelecer a relao entre po-
ltica e poder, entre poder, fora e violncia; entre autoridade, coero e per-
suaso; entre Estado e governo etc. Por isso com plicado tratar de poltica
em geral. preciso delim itar as reas de discusso e situar as respostas
historicam ente.
A ssim , possvel entender a poltica com o luta pelo poder: conquista,
m anuteno e expanso do poder.
O u refletir sobre as instituies polticas por m eio das quais se exerce
o poder.
E tam bm indagar sobre a origem , natureza e significao do poder. N essa
ltim a questo surgem problem as com o: Q ual o fundam ento do poder? Q ual
a sua legitim idade? necessrio que alguns m andem e outros obedeam ? O
que torna vivel o poder de um sobre o outro? Q ual o critrio de autoridade?
A bordarem os algum as dessas questes nos captulos seguintes, m edi-
da que tratarm os dos problem as que preocupam os filsofos no correr da his-
tria. Sugerim os consultar tam bm o C aptulo 7 (D o m ito razo), onde nos
referim os ao surgim ento da noo de cidado na G rcia A ntiga.
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 6 6
Anexo 2
O poder
D iscutir poltica referir-se ao poder.
Em bora haja inm eras definies e interpretaes a respeito do conceito
de poder, vam os consider-lo aqui, genericam ente, com o sendo a capacidade
ou possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivduos ou gru-
pos hum anos. Portanto, o poder supe dois plos: o de quem exerce o poder e
o daquele sobre o qual o poder exercido. Portanto, o poder um a relao,
ou um conjunto de relaes pelas quais indivduos ou grupos interferem na
atividade de outros indivduos ou grupos.
Poder e fora
Para que algum exera o poder, preciso que tenha fora, entendida
com o instrum ento para o exerccio do poder. Q uando falam os em fora,
com um pensar-se im ediatam ente em fora fsica, coero, violncia. N a ver-
dade, este apenas um dos tipos de fora.
D iz G rard Lebrun: Se, num a dem ocracia, um partido tem peso poltico,
porque tem fora para m obilizar um certo nm ero de eleitores. Se um sindi-
cato tem peso poltico, porque tem fora para deflagrar um a greve. A ssim ,
fora no significa necessariam ente a posse de m eios violentos de coero,
m as de m eios que m e perm itam influir no com portam ento de outra pessoa. A
fora no sem pre (ou m elhor, rarissim am ente) um revlver apontado para
algum ; pode ser o charm e de um ser am ado, quando m e extorque algum a
deciso (um a relao am orosa antes de m ais nada um a relao de foras;
cf. as Ligaes perigosas de Laclos). Em sum a, a fora a canalizao da
potncia, a sua determ inao.
M . Lcia de A rruda A ranha e M . H elena Pires M artins, Filosofando: introduo Filosofia,
So Paulo, M oderna, 1993, p. 179-180.
4 6 7
Anexo 3
ESTADO E PODER
Entre tantas form as de fora e poder, as que nos interessam aqui referem -
se poltica e, em especial, ao poder do Estado que, desde os tem pos m odernos,
se configura com o a instncia por excelncia do exerccio do poder poltico.
N a Idade M dia certas atribuies podiam ser exercidas pelos nobres em
seus respectivos territrios, onde m uitas vezes eram m ais poderosos do que o
prprio rei. A lm disso, era difcil, por exem plo, determ inar qual a ltim a ins-
tncia de um a deciso, da os recursos serem dirigidos sem ordem hierrquica
tanto a reis e parlam entos com o a papas, conclios ou im peradores.
A partir da Idade M oderna, com a form ao das m onarquias nacionais, o
Estado se fortalece e passa a significar a posse de um territrio em que o
com ando sobre seus habitantes feito a partir da centralizao cada vez m ai-
or do poder. A penas o Estado se torna apto para fazer e aplicar as leis, reco-
lher im postos, ter um exrcito. A m onopolizao dos servios essenciais para
garantia da ordem interna e externa exige o desenvolvim ento do aparato ad-
m inistrativo fundado em um a burocracia controladora.
Por isso, segundo M ax W eber, o Estado m oderno pode ser reconhecido
por dois elem entos constitutivos: a presena do aparato administrativo para
prestao de servios pblicos e o monoplio legtimo da fora.
O poder legtimo
Em bora a fora fsica seja um a condio necessria e exclusiva do Estado
para o funcionam ento da ordem na sociedade, no condio suficiente para a
m anuteno do poder. Em outras palavras, o poder do Estado que apenas se
sustenta na fora no pode durar. Para tanto, ele precisa ser legtim o, ou seja,
ter consentim ento daqueles que obedecem . (Vim os que o poder um a relao!)
A o longo da histria hum ana foram adotados os m ais diversos princpios
de legitimidade do poder:
nos Estados teocrticos, o poder considerado legtim o vem da vontade
de D eus ou da fora da tradio, quando o poder transm itido de gerao em
gerao, com o nas m onarquias hereditrias;
nos governos aristocrticos apenas os m elhores podem ter funes de m ando;
bom lem brar que os considerados melhores variam conform e o tipo de aristocracia:
os m ais ricos, ou os m ais fortes, ou os de linhagem nobre, ou, at, a elite do saber;
na dem ocracia, vem do consenso, da vontade do povo.
A discusso a respeito da legitim idade do poder im portante na m edida
em que est ligada questo de que a obedincia devida apenas ao com an-
do do poder legtim o, segundo o qual a obedincia voluntria, e portanto
livre. C aso contrrio, surge o direito resistncia, que leva turbulncia social.
M . Lcia de A rruda A ranha e M . H elena Pires M artins, Filosofando: introduo Filosofia,So Paulo,
M oderna, 1993, p. 180-181.
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 6 8
Anexo 4
ANARQUISMO - INTRODUO HISTRICA
Tradio
H um a grande confuso em torno da palavra anarquism o. M uitas vezes
a anarquia considerada com o um equivalente do caos e o anarquista tido,
na m elhor das hipteses, com o um niilista, um hom em que abandonou todos
os princpios e, s vezes, at confundido com um terrorista inconseqente.
M uitos anarquistas foram hom ens com princpios desenvolvidos; um a restrita
m inoria realizou atos de violncia que, em term os de destruio, nunca che-
gou a com petir com os lderes m ilitares do passado ou com os cientistas nucle-
ares de hoje. Em outras palavras, neste estudo estaro presentes anarquistas
com o foram e so, e no com o aparentam ser nas fantasias de cartunistas,
jornalistas e polticos, cuja form a predileta de ofender um oponente acus-lo
de prom over a anarquia.
Estam os interessados em definir um grupo de doutrinas e atitudes cuja
caracterstica com um a crena de que o Estado nocivo e desnecessrio. A
origem da palavra anarquism o envolve um a dupla raiz grega: archon, que signi-
fica governante, e o prefixo an, que indica sem . Portanto, anarquia significa
estar ou viver sem governo. Por conseqncia, anarquism o a doutrina que
prega que o Estado a fonte da m aior parte de nossos problem as sociais, e que
existem form as alternativas viveis de organizao voluntria. E, por definio,
o anarquista o indivduo que se prope a criar um a sociedade sem Estado.
O conceito de sociedade sem Estado essencial para a com preenso da
atitude anarquista. Rejeitando o Estado, o anarquista autntico no est rejei-
tando a idia da existncia da sociedade; ao contrrio, sua viso da sociedade
com o um a entidade viva se intensifica quando ele considera a abolio do Esta-
do. N a sua opinio, a estrutura piram idal im posta pelo Estado, com um poder
que vem de cim a para baixo, s poder ser substituda se a sociedade tornar-se
um a rede de relaes voluntrias. A diferena entre um a sociedade estatal e
um a sociedade anrquica a m esm a que existe entre um a estrutura e um orga-
nism o: enquanto um a construda artificialm ente, o outro cresce de acordo com
leis naturais. M etaforicam ente, se pode com parar a pirm ide do Estado com a
esfera da sociedade que m antida por um equilbrio de foras. D uas form as de
equilbrio tm m uita im portncia na filosofia dos anarquistas. U m a delas o
equilbrio entre destruio e construo, que dom ina suas tticas. A outra o
equilbrio entre liberdade e ordem , que faz parte de sua viso da sociedade
ideal. Para o anarquista a ordem no algo im posto de cim a para baixo. um a
ordem natural que se expressa pela autodisciplina e pela cooperao voluntria.
A s razes do pensam ento anarquista so antigas. D outrinas libertrias
que sustentavam que, com o ser norm al, o hom em pode viver m elhor sem ser
governado j existiam entre os filsofos da G rcia e da C hina A ntiga, e entre
seitas crists herticas da Idade M dia. Filosofias cuidadosam ente elaboradas
4 6 9
Anexo 5
Anexo 4
e que eram totalm ente anarquistas com earam a aparecer j durante o
Renascim ento e a Reform a, entre os sculos XV e XVII, e principalm ente no
sculo XVIII, m edida que se aproxim ava a poca das revolues Francesa e
A m ericana, que deram incio Idade M oderna.
C om o m ovim ento ativista, buscando m udar a sociedade por m todos
coletivos, o anarquism o pertence unicam ente aos sculos XIX e XX. H ouve
pocas em que m ilhares de operrios e cam poneses europeus e latino-am eri-
canos seguiram as bandeiras negras ou rubro-negras dos anarquistas, revol-
tando-se sob a sua liderana e estabelecendo m odelos transitrios de um m undo
livre, com o na Espanha e na U crnia durante perodos da revoluo. H ouve
tam bm grandes escritores, com o Shelley e Tolstoi, que expressaram idias
essenciais do anarquism o em seus poem as, novelas e artigos. O sucesso do
anarquism o, porm , variou m uito porque ele um m ovim ento e no um parti-
do. um m ovim ento que tem m ostrado grande poder de renovao. N o incio
da dcada de 60, parecia estar esquecido, m as hoje parece ser outra vez,
com o em 1870, 1890 e 1930, um fenm eno relevante.
G eorge W oodcoch, Os grandes escritos anarquistas, Porto A legre, L& PM , 1981, p. 13-14.
Desobedincia: a virtude original do homem
Pode-se at adm itir que os pobres tenham virtudes, m as elas devem ser
lam entadas. M uitas vezes ouvim os que os pobres so gratos caridade. A l-
guns o so, sem dvida, m as os m elhores entre eles jam ais o sero. So ingra-
tos, descontentes, desobedientes e rebeldes e tm razo. C onsideram que a
caridade um a form a inadequada e ridcula de restituio parcial, um a esm o-
la sentim ental, geralm ente acom panhada de um a tentativa im pertinente, por
parte do doador, de tiranizar a vida de quem a recebe. Por que deveriam sentir
gratido pelas m igalhas que caem da m esa dos ricos? Eles deveriam estar
sentados nela e agora com eam a perceb-lo. Q uanto ao descontentam ento,
qualquer hom em que no se sentisse descontente com o pssim o am biente e
o baixo nvel de vida que lhe so reservados seria realm ente m uito estpido.
Q ualquer pessoa que tenha lido a histria da hum anidade aprendeu que
a desobedincia a virtude original do hom em . O progresso um a conseqncia
da desobedincia e da rebelio. M uitas vezes elogiam os os pobres por serem
econm icos. M as recom endar aos pobres que poupem algo grotesco e
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 7 0
Anexo 5
insultante. Seria com o aconselhar um hom em que est m orrendo de fom e a
com er m enos; um trabalhador urbano ou rural que poupasse seria totalm ente
im oral. N enhum hom em deveria estar sem pre pronto a m ostrar que consegue
viver com o um anim al m al alim entado. D everia recusar-se a viver assim , rou-
bar ou fazer greve o que para m uitos um a form a de roubo.
Q uanto m endicncia, m uito m ais seguro m endigar do que roubar, m as
m elhor roubar do que m endigar. N o! U m pobre que ingrato, descontente,
rebelde e que se recusa a poupar ter, provavelm ente, um a verdadeira perso-
nalidade e um a grande riqueza interior. D e qualquer form a, ele representar
um a saudvel form a de protesto. Q uanto aos pobres virtuosos, devem os ter
pena deles m as jam ais adm ir-los. Eles entraram num acordo particular com o
inim igo e venderam os seus direitos por um preo m uito baixo. D evem ser tam -
bm extraordinariam ente estpidos. Posso entender que um hom em aceite as
leis que protegem a propriedade privada e adm ira que ela seja acum ulada en-
quanto for capaz de realizar algum a form a de atividade intelectual sob tais con-
dies. M as no consigo entender com o algum que tem um a vida m edonha
graas a essas leis possa ainda concordar com a sua continuidade.
Entretanto, a explicao no difcil, pelo contrrio. A m isria e a pobre-
za so de tal m odo degradantes e exercem um efeito to paralisante sobre a
natureza hum ana que nenhum a classe consegue realm ente ter conscincia
de seu prprio sofrim ento. preciso que outras pessoas venham apont-lo e
m esm o assim m uitas vezes no acreditam nelas. O que os patres dizem sobre
os agitadores totalm ente verdadeiro. O s agitadores so um bando de pesso-
as introm etidas que se infiltram num determ inado segm ento da com unidade
totalm ente satisfeito com a situao em que vive e sem eiam o descontenta-
m ento nele. por isso que os agitadores so necessrios. Sem eles, em nosso
estado im perfeito, a civilizao no avanaria. A abolio da escravatura na
A m rica no foi um a conseqncia da ao direta dos escravos nem um a
expresso de seu desejo de liberdade. A escravido foi abolida graas con-
duta totalm ente ilegal de certos agitadores vindos de Boston e de outros luga-
res, que no eram escravos, no tinham escravos nem qualquer relao direta
com o problem a. Foram eles, sem dvida, que com earam tudo. curioso
observar que dos prprios escravos eles s receberam pouqussim a ajuda m a-
terial e quase nenhum a solidariedade. E quando a guerra term inou e os escra-
vos descobriram que estavam livres, to livres que podiam at m orrer de fom e
livrem ente, m uitos lam entaram am argam ente a nova situao. Para o pensa-
dor, o fato m ais trgico da Revoluo Francesa no foi que M aria A ntonieta
tenha sido m orta por ser rainha, m as que os cam poneses fam intos da Vendr
tivessem concordado em m orrer defendendo a causa do feudalism o.
O scar W ilde, The soul of m an under socialism , 1891, in G eorge W oodcoch,
Os grandes escritos anarquistas, Porto A legre, L& PM , 1981, p. 66-67.
4 7 1
Anexo 6
Por uma nova ordem simblica
C ada espcie anim al percebe o real segundo a vida que lhe peculiar. A
espcie hum ana relaciona-se com ele por m eio de seus sistem as sim blicos. E
exatam ente por esse m otivo que ela a nica espcie que o pode transfor-
m ar. M as, em bora a capacidade de sim bolizar seja inata, seu uso varia ao
longo dos tem pos.
pelos sistem as sim blicos que os seres hum anos pensam , falam , se co-
m unicam e criam as suas leis de com portam ento e, portanto, os seus sistem as
sociais, polticos e econm icos. Esses sistem as variaram m uito nos 2 m ilhes de
anos de vida de nossa espcie, principalm ente nos ltim os 10 m il anos do nos-
so perodo histrico. O grande erro dos pensadores foi tornar os sistem as, que
foram socialm ente construdos, com o biolgicos e im utveis.
Isso aconteceu, por exem plo, com os psiclogos do fim do sculo 19 e do
incio do sculo 20, principalm ente Freud e Lacan. Freud afirm a que a natureza
foi m adrasta com a m ulher porque ela no tem a capacidade de sim bolizar
com o o hom em .
Lacan afirm a que o sim blico m asculino e que a m ulher no existe.
N o existe porque no tem acesso ordem sim blica. A palavra pertence ao
hom em e o silncio pertence m ulher. Segundo ele, o sim blico estruturado
pela cadeia de significantes na qual o grande organizador o falo. Este, ao
m esm o tem po, m etfora do rgo sexual m asculino e do poder. O poder que
essencialm ente m asculino o grande outro, ao qual, im plcita ou explicita-
m ente, todos os atos sim blicos hum anos se referem . Incluem -se a os pensa-
m entos, os gestos, as leis e at os sistem as m acro (polticos e econm icos).
E, de fato, ele tem razo. A realidade hum ana gendrada (gendered),
com o gendrados som os todos ns. Todos os sistem as sim blicos atuais foram
sendo fabricados pelos e para os hom ens. Leis, gram tica, crenas, filoso-
fia, dinheiro, poder poltico e econm ico.
N a ltim a m etade do sculo 20, no entanto, algo novo aconteceu. O s
dois grandes resultados da sociedade de consum o so a entrada da m ulher no
m ercado m undial de trabalho um a vez que o sistem a fez m ais m quinas do
que m achos e a destruio dos recursos naturais porque os retirou da
natureza num ritm o m ais acelerado do que a capacidade de reposio dela.
A s m ulheres entram nos sistem as sim blicos m asculinos no m om ento em
que esses esto se m ostrando im placavelm ente destrutivos em relao vida.
A tarefa m onum ental que os m ovim entos de m ulheres e as m ulheres tm hoje
a de construir um a nova ordem sim blica no m ais centrada sobre o falo (o
poder, o m atar ou m orrer que a sua lei), m as um a nova ordem que possa
perm ear desde o inconsciente individual at os sistem as m acroeconm icos.
U m a nova ordem estruturada sobre a vida.
Essas reflexes no poderiam estar sendo feitas se esse trabalho j no
estivesse em curso. J esto sendo construdos consensos entre os povos con-
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 7 2
Anexo 7
Anexo 6
tra um a dom inao global que exclui o grosso da hum anidade e sobre um a
nova ordem que inclua um a relao com plem entar entre os gneros, um a
fam lia dem ocrtica, um tipo de relao econm ica que no transfira a riqueza
de todos para os poucos que dom inam , que inclua relaes com erciais e eco-
nm icas m enos desum anas e destrutivas.
A s m ulheres j esto entrando nos sistem as sim blicos m asculinos. E no
s nas instituies convencionais (em presas, partidos, etc.), m as tam bm em
outras, m uitas vezes na contram o da histria (nas lutas populares, ecolgi-
cas, pela paz etc., onde so a grande m aioria). Elas esto construindo um a
nova ordem sim blica, na qual o grande outro a vida (viver e deixar viver),
e ajudando a desconstruir a atual ordem universal de poder.
Se no trabalharm os nessa profundidade, por m ais que se transform em
as estruturas econm icas antigas, elas tendero a voltar. O u substitum os a
funo estruturante do falo pela funo estruturante da vida ou no terem os
m ais nem falo nem vida.
Rose M arie M uraro,in Folha de S. Paulo, 8/3/2001, p. A 3.
3 QUESTES SOBRE ECOLOGIA
[Parte I]
1. O atual m ovim ento ecolgico um a nova form a de utopia poltica?
2. Ele no tende a priorizar a natureza em detrim ento do hom em ?
3. O novo sculo ser ecologicam ente correto?
Luiz Felipe Pond responde
1. Ecologia poltica, quem no sabe isso acredita em Papai N oel. C om o
utopia poltica, acho-a m uito fraca. um a iluso acharm os que vivem os to-
dos no m esm o planeta. A natureza social. Essa coisa de w e are the w orld
s serve para serm os sensveisenquanto m orrem os de fom e e de dvidas.
negar frontalm ente toda a encarnao poltico-social da natureza que repre-
senta a prpria histria hum ana. U m a form a de definirm os o H om o sapiens
pela form a com o se relaciona com a natureza e pelo m odo com o exerce seu
poder sobre seus sem elhantes a partir dessa relao. N o h dvida de que a
utopia ecolgica serve m uito bem com o refgio para o bom m ocism odos
includos: Tudo bem , sou a favor da com petio e da degradao das socie-
4 7 3
Anexo 7
dades pobres (afinal isso natural!!!), m as choro pelas baby seals. bvio
que deve haver um projeto poltico que leve em conta o verde. A cho, alis, que
um projeto de educao bsica que inclua um a form ao ecolgicaj
grande coisa, m as para tal se faz necessrio um projeto am bientalista que
inclua um a educao decente. C om o utopia diet, um a de suas vantagens
que seria um a utopia bem -com portada: quem grita nas ruas pelas baleias
provavelm ente com eu antes.
2. A cho que sim . M as acho que essa escolhaem favor da natureza se d
m uito pelo fato de que, ao falarm os da natureza, parece que estam os tocan-
do em um a entidade pura, m as isso platonism o para pseudoletrado. A esco-
lha pela natureza proposital. m ais lim poideologicam ente defender a
natureza extirpando dela seu anim al m ais intratvel. Por outro lado, h algo de
exato na natureza biolgicaque difere do hom em , pois este o anim al indire-
to por excelncia. Para incluir o hom em e a m ulher no am bientalism o, tem os que
aprender a praticar um a ecologia do espao interno, respeitar essa coisa sutil
cham ada alm a, e isso invivel no econom icism o fajuto em que vivem os. N o
caso do Brasil, diria que um projeto verde deveria levar em conta antes de tudo
a extino do brasileiro e da brasileira.
3. A credito que possa haver um a m aior qualidade em alguns trechos
da biosfera. N a realidade j h discursos ecologicam ente corretos, inclusive
entre ns, que habitam os esta parte sujado planeta: m ais do que correto,
chiqueser ecologicam ente correto, principalm ente se for em superm erca-
dos caros. O que preocupa a possibilidade de que tudo isso vire grife: sem
a percepo de que no existe um a coisa cham ada natureza pura, vam os
acabar pagando bem caro por m orceguinhos fofinhos.
In Folha de S. Paulo, 18/2/01, M ais!, p. 3. Luiz Felipe Pond professor do program a de ps-
graduao em cincias da religio da PU C -SP e autor de Homem insuficiente.
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 7 4
Anexo 8
3 QUESTES SOBRE ECOLOGIA
[Parte II]
1. O atual m ovim ento ecolgico um a nova form a de utopia poltica?
2. Ele no tende a priorizar a natureza em detrim ento do hom em ?
3. O novo sculo ser ecologicam ente correto?
Joo Paulo Capobianco responde
1. Sim . A s alteraes prom ovidas pela hum anidade nos ciclos ecolgicos
globais am eaam sim ultaneam ente o futuro crise da sobrevivncia e levam
ao questionam ento de um dos principais pilares sobre os quais se construiu a
sociedade m oderna: a suprem acia da cincia e da tecnologia sobre os ideais, a
sensibilidade e os sentim entos hum anos. A o expor os gravssim os problem as
am bientais, de que o efeito estufa um dos m ais fortes exem plos no m om en-
to, o m ovim ento ecolgico coloca a hum anidade diante de um a crise sem pre-
cedentes e prope m udanas radicais nos processos produtivos, nas form as de
apropriao dos recursos naturais e nos padres de consum o. A viabilidade de
um novo m odelo de desenvolvim ento que seja socialm ente justo e ecologica-
m ente vivel, apresentado com o a soluo para esse im passe, exige a adoo
de posturas individuais e coletivas que contradizem o processo evolutivo re-
cente da hum anidade. Sua im plantao requer m udanas estruturais na soci-
edade, que passam a ter um carter de m udana civilizatria.
2. H setores no m ovim ento ecolgico que insistem no m odelo
preservacionista, que postula ser im possvel com patibilizar o desenvolvim ento
hum ano com a conservao do am biente natural. Essa corrente, em bora ba-
rulhenta, est perdendo rapidam ente espao para os conservacionistas, que
consideram absolutam ente indissociveis as questes sociais e am bientais. Para
essa nova e m ais influente corrente, a m elhora da qualidade de vida das pes-
soas parte da luta pela conservao am biental.
3. O novo sculo j se inicia m ais ecologicam ente corretodo que o sculo
passado, m as ser m enos ecologicam ente corretoque o prxim o. Isso porque
os conceitos sobre o que adequado em term os am bientais evoluem rapidam en-
te, tornando as m etas e planos cada vez m ais am biciosos. O caso da energia
nuclear um bom exem plo. Nos anos 70, o m ovim ento lutava para im pedir a
construo de novas usinas nucleares. M enos de 20 anos depois de conquistar as
prim eiras vitrias nesse sentido, a m eta passou a ser a desativao das existentes.
O utras aes, com o certificao am biental de produtos florestais e agrcolas, co-
m rcio solidrio e consum o consciente, so alguns exem plos de novas estratgias
que passaro a definir o que ser ecologicam ente corretono futuro prxim o.
In Folha de S. Paulo, 18/2/01, M ais!, p. 3. Joo Paulo C apobianco bilogo, am bientalista e
coordenador do Instituto Socioam biental (organizao no-governam ental).
4 7 5
Anexo 9
obrigatrio ser de esquerda?
C om freqncia, as discusses sobre o que significa ser de esquerda hoje,
depois da queda do M uro de Berlim , em 1989, e de outros desm oronam entos
concom itantes, lem bram m uito as que escutam os sem cessar sobre com o
m anter as crenas religiosas em nossa poca laica e cientfica. Fala-se em
teologia negativa, em leitura sim blica ou alegrica dos textos sagrados, no
D eus ou oculto, na volta s origens do cristianism o ou na sua sim biose com
doutrinas orientais, em rebeldia contra as Igrejas institudas e hierrquicas, em
com unidades eclesiais de base. D efende-se a necessidade de um a teologia da
libertao, m as nunca se fala na necessidade de libertao da teologia. E o
m pio vive assaltado pelo desejo de perguntar: M as por que necessrio
acreditar em D eus, de um m odo ou de outro? Por que no podem os ser sim -
plesm ente ateus com o D eus m anda?.
D o m esm o m odo, os debates sobre a esquerda possvel ou desejvel
sem pre com eam pela justificada renncia a m uitas coisas ruins que a
esquerda representou no sculo passado: a ditadura do proletariado, a luta
de classes com o guerra civil revolucionria, a abolio do m ercado e da pro-
priedade privada dos m eios de produo, o planejam ento estatal de objeti-
vos industriais, a nacionalizao indiscrim inada, o partido nico, a ideologia
nica (lem bram -se daquela frase to bonita que dizia Sim one de Beauvoir:
A verdade una; o erro, m ltiplo: nada estranha, portanto, que a direita
seja plural?) etc. Q uase ningum hoje partidrio dessas genialidades de
resultado histrico atroz. A lguns at se esqueceram de que ainda ontem
tarde professavam esses dogm as. O utros afirm am que tudo isso nunca foi a
verdadeira esquerdae tranqilam ente expulsam da esquerda Lnin, Stlin
ou M ao (com que autoridade?).
M as m uitos ainda consideram razoavelm ente de esquerda Fidel Castro, Che
G uevara ou o regim e hoje vigente na China com unista, apesar do horror que lhes
causaria ver gente assim governando seus confortveis pases europeus. Por aqui
acreditam os em m ecanism os m ais suaves de redistribuio e j basta defender-
m os a previdncia social, os im postos progressivos, a liberdade sindical e, claro, os
direitos hum anos, isto , quase tudo aquilo que at h bem pouco a esquerda
considerava m ero reform ism oou form alism o dem ocrtico.
N a verdade, m uitos partidos de centro ou de direita m oderada tam bm
subscrevem a seu m odo esses ideais, portanto difcil consider-los inequvo-
cos traos distintivos da esquerda. A ssim , continuam os discutindo, incansavel-
m ente: com o h de ser a esquerda? Q ual a esquerda que querem os hoje, no
sculo 21? M as ningum se pergunta: por que querem os continuar sendo de
esquerda hoje, no sculo 21? Por acaso isso obrigatrio para salvar nossa
alm a poltica ou a alm a sem adjetivos?
Lam ento, m as no tenho resposta para nenhum a dessas indagaes. S
m e ocorrem consideraes m uito genricas, talvez dem asiado especulativas,
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 7 6
Anexo 10
Anexo 9
m as que resum irei rapidam ente, caso tenham algo a ver com a questo que nos
preocupa. O s seres hum anos nascem os involuntariam ente subm etidos a um a
ordem social e poltica que nos preexiste, fruto de acasos, am bies e reform as
acum uladas durante sculos. Podem os sofr-la passivam ente, procurando no
nos dar pessoalm ente m uito m al nela, ou podem os buscar na teoria e na pr-
tica o que fazer para que a ordem involuntria se torne voluntria, isto , que
requisitos as instituies deveriam reunir para que a m aioria dos hum anos as
aceitassem e no apenas as padecessem . O bviam ente, dada a finitude de nossa
vida e a escassez de nossos conhecim entos, qualquer transform ao social nes-
se sentido dever necessariam ente conservar m uito para m udar pouco.
M as que m udanas? Talvez pensar a gesto do m undo com o um a questo
planetria, e no com o a luta entre tribos hostis? Colocar as necessidades hum a-
nas gerais com o objetivo da econom ia, em lugar da m axim izao dos lucros? Im -
pedir, em escala m undial, a guerra, o racism o, a tortura, a fom e, a m arginalizao
educacional, o abandono da infncia explorao e violncia dos adultos? Aspi-
rar a um a renda bsica de cidadania, que suprim a a coao da m isria e transfor-
m e a m aldio bblica do trabalho em opo pessoal, segundo o tipo de vida que
cada um deseje levar? No sei. Creio saber que existem coisas que vale a pena
tentar e outras no. Se tentar coisas que valem a pena ser de esquerda, ento
serei de esquerda. M as, para dizer a verdade, isso pouco m e im porta.
Fernando Savater, in Folha de S. Paulo, 4/3/01, M ais!, p. 15.
JUSTIA
Rumo justia ou indignidade?
Se a essncia da justia, com o sabido desde A ristteles, encontra-se na
igualdade entre os hom ens, no preciso grande esforo de previso im agina-
tiva para perceber que o futuro da espcie hum ana tende a ser m ais injusto
que o presente. A cada ano que passa, as cifras m undiais da desigualdade
crescem espantosam ente.
O s dados coletados pelo Program a de D esenvolvim ento das N aes U ni-
das so acachapantes. Em 1960, os 20% m ais ricos da populao m undial
dispunham de um a renda m dia 30 vezes superior dos 20% m ais pobres. Em
1997, vale dizer, em m enos de 40 anos, essa proporo havia m ais do que
dobrado: 74 a 1. Se em 1987 a legio dos prias da Terra, ou seja, os condena-
4 7 7
Anexo 10
dos a viver com m enos de um dlar por dia, cifrava-se em 880 m ilhes, atual-
m ente essa m ultido de pobres-diabos j constitui um a form idvel m assa de
1,2 bilho de pessoas, isto , nada m enos do que 20% da hum anidade.
U m a desproporo com parvel se desenvolve em term os de preponde-
rncia m ilitar. N unca, em toda a histria das civilizaes, um a sociedade polti-
ca foi to poderosa quanto os EU A o so hoje. O oram ento m ilitar norte-
am ericano para 2001 12 vezes superior som a de todos os dem ais ora-
m entos do m undo.
Tio Sam tem hoje sua disposio cerca de m il m sseis nucleares e conta
com 1,4 m ilho de m ilitares em servio ativo, dos quais 250 m il estacionados
fora do territrio am ericano.
A dem ais, a capacidade de espionagem dessa hiperpotncia m undial no
tem precedentes. G raas ao concurso de vrios satlites de transm isso, de
cerca de 100 m il espies espalhados pelo m undo inteiro e de 50 m il especialis-
tas em inform tica, a A gncia de Segurana N acional am ericana chega a pro-
cessar em m acrocom putadores nada m enos do que 95% das telecom unica-
es que se fazem , atualm ente, nos m ais diversos pases.
N o escapa anlise do observador m ais obtuso que essas duas realida-
des esto visceralm ente interligadas. O prim eiro im prio verdadeiram ente
m undial da histria constitui a estrutura geopoltica da globalizao capitalista.
O ra, aps a devastao geral provocada pelo neoliberalism o triunfante,
firm a-se, em todos os continentes, a convico de que o capitalism o substitui,
aos poucos, o Estado totalitrio com o o principal adversrio da dem ocracia e
dos direitos hum anos. Para suscitar a esperana preciso, pois, urgentem en-
te, apontar hum anidade as vias de resistncia a esse seu inim igo irreconcili-
vel. Elas passam por um esforo com binado de reconstruo, tanto na cpula
quanto na base do edifcio social.
N a cpula, trata-se de instituir a suprem acia do poder poltico sobre as
foras econm icas, tanto na esfera nacional quanto na internacional. O s dife-
rentes Estados nacionais foram sistem aticam ente desarticulados, ao m esm o
passo em que a autoridade da O rganizao das N aes U nidas vem sendo
m inada. H vrios anos os Estados U nidos tm se recusado a pagar suas dvi-
das O N U , no evidente propsito de sufoc-la.
Felizm ente, na base do edifcio poltico, um nm ero crescente de m ovi-
m entos e associaes articula-se hoje, sob a coordenao da International Forum
on G lobalization (http://w w w .ifg.org), para denunciar, nas ruas e praas de
todo o globo, a ao predatria e irresponsvel do Fundo M onetrio Internaci-
onal, do Banco M undial e da O rganizao M undial do C om rcio. Em janeiro de
2001, ao m esm o tem po em que os patres do m undo reunir-se-o, com o to-
dos os anos, em D avos (Sua), Porto A legre acolher os participantes do pri-
m eiro Frum Social M undial, a nova instncia representativa da hum anidade
pisoteada pelo poder capitalista.
O cam inho que conduz justia um s: fortalecim ento do poder polti-
SO C IO LO G IA - Mdulo 2
4 7 8
Anexo 11
Anexo 10
co, com efetiva participao e controle popular; a soberania dos povos (no
dos Estados nem , m enos ainda, dos grandes grupos em presariais), com o inte-
gral respeito aos direitos hum anos. Em sum a, a boa e verdadeira dem ocracia.
Q ue o novo sculo se abra, pois, sob o im pacto de um a nova convocao
geral: Povos dom inados do m undo inteiro, uni-vos!.
Fbio Konder C om parato, in Folha de S. Paulo, 31/12/00, M ais!, p. 14.
DEMOCRACIA
Prever o futuro to arriscado que, podendo sem pre errar, prefervel
errar pelo otim ism o. E h boas razes para ser otim ista quanto dem ocracia.
N os ltim os 20 anos, dobrou ou triplicou o nm ero de pessoas que no vivem
em ditadura. Talvez seja dem ais cham ar U crnia ou El Salvador hoje de Esta-
dos dem ocrticos, m as certam ente h bem m ais liberdade nesses pases ou no
Brasil, aps a queda do com unism o e das ditaduras apoiadas por W ashington,
do que havia em 1980. A conjuntura m undial torna difcil o cenrio usual, que
era ante o avano de reivindicaes populares a C IA (C entral de Intelign-
cia norte-am ericana) ou o Exrcito Verm elho acabarem com a festa. N o Brasil,
assim , se os m ilitares se m antm em paz nos quartis, isso no decorre infeliz-
m ente da fora da sociedade, m as de um contexto internacional em que um
golpe de Estado deixaria os novos e ilegtim os m andatrios enfraquecidos em
qualquer negociao externa.
Esse quadro geral de apaziguam ento abre espao para a expanso da
dem ocracia. N o casual que, m ais um a cam panha eleitoral avana, m ais os
resultados favoream as foras progressistas. O Brasil do prim eiro turno vota
direita, o Brasil do segundo vota no centro e na esquerda. Em com eo de
outubro dos anos pares prem iam os os nostlgicos da ditadura e, no fim do
m s, consagram os as foras que se opuseram a ela, m esm o que hoje estejam
divididas entre PT e PSD B.
M as resta m uito por fazer. M ais que tudo, preciso desenvolver a idia
de que a dem ocracia no s um regim e poltico, m as um regim e de vida.
Q uer dizer que o m undo dos afetos deve ser dem ocratizado. preciso dem o-
cratizar o am or, seja ertico, paternal ou filial, a am izade, o contato com o
desconhecido: tudo o que na m odernidade fez parte da vida privada. preciso
dem ocratizar as relaes de trabalho, hoje tuteladas pela propriedade priva-
4 7 9
Anexo 11
da. A dem ocracia s vai se consolidar, o que pode tardar dcadas, quando
passar das instituies eleitorais para a vida cotidiana. claro que isso significa
m udar, e m uito, o que significa dem ocracia. Penso que cada vez m ais ela ter
a ver com o respeito ao outro.
Respeitar o outro im plica reconhecer que ele no precisa ser com o ns e
aceitar sua diferena cultural, sexual, poltica, religiosa ou de valores, bem
com o adm itir que tenha as m esm as chances que ns de encontrar seu cam i-
nho e de viver alim entado, vestido e saudvel. isso o que une a dem ocracia
enquanto poder do povo, com prom etida com o sufrgio universal e com a
justia social, e enquanto conjunto de direitos hum anos, em penhada pois em
reconhecer a cada um seu rum o pessoal.
A inda difcil saber o que significa essa proposta. M as o fato que,
apesar das circunstncias atuais, a tendncia de longo prazo parece ser a da
dem ocratizao. nela que devem os apostar.
Renato Janine Ribeiro, in Folha de S. Paulo, 31/12/00, M ais!, p. 7.
SO C IO LO G IA
4 8 0
MDULO 3
CULTURA E IDEOLOGIA
Os estudos de Sociologia devem incentivar a reflexo sobre os conceitos de
cultura, sistemas simblicos e diversidades culturais, integrados aos concei-
tos de ideologia, de indstria cultural e de meios de comunicao de massa,
com a finalidade de promover a construo e consolidao da cidadania
plena (garantindo as diversidades tnicas e estticas e realizando a crtica do
consumismo).
Tem po previsto: 16 horas
Finalidades do Mdulo
C riar condies de planejar aulas e atividades pedaggicas estruturadas a
partir das relaes entre cultura e ideologia.
D iversificar os tipos de dinm icas com os quais se trabalha.
Estabelecer relaes interdisciplinares com a H istria, a A ntropologia, a Filo-
sofia, etc.
C ontextualizar as principais questes conceituais e m etodolgicas das C in-
cias Sociais.
Facilitar a apropriao, pelo educando, das seguintes com petncias e habili-
dades:
identificar, analisar e com parar os diferentes discursos sobre a realidade: as explica-
es das C incias Sociais, am paradas nos vrios paradigm as tericos, e as do senso
com um ;
produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das observa-
es e reflexes realizadas;
construir instrum entos para um a m elhor com preenso da vida cotidiana, am pliando a
viso de m undoe o horizonte de expectativas, nas relaes interpessoais com os
vrios grupos sociais;
construir um a viso m ais crtica da indstria cultural e dos m eios de com unicao de
m assa, avaliando o papel ideolgico do m arketingenquanto estratgia de persua-
so do consum idor e do prprio eleitor;
com preender e valorizar as diferentes m anifestaes culturais de etnias e segm entos
sociais, agindo de m odo a preservar o direito diversidade, enquanto princpio est-
tico, poltico e tico que supera conflitos e tenses do m undo atual;
com preender as transform aes no m undo do trabalho e o novo perfil de qualificao
exigida, gerados por m udanas na ordem econm ica;
construir a identidade social e poltica, de m odo a viabilizar o exerccio da cidadania
plena, no contexto do Estado de D ireito, atuando para que haja, efetivam ente, um a
reciprocidade de direitos e deveres entre o poder pblico e o cidado e tam bm entre
os diferentes grupos.
4 8 1
Conceitos
Ideologia.
C ultura.
C ultura popular.
C ultura erudita.
Indstria cultural (cultura de m assa).
M eios de com unicao de m assa.
C onsum ism o.
D iversidade cultural.
C otidiano.
Materiais necessrios
Lousa e giz.
Papel sulfite.
Textos dos A nexos.
A parelho de som com C D -player e toca-fitas.
G ravao em C D ou fita K-7 das m sicas:
Pela internete C rebro eletrnico, de G ilberto G il (A nexo 7)
C inem a novo, de G . G il e C aetano Veloso (A nexo 8)
Dinmica de trabalho
Atividade 1
Pea para os professores se organizarem em cinco ou seis grupos, dizendo
que se propor a elaborao de texto em conjunto.
Escreva na lousa a palavra C U LTU RA e estim ule que se faa nos grupos um a
lista de term os e expresses que rem etem idia ou conceito de cultura.
D iga para cada grupo escolher um dos term os listados e anote-o na lousa, ao
lado da palavra cultura, tom ada com o tem a gerador.
Em seguida, oriente cada grupo a elaborar um pargrafo que justifique a
relao entre a palavra escolhida e o tem a gerador.
Pea para os grupos lerem em voz alta os pargrafos produzidos e v escre-
vendo-os na lousa. Feito isso, incentive cada grupo a ordenar os pargrafos
de form a a com por um pequeno texto sobre cultura.
Prom ova a apresentao e com parao dos textos resultantes.
Para encerrar, discuta com a classe alguns dos outros term os e conceitos que
foram listados sem no entanto terem sido aproveitados na redao dos pargrafos.
Conceitos: cultura; tem a gerador; relaes entre cultura e sociedade.
Competncias: produzir novos discursos sobre a realidade social, a
partir das observaes e reflexes realizadas; identificar, analisar e
com parar os diferentes discursos sobre a realidade, a partir da teoria e
do senso com um .
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
4 8 2
Atividade 2
Escreva na lousa e incentive os participantes a discutirem os seguintes tem as:
D iversidade cultural no Brasil;
C ultura erudita e cultura popular.
Proponha que se form em grupos, devendo cada qual elaborar um pargrafo
sobre cada um dos tem as propostos.
Escolha dois grupos para apresentarem os textos que produziram .
Em seguida, abra um a discusso coletiva sobre o tem a O pblico e a crtica
frente cultura. A o m esm o tem po, atribua a um dos grupos a tarefa de
registrar e sintetizar as principais idias que surgirem durante o debate.
A o fim dos trabalhos, solicite ao grupo encarregado da sntese que a apre-
sente para a classe.
Conceitos: diversidade cultural: cultura popular e cultura erudita; crti-
ca da cultura; ideologia e alienao.
Competncias: com preender e valorizar as diferentes m anifestaes
culturais de etnias e segm entos sociais, agindo de m odo a preservar o
direito diversidade, enquanto princpio esttico, poltico e tico que
supera conflitos e tenses do m undo atual.
Atividade 3
D ivida a classe em grupos e distribua o A nexo 1 (pginas 488-490).
D um tem po para a leitura e anlise do texto. O riente os grupos a anotarem as
idias e conceitos novos, os quais no tenham sido explorados na A tividade anterior.
C onvide os grupos a apresentarem suas concluses.
Conceitos: cultura popular versus cultura erudita; a produo da cul-
tura; folclore; elite cultural; identidade cultural; cultura e nao; cultu-
ra popular e cultura erudita: conflito e incorporao.
Competncias: identificar, analisar e com parar os paradigm as teri-
cos das C incias Sociais e os do senso com um ; construir instrum entos
para um a m elhor com preenso da realidade, am pliando a viso de
m undosobre a cultura brasileira.
Atividade 4
O rganize a classe em cinco grupos e distribua o A nexo 2 (pginas 491-493).
D epois que todos tiverem lido o texto, encarregue os grupos de discutirem e
sintetizarem determ inadas partes do m esm o, conform e diviso proposta a
seguir, devendo cada grupo trabalhar separadam ente.
G rupos 1 e 2: idias de A dorno e H orkheim er.
G rupo 3: idias de M cLuhan e U m berto Eco.
G rupos 4 e 5: idias de W alter Benjam in.
4 8 3
Pea para os grupos (ou alguns deles) apresentarem suas snteses.
A partir dos conceitos apresentados no texto, passe a analisar com toda a
turm a a indstria cultural brasileira em seus diversos aspectos.
N a seqncia, coloque em debate a seguinte questo:
Como escapar das imposies da indstria cultural?
Conceitos: cultura de m assa ou indstria cultural; alienao;
globalizao cultural; apocalpticose integrados, a aurada obra
de arte; resistncia cultural (conscientizao e educao).
Competncias: construir um a viso m ais crtica da indstria cultural e
dos m eios de com unicao de m assa.
Atividade 5
D ivida a classe em grupos e proponha que respondam por escrito a estas trs
questes sobre consum ism o:
a. C om o definir o com portam ento consum ista?
b. Q uais so suas causas?
c. O consum ism o pode ser teraputico?
Term inada a tarefa, solicite que dois ou trs grupos apresentem suas respos-
tas para a turm a. Incentive os grupos restantes a participarem com com ent-
rios e com plem entaes.
D istribua o A nexo 3 (pginas 494-495), dizendo para cada grupo elaborar
um a sntese do texto.
Pea para dois grupos apresentarem suas snteses.
Proponha que os grupos elaborem por escrito, a partir do texto do A nexo 3,
questes ou tem as para debates.
Pea para os grupos partilharem os resultados obtidos.
Prom ova um a reflexo coletiva sobre os trabalhos realizados ao longo da A ti-
vidade.
Conceitos: sociedade de consum o; consum o com o relao social, for-
m ao da identidade social; consum o com o terapia.
Competncias: construir a identidade social, cultural e poltica; cons-
truir um a viso m ais crtica da indstria cultural e dos m eios de com uni-
cao de m assa.
Atividade 6
C om a classe organizada em grupos, distribua o A nexo 4 (pgina 496) e d
um tem po para a leitura do texto.
Escreva na lousa a questo abaixo, solicitando que os grupos a respondam
por escrito.
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
4 8 4
Quais relaes podem ser estabelecidas entre o texto Tigro, a
Febem e ns, a indstria cultural e o consumismo?
Prom ova um a rodada de apresentaes das respostas.
Conceitos: a m dia com o fator de integrao nacional e social, m oder-
nizao e excluso social.
Competncias: construir a identidade social, cultural e poltica; cons-
truir instrum entos para um a m elhor com preenso da vida cotidiana,
am pliando a viso de m undo; construir um a viso m ais crtica da in-
dstria cultural.
Atividade 7
D istribua o A nexo 5 (pgina 497) e pea para algum ler o texto em voz alta.
C oloque em debate a questo:
Como analisar este texto a partir das teorias estudadas sobre a
indstria cultural?
Para encerrar, lidere um a reflexo acerca do uso de texto jornalstico para
contextualizar e retom ar inform aes tericas.
Conceitos: teorias da indstria cultural (apocalpticos e integrados);
contextualizao de conceitos aprendidos.
Competncias: identificar, analisar e com parar os diferentes discursos
sobre a realidade; produzir novos discursos sobre as diferentes realida-
des sociais; construir um a viso m ais crtica sobre a indstria cultural e
os m eios de com unicao de m assa.
Atividade 8
Escreva na lousa:
A imprensa, o cinema, as histrias em quadrinhos e as telenovelas
podem ser vistos como reservatrios dos mitos de nossa sociedade.
Proponha que os professores, reunidos em grupos, discutam a afirm ao, ten-
tando estabelecer um conceito de m ito/m itologia e seu papel/funo em nos-
sa sociedade (e tam bm em outras, se possvel).
Em seguida, abra um debate coletivo e coloque em discusso, um aps o
outro, os tem as:
a. m ito e religio: relaes possveis;
b. m ito e ideologia: relaes possveis.
A ps os debates, pea para os grupos elaborarem , por escrito, um peque-
no texto destacando as relaes entre m ito/m itologia e cultura/indstria
cultural.
C onvide dois grupos para apresentarem suas concluses e estim ule a parti-
cipao dos dem ais.
4 8 5
Sugira que se debata nos grupos a im portncia e necessidade de se analisar,
com os alunos, o consum o dos produtos da indstria cultural, tais com o as
telenovelas e as histrias em quadrinhos.
A bra espao para que os grupos relatem suas concluses.
Conceitos: m ito/m itologia; m ito e religio; m ito e ideologia; m ito e cul-
tura; m ito e indstria cultural.
Competncias: construir um a viso m ais crtica da indstria cultural e
dos m eios de com unicao de m assa; produzir novos discursos sobre a
realidade social; identificar, analisar e com parar os diferentes discursos
sobre a realidade.
Atividade 9
Escreva na lousa as questes a seguir e proponha que os participantes se
renam em grupos para respond-las por escrito.
a. A internet beneficia ou prejudica a aprendizagem ?
b. Em que m edida a navegao na rede altera o conceito de aprendizagem ?
c. Ela pode desbancar o ensino tradicional?
Q uando os grupos tiverem term inado, solicite que dois deles leiam suas respostas.
D istribua o A nexo 6 (pginas 497-499) e sugira que os grupos elaborem snte-
ses das respostas de cada um dos autores.
Escolha dois grupos, um para apresentar as respostas de Valdem ar Setzer e o
outro, as de Rogrio da C osta.
A m plie a discusso, convidando todos os grupos a em itirem suas concluses finais.
Conceitos: internet e aprendizagem ; educao e m eios de com unica-
o; form ao e inform ao.
Competncias: construir instrum entos para um a m elhor com preenso
da vida cotidiana, am pliando a viso de m undoe o horizonte de
expectativas; construir um a viso m ais crtica da indstria cultural e
dos m eios de com unicao de m assa.
Atividade 10
D istribua o A nexo 7 (pginas 499-501) e prom ova a audio das duas m sicas
ali transcritas, utilizando-se de C D -player ou toca-fitas, conform e as condi-
es disponveis. D iga para os professores acom panharem cada m sica com
a letra na m o.
Proponha que se form em grupos com o objetivo de discutir e analisar as letras.
N a seqncia, pea para alguns grupos apresentarem suas anlises e incen-
tive os outros grupos a participarem com com entrios.
A bra um a discusso coletiva sobre a im portncia da viso do artista sobre os
fenm enos sociais e culturais. Se achar conveniente, utilize os C onceitos e
C om petncias listados a seguir com o fio condutor do debate.
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
4 8 6
Para finalizar, leve os participantes a analisarem conclusivam ente a A tivida-
de e v fazendo um a sntese na lousa.
Conceitos: a viso potica da cultura e dos m eios de com unicao;
globalizao via internet; a dialtica hom em versus m quina.
Competncias: com preender as transform aes no m undo do traba-
lho; m elhorar a com preenso da vida cotidiana; produzir novos discur-
sos sobre a realidade social; identificar, analisar e com parar os diferen-
tes discursos sobre a realidade.
Atividade 11
Proponha que os participantes faam individualm ente um a relao dos espa-
os culturais existentes em suas cidades/regies.
Form e um a grande roda e pea para cada professor se m anifestar em res-
posta s seguintes perguntas:
a. D e que form a seus alunos tm contato com a cultura erudita?
b. Q ue atividades culturais so desenvolvidas em sua escola?
c. Q ual a intensidade do estudo da cultura brasileira em sua escola?
d. D e que m aneira voc se utiliza dos fenm enos/produtos culturais em suas aulas?
Em seguida, encam inhe as concluses gerais.
Conceitos: fenm enos culturais e educao; espaos culturais e edu-
cao; atividades culturais com o atividades de form ao do cidado.
Competncias: construir a identidade social, poltica e cultural; com -
preender e valorizar as diferentes m anifestaes culturais; am pliar a
viso de m undoe o horizonte de expectativas.
Atividade 12
D istribua o A nexo 8 (pginas 501-502) e em seguida prom ova a audio da m sica
C inem a novo. D iga para os professores acom panharem -na com a letra na m o.
Proponha que se form em grupos para analisar a m sica.
Pea para dois ou m ais grupos apresentarem suas anlises e estim ule os de-
m ais a participarem das discusses.
C oloque em debate o C inem a N ovo e a Bossa N ova com o fenm enos cultu-
rais brasileiros (apresentados em form a de sam ba).
Finalize enfatizando o papel do professor de Sociologia com o incentivador da
investigao, por seus alunos, da cultura brasileira em seus m ltiplos aspectos.
Conceitos: C inem a N ovo; Bossa N ova; o professor com o incentivador
cultural.
Competncias: construir a identidade social, poltica e cultural; com -
preender e valorizar as diferentes m anifestaes culturais, agindo de
m odo a preservar a diversidade cultural.
4 8 7
O M dulo 3 foi elaborado com a preocupao de abordar alguns dos principais
contedos que ligam a pesquisa sociolgica produo cultural das sociedades:
cultura e sociedade; cultura erudita e cultura popular; indstria cultural e m eios
de com unicao de m assa; m itologia, alienao e ideologia; cultura brasileira;
consum o; internet e aprendizagem ; viso do artista sobre os fenm enos sociais
e, finalm ente, a resistncia cultural globalizao. H ouve a preocupao de
enfatizar a necessidade de o estudante brasileiro poder fruir os fenm enos ar-
tsticos e os espaos culturais disponveis e, tam bm , de realar o papel do pro-
fessor com o incentivador cultural.
D essa form a, o M dulo atende s indicaes e solicitaes dos PC N EM sobre a
necessidade de se trabalhar, nas escolas, com a produo cultural brasileira e
global, para se form ar e desenvolver um olhar crtico sobre a indstria cultural e
sobre as m anifestaes m ais im portantes e legtim as da hum anidade.
Consulte tambm
C H A U , M arilena. Convite Filosofia. So Paulo: tica, 1994.
______. O que ideologia. So Paulo: Brasiliense, 1986.
C O LI, Jorge. O que arte. So Paulo: Brasiliense, 1982.
RO C H A , Everardo. O que mito. So Paulo: Brasiliense, 1986.
SA N TO S, Jair Ferreira dos. O que ps-moderno. So Paulo: Brasiliense, 1986.
TO M A ZI, N elson D cio. Iniciao Sociologia. So Paulo: A tual, 1993.
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
4 8 8
Anexo 1
A ps analisar as definies de ideologia e de cultura, vam os iniciar um novo
plano de reflexo, em que entram direta ou indiretam ente em debate tanto o
conceito de cultura com o o de ideologia. Estudarem os, agora, um a questo que
continua em discusso nas cincias sociais, que a existncia de duas form as
especficas de cultura em nossa sociedade: a cultura popular e a cultura erudita.
O que seria erudito? O que seria popular? O que distinguiria o popular do
erudito? A que grupo ou classe social poderam os associar cada um desses
conceitos? H averia algum critrio de valor a separar esses conceitos, isto ,
seria possvel ou correto com par-los e julg-los?
O popularrelaciona-se ao povo; o erudito, elite (ou classe dom i-
nante, se preferirm os). Essa seria, sem dvida, a associao m ais im ediata a
ser feita com esses conceitos. M as para fazer ou no essa associao preciso
analisar os porqus daquela oposio inicial. Por que distinguir dois tipos de
cultura e dar a eles valores diferenciados?
A questo da existncia de um a cultura popular versus um a cultura erudita
im plica m odos diferenciados de ser, pensar e agir, associados aos detentores de
um a ou de outra cultura. Falar em cultura popular significa falar, sim ultaneam en-
te, em religio, em arte, em cincia populares sem pre em oposio a um sim i-
lar erudito, que pode ser traduzido em dom inante, dada a dim enso dicotm ica
(dom inante versus dom inado) que caracteriza a sociedade capitalista.
M as com o defini-las e distingui-las? A pergunta perm anece. H autores,
com o verem os adiante, que dizem j no ser possvel pensar em cultura pura-
m ente popular ou puram ente erudita num a sociedade com o a nossa, integra-
da e padronizada pela cultura de m assa, ou indstria cultural. O utros autores
discordam dessa postura, diferenciando no duas, m as trs culturas, em cons-
tante inter-relao: a cultura popular, a cultura erudita e a indstria cultural,
esta ltim a m uitas vezes atuando com o um a espcie de ponte entre as duas
prim eiras. M as, por enquanto, tentem os nos fixar especificam ente na discus-
so ainda no resolvida, com o j foi dito, referente com preenso do erudito
e do popular na contraditria sociedade capitalista que vivem os.
Cultura erudita e cultura popular: o que so e quem as produz?
D efinir cultura erudita aparentem ente no ocasiona grandes problem as.
A o pensarm os em cultura erudita, quase autom aticam ente a associam os ao pla-
no da escrita e da leitura, do saber universitrio, dos debates, da teoria e do
pensam ento cientfico. J definir cultura popular no assim to sim ples. N a
verdade, definir cultura popular representa um a polm ica que cientistas sociais,
historiadores e pensadores da cultura em geral m antm at hoje. E, se essa
polm ica ainda existe, possvel concluir que h vrias definies de popular.
A o pensarm os em cultura erudita, im ediatam ente conclum os que seus
produtores fazem parte de um a elite poltica, econm ica e cultural que pode
ter acesso ao saber associado escrita, aos livros, ao estudo. A resposta j no
to im ediata quando perguntam os quem so os produtores da cultura popu-
4 8 9
Anexo 1
lar. M as afirm ar que os produtores da cultura erudita fazem parte de um a elite
no significa dizer que essa cultura seja hom ognea. Para os antroplogos
G ilberto Velho e Eduardo Viveiros de C astro, im possvel definir cultura erudi-
ta, porque no podem ser hom ogeneizados os elem entos culturais produzidos
por intelectuais, fazendeiros, em presrios, burocratas, etc. Porm , igualm ente
im possvel definir cultura popular, dadas as produes culturais diferenciadas
de cam poneses, operrios, classes m dias baixas, etc.
D e qualquer form a, no podem os perder de vista que o espao reserva-
do na sociedade para cada um a das duas culturas bastante diferenciado.
Enquanto a cultura erudita transm itida pela escola e confirm ada pelas insti-
tuies (governo, religio, econom ia), existe um a outra cultura que no se en-
contra nos esquem as oficiais. M as onde est essa cultura? Para descobrir o
seu lugar, pensem os nas definies que os estudiosos tm dado ao conceito de
cultura popular. O historiador ingls Peter Burke define a cultura popular com o
um a cultura no oficial, do povo com um . N esse sentido, o autor segue o pen-
sam ento de A ntonio G ram sci, para quem a cultura popular a cultura do povo,
e os seus produtores so as classes subalternas. Para G ram sci, a cultura popu-
lar, por ser ligada tradio, conservadora. N o entanto, por ser capaz de
incorporar e reconstruir novos elem entos culturais, tam bm inovadora.
Segundo o antroplogo brasileiro C arlos Brando, quem faz cultura po-
pular ou folclore (voltarem os m ais tarde a esse conceito) nem sequer im agina
que o que faz tem um outro nom e, tem um a ou outra definio, causa ou no
causa polm icas entre intelectuais. A s populaes que os estudiosos aproxi-
m ariam do conceito e da prtica da cultura popular (ou do folclore) vivem , tm
suas atividades cotidianas, divertem -se, tm suas m aneiras de ver o m undo e
entender a vida, cantam , danam , sentem e trabalham . Essas coisas seriam
cultura popular? Essas coisas seriam folclore, ou, com o Brando ouviu em suas
andanas pelo interior do Brasil, focrore?
Alm disso, talvez seja im portante refletir sobre m ais um a ltim a questo:
que pessoas se interessam por essas definies? E aqui a resposta rpida: m ais
do que aos prprios produtores da cham ada cultura popular, essas questes inte-
ressam aos estudiosos, que, por sinal, num a associao m ais im ediata, seriam as-
sociados elite e esfera da cultura erudita, j que lem , escrevem e debatem .
Cultura popular e cultura erudita: conflito e incorporao
A questo presente em todos esses m ovim entos culturais, dos m ais anti-
gos aos m ais recentes, refere-se real definio do popular e do erudito. Se o
popular fosse considerado exclusivam ente com o tradio e, portanto, com o
algo a ser conservado e protegido, introduzir guitarras eltricas no que se
convencionou cham ar de m sica popular brasileiraseria inaceitvel (e, de
fato, isso causou escndalo na dcada de 60, quando o Tropicalism o e m esm o
a Jovem G uarda de Roberto C arlos surgiram e com eles, as guitarras, os
cabelos com pridos, as calas apertadas).
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
4 9 0
Anexo 1
Se, por outro lado, o erudito significasse som ente aquilo a que se
convencionou cham ar de belas-artes, m sica e teatro clssicos, no se po-
deria pensar na transcrio para a linguagem plstica, escrita e m usical de
im agens, poem as e canes do folclore (e estes, por sua vez, s seriam folclo-
re, ou cultura popular, se fossem passados oralm ente, de pai para filho, sem
alteraes, ao longo dos sculos).
C om o sabem os, nada disso acontece. N um a sociedade com plexa com o
esta em que vivem os, no possvel ignorar as inter-relaes estabelecidas
entre a cultura erudita e a cultura popular e sua im portncia no prprio esta-
belecim ento e m anuteno da sociedade. A cultura erudita procura com pre-
ender e incorporar elem entos da cultura popular (segundo m uitos autores at
para m elhor dom in-la). Isso no significa, porm , que a cultura popular no
resista a essa incorporao e no incorpore e reelabore, ela m esm a, elem en-
tos tradicionalm ente associados cultura erudita.
Para com preender todas essas inter-relaes preciso pensar que todos os
elem entos enum erados no incio do item C ultura popular e cultura erudita no
Brasilfestas, literatura, culinria, religio, etc. trazem em si a organizao
poltico-econm ico-cultural do pas, suas regras, suas contradies. A pesar de
estarem associados im ediatam ente a um a certa viso do povo e da cultura
popular brasileira, da elite e da cultura erudita, esses elem entos no so ne-
cessariam ente harm oniosos nem esto parados no tem po. A o contrrio, vo se
transform ando, ao longo da histria e das relaes sociais, num m ovim ento din-
m ico e incessante que o que caracteriza o ser hum ano e a vida em sociedade.
Para ilustrar, poderam os utilizar o exem plo da feijoada. C om o passar do
tem po, ela deixou de ser com ida de escravos e passou a ser um sm bolo de
nacionalidade, sendo servida no s nos restaurantes sim ples com o nos re-
quintados. Para com preender a cultura e seus significados, necessrio acom -
panhar as etapas de transform ao de seus elem entos, com o no exem plo da
feijoada, e tentar descobrir as suas causas.
Existe um a tendncia a se considerar tudo aquilo que se relaciona com a
cultura popular com o algo antigo, ultrapassado, que precisa acabar e dar lugar
ao novo, ao m oderno (em geral associado ao erudito). C uriosam ente, m uito do
que se convencionou cham ar de velho e ultrapassado associado tam bm
identidade nacional, isto , queles elem entos que fazem com que um a deter-
m inada populao se identifique com o um grupo de pessoas possuidor dos
m esm os interesses, objetivos e viso de m undo; em resum o, que se identifique
com o nao. Esses elem entos, se por um lado reforam a identidade, por ou-
tro acabam estim ulando a padronizao de gostos, interesses e necessidades,
fazendo com que as pessoas se esqueam de que vivem em um a sociedade
por definio contraditria, j que dividida em classes.
A indstria cultural vai ser um elem ento-chave para pensarm os nessas questes.
N elson D cio Tom azi, Iniciao Sociologia, So Paulo, A tual, 1993, p. 179-182, 190-191.
4 9 1
Anexo 2
Cultura de massa ou indstria cultural
Entre os autores preocupados em definir a indstria cultural ou cultura de
m assa e com preender o seu papel na sociedade atual, existem posies diferentes
e at opostas. De m aneira breve, exam inem os algum as vises sobre a questo.
O term o indstria cultural foi criado por Theodor A dorno (1903-1969) e
M ax H orkheim er (1895-1973), m em bros de um grupo de filsofos conhecido
com o Escola de Frankfurt. A o fazerem a anlise da atuao dos m eios de
com unicao de m assa (que a partir de agora sero cham ados pela sigla m dcm ),
esses autores concluram que eles funcionavam com o um a verdadeira inds-
tria de produtos culturais, visando exclusivam ente ao consum o. C onform e A dor-
no, a indstria cultural vende m ercadorias, m as, m ais do que isso, vende im a-
gens do m undo e faz propaganda deste m undo tal qual ele e para que ele
assim perm anea.
Segundo os dois autores, a indstria cultural pretenderia integrar os con-
sum idores das m ercadorias culturais, agindo com o um a ponte nociva entre a
cultura erudita e a popular. N ociva porque retiraria a seriedade da prim eira e a
autenticidade da segunda. A dorno e H orkheim er vem a indstria cultural com o
qualquer indstria, organizada em funo de um pblico-m assa (abstrato e
hom ogeneizado) e baseada nos princpios da lucratividade.
Poderam os pensar, a partir do que os autores indicam , que a indstria
cultural venderia m ercadorias culturais com o pasta de dentes ou autom veis,
e o pblico receberia esses produtossem saber diferenci-los ou sem ques-
tionar seu contedo. A ssim , aps um a sinfonia de Beethoven, um a estao de
rdio poderia veicular o anncio de um restaurante e, depois dele, noticiar um
golpe de Estado ou terrem oto, sem nenhum a profundidade, sem nenhum a
discusso. N esse sentido, preciso observar com o essa sucesso de m sica,
propaganda e notcia ilustra o carter fragm entrio dos m dcm , principalm ente
o rdio e a televiso (esta, por sinal, profundam ente criticada por A dorno).
O s m eios tecnolgicos tornaram possvel reproduzir obras de arte em es-
cala industrial. Para os autores, essa produo em srie (por exem plo, os discos
de m sica clssica, as reprodues de pinturas, a m sica erudita com o pano
de fundo de film es de cinem a) no dem ocratizou a arte. Sim plesm ente, bana-
lizou-a, descaracterizou-a, fazendo com que o pblico perdesse o senso crtico
e se tornasse um consum idor passivo de todas as m ercadorias anunciadas pe-
los m dcm . N esse caso, o fato de um operrio assobiar, durante o seu trabalho,
um trecho da pera que ouviu no rdio no significaria que ele estaria com pre-
endendo a profundidade daquela obra de arte, m as apenas que ele a m em ori-
zou, com o faria com qualquer cano sertaneja, rom ntica, ou m esm o um
jingle que ouvisse no m esm o rdio.
Para A dorno, a indstria cultural tem com o nico objetivo a dependncia
e a alienao dos hom ens. A o m aquiar o m undo nos anncios que veicula, ela
acaba seduzindo as m assas para o consum o das m ercadorias culturais, a fim
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
4 9 2
Anexo 2
de que elas se esqueam da explorao que sofrem nas relaes de produo.
A indstria cultural estim ularia, portanto, o im obilism o.
A o contrrio de A dorno e H orkheim er, M arshall M cLuhan (1911-1980)
via a atuao dos m dcm de m aneira otim ista. Estudando principalm ente a te-
leviso, o autor acreditava que ela poderia aproxim ar os hom ens, dim inuindo
as distncias no apenas territoriais com o sociais entre eles. O m undo iria trans-
form ar-se, ento, num a espcie de aldeia global, expresso que acabou fi-
cando clssica entre os tericos da com unicao.
O crtico U m berto Eco, por sua vez, faz um a distino polm ica entre os
autores dedicados ao estudo da indstria cultural. Segundo ele, esses autores
dividem -se entre apocalpticos(aqueles que criticam os m eios de com unica-
o de m assa) e integrados(aqueles que os elogiam ). Entre os m otivos para
criticar os m dcm , segundo os apocalpticos, estariam :
a veiculao que eles realizam de um a cultura hom ognea (que
desconsidera diferenas culturais e padroniza o pblico);
o seu desestm ulo sensibilidade;
o estm ulo publicitrio (criando, junto ao pblico, novas necessidades de
consum o);
a sua definio com o sim ples lazer e entretenim ento, desestim ulando o
pblico a pensar, tornando-o passivo e conform ista.
N esse sentido, os m dcm seriam usados para fins de controle e m anuten-
o da sociedade capitalista.
Entre os m otivos para elogiar os m dcm , apontados pelos integrados,
estariam :
serem os m dcm a nica fonte de inform ao possvel a um a parcela da
populao que sem pre esteve distante das inform aes;
as inform aes veiculadas por eles poderem contribuir para a prpria
form ao intelectual do pblico;
a padronizao de gosto gerada por eles funcionar com o um elem ento
unificador das sensibilidades dos diferentes grupos.
N esse sentido, os m dcm no seriam caractersticos apenas da sociedade
capitalista, m as de toda sociedade dem ocrtica.
Eco ir criticar as duas concepes. O s apocalpticosestariam equivo-
cados por considerarem a cultura de m assa ruim sim plesm ente por seu carter
industrial. Para Eco, no se pode ignorar que a sociedade atual industrial e
que as questes culturais tm que ser pensadas a partir dessa constatao. O s
integrados, por sua vez, estariam errados por esquecerem que norm alm en-
te a cultura de m assa produzida por grupos de poder econm ico com fins
lucrativos, o que significa a tentativa de m anuteno dos interesses desses
grupos atravs dos prprios m dcm . A lm disso, no pelo fato de veicular
produtos culturais que a cultura de m assa deva ser considerada naturalm ente
boa, com o querem os integrados.
4 9 3
Anexo 2
Eco acredita que no se pode pensar a sociedade m oderna sem os m dcm .
N esse sentido, sua preocupao descobrir que tipo de ao cultural deve ser
estim ulado para que os m dcm realm ente veiculem valores culturais.
N esse sentido, o papel dos intelectuais ser fundam ental, pois eles que
iro fiscalizar e exigir que isso acontea.
O utro autor tam bm ligado Escola de Frankfurt, m as com um a concep-
o diferente do papel da indstria cultural, W alter Benjam in (1886-1940).
Para ele, a revoluo tecnolgica do final do sculo XIX e incio do sculo XX
no acabou com a cultura erudita, com o pensavam A dorno e H orkheim er, m as
alterou o papel da arte e da cultura. O s m dcm e suas novas form as de produ-
o cultural propiciaram m udanas na percepo e na assim ilao do pblico
consum idor, podendo, inclusive, gerar novas form as de m obilizao e contes-
tao por parte desse pblico.
Para Benjam in, a possibilidade de reproduo tcnica das obras de arte
retirou delas o seu carter nico e m gico (o que ele cham a de sua aura).
Em com pensao, possibilitou que elas sassem dos palcios e m useus e fos-
sem conhecidas por um nm ero infinito de pessoas. Por exem plo, a reprodu-
o fotogrfica perm itiu que qualquer pessoa pudesse ter em sua sala as cls-
sicas Monalisa e Santa ceia, de Leonardo da Vinci; a reproduo fonogrfica
fez com que m uito m ais pessoas pudessem escutar (e quantas vezes quises-
sem ) um a sinfonia de M ozart.
O im pacto que a indstria cultural m oderna pode provocar no pblico
consum idor no seria, portanto, necessariam ente negativo, podendo, ao con-
trrio, contribuir para a em ancipao desse pblico e para a m elhoria da soci-
edade, um a vez que am pliaria o seu horizonte de conhecim ento.
M uitos crticos consideram a viso de A dorno e H orkheim er sobre a in-
dstria cultural conservadora. Segundo eles, a posio desses autores, ao di-
zerem que a indstria cultural banalizaria a cultura erudita (que eles denom i-
navam alta cultura), seria de valorizar a cultura burguesa. E no apenas isso,
seria tam bm de depreciar a cultura popular, que, segundo eles, ficaria ainda
m ais sim plificada no m bito da indstria cultural, e a prpria capacidade crtica
do pblico, considerado m ero consum idor de m ercadorias culturais, produzi-
das industrialm ente.
Essas diferentes vises sobre a indstria cultural, expostas de m aneira
sim plificada, podero servir com o elem entos para refletirm os sobre a questo
da indstria cultural no Brasil.
N elson D cio Tom azi, Iniciao Sociologia, So Paulo, A tual, 1993.
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
4 9 4
Anexo 3
3 QUESTES SOBRE CONSUMISMO
1. C om o definir o com portam ento consum ista?
2. Q uais so suas causas?
3. O consum ism o pode ser teraputico?
Ana Vernica Mautner responde
1. C om portam ento consum ista est associado, em prim eiro lugar, idia
de exagero e tam bm condio de insaciabilidade. O sujeito quer m ais, sem pre
m ais. N essa etapa do processo ocorre um a m udana qualitativa. Ele deixa de
apenas querer para querer exibir. N o se trata de exibir o que com prou. A exibi-
o est no ato da troca, que culm ina na aquisio. no ato de conseguir a
posse do bem , ou coisa, que encontram os a gratificao m xim a do consum ista.
A questo, pois, reside no tem a do poder. Eu quero (peo, encom endo, tom o).
Pago e depois levo. Resum indo, diria que o com portam ento consum ista se ca-
racteriza por um a insacivel necessidade de exibir poder. s vezes o que se
adquire colecionado ou consum ido ou distribudo ou sim plesm ente guardado.
D e qualquer form a, a negociao, a troca, contm o gozoque m antm o
com portam ento que psiclogos enquadram na categoria de com pulsivo: o pra-
zer no ato da com pra a gratificao que m antm o com portam ento consum ista.
2. A m obilidade social, caracterstica essencial do m undo m oderno, exige
dos m em bros da sociedade um a flexibilidade que nem sem pre conseguim os.
N essa questo, crises egicas de poder fluem para o consum o. D a at que o
ato de com prar sobrepuje a necessidade de ter m enos do que um passo. O
quee com oconsum im os tornam -se nosso carto de visita. O ato de com -
prar , nesse contexto, elem ento voltil na form ao da identidade.
3. O com portam ento consum ista enquanto fator de form ao de identida-
de exerce o m esm o tipo de terapia que os rem dios anestsicos: d um descanso
ao sofredor. Dim inui a dor psquica que sentim os quando elem entos identificatrios
no esto definidos. Q uando a intolerncia dor atinge form as patolgicas, seu
uso deixa de ser teraputico para tornar-se o causador de outras dores. com o a
aspirina, que, tom ada em excesso, d azia. Com portam ento consum ista cria con-
flitos no lar, gera dvidas, juros e outros tantos inconvenientes. O com portam ento
consum ista pode ser visto, pois, com o um a das tentativas de que dispom os para
driblar a sensao de im potncia que a form a de organizao da sociedade m o-
derna (m assa de indivduos procura de individuao) gera em seus m em bros.
Everardo Rocha responde
1. O consum o, na sociedade m oderna, se liberta dos lim ites da tradi-
o para se tornar um princpio fundam ental, isto , um sistem a que, para
alm de saciar necessidadesbiolgicas ou econm icas, serve a que os
4 9 5
Anexo 3
indivduos estabeleam sem elhanas e diferenas entre si. A cham ada so-
ciedade de consum onasce de um longo processo histrico, que envolve
m arcos com o a corte elisabetana (sculo 16), o rom antism o (sculo 18 e
incio do 19) e os m eios de com unicao de m assa (sculos 19 e 20); em si
m esm o, tal m odelo no um m al, e sim um a linguagem , que visa a sin-
gularizar indivduosem princpio igualados (pela dem ocracia e o m erca-
do). O m al est na apropriao indbita dessa linguagem que podem os
cham ar de consum ism o.
2. N esse caso, o consum o, logo com unicod lugar ao consum o,
logo existo, e a pessoa v a si prpria e todos os valores reduzidos
com pulso e ao sofrim ento de possuirsem pre m ais. Esquecem os, assim
vide nossos festejos de N atal , o que as festas prim itivas (kula) tinham
com o postulado bsico: o ato de trocar, a relao, vale m ais que as coi-
sas dadas ou recebidas.
C om o sugeri na resposta anterior, a atitude consum ista um a
distoro, um a apropriao perversa das m odernas regras de sociabilida-
de. N o vejo, por exem plo, na m dia o poder de m anipulao suficiente
para que fosse julgada a responsvelpor esse com portam ento. C reio,
antes, que o consum ism o um a variante exacerbada da sociedade de
consum o, que se pode identificar em personagens com o a protagonista
de M adam e Bovary (1857), de G ustave Flaubert, ou Jam es Bond, cujas
roupas, bebidas, m ulheres, cigarros transm itiam o iderio am erican w ay
do perodo da G uerra Fria.
3. A pessoa que se separou e sai para as com pras no resolver, com
isso, seu problem a interno ao contrrio do que cr o consum ista , m as pode-
r ritualizar a tristeza, do m esm o m odo com o, antigam ente, a roupa preta
sinalizava a entrada e sada no perodo de luto: nos dois casos, o consum o
ajuda expresso de um outro olhar. N esse sentido, consum ir teraputico,
assim com o o para o am igo que, dando um presente ao outro, exprim e e
refora esse vnculo.
In Folha de S. Paulo, 17/12/00, M ais!, p. 3.
A na Vernica M autner psicanalista e escritora, autora de Crnicas cientficas;
Everardo Rocha antroplogo e professor de C om unicao Social na PU C -RJ,
autor de A sociedade do sonho.
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
4 9 6
Anexo 4
Tigro, a Febem e ns
S O PA U LO - N o houve ontem , ao que consta, nenhum a m orte, nenhu-
m a rebelio na Febem , a Fundao Estadual do Bem -Estar do M enor (sic). N a
falta de notcia m ais em ocionante, program as de TV dedicados fam lia bra-
sileiradevem t-la divertido com o funk do Tigro.
O fenm eno m usical (?) da vez, oriundo do Rio, chegou aos bolses ricos de
So Paulo. Tchutchuquinhas dos Jardins e da Vila O lm pia (bairro novo-rico da capi-
tal que explica por que M aluf possvel) im itam as m inasda Cidade de Deus,
boca quente do crim e no Rio. Repetem sorrindo que um tapinha no di.
A anom ia da periferia se integra ao Brasil legal pela m dia, na form a de espe-
tculo. A violncia tem perada com sexo, G ilberto Freyre, que todos consom em
com o diverso pela TV, regularm ente intercalada com o show de horror ao vivo
da Febem . A convivncia das duas coisas explica m uito da excluso brasileira.
Se algum socilogo se dispusesse a vasculhar a histria da turm a do Tigro,
na C idade de D eus, e dos m anosde Bator, na Febem , encontraria prova-
velm ente um a origem com um . Seus avs com earam a engordar, ainda nos
anos JK, um a im ensa periferia que foi excluda dos benefcios da m oderniza-
o. Trs ou quatro geraes de prom essas frustradas e pauperizao criaram
esses tipos brasileiros, diante dos quais a classe m dia se diverte ou se horroriza.
Na Febem ou fora dela, jovens m iserveis no tm m ais a iluso de que sero
incorporados vida decente. Sobrevivendo no inferno, com o diz M ano Brow n,
no acreditam m ais, com o seus pais ou avs, que um a vida de privaes e esforos
poderia ser recom pensada por um futuro m elhor, para seus filhos que fosse.
Q ue ningum se iluda: caso perdido, a Febem deixou h m uito de ser
encarada com o problem a, desde que quem ali m orra antes de virar adulto
perm anea enjaulado. O Brasil j integrou seus tigres. Basta ligar a TV.
Fernando de Barros e Silva, in Folha de S. Paulo, 19/3/01, p. A -2.
4 9 7
Anexo 6
Anexo 5
TV alavanca romance de Ea de Queirs
Clssico da literatura portuguesa do sculo 19, Os Maias se beneficia da
adaptao para a televiso e entra em quinto lugar no ranking Datafolha.
U m clssico portugus do sculo 19, o rom ance O s M aias, aparece na
quinta colocao do ranking D atafolha dos livros m ais vendidos em fico. O
rom ance, que narra a decadncia da aristocracia portuguesa do sculo 19, se
beneficiou da adaptao para a TV, que resultou na m inissrie que est sendo
veiculada pela G lobo. O s M aias, que tem edies da N ova A lexandria, L& PM
e Ediouro, o m ais vendido na lista s do Rio de Janeiro, em bora no figure no
ranking em So Paulo. O prim eiro lugar na capital paulista, e tam bm no ranking
geral das duas cidades, em fico, ficou com N ingum de N ingum , de
Zibia G asparetto.
Folha de S. Paulo, 4/3/01, M ais!, p. 22.
3 QUESTES SOBRE EDUCAO E INTERNET
1. A internet beneficia ou prejudica a aprendizagem ?
2. Em que m edida a navegao na rede altera o conceito de aprendizagem ?
3. Ela pode desbancar o ensino tradicional?
Valdemar Setzer responde
1. D epende. Se for criana ou jovem at uns 16 anos de idade, prejudica
m uitssim o, pois acelera indevidam ente o desenvolvim ento.
2. A educao sem pre foi altam ente contextual: um pai sem pre exa-
m ina um livro antes de com pr-lo para seu filho; um a professora d um a
aula tendo em vista o que ela deu em dias anteriores, a m aturidade da
classe e, idealm ente, de cada aluno etc. A internet totalm ente
descontextualizada. C rianas e jovens no tm capacidade para decidir o
que adequado para eles, pois, se tiverem , estaro indevidam ente se com -
portando com o adultos. TV, joguinhos eletrnicos e com putador e a internet
em particular produzem acelerao altam ente prejudicial: qualquer quei-
m a de etapas em desenvolvim ento e educao produz desequilbrios fisio-
lgicos e psicolgicos.
A lm disso, o que se obtm por m eio da internet so dados, eventual-
m ente interpretados com o inform ao. Esta quase irrelevante diante do que
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
4 9 8
Anexo 6
a educao deveria ser: desenvolvim ento de capacidades sociais, artsticas e
cientficas, principalm ente por m eio de vivncias reais e no de abstraes
virtuais.
3. Sim , pois estam os num m undo verdadeiram ente co, onde as pessoas
em grande parte devido aos m eios eletrnicos perderam a sensibilidade, a
intuio sobre o que deve ser um a educao sadia e equilibrada, adequada a
cada idade. Essa perda no foi, em geral, substituda por um a necessria
conceituao holstica do que o ser hum ano e a sua educao. Estam os na
era do cosm tico; ele m ais im portante do que o contedo.
TV, joguinho e com putador so especialistas em cosm ticos, atraindo pela
form a, no pelo contedo, pela virtualidade, no pela realidade. A atrao
que o uso do com putador na educao exerce nas crianas e jovens deveria
servir de alerta para o fato de que ela est falida, pois um absurdo um a
m quina atrair m ais do que um ser hum ano. A escola do futurodeveria ser
m ais hum ana, e no m ais tecnolgica, pois esta vai produzir futuros adultos
m enos hum anos, com portando-se com o anim ais e m quinas.
O nazism o ser fichinha perto do que essas crianas e jovens
inform atizados faro no futuro (e esto com eando a fazer) e o sofrim ento por
que passaro.
Rogrio da Costa responde
1. Talvez o que m ais prejudique o aprendizado seja a prpria idia que
tem os de aprendizagem . Se acreditarm os que algum possa aprender de m odo
diverso do que proposto pelo sistem a professor-aluno, que possvel apren-
der quando trocam os idias com outras pessoas, que, ao relacionarm os infor-
m aes dispersas, estam os, de algum m odo, produzindo conhecim ento, ento
a internet beneficia o aprendizado. Por outro lado, no h nada que prejudi-
que m ais o aprendizado tradicional do que um professor despreparado ou m al
am parado m aterialm ente. Esse problem a a internet no ir resolver, m as po-
der ajudar a resolver.
2. A navegao na rede significa, basicam ente, a possibilidade de explorar-
m os de um m odo no-linear universos distintos de inform aes e conhecim entos.
O ra, a idia de explorao, por si s, j nos convida a refletir sobre a aprendiza-
gem de um a m aneira distinta daquela que com um ente entendem os: a recep-
odo conhecim ento exclusivam ente por m eio do professor. Porm a prpria
atividade de explorao dos m undos virtuais requer um aprendizado! Isso nos leva
a crer que o ensino tradicional ter um papel im portante a desem penhar nesse
aspecto: ensinar o aluno a ser ele prprio o explorador de seu universo de interes-
ses. As com unidades virtuais e o aprendizado coletivo que elas im plicam constitu-
em outro aspecto fundam ental da navegao em rede. Aprender a aprender
coletivam entetalvez seja um a outra tarefa para o ensino fundam ental.
4 9 9
Anexo 7
Anexo 6
3. Penso que no produtivo estabelecerm os um a concorrncia entre o
ensino por m eio de am bientes virtuais e o ensino tradicional. Ao contrrio, eles
podem ser vistos com o perfeitam ente com plem entares. Cabe lem brar, no entan-
to, que o fato de estarm os sendo provocados a pensar o ensino via internet, com
todo o desafio que isso significa e com toda a riqueza que ele nos prom ete, nos faz
refletir sobre a prpria arquitetura do ensino tradicional que tem os hoje. Isso nos
leva a crer que nossa relao com o ensino presencial se tornar cada vez m ais
com plexa, m ais crtica e, esperam os, m ais rica em m udanas e inovaes.
In Folha de S. Paulo, 23/7/00, M ais!, p. 3. Valdem ar Setzer professor do D epartam ento de C incia
da C om putao da U SP, autor de Introduo rede internet e seu uso; Rogrio da C osta professor
de ps-graduao em C om unicao e Sem itica da PU C -SP, autor de Limiares do contemporneo.
Texto 1
PELA INTERNET
G ilberto G il
CRIAR MEU WEB SITE
FAZER MINHA HOME-PAGE
COM QUANTOS GIGABYTES
SE FAZ UMA JANGADA
UM BARCO QUE VELEJE
QUE VELEJE NESSE INFOMAR
QUE APROVEITE A VAZANTE DA INFOMAR
QUE LEVE UM ORIKI DO MEU VELHO ORIX
AO PORTO DE UM DISQUETE DE UM MICRO EM TAIP
UM BARCO QUE VELEJE NESSE INFORMAR
QUE APROVEITE A VAZANTE DA INFORMAR
QUE LEVE MEU E-MAIL AT CALCUT
DEPOIS DE UM HOT-LINK
NUM SITE DE HELSINQUE
PARA ABASTECER
EU QUERO ENTRAR NA REDE
PROMOVER UM DEBATE
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
5 0 0
Anexo 7
JUNTAR VIA INTERNET
UM GRUPO DE TIETES DE CONNECTICUT
DE CONNECTICUT ACESSAR
O CHEFE DA MACMILCIA DE MILO
UM HACKER MAFIOSO ACABA DE SOLTAR
UM VRUS PARA ATACAR PROGRAMAS NO JAPO
EU QUERO ENTRAR NA REDE PRA CONTACTAR
OS LARES DO NEPAL, OS BARES DO GABO
QUE O CHEFE DA POLCIA CARIOCA AVISA PELO CELULAR
QUE L NA PRAA ONZE TEM UM VIDEOPOKER PARA SE JOGAR
Texto 2
CREBRO ELETRNICO
G ilberto G il
O CREBRO ELETRNICO FAZ TUDO
FAZ QUASE TUDO
QUASE TUDO
MAS ELE MUDO
O CREBRO ELETRNICO COMANDA
MANDA E DESMANDA
ELE QUEM MANDA
MAS ELE NO ANDA
S EU POSSO PENSAR SE DEUS EXISTE
S EU
S EU POSSO CHORAR QUANDO ESTOU TRISTE
S EU
EU C COM MEUS BOTES DE CARNE E OSSO
HUM, HUM,
EU FALO E OUO
HUM, HUM,
EU PENSO E POSSO
EU POSSO DECIDIR SE VIVO OU MORRO
PORQUE
PORQUE SOU VIVO, VIVO PRA CACHORRO
E SEI
QUE CERBRO ELETRNICO NENHUM ME D SOCORRO
EM MEU CAMINHO INEVITVEL PARA A MORTE
5 0 1
Anexo 8
Anexo 7
PORQUE SOU VIVO, AH, SOU MUITO VIVO
E SEI
QUE A MORTE NOSSO IMPULSO PRIMITIVO
E SEI
QUE CERBRO NENHUM ME D SOCORRO
COM SEUS BOTES DE FERRO E SEUS OLHOS DE VIDRO
A m bas as m sicas in C D Gilberto Gil ao vivo, 1999.
CINEMA NOVO
G ilberto G il e C aetano Veloso
O FILME QUIS DIZER EU SOU O SAMBA
A VOZ DO MORRO RASGOU A TELA DO CINEMA
E COMEARAM A SE CONFIGURAR
VISES DAS COISAS GRANDES E PEQUENAS
QUE NOS FORMARAM E ESTO A NOS FORMAR
TODAS E MUITAS: DEUS E O DIABO, VIDAS SECAS. OS FUZIS.
OS CAFAJESTES, O PADRE E A MOA. A GRANDE FEIRA, O DESAFIO
OUTRAS CONVERSAS, OUTRAS CONVERSAS SOBRE OS JEITOS DO BRASIL
OUTRAS CONVERSAS SOBRE OS JEITOS DO BRASIL
A BOSSA NOVA PASSOU NA PROVA
NOS SALVOU NA DIMENSO DA ETERNIDADE
PORM AQUI EMBAIXO A VIDA. MERA METADE DE NADA
NEM MORRIA NEM ENFRENTAVA O PROBLEMA
PEDIA SOLUES E EXPLICAES
E FOI POR ISSO QUE AS IMAGENS DO PAS DESSE CINEMA
ENTRARAM NAS PALAVRAS DAS CANES
PRIMEIRO FORAM AQUELAS QUE EXPLICAVAM
E A MSICA PARAVA PRA PENSAR
MAS ERA TO BONITO QUE PARASSE
QUE A GENTE NEM QUERIA RECLAMAR
DEPOIS FORAM AS IMAGENS QUE ASSOMBRAVAM
E OUTRAS PALAVRAS J QUERIAM SE CANTAR
DE ORDEM DE DESORDEM DE LOUCURA
SO C IO LO G IA - Mdulo 3
5 0 2
Anexo 8
O DE ALMA MEIA-NOITE E DE INDSTRIA
E A TERRA ENTROU EM TRANSE
NO SERTO DE IPANEMA
EM TRANSE , NO MAR DE MONTE SANTO
E A LUZ DO NOSSO CANTO. E AS VOZES DO POEMA
NECESSITARAM TRANSFORMAR-SE TANTO
QUE O SAMBA QUIS DIZER, O SAMBA QUIS DIZER: EU SOU CINEMA
A O ANJO NASCEU, VEIO O BANDIDO METERORANGO,
HITLER TERCEIRO MUNDO. SEM ESSA ARANHA. FOME DE AMOR
E O FILME DISSE: EU QUERO SER POEMA
OU MAIS: QUERO SER FILME E FILME-FILME
ACOSSADO NO LIMITE DA GARGANTA DO DIABO
VOLTAR ATLNTIDA E ULTRAPASSAR O ECLIPSE
MATAR O OVO E VER A VERA CRUZ
E O SAMBA AGORA DIZ: EU SOU A LUZ
DA LIRA DO DELRIO. DA ALFORRIA DE XICA
DE TODA A NUDEZ DE NDIA DE FLOR DE MACABIA, DE ASA BRANCA
MEU NOME STELINHA, INOCNCIA
MEU NOME ORSON ANTNIO VIEIRA CONSELHEIRO DE PIXOTE
SUPER OUTRO
QUERO SER VELHO, DE NOVO ETERNO, QUERO SER NOVO DE NOVO
QUERO SER GANGA BRUTA E CLARA GEMA
EU SOU O SAMBA. VIVA O CINEMA VIVA O CINEMA NOVO.
C D Tropiclia 2, 1994.
5 0 3
O s textos 1 e 2 do anexo 24 do m dulo 2 de C incias H um anas e suas Tecnologias (p. 83) foram
publicados sob licena da revista Superinteressante, Editora A bril. Todos os direitos reservados.
Visite o site da Super: w w w .superinteressante.com .br
Para assinar a Super: (11) 3990-2121 (G rande So Paulo), 0800-7012828 (outras localidades) ou
pelo e-m ail: abrilsac@ abril.com .br
Você também pode gostar
- A EneidaDocumento2 páginasA EneidaElisabete CunhaAinda não há avaliações
- Lampião e Maria BonitaDocumento24 páginasLampião e Maria BonitaTâmisa AraújoAinda não há avaliações
- Gestão Da Qualidade - 5SDocumento17 páginasGestão Da Qualidade - 5SSandra Mara Bitencourt SoaresAinda não há avaliações
- Sociologia 1 Ano - 1º PeríodoDocumento15 páginasSociologia 1 Ano - 1º PeríodoLeonora Ferreira100% (2)
- O CavaloDocumento19 páginasO Cavaloeli100% (4)
- Nucleo de Estudos Estigmas e Representações Do Corpo Na LiteraturaDocumento30 páginasNucleo de Estudos Estigmas e Representações Do Corpo Na LiteraturaKEILA DA SILVA SALAZAR100% (1)
- GUIA DE APRENDIZAGEM Sociologia 1º Ano 2º BimestreDocumento3 páginasGUIA DE APRENDIZAGEM Sociologia 1º Ano 2º BimestreAnanda Cristina De Oliveira MirandaAinda não há avaliações
- OssainDocumento4 páginasOssainAndreia Campos67% (3)
- Guia de Aprendizagem Filosofia 1série 1 Bimestre 2023Documento3 páginasGuia de Aprendizagem Filosofia 1série 1 Bimestre 2023LUDMILA SPIGARIOL AGUIARAinda não há avaliações
- Trabajo social en tiempo de capital fetiche: capital financiero, trabajo y cuestión socialNo EverandTrabajo social en tiempo de capital fetiche: capital financiero, trabajo y cuestión socialAinda não há avaliações
- Aula S de SociologiaDocumento133 páginasAula S de SociologiaNey Alves Dos Santos100% (2)
- O Desafio Epistemológico Do MétodoDocumento11 páginasO Desafio Epistemológico Do MétodoJoão Henrique AguiarAinda não há avaliações
- O Rito Francês Ou Moderno Por Cleber Tomas Vianna - VivatDocumento4 páginasO Rito Francês Ou Moderno Por Cleber Tomas Vianna - VivatCleber Tomas ViannaAinda não há avaliações
- PLANO DA DISCIPLINA - Sociologia PDFDocumento4 páginasPLANO DA DISCIPLINA - Sociologia PDFVanusa MariaAinda não há avaliações
- Planejamento Sociologia 2019Documento9 páginasPlanejamento Sociologia 2019Silvio GomesAinda não há avaliações
- Stanislavs LadusãnsDocumento2 páginasStanislavs LadusãnsfredmacedocadastrosAinda não há avaliações
- Plano Anual (Sociologia) 1 e 2 Ano NEMDocumento11 páginasPlano Anual (Sociologia) 1 e 2 Ano NEMLion Records BrasilAinda não há avaliações
- Documento Mito e FilosofiaDocumento5 páginasDocumento Mito e FilosofiaPriscila CozerAinda não há avaliações
- Sociologia IIIDocumento4 páginasSociologia IIIGabriel Oliveira SilvaAinda não há avaliações
- Sesi em Guiapr Sociologia 1emDocumento28 páginasSesi em Guiapr Sociologia 1emCícero RodriguesAinda não há avaliações
- Humanidade e Ciências Sociais - Apostilas de EducaçãoDocumento72 páginasHumanidade e Ciências Sociais - Apostilas de EducaçãoPALOMA ROSA DE AGUILARAinda não há avaliações
- MAPA - EM - 1 Ano - Ciencias Humanas-79-94 PDFDocumento16 páginasMAPA - EM - 1 Ano - Ciencias Humanas-79-94 PDFELAINE FLORENCIOAinda não há avaliações
- Organização Curricular - Sociologia EJADocumento7 páginasOrganização Curricular - Sociologia EJAhevilinsenaAinda não há avaliações
- Ciências Humanas E Suas TecnologiasDocumento82 páginasCiências Humanas E Suas TecnologiasTatyani RochaAinda não há avaliações
- SOCIOLOGIADocumento13 páginasSOCIOLOGIAMarcos AssunçãoAinda não há avaliações
- Plano de Aula DiversidadeDocumento4 páginasPlano de Aula DiversidadeDiego Fernandes100% (1)
- MikhaelDocumento4 páginasMikhaelGustavo BarcelosAinda não há avaliações
- Plano de Anual Filosofia 3 ANO - EEEFM Moacyr CaramelloDocumento4 páginasPlano de Anual Filosofia 3 ANO - EEEFM Moacyr CaramelloSimone Meijon100% (2)
- Filosofia 9º AnoDocumento20 páginasFilosofia 9º Anonichollasmarinho2020Ainda não há avaliações
- A Unidade e A Diversidade Nas Ciencias Sociais o DDocumento12 páginasA Unidade e A Diversidade Nas Ciencias Sociais o D708240467Ainda não há avaliações
- MAIRA GUIA DE APRENDIZAGEM 1 BIMESTRE 3 SÉRIE A e B NOVO MODELO 2022Documento1 páginaMAIRA GUIA DE APRENDIZAGEM 1 BIMESTRE 3 SÉRIE A e B NOVO MODELO 2022Maira Santana ChavesAinda não há avaliações
- Competências EspecíficasDocumento5 páginasCompetências EspecíficasVictoria Y. K.Ainda não há avaliações
- Prop - Curric - Coopeduc - Sociologia No Ensino MedioDocumento7 páginasProp - Curric - Coopeduc - Sociologia No Ensino MedioLeonardo VasconcelosAinda não há avaliações
- Aula 1Documento22 páginasAula 1Aline Gonçalves MonteiroAinda não há avaliações
- Práticas e Diálogos - Eletiva - Hérica 2022-2Documento16 páginasPráticas e Diálogos - Eletiva - Hérica 2022-2HERICA DE SOUZA NASCIMENTO MEYERAinda não há avaliações
- EPlano de Aula 1anoDocumento3 páginasEPlano de Aula 1anomariaantoniamarcon210Ainda não há avaliações
- Pe VaeDocumento4 páginasPe VaeAloisio gloriaAinda não há avaliações
- Viajando No Tempo - EmentaDocumento3 páginasViajando No Tempo - EmentaVinicius Ferrari JesusAinda não há avaliações
- Organizador Curricular 2024Documento77 páginasOrganizador Curricular 2024Rosana MacedoAinda não há avaliações
- 10590014012015sociologia Mod 2 Alua 02Documento63 páginas10590014012015sociologia Mod 2 Alua 02Moises SantosAinda não há avaliações
- COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA - CópiaDocumento2 páginasCOMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA - CópiaCida MouraAinda não há avaliações
- Filosofia - Plano de Curso - Ensino Médio.2017Documento6 páginasFilosofia - Plano de Curso - Ensino Médio.2017Ivo Nogueira - Temático100% (2)
- 3 Série Sociologia V02 EM EJA Semanas 2 E 3Documento2 páginas3 Série Sociologia V02 EM EJA Semanas 2 E 3Kasbp YukkiAinda não há avaliações
- Guia 2º Ano HISTORIA PEIDocumento2 páginasGuia 2º Ano HISTORIA PEILuna Lais Alves EvangelistaAinda não há avaliações
- Apostila SociológiaDocumento145 páginasApostila SociológiaLuiz PintoAinda não há avaliações
- David Plano de Anual Filosofia 1 ANO - EEEFM Moacyr CaramelloDocumento4 páginasDavid Plano de Anual Filosofia 1 ANO - EEEFM Moacyr CaramelloSimone MeijonAinda não há avaliações
- BNCC HistóriaDocumento7 páginasBNCC HistóriaRaniere Antônio Bicalho JúniorAinda não há avaliações
- Planejamento 1 Unid. 1° ANO - SOCIOLOGIADocumento3 páginasPlanejamento 1 Unid. 1° ANO - SOCIOLOGIARafael DouglasAinda não há avaliações
- Eja Soc 3 2Documento20 páginasEja Soc 3 2Jaqueline TorresAinda não há avaliações
- Plano de Ensino 2B ViDocumento7 páginasPlano de Ensino 2B ViLogan WolfAinda não há avaliações
- 3 - Metodologia CientíficaDocumento14 páginas3 - Metodologia CientíficaRenata FerreiraAinda não há avaliações
- Planejamento Sociologia. Pesquisa.Documento11 páginasPlanejamento Sociologia. Pesquisa.cirlenesilvadasilvaAinda não há avaliações
- Sol0301 - Teorias Sociológicas Clássicas IDocumento5 páginasSol0301 - Teorias Sociológicas Clássicas IJúlio César FreitasAinda não há avaliações
- BNCC Ensino FundamentalDocumento11 páginasBNCC Ensino FundamentalVanessa GonçalvesAinda não há avaliações
- Sociologia - Plano Nono Ano EF 2020Documento8 páginasSociologia - Plano Nono Ano EF 2020apenas.uma.garota.complicadaAinda não há avaliações
- Plano de Curso - Filosofia 2016Documento7 páginasPlano de Curso - Filosofia 2016rm2107Ainda não há avaliações
- Barth, A Análise Da Cultura Nas Sociedades ComplexasDocumento9 páginasBarth, A Análise Da Cultura Nas Sociedades Complexasraimundo joseAinda não há avaliações
- Historia Intelectual Origem e Abordagens PDFDocumento17 páginasHistoria Intelectual Origem e Abordagens PDFluAinda não há avaliações
- Módulo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 1Documento5 páginasMódulo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 1Leonardo SilvaAinda não há avaliações
- PLANEJAMENTO Arte 7ºANODocumento3 páginasPLANEJAMENTO Arte 7ºANONatália PimentaAinda não há avaliações
- MAIRA GUIA DE APRENDIZAGEM 1 BIMESTRE 1 SÉRIE A e B NOVO MODELODocumento1 páginaMAIRA GUIA DE APRENDIZAGEM 1 BIMESTRE 1 SÉRIE A e B NOVO MODELOMaira SantanaAinda não há avaliações
- Plano de Curso Anual - 2024 - Artes - Ef, Emi, em e NemDocumento43 páginasPlano de Curso Anual - 2024 - Artes - Ef, Emi, em e NemJULIANE DUARTE DE CASTROAinda não há avaliações
- GUIA de APRENDIZAGEM Sociologia 1º Ano 2º Bimestre 1ºADocumento3 páginasGUIA de APRENDIZAGEM Sociologia 1º Ano 2º Bimestre 1ºAAnanda Cristina De Oliveira MirandaAinda não há avaliações
- Planejamento Anos Iniciais 3 Ano HistóriaDocumento6 páginasPlanejamento Anos Iniciais 3 Ano HistóriaRaquel FincklerAinda não há avaliações
- Uma Interpretação Da História Tendo O Sujeito Como Objeto Da PsicanáliseNo EverandUma Interpretação Da História Tendo O Sujeito Como Objeto Da PsicanáliseAinda não há avaliações
- A Construção Social Do SujeitoDocumento3 páginasA Construção Social Do SujeitoMel JaqueiraAinda não há avaliações
- Ficha A5 - Abraham Van Helsing - Gnomo ArtíficeDocumento6 páginasFicha A5 - Abraham Van Helsing - Gnomo ArtíficeEduardo GiacominAinda não há avaliações
- Instituto Mater DeiDocumento5 páginasInstituto Mater DeiYago MesquitaAinda não há avaliações
- Adjetivo e Numeral p6Documento7 páginasAdjetivo e Numeral p6Ana Cristina SouzaAinda não há avaliações
- Fogo Do ConselhoDocumento4 páginasFogo Do ConselhoKatiane MartinsAinda não há avaliações
- A Conspiração Dos Antepassados e Lisboa Triunfante PDFDocumento10 páginasA Conspiração Dos Antepassados e Lisboa Triunfante PDFAS57Ainda não há avaliações
- EstruturacaoDocumento11 páginasEstruturacaoSebastiao Caldas RipardoAinda não há avaliações
- Manual - Estagiários - 1 Ed PDFDocumento141 páginasManual - Estagiários - 1 Ed PDFNeusa Queiroz de FariasAinda não há avaliações
- O Discurso DilogunDocumento114 páginasO Discurso DilogunBabalawó IfáodiróAinda não há avaliações
- 06+ +Falta+de+AssuntoDocumento6 páginas06+ +Falta+de+AssuntoRESUMEN OSTOSAinda não há avaliações
- Modo IndicativoDocumento3 páginasModo IndicativoAurea MoreiraAinda não há avaliações
- Gestos, Linguagem Corporal e CulturaDocumento5 páginasGestos, Linguagem Corporal e CulturahfarfankevinandAinda não há avaliações
- Recado Aos MédiunsDocumento18 páginasRecado Aos MédiunsianraAinda não há avaliações
- O ReisadoDocumento4 páginasO ReisadoBeto CavalcanteAinda não há avaliações
- ROCOCÓDocumento11 páginasROCOCÓLucia NegreiroAinda não há avaliações
- Ficha Tiefling GlasyaDocumento9 páginasFicha Tiefling GlasyaPaulo HumbertoAinda não há avaliações
- Avaliação de Portugues 4 Ano JunhoDocumento6 páginasAvaliação de Portugues 4 Ano JunhoGirlane Santos100% (1)
- Atividade 1 Akykysia - RodrigoDocumento2 páginasAtividade 1 Akykysia - RodrigoJan R. GuerraAinda não há avaliações
- Instrumentos - JazzDocumento6 páginasInstrumentos - JazzKelvin BambergAinda não há avaliações
- CARVALHO, Flavia Maria De. DiásporaDocumento11 páginasCARVALHO, Flavia Maria De. DiásporaJana LopesAinda não há avaliações
- Simbolos Da NaçãoDocumento11 páginasSimbolos Da NaçãoMário LopesAinda não há avaliações
- FICHAMENTO Idelber Avelar - Alegorias Da DerrotaDocumento3 páginasFICHAMENTO Idelber Avelar - Alegorias Da DerrotaLucian JanuarioAinda não há avaliações