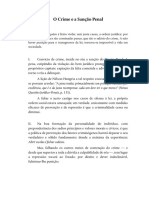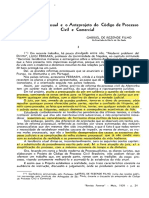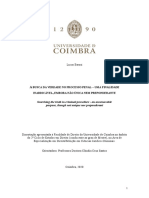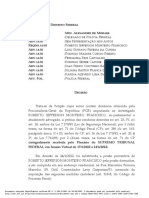Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
BD 000051
BD 000051
Enviado por
QuintuploTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
BD 000051
BD 000051
Enviado por
QuintuploDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Lgica das Provas
em Matria Criminal
LIVRARIA CLASSICA EDITORA
Nicola Framarino dei Malatesta
ADVOGADO
A Lgica das Provas
em Matria Criminal
Com um prefcio do Prof. EMILIO BRUSA
TRADUO DE J. ALVES DE S
2. EDICO
LISBOA
LIVRARIA CLSSICA EDITORA
DE A. M. TEIXEIRA & C. (FILHOS)
PRAA DOS RESTAURADORES, 17
1927
A SANTA MEMRIA
DE
MINHA MAE
Angiola de Nataristefani
Junto de quem a minha vida lo doce, da
uma doura qna nunca mais se encontra e da
qual tda a recordao para mim um exemplo
a uma inspirao de bem.
PREFCIO
1
Desde que as modernas legislaes teem abandonado pouco
a pouco as frmulas do processo inquisitoria, a antiga teoria das
provas avaliadas priori pela lei, tem cedido sucessivamente o
lugar a convico ntima do juiz. J ningum duvida, hoje em dia,
que ste facto constitui um grande progresso nos julgamentos
penais.
E fcil, porm, cair no exagro ao determinar-lhe os benefcios.
As frmulas da acusao, da discusso oral, ou exame ime-
diato das provas, do julgamento contraditrio entre partes juri-
dicamente iguais, e da publicidade, so as que permitem, no
melhor modo e graus possveis, a reproduo viva, directa e
sincera do drama criminoso nas salas dos tribunais. O juiz, que
no processo inquisitrio, favorecido pela lei com uma confiana
ilimitada, reunia em suas mos as duas funes de acusador e
defensor, parecia mais oprimido sob o pso enorme das faculda-
des que tinha, do que verdadeiramente senhor da matria, com
que devia construir a sua sentena. Mesmo depois da abolio da
tortura, que trouxe atrs de si uma profunda transformao da
verdade judiciria em verdade substancial, de formal que era
nos indcios necessrios para a aplicao da tortura e na confisso
que com ela se obtinha, mesmo depois, dizia, sem o expediente
da confisso, raras vezes, e no sem trabalhos, teria o juiz sobe-
rano podido desembaraar a sua conscincia, comquanto afeita
1
So postas aqui, como prefcio desta obra, as palavras que, em 1895,
o ilustre Prof. Brusa proferiu perante a Accademia Reale delle Scienze di To-
rino, por ocasio da primeira publicao da Logica delle prove in criminale.
8
Prefcio
ao hbito formalstico, das numerosas contradies em que a todo
0 instante mais se deixava enredar nas frias informaes que
colhia nos autos escritos: sobretudo para a prova especfica do
autor do facto imputado e da sua criminalidade, mantinha-se em
todo o caso, como consequncia necessria daquele sistema, uma
luta entre inquirente e inquirido. Se a tudo isto se junta o vn-
culo imposto a esta mesma conscincia do juiz pela obrigao de
se subordinar ao valor genricamente atribudo pelo legislador
para todos os casos a cada elemento de prova, quer considerado
em si mesmo isoladamente, quer combinado com outros elemen-
tos, e isto prescindindo absolutamente da convico dsse juiz,
ver-se h fcilmente ste descer no poucos degraus da altssima
ctedra em que o colocara, delegado da sua autocracia, o mo-
narca no antigo regime centralisador.
Pois bem, no obstante as mais vlidas e mais seguras
garantias de longa durao, que s. liberdades civis oferecem as
frmulas acusatrias em confronto com as inquisitoriais, quem
h que suspeitasse, precisamente nas primeiras, aninhada, antes
guardada com os mais zelosos cuidados por um direito incompa-
rvelmente precioso, aquela ntima, inverificvel convico, fruto
indistinto, quer de um raciocnio srio e prudente, quer de uma
irreflexo instintiva e indmita, a que hoje por tda a parte os
legisladores submetem o critrio das sentenas criminais, no
somente de absolvio, mas tambm de condenao dos
homens?
Talvez que a lei da compensao deva ser to verdadeira
na ordem dos factos morais e sociais, como na dos factos fsicos
e mecnicos, e que, quando a soberania absoluta do juiz tenha j
completado o seu tempo por uma dada forma de manifestao,
tenha ela que tornar inevitvelmente em revindita uma outra?
Estas consideraes e outras semelhantes sugeriram na mente
do criminalista e do historiador o espectculo das alternativas, a
que de h sculos tem sido sujeito o ordenar dos processos judi-
ciais para a investigao da verdade em trno dos crimes e de
seus autores. Sem desenvolver a cadeia destas ideias de ndole
geral, convm no entanto notar o facto de que nos processos
Prefcio 9
hodiernos, conduzidos segundo um sistema mixto, ou intarsiati
(como lhes chamava Carmignani que no tinha f nles), na
Europa continental, juntamente com a ntima convico foi-se
difundindo pouco a pouco na doutrina e na prtica a importncia
das regras probatrias. No por que no tenham j aparecido obras
de grande valor; pois que para demonstrao consoladora do
contrrio bastaria, para nos limitarmos s mais afoutadas, recordar
as de Glaser, o exmio autor do cdigo do processo penal austraco
de 1873: em que decerto se deixou ao juiz togado, no menos que
ao jri, a plena liberdade de sentenciar segundo a prpria e ntima
convico e sem freios legais de avaliao das provas. Mas mais
talvez do que os trabalhos desta natureza, no campo da doutrina,
agrada aos estudiosos a investigao dos institutos probatrios sob
o aspecto histrico e de erudio; e no da jurisprudncia prtica, j
de h tempo introduziu e se vai cada vez mais alargando o hbito,
especialmente perante os juzes populares, mas tambm perante os
juzes jurisperitos, de excitar os sentimentos de uns e de outros, de
comover os nimos, descurando mais ou menos, ou antes pondo
em segunda linha, os argumentos severos da razo lgica e da
experincia. E que este, e no outro, o facto, pode fcilmente
deduzir-se mesmo da freqente ligeireza e por vezes nulidade dos
motivos, que na vaga e indeterminada origem da sua convico os
juzes permanentes, obrigados como so a enunci-los, costumam
tomar como suficientes para justificar as suas declaraes sbre a
existncia do corpo de delito da criminalidade do arguido.
Estamos, em resumo, na poca em que a pacincia do inves-
tigador e do crtico parece exaurir-se tda, ou em grande parte, na
investigao de competncia scientfica. Quanto aos outros
cuidados em prega-se a rapidez adequada s condies e razes
prprias das outras coisas de todos os dias. Permanecem bem
assim, pelo menos na Itlia, complicados e lentos os processos;
mas quanto aos julgamentos finais, o esprito irrequieto teve um
tal poder, que a sua instaurao no s tem que ser imediata, mas
costuma at ser rapidssima, como uma inspirao espontnea,
irresistvel, de uma mente privilegiada.
10
Prefcio
Em um tal estado de coisas, escrever entre ns um tratado
completo das regras da lgica judiciria em matria de provas
penais, torna-se j de per si um facto muito notvel. E esta
a razo por que eu julguei chamar, com algumas ideias gerais,
a ateno dos estudiosos sbre a obra do snr. Framarino. No en
tanto, atendendo sua natureza de ndole necessriamente ana
ltica, nada direi dela, a no ser que, comquanto restrita no seu
conjunto talvez um pouco formal da lgica smente, constitui
uma obra rica de grande valor, e, sobretudo, sob o ponto de
vista da constituio esquemtica, do rigor e da frca do racio
cnio, e mesmo da clareza da exposio (se bem que um pouco
carregado por frequentes referncias s demonstraes preceden
tes). O autor, com uma agudeza rara sempre que ocorra penetrar
em questes da natureza das que se suscitam desde o princpio
de qualquer estudo srio sbre a prova, conseguiu entrar, sob
mais de um ponto de vista, talvez mais profundamente do que
anteriormente se conseguira, nas dificuldades espinhosas e que
to freqentemente se mostram rebeldes crtica dos tratadistas
e dos prticos. Manifestam-no abertamente as suas demonstraes,
aqui felizes e alm muito importantes, ora da insuficincia, umas
vezes do testemunho nico, outras da mera confisso, e ora igual
mente da necessidade da prova do corpus criminis, sempre que
seja o caso, no de absolver ou de livrar da acusao, mas de
afirmar a criminalidade e pronunciar a condenao; como tambm
as belas declaraes acrca do onus da prova, sbre a verdadeira
natureza dos crimes de facto permanente e suas consequncias
judicirias, como do que respeita grave questo de muito inte
rsse prtico, relativa aos limites das investigaes probatrias
no crime, dependentes da existncia de um contracto, que o for
malismo prprio da lei civil probe provar mediante simples
testemunhos. I
No que respeita ao plano geral da obra, basta advertir, que
o tratado completo se desdobra em cinco partes. Analisados em
primeiro lugar os estados de alma relativamente ao conhecimento
da realidade, ela ocupa-se por isso da discusso da prova: at
aqui genricamente. Passando em seguida ao vivo das dificul-
dades jurdicas, examina para esse fim a prova nas suas varias
espcies, que o autor distingue nitidamente em objectiva, subjec-
tiva e formal; subdistinguindo, como racional, a primeira em
directa e indirecta, a segunda em real e pessoal, emquanto que a
terceira, concernente as formas da prova, resume-as tdas nas trs
categorias de testemunhal, documental e material.
para augurar qne uma obra to meditada e de um valor no
comum, encontre entre ns um digno acolhimento, e tal, qne at o
seu jovem aator tenha de ser recompensado, assim como
reconfortado nos seus srios e doutos estudos futuros.
E. BRUSA.
INTRODUO
0 crime, que, individualmente, o facto do homem que com
as suas contingncias particulares se concretisou como uma viola-
o particular de um direito particular, pode ser considerado
especfica e genricamenie: especificamente, em relao s condi-
es essenciais que constituem, por aquele facto particular humano,
uma determinada violao do direito; genricamente, em relao
s condies essenciais pelas quais sse facto humano constitui,
no esta ou aquela espcie de violao, mas uma violao do
direito em geral.
Considerando o facto humano como uma individualidade
que constitui uma dada espcie de violao criminosa, tem-se
distinguido o crime em instantneo e continuado, conforme a
violao do direito se extingue num s momento, ou prossegue
mesmo depois do momento da sua consumao.
Ora, se o crime, considerado especificamente, se apresenta,
como instantneo ou como continuado; considerado ao contrrio
sob o aspecto genrico, apresenta-se sempre como continuado.
No pode conceber-se um direito, sem obrigao correlativa;
no pode conceber-se um direito, sem a ideia do respeito que le
deve legitimamente inspirar: se o reconhecimento ou a negao
de reconhecimento do direito de um, dependesse do capricho dos
outros, o direito deixaria de ser direito. Esta crena em que os
direitos devem legitimamente inspirar respeito, constitui a tran-
quilidade jurdica do individuo e da sociedade. Esta opinio do
respeito pelos direitos, sendo essencial ao conceito dos direitos,
tambm ela um direito: o direito da tranquilidade jurdica,
direito genrico que constitui no s a fra, mas, direi qusi,
14
Introduo
o ambiente em que respiram, vivem e teem valor prticamente
todos os direitos particulares.
Ora, todo o facto criminoso particular, considerado genri-
camente, emquanto constitui um crime em geral, viola o direito
da tranquilidade jurdica; e emquanto se resolve numa tal vio-
lao, constitui sempre um crime continuado. Todo o crime par-
ticular no , com efeito, mais que uma afirmao explcita da
falta de respeito ao direito; no seno a exteriorizao, em um
facto externo, de uma ameaa contra todos os direitos, iguais ou
inferiores ao direito violado: uma afirmao explcita e com
factos, de que se est pronto a calcar algum direito, de respei-
tabilidade igual ou menor do que o direito violado, sempre que
entre em luta com as prprias paixes. Esta ameaa no se
extingue com o acto consumativo da violao do direito parti-
cular, mas continua ainda a sua vida criminosa; at que esta
continuao de sua vida seja detida pela pena. A pena no vem
j ferir o delinqente pela sua violao consumada de um direito
particular: relativamente a esta, factura infectum fieri nequit,
e s ficaria como legtima a aco civil. A pena vem ferir o
delinqente, para interromper a continuao da sua aco crimi-
nosa contra a tranquilidade jurdica do ofendido e da sociedade
inteira.
Sob ste aspecto compreende-se claramente como o direito de
punir encontra o seu princpio superior, e a sua legitimidade, na
defeza directa do direito, tanto quanto s penas cominadas pelo
legislador, como quanto s penas impostas pelos juzes: a pena
no se impe legitimamente, s porque foi legitimamente, porque,
desde que imposta, se resolve numa defeza actual e prtica do
direito, contra a aco criminosa, continuada, do violador.
Sob ste aspecto, compreende-se facilmente como a pena,
negando o crime, afirma o direito. A pena j no nega o crime,
porquanto consiste na violao particular de um direito; esta
violao particular, por isso que se efectuou concretamente, no
pode ser anulada por nenhuma fra humana. A pena impede, ao
contrrio, eficazmente, o crime, porquanto ste consiste numa
violao, continuada, do direito da tranquilidade jurdica: A pena
Introduo 15
impede e susta esta continuao: e assim, impedindo que a aco
criminosa continui a negar o direito da tranquilidade jurdica,
torna-o firme.
Sob ste aspecto, a afirmao e a especificao do direito
contra o delinquente, no tanto uma aco, quanto uma reaco
penal; e a pena resolve-se prpriamente em uma interrupo do
crime
1
.
Sob este aspecto, se a pena atinge o crime por que uma
violao, continuada, da tranquilidade jurdica, compreende-se
em todo o caso, que ste crime genrico da violao da tranqui-
lidade maior ou menor, segundo a maior ou menor gravidade
que apresenta o crime concreto contra o direito particular; e por
isso proporcionando a pena ao crime particular cometido, propor-
ciona-se violao da tranquilidade jurdica.
Resumindo, a pena uma interrupo do crime, porquanto
ste viola, com uma aco continuada, a tranquilidade jurdica. Esta
interrupo do crime, que constitui a pena, esta interrupo da
continuao da ameaa contra os direitos, encontra a sua
legitimidade substancial na defeza directa do direito; e encontra a
sua legitimidade formal, ou na restrio perptua da liberdade do
que ameaa, eliminando-o da sociedade, ou na restrio temporria
da sua liberdade; restrio perptua ou temporria de liberdade,
que, ao mesmo tempo que susta materialmente a eficcia da
ameaa, deve tambm procurar anul-la moralmente, corrigindo o
criminoso e desanimando os que teem ms inclinaes. A defeza
directa do direito, exercida com frmulas que impedem
materialmente a continuao do crime, e que moralmente se
dirigem correco do delinquente e intimidao dos maldosos:
eis a pena legtima: eis o que pode restabelecer aquela tranquilidade
social que o crime, com aco continuada, perturbava.
Portanto, como o princpio da pena consiste na defeza do
1
Considerando assim a pena, no h sistema que valha para pr em
perigo a sua legitimidade racional; se me no engano, mesmo para a nova
escola penal ste o melhor ponto de vista para a legitimidade da pena.
16
Introduo
direito, assim a sua finalidade consiste no restabelecimento da
tranqilidade social.
Ora, dste modo o princpio como o fim da pena levam a
uma e mesma concluso: a pena s deve atingir quem cer-
tamente ru.
Quanto ao princpio da defeza jurdica, le em princpio
universal, compreendendo em si a defeza de todos os direitos. Ora,
em face do direito, que a sociedade ofendida tem, de punir o
ru, existe em todo o juzo penal, o direito do que tem de ser
julgado a no ser punido, se no ru. O fim supremo, por isso,
de tda a ordem processual, que se inspire na defeza jurdica,
deve ser conciliar e defender ao mesmo tempo stes dois direitos;
e a conciliao obtem-se punindo smente no caso de certeza
sbre a criminalidade. E na verdade, se a sociedade ofendida tem
o direito de punir o ru, no tem comtudo o direito de ver sacri-
ficar no seu altar uma vtima, seja ela qual fr, culpada ou ino-
cente; no: o direito da sociedade s se afirma racionalmente
como direito de punir o verdadeiro ru; e para o esprito humano
s verdadeiro o que certo. Por isso, absolvendo em caso de
dvida razovel, presta-se homenagem ao direito do que tem de
ser julgado, e no se calca o direito da sociedade.
Se se atende ao fim da tranquilidade social, a que a pena
deve dirigir-se, descobrir-se h que a pena s pode servir para
esse fim, quando atinja quem realmente ru.
A pena que ferir um inocente, perturbar mais profundamente
a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime parti-
cular que se procura punir; porquanto todos se sentiriam na
possibilidade de serem, por sua vez, vtimas de um rro judicirio.
Lanai, pequena que seja, na conscincia social uma dvida sbre
a aberrao da pena, e esta deixar de ser a segurana dos
honestos, mas ser a grande perturbadora daquela mesma tran-
quilidade para cujo restabelecimento foi chamada; ela no ser
mais a defensora do direito, mas a fra imane que pode, por sua
vez, esmagar o direito imbele. Se a pena pudesse cair tambm
sbre quem no realmente ru, alm da agresso do nosso
direito por parte do indivduo, produziria o pavor da agresso
Introduo 17
por parte da lei. s fras do indivduo que comete a agresso
podem sempre, por fim, opr-se as fras do agredido: a luta
entre homem e homem. Mas aquilo que espantaria os mais cora-
josos, seria a consumao da agresso da prpria lei sbre o nosso
direito: cada um perceberia que tda a sociedade, sob o falso
nome e a falsa divisa de Justia social, poderia de um momento
para outro cair sbre cada indivduo, esmagando-o, como um
gro de trigo sob a m de um moinho.
Uma matrona, com a fronte olmpicamente serena, e que
pesa as aces humanas, j no seria o smbolo da justia; no:
a Justia no apareceria aos cidados, bons ou maus, seno qual
uma Deusa temvel, monstruosamente sca e surda verdade:
na sua figura ver-se-iam as linhas e as sombras, com que a ima-
ginao dos antigos devia ter revestido a terrvel e impenetrvel
figura do Fatum! A possibilidade, por isso, de condenar sem a
certeza da criminalidade, deslocaria a pena da sua base legtima,
da defeza do direito, e torna-la-ia inimiga do prprio fim da
tranqilidade social, para que deve tender. Por isso a pena, j
pelo princpio em que se inspira, j pelo fim a que tende, s
pode impr-se legitimamente, quando se obteve a certeza do facto
da criminalidade.
Estudar as leis racionais que regem a verificao do facto
da criminalidade, o objecto da scincia que se denomina lgica
judicial; estudar as fras judiciais que melhor concretisam e
garantem esta certeza do facto, o objecto da arte judicial.
Naquela scincia e nesta arte, assenta o paldio das liberdades
dos cidados. *
Assim como o cdigo das penas deve ser a espada infalvel
para ferir os delinquentes, assim tambm o cdigo das frmulas,
inspirando pelas teorias da lgica s, ao mesmo tempo que deve
ser o brao que guia com segurana aquela espada ao peito dos
rus, deve ser tambm o escudo inviolvel da inocncia. E sob
ste aspecto que o Cdigo de processo penal, que o corolrio
legislativo da scincia e da arte judicial, o ndice seguro do
respeito pela personalidade humana, e o termmetro fiel da civi-
lisao de um povo.
2
18
Introduo
Lgica judicial, Arte judicial, Processo: eis a trilogia racio-
nalmente decrescente, que conduz a um juzo justo.
Referindo-nos particularmente ao juzo penal, tentamos neste
livro um prospecto da Lgica judicial: scincia rdua e impor-
tante, sem a qual o direito de punir nas mos da sociedade no
seria mais que um aoute nas mos de um louco.
Se o tempo e os cuidados urgentes da vida nos permitirem,
tentaremos, em outro livro, o desenvolvimento da arte judicial;
e em um terceiro livro tentaremos talvez mesmo, finalmente, um
estudo sbre o Processo penal positivo, coordenando-o sob os
princpios j expostos, de Lgica e de Arte judicial.
Giovinazzo (Prov. di Bari), janeiro, 1894.
PRIMEIRA PARTE
Estados de esprito relativamente ao
conhecimento da realidade
PREMBULO
Sendo a prova o meio objectivo pelo qual o esprito humano
se apodera da verdade, a eficcia da prova ser tanto maior,
quanto mais clara, ampla e firmemente ela fizer surgir no nosso
esprito a crena de estarmos de posse da verdade. Para se conhe-
cer, portanto, a eficcia da prova, necessrio conhecer como a
verdade se refletiu no esprito humano, isto , necessrio conhe-
cer qual o estado ideolgico, relativamente coisa a verificar, que
ela criou no nosso esprito com a sua aco.
Conseguintemente, para estudar bem a natureza da prova, 6
necessrio comear por conhecer os efeitos que ela pode produzir
na conscincia, e para ste conhecimento necessrio saber antes
de mais nada os estados em que pode encontrar-se o esprito,
relativamente ao conhecimento da realidade. Conhecendo, portanto,
qual dstes estados de conhecimento se induziu na conscincia
pela aco da prova, obter-se h a determinao do valor intrn-
seco desta.
O estudo dos vrios estados de esprito, relativamente ao
conhecimento da realidade, o objecto desta primeira parte do
livro.
Relativamente ao conhecimento de um determinado facto, o
esprito humano pode achar-se em estado de ignorncia, de dvida
ou de certeza.
20 A Lgica das Provas em Matria Criminal
A dvida um estado complexo. Existe dvida, em geral,
sempre que uma assero se apresenta com motivos afirmativos
e motivos negativps: ora, pode dar-se a prevalncia dos motivos
negativos sbre os afirmativos, e tem-se o improvvel; pode exis-
tir igualdade entre os motivos afirmativos e os negativos, e tera-se
o crvel no sentido especfico; pode dar-se, finalmente, a preva-
lncia dos motivos afirmativos sbre os negativos, e tem-se o
provvel. Mas o improvvel no prpriamente seno o contrrio
do provvel: o que provvel pelo lado dos motivos menores, e
por isso a dvida reduz-se prpriamente s duas nicas sub-esp-
cies simples do crvel e do provvel.
assim que, recapitulando, o esprito humano, relativa-
mente ao conhecimento de um dado facto, pode encontrar-se no
estado de ignorncia, ausncia de todo o conhecimento; no estado
de credulidade, no sentido especifico, igualdade de motivos para
o conhecimento afirmativo; no estado de certeza, conhecimento
afirmativo, triunfante.
Pondo de parte a ignorncia, que um estado absoluta-
mente negativo, que no interessa examinar, a principal mat-
ria desta primeira parte do livro, o estudo dos trs estados posi-
tivos que consistem na credibilidade, na probabilidade e na certeza.
Mas se o esprito humano chega ao conhecimento de um
objecto dado por um caminho ascendente, comeando pelo estado
negativo da ignorncia, e subindo sucessivamente aos estados,
gradualmente mais perfeitos, do crvel, do provvel e do certo,
o estudo dstes estados, por isso, sob o ponto de vista do mtodo,
tornar-se h mais eficaz prosseguindo por ordem inversa: depois
de falar da espcie mais perfeita do conhecimento, tornar-se h
metdicamente mais claro falar das espcies menos perfeitas.
Procederemos assim no nosso tratado estudando era primeiro
lugar a certeza, que o estado mais perfeito do conhecimento
afirmativo, passando sucessivamente a estudar as espcies gra-
dualmente menos perfeitas, da probabilidade e da credibilidade.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 21
CAPITULO 1 Certeza, sua
natureza e espcies
A verdade, em geral, a conformidade da noo ideolgica
com a realidade; a crena na percepo desta conformidade a
certeza. A certeza , portanto, um estado subjectivo do espirito,
que pode no corresponder verdade objectiva. A certeza e a
verdade nem sempre coincidem: por vezes tem-se a certeza do que
objectivamente falso; por vezes duvida-se do que objectivamente
verdade; e a prpria verdade que parece certa a uns, aparece por
vezes como duvidosa a outros, e por vezes at como falsa ainda a
outros.
E no j, por assim dizer, porque se tenha a pretenso de
romper todas as relaes existentes eutre a alma humana e a
realidade exterior: no porque haja pretenso de destacar por um
corte ntido a certeza da verdade, caindo em pleno pirronismo. Ns
admitimos que a certeza deriva normalmente do influxo da verdade
objectiva; mas dizemos que, comquanto derive normalmente da
verdade, ela no a verdade: no mais que um estado da alma,
que pode, por vezes, devido nossa imperfeio, no corresponder
verdade objectiva. Ns dizemos que a certeza, considerada na sua
natureza intrnseca, qual , no qual seria melhor que tosse,
consistindo em um estado subjectivo da alma, estudada como tal,
e no j confundida com a realidade exterior.
Os escritores de lgica que admitiram a uatureza subjectiva
da certeza, quando quizeram determinar as suas espcies, deixa-
ram-se gniar frequentemente, como todos os outros, pelo critrio
da verdade objectiva, sem atenderem a que, por esta forma, aca-
bavam por retratar a premissa de que tinham partido. Quando a
certeza classificada em espcies determinadas, no pode admi-tir-
se certeza que no entre em uma dessas espcies; e se o critrio
que determina as espcies objectivo, no h certeza que no seja
determinada por critrio objectivo: a subjectividade da
22 A Lgica das Provas em Matria Criminal
certeza perde-se por isso durante o caminho. Em seguida vere-
mos os rros a que isto conduz. Por agora, urge afirmar que,
admitida a natureza subjectiva da certeza, quando se queira
determinar lgicamente as suas espcies, no deve recorrer-se se
no a critrios subjectivos: se a certeza um estado da alma
humana, nesta que devem procurar-se as determinaes espe-
cficas daquela: procedendo de modo diverso, desnatura-se a
certeza.
Mas, em particular, quais sero em tal matria os critrios
que conduzem determinao das espcies?
Considerando a certeza em si, como estado da alma, ela
simples e indivisvel; e portanto sempre idntica a si mesma.
No podem por isso deduzir-se os critrios diferenciais, determi-
nantes das espcies, da natureza intrnseca da certeza: a certeza,
como tal, sempre e para todos, a crena na conformidade entre
a noo ideolgica e a verdade ontolgica; sempre e para todos,
por outros termos, a posse que se cr ter da verdade.
Mas o esprito humano pode chegar a esta posse que se cr
ter da verdade por caminhos diversos. E parece-nos que nestes
diversos caminhos pelos quais o esprito humano chega con-
quista da certeza, devem pdr-se de lado os critrios subjec-
tivos, a que necessrio recorrer para determinar as suas vrias
espcies.
Vejamos como o esprito humano chega crena de possuir
a verdade.
Ns no possumos a verdade emquanto no existe no esp-
rito a sua percepo; e dentre as vrias faculdades do esprito
humano uma h cuja funo indispensvel para a percepo da
verdade, seja de que natureza fr. Esta faculdade a inteligncia.
Mas a inteligncia umas vezes chega por si s posse da
verdade, outras necessita do auxlio dos sentidos.
As verdades, consideradas subjectivamente, emquanto ao
modo como o esprito se apodera delas, dividem-se por isso, em
primeiro lugar, em duas grandes categorias: a verdade cuja posse
o esprito adquire pela simples percepo intelectiva, a verdade
puramente inteligvel; a verdade cuja posse o esprito no pode
A Lgica das Provas em Matria Criminal 23
adquirir sem o concurso dos sentidos, nos limites desta necessi-
dade a verdade sensvel.
Mas no basta: continuemos na anlise.
A inteligncia, dissemos, faculdade indispensvel para a
percepo da verdade de qualquer natureza, qner seja puramente
inteligvel, quer sensvel. Mas para chegar verdade, a inteli-
gncia tem duas funes diversas: a intuio e a reflexo. por
isso bom considerar estas duas funes intelectivas, tanto relati-
vamente s verdades inteligveis, quanto s sensveis, para deter-
minar as vrias espcies de certeza que delas derivam.
Comecemos por considerar as duas sobreditas funes inte-
lectivas relativamente s verdades inteligveis.
Como a verdade em geral a conformidade da noo ideo-
lgica com a realidade, dizemos, por isso, que a crena da per-
cepo desta conformidade a certeza. Ora referindo-nos em
especial verdade puramente inteligvel, a certeza, esta opinio
de ter a verdade, pode, antes de tudo, derivar da sua percepo
imediata: o caso da intuio pura, o caso da intuio, primeira
funo intelectiva, em relao intelectiva, em relao s verdades
puramente inteligveis: tem-se em primeiro lugar a realidade
ideolgica que Be afirma; e a certeza que se tem, filha da evi-
dncia ideolgica, e certeza intuitiva puramente lgica.
Outras vezes a verdade puramente inteligvel no se percebe
por via imediata: chega-se a ela por intermdio da outra reali-
dade ideolgica presente na nossa mente. Esta outra verdade per-
cebida directamente, fazendo-nos conhecer a verdade que pro-
curamos e que no percebemos directamente, constitui a sua
demonstrao, e d-nos a sua certeza. A funo do intelecto que
neste caso nos conduz de uma verdade conhecida a uma ignota,
a reflexo; e o meio com que a reflexo conduz o nosso esp-
rito de uma a outra verdade sempre o raciocnio. A verdade
que chegamos a conhecer, revela-se-nos sob a luz de uma verdade
mais geral: a luz das verdades mais gerais que se expande
sbre as particulares, fazendo-as conhecer. Ora, quando se trata
do conhecimento de verdades puramente inteligveis, a verdade
geral que as demonstra, percebe-se directamente; e desta, por
24 A Lgica das Provas em Matria Criminal
deduco, extrai-se a verdade particular, demonstrada, que se
pretende verificar: o mtodo evolutivo das scincias puramente
racionais. A certeza que dle deriva a certeza reflexa pura-
mente lgica.
I Das verdades puramente inteligveis, como tais, s pode
pois obter-se, quer por intuio quer por reflexo, a certeza
puramente lgica.
Mas esta certeza puramente lgica, quer intuitiva quer
reflexa, nunca a de que necessrio tratar-se no crime. Em
matria criminal trata-se sempre da verificao de factos huma-
nos; e no decerto a propsito de um facto humano, como o
facto criminoso, que pode falar-se da evidncia de uma verdade
puramente inteligvel, e assim de uma certeza intuitiva metafi-
sicamente axiomtica: no h facto humano sem a materialidade
que o exteriorise, e esta s se pode obter por meio dos sentidos.
Da mesma forma no pode obter-se no crime a certeza reflexa
puramente lgica. Esta baseia-se no mtodo evolutivo, pelo qual
de uma verdade puramente inteligvel, percebida directamente,
se deduz outra. Ora, quando se trata da verificao de factos
materiais e contingentes, no pode haver uma tal certeza; pela
prpria materialidade e contingncia de tais factos, no possvel
deduzi-los sem a percepo sensria, evolutivamente, de uma
verdade puramente inteligvel.
Conseguintemente, a intuio pura, ou a evidncia ideol-
gica, como o raciocnio puro, ou a deduo ideolgica, no so
fundamentos de certeza aproveitveis no crime.
Passemos a considerar a intuio e a reflexo relativamente
quelas verdades que chamamos sensveis.
So verdades sensveis tanto as que em si mesmas so cons-
titudas por uma materialidade s perceptvel por meio dos sen-
tidos, e que podem chamar-se em particular verdades sensveis
materiais, quanto as que, comquanto sendo em si mesmas factos
psquicos, como os factos da nossa conscincia, s podem perce-
ber-se atravs da materialidade em que se exteriorisam, e que
podem chamar-se em particular verdades sensveis morais. ste
o campo da certeza em matria criminal.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 25
As verdades sensveis materiais podem perceber-se tanto
pela intuio como pela reflexo. As verdades sensveis morais
s se podem perceber por meio da reflexo. Consideremos era
primeiro lagar as verdades sensveis materiais em quanto so per-
ceptveis por meio da intuio; coisa que d lugar a uma espcie
simples de certeza. Passaremos em seguida a considerar a ver-
dade sensvel tanto material como moral, emquanto perceptvel
por meio de reflexo; coisa que d lugar, como veremos, a uma
certeza mixta.
Relativamente, pois, s verdades seusveis da primeira classe,
s que consistem em materialidade perceptvel smente pelos
sentidos, relativamente a estas, dissemos, a certeza pode antes de
tudo derivar da percepo imediata da realidade fsica, de que
se tem a noo: tem-se em frente a coisa material que se afirma;
a certeza filha da evidncia fsica, e certeza intuitiva Jisica.
A intuio sempre uma funo intelectiva, mesmo relativamente
s verdades sensveis de que aqui falamos. Mas a propsito do
tais verdades sensveis percebidas directamente, necessrio
observar que a aco do intelecto simplicssima e, direi, aces-
sria da aco dos sentidos: afirma, apreendendo, o que os sen-
tidos lhe fornecem: a intuio, direi assim, sensitiva, a intuio
dos sentidos, a percepo intelectiva do que se sente. isto,
sempre que se considere a verdade sensvel, como aqui consi-
derada, em si mesma, e no nas possveis dedues no sujeitas
aos sentidos, que podem extrair-se dela. Tratando-se, pois, de
verdades materiais percebidas directamente, o trabalho do inte-
lecto simplicssimo, e acessrio da aco dos sentidos: afirma
aquilo que os sentidos lhe apresentam. por isso que a esta
certeza intuitiva das materialidades fsicas chamamos, sem mais,
certeza fsica, desprezando na denominao a indicao do ele-
mento intelectivo que acessrio, e que no consiste numa coope-
rao prpriamente activa do intelecto.
Eis, segundo nos parece, as duas espcies primitivas da cer-
teza, bem distintas entre si: certeza puramente lgica, relativa
s verdades puramente inteligveis, e que a que se obtem pelo
trabalho exclusivo do intelecto, mediante a intuio ou a refle-
26 A Lgica das Provas em Matria Criminal
xo; certeza principalmente fsica, relativa s verdades sensveis,
e que a que se obtem principalmente por obra dos sentidos, a
que adere acessriamente o intelecto com a intuio dos sentidos.
Chamando simplesmente lgica a primeira certeza, poder-se h
chamar simplesmente fisica a segunda, no j, repito, porque no
concorra para ela o intelecto, mas porque no intervem nela com
um trabalho prpriamente activo e principal.
So estas, segundo a nossa opinio, as que so consideradas
como as duas nicas espcies simples da certeza: certeza simples-
mente lgica, que a crena na posse da verdade, qne nos
revelada smente pelo intelecto; certeza simplesmente fsica, que
a crena na posse da verdade, revelada em ns pelos sentidos, a
que se junta acessriamente o intelecto com a intuio dos sentidos.
Mas estas duas espcies simples nem sempre andam separa-
das; muitas vezes combinam-se entre si. Neste caso tem-se uma
terceira espcie de certeza: a certeza mixta; e esta a certeza
mais frequente em matria criminal. percepo da realidade
fsica por obra dos sentidos, a que se janta acessriamente a
inteligncia intuindo os sentidos, vem juntar-se freqentemente
o concurso activo da inteligncia, qne, pela reflexo, conduz da
realidade fsica percebida directa e materialmente afirmao
de uma realidade fsica ou moral no percebida em si, directa e
materialmente. Isto tem sempre lugar no qne respeita ao conhe-
cimento daquelas verdades sensveis que chamamos morais, por-
que consistem em uns fenmenos do esprito humano que se
percebem atravs da materialidade em que se exteriorisam: os
sentidos recebem estas materialidades, e a inteligncia, pela
reflexo, sobe delas afirmao dos factos morais da conscincia.
isto mesmo tambm tem lugar, freqentemente, quando se
trata do conhecimento de verdades sensveis materiais: a per-
cepo sensria da materialidade de uma verdade sensvel pode
conduzir, por meio da reflexo intelectual, afirmao de uma
outra verdade sensvel material, em relao com a primeira, e
no percebida directamente.
Em outros termos, ns consideramos a verdade sensvel em
relao intuio, primeira funo da inteligncia, supondo-a
A Lgica das Provas em Matria Criminal 27
percebida por via imediata; e chamamos certeza fsica, a que
dai deriva. Agora consideramos a verdade sensvel no que res-
peita segunda funo intelectual, que a reflexo, e encontra-
mo-nos em face da certeza mixta.
A verdade sensvel nem sempre percebida, nem sempre se
pode perceber, por via imediata; muitas vezes chega-se a ela por
via mediata: partindo de uma verdade sensvel percebida directa-
mente passa-se afirmao de uma outra verdade no percebida
directamente. Um facto fsico conduz-nos ao conhecimento de outro
facto fsico ou moral; e o facto que nos conduz ao conhecimento de
outro no percebido directamente, constitui a sua prova. sem-
pre a reflexo intelectual que nos conduz do conhecido ao desco-
nhecido; e a nos conduz por meio do raciocnio. O raciocnio,
instrumento universal da reflexo, a primeira e mais importante
fonte da certeza em matria criminal. to pobre o campo das
nossas verificaes pessoais que, limitando-nos a le, seramos
envolvidos pelo desconhecido: o raciocnio que, alargando seus
augustos limites, alarga a nossa viso intelectual para horisontes
indeterminados. Quando, partindo de uma verdade sensvel per-
cebida directamente, a inteligncia, por meio da reflexo, nos
conduz afirmao de uma outra verdade, a certeza que deriva
em ns de tais percepes, certeza mixta de fsica e de lgica.
certeza fsica emquanto verdade sensvel percebida directa-
mente: certeza lgica emquanto verdade no percebida pelos
sentidos, e a que nos conduz a inteligncia; e, esta ltima,
certeza lgica, comquanto tambm tenha por objecto uma reali-
dade fsica, por isso que esta realidade fsica, na nossa hiptese,
percebida pelo esprito imaterialmente, por um trabalho com-
pletamente intelectual.
Vejamos em que consiste ste trabalho intelectual, que, de
uma realidade fsica conhecida, nos conduz a uma realidade fsica
ou moral desconhecida, fazendo-a perceber sempre imaterialmente.
A propsito da reflexo relativamente s verdades puramente
inteligveis, dissemos que a luz das verdades mais gerais, que
se derrama sbre as particulares, tornando-as conhecidas, e que
o instrumento de que a reflexo se serve para recolher, direi
28 A Lgica das Provas em Matria Criminal
assim, os raios das verdades gerais, e concentr-los sbre as ver-
dades particulares, o raciocnio. Dissemos que, tratando-se de
verdades paramente inteligveis, a verdade geral, que as demons-
tra, percebida directamente, e desta por deduo se extrai a
verdade particular que se quer verificar; e ste precisamente o
mtodo evolutivo das scincias abstractas. Tambm dissemos que
quando se trata da verificao de factos particulares, stes, devido
a sua materialidade e contingncia, no podem deduzir-se evolu-
tivamente de verdades puramente inteligveis.
Ora, passando a falar particularmente da reflexo relativa-
mente s verdades sensveis, observaremos que, mesmo tratan-
do-se destas, para concluir, por via do raciocnio, qualquer coisa
sbre um facto particular, h sempre necessidade de uma verdade
mais geral de que se parta. No emtanto, esta verdade mais geral,
para concluir sbre verdades sensveis, no pode ser uma ver-
dade puramente intelectual, pois que, como dissemos, das verda-
des puras da razo no podem deduzir-se as contingncias fsicas:
de que natureza ser pois esta verdade? Qual portanto o mtodo
que segue a inteligncia para concluir sbre factos particulares?
Na grande e indefinida variedade dos factos fsicos e morais,
existem analogias no modo de ser e de actuar das coisas e dos
homens. Tdas estas analogias, observadas sbre o ponto de vista
das causas que as produzem, constituem as que se chamam leis
naturais: leis fsicas e leis morais. Se estas conformidades se
observam ao contrrio sob o ponto de vista da harmonia da sua
existncia, constituem o que se chama ordem, que se concretiza
no constante, ou no modo ordinrio, de ser e de actuar da natu-
reza. Ora, quando se trata de chegar por via mediata ao conhe-
cimento de verdades sensveis, a reflexo deriva precisamente
desta verdade geral, que, sob um ponto de vista, se chama lei
natural, e sob outro, ordem; verdade geral que no uma ver-
dade puramente da razo, mas uma verdade experimental, por
isso que o esprito humano sobe para ela por induo da consi-
derao das vrias contingncias particulares no percebidas
directamente. Estas leis naturais, a que a reflexo chega por
induo, e que resolvem tdas, concretamente, no modo de sr e
A Lgica das Provas em Matria Criminal 29
de actuar constante ou ordinrio da natureza, so a luz perene
que ilumina a multido, de outra forma obscura e desordenada,
das contingncias fsicas; sob esta luz que uma coisa tem valor
para verificar outra; assim que se determina a eficcia proba-
tria em uma coisa ou em uma pessoa, que funcionam como
prova. Partindo-se da ideia geral da ordem como modo de ser e
de actuar constante da natureza, deduzem-se conseqncias cer-
tas; partindo-se da ideia de ordem como modo de ser e de actuar
ordinrio da natureza, deduzem-se conseqncias provveis. Gomo
a relao especfica constante entre um efeito e uma dada causa
conduz a afirmar com certeza esta causa, quando se percebe con-
cretamente aquele efeito, assim a relao especfica ordinria
entre um efeito e uma dada causa leva, ao contrrio, a afirmar
simplesmente com probabilidade esta causa, quando se percebe
concretamente aquele efeito. Como a relao especfica constante
entre uma substncia e um atributo conduz a afirmar com certeza
ste atributo na substncia indivisa que se considera, assim a
relao especfica ordinria entre uma substncia e um atributo
leva a afirmar simplesmente com probabilidade ste atributo na
substncia indivisa.
Mas esta teoria da lei natural, como ideia geral experimen-
tal, a que a mente chega por induo, e de que sobe por dedu-
o, a propsito de uma verdade fsica que se percebeu, afir-
mao de outra verdade a esta conexa, esta teoria, dizia, ser
mais detalhada e claramente desenvolvida, quando falarmos do
caminho lgico do esprito humano relativamente s provas indi-
rectas.
Aqui basta-nos observar que a reflexo, segunda funo da
inteligncia, aplicando-se s verdades sensveis, d lugar a uma
terceira espcie de certeza, e que esta terceira espcie de certeza
a certeza mixta. Principia-se pela percepo sensria de uma
dada materialidade: os sentidos colhem directamente e princi-
palmente uma dada materialidade, relativamente qual se tem
uma certeza fsica. A reflexo, em seguida, funo intelectual,
subordinando esta materialidade particular ideia geral experi-
mental da ordem, faz com que desta materialidade, conhecida por
30 A Lgica das Provas em Matria Criminal
percepo directa, sejamos conduzidos ao conhecimento de um
ignoto que, com quanto seja material por sua natureza, no per-
cebido material e sensivelmente, e por isso, para o nosso esp-
rito, como que uma realidade ideolgica. quele ignoto, conhe-
cemo-lo como objecto de uma simples operao intelectual, e no
de uma sensao; e por isso a reflexo emquanto nos leva por
um trabalho todo le intelectual ao conhecimento dsse ignoto,
percebido assim imaterialmente, gera em ns uma certeza lgica.
Temos portanto razo de chamar certeza miada a esta espcie de
certeza, proveniente da reflexo em relao s verdades sensveis.
Esta certeza mixta , pois, subdividida em trs subespcies,
determinadas pela diversa orientao do trabalho racional: a
reflexo pode desenvolver a sua aco aclarando a relao entre
a afirmao e a coisa afirmada, estabelecendo a verdade da
afirmao, o que sucede nas provas materiais indirectas; pode
desenvolver tambm a sua aco aclarando simplesmente a rela-
o entre o afirmante e a afirmao, estabelecendo a veracidade
do afirmante, o que sucede nas provas pessoais directas; e pode,
finalmente, desenvolver a sua aco para aclarar a dupla relao
entre o afirmante e a afirmao e entre a afirmao e a coisa
afirmada, o que sucede nas provas pessoais indirectas, isto , no
caso de que a afirmao de uma pessoa tenha por objecto uma
afirmao indirecta de alguma coisa. Mas veremos tudo isto cla-
ramente dentro em pouco.
Concluindo, temos pois trs espcies de certeza: certeza
simplesmente lgica, certeza simplesmente fsica e certeza mixta;
e esta ltima subdivide-se em trs subespcies, que dentro em
pouco determinaremos claramente.
A certeza simplesmente lgica, quer intuitiva quer reflexa,
no possvel relativamente ao facto do delicto, pelas razes
que expozemos anteriormente.
A certeza simplesmente fsica possvel para o juiz relati-
vamente ao delicto, mas em casos raros. Esta certeza verifica-se
no caso do crime cometido em audincia, sob os olhos do juiz
que tem de o julgar, e verifica-se limitadamente materialidade
percebida do facto criminoso ocorrido. Esta certeza verifica-se
A Lgica das Provas em Matria Criminal 31
tambm no caso de materialidade criminosa, que, comquanto
produzida fora do juzo, no emtanto, pela sua permanncia,
apresentada em juzo, e submetida percepo directa do juiz.
Tda a materialidade por isso que faz f da prpria existncia
fonte de certeza fsica. E digo: por isso que faz f da prpria
existncia, porque de uma materialidade directamente percebida
pode por meio de um trabalho de raciocnio, ser-se conduzido
afirmao de uma outra verdade contingente, e emquanto a esta
outra verdade j no se obteria certeza fsica, mas lgica. A pro-
psito, digamos, quanto a um escrito falso, se se apresenta em
juzo o escrito materialmente alterado, esta alterao percebida
directamente, emquanto a si mesma fonte de certeza fsica. Mas
poder-se-ia de uma tal alterao material, de cuja existncia se tem
a certeza fsica, ser tambm levado a determinar a pessoa que o
alterou, o meio empregado para a alterao, e finalmente a
inteno que se tinha ao alter-lo. Ora, relativamente a estas
afirmaes ulteriores, a certeza j no seria fsica, mas lgica.
fonte, repita-mo-lo, de certeza fsica, tda a materialidade per-
cebida directamente, por isso que faz f da sua prpria existncia ;
por outros termos, fonte de certeza fsica aquela espcie de prova
que ns chamamos prova material directa, por isso que directa.
Aqui, entre parentesis, uma observao explicativa: colo-
cando-nos sob o ponto de vista da forma probatria, pelas razes
que exporemos em seu lugar, ns chamamos prova material, a que
se indica geralmente com o nome de prova real. fecho o-
parentesis.
Passemos a falar da terceira espcie de certeza, isto , da
certeza mixta. E esta a rica e importante certeza, sbre que assenta
principalmente a lgica criminal. Esta espcie de certeza,
dissemos, subdivide-se em trs subespcies. Ora, estas trs
subespcies da certeza mixta, distinguimo-las com as denomina-
es de certeza fisico-lgica, certeza fisico-histrica e certeza
fisico-lgico-hisirica. Procedamos, pois, ao exame de cada uma
destas subespcies, para determinar claramente a sua natureza
especial.
32 A Lgica das Provas em Matria Criminal
1. Certeza fsico-lgica, ou lgica, por antonomasia.
Suprimindo a indicao do elemento sensrio desta certeza,
por isso que ste elemento comum a tdas e trs subespcies
da certeza mixta, podemos por antonomasia chamar-lhe lgica,
sem receio de equvocos; porquanto sabemos que relativamente
ao facto criminoso no pode haver certeza simplesmente lgica;
e por isso sempre que em matria criminal se fala de certeza
lgica no pode entender-se prpriamente, seno a certeza fisico--
lgica.
Esta certeza verifica-se, portanto, DO caso em que da per-
cepo sensria imediata de um facto material, de cuja existn-
cia se tem por isso a certexa fisica, se passa por meio do traba-
lho do raciocnio a afirmar um outro facto no percebido sensvel
e imediatamente, criando, por isso, relativamente a ste, uma
certeza lgica. Percebe-se imediatamente uma materialidade diversa
do delicto, e subordinando esta materialidade ideia geral expe-
rimental do modo de ser e de actuar constante da natureza,
passa-se afirmao do delicto em um dos seus elementos. Assim,
a propsito de adultrio, a percepo do recente parto de uma
mulher casada, separada material e constantemente, suponhamos,
h dois anos, do marido, conduz afirmao da reunio venrea
dela com um homem que no seu marido, isto , afirmao
do seu adultrio: obter-se h por isso dste adultrio uma cer-
teza fsico-lgica.
Como se v, nesta espcie de certeza, o trabalho do racioc-
nio dirige-se principalmente a aclarar a relao que existe entre
o facto indicativo e o facto indicado, isto , entre afirmao e
coisa afirmada. Tendo-se percebido sensvel e directamente um
dado facto, a reflexo desenvolve a sua aco para mostrar como
que, partindo daqule dado facto, se deve concluir pela verdade
de um outro facto no percebido directamente.
fonte de certeza fsico-lgica a prova material indi-
recta, o indcio que se funda na percepo directa das coisas
materiais.
Veremos depois, em lugar prprio, como o indicio s se
subordina normalmente ideia do modo de ser e de actuar
A Lgica das Provas em Matria Criminal 33
ordinrio da natureza, e s pode por isso conduzir normalmente
a conseqncias provveis, e no certas.
2. Certeza fsico-histrica, ou histrica por antonomsia.
Esta certeza verifica-se quando, havendo a percepo ime-
diata e sensria da palavra articulada ou escrita de uma pessoa
que atesta, e havendo, assim, certeza fisica da existncia de tal
palavra, por meio de trabalho de raciocnio se passa a estabelecer
rdito na pessoa que faz f, isto , se passa a estabelecer a
veracidade na pessoa que atesta, para concluir pela verdade da
coisa atestada. Como se v, fonte desta certeza a afirmao
directa da pessoa, ou, noutros termos, a prova pessoal directa.
A testemunha afirma ter visto Tcio perpetrando o furto. Quando
a reflexo chega a estabelecer a veracidade do testemunho, pas-
sa-se naturalmente, sem qualquer outro trabalho lgico, afir-
mao da aco furtiva de Tcio.
Desta noo deduz-se que a certeza fsico-histrica no
prpriamente mais do que uma determinao particular da cer-
teza fisico-lgica, determinao particular que se funda no indicio
particular da reflexo. Nos outros casos de certeza lgica, com-
preendidos na classe precedente, o trabalho do raciocnio enca-
minha-se a esclarecer e estabelecer a relao entre a afirmao
e a coisa atestada; encaminha-se a esclarecer como a afirmao
de uma coisa deve fazer crer em uma outra coisa, que , assim,
a coisa atestada. Nos casos de certeza lgica compreendidos sob
a denominao particular de certeza histrica, ao contrrio, o
raciocnio dirige-se a esclarecer e estabelecer a relao entre a
pessoa que afirma e a afirmao. E o raciocnio que, na afirmao
de pessoa, nos esclarece sbre a natureza desta relao, indu-zindo-
nos a hav-la como uma relao de veracidade ou de falsidade;
isto , fazendo-nos dizer: o testemunho verdico; ou vice-
versa: o testemunho falso. E, como em tda a relao, tambm
nesta a luz provm da natureza dos termos: a natureza do
testemunho (verosmil, no contraditrio, etc), a natureza da
testemunha (proba, desinteressada, etc), a natureza dstes
termos subordinada ideia do modo de ser e de actuar constante
da natureza, que nos leva afirmao de que a relao
3
34 A Lgica das Provas em Matria Criminal
que existe entre afirmante e afirmao, uma relao de vera-
cidade. Quando pois, na afirmao directa de pessoa, se estabe-
leceu pelo trabalho do raciocnio a relao de veracidade entre a
pessoa que atesta e a afirmao, a relao de conformidade entre
a afirmao e a coisa atestada uma consequncia natural, espon-
tnea, que no requer trabalho algum activo da inteligncia.
sob o ponto de vista da relao entre afirmao e coisa
afirmada, relao que na prova material indirecta afirmada
por trabalho do raciocnio, e que na prova pessoal directa afir-
mada naturalmente, sem esfro algum lgico, sob ste aspecto
que o indcio foi considerado pelos tratadistas como uma prova
artificial, e o testemunho foi considerado como uma prova natu-
ral; coisa que, sempre sob ste aspecto, s verdade emquanto
se considera o indcio em relao com o testemunho directo,
como melhor veremos em lugar prprio.
Repitamos, concluindo: fonte da certeza histrica a afir-
mao directa de uma pessoa, e a certeza histrica difere da
certeza lgica em que na primeira o raciocnio dirige-se unica-
mente ao esclarecimento e determinao da relao entre a pessoa
que afirma e a afirmao, e na segunda, ao contrrio, dirige-se
principalmente ao esclarecimento e estabelecimento da relao
entre a afirmao e a coisa afirmada; na primeira a coisa pro-
vada est em imediata conexo com a prova, e a mente, de um
modo natural, sem esfro, passa dama para a outra; na segunda,
ao contrrio, por meio de trabalho do raciocnio que se passa
da prova coisa provada.
3. Certeza fisico-histrico-lgica, ou simplesmente hist-
rico-lgica.
Esta certeza resulta da concomitncia das duas certezas
precedentes; verifica-se quando a afirmao de uma pessoa tem
por objecto uma afirmao indirecta de uma coisa, isto , quando
o facto material que serve para indicar o delito ou o delinquente
no imediatamente percebido na sua materialidade pelo juiz,
mas , ao contrrio, afirmado pela testemunha. Neste caso, depois
de ter percebido imediatamente, por via dos sentidos, a palavra
atestado da testemunha, de cuja palavra, articulada ou escrita,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 36
se tem por isso certeza fsica, necessrio passar por isso por meio
de trabalho do raciocnio determinao da veracidade da
testemunha, a qual veracidade acreditada por um trabalho de
reflexo constitui em especial a certeza histrica; e passar final-
mente, por meio de ontro trabalho do raciocnio, determinao
da relao probatria, que o facto afirmado pela testemunha, tem
com o delito que por le se quer determinar: e ste outro trabalho
do raciocnio constitui em especial a certeza lgica. Eis porque
chamamos a esta certeza fsico-lgico-histrica, que tem por fonte
a prova pessoal indirecta, isto , a afirmao indirecta, de uma
coisa, como contedo da afirmao de uma pessoa.
Eis, pois, determinadas as espcies e subespcies, em qne
classificamos a certeza. No h prova possvel que no encontre o
seu lugar em alguma das classes por ns designadas. Com efeito,
uma prova s pode ser rial ou pessoal: a prova rial e a prova
pessoal s podem pois ser directas ou indirectas. Ora, considerando
estas vrias espcies probatrias, vemos que elas se subordinam,
todas, nossa classificao da certeza: a prova rial directa fonte
de certeza fsica; a prova rial indirecta fonte de certeza lgica
(no sentido de fisico-lgica); a prova pessoal directa fonte de
certeza histrica; a prova pessoal indirecta fonte, finalmente, de
certeza histrico-lgica. Qualquer que seja a prova encontra o seu
lugar natural em uma das classes por ns designadas; esta a
luminosa contra-prova da exactido da nossa classificao.
Mas se ns, partindo de uma noo subjectiva da certeza, do
conceito da certeza como estado de alma, temos procedido
determinao das suas espcies com critrios igualmente subjecti-
vos, no assim, digamo-lo, que se tem feito geralmente. Tem-se
procedido, geralmente, determinao das espcies de certeza sob
o critrio objectivo das verdades, que podem ser objecto dela.
Atendendo a que existem verdades necessrias, como a da infe-
rioridade da parte ao todo, verdades constantes como a da malea-
bilidade do ouro, e verdades eventuais como a da conquista que
Csar fz das Glias, com stes mesmos trs critrios da neces-
sidade, da constncia e da eventualidade, faz-se distino da cer-
36 A Lgica das Provas em Matria Criminal
teza em metafsica, fsica e eventual
1
. E esta distino objectiva
foi adoptada at por aqueles que tinham afirmado a natureza
subjectiva da certeza, sem atenderem a que, procedendo assim,
caiam em flagrante contradio: admitia-se como subjectivo um
gnero, cujas espcies eram consideradas, tdas e sempre, objec-
tivas.
A distino da verdade em necessria, constante e eventual
exactssima, emquanto se refere verdade. Mas se se quer apli-
car esta mesma distino determinao das espcies de certeza,
e da sua natureza, no se faz mais do que desnaturar a certeza.
A certeza no mais do que um estado subjectivo do esprito
humano: seja de que natureza fr a verdade, ela s certa para
o esprito humano emquanto se julga conforme ao conceito que
dela se tem. nesta crena da conformidade da noo ideol-
gica com a verdade ontolgica, que assenta a essncia da cer-
teza ; e por isso quando a verdade ontolgica nos parece conforme
com a noo que dela temos, ela sempre, e do mesmo modo,
igualmente certa para ns, seja qual fr a sua natureza. Uma,
objectivamente, ser verdade necessria, outra constante, outra
eventual; mas se tdas as trs nos parecem existentes no mundo
da realidade, tal qual nos so presentes ao pensamento, tdas as
trs sero do mesmo modo certas para ns.
Esta classificao da certeza com critrios objectivos, no
tem sido, pois, formulada por todos com a exactido ontolgica
que reconhecemos, emquanto verdade em si, na distino supra-
citada de verdade metafsica, fsica e eventual. H tratadistas
que, ao contrrio, tem falado de certeza metafsica, fsica e
moral, e tem tomado como certeza moral a que deriva da afir-
mao pessoal, e nste sentido os mais correctos chamaram-lhe
histrica. Pode ser que me engane, mas parece-me que, reduzida
assim, a classificao s serve para originar cada vez maiores
confuses. Em primeiro lugar v-se fcilmente que a certeza
moral, neste sentido, no corresponde certeza eventual: dos
Veja GALLUPPI, Elementi i filosofia, vol. IV.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 37
factos eventuais, que so no s os factos livres do homem, mas
tambm os factos particulares e extraordinrios da natureza fsica,
dos factos eventuais, dizia, pode haver certeza no s por relaes
alheias, mas tambm por percepo prpria directa. Disto conclui-
se que a certeza moral, ou histrica se assim se quer dizer, como
espcie de certeza, no pode incluir-se na classificao objectiva
acima exposta: considerada em si, com critrio particular; e ste
critrio particular um critrio subjectivo, como vimos na nossa
classificao, falando precisamente da certeza histrica, como de
uma subespcie da certeza mixta. A distino, pois, da certeza em
metafsica, fsica e histrica, uma distino heterognea, que
comea com critrios objectivos, e vai terminar num critrio
subjectivo, que s serve para criar confuses.
Tambm tem havido quem, precavendo-se da monstruosi-
dade lgica de uma distino heterognea nas suas partes, tenha
dado uma significao homognea e subjectiva supracitada dis-
tino de certeza metafsica, fsica e histrica: metafsica, dizem,
a certeza proveniente do simples raciocnio; fsica a proveniente
dos sentidos corporais; histrica a proveniente das afirmaes
alheias. Mas, compreendida assim a classificao da certeza,
conquanto tenha o mrito da subjectividade homognea, contudo
incompleta e inaceitvel.
Para nos convencermos da inexactido de tal classificao,
basta lanar um golpe de vista sbre as provas, e procurar subor-
din-las s espcies de certeza. Consideremos em matria parti-
cular a prova material indirecta, isto , o indcio puro percebido
directamente na sua materialidade pelo juiz, e no j acreditado
sob a f da afirmao pessoa]: de que certeza ser fonte a prova
material indirecta? De certeza metafsica, no; reconhe-cer-se h
facilmente, quando se no trate de verdades puramente racionais.
De certeza histrica, tampouco; pois que estamos na hiptese da
materialidade do indcio ser percebida directamente pelo juiz.
Ser, ento, fonte de certeza fsica? Examinemos.
Para julgar da natureza de uma dada certeza, necessrio
referi-la ao seu objecto, isto , coisa que se verifica. Ora, quando
se fala de prova material indirecta, fala-se de um facto material
38 A Lgica das Provas em Matria Criminal
directamente percebido, que serve para nos fazer conhecer um
outro facto, no percebido directamente, e que queremos verifir
car: a ste outro facto, que no percebemos com os nossos sen-
tidos, somos conduzidos pela reflexo; chegamos a por meio do
trabalho do raciocnio; e no entanto dste outro facto, que
precisamente o que verificamos com a prova material indirecta,
no temos certeza fsica, mas certeza lgica. Talvez se diga que
deve falar-se de certeza fsica, s porque se parte da percepo
sensria, directa, das materialidades do facto indicador? De modo
algum! , esta, uma lei comum a tda a certeza mista: come-
a-se sempre por perceber directamente com os nossos sentidos
as materialidades daquilo que constitui a prova, para passar era
seguida a crer, por trabalho lgico, na coisa provada. Isto veri-
fica-se tambm no caso de afirmao pessoal; comea-se pela per-
cepo material e directa da palavra da testemunha, para passar
em seguida a crer nas coisas afirmadas. Ser o testemunho tam-
bm fonte de certeza fsica? Concluamos: com a classificao,
em sentido subjectivo, da certeza em metafsica, fsica e hist-
rica, a prova material indirecta fica fora do campo, no podendo
subordinar-se a qualquer das trs classes.
Voltemos agora a considerar a classificao objectiva da
certeza na frmula, ontolgicamente exacta, precedentemente
exposta, da certeza metafsica, fsica e eventual: classificao
que se funda na trplice natureza possvel da verdade, neces-
sria, constante ou eventual. J consideramos aquela classifica-
o na sua natureza, e demonstramos ser inaceitvel para a cer-
teza; considere-mo-la agora nas suas conseqncias.
A primeira consequncia errnea a que levou a errnea clas-
sificao objectiva da certeza, foi esta: considerando que a ver-
dade necessria superior a qualquer outra verdade, sendo aquela
cujo contrrio impossvel; considerando que a verdade constante
superior verdade eventual, emquanto a primeira no admite
o contrrio, a no ser no caso de uma lei natural diversa e no
conhecida, e a segunda admite normalmente a possibilidade do
contrrio; considerando estas coisas, chegou-se assim concluso
de uma relao maior ou menor entre as vrias espcies de certeza.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 39
Disse-se: se a certeza metafsica consiste na verdade neces-
sria presente ao esprito, esta certeza deve ser maior que qual-
quer outra; e se a certeza fsica consiste na verdade constante
presente ao esprito, esta certeza ser menor que a certeza meta-
fsica, e maior que a certeza eventual. Ora, tal consequncia
errnea, como errnea a premissa. A certeza um estado de
alma simples e indivisvel, e no entanto sempre igual e idntico
a si prprio. A certeza consiste na crena da conformidade entre
a prpria noo ideolgica e a verdade ontolgica: e portanto ou
se cr nesta conformidade entre a prpria noo ideolgica e a
verdade ontolgica, e se tem igualmente a certeza, ainda mesmo
que se trate de verdade necessria, constante ou eventual; ou
no se cr, e no se tem certeza de modo algum. Fazer compa-
raes sbre a quantidade das vrias certezas no razovel; a
certeza, estado simples e indivisvel da alma, sempre igual,
qualquer que seja a verdade objectiva a que se refira. Quem
percebeu bem pessoal e directamente o lacto eventual da facada
vibrada por Tcio sobre Gaio, quem percebeu pessoal e directa-
mente o facto eventual de uma rocba que destacando-se da mon-
tanha se precipita no vale, est to certo desta verdade eventual,
quanto o est de que a parte inferior ao todo, verdade neces-
sria e por isso de ordem suprema entre as verdades.
A natureza diversa das verdades em que se cr, no induz
a diferenas de quantidade na certeza, como estudo determinado
da alma; um tal estado de alma no tem mais nem menos;
sempre idntico e igual a si prprio. necessrio porm obser-
var que, em um momento psicolgico e ideolgico diverso da
certeza concreta, pode, considerando em abstracto as vrias
espcies dela, afirmar-se, relativamente, uma maior ou menor
possibilidade de rro: o que no o mesmo. Eu me explico:
quando consideramos separadamente trs pareceres, podemos
encontrar, sob o ponto de vista da espcie a que sses pareceres
pertencem, que o primeiro mais capaz de rros que o segundo,
e o segundo que o terceiro. Mas atendei bem; eu disse: consi-
derando-os em abstracto; e aqui que est o ncleo do pro-
blema, pois que, em concreto, quando chegamos certeza de
40 A Lgica das Provas em Matria Criminal
uma determinada proposio, quer dizer que regeitamos tdas
as relativas possibilidades de rro, sem o que no teremos
certeza.
Trata-se de momentos ideolgicos e psicolgicos diversos.
Quando o esprito humano em um momento psicolgico e
ideolgico que no o da certeza concreta, considera em abstracto
diversas espcies de certeza, se acha que uma espcie oferece
menores garantias que outra para corresponder verdade objec-
tiva, afirma lgicamente que a primeira apresenta maiores possi-
bilidades da rro que a segunda.
Quando, pois, o esprito humano chega a ter a certeza de
uma verdade determinada, quer dizer, repitamos, que ps de
parte tda a possibilidade de rro; e no emtanto a certeza
sempre igual para o esprito humano, tanto quando se refere a
uma verdade necessria, como quando a uma verdade constante
ou eventual.
A rapidez dos movimentos intelectuais chega muitas vezes
a no deixar distinguir a sucesso e a diferena dos momentos
intelectuais, simulando a sua simultaneidade e por vezes a sua
identidade; mas isto no deve enganar o olhar do filsofo. O que
h de sucessivo e de diverso no esprito, revelado pela lgica,
quando dissimulado pelo tempo.
Concluindo, no racional andar procura de qual de entre
as vrias certezas a maior, porque a certeza no tem graus
nem quantidade; tem-se a certeza ou no se tem. S lgico
procurar qual das certezas seja mais ou menos sujeita a rros.
B isto lgico sob o ponto de vista da certeza especfica, consi-
derada em abstracto, pois que a certeza particular, considerada
em concreto na conscincia de um dado homem, julga sempre
ter garantias suficientes contra o rro, sem o que no existiria
certeza.
Esta investigao da maior ou menor possibilidade de rro
nas vrias espcies de certeza nasce espontnea e natural da
considerao de que a certeza nem sempre corresponde verdade.
No podemos por isso deixar de examinar ste problema
relativamente nossa classificao particular da certeza.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 41
Mas qual ser o mtodo segundo o qual possamos proceder
soluo de um tal problema? Devemos tambm deixar-nos guiar
pelo critrio objectivo da necessidade ou da contingncia das
verdades?
Em primeiro lugar, em matria criminal, tratando-se do
verificar factos humanos, e portanto verdades sempre contingentes,
o critrio da necessidade e da contingncia das verdades no
bastaria para nos elucidar sbre a diversa capacidade dos rros,
relativamente a verdades igualmente contingentes, das vrias
espcies e subespcies da certeza. Em segundo lugar, a maior ou
menor capacidade de rros no deriva prpria e directamente da
natureza especial da verdade, mas do modo como o espirito dela se
apodera. Compreendo que a verdade, tendo uma natureza diversa,
entra diversamente na posse do esprito; o que explica porque
que mesmo partindo em tal questo de critrios objectivos, se
possa chegar- a conseqncias verdadeiras, sempre na esfera da
eficcia dstes critrios: mas fica sempre de p que o| rro,
consistindo no na realidade objectiva, mas na percepo do
esprito, no, em outros termos, na coisa, mas na sua percepo, a
possibilidade do rro seja prpria e imediatamente estudada, no
na verdade, mas no modo como o esprito se apossa dela.
Se se quer ser exacto, pois com critrios subjectivos,
tomando para guia o diverso modo como o esprito se apossa da
verdade, que se deve estudar o problema da maior ou menor
possibilidade de rro nas vrias espcies de certeza. Procedamos,
com tal mtodo, quele exame, relativamente nossa classi-
ficao.
Ns admitimos como espcies primitivas da certeza, a pura-
mente lgica e a fsica, e dissemos que a certeza puramente lgica
a crena da posse da verdade revelada em ns pela simples
inteligncia, e a certeza fsica a crena da posse da verdade
revelada em ns pelos sentidos, a que se junta acessriamente a
inteligncia. Ora considerando que certeza puramente lgica se
chega pelo simples trabalho dos sentidos e da inteligncia, v-se
que o rro menos fcil na primeira, em que
42 A Lgica das Provas em Matria Criminal
pode insinuar-se por uma nica via, e mais fcil na segunda
em que h duas vias para se introduzir. Esta diferena de pos-
sibilidade de rro mxima quando se considera a certeza fsica
em relao primeira subespcie da certeza puramente lgica,
isto , certeza puramente lgica intuitiva, ou evidncia ideo-
lgica, diga-se assim, do que o rro pode considerar-se directa-
mente excluido. Vice-versa, esta diferena mnima quando se
considera a certeza fsica em relao segunda subespcie de
certeza puramente lgica, isto , a certeza puramente lgica
reflexa, era que o rro no difcil. Tdas as scincias pura-
mente racionais desenvolvem-se por uma cadeia de ideias evolu-
tivamente deduzidas umas das outras; e a histria dos rros, em
que tais scincias teem cado, resolve-se na histria dos rros
em que cau a certeza reflexa puramente lgica.
Mas deixemos de parte a certeza puramente lgica, que,
como dissemos, se no pode nunca ter relativamente ao facto
criminoso que se quer verificar em matria criminal; e passemos
a considerar a certeza fsica e as vrias subespcies da certeza
mixta, emquanto sua capacidade relativa de rro.
Em tdas estas certezas, existe o concurso da inteligncia
e dos sentidos; mas importa considerar que o trabalho dos sen
tidos idntico em tdas. Na certeza fsica, como nas trs subes
pcies mixtas, na lgica, na histrica e na histrico-lgica, a
percepo sensria sempre a mesma; e s tem uma impor
tncia diversa, segundo o diverso concurso da inteligncia, con
curso diverso pelo qual determinada a espcie particular de
certeza que se tem. O trabalho dos sentidos no pode por isso
oferecer-nos critrio algum diferencial da facilidade do rro; ste
critrio diferenciai assenta todo no trabalho, mais ou menos
complicado, pelo qual a inteligncia chega posse consciente da
verdade. Examinemos a certeza fsica e as subespcies da certeza
mixta luz dste critrio.
Partindo dste critrio, encontra-se, em primeiro lugar, que
a certeza fsica, espcie simples, , menos que qualquer outra,
susceptvel de rro; e menos susceptvel de rro, porque na
afirmao directa de uma coisa, proveniente da certeza fsica, o
A Lgica das Provas em Matria Criminal 43
trabalho do esprito simplicssimo: resolve-se na percepo pura
e simples dos sentidos. O rro no por isso fcil na certeza fsica.
Vem em seguida a certeza fsico-histrica, subespcie da
certeza mixta, em que a possibilidade de rro maior que na
certeza fsica. Na certeza fsico-histrica, que deriva da afirmao
directa de uma pessoa, no se trata j de uma percepo intelectual
simples e directa, como na certeza fsica; o trabalho do esprito
mais complicado. necessrio o raciocnio para estabelecer a
veracidade do afirmante, veracidade fundada na negao do
engano e da vontade de enganar do afirmante; depois de se estar
convencido disto pelo trabalho do raciocnio que se conclui natural
e simplesmente a verdade do facto afirmado. Quem h que no
veja a maior possibilidade de rros, em que se pode car da parte
do julgador?
Depois da certeza fsico-histrica, apresenta-se a certeza
fsico-lgica, como mais susceptvel de rro. Esta certeza deriva da
afirmao indirecta de uma coisa, da prova material indirecta; e o
trabalho do raciocnio mais rduo e mais complicado, que na
certeza precedente. No se trata aqui simplesmente de nos
convencermos de que orna testemunha se no engana e no mente;
trata-se, ao contrrio, de alguma coisa maia difcil: trata-se de
procurar as razes por que uma coisa diferente do delito indica o
delito. E, uma vez que no campo das contingncias, todo o facto
pode derivar de mais de uma coisa, e pode produzir mais de um
efeito, a relao do facto que indica com o facto indicado j no
absolutamente unvoca; e o raciocnio tem precisamente a difcil
tarefa de guiar neste incerto e indefinido labirinto das
contingncias possveis, que se ligam, como causa a efeito, com
um dado facto. rdua tarefa, na verdade; caminho dedleo, e
insidioso, em que o esprito pode fcilmente afastar-se do caminho
direito.
O cmulo, finalmente, da possibilidade de rro encontra-se,
como natural, na subespcie mais complicada de certeza mixta,
na subespcie que ns chamamos fsico-histrico-lgica. Esta subes-
pcie de certeza, como vimos, deriva da afirmao pessoal indi-
44 A Lgica das Provas em Matria Criminal
recta de uma coisa atravs das formas da afirmao pessoal, isto
, da prova real indirecta, como contedo da prova pessoal:
natural, por isso, que tdas as possibilidades de rro da certeza
histrica, e tdas as da certeza lgica, se encontrem acumuladas
nesta terceira subespcie de certeza, que resulta do concurso das
duas subespcies precedentes.
At aqui, em seguida a ter mostrado que a diviso objec-
tiva da certeza levou afirmao da existncia de certezas
maiores e menores, temos vindo combatendo essas afirmaes
irracionais, e demonstrando como a certeza, estado simples e
indivisvel da alma, sempre idntica e igual a si mesma, pelo
que s pode falar-se lgicamente da sua maior ou menor capaci-
dade de rros emquanto se considera em abstracto; e viemos por
isso considerando esta diversa possibilidade de rros, tal qual
resulta da considerao abstracta das diversas espcies de certeza.
Mas alm disso no intil observar, que a diviso objec-
tiva da certeza, e a consequente relao de mais ou de menos
entre as suas vrias espcies, levaram tambm a outras
conseqncias errneas.
Em primeiro lugar, admitindo certezas maiores e certezas
menores, admitindo uma relao de mais ou de menos entre as
vrias espcies de certeza, chegou-se concluso de que, sendo
elas mensurveis entre si, fssem mensurveis em si mesmas, e
passou-se assim afirmao da existncia, no campo probatrio,
de provas plenas, de provas semi-plenas, e de fraces de prova,
indefinidamente descendentes, da certeza: rro ste, de que nos
ocuparemos em particular noutra parte desta obra.
Em segundo lugar, considerando a certeza sob o ponto de
vista objectivo, considerando-a sob o ponto de vista da sua cor-
respondncia com a verdade, concluiu-se que verdadeira certeza
a que corresponde absolutamente, sem possibilidade de rro,
verdade objectiva; e como esta certeza absoluta- no de esperar
em matria criminal, chegou-se por isso tambm concluso de
que a certeza criminal s probabilidade, pois que existe sempre
possibilidade de rro: outra teoria falsa de que tambm teremos
ocasio de nos ocupar particularmente, em seguida.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 45
Aqui concluiremos observando que com estas noes inexactas
se faz um jgo contnuo de palavras na crtica criminal, insinuando
nos nimos aquele pirronismo scientfico que gera, por sua vez, o
pirronismo prtico, fundamento fcil das decises arbitrrias e
injustas; pois que certas mximas, como a que confunde a certeza
com a probabilidade, so feitas propositadamente para servir de
cmodo apoio indolncia, instigando a descansar sbre elas com
a hipocrisia de uma boa conscincia.
CAPITULO II
Certeza emquanto ao sujeito, e
convencimento judicial
As nossas investigaes, at aqui, teem-se encaminhado a
determinar e analisar a natureza e as espcies da certeza. Volte-
mos agora as nossas investigaes para a determinao do sujeito
da certeza.
Esta segunda investigao muito mais fcil que a pri-meira:
quando se tenha j determinado a natureza da certeza, a
determinao do sujeito no mais do que uma simples deduo
lgica.
Ao darmos a noo de certeza vimos que ela consiste em um
estado da alma; e s com isto temos determinado o sujeito. Se a
certeza tem uma natureza subjectiva, o sujeito natural da certeza
no , nem pode ser, seno o esprito do julgador. Por virtude de
uma simples deduo, poder-se-ia obter sem necessidade de
qualquer outra investigao, sob o ponto de vista racional.
Mas o movimento histrico gradualmente ascendente da
humanidade conduziu, em matria probatria, preponderncia da
substncia das provas, com critrios fixados pela lei, determinando
em que condies probatrias se deve estar certo, e em quais no:
obtiveram-se assim as provas legais. E falei das pro-
46
A Lgica das Provas em Matria Criminal
vas legais como de um progresso histrico, porque elas substi-
turam as ordalias e os duelos judicirios,, sistema probatrio
barbaramente taumatrgico, atingido pelos anteu do quarto
conclio de Latro. Assim, se bem que o sistema do livre con-
vencimento seja historicamente mais antigo, no entanto as pro-
vas legais, para o tempo em que floresceram, foram realmente
um progresso; e ste progresso foi tanto mais benfico quanto
certo que elas foram substitudas ao processo inquisitorial, tor-
nando-se assim um correctivo ao arbtrio judicial, temvel em tal
forma de processo.
O aparecimento histrico das provas legais levou os crticos
a falar de certeza legal, como se existisse na lei um segundo
sujeito possvel da certeza. E eis porque no podemos agora
dispensar-nos de falar da certeza relativamente a um duplo
sujeito.
Se a certeza em matria criminal se confia conscincia
autonmica do juiz, em que ela deve produzir-se como na de
qualquer outro homem racional, e com os mesmos critrios livres,
apenas subordinados s leis eternas da razo, tem-se a certeza
natural, a certeza do homem, que podemos designar com o nome
de certeza moral; especificao respeitante, para ns, sem equi-
voco ao sujeito da certeza, tendo ns, na classificao deduzida
da sua natureza, abolido semelhante nomenclatura.
Se a certeza, pois, se faz apenas consistir em certas condi-
es predeterminadas pela lei, e impostas ao esprito do juiz,
tem-se a certeza legal, uma certeza que se busca no no esp-
rito do juiz, mas nos critrios legislativos.
Esta certeza legal, legislativamente, pode ter uma com-
preenso maior on menor. Pode em primeiro lugar, no admitir
de modo algum os critrios livres do juiz, que, desta forma, jul-
gando, se verifica as condies probatrias para a imputabilidade
determinada pela lei, deve condenar, e, se as no encontra, deve
absolver; oerteza esta que completamente legal.
A lei pode, em segundo lugar, deixar ao juiz uma determi-
nada aplicao do seu livre critrio, e tem-se a certeza parcial-
mente legal.
A Lgica das Provas em matria Criminal 47
O limite, pois, sob um ponto de vista mais geral, pode ser de
duas espcies diversas, dando assim lugar a duas subespcies de
certeza parcialmente legal. Pode o limite referir-se unicamente
condenao, dizendo a lei ao juiz: tu tens sempre plena facul-dade
de duvidar da culpabilidade e de acreditar mais ou menos na
inocncia, e podes por isso sempre absolver; mas a tua certeza da
culpabilidade no ligtima, e no podes por isso condenar, seno
nestas determinadas condies. Ter-se-ia uma certeza legal conde-
natria, juntamente com a certeza moral absolutria. A limitao
pode referir-se unicamente a absolvio, declarando a lei ao juiz:
no ponho limites tua convico relativamente condenao; mas
no poders legitimamente, duvidando da culpabilidade, crrj mais
ou menos na inocncia, e por isso absolver, seno nestas deter-
minadas condies. Ter-se-ia neste outro caso uma certeza legal
absolutria e uma certeza moral condenatria. Esta segunda subes-
pcie de certeza parcialmente legal, que chamei certeza legal abso-
lutria, opondo-se a que se faa valer a certeza natural do juiz,
eventualmente gerada no seu esprito relativamente inocncia,
ope-se com maior fra a fazer valer as convices menores do
juiz, que no entanto poderiam lgicamente ser suficientes para
absolver, pois que, como sabemos, para legitimar a absolvio no
ocorre a certeza da inocncia, bastando que esta se julgue possvel,
bastando a incerteza da culpabilidade. Portanto, para sermos mais
completos e exactos, poder-se h nesta hiptese falar antes de
crena legal absolutria: compreender-se h assim no s o caso
em que o juiz tenha na sua conscincia a certeza da inocncia, e
no possa absolver, porque a lei no partilha da sua certeza, como
tambm o caso em que o juiz, comquanto no esteja certo da
inocncia, tambm no tenha certeza da culpabilidade, e
comquanto isto bastasse para absolver, le no o pudesse, porque a
lei no partilha com le esta crena maior ou menor da inocncia
possvel, crena que sempre includa ha incerteza da
culpabilidade. Esta segunda subespcie da certeza parcialmente
legal seria pois contra o acusado, e teria uma tendncia odiosa e
cruel; como a primeira, em favor do acusado, teria uma tendncia
benigna e simptica.
48 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Tudo isto, relativamente ao fenmeno histrico da certeza
legal, e possibilidade da sua aplicao legislativa, mais ou
menos extensa.
Coloquemo-nos agora sob o nosso ponto de vista, que o
ponto de vista racional, a examinar ste assunto. lgico falar
de certeza legal? possvel predeterminar, sem rro, as condi-
es particulares e concretas, de que deve provir uma certeza
particular e concreta?
I Em vista do que temos vindo dizendo a respeito da natureza
da certeza, v-se que se a certeza pode reduzir-se categoria das
suas espcies, no susceptvel de ser determinada nas suas
individualidades particulares e concretas.
A certeza, dissemos, um estado subjectivo; e acrescenta-
mos que ste estado subjectivo no pode ser considerado como
independente da realidade objectiva: um estado psicolgico
produzido pela aco das realidades percebidas, e da conscincia
daquelas percepes. Ora, como no julgamento criminal se trata
sempre de realidades contingentes, e estas podem variar indefi-
nidamente de natureza e de relao, a certeza por isso que a
elas se refere concretamente, no pode ser predeterminada por
critrios fixos. O delicto, por um lado, tem, por si mesmo, formas
indefinidamente multplices de apario; por outro, tem relaes
indefinidamente multplices com as cousas e com as possoas, que
depois so empregadas para a verificao do mesmo, tornando-se
provas dle. Assim como varia a relao entre o delito
particular e a coisa ou pessoa que se faz servir de prova, assim
tambm varia o valor probatrio, que encontra naquela relao a
sua eficcia. Como predeterminar as vrias relaes, e portanto a
vria eficcia das provas ?
Do delito podem prviamente determinar-se as espcies, e
na classificao e graduao das espcies delituosas encontra fun-
damento e justificao o Cdigo penal, mas nunca se podem de
antemo determinar tdas as formas de apario particulares e
concretas. E a certeza judicial que deve servir de fundamento
condenao, no se pode referir ao delito espcie, refere-se ao
delito indivduo, e por isso indeterminvel como o seu
A Lgica das Provas em Matria Criminal 49
objecto. 0 objecto, pois, das provas leva a concluir contra a cer-
teza legal.
Por outro lado, as realidades contingentes que funcionam
como prova, so tambm s determinveis emquanto s espcies,
e no estudo e na determinao destas espcies que consiste
precisamente a crtica criminal. Mas se as realidades contingentes
que funcionam como prova se consideram quanto sua indivi-
dualidade, elas j no so determinveis, pois que a sua indivi-
dualidade, como a individualidade de qualquer realidade contin-
gente, indefinidamente varivel na sua concretizao. Ora,
surgindo a certeza no da prova especfica, mas da prova indi-
vidual, portanto indeterminvel como a prova de que provm.
O sujeito das provas tambm leva por isso a concluir contra a
certeza legal.
Em suma, a prova tem um objecto e um sujeito. O objecto
da prova concreta em matria criminal a individualidade
criminosa que se quere provar; o sujeito da prova so a coisa e
a pessoa que fazem a prova. Sendo o delito concreto, ou indi-
vidualidade criminosa, se assim se lhe quere chamar, variabils-
simo, resulta que a prova tem um objecto variabilissimo em
matria criminal. A coisa e a pessoa que constituem a prova so
por sua vez tambm realidades contingentes e variveis at ao
infinito na sua individualidade; resulta daqui que o sujeito da
prova em matria criminal tambm , em concreto, variabilis-
simo. A certeza, no entanto, s criada no esprito pela per-
cepo da relao intercedente entre o sujeito, que faz a prova,
e o objecto provado; e como estes dois termos so individual-
mente variabilssimos, variabilssima individualmente tambm
a sua relao, e por isso variabilssima a certeza que a viso
delas. E digo variabilssima a certeza sempre debaixo do ponto
de vista das suas origens; porque, emquanto a si mesma, sabemos
que, consistindo a certeza em um estado simples da alma,
sempre idntica a si mesma.
Parece-me assim claramente demonstrada a irracionalidade
de tda a prvia determinao do valor das provas individuais e
concretas, e assim a irracionalidade de tda a certeza legal; com
50 A Lgica das Provas em Matria Criminal
a diferena de que a certeza Malmente legal totalmente irra-
cional, e as certezas parcialmente legais so parcialmente irra-
cionais: relativamente a elas a racionalidade termina onde comea
o limite legal.
A certeza legal um rro lgico que se resolve em um rro
juridico, pela condenao que obriga a infligir a quem se tem
por inocente, e pela impunidade que obriga a conceder a quem
se tem por culpado. E ste rro jurdico, por sua vez, converte-se
em um rro poltico, devido perturbao que origina na cons-
cincia social, constituda espectadora da condenao fatal do
inocente e da absolvio fatal do delinqente. Basta que se reper-
cuta na conscincia social o eco de uma nica condenao, reco-
nhecida injusta e no obstante infligida ao inocente; basta que
se repercuta na conscincia social o eco de uma nica absolvi-
o, reconhecida injusta e no obstante concedida ao delinqente,
para que tda a f na justia humana se desvanea e no fique
mais nos coraes, ao nome da justia, seno um sentimento de
receio e de desnimo.
Falando das provas em geral, voltaremos ainda a falar das
provas legais. Mas sob o aspecto de noo da certeza podemos
pr ponto.
Posta de parte a certeza legal, resta-nos smente dizer
alguma coisa em particular a respeito da certeza moral, emquanto
se integra prpriamente no que ns chamamos convencimento
judicial.
Dissemos que a certeza a crena na conformidade entre a
noo ideolgica e a realidade ontolgica. Agora, necessrio
observar que em matria criminal as relaes de conformidade
entre uma noo ideal proveniente de provas que, em rigor, so
sempre, sejam como forem, imperfeitas, e o facto criminoso que
se quere verificar; estas relaes, dizia, j no so absolutas; no
se referem a verdades da razo evidentes, mas a verdades de
facto sempre contingentes. E no entanto, como vmos, a certeza
em matria criminal susceptvel de rro, admitindo, assim, a
possibilidade do contrrio. Quem diz: estou certo, no faz maia
do que afirmar as grandes, mas no absolutas, relaes de con-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 51
formidade entre o pensamento prprio e a verdade objectiva; no
faz seno afirmar preliminarmente a suficincia dos motivos em
favor da verdade. Mas esta afirmao preliminar, em que consiste
a certeza, nem sempre arrasta consigo o assentimento seguro e
definitivo da vontade; e sucede por vezes estarmos intelectual-
mente certos, sem que estejamos moral e seguramente convenci-
dos da verdade. Quando isto sucede, para termos ste convenci-
mento seguro, so novamente avaliados e pesados os motivos que
determinaram a certeza, para que ela no se desvanea, mas se
confirme. Neste assentimento seguro e definitivo da vontade que,
esclarecida pela razo, regeita definitivamente as possibilidades
contrrias, fao consistir o convencimento racional, que, como
necessrio para julgar, chamo tambm convencimento judicial. A
certeza diz: vejo relaes de conformidade entre o meu pensamento
e a verdade. O convencimento acrescenta: nesta viso intelectual
no b rros, estou certo de que o pensamento conforme com a
verdade. A certeza a afirmao preliminar da verdade,
significando que a noo ideolgica se apresenta como verdadeira;
o convencimento a afirmao necessria da posse da certeza,
significando que a certeza legtima, e que o esprito no admite
dvidas sbre aquela verdade. O convencimento racional, em
suma, no seno ura juzo sucessivo, determinador e aperfeioa-
dor do primeiro, que constitui a certeza: a certeza a crena da
verdade; o convencimento, por sua vez, a opinio da certeza,
como legtima. Por um lado, portanto, a certeza moral encontra a
sua perfeio no convencimento racional, por isso que ste se
resolve na conscincia da certeza consentida e segura; por outro
lado, ste convencimento prpriamente, em especial, o acto
volitivo e definitivo de assentimento verdade, como integrao
da certeza: o assentimento da vontade, o assentar do esprito
sbre a certeza
l
.
1
A distino que GALLUPPI faz entre sentimento e juzo da certeza,
anloga minha distino entre convencimento racional e certeza. Eis as
suas palavras: necessrio distinguir o sentimento da certeza do juzo
sbre a cer-
52 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Em linguagem comum, quem diz, simplesmente: convico,
entende dizer menos que certeza; por isso, para evitar equvocos,
falei de convencimento racional. Convicto, neste sentido, alm de
certo, exprime o mximo ponto da persuaso: a persuaso por
uma segura viso intelectual, e no pelo impulso cego do esprito.
Para determinar melhor a noo do convencimento judicial,
mencionemos rpidamente alguns dos seus principais requisitos;
os que teem maior importncia relativamente s provas judici-
rias criminais.
Em primeiro lugar, em vista do que temos dito, resolvendo-se
o convencimento judicial na certeza aceita e segura, e portanto
em um acto simples e indivisvel do esprito, resulta da que le
no susceptvel de graduao, nem mais nem menos que a
prpria certeza. No h mais ou menos convencimento, como no
h mais ou menos certeza: est-se convencido, ou no se est
convencido.
Em segundo lugar, ste acto volitivo em que, especifica-
mente, assenta o convencimento que torna perfeita a certeza,
para que conserve a sua natureza genuna e racional, no deve
ser determinado por razes estranhas verdade, quela verdade
que a suprema metade do esprito; verdade de que a certeza
no mais que a crena da sua posse, e a que o convencimento
no seno uma homenagem. O convencimento deve, por isso,
ser em segundo lugar, natural no juiz, isto , tal qual surge da
teza. O primeiro a conscincia de ura juzo sem o receio de engano. O se-
gando um juzo verdadeiro ou falso, com o qual se pensa, que o nmero
dos motivos a favor de certo juzo suficiente. Resulta daqui que um homem
pode julgar que uma dada proposio certa, tendo ao mesmo tempo um
sentimento de incerteza, relativamente a ela. GALLUPPI, Elementi di filo-
sofia, vol. iv, cap. v.
Disse que esta distino entre sentimento e juzo anloga, e no idn-
tica, minha, porquanto ste sentimento de quo fala GALLUPPI um sen-
timento no raciocinado, mas instintivo, em quanto que o convencimento
racional, de que eu falo, o convencimento esclarecido pela vontade, prove-
niente do exame atento dos motivos sbre que se funda a certeza.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 53
aco genuna das provas, e no artificial, isto , produzido por
razes estranhas sua natureza intrnseca e prpria.
Estas razes estranhas que perturbam a naturalidade do
convencimento, podem por isso encontrar-se no exame indirecto
das provas, como quando o juiz pelo debate tenha formado a sua
convico pessoal, no examinando e pesando as provas directas
por sua conta, mas segundo as apreciaes feitas sbre elas pelo
juiz instrutor que as relata.
Podem, alm disso, estas razes estranhas consistir no influxo
legal, que faz atribuir substncia das provas uma eficcia pro-
batria predeterminada; pelo que o juiz deduz o valor, no da
prova directamente examinada, da prpria prova individualmente
considerada, mas do preceito legislativo que quere se lhe atribua
aquele determinado valor.
Destas duas espcies de influncia externa que perturbam a
naturalidade do convencimento judicial, e que se concretizam em
geral no exame no directo, ou na simples apreciao no directa
das provas, teremos ocasio de falar a propsito das importantes
regras que derivam da naturalidade do convencimento relativa-
mente s provas.
Finalmente, estas razes estranhas verdade, perturbadoras
da naturalidade do convencimento, podem surgir ainda da pr-pria
alma do magistrado, consistindo em uma disposio particular do
seu esprito, que influa na determinao do convencimento. Esta
espcie de influncia, esta influncia interna no menos perigosa
que as externas para o triunfo da verdade. Parecer, pois, claro, que
as disposies do nosso esprito podem influir sbre a convico,
conduzindo at ao rro a inteligncia, quando se atenda a que a
vontade que determina a ateno do pensamento mais a uma
considerao que a outra; a vontade que, excluindo sem exame
um argumento, pode firmar o pensamento sbre um argumento
contrrio; quando se atenda finalmente a que a vontade est
exposta aos ventos das suas paixes. A fra do nosso
temperamento, a fra dos nossos hbitos, das nossas inclinaes e
das nossas prevenes, pode facilmente arrastar-nos a juzos
falsos. preciso por isso que a nossa vontade no per-
54 A Lgica das Provas em Matria Criminal
turbe com a sua influncia a liberdade e a serenidade das vises
intelectuais; e esta liberdade e serenidade da inteligncia no
sero salvas, se o nimo que se dispe a julgar, no se prepara
para isso com a expurgao de que falara Plato no Phedon, e
que o grande filsofo julgava necessria para chegar verdade:
necessrio expurgar o esprito das paixes.
Mas, alm de natural, o convencimento judicial deve ser
tambm raciocinado. O convencimento de que falamos, j o dis-
semos, no o que surge de impulsos cegos e instintivos do
nimo, como o sentimento da certeza, de que fala Galluppi;
nem mesmo o que surge de uma percepo indistinta e involun-
tria das razes, o que autorizaria a caracteriz-lo simplesmente
racional; mas sim o que determinado pela viso distinta e pela
apreciao das razes: isto , no deve ser cego, nem simples-
mente racional, mas raciocinado.
Mas dizer que a convico deve ser raciocinada, no deter-
mina qual a natureza que devem ter as razes que legitimam o
convencimento; e muitas vezes as preocupaes e prevenes
subjectivas da pessoa do um tal pso a motivos fteis, que os
fazem considerar como razes suficientes. Ora, importante para
a noo do convencimento judicial, acrescentar que as razes que
o determinaram devem ser de natureza tal que criem a convico
em qualquer outra pessoa racional a quem sejam expostas. O con-
vencimento no deve ser, por outros termos, fundado em aprecia-
es subjectivas do juiz; deve ser tal, que os factos e as provas
submetidas ao seu juzo, se fssem submetidas apreciao desin-
teressada de qualquer outra pessoa racional, deveriam produzir,
tambm nesta, a mesma convico que produziram no juiz. ste
requisito, que eu creio importantssimo, o que eu chamo socia-
bilidade do convencimento.
Quando se fala do convencimento, como caminho da certeza
ocorrida em um juzo penal, fala-se dele relativamente ao facto
da criminalidade: a criminalidade que no pode afirmar-se
quando no seja prpriamente e bem verificada. Ora necessrio
no esquecer que em nome da conscincia social que se exerce
a justia punitiva; nesta conscincia social que est a legiti-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 55
mao do direito de punir: pune-se para destruir a perturbao
social que o delito produz. Por tudo isto, compreende-se que a
certeza moral do juiz, a certeza da criminalidade, para ser fun-
damento legtimo de condenao, deve encontrar apoio na cons-
cincia social. contradio entre a conscincia social e a do juiz,
deve levar sempre absolvio, e nunca pode levar condenao.
Se o juiz, embora quando se sinta pessoalmente convencido da
criminalidade do imputado, acha que as suas razes no so tais
que possam criar uma igual convico em qualquer outro cidado
racional e desinteressado, deve absolver. Assim como, quando o
juiz, devido natureza dos motivos conducentes afirmao da
criminalidade, cr que por les a condenao do arguido seria
legitimada mesmo em face da conscincia social, embora o juiz
creia nisso, deve no obstante absolver o arguido, se ste, perante a
sua conscincia de juiz, no se apresenta, sempre racionalmente,
com certeza culpado.
Devendo, contndo, o convencimento ser sempre raciocinado,
devendo, contudo, aspirar-se sempre sua sociabilidade, esta
sociabilidade do convencimento apesar disso uma limitao
absoluta para a condenao, e no para a absolvio. O juiz s
pode, julgando legtimo o seu convencimento, condenar legitima-
mente, quando julgue que os factos e as provas submetidas sua
apreciao, quando, submetidas apreciao desinteressada de
qualquer outro cidado racional, produziriam tambm nste a
mesma certeza, que produziram no seu esprito.
Devendo aspirar-se sempre sociabilidade do convencimento
indiciai, e devendo le quanto criminalidade ser sempre indis-
pensvelmente social, segue-se que o juiz nunca dever funda-
mentar as suas persuases naquilo que conhece como homem par-
ticular. Emquanto sua conscincia, nada h mais certo que aquilo
que le percebeu directamente; mas no o mesmo relativamente
conscincia social. Se o juiz tem particularmente conhecimento
do facto criminoso, ou de factos comprovativos da inocncia,
declina o ofcio de juiz e apresenta-se como tstemunha: o seu
tstemunho ser avaliado e pesado no s pelo magistrado que
julgar, mas pela sociedade.
66 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ste princpio da sociabilidade do convencimento judicial,
ainda no exposto anteriormente, que eu saiba, por pessoa alguma,
da maior importncia. Esta sociabilidade encontra a sua origem
unificadora na razo humana, em que se inclui a harmonia espi
ritual dos homens. Nesta sociabilidade, que uma espcie de
objectivao da certeza, est a melhor determinao do conven
cimento judicial, determinao que impede que le se resolva,
mais ou menos hipcritamente, em um arbtrio do juiz. I
Mas, para que ste princpio da sociabilidade da convico
no seja uma estril aspirao do pensador, preciso que tenha
uma concretizao exterior e judicial. E esta concretizao entra
no nmero daquelas condies que tornam possvel a apreciao
da sociedade sbre aquela mesma matria, que objecto do juzo
do magistrado. Nisto est a garantia concreta e prtica da socia-
bilidade: na fiscalizao que a prpria sociedade pode exercer
sbre a apreciao do magistrado, reprovando-a como disforme,
ou aprovando-a como conforme sua prpria. A sociedade pode,
pois, exercer a sua fiscalizao por duas formas: ou com um
juzo sucessivo, ou com um juzo contemporneo declarao do
magistrado.
Os fundamentos da sentena so o meio prtico, que torna
possvel a verificao da sociedade por meio de uma apreciao
sucessiva do magistrado. A obrigao de fundamentar a deci-
so obriga, por um lado, o juiz a declarar as razes do seu pr-
prio convencimento, e torna, por outro, possvel sociedade fis-
calizar essa convico
1
.
obrigao de fundamentar a deciso, princpio inconcusso para as
sentenas do juiz permanente, no pode aplicar se s do jri. O facto de ser
o jri composto de concidados do acusado, chamados, relativamente, em
grande nmero para o julgarem em audincia pblica, e o amplo direito de
recusa concedido, contra les, aos argidos, fazem crer que a sociabilidade
do convencimento seja suficiente garantia, para no ser necessrio dar os
fundamentos do veridicto. Se isto justo, e ato que ponto; se a instituio
do jri, como existe hoje, um bem ou um mal, no 6 ste o lugar para o
dizer: matria, no de lgica, mas de arte criminal.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 57
O meio prtico, pois, que torna possvel a fiscalizao da
sociedade com um juzo directo, contemporneo ao do magis-
trado, a publicidade dos debates.
Concluindo, os dois cnones judiciais da publicidade dos
debates e dos fundamentos da sentena, de que teremos ocasio
de falar mais largamente noutro lugar, no so mais que duas
conseqncias do princpio da sociabilidade do convencimento,
princpio que ns julgamos da mxima importncia, por isso que
aquele, pelo qual a justia primitiva se resolve em uma funo
verdadeiramente social, e no no arbtrio, mais ou menos hip-
critamente disfarado, do homem sbre o homem.
CAPTULO III A
probabilidade em relao com a certeza
Tem sido dito por alguns tratadistas, e repetido por qusi
todos, que a certeza em matria criminal apenas probabilidade.
Eis uma afirmao que falsa sob o ponto de vista da lgica, e
perniciosa sob o ponto de vista do direito: uma afirmao
que funciona como um narctico sbre a conscincia do magis-
trado, adormecendo-lhe aquele sentido de actividade, que a
garantia da justia, por isso que faz sentir viva a necessidade
das investigaes para se chegar verdade com certeza.
Que diriam os senhores tratadistas, se lessem numa sen-
tena: Tcio condenado a tal pena, por ter provvelmente
cometido tal crime? Os proclamadores da premissa insurgir-se--
iam contra a concluso lgica: a costumada fatalidade a que
conduz uma premissa que no verdadeira. Para radicar nos
espritos esta premissa falsa, contriburam escritores de alto
valor, alguns dos quais no hesitaram, at, em colocar no prin-
cpio do seu tratado de lgica judiciria o ttulo equivoco de
Lgica das Probabilidades, sem pensarem na funesta confuso,
que por esta forma se vem a criar ou a acreditar.
58 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Analisemos, pois, as relaes entre certeza e probalidade, e
procuremos determinar as suas diferenas.
A certeza , de sua natureza, subjectiva; mas pode ser con-
siderada sob o ponto de vista das suas relaes objectivas. A cer-
teza, sob o ponto de vista objectivo, confunde-se com a verdade:
a verdade emqiianto seguramente percebida. Ora, a verdade,
em si mesma, no mais que a verdade; e por isso, como objecti-
vidade, nica em si, da certeza, s se revela ao nosso esprito
apresentando-se como uma conformidade simples e sem contras-
tes entre a noo ideolgica: o que tem lugar, ao primeiro aspecto,
como verdades intuitivas, quer sejam contingentes, quer neces-
srias, e portanto como certezas intuitivas. Considerando a objec-
tividade da certeza, emquanto se revela assim ao esprito, no b
quem no veja a sua diferena da probabilidade, tomada tambm
objectivamente; e sob ste aspecto, a distino no necessita de
defeza. A probabilidade, objectivamente, no tem por contedo a
simples verdade, como a certeza; tem um objecto multplice:
tem por objecto os motivos maiores que convergem afirmao,
juntamente com os motivos menores que divergem da afirmao.
A certeza olbada objectivamente, na verdade, no pode ter moti-
vos divergentes da sua crena; a probabilidade, deve t-los; a
certeza tem um objecto nico, a probabilidade, objecto mult-
plice.
Se a verdade, de que o esprito se apodera, fsse sempre
percebida directamente, imediatamente; no sendo a verdade, em
si mesma, seno uma, nunca existiriam para a certeza motivos
divergentes da sua crena, nem mesmo relativamente a verdades
contingentes; e a simplicidade objectiva da verdade reproduzir--
se-ia subjectivamente na certeza.
I Mas, j o vimos, no pelo caminho da inteno que se
chega sempre verdade e certeza; tambm por outro absolu-
tamente diverso. O esprito humano, limitado nas suas percepes,
no chega, na maior parte das vezes, verdade, seno por meios
indirectos. A evidncia ideolgica e a fsica, e conseguinte mente
a certeza intuitiva em geral, no teem seno um campo limita-
dssimo nos nossos conhecimentos; e ste campo cada vez mais
A Lgica das Provas em Matria Criminal 59
limitado quando se trata daquela certeza intuitiva fsica de que
necessrio ocupar-nos na crtica criminal. por isso que chegando
ns qusi sempre por caminhos indirectos percepo da verdade
contingente da criminalidade, e sendo multplices os caminhos
indirectos que podem conduzir verdade, pois que multplices so
tambm as relaes da verdade; ainda quando os mesmos factos
tenham relaes com verdades contingentes opostas entre si e que
podem conduzir a elas; segue-se que mesmo em matria de certeza
nos encontramos qusi sempre em face no s de vrios motivos
convergentes credibilidade, mas tambm de motivos divergentes
da credibilidade.
Se se pretendesse que a certeza em matria criminal nos fsse
afirmada sempre como uma percepo simples e imediata da
verdade, conforme, em suma, unidade objectiva do seu contedo,
se se pretendesse a ausncia absoluta de motivos que possam
destruir a certeza do magistrado que deve servir de base
condenao, seria necessrio renunciar a esta grande misso da
justia punitiva, to difcil seria o caso que autorizasse a ferir o
delinqente. Na crtica criminal no essa a espcie de certeza que
se refere ao convencimento judicial; no se exige a ausncia
absoluta de motivos divergentes. Oontentamo-nos mesmo com que
existam motivos convergentes e motivos divergentes, contentamo-
nos, em suma, com a objectividade do provvel, uma vez que ela
seja espeeialisada por uma determinao subjectiva, sem a qual
no poderemos sar do provvel. A determinao subjectiva, que
nos faz sar da probabilidade, e nos abre as portas da certeza,
consiste no repdio racional dos motivos divergentes de acreditar.
A certeza que deve servir de base ao parecer do magistrado s
pode ser a de que o juiz se acha de posse: a certeza como estado de
alma seu. Nste ponto de vista, a certeza no seno a afirmao
intelectual, por parte do magistrado, da conformidade entre a ideia
e a realidade. Ora, esta afirmao pode ter lugar no obstante a
percepo de motivos contrrios afirmao: o esprito v stes
motivos contrrios, e no os achando dignos de serem tomados em
conta, regeita-os, e afirma.
60 A Lgica das Provas em Matria Criminal
E nste caso no se deixa de estar em face da certeza, por-
que se est sempre diante da afirmao da conformidade entre a
noo ideolgica e a realidade ontolgica; e se no obstante exis-
tem, na nossa percepo, motivos divergentes da crena, que se
no harmonizam com a unidade objectiva da verdade, mas antes
com a multiplicidade objectiva do provvel, no necessrio de-
duzir, por isso, que na nossa afirmao existe antes probabilidade,
que certeza: foi esta deduco, creio eu, que conduziu em rro
os tratadistas; ou, pelo menos, nesta deduo que est a nica,
explicao scientfica do seu engano ao afirmarem a identidade
entre probabilidade e certeza.
Se os tratadistas tivessem reflectido e analisado um pouco
melhor, teriam visto que a existncia de motivos divergentes da
crena, contrapostos ao mesmo tempo aos motivos de crr, tanto
em caso de probabilidade como de certeza, no era seno uma
simples e dbil analogia entre a probabilidade no seu aspecto
objectivo e a certeza na sua limitao subjectiva, que d uma
aparncia multplice a um objecto nico; analogia que no devia
levar concluso da sua identidade.
E a luz teria vindo fcil e clara de considerar igualmente,.
na integridade subjectiva, tanto a certeza como a probabilidade..
Para sermos exactos, repitamo-lo, sempre no nimo de quem
julga, sempre subjectivamente que devem ser consideradas a
certeza e a probabilidade; porque uma e outra s teem natureza
subjectiva.
E j no h, j o dissemos, quem pretenda, considerando
assim a certeza, destac-la com um corte ntido da verdade. Deus
nos defenda! no nos queiramos lanar, de cabea para baixo,
em pleno pirronismo. Admitamos que a certeza provm do influxo
objectivo da verdade; mas digamos que, comquanto derive da
verdade, no a verdade: no mais que um estado da alma,
que pode por vezes, devido nossa imperfeio, no correspon-
der verdade; e contudo de natureza subjectiva, como a pro-
babilidade. Em suma, no julgamos dever separar o que no
existe separado, a certeza e a verdade, mas no julgamos tam-
pouco dever confundi-las: distinguimo-las.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 61
E o que dissemos quanto certeza, repetimo-lo para a pro-
babilidade. Tambm no entendemos considerar a probabilidade
como separada das realidades percebidas que em ns a produzem.
Deus nos livre disso! no nos queremos julgar embalados nos
braos de um perptuo delrio fantstico. Admitamos que a pro-
babilidade deriva de dados objectivos, mas digamos que a pro-
babilidade no consiste nesses dados: consiste antes naquele estado
de alma que produzido pela sua percepo; e tem, por isso, uma
natureza subjectiva, como a certeza. Tambm aqui no queremos
separar e no queremos confundir: distinguimos.
Pode, por isso, falando-se da certeza e da probabilidade,
consider-las sob o ponto de vista objectivo; mas smente no
sentido de se estudar uma das suas relaes; no no sentido de se
estudar a sua natureza. O estudo da relao pode tambm trazer
luz para o estudo da natureza; mas a relao de um ente nunca
constituir tda a natureza do ente. E quem troca a simples
relao, conquanto importante, pela natureza de um ente, falseia
fundamentalmente o seu conceito.
Em um tratado sbre a lgica da crena, s pode atender-se
certeza e possibilidade, emquanto uma e outra se apresentam
conscincia de quem se dispe a crr.
Posto isto, se os sobreditos escritores tivessem analisado
melhor a natureza subjectiva da certeza e da probabilidade, teriam
achado imediatamente a diferena entre elas.
Em que consiste subjectivamente a probabilidade? Consiste
na percepo dos motivos convergentes e divergentes, julgados
todos dignos, na proporo do seu diverso valor, de serem levados
em conta.
Eis como j fcil estabelecer a diferena entre a probabi-
lidade de um lado, e a certeza com motivos divergentes do outro.
A probabilidade atende aos motivos convergentes e divergentes, e
julga-os todos dignos de serem tomados em conta, se bem que
mais os primeiros, e menos os segundos. A certeza ao contrrio
acha que os motivos divergentes da afirmao no merecem
racionalmente considerao, e por isso afirma. Esta afirmao
apresenta-se ao esprito humano como correspondendo
62
A Lgica das Provas em Matria Criminal
verdade; e a certeza que dela deriva, como qualquer outra
certeza, no mais que conscincia da verdade. Como que
pode confundir-se ate estado de esprito com o precedente?
ste repdio dos motivos divergentes necessrio, para se ter a
certeza; isto necessrio para se poder pronunciar a condenao
com justia: a simples probabilidade no bastaria. Desde que
se encontre um motivo para no acreditar, digno de ser
tomado em conta, falta a certeza, e no pode condenar-se.
Nas vrias e ordinrias contingncias da vida, o homem
deixa-se guiar por apreciaes provveis, e est bem. Se para
obrar fsse necessrio a certeza dos resultados do trabalho, tdas
as fontes da actividade humana secar-se-iam. Qual a indstria
que podia surgir, se fsse necessria a certeza antecipada do
lucro? O trabalho industrial seria assim destrudo e abolido.
Gomo encontrar capitais para as emprsas, se para as emprsas
fsse sempre necessrio a certeza antecipada do lucro? Os capitais
iriam dormir o sono da sua inrcia no fundo dos cofres. Quem
mais cultivaria a terra, se para a cultivar fsse preciso a cer-
teza antecipada de uma produco remuneradora? terra aban-
donada, acabaria por se tornar estril. E isto verdadeiro, no
s no mundo econmico, como em qualquer outro ramo da acti-
vidade humana. No sendo o homem impelido a obrar seno por
um fim mais ou menos prximo, mas sempre futuro, e no sendo
dado ao homem julgar do futuro seno por juzos provveis, exigir
a certeza para obrar, abolir a actividade humana. O homem
deixaria de se mover, porque todo o seu movimento poderia
exp-lo a um risco. Seria condenado a uma imobilidade infe-
cunda, que o conduziria at extino da famlia humana. E
com efeito, se quem associa a si na vida uma companheira,
tivesse de estar certo antecipadamente de no ir de encontro a
alguma daquelas calamidades fsicas ou morais, a que pode levar
o matrimnio pelo duplo lado da mulher e dos filhos, quem
poderia casar-se? Imobilidade, solido e sterilidade aniquilar
dora, eis o destino do homem que no quisesse absolutamente
deixar-se julgar por juzos provveis nos actos ordinrios da sua
vida.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
63
Mas se bem que para as ocorrncias ordinrias da sua vida
o homem confie em juzos, pensados quanto quiserem, mas
simplesmente provveis, tal j no permitido na verificao do
facto criminoso que se diz ter sucedido, j no permitido para
exercer o sagrado e terrvel mister da justia punitiva: sagrado e
terrvel, porque um mister divino nas mos do homem. Se se
podesse condenar em consequncia de juzos simplesmente pro-
vveis, a justia punitiva, j o dissemos, perturbaria mais a
conscincia social, que o prprio delito: os cidados pacficos
achar-se-iam expostos, no s s agresses dos delinqentes par-
ticulares, como s mais temveis, por isso que mais irresistveis,
da denominada justia social. sempre a certeza, e no pode ser
seno a certeza como estado do esprito, que deve servir de base
condenao.
Mas ste estado da alma pode ser relativo a uma verdade
percebida sem motivos contrrios, e em matria criminal um caso
rarssimo de certeza, smente possvel em relao a algum dos
elementos criminosos, e impossvel relativamente totalidade do
delito; pode, contudo, ste estado de alma ser relativo a uma
verdade percebida tambm com motivos contrrios, e um caso
frequente de certeza criminal. Mas tambm nste segundo caso,
nste caso freqente, no permitido falar de probabilidade,
smente porque se perceberam motivos contrrios ao acreditar:
trata-se sempre de certeza, do momento em que os motivos con-
trrios ao acreditar tenham sido repudiados.
V-se daqui que em matria criminal, de que nos ocupamos,
se bem que a certeza no seja a probabilidade, como demonstra-
mos, nem por isso a probabilidade deixa de ser o caminho mais
freqente da certeza. Comea-se por tomar em conta motivos de
err e motivos de no crr; isto , principia-se pela probabilidade;
depois, rejeitando os motivos que levam a no crr, passa-se
certeza.
conveniente observar que muitas vezes, pela imperfeio
do esprito humano, no se atende a motivos dignos de serem
tomados era conta; e ento julga-se estar na certeza, e no se est,
ao contrrio, seno na probabilidade. Por isso, sob o ponto
64 A Lgica das Provas em Matria Criminal
de vista da possibilidade objectiva do contrrio do que se cr, o] que ns
julgamos ser certeza, no passa de probabilidade.
Mas nem por isso, repitamo-lo, isto autoriza a concluir pela
identidade entre o certo e o provvel. A possibilidade objectiva 4o
contrrio no est na natureza da certeza; e est ao contrrio na natureza
da probabilidade. possibilidade objectiva do contrrio, no uma parte
da natureza da certeza, mas sim a sua imperfeio; e a imperfeio nunca
poder ser considerada por um bom lgico como elemento constitutivo da
natureza de um [ser: ao contrrio uma negao parcial.
Portanto, no pode sob aspecto algum, afirmar-se que a pro-
babilidade seja o mesmo que a certeza; e para pronunciar uma
condenao, ns j o demonstramos, sempre necessrio a certeza.
A probabilidade s entra por isso ao servio da criminalidade, ou
legitimando a potestas inquirendi, ou ento como um primeiro passo para
a certeza. ste segundo caso verifica-se, quando prova da probabilidade,
que apresenta motivos convergentes crena e divergentes da crena, se
vem juntar uma outra prova que exclui os motivos divergentes da crena:
tem-se assim, em concluso, o que ns chamamos prova cumulativa da
certeza, isto , aquela soma de provas que, criando a certeza, pode servir
de base legtima para se pronunciar uma condenao. ste modo de
funcionar da probabilidade em proveito da certeza, analis-lo hemos
melhor ao falarmos das provas.
Julgamos no ser possvel estudar bem a probabilidade sem se ter
em vista a certeza; e procedemos assim adiante na nossa investigao.
Do que temos dito at aqui, parece claro que se erra na definio,
quando se faz consistir a probabilidade na percepo das mais fortes
razes que induzem afirmao. Se esta definio basta para distinguir o
provvel do simplesmente crvel, que, como veremos, consiste na
percepo de razes iguais para a afirmao e para a negao, no basta
porm para o distinguir da certeza; e confunde-o particularmente com a
certeza, que na nossa limitao subjectiva acompanhada de motivos para
no crr.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 65
Nem mesmo basta para a integridade da definio, dizer que
a probabilidade a percepo das maiores razes que conduzem
afirmao e das menores que conduzem negao. ste
aditamento precisa um pouco mais o conceito da probabilidade,
mas nem por isso chega a distingui-la da certeza. Na nossa certeza
ordinria e defectiva, relativamente a factos contingentes no
percebidos directamente, apresentam-se ao nosso esprito, j o
dissemos, no s motivos para crr, mas tambm motivos para no
crr. E, no obstante isto, quando e porque dizemos ns estar
certos? Smente ento, e smente pelo facto de a inteligncia ter
rejeitado por si mesma os motivos para no crr. A probabilidade
nunca rejeita os motivos para no crr; aceita-os como tendo um
valor inferior aos motivos para crr.
Apresentemos um exemplo. Sabemos que numa urna se
encontram noventa e oito esferas pretas e duas brancas. Tcio tirou
daquela urna, ao acaso, uma das esferas a contidas. Na hiptese de
no o podermos saber directamente, trata-se de saber por meio
indirecto se a esfera extrada preta ou no. Encontramos noventa
e oito motivos que induzem a acreditar que a esfera extrada
preta; encontramos contemporneamente dois motivos que
induzem a no crr que a esfera extrada seja preta. Por stes dados
objectivos podemos afirmar, com grandssima probabilidade, que a
esfera extrada preta, atendendo a que os motivos que induzem a
esta afirmao so em nmero muito superior aos que induzem
negao: entre os motivos convergentes afirmao, e os
divergentes dela d-se a mesma relao proporcional que entre
noventa e oito e dois. Mas j assim no se pensarmos em que
rejeitamos os dois motivos divergentes; se os rejeitarmos, a nossa
afirmao seria certa e no provvel.- No os rejeitamos;
aceitmo-los como dignos tambm de serem levados em conta,
mas em conta inferior quela em que merecem ser levados os
noventa e oito motivos convergentes. Eis a especializao da
probabilidade: ela a percepo dos motivos maiores
convergentes a crr, e dos menores divergentes de crr, julgados
todos les dignos
6
66 A Lgica das Provas em Matria Criminal
de serem levados em conta, segundo a diversa medida do
seu valor.
importante uma ltima observao a propsito da proba-
bilidade. Ns, falando de certeza, sustentmos que ela era imen-
survel; e por isso no s se no pode estabelecer a relao
entre as quantidades das vrias espcies, como tambm impos-
svel graduar, em si mesmas, cada espcie: tem-se a certeza, ou
no se tem. Somos levados a esta afirmao pela considerao da
natureza da certeza. Ora, a considerao da natureza da probabili-
dade conduz-nos a uma deduo oposta. Existindo na noo da pro-
babilidade motivos convergentes, e divergentes, que so levados
todos em conta; medida que os motivos convergentes aumentam,.
e diminuem os divergentes, cresce a probabilidade; e vice-versa,
medida que diminuem os motivos convergentes e aumentam os
divergentes, diminui a probabilidade. Compreende-se que nste
segundo caso s se supe o aumento dos motivos divergentes
dentro de uma medida sempre inferior dos convergentes; de
outra forma, chegando a nmero igual, extinguir-se-ia tda a
a probabilidade, e, ultrapassando-a, obter-se-ia uma probabili-
dade oposta.
Conseguintemente, a probabilidade graduvel. Mas a sua
graduao no pode determinar-se com limites fixos; porquanto
o nmero dos motivos que em abstracto podem vir a influir
nela indefinido; e quanto aos motivos que, em concreto, so
levados em conta, existe sempre nles, em primeiro lugar,
alguma coisa indeterminada que foge adio numrica, e,
depois, no simplesmente o nmero dos motivos que determina
o grau da probabilidade, mas especialmente a sua importncia,
valor lgico que no se pode determinar aritmticamente.
Portanto, se se pode falar de mais ou menos no que res-
peita a probabilidade, coisa que se no pode fazer no caso da
certeza, no contudo possvel determinar de modo fixo e num-
rico os vrios graus de probabilidade.
A graduao da probabilidade, portanto, se se no quere ir
de encontro ao fantstico, reduz-se simplesmente a dizer que
pode ter-ae, relativamente a um objecto, uma probabilidade
A Lgica das Provas em Matria Criminal 67
mnima, a que eu chamarei, e depois direi a razo porque, o
verosmil, ama probabilidade mdia, que poder cbamar-se, sim-
plesmente, o provvel, e uma probabilidade mxima que ser o
probabilssimo.
Determinar, pois, os limites precisos que separam o veros-
mil do provvel, e ste do probabilssimo, 6 impossvel quando se
no queira cair em fantasias e inexactides indignas da soincia.
CAPTULO IV
A credibilidade em relao certeza e
probabilidade
Quando se discute sbre a existncia ou no existncia de
determinados factos, o facto no considerado seno como rea-
lidade em aco, e no em simples potncia. E por isso a certeza e
a probabilidade, de que se fala a propsito de um determinado
facto criminoso, so uma certeza e uma probabilidade que a le se
referem como a uma realidade j efectuada, e no para se efectuar.
O fim supremo da crtica judiciria 6 portanto a verificao de
uma realidade verificada. Assentemos isto antes de mais, para se
determinar o ponto de vista em que nos colocamos para ver as
relaes da certeza e da probabilidade com o que crvel: a
credibilidade, como a certeza e a probabilidade, sob o ponto de
vista do processo judicial, s considerada relativamente
realidade j verificada, objecto das investigaes judicirias.
O que ontolgicamente possvel, por isso que pode ter tido
vida no mundo da realidade, lgicamente crivei no mundo do
esprito, por isso que pode ter sido reputado objecto real de um
conhecimento. O possvel a potncia capaz do actuar, e sob o
nosso ponto de vista, o ter podido ser uma realidade : a realidade
a potncia j exercida. A percepo de um
68 A Lgica das Provas em Matria Criminal
objecto, como possibilidade de uma realidade j verificada,
para ns, o crvel; a percepo de um objecto como realidade
de que se no duvida , para ns, certeza.
O possvel portanto, direi assim, a potncia embrionria da
realidade, como o crvel a potncia embrionria da certeza. No
sendo a realidade mais que uma potncia realizada, o seu
conceito inclui o de uma potncia realisvel; isto , o real inclui
o possvel. Daqui o velho e incontestado aforismo dos lgicos:
ab esse ad posse valet illatio.
Por outro lado no sendo a certeza seno a percepo da
realidade de que se no duvida, como o crivei a percepo da
realidade possvel, segue-se que a certeza, por sua vez, inclui a
credibilidade. O que certo no pode deixar de ser crvel; o
prprio axioma dos lgicos, transferido do mundo das realidades
para o do conhecimento.
E nem smente o certo inclui o crvel. No podendo pen-
sar-se seno o que possvel, segue-se que no pode haver conhe-
cimento humano afirmativo sem a premissa tcita da
credibili-
dade. No s o certo, mas o provvel e at o improvvel, sob
o seu ponto de vista afirmativo da possibilidade de ser, incluem
sempre, em geral, a credibilidade. O que aparece mesmo mini-
mamente possvel no mundo dos factos, sempre crvel no
mundo do esprito. Mas ste modo de considerar a realidade
muito vasto para os limites do nosso tratado, e por conseguinte
pretenciosamente acadmico e intil. Quando se supe que o
esprito humano, partindo de uma verdade real, chegou at
certeza, seria acadmico falar ainda da credibilidade.
Quando relativamente a uma verdade real, se supe que o
esprito humano atingiu o provvel que mais do que a mera
credibilidade, seria acadmico falar ainda do crvel puro e
simples.
O crvel, como se acha includo no certo e no provvel, no
mais que uma premissa tcita da certeza e da
probabilidade, de que j falamos. Resta-nos falar do crvel no
sentido especfico: procuremos deteterminar a sua noo.
Relativamente a um facto, o esprito pode achar-se no estado
A Lgica das Provas em Matria Criminal 69
ignorncia, ausncia de qualquer conhecimento; no estado de
dvida em sentido restrito, conhecimento alternativo, incluindo
igualmente o sim e o no; no estado de probabilidade, prevalncia
do conhecimento afirmativo
1
; no estado de certeza, conhecimento
afirmativo triunfante.
A dvida e a probabilidade no so muitas vezes seno duas
etapas para passar das obscuras regies da ignorncia, s regies
luminosas da certeza. E digo muitas vezes, porque, geralmente, h
verdades to cheias de esplendor intrnseco que o esprito se
apodera delas directamente, sem passar atravs das transies da
dvida e da probabilidade.
Nas noes que demos sbre a certeza e sbre a probabili-
dade vimos, que a certeza no tem j motivos divergentes da
crena dignos de serem levados em conta; que a probabilidade, ao
mesmo tempo que tem mais motivos convergentes crena, tem
menos motivos divergentes dela, dignos todos les de serem
tomados em considerao. Pois bem, senhores, quando se d a
paridade entre motivos convergentes e divergentes, tem-se a
dvida em sentido especfico, aquela dvida que eu chamo mera
credibilidade.
E compreende-se porque preferimos falar de credibilidade e
no de possibilidade, como outros teera feito; porquanto, segundo
o que temos dito, a possibilidade uma determinao
exclusivamente ontolgica, e ns no entendemos dever ocupar--
nos aqui do ser em si, mas do ser emquanto objecto do conhe-
cimento. Ora sob o ponto de vista do conhecimento do ser,
inexacto falar de possibilidade; ao contrrio necessrio falar de
credibilidade, para pr em relevo a natureza subjectiva daquilo
que se quere indicar.
Alguns, falando sempre do possvel, julgaram por isso pod-
lo indicar indiferentemente com o nome de verosmil. Ora,
1
Na noo da probabilidade, a prevalncia dos motivos convergentes
sobre os divergentes, inclui-se o improvvel, por isso qne ste no seno o
contrrio da probabilidade: o qne provvel do lado dos motivos maiores,
improvvel do lado dos motivos menores.
70
A Lgica das Provas em Matria Criminal
parte a inexactido do tema, em que, como dissemos, se incorre
falando do possvel, que um estado ontolgico, deve no entanto
dar-se a noo dos vrios estados subjectivos do esprito humano,
em face da verdade; parte, dizia, a inexactido do assunto,
parece-me que nem mesmo exacta a correspondncia entre
verosmil e possvel. Atendendo patente etimologia, verosmil
no o que pode ser uma verdade real, mas o que tem pare-
cena disso. E para haver semelhana de verdade real no basta
a simples condio da possibilidade, exige-se mais alguma coisa.
Exige-se algum motivo que nos indusa a crr numa verdade,
mais que como simplesmente possvel, como real: nesta apa-
rncia de realidade que assenta, direi assim, o perfil e o escoro
da verdade real, que se chama verosimilhana. Em uma infini-
dade de casos, ns, com quanto no possamos fazer sem admitir
a possibilidade de certas verdades reais, tdavia, sem descobrir
aquele tal perfil da realidade, achmo-lo inverosmil. Basta que
apelemos para a linguagem comum, mais exacta, nste ponto,
que a linguagem scientfica de alguns. E verosmil para ns, no
o que nos aparece simplesmente possvel mas o que, por uma
razo mais ou menos determinada, nos inclinamos a julgar real.
por isso que marcamos com a verosimilhana o primeiro grau
da probabilidade: verosmil, provvel, probabilssimo.
No falamos portanto de possibilidade, no falamos de
verosimilhana; parece-nos mais exacto falar de credibilidade.
Para ns, tanto como a certeza e a probabilidade, tambm
a credibilidade um estado subjectivo, que no deixa de ser tal,
s pelo facto de ser determinado por motivos objectivos. Existe
simples credibilidade para ns, credibilidade em sentido espec-
fico, sempre que a conscincia se encontra em face de motivos
iguais para a afirmao e para a negao; na percepo das
razes iguais para crr e para no crr, pe-se de parte a sua
natureza especfica. Se no existissem motivos de espcie alguma,
no existiria conhecimento algum. Se os motivos deixassem de
ser iguais, no existiria mais o crvel em sentido especfico: ter--
se-ia o provvel, que mais que o crvel especfico, atendendo
aos motivos maiores; e ter-se-ia o improvvel, que menos que
A Lgica das Provas em Matria Criminal 71
o crvel especfico, atendendo aos motivos menores. Se existissem
apenas motivos de uma s espcie, dignos de serem levados em
conta, nem mesmo haveria conhecimento do crvel em sentido
especfico, mas do certo, pleno de credibilidade genrica, do lado
dos motivos nivocamente convergentes, e conhecer-se-ia o
incrvel, ausncia absoluta de credibilidade, do lado oposto.
Ponhamos de parte a probabilidade e a certeza, que no so
seno desenvolvimentos e aperfeioamentos da credibilidade em
geral, estados mais perfeitos do esprito, dos quais um est mais
prximo da verdade, e o outro j a atingiu; ponhamos de parte,
repito, a certeza e a probabilidade, de que j falamos, no nos
convindo falar nelas s pelo facto de incluirem o crvel em geral.
Mas convm observar que no reverso dstes estados mais
perfeitos dos nossos conhecimentos, encontram-se os dois grandes
adversrios do crvel, que devem ser tomados em considerao: o
contrrio da probabilidade, o improvvel; o contrrio da certeza, o
incrvel.
O improvvel no destri a credibilidade seno na sua fra
mdia: destri nicamente a paridade dos motivos para crr e para
no crr, aquela paridade que constitui a credibilidade especfica;
mas no tem fra para destruir a credibilidade genrica, que por
isso, no obstante o improvvel, continua a subsistir. Vice-versa, o
incrvel arranca pelas razes tda a credibilidade, especfica e
genrica.
No , pois, necessrio ocupar-nos do improvvel em parti-
cular, porquanto, no chegando a destruir a credibilidade genrica,
no autoriza a suspender as investigaes da justia, e a basear
sbre le, sem mais, a sentena do magistrado. Se a inocncia no
se pode provar, nem por isso se pode condenar; se a criminalidade
se no prova, no por esta improbabilidade, como tal, que se
deve absolver, e deve bastar menos do que a improbabilidade do
delito para absolver; bastando a credibilidade especfica, pura e
simples, que provm da paridade de razes para a inocncia e para
a culpabilidade; bastando at menos do que isso, bastando- mesmo
nicamente a simples existncia de motivos menores para a
inocncia, dignos de serem
72 A Lgica das Provas em Matria Criminal
tomados em considerao, se bem que existam motivos maiores
para a criminalidade, isto , bastando mesmo a prpria improba-
bilidade da inocncia. Quando se tenha presente que a condena-
o s pode ser baseada na certeza da criminalidade, v-se ime-
diatamente que a credibilidade racional, mesmo mnima, da
inocncia, sendo destruidora da certeza da criminalidade, deve
conduzir necessriamente absolvio. De tudo isto deriva, que
ste primeiro inimigo da credibilidade, o improvvel, no pode
ser causa de graves e perniciosas conseqncias judicirias.
O improvvel no um trmo para as investigaes judicirias;
, ao contrrio, uma transio.
Por outro lado, estes mesmos rros e aquelas razes de rro
que viciam o incrvel, so comuns tambm ao improvvel. in
til, por isso, ocupar-nos disto em especial.
No entanto, porm, necessrio dizer uma palavra a res-
peito do incrvel. O incrvel, s por se apresentar como tal,
fecha as portas na face de tda a afirmao contrria, sustando
tda a investigao judiciria: no pode por isso deixar-nos de
falar dle na crtica criminal.
percepo inexacta do incrvel pode conduzir em rro o
esprito humano por duas vias, quere porque faz julgar incrvel o
que na verdade crvel, quere porque faz julgar crvel o que em
verdade incrvel: h um falso incrvel no primeiro caso, e um
falso crvel no segundo. O falso incrvel conduz a rro o esprito
humano, fazendo-o rejeitar o que est admitido. Surgem contudo
mil provas, fachos radiosos como luz do sol, a revelarem uma
realidade ontolgica, aonde o falso incrvel pe o impossvel e o
nulo; surge porm uma multido, mil vozes vibrantes, a afirmar
como verdadeiro um dado facto; pois bem, o juiz j no cr
nelas, se, julgando aquele dado facto impossvel no mundo da
realidade, o tem como incrvel na sua conscincia. O falso cr-
vel, por sua vez, faz car noutros rros o esprito humano, arras-
tando-o a admitir o que rejeitado. importante, por isso,
determo-nos um pouco ao falarmos do incrvel, que pode enga-
nar a conscincia do juiz, tanto sendo afirmado sem razo, como
no sendo reconhecido com razo.
.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
7
3
A noo geral do incrvel apresenta-se em duas palavras: o
incrvel o oposto da certeza. Quando o esprito humano est
certo de uma verdade, o oposto quela verdade , por isso"
mesmo, ontolgicamente impossvel, e lgicamente incrvel. Como
as trevas so o oposto luz, como o nada o oposto ao ser, como
o falso o oposto verdade, assim tambm o incrvel o oposto
ao certo. Certeza e incredibilidade so, assim, duas faces do mesmo
conhecimento humano, a face positiva e a face negativa. Segue-se
daqui que o incrvel tem uma natureza subjectiva, como a certeza,
e que, segundo a proviso de verdades verificadas que tem o esp-
rito humano, se determina o horizonte para alm do qual comea a
incredibilidade. O incrvel , assim, um estado subjectivo, criado
por outro estado subjectivo que a certeza.
Desta noo, derivam consideraes que no devem ser des-
prezadas. Eis aqui uma primeira. Se o incrvel o oposto ao que
se julga verdade certa, segue-se que, segundo a diversa espcie de
verdade, e o diverso modo em que ela conseguintemente se
apresenta como certa ao esprito se haver uma diversa espcie de
incredibilidade. Ora, julgamos importante, sob ste critrio,.
distinguir duas espcies de incrvel, uma das quais exclui tda a
necessidade de provas, e a que sem provas nada faz.
H verdades patentes por si mesmas em tda a sua com-
preenso, verdades necessrias e de senso comum; e a estas
verdades necessrias so assimiladas as verdades contingentes,
quando percebidas directamente na sua individualidade: o oposto a
estas verdades para o esprito o incrvel patente. Existem
verdades no patentes, verdades contingentes, e no percebidas
directamente; e a estas verdades contingentes vem-se assimilar as
verdades necessrias que no so de senso comum, e que
necessitam ser demonstradas particularmente para serem admi-
tidas: o oposto destas verdades , para o esprito humano, o
incrvel condicional; isto , incrvel se a verdade a que se ope
se torna certa.
O facto de os corpos slidos no poderem penetrar-se e entrar
um para dentro do outro, uma verdade da primeira espcie,
prpriamente uma verdade necessria e de senso-
74 A Lgica das Provas em Matria Criminal
comum. Ora se se diz que Tcio roubou em uma casa fechada,
passando atravs da continuidade dos muros; eis que ste facto
particular asseverado cai no incrvel patente. Para alegar, como
defeza, esta espcie de incredibilidade, no so necessrias pro-
vas, porque a verdade a que se ope ste facto incrvel, est na
conscincia de todos. Poder haver necessidade de tstemunhas
para nos convencermos de que um corpo no pode passar atra-
vs da continuidade de outro?
O alibi afirmado por Tcio para repelir a acusao de ter
pessoalmente consumado um furto, a afirmao apresentada por
Caio, de no saber escrever para repelir a acusao de ter redi-
gido um libelo difamatrio, so verdades contingentes e parti-
culares: podem ser e no ser. Mas quando estas verdades par-
ticulares so admitidas, subordinando-se a uma verdade geral e
no contingente, induzem a incredibilidade do facto contrrio:
subordinando o alibi, como o no saber escrever, ao princpio de
contradio, segundo o qual no se pode admitir que uma coisa
seja e no seja ao mesmo tempo e sob as mesmas relaes,
subordinando aquelas verdades contingentes a um princpio geral
e no contingente, que se induz a incredibilidade do facto con-
trrio. incrvel que Tcio tenha roubado em Npoles, emquanto
estava em Londres; incrvel que Caio tenha escrito um libelo
difamatrio, no sabendo escrever: incredibilidades estas condi-
cionais, pois que so dependentes de verdades relativas: o furto
imputado ao primeiro e o libelo difamatrio imputado ao segundo
vo de encontro a uma condio particular que, subordinada ao
princpio geral, constitui o incrvel condicional. E estas verdades
contingentes, em que se baseiam as condies particulares do
incrvel, necessitam provas, para poderem ser afirmadas. J no
se trata de verdades patentes em tda a sua compreenso, e que, -
como tais, existem na conscincia de todos; trata-se, ao contrrio,
de consolidar em primeiro lugar verdades contingentes e
particulares, que podem ser ou no ser. Assim, no primeiro dos
casos supracitados, para tornar incrvel a acusao da execuo
do furto, necessrio verificar com provas particulares, a per-
manncia de Tcio em Londres ao tempo do furto em Npoles;
A Lgica das Provas em Matria Criminal 76
assim, no segundo dos casos, para tornar incrvel a acusao de ter
escrito o libelo difamatrio, necessrio provar com provas
particnlares o facto de Caio no saber escrever; e em seguida,
naturalmente, subordinando estas duas condies particulares ao
princpio da contradio, tornar-se h incrvel a criminalidade de
Tcio e a de Caio.
Passemos agora a outra considerao, derivada tambm da
noo do incrvel. Dissmos que o incrvel o contrrio da ver-
dade certa; acrescentmos que sempre relativo ao estado dos
nossos conhecimentos: ste acrescentamento faz sentir a neces-
sidade de uma investigao posterior. Admitido que o incrvel
relativo ao estado dos conhecimentos humanos, importante per-
guntar: existem ou no conhecimentos imutveis? Existe, por isso,
ou no existe, um incrvel que permanea e deva permanecer tal
imutvelmente? Por ontros trmos, existe um incrvel absoluto ?
Ns, ao distinguirmos o incrvel em patente e condicional,
colocmo-nos sob o ponto de vista da necessidade, ou no neces-
sidade, das provas: necessria a prova no incrvel condicional,
por isso que le o oposto de uma verdade no notria por si s;
no precisa a prova no incrvel patente, por isso que ste no
mais que o oposto de uma verdade evidente. necessrio agora
proceder a uma outra distino do incrvel, relativamente sua
fra intrnseca. E para o fazer necessrio atender natureza da
ideia geral, cujo contrrio o incrvel.
Dissmos que tambm no caso do incrvel condicional, que
consiste no oposto de uma verdade contingente, existe sempre
uma ideia geral, por meio da qual, subovdinando-lhe a condio
particular verificada, se obtem o incrvel. Ora pondo de parte a
considerao da existncia, ou no existncia, de uma condio
contingente, dirijamos a nossa ateno simplesmente para a natu-
reza da ideia geral, de que nasce o incrvel: pela considerao
daquela ideia geral que poderemos ver se existe, ou no existe, um
incrvel imutvel.
conveniente no entanto comear por observar que, quando,
para ver se h ou no um incrvel absoluto, se empreende o
76 A Lgica das Provas em Matria Criminal
estudo das vrias espcies de verdades, que podem ser o con-
tedo da ideia geral presente nossa mente, cujo oposto para
ns incrvel, necessario proceder a esta investigao, levando
nicamente em conta as verdades que teem o consenso universal.
Se existe um incrvel absoluto que tenha o direito de se apre-
sentar como tal conscincia, s pode encontrar-se no oposto de
verdades geralmente consentidas; porquanto desde que uma ver-
dade admitida por uns e negada por outros, o seu oposto ser
incrvel para uns, e crvel para outros, e os primeiros podero
ser vencidos pelas razes dos segundos e passar, naturalmente, a
tomar como crvel o que primeiro tinham por no crvel. O incr-
vel absoluto, se o h, que se apresente como tal conscincia
humana, s pode consistir, repetimo-lo, no oposto de verdades
geralmente aceitas. Psto isto, duas categorias de verdades h,
bem distintas, que teem o consenso geral da humanidade.
A humanidade, em primeiro lugar, percebe dois modos de
ser constantes e nunca mudveis das coisas e dos homens, e
induz dles leis naturais. Estas leis so verdades geralmente
aceitas, sempre que se referem a factos de observao comum;
mas no sendo estas leis para ns seno ideias experimentais,
resultantes da soma das observaes particulares, segue-se que,
apenas se nos apresenta uma observao de espcie diversa, a lei
muda lgicamente: estas verdades no so assim necessriamente
imutveis. A assero da existncia de um homem da altura de
dez metros incrvel, por que a soma das observaes particula-
res leva a tomar como lei natural, nunca mudada, a altura
humana inferior a dez metros. Mas nada de intrnseco se ope a
crr que amanh se descubra uma raa de gigantes em uma ilha
perdida no Oceano, onde os homens tenham, todos, mais de dez
metros de altura. Qual seria a consequncia? Que a lei mudaria,
e o incrvel desapareceria por sua vez. ste incrvel no pois
imutvel: um incrvel relativo ao estado dos conhecimentos.
Outra categoria de verdades h que so evidentemente imutveis
por um princpio de razo. So as verdades apodcticas da
conscincia; e o contrrio delas sempre absolutamente incrvel.
Poder por ventura mudar-se alguma vez a verdade do que os
A Lgica das Provas em Matria Criminal 77
lgicos chamam princpio de contradio? No; h-de ser sempre
verdade a impossibilidade de uma coisa ser e no ser ao mesmo
tempo e sob as mesmas relaes; e o contrrio dste princpio
nunca deixar de ser incrvel. Suponhamos mesmo que uma
simples verdade de facto, uma verdade contingente mas
verificada, se acha subordinada a um princpio necessrio, como o
de contradio; e o contrrio daquela verdade de facto, que
emquanto a si mesma contingente, ser sempre, para todos e em
tda a parte, considerado como incrvel. Suponhamos que Tcio
acusado da morte de Caio, efectuada em um dado lugar e em uma
dada poca, e suponhamos que se prova que Tcio naquela ocasio
estava em outro lugar: a presena de Tcio no local do crime, que
o contrrio daquela verdade contingente, mas verificada, que
consiste na presena contempornea de Tcio em um lugar
diverso, ser sempre e em tda a parte incrvel. Nunca poder
acreditar-se em parte alguma do mundo que, quem est em um
lugar, possa estar contemporneamente em outro, pela fra
necessria e imutvel do princpio de contradio.
Se existe pois um incrvel que pode deixar de ser assim,
devido a uma mudana de estado dos conhecimentos, deve existir
tambm um incrvel sempre e por tda a parte necessriamente
incrvel.
Das noes acima expostas, resulta pois que pode ser, quanto
ao seu valor intrnseco, absoluto ou relativo, tanto o incrvel, que
chamamos patente, como o que chamamos condicional sob o
ponto de vista da necessidade de provas. absoluta e patente-
mente incrvel que uma coisa seja e no seja ao mesmo tempo e
sob o mesmo respeito; incrvel patentemente, mas relativamente,
a existncia de um homem da altura de dez metros. incrvel
condicionalmente, mas absolutamente, que Tcio tenha cometido
um crime em Npoles ao mesmo tempo em que se achava em
Roma; incrvel condicional e relativamente que Tcio tenha
cometido um crime na Itlia, estando, dois dias antes daquele
crime, na Amrica.
Julgamos agora oportuno passar considerao dos rros em
que se pode car a propsito do incrvel. Indicamos prece-
78 A Lgica das Provas em Matria Criminal
dentemente, a propsito de incrvel, como por duas vias pode
ser insidiada a conscincia do juiz. conveniente voltar a tratar
destas consideraes.
Em primeiro lugar, derivando o incrvel do estado doe
conhecimentos, segue-se que uma deficincia de conhecimentos
pode, levar a reputar como incrvel o que, na realidade das coi-
sas, crvel; e esta espcie de rro, que leva negao de
factos verdadeiros, a primeira das vias porque pode ser insi-
diada a conscincia do jniz.
Em segundo lugar, o incrvel, por razes inerentes ao seu
contedo especial em relao s paixes humanas, exerce por
vezes uma tal fascinao sbre a conscincia, que a induz a
reput-lo crvel; e factos, que deveriam rejeitar-se pela sua
incredibilidade, so ento aceitos como crveis. Esta espcie de
engano, que arrasta a afirmar factos falsos, a segunda via
pela qual pode ser insidiada a conscincia do juiz. I
Examinemos particularmente cada uma destas espcies de rro.
A possibilidade do primeiro rro que leva negao de
factos verdadeiros, por pretensa incredibilidade, aparece clara-
mente logo que se atenda a que o incrvel tem uma natureza
subjectiva, e sempre relativo ao estado dos nossos conhecimen-
tos. esta natureza subjectiva que necessrio nunca esquecer,
para se estar em guarda contra as insdias possveis do incrvel
sbre o esprito humano. Por vezes, aquilo que parece uma verdade
verificada pela conscincia, no seno um rro; e ento o incrvel
que da deriva, no seno ignorncia. Suponhamos que das
excavaes feitas em uma cidade sepultada, das excavaes de
Herculano e de Pompeia, se extrai vivo e meditando um sbio
dos velhos tempos: suponhamos que o pobre Plnio, o velho, que
amou a scincia at sacrificar-lhe a vida, desenterrado, e se
encontra vivo, vencedor duas vezes milenrio da morte. Pois
bem, quem lhe narrasse ter atravessado o Oceano, sem fra de
velas nem de remos; quem lhe narrasse ter um amigo residente
em outra parte distante do mundo, v-lo-ia sorrir desdenhosa-
mente de incredulidade, exclamando: incrvel. E o sorriso des-
denhoso do velho sbio seria simplesmente ignorncia.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
7
9
Quanto menor o nmero das verdades que o homem possui,
tanto maior o nmero dos seus rros; rros que toma por
verdades verificadas, de que deduz, por isso, falsas incredibilida-
des. A ignorncia de tdas as leis da natureza conduz a dar s leis
que se conhecem um contedo mais amplo que o verdadeiro; isto
, conduz afirmao de leis falsas, que origiuam falsas
incredibilidades. Eis porque, medida que a humanidade segue a
sua marcha, o falso incrvel diminui: que a humanidade,
avanando no nmero de anos, avana tambm nos conhecimen-
tos. O pensamento humano fz sempre novas conquistas: explo-
rador formidvel, avana sempre mais atravs das regies inex-
ploradas; e medida que avana, o ignoto retrocede diante dle, e
o campo do incrvel, do incrvel originado pela ignorncia, tor-na-
se cada vez mais apertado.
A criana toma como ltimos confins do mundo o cume da
montanha que v ao longe envolta pelas nuvens da porta de sua
casa; e medida que avana em idade descobre que por trs
daquela montanha outros mundos existem, outras terras e outros
mares. ste alarga-se do horizonte, que se d na vida individual do
homem, verifica-se tambm como lei na vida da humanidade: as
ideias conquistadas por uma gerao iluminam o caminho s
geraes que se lhe seguem; os corolrios do sculo que morre
tornam-se postulados para o sculo que nasce. V-se daqui que o
que parece falsamente incrvel ignorncia de uma gerao, pode
exactamente revelar-se crvel aos conhecimentos da gerao que
lhes sucede, igualmente ao que se verifica quanto aos diversos
perodos da vida de uma mesma gerao, ou de um mesmo indi-
vduo, para a adquisio de um novo conhecimento.
Quem que no se recorda de ter ouvido na sua infncia
contar feitos estranhos e maravilhosos de mgicos e feiticeiros ?
stes contos povoaram ento de espectros as nossas noites de
criana, aqueles contos que faziam rir de incredulidade os nossos
velhos; aquelas histrias, cuja lembrana tambm nos faz depois,
na nossa primeira juventude, sorrir de incredulidade. E no entanto
senhores, em mil daquelas histrias fantsticas, trror das crianas
e das amas, se ao nome de Mgico, substituirdes
80
A Lgica das Provas em Matria Criminal
hoje o de hipnotizador, se s pobres vtimas daqueles poderes
misteriosos, deres boje o nome de nevropatas, j no vos encon-
trareis em face do incrvel. As fantsticas fbulas podem encontrar
o apoio de documentos humanos, nem mais nem menos do que as
narrativas de um realista moderno. Para nos convencermos basta
ler as experincias feitas em nossos dias na Salp-trire sob os
olhos do grande Charcot, e com o mtodo da hipnotizao pela
simples fixao de ura objecto resplandecente. So experincias
maravilhosas que fazem vir aos lbios as solenes palavras de
Hamlet:
In cielo e in terra,
Vha di ta cose, Orazio, che la nostra
Filosofia non ha sognate msi !
Com Charcot, o hipnotismo sau do reino da fbula e da
superstio, para evitar triunfantemente no da histria e da
scincia; pois que Ale, o grande neuro-patologista morto h pouco,
determinou, com a observao doa fenmenos nevro-mus-culares, as
notas fisiolgicas do que le classifica como estados fundamentais
do hipnotismo: letargia, catalepsia, sonambulismo. A simulao j
no assim possvel, e a fbula mnda-se em histria: o que se
tinha como incrvel revelou-se crvei. Se a princpio o juiz penal
ouvindo afirmar certos factos anormais, de natureza hipntica, no
os admitindo mesmo prova, os rejeitava sem mais com uma
simples palavra: incrvel; agora, sentir a necessidade de proceder
cautelosamente, admitindo-os prova, e reservando-se nicamente
a faculdade de no admitir os factos, no por serem incrveis, mas
por no serem verdadeiros.
Concluindo: para evitar as insdias do falso incrvel sbre a
conscincia do juiz, no h a aconselhar-lhe seno ponderao e
uma modesta prudncia no seu juzo. O juiz que no se sente
suficientemente esclarecido quanto ao conhecimento de uma ma-
tria, no deve, sentando-se presumidamente na ctedra, julgar
levianamente. Que consulte os peritos sbre a matria contro-
vertida, e com o esprito desapaixonado e serno, que se esclarea
A Lgica das Provas em Matria Criminal 81
por meio das suas respostas. E se em seguida a isto, e no obstante
isto, devido a uma certa imperfeio, sempre inerente aos nossos
conhecimentos, vem a car em rro ste rro, no ser imputvel a
ningum: ser a conseqncia fatal da imperfeio humana.
Passemos agora a falar da segunda espcie de rro; do rro
que leva o admitir, como verdadeiros, factos que seriam rejeitados
como incrveis. Tda a histria est cheia dstes rros de
humanidade.
Se a ignorncia que torna possveis stes rros da huma-
nidade, porm sempre nas paixes que se criam as causas im-
pulsivas dles: o que impele os homens a acreditar no incrvel
sempre a paixo humana na sua dupla determinao de amor e de
dio, de desejo do bem, que se resolve no til, e de mdo do mal,
O desejo do bem explica-se umas vezes na forma positiva do
simples apetecer de um bem que se no goza, outras resolve-se na
forma negativa de querer afastar um mal que se sofre, ou que se
deve sofrer. Querer poder, um provrbio bom para manter os
esforos da perseverana; mas, na realidade, devido imperfeio
humana, so bem dbeis as nossas fras para a adquisio dos
bens que no possumos, so bem dbeis os nossos esforos para o
afastamento dos males que nos afligem! E o esprito humano,
sentindo a sua impotncia, e sentindo no entanto forte o seu desejo
do bem, vai ansioso procurar um poder superior que o ajude a
alcanar o bem e a afastar o mal. E ste desejo ansioso da procura,
torna-o propenso a acreditar na influncia de poderes misteriosos e
auxiliadores.
Assim, pois que quod volumus facile credimus, se explica a
f prestada em todos os tempos aos vaticnios pelos antigos,
orculos solenes da pitonisa no seu templo, s modernas e infantis
adivinhaes da cigana vagabunda; s respostas dos augures, dos
auspices e dos arspices entre os Romanos, aos horoscpios
medievais da astrologia judiciria, scincias loucas que no dcimo
terceiro e no dcimo quarto sculo chegaram a ter cadeiras e
professores em duas cidades clebres da Itlia; s consultas
a
82 A Lgica das Provas em Matria Criminal
dos falsos videntes da antiguidade, s consultas espiritistas dos
mdiums dos nossos dias. Quo til seria conhecer o futuro,
para alcanar o bem e afastar o mal! e eis, por diversas formas,
ao servio da humanidade uma pretendida scincia divinatria,
e em vista da qual o esprito humano experimenta, quando no
creia nela, qusi que um ntimo desalento. -
O conhecimento do futuro coloca o homem em condies de
se prevenir contra os males, e encaminhar-se para o bem, na
medida das suas fras. Mas seria bem melhor para os destino
humanos, que os poderes ocultos interviessem directamente, no
s para nos revelar simplesmente os males e os bens, mas para
combater uns e fazer-nos conquistar os outros. E assim que,
como sempre, pela mesma razo, pois que quod volumus facile
credimus, se explica a inclinao que a humanidade teve sem-
pre para dar f a fras misteriosas, capazes de nos fazerem
alcanar a felicidade, e afastar os males da vida, as doenas, at
a morte. Do elixir de longa vida, sonho de perptua juventude e
de imortalidade, do conde de Cagliostro, aos remdios secretos e
s panaceias misteriosas de algum charlato obscuro dos nossos-
dias; da antiga f nos talismans e nos amuletos, com figuras e
palavras misteriosas, at aos vulgares cominhos de nossos dias
contra a jettatura: uma contnua cadeia de credulidade
humana, de que cada anel um desejo de felicidade. Seria assim
til ao homem ter um aliado misterioso para se defender doa
males, e para frar os bens a serem nossos! E eis aqui uma
pretendida scincia taumatrgica, em virtude da qual, no acre-
ditando nela, o esprito humano experimenta uma secreta e inex-
primvel sensao de amargura!
O desejo do bem, pois, na sua dupla forma, positiva e nega-
tiva, torna-nos propensos a crr em poderes misteriosos que o
prometem, e conseguintemente em factos incrveis que so a sua
conseqncia.
Mas, como dissmos, outro estmulo, para acreditar em
factos incrveis nos vem do mdo do mal como mal, do mdo
que pertnrba as faculdades mentais, e no permite mais uma
serna apreciao. Atendei bem que eu falo de mdo, e no de.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 83
temor: ste nasce da percepo serna do esprito, e raciocinado,
e no equilbrio espiritual, que no se perdeu, converte-se em
desejo do bem; aquele irracionado e instinctivo; e converte-se
apenas em perturbao intelectual. O homem, por vezes, sentindo-
se fatalmente predestinado a graves males, sentindo-se desarmado
em face dles, presa de uma agitao de esprito em
consequncia da qual se julga alvejado por um poder misterioso e
malfico. O terror da peste, em Milo, faz ver, aos espritos do
dcimo terceiro sculo, a causa de todo o mal em um liquido
espargido sbre os homens e sbre as coisas: faz acreditar nos
untori. O terror da clera, nos nossos dias, fz crer em pequenas
garrafas malficas cujo contedo, dado a beber pelos mdicos,
propagava o mal. Os ignorantes do nosso sculo, e os do dcimo
terceiro sculo, encontraram o seu rro fantstico numa fonte
comum: o mdo irracional do mal.
Sempre, e em tda a parte, o bem com as suas fascinaes, o
mal com os seus mdos, actuando violentamente sbre s esprito
humano, teem feito crer entre os homens em um poder irracional,
misteriosamente malfico e em um poder irracional
misteriosamente benfico, um Ormusd e um Arimane, em virtude
do qual o incrvel se torna crvel.
Dever, por isso, quem julga, estar prevenido, no s contra
aquela primeira espcie de rro, que leva a rejeitar como incrveis
factos que na verdade so crveis, mas tambm contra esta espcie
de engano, que leva a admitir, como crveis, factos incrveis. E
conseguintemente dever le, com esprito serno, unicamente
sequioso de verdade, colocar-se fora e acima daquelas correntes
apaixonadas de ideias, e daqueles ambientes viciados, que so
motivados na multido tanto pelas fascinaes irracionais do bem,
como pelos mdos irracionais do mal.
SEGUNDA PARTE
Da prova em geral
CAPITULO I
Prova e regras genricas probatrias
A prova pode considerar-se sob um dplice aspecto: pode
considera-se quanto sua natureza e sua produo, e quanto
ao efeito que produz sbre o esprito daqueles perante quem
produzida. Sob ste segundo aspecto resolve-se na certeza, na
probabilidade e na credibilidade, assuntos tratados na parte geral
precedente, sob o primeiro aspecto, isto , o da sua
natureza e da sua produo, que ns consideraremos a prova
em todo o resto dste livro, comeando aqui por consider-la em
geral, para passar depois a consider-la nas especialidades deri-
vadas do sujeito, do objecto e da forma que a prova pode ter.
Como as faculdades perceptivas so a fonte subjectiva da
certeza, as provas so por isso o modo de apreciao da fonte
objectiva, que a verdade. A prova , portanto, sob ste aspecto,
o meio objectivo por que a verdade chega ao nosso esprito; e
como o esprito pode, relativamente a um objecto, chegar por
meio das provas tanto simples credibilidade, como probabi-
lidade e certeza, existiro assim provas de credibilidade, pro-
vas de probabilidade e provas de certeza. A prova, em geral,
portanto a relao concreta entre a verdade e o esprito humano
nas suas determinaes especiais de credibilidade, de probabili-
dade e de certeza.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 85
necessrio, porm, observar que na crtica criminal no se
fala do facto seno como realidade verificada. Ora, aquelas pro-
vas que chamamos de credibilidade no so prpriamente provas
quanto ao facto real, mas quanto a uma ideia. Quando o nosso
esprito, relativamente a um dado facto, chega a ter uma ideia da
sua simples possibilidade, acha-se num estado especial que
constitudo pela igualdade de motivos para crr e para no crr
nle; com a ideia da simples possibilidade de um facto, no se tem
razo alguma preponderante para crr na sua realidade. Ora,
visando-se em juzo criminal a estabelecer a realidade dos factos,
s so prpriamente provas as que induzem no nosso esprito uma
preponderncia de razes afirmativas para crr em tais realidades; e
conseguintemente s so prpriamente provas as da probabilidade,
que a simples preponderncia maior ou menor das razes
afirmativas sbre as negativas, e as da certeza, que o triunfo das
razes afirmativas para crr na realidade do facto.
necessrio observar tambm que o fim supremo do pro-
cesso judicirio penal a verificao do delito, na sua individua-
lidade subjectiva e objectiva. Todo o procedimento penal, no que
respeita ao conjunto das provas, s tem importncia sbre o ponto
de vista da certeza, alcanada ou no, relativamente ao delito;
porquanto todo o juzo s pode resolver-se em uma condenao, ou
em uma absolvio, e precisamente a conquista da certeza do
crime que legitima a condenao, assim como a dvida, ou, por
outras palavras, a no conquista da certeza do delito, que obriga
absolvio. O objecto principal da crtica criminal consiste por isso
em indagar como que da prova pode legitimamente nascer a
certeza do delito; o objecto principal das suas investigaes , por
outros trmos, o estudo das provas da certeza.
No s por ste facto que as provas de probabilidade
devem banir-se do processo criminal; elas, alm de servirem para
a legitimao da potestas inquirendi, podem mais servir, no seu
conjunto, para constituir uma prova cumulativa de certeza, capaz
de legitimar a condenao por parte da potestas judicandi. Mas
disto mesmo deriva que as provas de probabilidade, como
86 A Lgica das Provas em Matria Criminal
tais, s so consideradas quando capazes de constiturem uma
prova cumulativa de certeza; e por isso sempre verdade que o
objecto principal das investigaes da crtica criminal o exame
das provas da certeza.
E aqui no se pode passar adiante sem esclarecer como
que as provas de probabilidade podem, acumuladas de certa
forma, converter-se em provas de certeza, e conseguintemente
em que sentido as provas de probabilidade, apresentando-se como
elementos da prova que chamamos prova cumulativa de cer-
teza, podem autorizar legitimamente a condenao. Para escla-
recer isto, ocorre lembrar a noo do provvel. O provvel,
como dissemos em lugar prprio, tem por sua natureza motivos
convergentes afirmao, e motivos divergentes dela. Admita-
mos, pois, que exista uma prova de probabilidade: existiro nela
motivos convergentes e divergentes. Mas se a esta primeira
prova de probabilidade juntarmos outra prova excluindo os moti-
vos divergentes, eis que resultar da uma prova cumulativa de
certeza. Por amor da preciso e da clareza, mesmo sob pena de
sermos acusados de pedantismo, exemplifiquemos prticamente;
e refiramo-nos prpriamente ao exemplo exposto, anteriormente a
propsito de probabilidade. Tnhamos suposto que em uma urna
estavam cem esferas: noventa e oito pretas e duas brancas. Supo-
nheroos agora o caso de Tcio ter extrado uma esfera daquela
urna, sem que se possa saber por meio directo se ela preta se
branca: depois da extraco, a urna foi despejada sbre a gua de
um ribeiro, deixando cair a, sem as ver, as esferas nela contidas.
Quer-se saber com certeza se foi branca ou negra a esfera tirada.
A prova da certeza de se conterem na uroa noventa e oito
esferas pretas e duas brancas, ser uma prova de probabilidade
grandssima da extraco de uma esfera preta. Suponhemos
agora que a esta prova de probabilidade de extraco da esfera
preta se vem juntar outra prova de certeza de se conterem na
urna, posteriormente extraco, duas esferas brancas, porque,
suponhemos, banhadas de uma substncia viscosa, se colaram s
paredes da urna. Eis que pela excluso dos motivos divergentes,
chegamos a uma prova cumulativa de certeza. Ns queramos,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 87
bom precisar isto, verificar se a extraco foi de ama esfera branca
ou preta. A prova de certeza de se conterem na urna noventa e oito
esferas pretas e duas brancas, simplesmente uma prova de
probabilidade da extraco de uma esfera preta.
Conseguinteraente, para a verificao da extraco, no temos at
aqui seno uma prova de probabilidade. A prova de certeza da
aderncia das duas esferas brancas urna, por si s, relativamente
extraco que queremos verificar, no prova de espcie alguma,
nem de certeza, nem de probabilidade. Mas esta segunda prova, esta
prova de certeza da aderncia das duas esferas brancas, excluindo
os motivos divergentes apresentados pela primeira prova, pela
prova de probabilidade da extraco de uma esfera preta, d-nos
como resultado uma prova cumulativa de certeza da extraco de
uma esfera preta. Tal prova de certeza por isso rigorosamente
incontestvel, no caso rarssimo de existir, como no nosso
exemplo, determinao numrica e incontrovertvel dos motivos
convergentes e divergentes; s ento que, excluindo os motivos
divergentes, se devem necessriamente admitir os motivos
convergentes, e a prova de probabilidade resolve-se, pela
acumulao das outras provas, em prova absoluta de certeza.
fim concluso, portanto, as provas de probabilidade, com-
quanto no possam servir de base a uma sentena condenatria,
no so contudo banidas do juzo penal. Mas, atendendo a que o
estudo das provas em crtica criminal tem em vista estabelecer se
elas so capazes, ou no, de produzir a certeza do delito, por isso
que esta certeza que serve de base condenao, como a falta de
certeza serve de base absolvio; tomando isto em conta, segue-
se que o estudo, o prprio estudo das provas de probabilidade em
juzo penal, s tem importncia quando as revela capazes ou
incapazes de produzir a certeza, capazes no seu conjunto,
incapazes individualmente. E por isso, voltando ao que dizamos,
fica sempre como verdadeiro que, sendo o objecto principal da
crtica criminal indagar a forma como da prova nasce, ou no
nasce, a certeza do delito, o seu objecto principal o estudo das
provas de certeza.
88 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Psto isto, podem os considerar a prova referindo-nos prin-
cipalmente certeza, que a oica base legtima da condena
o judicial; e considerando-a assim, a prova a relao con
creta entre a verdade objectiva e a sua certeza subjectiva.
E como a certeza encontra a sua perfeio na convico racional,
que se resolve na conscincia da certeza sentida e segura, por
isso, em concluso, pode dizer-se que a prova a relao parti
cular e concreta entre a verdade e o convencimento racional.
evidente, portanto, que a relao entre o esprito convicto e a
verdade se individualiza na prova intermdia.
I Abro aqui um parntesis. Ns falamos da prova como sendo
uma coisa sempre diversa da verdado que procuramos. Como
pode ser isso? No h verdades que se revelam por si mesmas?
E da realidade criminosa, que se revela na sua forma imediata
ao esprito do julgador, no se fala talvez em critica criminal,
como uma espcie de prova? E pois um rro da crtica criminal
falar-se de prova, quando a prpria verdade, sem intermedi-
rios, que se apresenta ao esprito que a rocolhe? A verdade per-
cebida directamente , ou no , prova? Em crtica criminal,
considerando tdas as vias pelas quais a verdade pode chegar
ao esprito, tdas estas vias compreendem-se no nome gen-rico
das provas, incluindo-se nela tambm imprpriamente o caso de a
prpria verdade se apresentar directamente percepo do juiz.
E ns tambm, no seguimento dste tratado, entre as outras
provas falaremos tambm daquela espcie de prova que consiste
na prpria verdade procurada, que se apresenta directamente ao
esprito. Mas, para nos justificarmos, a ns e aos ontros,
necessrio observar que a verdade investigada, que em juzo penal
a do facto criminoso, revelando-se ordinriamente em via
imediata e directa smente em parte: se esta parte, emquanto a
si mesma, mais que prova em sentido prprio, a prpria
evidncia da verdade, pois, quanto s outras partes da verdade,
no percebidas em si mesmas, uma verdadeira prova. E uma
parte da verdade investigada que, emquanto se apresenta
imediatamente percepo relativamente a si mesma, serve por
vezes para provar as outras partes da verdade que se quere veri-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 89
ficar: eis em que consiste a exacta especializao e a justificao
daquela prova directa que ns chamamos real relativamente ao
sujeito, e material quanto forma. Fica, em todo o caso,
estabelecido que scientificamente a evidncia no prova, e no
rigor lgico quando se fala da prova, ela considera-se como sendo
diversa do facto provado. E, dito isto, sigamos no nosso caminho.
A prova, dissemos ns, , em concluso, a relao particular
e concreta entre o convencimento e a verdade. Ora visto que a
natureza de tda a relao determinada pela natureza de seus
trmos, por isso na considerao dos dois trmos daquela
relao, que se chama prova, na considerao da verdade
objectiva e da convico subjectiva, que ns encontramos os
princpios supremos da prova em geral.
Principiemos pela considerao do trmo objectivo da prova:
o convencimento.
I
Ao determinarmos a noo de convencimento jmdicial, dis-
semos em primeiro lugar que le no pode graduar-se como a
certeza. Deriva da que as provas, sem mais nada, ou geram o
convencimento, e teem a eficcia e a verdadeira natnreza da
prova, ou no chegam a produzir o convencimento, e no mere-
cem o nome de provas, no tendo a eficcia, nem a verdadeira
natureza persuasiva delas. Deve por isso rejeitar-se, relativamente
certeza, a graduao ilgica da prova em plena e no plena;
deve rejeitar-se porque, como a convico no plena no con-
vico, a prova no plena no por isso prova. Nem a autoridade
dos grandes nomes tem valor para abalar a f na lgica.
As grandes intelectualidades tambm se deixam arrastar a.
defeza de afirmaes errnias; e isto, muitas vezes, por um rro
primordial aceito sem ser a benefcio de inventrio. a altivez e a
nobreza da natnreza do homem, mesmo nos seus rros: aceita uma
premissa, a razo, nobre privilgio do homem, a razo
90 A Lgica das Provas em Matria Criminal
arrasta-a as suas conseqncias; a evoluo indefinida dos
conhecimentos humanos: evoluo progressiva de verdades, se
se desenvolve segundo premissas verdadeiras; evoluo regressiva
de rros, se se desenvolve segundo premissas falsas. Para falar
simplesmente da questo de que nos ocupamos aqui, trmos
admitido que existe uma relao de mais ou de menos entre as
vrias espcies de certeza, levou lgicamente conseqncia de
ser determinvel tambm um mais e um menos em cada espcie,
considerada era si mesma. a mensurabilidade que torna deter-
minvel o mais e o menos; ora cada uma das espcies de certeza
no pode ser mensurvel entre as outras quando o no seja em
si mesma; e portanto conclu a lgica, que a certeza, sendo
mensuravel em si mesma, susceptvel da graduao. A graduabi-
lidade da certeza conduz pois, por sua vez, graduabilidade das
provas. Da as fantsticas determinaes de prova plena, semi--
plena, semi-plena maior, semi-plena menor; os estranhos fraccio-
namentos das metades, dos quartos e dos oitavos de prova.
Mas felizmente, podemos poupar-nos fadiga dstes traba-
lhos aritmticos de fraces: a prova no nem pode ser seno
um inteiro. Em matria de certeza, repetimo-lo, no existe meio
trmo: tem-se a certeza ou ns se tem. A lgica no admite frac-
es de certeza; a meia certeza uma antinomia nos trmos,
perdovel na retrica do vulgo, mas que no deve ter cabimento
na linguagem severa da scincia. E como no existem fraces
de certeza, fraces de prova no podem existir: ou a prova no
chega a produzir no esprito a certeza judicial, e no prova de
certeza de modo algum, ou chega a produzir esta certeza, e
prova plena de certeza relativamente ao objecto provado.
E atendei a que no foi por acaso que nomeei o objecto
provado, pois que sempre e nicamente em relao a le que
deve atender-se eficcia da preva de dar a certeza: uma prova
que chega a dar a certeza de um elemento criminoso, no
julgada na sua eficcia probatria seno relativamente a sse
elemento, e no relativamente aos outros elementos de que se
compe o facto criminoso, aos quais ela se no refere. rro vul-
gar, e no raro, o de atender fra da prova de produzir a
A Lgica das Provas em Matria Criminal 91
certeza, relativamente quilo a que ela no destinada a provar:
no podendo desta forma existir nma prova boa para afirmar tndo
o que provvel, no possvel existir prova plena; tda a prova
ser incompleta relativamente ao que no prova e qne se desejaria
ver provado. nma aberrao bem estranha da lgica querer medir
a fra de uma prova, levando em conta aquilo a que a prova se
no refere. Repitamo-lo, a eficcia da prova de dar a certeza
sempre considerada em relao ao objecto provado.
Mas h uma outra premissa falsa que tem feito acreditar a
graduao das provas. Muitos partiram da afirmao, j por ns
combatida, de qne a certeza em matria criminal no seno
probabilidade; e esta confuso entre certeza e probabilidade
extraviou-os por isso, naturalmente, no exame dste objecto.
Dissemos qne, contrriamente certeza, a probabilidade
admite um roais e um menos, se bem que no determinveis por
limites bem marcados. Dissemos, com relao a estas ideias,
existir o verosmil que vem ser a mnima probabilidade; o
provvel em sentido especfico, que a probabilidade mdia; e o
probabilissimo que a probabilidade mxima. Em ordem a esta
graduao das probabilidades, podem as provas dividir-se em
provas de verosmil, do provvel e do probabilissimo. Ora, que
rendo adoptar esta linguagem, que substncialmente errnia
quando dela se usa a propsito da certeza, pode considerar-se
como prova plena a da maior probabilidade, e chamar-se h por
isso, sempre com a mesma linguagem, prova semi-plena, a da
probabilidade mdia, e semi-plena menor a do verosmil. Esta
graduao que j no seria substancialmente ilgica falando-se
do provvel, ter sempre, porm, aquela indeterminao quo ns
demonstramos existir na graduao do provvel; e esta indeter
minao, natural nesse objecto, ser depois aumentada pela ine-
xactido das palavras, com a adopo da nomenclatura de prova
plena e semi-plena; porquanto a prova de probabilidade nunca
pode ser verdadeiramente plena.
De tda a forma, a probabilidade no certeza, e se falando
de probabilidade se pode admitir uma graduao de prova, ela
absolutamente rejeitada quando se fala de certeza.
92 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Relativamente s provas prpriamente de probabilidade,
podem pois considerar-se graduveis, mas no deve esquecer-se
que elas no podem servir de base a uma afirmao de crimina-
lidade seno quando se apresentam como elementos de uma
prova cumulativa de certeza. Segue-se daqui, que quando se fala
de uma afirmao de criminalidade supem-se sempre provas,
individual ou cumulativamente, de certeza; e, no existindo
provas semi-plenas de certeza, segue-se tambm que sem prova
plena nunca se pode, em concluso, pronunciar uma condenao.
E no se creia que sejam estas questes puramente acad-
micas. As meias provas. que so condenadas em nome da lgica,
condena-as a histria em nome da justia. A histria diz-nos
que, admitindo as fraces de certeza e as fraces da prova da
certeza, tdas estas fraces um belo dia se colocaram compla-
centemente ao servio da imbecilidade e da ferocidade humana;
e julgava-se legtimo esmagar um acusado sob o pso de fraces
de prova, pela imputao de delitos que o pedantismo cruel
chamou privilegiados. Triste privilgio, na verdade: o privilgio
que a estultcia humana concedia barbaridade; o de punir um
inocente, como se fsse um ru.
Depois de terem esfarrapado a lgica, a ponto de sbressal-
tarem at a sombra do pobre Aristteles no outro mundo, eis o
estranho epifonema a que chegaram os antigos criminalistas: in
atrocissimis leviores conjecturae sufficiunt, et licet judici jura
transgredi. E no pensavam os pregoeiros desta mxima, que as
criminalidades mais atrozes so as menos crveis, devido aos
obstculos maiores que encontram, quer na repugnncia natural
do homem, quer no temor da pena judicial e no da pena social,
que consista na reprovao pblica. No pensavam nisto; e para
se verificarem os crimes mais improvveis, julgavam bem con-
tentar-se com as provas menores!
1
1
Mrio Pagano observa que o argumento da menor credibilidade do
delito derivar da sua maior atrocidade, um sofisma, quando o delito se
acha objectivamente verificado. Por esta forma de raciocinar nunca existiria
a presuno da inocncia, a no ser em face de crimes objectivamente incer-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 93
Nem mesmo os antigos criminalistas pararam aqui: no
limitaram nicamente aos delitos atrozes o triunfo da meia certeza
e das meias provas. Proclamavam tambm um outro aforismo,
anlogo ao primeiro: para os delitos de prova difcil, so
suficientes as provas no plenas. E no atendiam, os qne afirma-
vam ste outro aforismo, a qne os verdadeiros delitos de prova
difcil so tais, no s relativamente ao delinqente, mas tambm
relativamente ao delito objectivamente considerado. Ora, a socie-
dade s tem o direito de punir quando o delito tenha perturbado a
tranquilidade social: a pena deve assegurar aquela tranqilidade,
tirando aos perversos a coragem para deliuquir, e animando, assim,
os bons no gzo pacfico dos seus direitos. Mas a sociedade s se
sente legitimamente perturbada na sua tranqilidade com a certeza
do delito: e quando um delito, mesmo porqne de prova difcil,
no se conseguiu verifar, a sociedade no tem direito de punir. A
pena deve reprimir a perturbao que nasce do delito certo,
atingindo o delinqente certo, e no deve, tomando em conta a
perturbao fantstica que pode nascer da suposio do delito,
atingir um delinqente suposto. Infligir a pena a um delinqente
suposto, infligi-la a um ino-
toa. Mas isto um rro. Quando se fala da menor credibilidade do delito,
derivando-a da sua maior atrocidade, j se no fala de credibilidade mnor do
facto objectivo da criminalidade, qne poderia ser inelnctvelmente certo;
mas fala-se da sua imputao a um cidado qne, normalmente, considerado
no delinqente. A presuno de inocncia refere-se ao sujeito da imputao,
e no ao facto objectivo da criminalidade, e por isso essa presuno j no
inclui a incerteza do delito: mesmo que o crime seja certssimo objectiva-
mente, o cidado dle acusado defendido pela presuno de inocncia,
emquanto no fr vencido pelas provas da sua criminalidade. Ora, sob ste
ponto de vista, que o verdadeiro, a presuno de inocncia tanto mais
forte, e por isso tanto menos crvel a criminalidade, quanto mais atroz o
delito; porquanto se o homem no comete ordinriamente crimes, no
comete ordinarssimamente os crimes atrocssimos. E por isso, se da atroci-
dade do delito se devesse deduzir uma diferena nas provas necesrias para o
imputar a um homem, dever-se iam exigir maiores provas, em vez de meno-
res, para os crimes mais atrozes.
94 A Lgica das Provas em Matrta Criminal
cente possvel; uma perturbao da conscincia social superior
produzida pelo prprio delito.
I Mas a lgica das barbaridades no atendia a tudo isto, e
chegava at a deixar-se levar por um mpeto de clera, que
tomava ares de santa, contra os que combatiam as suas mxi-
mas. Com delinqentes da peor espcie, dizia ela, como os
autores dos crimes mais atrozes; com delinqentes que jogam
com a impunidade, como so os autores de crimes difceis de
provar, no necessrio usar de tantas cautelas: peor pala eles,
que caram em semelhantes crimes.
E aqui os pregoeiros de semelhantes teorias perdiam-se
logo nos caminhos insidiosos do sofisma. Falavam de delin-
qentes da peor espcie e de delinqentes que jogam com a
impunidade, e falando assim, no reparavam que tomavam como
verificado aquilo cuja verificao se discutia; no reparavam
que, por essa forma, estando em face de simples arguidos les
os consideravam como rus, a priori, antes de qualquer apre-
ciao. Devendo, em outros trmos, estabelecer o que seria
necessrio para a verificao da criminalidade de um acusado,
comeavam logo por consider-lo criminoso, perdendo-se, assim,
em um impudente crculo vicioso.
E cobrindo-se com semelhantes sofismas, como com um
nobre manto, que a justia humana tem feito por vezes car
cabeas inocentes, sem pensar, finalmente e sbretudo, que uma
s condenao injusta mais fatal para a tranquilidade humana
que dez absolvies no merecidas!
II
Continuando a determinar a natureza do convencimento
judicia], vimos tambm que le deve ser natural para o juiz e
no artificial; isto , no criado pelo influxo de razes estranhas
verdade.
Ora a naturalidade da convico leva como conseqncia
imprescindvel naturalidade das provas; naturalidade das provas
A Lgica das Provas em Matria Criminal 95
que consiste em que a sua voz deve chegar ao nimo do juiz sem
ser alterada por influxo algum estranho sua natureza. Da
algumas regras relativas s prvas.
A) Em primeiro lugar, para que a voz das provas chegue
inalterada ao nimo do juiz, necessrio que as provas se apre-
sentem, tanto quanto possvel, de uma maneira imediata ao juiz,
para que le possa examin-las directamente, e no atravs da
nvoa das impresses de outras pessoas, ou atravs das expres-ses
equvocas de outras coisas.
A coisa ou a pessoa que servem de prova, devem, tanto
quanto possvel, apresentar-se directamente perante os olhos do
juiz: esta a regra da originalidade das provas. A prova no
original, no sendo prpriamente uma prova, mas a prova de uma
prova, fonte menos pura de certeza.
O ser oral a prova no seno uma aplicao parcial da regra
geral da originalidade das provas; no mais que a perfeio
formal da originalidade relativamente afirmao pessoal, por
isso que a manifestao natural e originria do pensamento
humano a palavra articulada. E a palavra articulada a
manifestao natural e originria do pensamento humano, pois
que o prprio pensamento tem como forma natural a palavra,
como instrumento de reflexo. E da palavra que se serve a
reflexo para determinar a ideia que tem em vista; e por isso as
ideias vo-se determinando como palavras pensadas. A expresso
externa, originria e natural, do pensamento humano, por isso a
palavra articulada. Mas o ser oral a prova, s por si, no fixa todo
o conceito da originalidade da afirmao pessoal; serve
simplesmente para excluir aquela espcie de inoriginalidade, que,
como depois veremos, prpriameete uma originalidade menos
perfeita, e que deriva das formas sucessivas de manifestao do
pensamento humano; formas sucessivas que consistem, em geral
r
na representao da palavra articulada, e em particular, na
representao por meio da escrita. A palavra articulada a
representao perfeitamente original do pensamento; a palavra
escrita a representao perfeitamente original da palavra
articulada, mas no do pensamento: ora, o ser oral a prova
96 A Lgica das Provas em Matria Criminal
s por si, no leva excluso, dentro de certos limites, desta
expresso escrita, emquanto a expresso no perfeitamente
original do pensamento. Pode por isso tambm com a prova
verbal dar-se, por outro modo, a inoriginalidade da afirmao
pessoal. Suponhemos que uma tstemunha, se bem que ver-
balmente refere simplesmente o que ouviu de uma primeira, e
por isso original, tstemunha de vista, e teremos um depoimento
oral e inoriginal ao mesmo tempo.
Para que o preceito de ser oral a prova seja a completa
aplicao do da originalidade perfeita relativamente afirmao
pessoal, necessrio juntar mais alguma determinao. A origi-
nalidade perfeita da afirmao pessoal determina-se tda na prova
oral da tstemunha de scincia prpria, isto , da tstemunha
que teve a percepo pessoal dos factos que constituem o con-
tedo do seu tstemunho.
Mas falando de originalidades de provas em geral, e em
especial da prova oral, no se enuncia de modo algum uma
regra absoluta: nem sempre possvel, no encadear das provas,
elas apresentarem-8e perante o juiz na sua perfeita originali-
dade; e por isso na enunciao da nossa regra no se afirma
seno o seguinte: o desideratum da scincia 6 a originalidade
perfeita das provas, e para ste fim necessrio atender aos
limites da possibilidade judiciria. Infelizmente stes limites
so muito estreitos, especialmente no que respeita afirmao
de coisas; esta, ordinriamente, no se apresenta seno como
contedo da afirmao pessoal, e por isso a prova real, original,
superior que transmitida, s raras vezes se apresenta.
De resto, no aqui o lugar de entrar em detalhes sbre a
originalidade das provas; em outro lugar falaremos dela. Aqui
era necessrio smente determinar a regra da originalidade das
provas, e notar como ela e a consequente natureza verbal so
uma deduo derivada da natureza do convencimento.
B) Para que a voz das provas actue com a sua eficcia
natural sbre o nimo do juiz, necessrio que ste no seja
violentado na sua conscincia, nem mesmo por aquilo que cha-
mamos, a propsito de convico, influxo legal.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 97
A lei no deve colocar-se acima da eficcia das provas, e
dizer ao magistrado: a tua convico estar vinculada a estas
determinadas provas. J rejeitamos as provas legais sob o ponto
de vista superior e mais geral da certeza, considerada quanto ao
seu sujeito; e poderemos, sem mais, passar adiante. Mas con-
veniente dizer aqui mais algumas palavras, para maior clareza e
integridade de exposio.
Combatendo a certeza e conseguintemente a prova legal, no
h j quem pretenda negar lei tda a possibilidade de preceitos
quanto produo das provas. Temos combatido nica-
mente a lei que, no se contentando com prescrever frmulas para
a produo das provas, se deixa levar prvia avaliao da sua
substncia, e demonstramos, segundo nos parece, com clareza de
razes quo ilgica em si esta avaliao prvia da substncia das
provas, e origem de rros judicirios nas suas conseqncias. A
convico o resultado de uma multido de motivos que se no
podem predeterminar, e funda-se sbre uma srie indefinida e
impossvel de prever de pequenas circunstncias. Mesmo quando
o legislador, por meio de um longo e paciente trabalho de anlise,
quisesse pr de lado tdas as variedades possveis nas
contingncias das provas; depois de ter feito um cdigo com
milhares de artigos, encontrar-se ia necessriamente sem ter
previsto tudo: teria smente, com certeza, multiplicado por
milhares os vnculos postos conscincia do juiz, para a qual cada
um dstes artigos poderia, em dadas circunstncias, no ser seno
uma porta fechada em frente da verdade.
Nem mesmo necessrio opr s provas livres o argumento
do arbtrio judicial que opem os defensores das provas legais.
Em primeiro lugar, as provas legais no fazem mais do que
substituir o arbtrio da lei ao do juiz; e depois, ste arbtrio
possvel do juiz encontra o seu correctivo naquela sociabilidade
da convico, de que anteriormente falamos; sociabilidade que
garantida pela fundamentao das decises, e pela publicidade do
juzo, como dissemos. A primeira destas garantias, os fundamentos,
torna possvel a fiscalizao da sociedade por meio de um juzo
sucessivo ao proferir da deciso; a segunda, a publici-
7
98 A Lgica das Provas em Matria Criminal
dade, torna possvel a fiscalizao da sociedade por meio de um
juzo contemporneo da deciso. E se com tudo isto nem sempre
se chega a evitar os rros, isso devido imperfeio humana e
no falta de provas legais, que no faziam assim seno multi-
plicar os rros, tornando-os fatais, porque obrigariam a comet--
los, mesmo quando reconhecidos como tais.
Combatendo as provas legais, repetimos, no se quere dizer
que a lei no possa emitir preceito algum em matria de provas.
A lei pode, em primeiro lugar, emitir preceitos obrigat-
rios, taxativos, relativamente s provas que so sempre e abso-
lutamente excludas por razes superiores s eventualidades da
sua concretizao particular. No , assim, ilgico dizer a lei que
no admitido como tstemunha o pai, nem quem tenha conhe-
cimento dos factos por confidncia inerente ao seu estado, sua
profisso, ou ao seu ofcio: existe um princpio superior even-
tualidade dos singulares e concretos depoimentos daquela
espcie, existe um princpio superior que se ope sua produ-
o. No h nisto a falta de lgica das provas legais.
A lei pode tambm prescrever preceitos taxativos quanto
frma das provas, preestabelecendo, para a sua produo, con-
dies formais.
Nem mesmo seria ilgico, por si mesmo, que a lei, mesmo
quanto prpria eficcia substancial das provas, prescrevesse
regras com valor de conselhos, regras que se no devam seguir
quando as particularidades do facto individual, no susceptveis
de serem previstas pela lei, a isso se opozessem.
A investigao e a convenincia das regras obrigatrias
sbre a forma, como das regras facultativas sbre a substncia das
provas, so, por isso, objecto de investigaes da arte judiciria.
No h em tudo isto a falta radical de lgica do que a
organizao das provas legais. querer dar a priori, necessria-
mente, um dado valor s provas concretas, querer determinar
a priori o vrio pso que devem ter as suspeitas inerentes s
provas particulares, e o vrio influxo que estas devem ter sbre
a deciso do magistrado; tudo isto, que constitui a soberba
Taidade das provas legais contra que se combate.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 99
E se do campo da prova criminal se rejeitam as provas
legais, com maioria de razes devem rejeitar-se as provas autn-
ticas, que no so mais do que provas legais privilegiadas.
Na organizao das provas legais, no se d um valor deter-
minado s provas, se no na hiptese de elas no terem sido
paralisadas e destrudas por provas em contrrio: ao contedo das
provas legais sempre licito por isso contrapor outras provas. Mas
ao contedo dos actos autnticos no permitido contrapor outras
provas; no pode combater-se aquele contedo seno tomando o
caminho longo, difcil e nem sempre possvel, da argio de
falsidade. Podeis ter na mo mil provas para demonstrar que o
contedo de um acto autntico no verdadeiro; e de nada isso
valer, se no conseguis provar igualmente a falsidade do acto.
No h quem no veja o absurdo do acto autntico, como prova
em matria criminal; mas desta exportao do direito civil, e do
valor determinado que a lgica lhes atribui em direito penal,
ocupar-nos hemos em particular, falando da fra probatria do
documento.
Mas h ainda uma prova legal mais privilegiada que o prprio
acto autntico: a presuno juris et de jure. Contra o contedo
das provas legais em geral, pode sempre fazer-se prova; contra o
contedo das provas legais privilegiadas, que so os actos
autnticos, no licito provar seno por meio da arguio de
falsidade; contra a presuno juris et de jure, prova indirecta e
privilegiada na mais elevada potncia, no lcito provar de modo
algum, sendo ela inatacvel na sua substncia de prova indirecta:
precisamente a mscara do silncio sbre a face da verdade.
Basta simplesmente enunciar, em crtica criminal, a natureza da
presuno juris et de jure, para ser rejeitada; mas ela por vezes,
importada das teorias civis, introduz-se clandestinamente na prova
penal. Sob ste aspecto, ocupar-nos hemos dela em particular, a
propsito de provas indirectas.
Quanto ao estado da nossa legislao, no se admitem pro-
vas prpriamente legais. Mas, dissemo-lo h pouco, s vezes as
provas legais condenadas genricamente, introduzem-se em espe-
cial, escondendo-se artificiosamente em disposies que no res-
100 A Lgica das Provas em Matria Criminal
peitam s provas: muitas vezes encontra-se uma presuno juris
et de jure insidiosamente anichada em um artigo hipcrita do
cdigo das penas. Assim as penas especiais para alguns actos,
quando proveem de pessoas que foram declaradas suspeitas, actos
que, quer sejam indiferentes quer preparatrios, nunca so pun-
veis para a generalidade dos cidados; aquelas penas especiais,
dizia, ao mesmo tempo que se explicam e se justificam com a
ideia de punir aqueles determinados actos, em si mesmos, como
crimes mi generis, que pem a sociedade em sbressalto pela
condio pessoal do autor que se qualifica de suspeito; aquelas
mesmas penas, repito, por pouco que se considere a altura des-
proporcionada a que as elevaram alguns cdigos, deixaram trans-
parecer claramente como que, na redaco dos respectivos
artigos, possa ter tido fra sbre o nimo do legislador uma
presuno juris et de jure de um crime cometido, ou ao menos
de uma inteno punvel, presuno juris et de jure aceita pelo
legislador, e imposta ao nimo do juiz.
Antes de passar adiante, necessrio mencionar aqui um
problema relativo influncia da lei sbre as provas. Ao comba-
trmos as provas prpriamente legais, reconhecemos como leg-
tima a aco da lei, tanto para excluir precisamente algumas
provas por princpios superiores s eventualidades da sua parti-
cular concretizao, como para prescresver as frmulas protecto-
ras da verdade. Ora, quando a lei impe restries produo
das provas, quando impe frmulas legais para a sua manifesta-
o, qual ser a fra obrigatria da lei vigente, relativamente
ao tempo e ao espao? isto , relativamente s normas da lei
anterior e da lei estrangeira, sob cujo regimen teve, em hip-
tese, lugar o crime?
Quaisquer que sejam as normas que a lei julgue impr em
matria de prova, elas s podem tender garantia da correcta
formao do convencimento: a convico presume-se garantida
na sua legitimidade pelas normas que a lei vigente impe, ao
tempo e no lugar do julgamento. sempre por isso a lei do lugar
e do tempo em que se julga, que deve imperar, quanto s pro-
vas, em matria penal. Em matria penal a verdade objectiva
A Lgica das Provas em Matria Criminal 101
que se procura, acima de tudo; e a convico da verdade no deve
presumir-se garantida dos enganos, seno pela lei em vigor quando
e onde se julga.
Voltando ao nosso ponto de partida e concluindo, no devem
impr-se vnculos convico do juiz. A eficcia da prova
determinada pelas suas fras naturais e individuais: cada prova
concreta deve poder provar mais ou menos, segundo as suas fras
naturais, no modificveis pela lei; e no deve existir prova contra
cujo contedo se no possa insurgir vlidamente uma outra prova.
Tudo isto constitui o que chamarei liberdade objectiva da prova:
ser a segunda regra derivada da naturalidade do convencimento.
o) Mas para a naturalidade do convencimento no basta a
originalidade, isto , que a prova seja percebida directamente; no
basta a liberdade objectiva, isto , que a prova no tenha limitao
preestabelecida de valor quanto ao objecto provado; necessrio
alm disso, que se respeitem as condies genuinas da existncia,
como prova, do sujeito que prova; isto , necessrio a liberdade
subjectiva das provas.
Esta liberdade subjectiva das provas pode ser violada, quer
alterando-se materialmente a coisa que faz a prova, quer alte-
rando-se moralmente a pessoa que faz a prova: e digo moralmente
nesta segunda hiptese, no quanto natureza do meio em que se
opera, que pode ser tambm material, mas quanto ao sujeito
probatrio sbre que se opera, que sempre moral, supondo-se
que o meio actua sbre o sujeito da afirmao pessoal; pois que o
sujeito da afirmao, como revelao, consciente da pessoa, no
prpriamente a pessoa fsica, mas a pessoa moral; a pessoa fsica,
em rigor, no seno o instrumento de que a pessoa moral se
serve para exteriorisar sua afirmao.
No falaremos da primeira espcie de violao da liberdade
subjectiva das provas, que consiste na alterao material da coisa
que faz a prova, porque isso constitui diversos crimes, segundo os
casos e no nos compete falar de crimes. Por isso, quando a
alterao da coisa que faz a prova tem em vista inculpar algum,
tem-se a calunia real; quando a alterao tem em vista fazer crr
em um crime sem inteno de o atribuir a algum, tem-se
102 A Lgica das Provas em Matria Criminal
a simulao do crime; quando a alterao destinada a iludir
a justia, desculpando o arguido, tem-se o crime de favoritismo;
e assim por diante.
Quanto outra espcie de violao da liberdade subjectiva
das provas, outra espcie que consiste na alterao introduzida
no nimo da pessoa que afirma, no nos compete ocupar-nos dela
relativamente forma criminosa que pode assumir, tanto com a
ameaa como com o subrno.
Compete-nos smente ocupar-nos daquela aco sbre o esp-
rito do que afirma, que, envolvendo-se na hipcrita capa de amor
pela verdade e zlo pela justia, o leva a dizer diversamente do
que teria dito, e a produzir, assim, uma afirmao no conforme
s condies espontneas e genunas do sen esprito.
Esta forma de violao da liberdade subjectiva das provas,
s pode exercer a sua influncia malfica da parte do magistrado
que intrroga, que, procedendo assim, no s se furta ao Cdigo
Penal, mas mais ainda, procedendo assim, encontrou por vezes
legitimao nos cdigos do processo, e qusi sempre incitamento
na prtica judiciria: j o compreenderam, falemos da sugesto.
Para considerar exactamente esta sugesto, necessrio prin-
cipiar por observar que nem tda a sugesto se apresenta como
uma violao da liberdade subjectiva do tstemunho, e como um
meio destinado a fazer desviar da verdade: nem tda a suges-
to ilcita. Por pouca prtica que se tenha da matria judici-
ria, sabe-se que muitas vezes a tstemunha, no percebendo a
razo do inqurito, divaga em detalhes inteis para o julgamento,
desprezando os factos que interessam. Ora, em tal caso, chamar
a tstemunha ao assunto til para o exame, sugerindo-lhe aquilo
sbre que deve depr, no por certo prejudicar a verdade; ,
ao contrrio, dirigir o esprito da tstemunha revelao da ver-
dade que se procura. Sabe-se tambm que muitas vezes a ts-
temunha, por uma fraqueza natural de memria, ou por pertur-
bao, no est em condies de expr a verdade; e que, no
entanto, bastaria a recordao de uma data, de uma circuns-
tncia, de um facto, para a colocar novamente no caminho das
recordaes da verdade. Ora, em tais casos, sugerir-lhe esta data,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 103
esta circunstncia, ste facto, j no uma violao da sua liber-
dade subjectiva, j no prejudicar a verdade; , ao contrrio,
colocar o esprito da tstemunha em condies de prestar ser-
vio verdade. H pois uma sugesto que no contrria aos
fins da justia, uma sugesto licita, que determinada pelo duplo
fim do auxlio da memria e do auxlio da inteligncia da tste-
munha, uma sugesto lcita que, dirigindo-se a despertar as recor-
daes adormecidas, ou a afastar divagaes inteis, serve para
o triunfo da verdade. Mas para que a sugesto tendente a stes
dois fins sirva ao triunfo da verdade, necessrio que se apre-
sente quer com a forma realmente e substancialmente dubita-
tiva, quer com a forma afirmativa directa e explcita.
A sugesto ilcita auxilia sem mostrar auxiliar: nisto est
principalmente a sua natureza insidiosa. bom que se saiba se
a tstemunha fz uma afirmao por iniciativa sua e por sua
lembrana espontnea, ou se por um incitamento, que a chamou
ao assunto, ou lhe despertou as recordaes adormecidas; bom
saber-se tudo isto, para o levar em devida conta. E para sse fim,
bom, como veremos, que nas inquiries escritas as respostas
da tstemunha sejam precedidas das preguntas formais do magis-
trado que intrroga.
Isto emquanto sugesto licita.
Mas ordinriamente a sugesto apresenta-se como uma vio-
lao da liberdade subjectiva da tstemunha, e por isso ilcita.
A sugesto ilcita pode ser de trs espcies: violenta, fraudulenta
e culposa. A sugesto violenta sugere as respostas por meio do
temor, a fraudulenta por meio do engano originado pelo dolo do
intrrogante, a culposa por meio do rro originado pela negli-
gncia do intrrogante.
Na primeira espcie, no caso de sugesto violenta, o intr-
ro
gado arrastado a responder de um dado modo porque teme:
a violncia que lhe sugere a resposta, a violncia nas suas
vrias formas, a comear pela tortura da idade mdia, e a acabar
pela carranca feroz e pela voz grossa de alguns dos instrutores
dos nossos dias. Em face da tortura, o intrrogado era acometido
pelo trror do sofrimento fsico, pelo trror de uma pena corpo-
104 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ral e directa, em que incorria, no satisfazendo ao inquisidor
Em presena da ameaa implcita do instrutor, o interrogado
acometido pel temor de uma pena, ou de um aumento de pena,
indirecta e aflitiva, que, comquanto no ofenda o corpo, produz
uma dor moral, restringindo a liberdade: o acusado receia ver
aumentar os rigores do crcere preventivo, anterior ao julga-
mento, ou do posterior ao julgamento, por no ter contentado
os interrogantes; a testemunha teme a possibilidade de um pro-
cesso e a possibilidade de uma pena por falso testemunho, no
se submetendo aos seus desejos.
Na segunda espcie de sugesto, no caso de sugesto frau-
dulenta, por meio de um artificioso rodeio de palavras, ou com
uma artificiosa apresentao de coisas, o juiz produz no esprito
do interrogado uma determinada convico, para obter da uma
resposta anloga; ou ento, por meio do equvoco, arrasta-o a
uma resposta, dada num sentido, e tomada e registada em outro.
Nestas duas primeiras espcies de sugesto ilcita, o juiz
no faz mais do que tomar o lugar dos delinqentes, a quem
rouba as armas: a violncia e a fraude.
Mas a pregunta sugestiva enganadora pode derivar tambm,
alm do dolo, da negligncia do inquiridor: tem-se assim a ter-
ceira espcie de sugesto: a sugesto culposa. Sob o ponto de
vista de quem interroga, as preguntas sugestivas dolosas podem
chamar-se prpriamente insidiosas, como as preguntas culposas
podem chamar-se simplesmente capciosas; mas sob o ponto de
vista do interrogado as preguntas insidiosas no se distinguem
das simplesmente capciosas, produzindo idntico efeito. O juiz
incluindo na sua pregunta uma dada resposta, quer o faa por
impercia, quer por dolo, prejudica do mesmo modo a causa da
verdade: relativamente ao esprito do interrogado, a resposta
sempre igualmente inspirada pelo interrogante; e a impercia
dste, produz o mesmo efeito do dolo, prejudicando igualmente
verdade.
Ns consideramos em geral a sugesto, como violao da
liberdade sugestiva do interrogado; mas a sugesto 6 contrria
verdade mesmo quando pode prestar eventualmente ao inter-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 105
rogado armas para mentir, dando-lhe um conhecimento dos factos
que podem facilitar e tornar mais verosmeis as suas mentiras. Sob
ste aspecto, ainda mais perigosa a sugesto culposa.
E basta quanto a sugesto.
Concluindo, a terceira regra proveniente da naturalidade -da
convico conseguintemente a liberdade subjectiva das provas,
III
Falando da convico judicial, determinamos uma outra
condio natural dela na sociabilidade. Isto , a convico no
deve ser a expresso de uma condio subjectiva do juiz: deve ser
tal, que os factos e as provas submetidas soa apreciao, se se
submetessem apreciao desinteressada de qualquer outro
cidado razovel, devessem produzir tambm nste aquela certeza
que produziram no juiz. isto que chamamos sociabilidade do
convencimento.
Mas esta sociabilidade que encontra a sua origem unifica-
dora na razo humana, em que assenta a harmonia espiritual dos
homens, esta sociabilidade resolver-se ia em uma mera aspirao
de um pensador solitrio, se no tivesse uma concretizao exterior
e judiciria.
Para que a conformidade entre a convico do juiz e a
hipottica apreciao social no se reduza a uma estril aspirao,
necessrio que as provas se apresentem apreciao do juiz] de
uma forma que torne possvel a apreciao contempornea do
pblico. E eis a outra regra das provas: a sua publicidade.
E na publicidade que assenta o preservativo e correctivo do
arbtrio judicirio, mais do que mesmo no fundamento das deci-
ses, de que falamos a propsito da convico. O fundamentar,
dissemos, torna possvel a fiscalizao da sociedade por meio da
apreciao sucessiva ao proferir da deciso. Mas mesmo admi-
tindo que o sistema processual d a maior notoriedade deciso
do magistrado, no entanto ste juzo sucessivo, que se torna
possvel pelos fundamentos, 6 uma apreciao indirecta; no
106 A Lgica das Provas em Matria Criminal
tem como matria de observao seno as impresses e os motivos
correspondentes do juiz. E sabe-se que a cultura superior e a
flexibilidade do engenho de um homem, como o magistrado,
habituado contnua ginstica intelectual, tornam possvel, nar-
rando factos e provas, dar, a uns e a outros, uma natureza e um
valor que no corresponde sua realidade. Os fundamentos ser-
vem principalmente para a fiscalizao por parte da magistratura
superior, na hiptese de vrios graus de jurisdio.
O que coloca a sociedade altura de julgar eficaz, directa e
contemporneamente ao magistrado, a publicidade do julga-
mento. Pelas portas abertas da sala da audincia, juntamente
com o pblico, entra muitas vezes a verdade e a justia. Entre
aquelas mil cabeas sem nome, da multido que se espalha
pelas salas da justia, entre aquelas mil cabeas, o juiz temer
sempre a superioridade de um observador mais atento e de uma
inteligncia mais perspicaz, pronta a observar e a julgar melhor
que le no observe e julgue; entre aquelas mil cabeas sem
nome o juiz temer sempre uma conscincia mais serna e lci-
damente justa que a sua, pela qual le, juiz, poder por sua vez
ser julgado e condenado. E le, juiz, sob a influncia salutar
dste receio, pr-se h em guarda contra as suas possveis pre-
venes, defender-se h das suas prprias fraquezas, ser circuns-
pecto no cumprimento dos seus deveres, e s procurar ter em
pista a verdade e a justia. Isto quanto ao juiz.
tstemunha, por sua vez, na solenidade pblica de uma
sala de audincia, exposta observao indagadora do pblico,
pensar, por um lado, que naquele pblico pode achar-se quem
conhea os factos melhor que le; e temer, por outro, a repro-
vao social, caso no desempenhe bem a sua obrigao moral e
jurdica: mais fortemente lhe falar no nimo a voz do dever e
o zlo pela verdade.
Quanto ao acusado, tambm para le o influxo da publi-
cidade todo em vantagem da verdade e da justia. H no
homem um sentimento misterioso e inexplicvel, que lhe faz
crr que a sua conscincia no est bastante encoberta aos olhos
investigadores da sociedade; e nste sentido misterioso e divino
A Lgica das Provas em Matria Criminal 107
assenta a eficcia daquela sano social, que torna o homem
hesitante no mal e firme no bem. E ste sentir misterioso e divino
falar mais que nunca ao nimo daquele que alvo de uma
acusao. O inocente fortalecer-se h com a presena do pblico;
julgar sentir que lhe vem da multido um spro forti-ficante de
simpatia. Quem sabe o que seria das suas fras de nimo, se se
achasse s na presena do seu juiz ? Ao culpado, ao contrrio, s
lhe parecer poder esperar da multido um spro de reprovao.
Quer inocente, quer culpado, a publicidade do julgamento e das
provas no servir conseguintemente, seno para o triunfo da
verdade.
No h seno a injustia que tenha necessidade da couraa
temvel do segrdo; a justia, ao contrrio, tranqila e segura, no
tem razo de temer o olhar de pessoa alguma: deita por terra todos
os escudos e todos os vus, e mostra-se no seu olmpico esplendor
coram populo. No deve esquecer-se que o benefcio social da
justia intrnseca seria perdido, se ela extrin-secamente no se
mostrasse qual , serna e inexorvel. Para que pois a justia,
alm de o ser, aparea como tal, necessrio abrir as portas ao
pblico; ste aprender a respeit-la.
At aqui examinamos as regras respeitantes prova derivada
da natureza do convencimento. E procedendo assim, no atende-
mos seno influncia, sbre a natureza das provas, de um dos
trmos daquela relao em que assenta a essncia da prpria
prova: a influncia do trmo subjectivo.
Passemos agora a examinar a influncia do outro trmo que
assenta na verdade objectiva.
IV
Qual a verdade que se procura em matria penal ?
, j o dissemos, a verdade objectiva, por isso que essa
nicamente, que entrando, por meio da prova, em relao com o
esprito do julgador, pode gerar legitimamente, nle, a convico
racional da criminalidade. Ao chamarmos objectiva esta verdade,
108 A Lgica das Provas em matria Criminal
j com isso determinamos a sua natureza: no se trata de uma
verdade formal, qual a que resulta do estado das provas, quer
sejam suficientes, quer insuficientes, mas de uma verdade subs-
tancial, extra subjectiva, a cuja verificao se chega por meio de
provas suficientes. Para ns que puzemos de lado, na primeira
parte dste livro, a confuso que os crticos fazem frequentemente
entre a certeza e probabilidade, para ns que partimos da pre-
missa de que se no pode condenar emquanto se no est certo
da criminalidade, para ns, em matria criminal, no possvel
o equvoco: quando se fala de verdade do delito, trata-se sempre
daquela verdade que se apresenta ao esprito como uma reali
dade certa e indubitvel, no da que se apresenta como prov
vel, mesmo que seja cora a mxima probabilidade, e por isso
como susceptvel de dvida.
Da natureza da verdade, que necessria em matria penal
para se poder proferir uma condenao, derivam outras regras
respeitantes natureza das provas.
A) Em primeiro lugar, se a verdade formal no basta para
servir de base a uma condenao penal, mas necessrio a ver
dade substancia], necessrio sempre portanto em matria penal
procurar as melhores provas, porque so as que melhor podem
fazer chegar conquista da verdade substancial: necessrio
no nos contentarmos com as provas que nos fornecem, se no
quando elas so as melhores que possam obter-se concretamente,
e quando a lgica das coisas no leva a crr que devam existir
melhores provas ainda.
E esta uma regra fecundssima de aplicaes em crtica cri-
minal; e no seguimento do nosso trabalho poderemos apreciar
melhor a sua importncia, a propsito de alguma questo proba-
tria.
Dste princpio, segundo o qual a prova, produzida para
nela se apoiar a convico, deve ser a melhor que possa haver
em concreto, resulta a conseqncia de que necessrio no nos
contentarmos com as provas inorigmais, quando possamos obter
as originais; no deve recorrer-se s tstemunhas de ouvir dizer,.
quando se pode obter a declarao original das tstemunhas do
A Lgica das Provas em Matria Criminal 109
scincia prpria: necessrio exigir as provas subjectivamente
melhores.
Do mesmo princpio deriva a conseqncia de que neces-
srio no nos contentarmos com provas indirectas quando pos-
svel obter provas directas; necessrio no nos contentarmos
com os depoimentos de quem viu o acusado a fugir com um
punhal na mo, quando h quem se achava presente ao consu-mar-
se o crime, e pode depr a respeito dele: devem exigir-se as provas
objectivamente melhores.
Sempre devido ao mesmo princpio necessrio no nos
contentarmos com as formas de prova menos perfeitas, quando
podem obter-se formas mais perfeitas; necessrio no nos con-
tentarmos com o depoimento escrito, quando pode lgicamente
obter-se a prova oral: devem exigir-se as provas formalmente
melhores.
ste princpio, de que o convencimento deve apoiar-se nas
melhores provas que podem obter-se, , repetimo-lo, de uma
grandssima importncia e de uma multplice aplicao. E a
enunciao dste princpio tanto mais importante, se se consi-
derar que nenhum tratadista, que eu saiba, procurou coloc-lo em
relvo; e se se considerar tambm que a prtica judiciria o
desprezar freqentemente. Quantas sentenas h que por des-
prso de provas so uma violao flagrante desta regra de crtica
judiciria!
B) Pela prpria natureza da verdade ocorrente em matria
criminal, no bastando a probabilidade, mas sendo necessria a
certeza para poder infligir-se a condenao, segue-se que no
lcito deduzir convico alguma de criminalidade do estado das
provas, se elas no so suficientes para reflectir no esprito a
verdade substancial. No isto o que sucede em matria civil
onde se vai em busca daquela verdade formal que deriva do
estado das provas, sejam ou no suficientes. Deriva de tudo isto
que em matria de prova necessrio ser mais exigente em
matria penal que em matria civil; e que por isso o campo das
provas penais mais restrito que o das provas civis.
Mas porque que, emquanto em matria criminal se pro-
110 A Lgica das Provas em Matria Criminal
cura a verdade substancial, em matria civil nos contentamos
com a simples verdade formal ? E pela diversa natureza doe
direitos em questo. bom v-lo com ura pouco de anlise:
1. Em matria civil entrara em questo direitos alien-
veis; conseguintemente, lgico, em geral, admitir renncias de
direitos e aceitao de obrigaes, tda a vez que no vo de
encontro aos princpios, sempre superiores, da ordem pblica.
Em matria penal, ao contrrio, trata-se de direitos inalienveis.
Explica-se por isso em matria civil a admisso de tran-
saces, de juramentos decisrios, e de perenes de prova;
explica se por isso em matria civil a inexorabilidade da contu-
mcia e do silncio da parte: coisas que tdas elas seriam o
triunfo do absurdo em matria penal.
2. Pela mesma alienabilidade dos direitos em questo em
matria civil, segue-se que quando as partes se apresentam em
juzo, cada uma se sujeita a ver aceita ou rejeitada a prpria
alegao. Na apresentao de uma falsa alegao civil, inclui-se
uma renncia especial: o que produz uma alegao que no
verdadeira, mostra ter renunciado alegao verdadeira que even-
tualmente lhe pudesse respeitar. O juiz, pois, nada mais tem a
fazer do que pronunciar-se entre as duas alegaes opostas de
facto. E ainda que o juiz se convencesse de que nem uma nem
outra corresponde verdade objectiva, mesmo quando a parte a
ela tenha implicitamente renunciado, deve le contudo pronun-
ciar-se necessriamente pela alegao que lhe parea menos infun-
dada, se bem que no corresponda verdade objectiva.
Em matria penal, ao contrrio, mesmo que a acusao se
apresente maia bem fundada por um lado, e que do outro se
apresente manifestamente falso o mtodo de defesa adoptado
pelo argido, , porm, sempre verdade objectiva da crimina-
lidade dste, que se deve atender; e por isso se no se obtm
essa verdade, embora resulte ser falsa a afirmao da defesa do
arguido, e se torna mais fundada a acusao, ser sempre neces-
srio absolver.
3. Os direitos privados no podem ficar em suspenso entre
os contendores, sem que se perturbe tda a tranqilidade na
A Lgica das Provas em Matria Criminal 111
convivncia social. 0 magistrado civil obrigado por isso a atri-
buir os direitos a um dos contendores. Mas devido prpria
natureza dos direitos privados, no pode pronunciar-se a favor de
uma das partes, sem se pronunciar contra a outra, por isso,
qualquer que seja a convico a que se chegou per allegata et
probata, necessrio condenar uma parte para dar o direito
outra, e emitir assim uma sentena qualquer. A necessidade pois
de se pronunciar, resolvendo-se na necessidade de condenar
algum pronunciando-se, obriga na condenao civil a con-tentar-se
com uma certeza fictcia, correspondente a uma verdade mais
convencional, que real.
Em matria penal, porm, comquanto em face do argido
steja a sociedade como contendente, a deciso a favor do acusado
no contra a sociedade; ao contrrio em seu favor, pois que
de intersse social que no se condene seno o delinqente
indubitvelmente verificado tal. O juiz no por isso colocado na
alternativa de condenar algum para absolver o acusado, ou de
condenar o acusado para salvar os direitos de outrem; e aqui
r
no
levamos em conta os intersses civis do que se diz ofendido,
porquanto stes intersses so acessrios no julgamento penal, e
le poderia ainda faz-los valer no juzo civil, quando se lhe feche
o caminho no prprio juzo penal.
No julgamento penal, pois, deve pronunciar-se sempre a
absolvio emquanto se no alcana a certeza substancial da
criminalidade; smente nste caso que a sentena a favor do
acusado seria em prejuzo da sociedade.
4. Em matria civil, trata-se de direitos particulares e
determinados que entram em questo: cada um pode, por isso,
prevenir-se contra as agresses possveis aos prprios direitos.
Quem no se previne com provas, um descuidado, e peor para le:
jus civile vigilantibus scriptum est. No se tendo munido de
provas a verdade real do prprio direito, fica-se por isso obri-gado
a ver triunfar a verdade formal contrria, resultante das provas
produzidas.
Em matria penal, ao contrrio, em primeiro lugar a inocn-
cia um facto negativo e indeterminado, que no pode rodear-se
112 A Lgica das Provas em Matria Criminal
de provas contnuas; e por isso, mesmo que existisse o mximo
descuido em provar a prpria inocncia, o acusado inocente deve
ser sempre absolvido, porquanto a absolvio do inocente de
primria ordem pblica. No pode existir condenao penal pelo
descuido que houver nas provas da inocncia: sempre e sempre,
a condenao penal no pode atingir seno a criminalidade veri-
ficada como verdade real.
E basta quanto diferena entre o sistema probatrio penal
e o civil.
Eis aqui, pois, mais dois cnones probatrios, derivados da
considerao da verdade substancial, como fim objectivo da prova
em matria criminal.
Conseguintemente, recapitulando, tanto para a considerao
do trmo subjectivo como do trmo objectivo daquela relao em
que assenta a essncia das provas, existem as seguintes regras
gerais de crtica judiciria:
1. Ingradnabilidade das provas da certeza.
2. Originalidade e produo oral da prova.
3. Liberdade objectiva das provas.
4. Liberdade subjectiva das provas.
5. Publicidade.
6. Produo da melhor prova.
7. Em matria penal, as provas devem ser tais que reve-
lem a verdade substancial, no bastando a verdade formal como
em matria civil.
As primeiras cinco regras derivam da considerao do con
vencimento, isto , do trmo subjectivo da relao em que assenta
a eficcia das provas; as duas ltimas, da considerao da ver
dade, isto , do trmo objectivo da relao probatria.
E da considerao do mesmo trmo objectivo, deriva tambm
uma observao importante para a metodologia da lgica judi-
ciria. Deriva da que, quanto essncia das provas, no tem
importncia a diferena dos sistemas processuais: em qualquer
sistema, seja acusatrio, inquisitrio ou mixto, sempre ver-
dade substancial que deve atender-se. No compete por isso ocu-
par-nos das variedades processuais: a lgica criminal ter sempre
A Lgica das Provas em Matria Criminal 113
os mesmos e imutveis preceitos, 6 arte criminal que compete
moitas vezes variar os seus.
Mas necessrio no entanto observar tambm que, se debaixo
do ponto de vista da razo indiferente essncia das provas o
sistema processual, porquanto todos os sistemas processuais, con-
siderados nos seus princpios lgicos fundamentais, devem tender
para a verdade substancial, contudo, sob o ponto de vista 8o facto,
os diversos sistemas processuais, considerados nos seus princpios
prticos e fundamentais, determinadores da sua natureza
especfica, do uma orientao diversa investigao da verdade.
O ponto de partida para chegar verdade sempre a imparcia
lidade da investigao, por um lado, e a igualmente livre pro
duo das provas, por outro, tanto por parte da defesa como da
acusao. Mas esta imparcialidade da investigao, e esta livre
produo das provas, no so igualmente garantidas pelos diversos
sistemas. O sistema acusatrio que, tendo por origem histrica
a luta judiciria do particular contra o particular, inspira-se na
paridade dos direitos entre acusador e acusado, mais conforme
investigao imparcial da verdade. O sistema inquisitrio que,
tendo por origem histrica a luta judiciria do Estado ou da
autoridade teocrtica contra o particular, inspira-se, ao contrrio,
na superioridade da acusao sbre a defesa, pouco escrupuloso
quanto investigao da verdade favorvel ao acusado. O sistema
minto, que tem um primeiro perodo inquisitrio e um segundo
acusatrio, apresenta-se na primeira fase pouco propcio ao triunfo
da verdade favorvel ao acusado, ao passo que na segunda apre
senta-se, ao contrrio, igualmente propcio, em geral, ao triunfo
da verdade objectiva, quer desfavorvel quer favorvel ao
acusado.
O sistema mixto o sistema processual que prevalece; e
ste sistema, se bem que comece por uma fase inquisitria para
acabar por uma acusatria, deve sempre e de todo o modo,
necessrio no o esquecer, inspirar-se na investigao imparcial
da verdade, tanto na primeira como na segunda fase, se quere.
ser digno de povos civilizados, atendendo verdade substancial,
que o desideratum lgico do julgamento criminal.
114 A Lgica das Provas em Matria Criminal
necessrio, finalmente, observar que as regras probatrias
precedentemente expostas se referem, em geral e principalmente,
s provas emquanto so apresentadas no julgamento pblico, por-
quanto sbre o estado das provas nos debates pblicos que deve
basear-se a convico judicial da criminalidade, para poder legi-
timamente infligir a condenao. Mas as provas teem tambm
a sua produo em um estdio processual diverso do dos debates
pblicos, como seria no estdio inquisitrio, que inicia o sistema
que se denomina mixto. Ora, num tal estdio, as regras proba-
trias expostas por ns teem tambm o seu valor quando se tem em
vista preparar as provas para o julgamento pblico, apro-
ximando-se o mais possvel da certeza: por isso, sob ste aspecto,
mesmo nste estdio, procuram-se de preferncia as provas ori-
ginais, e em geral, as melhores provas; tambm nste estdio,
as provas devem ser apreciadas segundo o que valem natural-
mente; tambm nste estdio, se deve respeitar a sua liberdade
subjectiva; tambm nste estdio, se ter em vista sbretudo a
descoberta da verdade objectiva em geral. Emquanto, pois, as
provas se produzem no perodo preparatrio em servio da ins-
truo, a aplicao das regras probatrias revela-se em duas
limitaes: na natureza particular dste perodo, e no fim a que
le se dirige. Sob o ponto de vista da natureza particular do
perodo instrutrio, necessrio observar que a arte criminal
pode aconselhar frmulas incompatveis com algumas das regras
probatrias, como o caso do segrdo instrutrio, que se ope
publicidade das provas. Sob o ponto de vista do fim a que se
dirige o perodo instrutrio, necessrio no esquecer que a
instruo no atende & certeza da criminalidade, bastando-lhe a
simples probabilidade para legitimamente mandar seguir no-
julgamento. Para o estdio judicial que tem necessidade de cer-
teza, as regras so absolutas; para aquele para que basta a sim-
ples probabilidade, as regras subordiuam-se ao sistema proces-
sual, tendo no entanto sempre em vista o favor da verdade e da
justia, em que deve tambm inspirar-se a arte criminal para
aconselhar esta ou aquela concretizao de um sistema pro-
cessual.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 115
CAPTULO II
Classificao fundamental das provas deduzida
da sua natureza
O esprito humano, se, colocado em face de uma ideia geral,
pode alcanar com um golpe de vista as suas linhas gerais, direi
assim, constitutivas da sua estrutura genrica, no consegue com
igual facilidade perceber as linhas diferenciais, constitutivas das
espcies contidas naquela ideia. necessrio que sntese inicial
suceda a anlise, para que a luz da ideia geral se derrame sbre as
espcies. a analise que, concentrando sucessivamente o lume da
inteligncia sbre cada uma daquelas partes de que se compe um
todo intelectual, faz com que cada uma destas partes se torne
transparente ao esprito; e por isso, da clara e determinada viso
das partes tomadas singularmente, passa-se em seguida sua viso
complexa, harmnicamente clara e determinada, naquela luz
meridiana da inteli-gncia meditativa, que a sntese final.
No sendo a scincia mais que um sistema harmnico de
conhecimentos claros e determinados, e no vindo a clareza e a
determinao seno da anlise, segue-se que esta a grande e
paciente operria da scincia. Chamemo-la, pois, a trabalho.
Comecemos pela classificao das provas, para podermos
estudar cada uma das suas classes.
Mas qual o critrio com que devemos proceder a esta divi-
so das provas? Lembra-me aqui uma criana minha conhecida,
que querendo tomar conhecimentos mais completos relativamente
sua boneca, aplicou-lhe uma forte martelada reduzindo-a a
fragmentos; era ste tambm um mtodo analtico; mas infeliz-
mente as partes no mais foram reconhecveis, e o todo no mais
pde ser reconstruvel. Pois bem, senhores, escritores h, capazes
destas anlises "infantis tambm na scincia; h esctitores,
116 A Lgica das Provas em Matria Criminal
que, em seguida a terem despedaado, com grande espanto, um
objecto ideal, apresentam ao pobre leitor os restos das insignifi-
cantes particularidades que da extraram; e julgam, procedendo
assim, ter feito anlise scientfica.
No com critrios acessrios e acidentais que pode proce-
der-se classificao na scincia; se assim que se procede, no b
a esperar clareza alguma e ordem nas ideias; se se pro-cede assim,
em vez de se chegar, com uma viso lcida das partes, harmnica
e clara viso do todo, chega-se, por meio do indeterminado e
arbitrrio esmiuamento das partes, confuso tenebrosa do todo.
Procedendo-se por ste modo, no basta ter classificado em dez,
vinte, e cem, um dado objecto ideal'; os aspectos acessrios de cada
objecto so indefinidamente multplices, e poder-se h continuar a
juntar outras dez, outras vinte, outras cem classes, sem nunca ter
esgotado as sries possveis das classificaes. Que ste estudo dos
aspectos mesmo acessrios de uma ideia possa fazer-se como
preparao interior do escritor relativamente organizao
scientfica, compreende-se; que dste estudo dos acessrios
tambm se queira fazer participar o leitor, mantendo-se-lhe porm
sempre a sua qualidade de acessrios, tambm se compreende.
Mas que stes acessrios se faam passar por principais,
colocando-os no topo das classificaes, um rro imperdovel,
que torna impossvel tda a organizao scientfica.
E nesta falta caram alguns escritores de crtica criminal,
multiplicando classificaes no essenciais; classificaes no
tomadas a srio pelos prprios autores, pois que no passaram em
seguida a organizar o seu estudo sbre elas, mas sbre uma
classificao aceita, pelo consenso geral dos escritores, como cri-
trio indiscutvel e metdico do estudo das provas.
O leitor j conhece qual o mtodo de classificao geral-
mente aceito pelos escritores, com variantes no fundamentais:
costumam dividir-se as provas em indcios, prova tstemunhal,
confisso e documento, tomando o documento no seu sentido lato
de tda a coisa material que funcione como prova; muitos por isso
reduzem o largo sentido h pouco mencionado de
A Lgica das Provas em Matria Criminal 117
documento, referindo ste, em sentido restrito, prova escrita, e
indicando qualquer outra materialidade probatria com uma
denominao ulterior como a de prova real ou de inspeco judi-
cial. Mas, importante notar isto, todos, na classificao e no
consequente tratado das provas, costumam colocar o indicio, ou
prova indirecta se assim se quere dizer, a par do depoimento, da
confisso e do documento, no colocando em primeiro lugar nem
mesmo a prova directa.
Devemos seguir o mesmo caminho? Em verdade, confesso
no saber explicar como que um tal mtodo de classificao
tenha podido ser aceito at por prprios intelectuais.
Quem h que no veja que o depoimento, a confisso, o
documento so especialidades da prova relativamente jorma. ao
passo que o indcio uma especialidade da prova relativamente
substncia? O testemunho, a confisso, o documento podem ter
por contedo um indicio como uma prova directa; o indcio um
dos contedos possveis das trs espcies precedentes. Que
espcie de lgica scientfica esta, que toma para base de uma
classificao fundamental um critrio Jormal, caindo ao mesmo
tempo em um critrio parcial substancial? No com uma
classificao essencialmente heterognea e incompleta como esta,
que pode esperar-se uma organizao scientfica. O que se diria
de um naturalista, que depois de ter dividido a humanidade na
espcie caucsica, na negra, na monglica e na americana, viesse
a lume com uma quinta espcie, a masculina? Risum teneatis
amici ? Masdizer-se-lhe-ia, se houvesse vontade de lhe dizer
alguma coisa,tanto entre os caucsicos como entre os negros, os
monglicos, os americanos, existem machos e fmeas! Vs tomais,
dizer-se-lhe-ia, como espcie particular o que uma possibilidade
comum a tdas as espcies precedentes: vs comeais por
estabelecer as vossas classes com um critrio formal, e em seguida
apresentais uma classe deduzida de um critrio sexual parcial;
critrio sexual, que substancial ao organismo fsico: a vossa
espcie masculina um despropsito que no tem por onde se lhe
pegue.
Pois bem, o despropsito do naturalista classificador seria
118 A Lgica das Provas em Matria Criminal
nem mais nem menos do que um despropsito anlogo ao do
escritor da crtica criminal.
Tda a classificao que, sem fazer uma classe especial da
prova directa, coloca o indcio como uma espcie probatria a
par do tstemunho, da confisso e do documento, uma classifi-
cao absolutamente heterognea e incompleta, e no pode pro-
duzir seno confuso. No podemos por isso absolutamente aderir
a um tal mtodo de classificao.
Antes de passarmos a classificar a prova, julgamos oportuno
repetir uma observao j feita noutro lugar. A prova pode con-
siderar-se relativamente ao efeito que produz sbre o esprito; e
sob ste aspecto resolve-se na certeza e na probabilidade, de que
no nos compete aqui tratar. A prova pode, pois, considerar-se
emquanto sua natureza e sua produo; e sob ste aspecto
que aqui a consideramos, e teremos de classificar.
Ora, para procedermos por nossa vez classificao da
prova, considerando-a como considerada, emquanto sua natu-
reza e sua produo, lanaremos mo de trs critrios essen-
ciais e homogneos em si mesmos. Parece-nos que so apenas
trs aspectos prpriamente essenciais prova: a prova pode
considerar-se emquanto ao seu contedo, ou emquanto ao sujeito
de que dimana, ou emquanto forma como se apresenta.
Considerando a prova emquanto ao objecto, ou contedo, se
assim se quiser dizer, todos vem que a prova pode respeitar
tanto coisa que se quere verificar, como a uma coisa diversa de
que se deduz a primeira; e quanto ao julgamento penal em par-
ticular, pode respeitar ao delito ou a uma coisa diversa do delito,
de que por meio do trabalho racional do esprito do juiz se deduz
o delito. A prova divide-se portanto, emquanto ao objecto, em
duas classes:
1. Prova directa; 2. prova indirecta.
Considerando a prova emquanto ao sujeito de que dimana,
todos vem que no pode haver dois sujeitos possveis: como
produzindo a prova, pode apresentar-se uma pessoa ou uma coisa
perante a conscincia de que tem de verificar, que em matria
penal o juiz que julga plenamente, com faculdade de absolver
A Lgica das Provas em Matria Criminal 119
e de condenar, ou, em outros trmos, o jri dos debates. Quanto
ao sujeito, a prova divide-se, portanto, tambm em duas classes:
1. Prova pessoal, ou afirmao de pessoas; 2. prova real,
ou afirmao de coisas.
Considerando a prova quanto Jorma, v-se em primeiro
lugar que a afirmao pessoal pode assumir perante quem tem de
a verificar, que em matria penal o juiz dos debates, a forma
transitria e inseparvel da pessoa, da prova oral, ou uma forma
permanente, que se destaca da pessoa, e que se reduz prin-
cipalmente forma escrita. A afirmao derivada de coisa, por-
tanto, quer se apresente como contedo de uma das formas da
afirmao pessoal, e nste caso no d lugar a classe especial
quanto forma; quer se apresente na sua forma original e mate-
rial sob os olhos do juiz dos debates, e ento d lugar a uma
classe especial.
prova, por isso, emquanto forma, falando genricamente,
divide-se em trs classes:
1. A prova tstemunhal, que em geral a afirmao
pessoal na forma real ou possvel, como explicaremos, da prova
real.
A prova tstemunhal, emquanto provm de tstemunhas que
interveem in facto, e tem por matria coisas perceptveis pela
generalidade dos homens, chama-se prova tstemunhal comum;
quando, ao contrrio, provm de tstemunhas escolhidas post
factum, e tem por matria coisas perceptveis s a quem tem uma
percia especial, chama-se prova tstemunhal pericial. O
tstemunho comum compreende portanto o de terceiro, o do
acusado e o do ofendido. Conseguintemente a prova por peritos,
o depoimento de terceiro, o depoimento do acusado e o do
ofendido, no so mais que outras tantas subespcies desta classe
que denominamos prova tstemunhal.
2. A prova documental, que a afirmao pessoal na
forma de escrito, ou de outras materialidades permanentes,
quando essa afirmao no pode ser reproduzida oralmente, como
precisaremos em tempo e lugar prprio.
120 A Lgica das Provas em Matria Criminal
3. A prova material, que a afirmao de uma coisa na
materialidade das suas formas directamente perceptveis.
Em concluso, recapitulando, a prova pode considerar-se
sob trs aspectos igualmente essenciais: quanto ao objecto,
quanto ao sujeito, e quanto forma. Quanto ao objecto a prova
divide-se em prova directa e indirecta; quanto ao sujeito, em
prova pessoal e real; quanto forma em prova tstemunhal,
documental e material.
E eis o programa do nosso estudo. Procederemos desenvol-
vendo distintamente, em primeiro lugar a classificao relativa
ao objecto; depois, a relativa ao sujeito; e finalmente, a relativa
forma da prova. E orientados por ste trplice critrio, julga-
mos assim desenvolver racional e ordenadamente tda a matria
probatria criminal.
Mas antes de passar adiante, necessrio fazer aqui uma
observao de ordem geral, importante, segundo nos parece, no
s para classificar as provas em abstracto, mas mais ainda prin-
cipalmente para determinar a classe a que pertence cada prova
em concreto. Falando da classificao emquanto ao objecto,
determinamos no delito o objecto da prova em matria criminal.
Falando da classificao quanto ao sujeito e quanto forma,
consideramos tanto o sujeito como a forma sempre relativamente
conscincia do juiz dos debates. Pois bem, chamamos a aten-
o do leitor para estas nossas determinaes, porque nos parecem
de grandssima importncia em crtica criminal.
E importantssimo no esquecer que os dois pontos de vista,
os dois plos para no perder a orientao em matria de provas,
so precisamente, de um lado, a coisa que necessrio verificar,
que em matria criminal o delito, do outro o espirito que a
deve verificar, que em matria judiciria sempre o esprito do
juiz dos debates, no julgamento pblico. E digo, no julgamento
pblico, por quanto, segundo o princpio da sociabilidade do
convencimento, em matria penal, a par da conscincia do juiz,
que julgou plenamente, existe tambm a conscincia social que
deve formar a sua convico; e isto verifica-se por meio da publi-
cidade do julgamento. No fazemos por isso mais do que referir
A Lgica das Provas em Matria Criminal 121
a prova a esta dupla conscincia, quando, referiu do-a ao juiz dos
debates, ajuntamos: no julgamento pblico. O primeiro critrio, o
das coisas a verificar, serve para determinar a prova sob o ponto
de vista do seu contedo; o segundo critrio, o do esprito que
deve verific-las, serve para a determinar sob o ponto de-vista do
sujeito e da forma. No se tendo firmes stes dois pontos de vista
ao raciocinar sbre a natureza e valor das provas, nunca se obtero
ideias precisas e scientficas: atribuir-se h, a cada momento,
natureza e valor diverso a cada prova, segundo ela se refira a
contedo diverso e a diversa conscincia, e cair-se h por isso num
contnuo e indeterminado vaguear da mente de um conceito para
outro, fazendo assim perder ao leitor tda a f scientfica.
grande importncia dos pontos fixos acima mencionados
aparece fcilmente.
Se se no tem sempre em vista o delito, como objecto da
prova em matria criminal, como que se pode chamar com
segurana e imutvelmente directa ou indirecta uma dada prova ?
O que prova indirecta relativamente a um delito, prova
directa relativamente s circunstncias imediatamente provadas.
Oonseguintemente, indeterminao do conceito sbre prova directa
e indirecta; pois que tdas as provas so directas relativamente ao
que imediatamente provado; e so tdas indirectas relativamente
ao no imediatamente provado; oonseguintemente, confuso geral
das provas, quanto ao objecto.
Se o sujeito de que dimana a prova no fr considerado
sempre relativamente conscincia do juiz dos debates, nunca
encontraremos coisa alguma estvel na classificao das provas
quanto ao sujeito: o que deriva da prova pessoal, emquanto
conscincia do juiz, deriva de provas reais relativamente cons-
cincia do prprio afirmante, que vem referir em juzo a sua
percepo das coisas: conseguintemente, confuso das provas,
emquanto ao sujeito.
Quanto prpria forma, se a no considerarmos sempre
relativamente conscincia do juiz dos debates, encontrar-nos
122 A Lgica das Provas em Matria Criminal
hemos tambm aqui obrigados a designar ora uma classe formal,
ora uma outra, mesma prova: o que documento, segundo os
nossos critrios, relativamente ao juiz do debate, o que docu-
mento emquanto se apresenta em juzo como afirmao escrita,
que j no pode reproduzr-se oralmente, devido morte daquele
cujo depoimento recolhido pelo juiz instrutor representa, ver
dadeiro tstemunho oral para ste ltimo, perante quem a tste
munha deps oralmente: confuso, por isso, das provas emquanto
forma.
Dste modo uma confuso geral e bablica apodera-se da
crtica criminal, e no h j scincia possvel.
As reflexes precedentes referem-se determinao da natu-
reza das provas. Mas convm aqui fazer uma outra reflexo de
ordem geral, relativamente determinao do valor das provas.
Tendo tda a prova um sujeito que a coisa ou a pessoa afir-
mante, e uma forma que aquela porque a afirmao se realiza,
segue-se que uma prova em concreto no pode conduzir legitima-
mente certeza, no tendo sido avaliada particularmente sob ste
trplice aspecto.
por isso necessrio observar que o sujeito conserva-se dis-
tinto da forma na afirmao pessoal, porquanto nas provas pes-
soais, a pessoa que atesta sempre diversa da sua afirmao
formal; e por isso para as provas pessoais, como o tstemunho e
o documento, necessrio proceder com critrios distintos ava-
liao subjectiva e avaliao formal. Mas na afirmao de coi-
sas, ao contrrio, o sujeito e a forma confundem-se, porquanto a
coisa no se individualiza seno naquela mesma forma material
com que aparece; e por isso procede-se avaliao subjectiva e
formal das provas materiais cora critrios comuns.
Concluindo, urgente notar, sob um ponto de vista geral,
que no pode apreciar-se concretamente uma prova seno ava-
liando a sua credibilidade subjectiva e formal, e a sua conclu-
so objectiva: smente em conseqncia desta dupla avaliao
(que se torna trplice nas provas pessoais, que teem o sujeito
distinto da forma), pode chegar-se a determinar em concreto o
valor de uma dada prova.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 123
CAPITULO III
Classificao acessria das provas derivada dos
seus fins especiais
A finalidade suprema e substancial da prova a verificao
da verdade; e qualquer que possa ser a espcie da verdade que se
quere verificar, ela s actua como finalidade sbre a natureza
substancial da prova pelo seu lado genrico de verdade, e no pelo
seu lado especfico, consistente nesta ou naquela verdade
determinada: qualquer que seja a verdade a verificar, a prova,
como tal, no a reflectir no esprito, seno como verdade e
emquanto verdade; seja qual fr, por outros trmos, a natureza
da verdade especfica a que a prova se refere, a natureza da prova
conserva-se sempre a mesma.
No seria por isso lgico estabelecer uma classificao fun-
damental e metdica das provas, deduzindo-a da diversa natureza
das verdades que se querem verificar por meio delas.
, porm, necessrio observar que, de facto, no juzo penal,
perante as provas destinadas a estabelecer a certeza da crimi-
nulidade, desenvolvem-se as provas destinadas a combat-la, esta-
belecendo a crena na inocncia; e falo de certeza no primeiro
caso e de crena no segundo, porquanto a acusao no tem nada
de provado se no conseguiu estabelecer a certeza da cri-
minalidade, ao passo que a defesa tem tudo provado se conseguiu
abalar aquela certeza, estabelecendo a simples e racional credi-
bilidade, por mnima que seja, da inocncia.
Por isso, emquanto, conforme costuma fazer-se geralmente,
em crtica criminal podem as provas ser consideradas nica-
mente sob o ponto de vista principal da capacidade ou da inca-
pacidade que teem de gerar a certeza da criminalidade, como a
afirmao dessa certeza que conduz legitimamente condenao,
tambm por isso a negao de uma tal certeza que conduz
legitimamente absolvio; atendendo porm a que no
124 A Lgica das Provas em Matria Criminal
debate judicirio se produzem de facto categorias distintas de
prova, determinadas por fins especiais das partes na causa,
bom distinguir tambm as provas nste ponto de vista ulterior,
dos fins diversos a que tendem no julgamento penal. Sob ste
aspecto, tendo em conta os dois fins principais e opostos a que
visam as provas em matria criminal, elas podem distinguir-se
genricamente em provas da criminalidade e provas da ino-
cncia.
E com isso, ter-se-ia tudo dito, se aos fins da defesa fsse
preciso estabelecer a certeza da inocncia, como aos fins da acu-
sao convm estabelecer a certeza da criminalidade. Mas, repe-
timo-lo, aos fins da defesa no precisa a certeza; basta-lhe
estabelecer a simples crena da inocncia; basta-lhe, noutros
trmos, provar que a inocncia razoavelmente crvel, seja
mesmo em um grau mnimo, destruindo assim a certeza contrria
da criminalidade. E, por isso, tambm no intil considerar um
pouco esta distino das provas, derivada dos fins especiais que
teem no debate judicirio, porquanto essa distino determina
por modo diverso as obrigaes do que quere provar, e que pro-
duz a prova no juzo criminal. s obrigaes de quem quere pro-
var a inocncia so muito mais restritas que as obrigaes de
quem quere provar a criminalidade.
Antes de entrar no estudo desta distino, deduzida dos
fins especiais das provas, necessrio, por isso, observar que ela
sempre considerada como acessria e subordinada s distines
fundamentais que deduzimos da natureza das provas; e por isso
no pode alterar em nada o programa do nosso estudo, que con-
tinua a ter como sua base imutvel as distines precedentes
que derivamos da natureza das provas: quer tenda a estabele-
cer a criminalidade ou a inocncia, a prova nunca poder ser
seno directa ou indirecta emquanto ao objecto, pessoal ou real
emquanto ao sujeito, tstemunhal ou material emquanto forma.
Psto isto, consideremos as provas emquanto se distinguem
pelos seus fins especiais.
Dissemos j, que as provas visam, em geral, como fim supe-
rior, no juzo penal a provar a criminalidade ou a inocncia; pro-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 125
curemos agora examinar um pouco mais determinadamente esta
distino das provas derivada de seus fins; procuremos chegar por
meio da anlise a essa distino, afim de precisar e justificar a sua
noo.
Quais so, em primeiro lugar, os fins que podem distinguir as
provas de um modo determinado? Como tda a aco humana,
tambm a produo de uma prova pode ser destinada a fins
diversos: no s a um fim imediato, mas a multplices fins me-
diatos, mais ou menos prximos, mais ou menos remotos. Pode
at produzir-se uma prova para um fim estranho ao debate judi-
cirio em que produzida: um acusado pode confessar-se ru de
um pequeno delito que lhe imputado, de um pequeno delito
sucedido onde le no se achava presente, para procurar assim
com a sentena condenatria um alibi, que o ponha a salvo da
pena em que incorreu por um grave crime cometido em outra
parte; um acusado pode confessar-se ru do estupro que lhe
imputado, para procurar uma condenao, que lhe faa vencer a
questo que lhe intentou sua mulher com o fim de nulidade do
matrimnio, por impotncia. Quando pois se quere, sob o ponto de
vista do fim, distinguir as provas sob um determinado modo,
necessrio principiar pela determinao do fim de que se quere
falar. Ora, rejeitando a indefinida multiplicidade dos possveis fins
mediatos, cada um entende que o critrio determinado e
determinante da distino s pode ser o fim imediato das provas.
Sob ste ponto de vista, as provas criminais podem distin-
guir-se particularmente em quatro classes.
As provas, como tais, podem em primeiro lugar referir-se,
como fim imediato, criminalidade principal, ou a uma crimi-
nalidade acessria, que se resolve em um aumento de criminali-
dade: e tanto em um como noutro caso so sempre provas abso-
luta ou relativamente incriminatrias.
As provas podem, ao contrrio, como fim imediato, referir-se
tanto inocncia, como a uma diminuio de criminalidade: tam-
bm aqui, tanto num caso como noutro, existem sempre provas
absoluta ou relativamente dirimentes.
As provas podem tambm ter por fim 'imediato, no juzo
126 A Lgica das Provas em Matria Criminal
penal, no a criminalidade, nem a inocncia, mas a credibilidade
de uma prova da criminalidade ou da inocncia. E nste caso a
prova produzida com o fim de fortificar a credibilidade de outra
prova, prova corroboradora; a produzida no intuito de enfra-
quecer a sua credibilidade, prova infirmativa.
E a propsito desta classe especial de provas das provas,
que se concretiza nas duas categorias das provas corroboradoras
e infirmativas, necessrio um esclarecimento que se resolve em
uma determinao maior. Uma prova pode acreditar ou desacre-
ditar outra, tanto referindo-se ao lado subjectivo da outra (e aqui,
falando do lado subjectivo em geral, compreendo tambm o lado
formal), mostrando a sua perfeio ou defeito, quanto referindo-se
ao lado substancial, isto , ao contedo da prova que se quero
acreditar ou desacreditar. No primeiro caso, no nasce confuso
alguma; mas no segundo caso, quando uma prova a favor ou
contra o contedo de outra prova, no intil chamar a ateno
do leitor para como e quando deve ser tomada como prova de
prova, quer corroboradora, quer infirmativa, de preferncia a uma
prova incriminatria ou dirimente.
Quando por meio de uma prova se aumenta ou dminni a
credibilidade de outra j produzida de criminalidade, chega-se
sempre a acreditar por conseqncia prxima a hiptese da
mesma criminalidade, ou a contrria da inocncia. E do mesmo
modo, quando se aumenta ou diminui a credibilidade de uma
prova do inocncia, acredta-se tambm sempre, por conseqn-
cia
prxima, na mesma inocncia ou na criminalidade. Mas nem por
isso se ter sempre, nstes casos, uma prova incriminatria ou
dirimente, porquanto as provas incriminatras e dirimentes so
provas da inocncia e da criminalidade em um sentido especfico,
isto , no sentido de que a inocncia e a criminalidade sejam o
fim imediato da prova. Quando uma prova a favor ou contra a
subjectividade de outra prova determinada, descobre-se
primeira vista que o seu fim imediato j no provar a cri-
minalidade ou a inocncia, mas acreditar ou desacreditar a cre-
dibilidade dessa outra dada prova. Quando, pois, uma prova a
favor ou contra o contedo de uma outra prova, necessrio
A Lgica das Provas em Matria Criminal 127
distinguir: se ste contedo, que se comprova ou se reprova, um
facto em que consiste a inocncia ou a criminalidade, tem-se uma
prova incriminatria ou dirimente, pois que nesta hiptese
apresenta-se como fim imediato, principal, provar a inocncia ou
a criminalidade; se ao contrrio ste contedo, que se comprova
ou reprova, um facto em que no consista nem a inocncia nem a
criminalidade, tem-se simplesmente uma prova de prova,
corroboradora ou infirmativa, porquanto nesta segunda hiptese,
no h outro fim imediato que no seja o de fortificar ou
enfraquecer a credibilidade das provas. Suponhamos que se
apresenta uma prova tstemunhal da inocncia, e que esta prova
teria o mximo valor se no houvesse no seu contedo um facto,
na afirmao do qual no consiste a inocncia, e que primeira
vista parece incrvel. A defesa, visto que a incredibilidade daquele
facto, se bem que no consista nela a inocncia, tiraria contudo f
prova da inocncia, visto ste lado fraco da sua prova, recorre a
outra prova, para demonstrar a credibilidade daquele facto: esta
segunda prova por isso que tende de um modo imediato nico a
fortalecer a credibilidade do contedo da primeira, prova
corroboradora. Esta prova corroboradora, por via mediata conduz
tambm prova da inocncia, e por isso tambm, em sentido
genrico, prova da inocncia; mas imediatamente no visa seno a
acreditar a prova da inocneia, e no prpria inocncia, e
portanto no sentido especfico simplesmente prova
corroboradora: atendendo a que esta classificao das provas foi
deduzida do seu fim especial imediato, temos assim uma prova que
corrobora o contedo da dirimente, mas que no dirimente.
De tudo isto que temos dito relativamente s provas corro-
boradoras e infirmativas, resulta que elas tendem imediatamente a
acreditar ou desacreditar as provas, dirigindo-se sempre ao fim
mediato, prximo e inferior, de fazer acreditar a assero da
criminalidade, ou a da inocncia; e por isso as provas corrobo-
radoras e as infirmativas, sob o ponto de vista do fim superior
prximo a que tendem sempre no julgamento penal, resolvem-se
igualmente em provas da criminalidade e provas da inocncia.
128 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Recapitulando, portanto, as provas, sob o ponto de vista do
fim especial imediato a que tendem, dividem-se particularmente
em quatro classes:
1. Provas incriminatrias; 2. provas dirimentes; 3. pro-
vas corroboradoras; 4. provas infirmativas.
Estas quatro classes agrupam-se por isso, sob o ponto de
vista do fim superior imediato ou prximo a que tendem sempre
no julgamento penal, em duas categorias:
1. Provas da criminalidade: estas compreendem, por
um lado, as incriminantes, que teem por fim imediato a prova
da criminalidade; e compreendem por outro as provas corrobo-
radoras das da criminalidade, e as provas infirmativas das da
inocncia, tendentes, umas e outras, ao fim superior prximo de
fazer triunfar a afirmao da criminalidade, em cuja prova se
resolvem, as primeiras por conseqncia mais prxima, as segun-
das por conseqncia menos prxima.
2. Provas da inocncia: estas compreendem, por um
lado, as provas dirimentes, tendo por fim imediato provar a ino-
cncia; e compreendem, por outro, as provas corroboradoras das
da inocncia e as provas infirmativas das da acusao, tenden-
tes, umas e outras, ao fim superior prximo de fazer triunfar a
afirmao da inocncia, e resolvendo-se em provas da inocncia,
as primeiras por conseqncia mais prxima, as segundas por
conseqncia menos prxima.
primeira categoria, constituda pelas provas da criminali-
dade em geral e das incriminatrias em especial, a que tem
principalmente em vista, e de que se ocupa de preferencia a
teoria das provas: todos os problemas mais importantes de cr-
tica criminal no teem por objecto seno as provas e a verifica-
o da criminalidade. Dissemos que existiam provas de certeza
e provas de probabilidade, e dissemos tambm que a criminali-
dade s pode provar-se de um modo certo. Quando, por isso, se
fala de provas da criminalidade em geral, e de provas incrimi-
natrias em especial, fala-se sempre de provas de certeza, seno
na individualidade singular de cada uma, pelo menos no conjunto
probatrio de tdas aquelas que formam o fundamento legitimo
A Lgica das Provas em Matria Criminal 129
da sentena condenatria; e mostramos anteriormente o modo
como as provas de probabilidade, no seu conjunto, podem tor-nar-
se prova de certeza. Tdas as vezes, pois, que se fala de provas da
criminalidade, fala-se de provas de certeza, por isso que no pode
afirmar-se a criminalidade quando no steja verificada; e todo o
nosso tratado dirigir-se h principalmente ao estudo da eficcia,
verificante ou no, das provas que chamamos, em particular,
incriminatrias, por se destinarem imediatamente a provar a
criminalidade.
No assim quanto s provas da inocncia, em geral, e s
dirimentes, em especial. Se para provar a criminalidade neces-
srio provas, pelo menos no seu conjunto final, de certeza, para
provar a inocncia ou a menor criminalidade bastam, no s as
provas de probabilidade, e as nfimas provas de probabilidade
que denominamos de verosimilhana, mas bastam, em geral,
tambm as que s so provas imprpriamente, isto , as provas de
simples credibilidade. Desde o momento que se tornou racio-
nalmente crvel a hiptese da criminalidade e a da inocncia, deve
esta ter-se como provada; desde que se tornou racionalmente
crvel a hiptese de uma criminalidade maior, e a de uma
criminalidade menor, deve esta ter-se como provada.
Relativamente s provas da prova em particular, isto ,
relativamente s corroboradoras e s infirmativas, para se ver qual
a fra que devem ter para poderem ter eficcia no julgamento
penal, necessrio atender natureza da prova para cuja
corroborao ou infirmao so chamadas, porquanto, da natureza
desta prova em relao com a sua, depende o facto de elas
deverem resolver-se em provas da criminalidade ou da inocncia.
Se as provas corroboradoras so chamadas a fortalecer a
credibilidade duvidosa de uma prova incriminatria, para terem
eficcia judicial necessrio que sejam provas de certeza; isto ,
necessrio que no deixem dvida sbre a credibilidade da prova
incriminatria: uma prova incriminatria, mesmo mnima, mas
sempre racionalmente duvidosa, no pode servir de base a uma
condenao. Se ao contrrio as provas
9
180 A Lgica das Provas em Matria Criminal
corroboradoras so chamadas a fortalecer a credibilidade vaci-
lante de uma prova dirimente, mesmo que no sejam provas
de certeza, podem ter sempre a sua eficcia no julgamento
penal: basta, ao lado da hiptese da no credibilidade, fazer
acreditar a hiptese da credibilidade de uma prova dirimente,
para que esta possa ter, nos devidos casos, o seu valor judicial,
bastando a simples dvida para justificar a afirmao da ino-
cncia.
Quanto pois s provas infirmativas, se so chamadas para
enfraquecer a f de uma prova incriminatria, no necessrio
que sejam de certeza; basta mesmo serem de simples credibili-
dade para poderem ter, nos devidos casos, uma eficcia judicial.
Basta mesmo produzirem a mnima dvida racional sbre a cre-
dibilidade das provas incriminatrias, para que estas j no
possam servir de base legitima condenao. Se, pois, as provas
infirmativas so chamadas para enfraquecer a f de uma prova
dirimente, necessrio ento que sejam provas de certeza: no
basta a simples dvida para tirar todo o valor a uma prova diri-
mente; , ao contrrio, necessria a certeza.
Todos stes preceitos sbre a diversa fra que, para terem
eficcia judicial, devem encontrar-se nas provas, conforme so
incriminatrias ou dirimentes, e conforme corroboram ou infir-
mam uma incriminatria ou uma dirimente, todos stes pre-
ceitos no so mais que a aplicao de um s e mesmo prin-
cpio; basta a simples dvida para justificar a afirmao da
inocncia, necessria a certeza para justificar a afirmao da
criminalidade.
E isto basta quanto exposio da classificao das provas,
derivadas do fim a que se destinam.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 131
CAPITULO IV O
onus da prova
Antes de o esprito humano se encontrar, relativamente ao
conhecimento de um facto, no estado de dvida, ou de probabi-
lidade, ou de certeza; antes de percorrer esta escala ascendente
psicolgica que conduz posse luminosa da verdade, pode o
esprito humano achar-se naquele estado negativo e tenebroso que
se denomina ignorncia.
Se ao esprito que ignora se apresentam duas asseres
contrrias, relativas ao facto ignorado, necessrio; se se quere
percorrer aquela escada ascendente do conhecimento, de que a
dvida o primeiro degrau, e a certeza o ltimo, necessrio
comear por impor a obrigao da prova a uma ou outra
daquelas afirmaes contrrias.
Mas poder isto fazer-se arbitrriamente? No; h afirma-
es que teem direito a obter f, antes de qualquer prova em
contrrio; deve existir um princpio da razo, que determine, por
um lado, ste direito a ter f antes do desenvolver das provas, e
que determine, por outro a obrigao contrria da precedente
produo das provas.
A investigao e o exame dste princpio de razo: eis o pro-
blema de ordem geral que vamos tratar relativamente s provas.
Snpozemos que se apresentam duas afirmaes contrrias.
Ora, quando estas duas afirmaes se consideram antes que
qualquer prova, extrnseca a elas, venha fazer prevalecer a cre-
dibilidade de uma ou de outra, no possvel julg-las seno
segundo a sua natureza intrnseca, e segundo as presunes de
credibilidade que se acham ligadas a esta sua natureza; se, por-
tanto, da considerao das duas afirmaes em si mesmas resulta
uma ser mais crivei do que a outra, lgico e natural que,
devendo impor-se a obrigao da prova a uma delas, se imponha
que no traz consigo a presuno prevalente de credibilidade.
132 A Lgica das Provas em Matria Criminal
, pois, nas presunes que necessrio procurar o princpio
superior determinativo do onus da prova.
Mas qual a presuno em que consistir prpriamente ste
princpio superior.? Eu creio que o critrio dirigente supremo para
a soluo do problema deve ser procurado prpriamente naquela
presuno genrica que a graude me das presunes especficas
e particulares, naquela presuno que nasce do curso natural das
coisas humanas. Observando que uma coisa se verifica na maioria
dos casos, o esprito humano, no conhecendo se ela se verifica ou
no no caso particular, inclina-se, por um juzo de probabilidade, a
cr-la verificada, sendo mais crvel, que em particular se tenha
verificado o que sucede ordinriamente, e no o que sucede
extraordinriamente. O ordinrio presume-se: eis a presuno me,
eis a arvore genealgica das presunes.
Mas se o ordinrio se presume; quando uma afirmao de um
facto ordinrio se prova em face da afirmao de um facto
extraordinrio, a primeira merece mais f que a segunda, e por isso
pela prova da segunda que deve comear-se. Se o ordinrio se
presume, o extraordinrio prova-se; eis o princpio supremo para o
onus da prova; princpio supremo que denominarei ontolgico,
porquanto encontra o seu fundamento no modo de ser natural das
coisas.
Quem afirma o que est no curso ordinrio dos aconteci-
mentos, no tem obrigao de provar; tem por si a voz universal
das coisas que se apresenta como prova em juzo; tem por si a voz
universal das pessoas, que afirma aquela voz das coisas, como
verificada num conjunto de experincias e de observaes. O
ordinrio, conseguintemente, presume-se. Mas quem afirma, ao
contrrio, o que est fora do curso ordinrio dos acontecimentos,
tem contra si, como contrria, a voz universal das coisas, afirmada
pela experincia universal das pessoas; tem, por isso, a obrigao de
sustentar com a prova particular a sua assero: o extraordinrio
prova-se.
Apresentando-se, pois, duas afirmaes opostas, uma ordi-
nria, a outra extraordinria, a primeira presume-se verdadeira, a
segunda deve ser provada.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 133
Apresentando-se duas afirmaes desigualmente ordinrias
(visto que tanto DO ordinrio, como no extraordinrio, h um mais
e um menos), a mais ordinria presume-se verdadeira, a menos
ordinria tem de provar-se.
Apresentando-se duas afirmaes desigualmente extraordi-
nrias, a menos extraordinria presume-se verdadeira, a mais
extraordinria tem de provar-se.
A percepo de uma coisa ser mais ou menos ordinria ou
extraordinria ser difcil, mas isto no diminu a exactido da
teoria, nem a sua integridade.
Assim como a observao exterior nos deu o princpio
supremo para o onus da prova, o princpio ontolgico; assim
tambm a observao interior nos d outro princpio subordinado
ao primeiro, e a que eu chamarei lgico; um princpio que tem
origem nos meios de prova que o homem possui para indnzir a
certeza em outro homem: denominamos ste princpio lgico,
porquanto a sua origem imediata encontra-se nos meios de
convico que o esprito humano possui, se bem que a sua origem
mediata e primordial se encontre tambm, naturalmente, no modo
de ser das coisas. Eis o princpio que chamamos lgico: na coliso
entre um facto positivo e um facto negativo, quem afirma o facto
positivo tem de o provar, com preferncia a quem afirma o facto
negativo. o velho brocardo: probatio incumbit ei qui dicit, non
qui negat.
Disse que ste princpio nasce da observao dos meios de
verificao que o esprito humano possui. Com efeito, se atender-
mos um pouco, veremos que o facto positivo tem uma dupla esp-
cie de provas possveis: provas directas e provas indirectas. Quanto
ao facto negativo, ao contrrio, s possvel haver provas indi-
rectas. E na verdade, como possvel provar directamente, isto ,
pela sua percepo directa, o que no existiu ? Em rigor, o que
no existiu no pode ter sido percebido em si, e portanto no pode
ser directamente provado. No pode haver seno provas indirectas
para a verificao 'de um facto negativo. E estas provas indirectas
so tambm menos numerosas relativamente ao facto negativo, que
ao facto positivo; porquanto o facto positivo
134 A Lgica das Provas em Matria Criminal
deixa atrs de si o rasto da sua exteriorizao, vestgios que o
facto negativo no pode deixar, atendendo a que o nada, nada
produz. Atenta, pois, a maior facilidade em provar o facto posi-
tivo, quem o afirma que deve de preferncia prov-lo.
Labora em equvoco quem, para combater ste princpio
que ns chamamos lgico, pretenda deduzir o onus da prova, a
cargo do que afirma o facto positivo, da impossibilidade de
provar o facto negativo. No: o facto negativo pode provar-se,
mas nicamente por meios indirectos; o facto positivo pode, ao
contrrio, provar-se por meios directos e indirectos. Esta maior
facilidade de prova que tem, em geral, o facto positivo, obriga
quem o afirma a apresentar as provas, de preferncia a quem o
nega, e tem por isso meios de prova mais limitados.
necessrio, porm, esclarecer ainda ste princpio lgico,
determinando a sua extenso. O principio lgico, racionalmente,
stende-se apenas s verdadeiras negaes; fora destas j no
tem valor algum. Algumas pessoas, iludidas pelas aparncias, no
teem visto seno negaes em tudo o que se apresentava negativa-
mente. Outras, tendo observado que na maior parte das negaes
existia um contedo afirmativo, teem sustentado que se resolve
qualquer negao em uma afirmao; e por isso teem negado valor
distino entre assero positiva e assero negativa.
A verdade que h negaes formais, cujo contedo ime-
diato uma assero do facto positivo, e que no teem de nega-
tivo seno a simples forma; e negaes h substanciais, isto ,
verdadeiras negaes, que teem no s a forma, mas tambm a
substncia negativa, e que por isso no se resolvem imediata-
mente em alguma assero de facto positivo. s negaes
substanciais que se refere o princpio lgico; no s formais,
que, na realidade, no so negaes.
H espcies de negao, que so sempre formais; outras
que podem ser formais e substanciais.
A negao de uma qualidade determinada, e a de um
direito determinado, so sempre formais.
A qualidade no mais do que o modo de ser da substn-
cia, e no pode conceber-se substncias sem qualidade. No
A Lgica das Provas em Matria Criminal 135
pode conseguintemente negar-se uma dada qualidade de um
sujeito, nicamente pelo facto de se afirmar, de modo imediato,
uma qualidade contrria, ou pelo menos incompatvel com ela.
No se nega a qualidade de branco a um objecto, seno por se
asseverar que a sua cr vermelha, verde, amarela, ou qualquer
outra cr, contrria ao branco. A negao de uma qualidade por
isso sempre negao formal, tendo por contedo imediato a
afirmao de outra qualidade.
O direito concreto no mais que uma relao obrigatria
entre uma pessoa e outra, ou entre uma pessoa e as coisas; e a
existncia real de todo o direito concreto est sempre ligada
existncia de condies positivas. Conseguintemente, por um lado,
o Bujeito exclusivo do direito a pessoa humana, e no pode
conceber-se um direito, direi assim, suspenso fora do sujeito; por
outro, a existncia de todo o direito concreto acha-se ligada
existncia de determinadas condies positivas, e no por isso
admissvel pela existncia de condies positivas contrrias.
Quando, pois, se nega um direito a uma pessoa, afirma-se a outra,
ou pelo menos afirma-se uma condio positiva, incompatvel com
a existncia do direito em questo.
O acusado que para fugir imputao de furto, nega o direito
do queixoso sbre a causa, afirma o prprio direito, ou o de
outrem que tenha consentido na apropriao que se lhe quere
imputar. Esta negao do direito, por isso, simplesmente formal:
a forma o direito negado a um, a substncia o direito afirmado
a outro.
Mas um direito concreto, dissemos, pode negar-se a um sujeito,
no s atribuindo-o a outro sujeito determinado, mas tambm afir-
mando uma condio positiva incompatvel com a existncia do
direito em questo. Assim, para as nossas leis, as simples pessoas
morais no gozam de direitos civis; para gozarem dles, devem ser
legalmente reconhecidas. Conclue-se daqui que pode impugnar-se
o direito de propriedade de uma pessoa moral sbre um imvel,
sem atribuir ste direito de propriedade a outro sujeito determi-
nado, mas contentando-se com a simples condio de ser uma pessoa
moral, no reconhecida, o sujeito cujo direito se nega.
136 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Esta condio do sujeito incompatvel com o direito de
propriedade; e a negao do direito, mesmo neste caso, formal,
resolvendo-se na afirmao de uma condio positiva. Por isso
quando se impugna um direito testamentrio por falta de uma
condio exigida para a validade do testamento, afirma-se em
concluso um vcio material no testamento, uma condio positiva,
incompatvel com a transmisso testamentria de direito; e
tambm nste caso, a negao do direito testamentrio de
outrem, sempre negao formal, resolvendo-se de um modo
imediato, na afirmao de uma condio positiva, incompatvel
com aquele direito. Sempre e por qualquer modo, as
negaes de uma qualidade, como as de um direito, so por isso
negaes formais.
s negaes de facto, ao contrrio, podem ser formais e
substanciais: so formais, quando s se nega um facto, de um
modo imediato, e se admite outro em seu lugar; so substan-
ciais, quando se nega um facto admitindo a inrcia e o nada
em seu lugar.
Voltando ao que estavamos dizendo, o princpio lgico no
se refere seno s verdadeiras negaes; e negaes verdadeiras
so smente as negaes substanciais de facto. A negaes for-
mais so to fceis de provar, como as afirmaes positivas que
teem por contedo; no h por isso razo para as dispensar da
prova.
Mas aqui apresenta-se uma dificuldade: h negaes for-
mais que no se podem provar; como se explica isto? Se nas
negaes formais h sempre a facilidade de provar as afirmaes
que conteem, no deveria haver negaes formais dificilmente
provveis. Tem lugar aqui uma considerao complementar.
As negaes formais no provveis so negaes indefinidas.
Ora, necessrio atender a que nas negaes indefinidas, a difi-
culdade da prova no deriva da sua forma negativa, mas sim
do indefinido do seu contedo. E isto to verdadeiro, que
tdas as asseres, mesmo as substancial e formalmente posi-
tivas, quando indefinidas, so sempre e do mesmo modo impro-
vveis. Tanto aquele que diz:Eu nunca puz os ps naquele
A Lgica das Provas em Matria Criminal 137
caminho, como o que diz:Eu trouxe sempre ste amuleto ao
pescoo, no pode fornecer a prova da prpria afirmao. Seria
necessrio ter havido tstemunhos indivisveis de tda a nossa
vida, que tivessem atendido a tudo o que nos respeita, para
chegarmos prova da negao indefinida do primeiro, e da
afirmao indefinida do segundo.
Mas h uma diferena entre a afirmao (que compreende] a
negao simplesmente formal) indefinida, e a negativa substancial
indefinida. A existncia de um dado facto em momentos diversos,
autoriza a presumi-lo existente nos momentos intermdios;
portanto, da afirmativa indefinida pode produzir-se uma prova,
que completada pelas presunes. Mas no sucede o mesmo
relativamente negativa substancial indefinida. A inexistncia de
um facto em momentos diversos, no autoriza a presumir a sua
no existncia nos momentos intermdios, quando o facto podia
realizar-se naqueles momentos intermdios. O estado
substancialmente negativo, ao contrrio, no tem continuidade,
como no tem existncia. Provando-se que em momentos mul-
tplices e diversos de sua vida Tcio trouxera consigo um amuleto,
ser lcito supor que o tenha trazido nos momentos intermdios;
mas por se ter provado que Tcio, seja mesmo em mil momentos da
sua vida, no passou por um caminho, no ser lcito supor que le
nunca por a tivesse passado nos momentos-intermdios,
precedentes ou sucessivos.
Recapitulemos a teoria sbre o onus da prova, e vejamos as
ltimas determinaes.
O princpio supremo, regulador da obrigao da prova, o
princpio ontolgico: o ordinrio presume-se, o extraordinrio
prova-se. E ste princpio funda-se em que o ordinrio, como tal,
apresenta-se j, por si mesmo, com um elemento de prova, que
assenta na experincia comum, ao passo que o extraordinrio, pelo
contrrio, apresenta-se destitudo de todo o princpio mesmo o mais
remoto de prova; e por isso compete-lhe a obrigao da prova
quando se encontra em anttese com o outro.
O princpio lgico, que, entre uma afirmao positiva e uma
afirmao negativa, achando-se mais facilmente provvel a
138 A Lgica das Provas em Matria Criminal
primeira, pe a seu cargo o onus da prova, um princpio que
tem valor por se referir s verdadeiras negaes, que so as
negaes substanciais.
Ora, para complemento e determinao da teoria, neces-
srio observar que o princpio lgico se acha subordinado ao
princpio ontolgico. O princpio lgico no tem eficcia regula-
dora sbre as provas, seno quando se trata de duas afirmaes,
uma positiva e outra negativa, mas igualmente ordinrias ou
igualmente extraordinrias. Em caso de conflito entre os dois
princpios, o ontolgico deve sempre prevalecer. conveniente
esclarecer isto.
O caso de conflito entre os dois princpios, verifica-se
quando o facto negativo extraordinrio, e o facto positivo
ordinrio; e o conflito est em que sendo extraordinrio o
facto negativo, pelo princpio ontolgico o facto negativo que
deve comear-se a provar, por isso que extraordinrio; ao
passo que, para o princpio lgico, sendo positivo o facto ordi-
nrio, a ste que ao contrrio competiria a obrigao da prova,
por isso que positiva. Em tal caso, dando-se conflito, dizemos,
sempre o princpio lgico que deve ceder ao princpio ontol-
gico. Vejamos porque.
O princpio lgico tem fundamento em que a afirmao
negativa menos fcilmente provvel do que a positiva; e por
isso entre duas afirmaes de igual credibilidade, uma mais
facilmente provvel, e outra menos facilmente provvel, parece
natural dar o encargo da prova mais facilmente provavel, que
a afirmao positiva. Mas tudo isto, entende se sempre na
hiptese de que ambas as afirmaes, a positiva e a negativa, se
apresentem igualmente no provadas. Ora quando o facto nega-
tivo extraordinrio, e o facto positivo ordinrio, no que est,
como dissemos, o conflito, o facto positivo, por ser ordinrio,
apresenta-se j com um princpio de prova (que consiste na
afirmao da experincia comum), e o facto negativo, por ser
extraordinrio, apresenta-se destitudo de todo o princpio
mesmo mais remoto de prova; e ento entende-se que a afirma-
o negativa, conquanto menos fcil de provar, apresentando-se,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 139
porm, sem prova alguma, tem necessidade de principiar por
provar, se quere ter fra para contradizer a afirmao positiva,
que se apresenta j com um principio de prova. I
Suponhamos que surge a imputao de um crime de omisso:
que se imputa a uma me a morte do seu filho por lhe ter negado o
leite. O acusador diz me: no dstes, dolosamente, leite ao teu
filho. A me responde: dei-lho. A afirmao da me positiva, e a
do acusador negativa: segundo o princpio lgico me que
competiria a obrigao da prova. Mas, atendendo a que o facto
afirmado pela me ordinrio, realmente ao acusador pblico
que incumbe a obrigao da prova, devido superioridade do
princpio ontolgico.
Eis aqui, parece-nos, determinada genricamente a teoria
sbre a obrigao da prova. Vejamos agora a sua aplicao rela-
tivamente ao seu desenvolver nos debates judiciais, e mais par-
ticularmente no julgamento penal.
O vulgar nos homens a inocncia, por isso ela presume-se,
e acusao que compete a obrigao da prova no juzo penal.
Mas necessrio esclarecer esta presuno de inocncia, deter-
minando o seu contedo.
Quilibet praesumitur bonus, donec contrarium probetur: eis
o celebre adgio, que serviu para demonstrar a obrigao da prova
a cargo da acusao. Mas como deve compreender-se esta presuno
de bondade? Ser esta a presuno da inocncia de que falamos?
O homem presumir-se h inocente, porque deve presumir-se bom?
Na verdade, necessrio uma grande dose de optimismo, para
aceitar, na sua amplitude, esta presuno de bondade. Semelhante
presuno, tomada como se acha formulada, e levada s suas
conseqncias, conduz presuno no s de que o homem no
incorre em aces ou omisses conscientes, contrrias bondade,
mas que, alm disso, pratica todos os actos bons de que se saiba
ser capaz. Quanto ao lado positivo da presuno, relativamente
presuno de que o homem pratica todos os actos bons de que se
sabe capaz, at os optimistas dle duvidaro; e no ste, de
resto, o lado porque se faz uso da presuno no problema
probatrio. Mas ser talvez verda-
140 A Lgica das Provas em Matria Criminal
deira a presuno pelo seu lado negativo, que lera a acreditar
que o homem no incorre em aces e omisses, contrrias
bondade? Ser por ventura verdade que o homem ordinria-
mente no comete aces ms? Infelizmente, tanto pelo lado
positivo, como pelo lado negativo a triste experincia do mundo
elucida-nos sbre a falsidade da presuno. No sou pessimista;
mas, basta lanar um olhar fugaz sbre a vida tal qual ela ,
para deitar por terra tdas as iluses cr de rosa relativas
bondade do homem: a vida humana repleta de desejos acres, de
cobia insaciada, de combates sem nome, sem trgua e sem
lealdade, entre homem e homem; a vida humana, digo, no -
um jardim em que floresam ordinriamente os actos bons. E
se o homem nasce naturalmente bom, aquilo que se chama o
mundo, girando em volta dle, despoja-o de-pressa de um nobre
entusiasmo, ou de uma modesta virtude, como o vento do-
inverno faz s flhas de uma rvore; e fica ento, o que se
chama homem do mundo, que o tronco que perdeu as flhas
e as flores, as flhas dos bons pensamentos, e as flores das boas
aces. A experincia, pois, no nos permite aceitar esta pre-
suno indeterminada de bondade humana, nem mesmo enten-
dendo-a smente sob o lado negativo, que consiste em presumir
que o homem no pratica aces ms.
Mas tudo isto, emquanto se entenda por aces ms o
que se costuma entender, isto , todos os actos conscientemente
contrrios bondade. Mas se por ms aces se entendem, ao
contrrio, as aces criminosas, ento a presuno j no
uma rsea iluso de optimista, mas uma observao severa de
estadista. A experincia mostra-nos que so, felizmente, em
nmero muito maior os homens que no cometem crimes, do que
aqueles que os cometem; a experincia afirma-nos por isso que o
homem ordinriamente no comete aces criminosas, isto ,
que o homem ordinriamente inocente: e como o ordinrio se
presume, a inocncia por isso presume-se. Eis a que se reduz a
presuno indeterminada e inexacta de bondade, quando se
queira determinar dentro dos limites racionais. No falamos
portanto de presuno de bondade; falamos de presuno de
A Lgica das Provas em Matria Criminal 141
inocncia, presuno negativa de aces e de omisses crimi-
nosas, presuno sustentada pela grande e severa experincia da
vida. O homem no maior nmero dos casos no comete aces
criminosas, o homem ordinriamente inocente; a inocncia por
isso presume-se. presuno da inocncia no portanto mais do
que uma especializao de grande presuno genrica, que
exposemos: o ordinrio presume-se. E como, pelo princpio
ontolgico, presumindo-se o ordinrio, o extraordinrio que
deve provar-se, segue-se da que, aberto o debate judicirio penal,
acusao que cumpre a obrigao da prova.
Relativamente ao princpio lgico, demonstrmos que le
deve sempre ceder ao princpio ontolgico no caso de conflito.
Mas conveniente observar que le, ordinriamente, ou concorre
harmnicamente com o primeiro, ou no tem influncia alguma na
matria. Aparte o caso raro de crimes de omisso, em virtude dos
quaia, como veremos, tem lugar o conflito entre os dois
princpios; nos crimes de comisso a afirmao do acusado no
mais que uma negao. Ora esta negao ordinriamente
substancial, e, freqentemente, indefinida, e em tais casos o
princpio lgico concorre com o princpio ontolgico para pr a
prova a cargo da acusao. Quando, pois, esta negao do argido
se apresenta formal e indefinida, achando-se ento em face da
afirmao implcita do acusado e da afirmao explcita do
acusador, tratando-se de duas afirmaes contrrias, o princpio
lgico no tem influncia alguma, e domina smente o princpio
ontolgico na determinao da obrigao da prova.
De todo o modo, qualquer que possa ser a iufluncia do
princpio lgico, le sempre acessrio quanto determinao da
obrigao da prova, devendo subordinar-se sempre ao princpio
ontolgico, que o principio supremo do onus da prova.
Mas o princpio ontolgico pe o onus da prova a cargo da
acusao, por isso que atende s duas afirmaes contrrias, a do
acusador e a do acusado, antes do desenvolver das provas.
Mas desde o momento em que o acusador reuniu as suas
provas para sustentar a sua assero, se o acusado, em contes-
142 A Lgica das Provas em Matria Criminal
tao da assero do acusador, apresenta uma simples assero
contrria, no faz seno contrapor uma assero no provada,
a uma assero provada, e como a assero provada tem direito
a ser tomada por verdadeira de preferncia no provada, sendo
a presuno de verdade nste segundo momento a favor do acu-
ador, a obrigao da prova incumbe ao acusado.
dentro dstes limites que deve compreender-se a pre-
suno de dolo, de que se fala em crtica criminal. O que
geral nos homens, quando praticam qualquer acto, saberem a
natureza das suas aces e a meta a que as dirigem. por isso
se o homem, sem relao alguma com a aco, se presume ino-
cente, quando, ao contrrio, se tenha provado que praticou uma
aco que tem exterioridade criminosa, presume-se ru, por isso
que se presume consciente da natureza da sua aco, que in se
dolum habet. Esta presuno de dolo apenas uma presuno
juris tanium, que encontra a sua justificao na exterioridade
criminosa da aco j provada, por isso que res ipsa in se
dolum habet, por outros trmos, por isso que o facto material
criminoso, em si mesmo, se apresenta susceptvel de uma inten-
o dolosa. Quando, portanto, perante a aco criminosa que se
prova e inclui o dolo, o argido se apresenta negando ste dolo,
contrape a uma assero provada, uma assero totalmente
improvada e que le tem obrigao de provar. Mas necessrio
no esquecer que a obrigao de provar entende-se sempre de
um modo muito limitado relativamente aos fins da defesa penal.
Se as provas da acusao, para terem conseqncias jurdicas,
devem conduzir certeza da criminalidade, as provas da defesa
produzem o seu efeito quando alcanam simplesmente abalar
aquela certeza; e alcanam sse fim fazendo admitir simples-
mente a credibilidade do prprio objecto.
Antes de passarmos adiante, julgamos til, sob o ponto de
vista geral do problema que examinamos, atender a uma objeco
que se tem feito.
Disse Pietro Ellero que em matria penal a obrigao da
prova compete ao juiz, porquanto o juiz penal deve le prprio
procurar alcanar a verdade substancia], que o fim supremo
-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 143
de todo o processo penal; e que por isso dizer-se que essa obri-
gao respeita ao -acusado ou ao acusador um modo de dizer
imprprio, extrado do direito civil
1
.
Salvo o devido respeito ao perspicaz pensador, parece-nos
que le cae em um equvoco. Se se considera a prova no processo
de instruo, compreende-se que no possa falar-se de obrigao
de provar por parte do acusado ou do acusador; no perodo de
instruo obrigao do instrutor procurar cbegar verdade por
todos os meios, tanto com as provas favorveis, como com as
contrrias ao acusado; e no pois ao perodo instrutrio que se
deve referir o problema do onus da prova. Se atendemos prova
no momento em que sbre ela se baseia a sentena judicial de
condenao, compreende-se tambm que o juiz tenha a obrigao
da prova sbre que basear a sua deciso; e isto tambm
verdadeiro em matria civil, com a diferena de que em matria
civil basta a prova formal que induza certeza, ao passo que em
matria penal necessria a prova da certeza substancial. E o
problema do onus da prova no se refere por isso ao momento da
sentena do magistrado. Tudo isto se compreende. Mas quando se
fala em geral do onus da prova no julgamento penal, fala-se da
obrigao de a produzir em sustentao de uma dada afirmao.
Ora aberto o juzo penal, deve a haver sempre uma imputao de
crime, e conse-guintemente um acusador e um acusado, e portanto
uma afirmao acusadora e uma eventual afirmao defensiva; a
estas duas asseres que se refere o problema do onus da prova, e
tem em vista estabelecer qual das duas deve provar-se primeiro.
Nste caso nunca ser possvel dizer-se que a obrigao da prova
incumbe ao juiz que tem de julgar; o juiz, como tal, no afirma
coisa alguma; le deve julgar entre as vrias afirmaes e as
provas; e a sua obrigao, como juiz, no momento da produo das
provas, limita-se a colher tdas as provas que possam conduzir
verdade judicial, fim supremo de todo o processo.
ELLERO : Delia critica criminale, xxxviii, xxxix.
144 A Lgica das Provas em Matria Criminal
No portanto um rro falar de prova relativamente ao acu-
sado e ao acusador.
Voltando ao que estvamos dizendo, e concluindo, a ino
cncia presume-se; e por isso no juzo penal a obrigao da
prova incumbe acusao. A presuno da inocncia, to
determina a obrigao da prova em juzo penal, no seno
uma deduo daquele princpio ontolgico que afirmamos ser o
princpio supremo para o onus da prova. I ste princpio,
precisamente por ser supremo, tem tambm valor em matria
civil para determinar o onus da prova. Instaurado um processo
civil, o autor no pode, sob um ponto de vista muito geral,
levar vante mais do que a impugnao de um direito gozado
pelo chamado a juzo, ou a afirmao de uma obrigao sua.
Ora a experincia mostra-nos que so mais os direitos gozados
legitimamente, que os gozados ilegitimamente; mostra-nos,
por outros trmos, que no maior nmero dos casos, os direitos
gozados por uma pessoa so direitos legitimamente gozados; e
por isso ordinrio que se goze de um direito que nos
respeita, e extraordinrio que se goze de um direito que nos
no pertence. A experincia mostra-nos tambm que maior o
nmero das obrigaes reconhecidas e cumpridas extra-
judicialmente, que as reconhecidas e cumpridas judicialmente;
mostra-nos, por outros trmos, que no maior nmero dos casos
as obrigaes so reconhecidas e cumpridas sem necessidade
de recorrer a juzo; e portanto o reconhecimento das obrigaes
sem contestao judicial ordinrio, e o no reconhecimento
extraordinrio. Deriva daqui que o autor que impugna um
direito gozado pelo demandado, o autor que pede
judicialmente o reconhecimento ou cumprimento de uma
obrigao, no faz mais que afirmar um estado de coisas
contrrio ao que est no curso ordinrio, um estado de coisas
extraordinrio; e conseguintemente com-pete-lhe a prova;
porquanto a presuno de ter razo assiste ao demandado. ste
ponto de vista parece-me claro e determinado para se
compreender e admitir a mxima romana: onus probandi
incumbit actori.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 145
Bertham quere deitar por terra esta mxima. Considerando que
as causas ganhas pelos autores so em proporo bem superior s
causas ganhas pelos demandados, le pretende deduzir a menor
credibilidade dstes, e conseguintemente a obrigao da prova a
seu cargo. Mas o agudo engenho do filsofo ingls no reflectia,
aqui, que se as causas ganhas pelos autores so em maior nmero,
isso devido obrigao a que se veem sujeitos de provar a sua
pretenso; por esta obrigao s se apresenta ordinriamente como
autor em juzo quem possui uma bagagem suficiente de provas,
respeitantes verdade da sua assero. Mesmo que a obrigao da
prova se pusesse a cargo do demandado, ver-se-ia logo aparecer
uma multido de autores temerrios e mentirosos; e ento a
estatstica mudaria, e as causas ganhas pelos demandados tornar-
se-iam bem superiores em nmero s ganhas pelos autores. O seu
argumento no tem portanto valor contra a verdade da mxima
que pe a prova a cargo do autor.
Gomo vemos, esta mxima aplica-se tambm em tda a sua
extenso em matria penal, atribuindo-a ao acusador.
Mas a mximaprobatio incumbit auctori uma mxima'
que atende s duas asseres contrrias antes de qualquer prova,
e determina a qual delas incumbe a obrigao de provar. Quando,
pois, o autor reuniu as suas provas para fundamento da sua afir
mao, o demandado, que em contestao da afirmao do autor
apresenta uma simples assero contrria, no faz seno contra
por uma assero no provada, a uma assero provada; e
como a afirmao provada tem direito a ser havida como ver
dadeira de preferncia no provada, a presuno de ver
dade sendo nste segundo momento a favor do autor, a obri
gao da prova fica a cargo do demandado: reus excipiendo
fit auctor.
Esta segunda mxima, porm, tem valor diverso em matria
civil e em matria penal. O demandado que ope uma excepo
aco contrria, tem obrigao de fazer uma prova completa da
sua excepo, ou pelo menos de uma prova superior da aco de
que quere defender-se. O acusado, que apresenta
10
146 A Lgica das Provas em Matria Criminal
uma justificao ou uma desculpa, ao contrrio, no incorre
na obrigao da prova completa; basta que a sua assero seja
crvel: mesmo quando a prova da defesa seja inferior v da
acusao, e se chega smente o tornar crvel a justificao ou
desculpa apresentada, s por isso le triunfa. E por isso, para
evitar confuses, melhor no falar de excepo em matria
penal.
TERCEIRA PARTE
Diviso objectiva das provas
CAPITULO I Prova directa
e indirecta
A prova faz reflectir nicamente no esprito humano a ver-
dade objectiva; por meio da prova que chegamos posse da
verdade. A coisa, ou a pessoa, que faz a prova, reverberando no
nosso esprito a sua relao com a verdade, faz-nos tambm per-
ceber esta. Por isso na relao que a prova tem com a coisa
provada que assenta o contedo, ou o objecto da prova; con-
tedo ou objecto que a sua substncia de prova. Parecer por
isso natural que, no estudo especial da prova, se tome para ponto
de partida a sua natureza objectiva: o critrio substancial da
prova.
Mas para que ste critrio substancial no se perca em
indeterminaes necessrio comear por precis-lo. Em que
consiste prpriamente ste critrio substancial e objectivo, a que
necessrio referirmo-nos, para a primeira classificao das
provas?
Sempre que se fala de substncia de provas, no se fala da
relao da prova com a verdade abstracta, ou com uma verdade
concreta qualquer que seja, cuja verificao no se tem em vista;
no: fala-se da relao determinada da prova concreta com a
verdade concreta que se quere verificar. As provas, portanto,
como tais, para se classificarem emquanto ao objecto, devem
148 A Lgica das Provas em Matria Criminal
considerar-se relativamente verdade concreta que se quere
verificar, e em cujo servio so chamadas a funcionar como
provas. nesta relao das provas com a verdade que se quere
verificar que assenta o seu critrio objectivo, que serve para
classific-las segundo a sua natureza substancial.
E por isso necessrio, em primeiro lugar, determinar qual
a verdade cuja verificao se tem em vista, para passar em
seguida a examinar a relao concreta que pode existir entre a
prova e aquela determinada verdade, e determinar assim, a vria
natureza da prova relativamente ao objecto.
Ser fcil determinar o que, em particular, se considera
como verdade a verificar em crtica criminal. Todos sabem que
o julgamento criminal pode tender tanto afirmao da crimi-
nalidade, como afirmao da inocncia do acusado. Mas a afir-
mao da inocncia no demonstra seno a inanidade do incio
do julgamento; porquanto o procedimento penal no se inicia
por certo com o fim de se afirmar a inocncia dum homem,
para dar-lhe o prazer de no ser suspeitado de criminalidade.
Se o julgamento tivesse em vista ste fim acadmico, seria neces-
srio, para cada delito cometido por um autor desconhecido,
instaurar tantos processos quantos so os indivduos que consti-
tuem a sociedade, se nenhum particularmente suspeitado, ou
quantos so os particularmente suspeitados, no caso de os haver;
para dar a cada um a amarga satistao de se ver declarar ino-
cento, depois de ter sofrido todos os inevitveis vexames prece-
dentes.
O juzo penal s se instaura quando existe a f de poder
chegar verificao da criminalidade, para que se faa justia.
A verdade por isso, a cuja verificao tende o juzo criminal,
o delito; e a crtica criminal tem em vista precisamente achar
as regras lgicas pelas quais a certeza do delito seja, o mais
possvel, isenta de rro e correspondente verdade objectiva; e
todos os grandes problemas de crtica criminal teem nicamente
por objecto as provas a verificao da criminalidade.
Conseguintemente, ao examinar e classificar as provas em-
quanto ao seu contedo, devem elas referir-se em crtica crimi-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 149
nal, como ponto fixo, ao delito, que a verdade particular que se
procura verificar, instaurando o processo.
Ora, psto isto, a prova pode referir-se, como a objecto
imediato, ao delito, seja mesmo em um dos seus mnimos ele-
mentos, ou pode consistir no prprio elemento delituoso; e ento
ela denomina-se prova directa. Pode, ao contrrio, a prova, como
a objecto imediato referir-se a uma causa diversa do delito, de
que pelo trabalho do raciocnio se passa ao delito, referindo-se,
por isso, a ste mediatamente, ou pode consistir directamente
nessa coisa diversa; e ento a prova denomina-se indirecta.
Biparti a hiptese das condies constitutivas, quer da
prova directa, quer da indirecta, para tornar completa a sua
noo, atendendo diversa natureza subjectiva das provas, isto ,
da sua natureza pessoal ou real.
A primeira frmula da hiptese, que considera o caso de a
prova ter por objecto imediato o delito ou uma coisa diversa do
delito, refere-se categoria das provas pessoais. Uma tstemu- nha
vem depor ter visto Tcio matando Caio; o homicdio, que prprio
e directamente atestado, o objecto imediato da afirmao: uma
prova pessoal directa. Uma tstemunha vem, ao contrrio, dzer-nos
ter visto Tcio fugir pouco depois de ter sido cometido o
homicdio. A fuga de Tcio, que objecto imediato da assero,
uma coisa diversa do delito, que no entanto faz concluir pela
existncia do delito: uma prova pessoal indirecta.
A segunda frmula, que supe o caso de a prova consistir em
um elemento criminoso, ou em uma coisa diversa do delito, refere-
se s provas reais. A letra falsificada apresentada em juzo uma
prova que no tem por objecto imediato o delito, mas que consiste
no delito, e prpriamente naquele seu elemento, que dentro em
pouco especificaremos com o nome de evento material criminoso: eis
como se concretiza a direco da prova real. O tremor,
suponhamos, que se apodera do argido na sala da audincia,
vista do fato do indivduo assassinado, no j uma prova que tem
por objecto imediato uma coisa diversa do delito, mas sim uma
prova que consiste em uma coisa diversa,
150 A Lgica das Provas em Matria Criminal
de que se conclu o delito: eis como se concretiza a natureza
indirecta da prova real.
Esta distino objectiva de prova directa e indirecta, que
encontra a sua confirmao na distino entre prova inartifi-
cial e artificial, se bem que remonte aos mais antigos escrito-
res, parece-me, no entanto, no ter sido sempre tomada em
devida conta, nem ter sido clara e exactamente determinada.
Em muitos livros de critica criminal, esta distino encon-tra-
se, geralmente, incluida na multido bastarda de cem outras
distines sem importncia; o que faz supr que no se lhe
atribui o seu justo valor, pois que no se lhe designa o seu
devido lugar. E que no se lhe atribui o seu justo valor, deduz-se
claramente do facto de o escritor no se deter mais longamente
nesta do que em qualquer outra distino.
Alguns, por isso, falando de prova directa e indirecta, mos-
traram no tomar como prova directa e indirecta, mostraram no
tomar como prova directa seno a prova de todo o delito, como
se fsse possvel com uma nica prova comprovar todo o crime.
Admitamos que uma tstemunha tenha visto todo o desenrolar-se
da aco criminosa: tenha visto Tcio matar Gaio. Ser esta por-
ventura uma prova de todo o delito? No ser talvez necessrio
mais alguma prova? Quando outra coisa no sucedesse, ser
necessrio estabelecer a inteno criminosa por meio das presun-
es, que, como veremos, so provas tambm da espcie das indi-
rectas. E o prprio cadver, no ser necessrio talvez que seja
verificado pelo exame de peritos? Devemos contentar-nos com a
palavra da tstemunha, e no procurar outra prova do facto
homicida? Mas Gaio pode ter cado morto no pelas feridas, mas
por um aneurisma; ou pelo menos, no simplesmente por motivo
das feridas, mas pelo concurso de qualquer causa orgnica: tudo
isto, no o sabe a tstemunha ordinria, nem pode sab-lo. O ts-
te
munho de Tcio, comquanto satisfaa, no contudo uma prova
completa; no prova de todo o delito, e no poder ser, em
vista da noo supracitada, uma prova directa. Uma tal noo,
como se v, exclui tda a possibilidade de provas directas; equi-
valeria a dizer que, provas directas no existem; porquanto,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 151
neste sentido, no as h realmente. Para ns prova directa a que
tem o seu objecto imediato, ou que consiste, tambm em um
elemento mnimo e fracionrio do crime.
Outros escritores, em seguida a terem distinguido as provas
em directas e indirectas, vieram dizer que so provas directas o
depoimento, a confisso, o documento, e que prova indirecta o
indcio; e a jurisprudncia tem frequentemente adoptado esta
linguagem. Mostra-se com isto no existir conceito algum justo do
que seja prova -directa e do que seja prova indirecta: no se
atendeu a que o tstemunho, a confisso, e o documento so
classificaes formais da prova, e a que o indcio uma classi-
ficao substancial; no se atendeu, conseguintemente, a que a
prova, em forma de depoimento ou em forma de documento, pode
ter por contedo tanto a prova directa, como o indcio.
Outros escritores, finalmente, combateram abertamente esta
distino atacando-a nas suas razes, mostrando que na prova
denominada artificial, como na denominada inartificial, existe
sempre necessidade da arte crtica, e por isso de artifcio da razo,
para a avaliao da prova. E esta que parece uma objeco contra
a nomenclatura, de artificial e inartificial, da distino, mais do
que isso: uma objeco contra a importncia substancial da
prpria distino, quere se chame por um ou por outro modo.
Abstraindo desta objeco precedente, cumpria-nos sempre a
obrigao, para a integridade das noes de prova directa e
indirecta, de indagar como a razo do juiz vem a actuar em face
de uma como em face da outra. Ora desempenhemos volun-
triamente esta obrigao de tratadistas, porquanto no que dire-
mos h-de haver, no s o complemento da noo da nossa
distino objectiva, mas ainda a resposta objeco acima men-
cionada.
Tda a prova tem um sujeito e um objecto: o sujeito da
prova a pessoa, ou a coisa que afirma; o objecto da prova a
coisa que atestada. Tanto o sujeito como o objecto da prova
necessitam duma avaliao especial. Quando o esprito humano
quere alcanar a certeza dum facto por meio das provas, tem
152 A Lgica das Provas em Matria Criminal
necessidade, em primeiro lagar, de avaliar a credibilidade sub-
jectiva da prova e, depois, de avaliar a sua concluso objectiva.
Falemos em particular de cada uma destas avaliaes, princi-
piando pela avaliao subjectiva.
Apresenta-se em juzo fazendo uma afirmao uma pessoa
ou uma coisa. necessrio comear por avaliar a credibilidade
dste sujeito pessoal ou real de prova; e a credibilidade con-
siste na relao entre o sujeito que afirma e a afirmao: rela-
o de verdade ou de falsidade entre a pessoa que afirma e a
sua assero; relao de verdade ou de falsidade entre a coisa
que atesta e as suas atestaes possveis.
Falo de afirmao relativamente pessoa que afirma; e falo
de afirmaes possveis relativamente coisa que afirma; por-
quanto a afirmao pessoal sempre unvoca e determinada; ao
passo que a afirmao de coisa as mais das vezes polvoca e
indeterminada, excepto quando se trata de prova real-directa,
em que, atestante e assero se identificam, tornando-se un-
vocos, relativamente ao elemento directamente provado; caso de
prova real-directa em que a qualidade de polvoca s se mantm
relativamente aos elementos criminosos no provados directa-
mente por esta prova, que, por isso, relativamente a tais ele-
mentos, sempre indirecta e conseguintemente polvoca.
Ora esta relao de veracidade ou de falsidade entre a
pessoa afirmante e a assero, esta relao de veracidade ou de
falsidade entre a coisa afirmante e o que ela atesta, esta credi-
bilidade, em suma, do sujeito probatrio, tem sempre necessi-
dade de ser igualmente avaliada pela razo, quer se trate de
prova directa ou indirecta.
Tanto no caso de a tessemunha dizer ter visto Tcio assas-
sinando Caio, como no de a tstemunha dizer ter visto Tcio
fugindo em tempo posterior ao crime, tanto no primeiro caso de
prova pessoal directa, como no segundo caso de prova pessoal
indirecta, necessrio avaliar por meio da razo a credibilidade
da tstemunha; credibilidade derivada da sua veracidade ou fal-
sidade; veracidade ou falsidade que consiste em ter-se, ou no,
a tstemunha enganado, e em querer, ou no, enganar; veraci-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 153
dade ou falsidade que a razo estabelece por meio de raciocnios
presuntivos, sbre cuja natureza faremos uma referncia analtica
ao falarmos dentro em pouco, particularmente, das provas
indirectas. Isto, quanto ao que respeita avaliao subjectiva das
provas pessoais, directas e indirectas.
Quanto s provas reais tambm se d o mesmo. Tanto no caso
de, num processo por calnia, se apresentar em juzo a querela
caluniosa escrita, como no de, em um processo de homicdio, se
apresentar em juzo o casaco ensanguentado, encontrado em casa
do acusado, tanto no primeiro caso de prova/ real-directa, como no
segundo de prova real-indirecta, ocorre igualmente avaliar por
meio da razo a credibilidade subjectiva da prova real,
credibilidade derivada da sua veracidade ou falsidade, que a razo
estabelece ainda por meio de presunes.
A veracidade, pois, da prova real consiste em primeiro lugar
na segura identidade da coisa que faz a prova, emquanto sua
substncia: em no haver dvida de que a coisa que se apresenta
como prova prpriamente a que se julga, e no coisa diversa.
Apresentando-se um objecto, encontrado junto do argido e que se
julga pertencer ao ofendido, necessrio ter-se a certeza de que
ste objecto precisamente o do ofendido e no um objecto
semelhante; necessrio ter-se a certeza da identidade substancial
dsse objecto, para que sse objecto possa subjectivamente ter
eficcia de prova.
A veracidade da prova real consiste tambm em no apre-
sentar a coisa probante suspeita de ter sido falsificada, emquanto
s suas modalidades. A voz das coisas nunca pode ser falsa por si
mesma; smente, por as coisas serem polvocas, que nem
sempre se percebe qual a voz que, emanando da genuinidade
das coisas, corresponde verdade. Mas se as coisas no podem
ser falsas por si mesmas nas suas modalidades, podem contudo
ser falsificadas por obra do homem, que pode introduzir-lhes
maliciosamente uma alterao enganadora de lugar, de tempo
r
ou
de modo de ser. A querela caluniosa que se imputa, pode ter sido
modificada de forma a torn-la criminosa, por dolo, suponhamos,
dum escrivo ou dum secretrio; o casaco encon-
164 A Lgica das Provas em Matria Criminal
trado em um lugar pertencente ao acusado, pode ter sido colo-
cado a, suponhamos, depois de ter sido manchado de sangue,
por malcia dum inimigo, ou por precauo do verdadeiro cul-
pado. E assim por diante.
Mas porque que falando das modificaes da coisa, como
pertinentes avaliao subjectiva das provas reais, no levamos
em considerao seno a hiptese de alteraes maliciosas? Con-
vm esclarecer aqui ste facto.
As coisas, devido sua natureza passiva, acham-se normal-
mente subordinadas s modificaes que lhes so impressas por
outras coisas ou pessoas; e justamente por isso, que as coisas
podem funcionar como prova. Tdas estas modificaes normais,
no introduzidas no intuito duma falsa afirmao, no alteram
a genuinidade nas coisas, e no devem por isso ser examinadas
pela avaliao subjectiva; entram no estudo objectivo da prova
real, porquanto com o estudo objectivo da prova real, com o
estudo do seu contedo, que deve examinar-se, se as modifica-
es aparentes esto, ou no, ligadas ao crime, e podem, ou no,
conduzir sua descoberta.
O que no 6 normal na vida das coisas, o que destri a
sua subjectividade natural, ou a sua genuinidade, se assim se
qnere dizer, a sua alterao, introduzida no intuito de pro-
duzir uma falsa afirmao, para que fique assim insidiado o
juzo de quem quere tirar, das coisas um argumento probatrio;
em suma, , numa palavra, a sua falsificao. Eis porque,
falando da avaliao subjectiva das coisas, falamos de alteraes
maliciosas, e no de alteraes casuais e no maliciosas.
Em vista do que temos dito sbre a veracidade da prova
real, v-se como a avaliao subjectiva das provas reais tem um
campo limitadssimo, e tem uma importncia muito menor que
a das provas pessoais. E a pouca importncia da avaliao sub-
jectiva das provas reais parece mais clara, quando se atenda a
que o tomar conta das coisas em juzo, para as fazer funcionar
como prova, tem lugar qusi sempre imediatamente ao crime, e
que pela posse judicial imediata das coisas assegurada por um
lado a sua identidade, e por outro so elas subtradas s fceis
A Lgica das Provas em Matria Criminal 155
falsificaes, por meio das mil garantias de que costume cerc-
las.
Voltando ao assunto principal, e concluindo, o que importava
demonstrar que, tanto na hiptese de provas pessoais como na
de provas reais, a prova directa e a indirecta requerem de certo
modo a arte lgica para a sua avaliao subjectiva. At aqui no
h pois diferenas entre uma e outra espcie de prova.
Entremos agora no exame da avaliao objectiva, isto , da
avaliao do contedo da prova. Est aqui a diferena no notada
pelos contraditores. Vejamos analiticamente esta diferena:
primeiro, entre a prova pessoal directa e a prova pessoal indirecta;
depois, entre a prova real directa e a prova real indirecta.
Comecemos pela prova pessoal. Uma tstemunha vem depor
em juzo ter visto Tcio disparar uma espingarda contra Caio.
Perante esta prova pessoal directa da exploso, desde que a razo
do juiz tenha fixado por argumentos lgicos a credibilidade da
tstemunha, no pode deixar de afirmar o contedo do tstemunho.
A exploso da espingarda contra Caio, materialidade criminosa
que se contm no tstemunho, afirmada espontneamente,
directamente, naturalmente, sem esfro algum racional, desde
que se admite a crena na tstemunha. Quando, por fra da
avaliao subjectiva, se veio a admitir a veracidade da assero
directa, a verdade da coisa afirmada, a cuja investigao se dirige
a avaliao objectiva, deve admitir-se por conseqncia
imprescindvel sem trabalho algum de raciocnio.
Mas j assim no quando se trata de prova indirecta.
Continuemos no exame da prova pessoal. Uma tstemunha vem
depor em juzo ter visto o acusado fugindo no dia tal, a tal hora.
Estamos em face dum tstemunho indirecto. Depois de trmos
estabelecido a credibilidade da tstemunha, e depois de trmos por
isso concludo pela verdade da fuga, que a coisa imediatamente
provada, nada h feito relativamente concluso final da prova,
isto , relativamente ao delito que se quere verificar. necessrio
uma segunda avaliao, a avaliao objectiva
166 A Lgica das Provas em Matria Criminal
da prova, a avaliao da relao que o facto da fuga tem com o
crime; necessrio que a razo, atendendo s condies pessoais
do argido, e s condies do tempo e de lugar, chegue a con-
cluir com um trabalho de raciocnio, que aquela fuga indica-
tiva do crime j cometido. Eia como a razo tem necessidade,
para a prova indirecta, de fazer um segundo trabalho, que no
necessrio quanto prova directa: o trabalho de concluso
objectiva.
E passemos ao exame da diferena da avaliao directa
entre prova directa e prova indirecta real. Numa causa, por
meio dum libelo difamatno, apresenta-se em juzo o escrito
incriminado. Relativamente materialidade do crime de libelo,
materialidade de que prova directa o escrito apresentado,
relativamente quela materialidade criminosa, ocorrem acaso
trabalhos de raciocnio para se chegar certeza? No; aqui a
coisa que faz a prova e a coisa provada so uma s coisa; aqui,
a fra da prova consiste antes na percepo do escrito incrimi-
nado, do que em argumentaes de raciocnio; a concluso
objectiva desta prova, por isso que directa, no resulta dum
trabalho dedutivo da razo, mas da afirmao pura e simples do
que se v.
E bem diverso o caso da avaliao objectiva por meio da
prova real indirecta. Encontrou-se um homem assassinado
facada num campo onde o terreno argiloso. Em casa do acusado
encontraram-se sapatos enlameados, parece, com aquela espcie
de terreno; e so apresentados em juzo. Eis aqui uma prova
real indirecta. Os sapatos enlameados, que querem aproveitar-se
para a verificao do crime, so uma coisa bem diversa do crime:
aqui a coisa probatria s pode associar-se coisa provada por
meio do trabalho do raciocnio. E necessrio principiar por excluir
tdas as hipteses que podem explicar como no criminosa a
presena daquela espcie de lama sbre os sapatos do acusado;
6 necessrio, por exemplo, excluir a hiptese dle ter passado
sbre aquele terreno antes do crime, de por a ter passado em
seguida a le, de ter passado sbre outro terreno da mesma
natureza, situado em outro lugar; e assim por deante. depois
A Lgica das Provas em Matria Criminal 157
de excludas tdas estas hipteses, no criminosas, por meio de
argumentos lgicos, que a razo pode achar a ligao que aquela
prova tem indirectamente com o crime: a concluso objectiva
desta espcie de provas no pode, pois, afirmar-se, seno por meio
do trabalho do raciocnio.
Em suma, se sob o ponto de vista da avaliao subjectiva das
provas, no existe diferena entre prova directa e prova indirecta,
por isso que a razo desenvolve a sua actividade dum s modo
para uma e para outra; sob o ponto de vista da avaliao objectiva,
ao contrrio, existe uma grandssima diferena entre a prova
directa e a indirecta. Por meio da simples percepo da prova
directa afirma-se a concluso objectiva; s pode afirmar-se a
concluso da prova indirecta passando-se por meio do trabalho de
raciocnio da sua percepo do crime.
De tudo isto que temos dito sbre a diversa participao da
razo na avaliao das provas, resulta tambm claramente a
superioridade da prova directa, em geral, sbre a indirecta, por-
quanto a primeira, tendo naturalmente a concluso objectiva,
devida sua maior facilidade de avaliao est menos sujeita aos
rros, que a segunda. A prova directa real, portanto, , em
particular, superior directa pessoal, porquanto, como vimos,
para as provas reais a avaliao subjectiva , em geral, menos
rdua do que relativamente s provas pessoais. Por esta mesma
razo, devido maior facilidade de avaliao subjectiva, tambm
as provas indirectas reais so superiores s indirectas pessoais. I
Concluindo: depois de trmos em primeiro lugar determinado o
conceito da distino das provas em directas e indirectas sob o
ponto de vista das diferenas ontolgicas entre umas e outras,
passamos em seguida a determinar o conceito sob o ponto de vista
das diferenas lgicas, derivadas do diverso modo por que a razo
participa na avaliao de umas e de outras. Temos completado
assim a noo diferencial desta distino. Resta-nos simplesmente
fazer uma observao complementar.
No tendo falado at aqui seno das diferenas que existem
entre o que chamamos prova directa e o que chamamos prova
indirecta, pode naturalmente apresentar-se uma dvida ao
168 A Lgica das Provas em Matria Criminal
esprito de leitor: estas duas espcies de prova acham-se sempre
separadas, entre si, distintamente, sem ligao alguma? No ser
intil uma palavra a ste respeito.
Segundo o que se disse anteriormente, quando falamos de
prova directa no entendemos j falar da prova imediata de todo
o crime; para ns prova directa a prova imediata, ainda que
seja duma fraco mnima dum elemento criminoso. Ora, psto
isto, tendo as fraces dum elemento criminoso uma relao
natural entre ti, segue-se que, por meio de argumentos lgicos,
duma fraco pode passar-se outra, e que portanto a prova
mediata das outras fraces, isto , a prova directa relativamente
a uma parte, ao mesmo tempo indirecta relativamente a outras
partes do elemento criminoso. E o que dizemos relativamente s
fraces dum mesmo elemento criminoso, verdadeiro tambm
relativamente ao elemento inteiro, em face dos outros elementos.
Ns analisaremos, no captulo especial sbre as provas directas,
quais sejam os vrios elementos criminosos, de cuja certeza resulta
a certeza do crime; ora, stes elementos tambm teem uma rela-
o natural entre si, relao natural que os associa na unidade
do crime, e que torna possvel passar dum ao outro, por meio
de argumentos lgicos. Pelo que, se entende como que a prova |
directa emquanto a um elemento do crime pode ser prova indi-
recta relativamente a outro elemento.
Conseguintemente para a prova do crime na sua totalidade
no b prova directa que no se apresente com um mixto de
prova indirecta. Assim: uma tstemunha diz ter assistido ao
levantar-se uma rixa entre Tcio e outros, dum lado, Sempronio
e outros, do lado contrrio; ter em seguida visto, de repente,
Tcio puxar por um punhal, e ter ento fugido, no sabendo por
isso mais nada. Sempronio acha-se ferido. A tstemunha no
apresenta seno a prova directa duma fraco daquele elemento
criminoso que consiste na aco; ela viu Tcio empunhar a arma,
mas no viu Tcio ferir. A prova directa, de Tcio empunhar a
arma, serve como prova indirecta para o ferimento que lhe
atribudo: a prova directa duma fraco da aco, serve de prova
indirecta para o resto da aco criminosa. Assim portanto, Tcio
A Lgica das Provas em Matria Criminal 159
desapareceu; Caio viu numa lacta Sempronio feri-lo com facadas;
no viu maia coisa alguma, e fugiu. Esta prova directa da aco
criminosa, que um dos elementos do crime, pode servir de
indicio a outro elemento, do facto homicida que se imputa a
Sempronio. Um ltimo exemplo: Tcio encontra-se morto, e cor-
tado aos pedaos; o exame anatmico do cadver, verificao
directa do facto criminoso, pode servir para indicar indirecta-
mente a pessoa do delinqente devido grande e particular
percia manual que revela na consumao do crime.
E basta.
Mas se temos afirmado que no h prova directa sem um
mixto de indirecta, ver-se-h que, ao contrrio, a prova indirecta
pode apresentar-se sem mistura alguma de prova directa.
CAPITULO II Prova directa
em especial
Em vista do que temos dito, prova directa a que tem como
objecto imediato a coisa que se quere verificar, ou consiste nessa
coisa; e dado o caso de se querer no julgamento criminal verificar
o crime que se imputa, prova directa a que tem por contedo
imediato o crime imputado. Para determinar, pois, em especial, a
prova directa em crtica criminal, necessrio principiar por
determinar aquilo que constitui, sob o aspecto probatrio, o crime
que se quere verificar.
Ora, em geral, para que um crime se atribua como Jacto
certo a um acusado, necessrio provar trs coisas:
1. Que se deu um facto criminoso: objectividade criminosa;
2. Que ste facto foi produzido por aco do argido, ou de
outrem sbre quem influiu a vontade do argido: subjectividade
criminosa;
3. Que esta aco, ou esta influncia sbre a aco, foi
animada de inteno criminosa: subjectividade inferior criminosa.
160 A Lgica das Provas em Matria Criminal
criminalidade, em sentido jurdico, de cada um dstes
elementos, resulta do concurso de todos os trs; e por isso, sob
ste aspecto, eles so concomitantes entre si: no pode admi-
tir-se um sem se admitir os outros.
Facto criminoso: como pode le entender-se, abstraindo da
aco e da inteno criminosa? Se suprimirmos a inteno cri-
miuosa, ou a aco criminosa que associa esta inteno ao facto,
encontrar-nos hemos em face dum facto simplesmente casual.
A aco criminosa, por sua vez, no pode ser afirmada
sem a suposio necessria da inteno dolosa na pessoa que a
I praticou, e sem a conseqncia dum facto qualquer, ainda que seja
um simples perigo real, que dle resulte. Sem inteno ou sem
[ efeito algum, pode por acaso chamar-se criminosa uma aco?
inteno, finalmente, pode ser, como criminosa, cha-
mada a responder em juzo, sem uma aco correspondente, ou
sem algum facto produzido, quere mesmo um simples perigo de
violao do direito?
De tudo isto resulta a observao importante, que no deve
esquecer-se, de que a prova, tomada singularmente, dum dstes
elementos no se apresenta seno hipotticamente como prova
dum elemento criminoso, e no aparece efectivamente como
prova directa do crime, seno quando se associa com a prova
suficientemente completa de todos os trs elementos constitutivos
do crime.
Se se no prova um dstes elementos, no pode haver cer-
teza do crime. Mas a importncia da prova, relativamente veri-
ficao do que constitui o crime, decresce medida que se passa
da prova objectiva do facto prova subjectiva do acto, e prova
subjectiva da inteno.
O facto que se apresenta com aparncia criminosa, excep-
tuando os poucos casos em que pode aparecer juntamente com
as outras hipteses crveis da causalidade casual, o facto aparen-
temente criminoso, dizia, faz supr uma aco criminosa em geral
que o ocasionou. Para julgar, no necessrio mais do que deter-
minar melhor e mais seguramente a natureza da aco, refe-
rindo-a a uma pessoa determinada.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 161
aco por sua vez aparentemente criminosa, atribuda a
uma pessoa determinada, faz supor a inteno no agente, conhe-
cendo-se por experincia geral que o homem obra sabendo para
onde dirige a sua aco, e dirigindo-a por meio da vontade. O
facto, portanto, que a concretisao do crime, faz subir por uma
cadeia de presunes
1
ao elemento subjectivo da aco como a
uma causa fsica, e ao elemento subjectivo da inteno como a
uma causa moral. Estas presunes no dispensam por certo da
prova dos elementos subjectivos, mas servem para mostrar como o
ponto de partida do processo probatrio o elemento objectivo; o
elemento objectivo que, com quanto faa sbressair os elementos
subjectivos, no tem presuno alguma em apoio da hiptese da
sua criminalidade, tendo ao contrrio ordinriamente (quando se
trata de um facto que possa ser interpretado como no criminoso)
uma poderosa presuno em contrrio: a presuno de que os
factos humanos so geralmente inocentes, no sendo os factos
criminosos mais do que uma excepo. Isto, sob o ponto de vista
puramente probatrio.
Sob o ponto de vista da imputabilidade, portanto, h por acaso
possibilidade de imputao penal, sem um facto sinistro? Haja
embora uma aco dolosa, mas sem mais coisa alguma, haja
embora uma aco correlativa, mas sem facto algum, nem mesmo
de um perigo que tenha podido correr o direito; poder acaso falar-
se de imputao e da pena? Das intenes perversas, que se
conservaram simples intenes, Deus que se ocupa. Das aces
inanes que no tiveram fra de produzir sequer um sim- ples
perigo para o direito, no h razo para a sociedade se ocu- par:
deve ocupar-se, acaso, tambm da criana que tenta esvaziar o mar
com uma pequena concha? A sociedade s tem direito de pedir
contas de uma aco humana, quando tenha produzido algum facto
sinistro, ainda que fsse um simples perigo para o direito. E no
facto, que se radica a responsabilidade do indivduo ' para com a
sociedade.
1
Emprego aqui a palavra presuno no sentido lato que geralmente
se lhe costuma atribuir, no sentido de argumento lgico indirecto.
162 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Sob o ponto de vista probatrio, pois, como sob o da imputa-
bilidade, o ponto de partida deve ser sempre o elemento objectivo.
De todo o modo, tanto o elemento objectivo, como os ele-
mentos subjectivos, devem ser igualmente certos, para que o crime
seja certo. Tda a prova portanto que tem por contedo imediato,
no todo ou em parte, quer o facto criminoso, quer a aco ou a
inteno criminosa, prova directa, mais ou menos parcial, do
crime. bom por isso lanar uma vista de olhos particular sbre
cada um dstes elementos, de cuja determinao depende a deter-
minao das provas, emquanto ao seu contedo, como directas e
como indirectas.
I. FACTO CRIMINOSO
No h crime, sem um facto externo violador do direito. Todo
o crime tem por isso um duplo objecto: objecto material que a
coisa ou a pessoa sbre que recae a aco; objecto ideal,. que o
direito que sofre a violao. Resulta daqui uma dupla espcie de
factos: facto material, resultante da aco sbre as pessoas ou sbre
as coisas; facto ideal, resultante da aco sbre
o direito. Apresentemos as razes de cada um dstes factos.
Quanto ao jacto material, falando dle, no entendo j falar
do fim do delinqente. O facto material de que falo simplesmente
o efeito fsico da aco criminosa, em que se concretisa
objectivamente a figura fsica do crime e a sua essncia de facto;.
e ste efeito tsico pode coincidir com o fim do delinqente, como o
cadver, no homicdio por dio, e pode ser nicamente um
simples. meio, tambm criminoso era si mesmo, relativamente ao
fim ltimo a que se prope o delinqente, como o cadver, no
homicdio por lucro. necessrio porm observar que a materia-
lidade-meio, produzida pela aco, no pode considerar-se como
constitutiva do jacto material seno emquanto pela sua gravidade
criminosa se considera como constitutiva da essncia de facto do
crime em questo: se assim no , a materialidade-meio deve ser
julgada como fazendo parte no do jacto, mas do outro elemento*
criminoso consistente na aco.
A Lgica das Provas em Malria Criminal 163
A materialidade em que assenta a figura fsica do crime e
que constitue o facto, s vezes, devido sua natureza, diversa da
aco criminosa, de que simplesmente o resultado extrnseco e
nitidamente distinto; como no caso de homicdio, mesmo quando
cometido por dio ou por lacro, caso em que o cadver, que da
resulta, nunca se confunde com a aco criminosa, mas natu-
ralmente diferente dela. Por vezes a materialidade produzida pelo
crime, comquanto no seja originriamente diversa da aco,
torna-se tal emquanto aco criminosa, medida que se exte-
riorisa, fixa-se em uma materialidade permanente que se espera
do agente, constituindo a figura permanente do crime, como na
publicao falsa para lucro o escrito falsificado. Nesta segunda
hiptese, de originalidade igual entre aco e facto, a aco cri-
minosa, direi assim, fica fotografada na materialidade do facto; na
primeira hiptese, ao contrrio, de diferente originalidade entre
aco e facto, o facto material no reproduz o desenvolvimento da
aco, de que se revela no como espelho, mas como um simples
resultado.
H crimes, finalmente, cuja materialidade uma s coisa
com a aco humana, ao passo que o facto material est todo na
percepo ou na paixo da aco criminosa passageira: o caso
dos crimes de facto transeunte, dos crimes que no deixam atrs
de si efeitos fsicos permanentes. Assim, na ameaa verbal e na
injria verbal, o facto material est todo no som, que vai ferir os
sentidos de outrem, da palavra ameaadora e injuriosa. Nstes
casos, a prova objectiva do facto est tda na prova subjectiva da
aco, ou, para me exprimir na linguagem brbara da escola, no
existe prova genrica distinta da prova especfica.
Emquanto ao facto ideal ou jurdico, parecer estranho falar-
se aqui dle, a propsito de prova judicial, quando as provas em
matria criminal s se dirigem verificao do crime como Jacto.
Mas com um pouco de anlise, vr-se h que temos razo em falar
dle, porquanto h casos em que no pode falar-se do facto do
crime, se primeiro no se estabeleceu para prova o facto do
direito. Vejamo-lo.
O direito s pode ser objecto de violao criminosa quando
164 A Lgica das Provas em Matria Criminal
6 actualmente gozado por ama pessoa-; e falo de gzo actual, rela-
tivamente ao direito, no em relao coisa a que o direito se
refere. Ora sob o ponto de vista do gzo actual, o homem tem
diversos direitos. Tem direitos inberentes essencialmente sua
natureza de homem, direitos que pela sua simples qualidade de
homem, lhe so atribudos como gzo actual e pessoal: tambm
o selvagem, em face do selvagem, tem sempre iguais direitos,
como, por exemplo, o de conservar a sua integridade pessoal.
O homem tem tambm direitos naturais sua qualidade de
membro de uma sociedade civil, direitos que, pela sua simples
qualidade de cidado, lhe so atribudos como gzo actual e
pessoal.
Os primeiros direitos, que denominarei direitos congnito--
humanos, no teem que ser provados; a existncia de tais direi-
tos, e a sua prova, est tda na natureza de homem do sujeito
em questo. Os segundos direitos, que chamarei congnito-sociais,
referindo-se ao indivduo como membro da sociedade, ou a tda
a sociedade, tambm no teem necessidade de prova particular;
a existncia dstes direitos, e a sua prova, est tda, para os
direitos individuais, na natureza, que tem o ofendido, de mem-
bro da sociedade civil, e para os direitos colectivos, na natureza
da prpria sociedade civil constituda.
Quando se fala portanto de prova particular do direito,
necessria para a prora do crime, j no se fala de direitos con-
gnitos, quere humanos quero sociais.
Mas alm dstes direitos congnitos, direitos h cujo gzo
pessoal e actual provm de relaes particulares estabelecidas
entre uma pessoa e outra, ou entre uma pessoa e uma coisa: so,
stes, os direitos adquiridos. Ora, quando se trata da violao,
quere consumada quere tentada, de um dstes direitos, neces-
srio ter provado a existncia de facto da relao particular gera-
dora do direito, para poder dizer que o direito um estado vio-
lado, e que um crime foi cometido. Por exemplo, a aco sbre
a coisa, em geral s tem imputao quando ofenda uma pessoa
individual ou colectiva, a pessoa que segundo a linguagem exacta
da escola clssica se chama o paciente do delito; e eis a razo
A Lgica das Provas em Matria Criminal 165
porque sempre que se trata de aco criminosa que recai sbre as
coisas, necessrio atender sua relao com a pessoa do
paciente.
Imputa-se um furto: no basta o facto de se apossar da coisa
para se dizer realizado o delito; necessrio tambm a prova da
relao particular entre outrem e a coisa, necessrio a prova de
que a coisa de outrem. Imputa-se o adultrio a uma mulher: no
basta a prova do comrcio sexual passado entre ela e um homem;
necessrio verificar tambm a sua relao particular com outro
homem, a sua relao matrimonial que d ao marido o direito
fidelidade que, na hiptese, ser o direito violado. Sem o direito
de outrem sbre a coisa de que se apossou, no haveria furto; sem
o direito do marido fidelidade da mulher, no existiria adultrio;
sem a verificao da existncia de facto dstes direitos, no
poderia existir certeza dos crimes respectivos. E necessrio no
perder de vista que o crime uma entidade jurdica, que se compe
de materialidade e de idealidade; tanto uma como outra, so
constitutivas do crime, e so por isso o crime. Tanto a prova
imediata do facto material, como a prova imediata do Jacto ideal,
so provas imediatas, ou directas se assim se lhes quero chamar,
do crime. A prova imediata do direito de outrem sbre a coisa, ,
tanto como a prova imediata de se ter apossado dela, uma prova
directa do furto: a prova directa daquele elemento criminoso
que consiste no direito violado, ou, se o preferem, na violao do
direito. A prova imediata do direito matrimonial fidelidade,
assim como a prova imediata do comrcio sexual com pessoa
diversa da do cnjuge, uma prova directa do adultrio: a prova
directa do elemento criminoso que consiste no direito violado.
II. AO CRIMINOSA
Na enunciao dste segundo elemento, falei de aco ou de
simples influncia sbre a aco, porquanto se sabe que pode
participar-se em um crime mesmo com a simples vontade quando
166 A Lgica das Provas em Matria Criminal
eficazmente manifestada, sem o concurso da aco: o caso da
cumplicidade de quem nicamente causa moral do crime; o
caso do mandante, do que aconselha, do scio no executor;
hipteses, tdas elas, em que a inteno criminosa de quem causa
moral, influindo, qusi, por assim dizer, se encarna na aco do
cmplice executor, encontrando assim nela o vinculo que a liga ao
facto.
Procuremos trazer algumas determinaes ao conceito da
aco criminosa.
Se atendermos a todo o caminho que percorre a actividade humana
para chegar da inteno perversa interior exteriorizao do facto
criminoso, encontraremos uma longa srie de actos externos, os
primeiros dos quais se confundem com a multido dos actos
indiferentes, no tendo, E por si, direco determinada para o
crime, e no podendo por isso produzir sequer aquele perigo do
direito, de onde nasce a imputabilidade da tentativa. Ora, ns,
falando de aco criminosa, no entendemos compreender nela
stes primeiros actos que no teem uma direco determinada para
o crime, stes primeiros actos que a escola chama preparatrios, e
que se confundem com os actos indiferentes. No
compreendemos na aco criminosa, seno os actos que
univocamente conduzem ao facto criminoso
1
; nles que se
encontra precisamente a execuo e a consumao do crime;
nles que deve encontrar-se prpria e lgicamente a aco cri-
minosa. Os actos preparatrios no unvocos, apresentam-se na
produo da prova criminal como coisas diversas do crime, e
conducentes a le por meio de argumentos lgicos; os actos pre-
paratrios, portanto, como os actos indiferentes, s podero for-
necer matria de prova indirecta; e nunca de directa.
A adquisio da espingarda e do veneno, ainda que feita com
o fim de servirem para matar, a adquisio da gazua, ainda
1
Para a determinao do que seja acto preparatrio o acto unvoco,
veja as perspcuas doutrinas de FRANGESCO CARRARA, a propsito de
tentativa no Programa e nos Opsculos.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 167
que feita no intuito de roubo, so actos preparatrios, porque so
conciliveis com hipteses inocentes, porque no apresentam
univocidade criminosa; e por isso nunca faro parte da aco
criminosa prpriamente dita, e nunca sero matria de prova
directa do crime: s podero funcionar entre as provas como
indcios. Ficam, assim, marcados os limites daquilo que enten-
demos por aco criminosa.
Mas a actividade da pessoa fsica, funcionando como aco
criminosa prpriamente dita, nem sempre actua imediatamente
sbre a coisa ou sbre a pessoa em que produz o facto material, de
que anteriormente falmos. Qusi sempre, para atingir a meta do
crime, serve-se de meios no pessoais que tornam fcil e eficaz o
progresso da aco criminosa em direco ao seu fim. Querendo
penetrar-se em um lugar fechado para a roubar, no se recorre
unicamente fra simples e una dos prprios msculos, ou a
recursos da prpria agilidade; mas usa-se da gazua para abrir as
fechaduras, da alavanca para frar as portas, da escada para
altar os muros. Quando se quere matar, no se recorre fra
una dos prprios braos, mas usa-se de um punhal, da espingarda
ou do veneno. stes meios, instrumentos inconscientes, mudos e
cegos, nas mos do delinqente, quando aplicados ao eu fim,
identificam-se com a sua aco, e so, direi assim, animados pela
aco criminosa que os guia. Mesmo quando stes meios tivessem
sido criados pela aco do delinqente, como se o ladro
construsse uma escada e dela se servisse para roubar, mesmo
ento stes meios nunca seriam o produto da aco criminosa,
nunca poderiam considerar-se como facto, porquanto sendo
inofensivos em si mesmos, sob o ponto de vista da criminalidade
no so e no ficam sendo mais do que simples meios. Em geral,
tda a materialidade produzida no como concretizao do crime,
mas como meio univocamente conducente concretizao do
crime, quando no seja criminosa em si mesma, no entra no facto
criminoso, mas na aco criminosa: assim, a porta derrubada, que,
para evitar a hiptese da criminalidade intrnseca do dano
efectuado ao derrub-la, supomos pertencente ao prprio agressor,
a porta derrubada, dizia, para alcanar e
168 A Lgica das Provas em Matria Criminal
matar um homem, no um facto criminoso, mas um simples
meio criminoso, uma parte da aco criminosa.
Voltando ao assunto principal, tambm os meios pessoais,
tendentes execuo do crime, desde que se dirigem univoca-
mente meta criminosa, passam por isso a fazer parte da aco
criminosa; e necessrio considerar a prova imediata, que lhe*
respeita, como prova directa, mais ou menos parcial, da aco
criminosa. A arma arrancada do peito da pessoa assassinada
uma prova real, que tem contedo de prova directa; o depoi-
mento sbre a natureza e aspecto da arma homicida uma-.
prova pessoal, que tem contedo de prova directa. I necessrio
fazer aqui uma reflexo respeitante a esta espcie de prova
directa, que consiste DOS meios no pessoais-empregados.
Mas antes de entrarmos na reflexo que julgamos conve-
niente fazer, necessrio principiar por chamar a ateno para
uma observao j feita genricamente a propsito de prova
directas e indirectas. Dissemos j que a prova, que considerada
directa emquanto respeita imediatamente ao crime em um do
seus elementos, prova indirecta relativamente aos outros ele-
mentos do mesmo crime. Segue-se daqui que uma prova directa
da aco pode funcionar como prova indirecta emquanto ao facto
e emquanto aco. Assim, do facto de levar escondida a coisa
alheia, modo de exerccio da aco fsica provado directamente,
pode concluir-se duma forma mais ou menos eficaz, mas sempre
indirecta, a inteno criminosa de roubar. Assim, tambm, do
tacto de ter-se usado contra algum duma arma homicida, modo-
de exerccio da aco fsica provado directamente, pode con-
cluir-se dum modo mais ou menos eficaz, mas sempre indirecto,
a natureza criminosa do facto; como se, tendo desaparecido Caio,
uma tstemunha presencial afirmasse ter visto Ticio disparar
contra Caio um tiro de espingarda, e Caio car; a natureza do
meio empregado funcionaria como prova indirecta do facto homi-
cida, na falta da prova directa do cadver.
Em seguida a trmos recordado tudo isto, passemos agora
reflexo que queramos fazer relativamente aos meios no pes-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 169
soais empregados. Tomando a aco criminosa em um sentido
restrito e insolnvelmente pessoal, a sua prova directa tambm
prova directa do agente. Mas quando o agente incorpora, direi
assim, na prpria aco estrictamente pessoal meios estranhos e
destitudos, por sua natureza, de vnculo indissoluvelmente pes-
soal; quando faz entrar na ordem da prpria actividade criminosa
uma alavanca, uma escada, um punhal, a prova imediata desta
alavanca, desta escada, dste punhal, sempre rigorosamente uma
prova directa, por isso que prova imediata dum fragmento de
aco criminosa. Mas stes meios, provados directamente, no se
achando por sua natureza ligados pessoa, no podem s por si
funcionar seno como provas directas da pessoa do agente; por
outro lado, portanto, relativamente ao facto da consumao so
tambm provas indirectas como tdas as provas directas da aco
una. Conclue-se daqui que emquanto aos fins principais do
julgamento, consistentes na verificao do 'ru e do facto
criminoso, s por si, as provas directas desta espcie s funcionam
eficaz e utilmente como provas indirectas.
A tudo isto necessrio juntar que estas coisas, relativa-
mente prpria substancialidade das provas directas, tendo a sua
natureza criminosa nicamente no uso, prpriamente emquanto
teem certamente prestado aquele dado uso, que constituem um
fragmento da aco criminosa; e por isso, para trmos contedo de
prova directa, devem ter sido percebidas como tendo certamente'
tomado parte no conjunto da aco. Um punhal, suponhamos, que
se encontra na casa de Ticio, acusado de ferimentos, no mais do
que uma prova indirecta, um simples indcio. O punhal ser, ao
contrrio, um objecto de prova directa da aco criminosa quando
tenha sido visto no momento da aco, na mo do agressor, ou no
peito da vtima. Como o punhal, assim tambm qualquer outro
meio de execuo, no pode ser objecto de prova directa, seno
quando se verifica a sua incorporao na aco criminosa.
A escada, quando tenha servido com certeza para saltar o muro, a
gazua, quando tenha com certeza servido para abrir a porta, o punhal,
quando tenha certamente servido para a agres- j
170 A Lgica das Provas em Matria Criminal
so, so, todos les, verdadeiros fragmentos da aco criminosa;
e, nste sentido, podem dar lugar prova directa. necessrio
ter-se a certeza de que stes meios foram encaminhados pela
aco dirigente do delinqente ao fim criminoso; necessrio
que se apresentem com a univocidade criminosa, como quando
a gazua encontrada na fechadura aberta, a alavanca junto da
porta arrombada, a escada em frente do muro escalado.
Tudo isto mostra como rara a utilidade, e raro o caso
desta espcie de provas como directas; tudo isto mostra a razo
por que estas provas s costumam tomar-se como indcios; e tudo
isto finalmente servir para explicar ao leitor aquele sentimento
de repugnncia que, primeira vista, pode prevenir a conscincia
a admitir que stes meios materiais, destinados execuo dum
crime, possam considerar-se como matria de provas directas do
prprio crime.
Uma ltima palavra sbre a aco criminosa. Falamos da
aco como meio de conjuno entre a inteno criminosa e o
facto; mas casos h em que a inaco que liga uma ao outro:
o caso do crime de omisso, do crime que tem lugar omitindo
uma aco, a que outrem tenha um direito exigvel, como, por
exemplo, no caso de infanticdio, perpetrado pela me negando o
leite sua criana. Ora, a propsito do crime de omisso, poder-se
h perguntar se possvel a prova directa da inaco criminosa.
ste um exame que entra na questo da prova do facto nega-
tivo, tratada por ns a propsito do onus da prova.
A inaco um facto negativo; um facto que no existiu,
e que por isso no pode perceber-se directamente; e no podendo
perceber-se directamente, em rigor no pode provar-se directa-
mente. Mas quando a inaco imputada determinada emquanto
ao tempo e ao lugar, podendo observar-se directamente a natureza
positiva do seu estado pessoal, negativo daquela dada aco, a
prova directa daquele estado, incompatvel com a aco, resol-ve-
se em prova qusi directa da inaco. firmando-se, por quem
observou a me e a criana ao tempo que se fixa como sendo o
4a inaco criminosa, afirmando-se, dizia, que a me se conservou
sempre afastada da criana, apresenta-se uma prova directa dum
A Lgica das Provas em Matria Criminal 171
estado positivo da me (o seu afastamento da criana), estado que
incompatvel com a aco de amamentar, e que por isso se
resolve em prova qusi directa de no ter amamentado, ou seja da
inaco criminosa.
III. INTENAO CRIMINOSA
Antes de passar adiante, necessrio observar que a deter-
minao da pessoa do delinqente, por prova directa, s tem lugar
na prova directa da simples aco, ou na cumulativa da aco e da
inteno: um indivduo no pode ser, por meio de prova directa,
designado como o delinqente, seno quando resulte por meio da
prova directa ser le o autor da aco criminosa. Eis porque no
nos ocupamos aqui da determinao da pessoa do delinqente
como matria especial de prova directa. Tendo por isso no
nmero precedente falado da aco, passamos aqui a tratar do
terceiro e ltimo elemento criminoso, que consiste na inteno.
propsito de inteno, como matria de prova directa,
necessrio principiar por notar uma diferena dste elemento
criminoso dos dois outros precedentes. A aco e o facto crimi-
noso sucedem-se imediatamente, so dois elementos que se con-
sideram conjuntos: j isto no sucede com a inteno criminosa
relativamente aco e ao facto. A inteno pode nascer na
conscincia 'em poca muito anterior aco, e pode afirmar-se
por um modo indeterminado e destacado da aco. Ora a inten-
o, s por si, considerada na conscincia, como separada da
aco, no elemento criminoso. Sob o ponto de vista da impu-
tao, e sob o ponto de vista das provas, a inteno precedente,
emquanto no se realiza a sua continuidade at ao crime, um
simples facto interno diverso do crime, um simples facto interno
insusceptvel de se verificar, como todos os factos internos, um
facto que, sendo diverso do crime, no pode servir para sua prova,
seno por meio indirecto: a inteno precedente e destacada um
simples indcio que conduz concluso da inteno sucessiva
172 A Lgica das Provas em Matria Criminal
concomitante da aco, em que em ltimo lugar consiste pr
pria
mente o elemento criminoso intencional. A inteno, portante, s
pode considerar-se como elemento criminoso quando se supe
ligada aco. ste o ponto de vista sob que se considera o
elemento criminoso da inteno: passemos agora a determin-lo.
O crime que tem uma natureza externa fsica, tem tambm
uma natureza interna moral. A sua natureza interna moral a
inteno; e esta o movimento interno do esprito para o
crime.
Para que o esprito se mova para um fim necessrio que
descubra sse fim e o caminho que a le condas: eis a inteli-
gncia, lho da alma, primeiro elemento necessrio da interiori-
dade moral.
Mas para integrar esta natureza moral interna do crime
no basta a simples funo intelectual: necessrio, alm disso,
que o esprito se determine a alcanar aquele fim, e a percorrer
o caminho que a le conduz, dando assim impulso e finalidade
aco. E eia a vontade em aco, actividade radical do esprito,
e ponte de passagem entre o mundo interno e o mundo externo;
actividade radical que arranca o esprito da solido da conscincia,
e o conduz a manifestar-se no mundo externo dos homens e das
coisas.
Para integrar o elemento moral do crime necessrio por
isso a participao da inteligncia e da vontade.
Tda a prova que tem por objecto imediato a participao
da inteligncia e da vontade no crime, prova directa.
Mas a inteligncia e a vontade, escondidas nos secretos
recessos do esprito, onde s penetra o olhar de Deus e o da
prpria conscincia, subtrando-se percepo directa dos outros
homens, subtraem-se possibilidade de serem objecto de prova
directa. No h seno a afirmao da prpria conscincia que
possa ter por contedo directo as modalidades do prprio esp-
rito, sempre que a conscincia no tenha perdido a sua lucidez
normal; s a confisso pode ser prova directa do elemento inten-
cional. Exceptuando o caso da confisso, no possvel chegar-se
verificao do elemento intencional, seno por meio das provas
A Lgica das Provas em Matria Criminal 173
indirectas: percebem-se coisas diversas da inteno prpriamente
dita, e dessas coisas passa-se a concluir pela sua existncia.
De tda a forma, necessrio determinar era que consiste
ste concurso da inteligncia e da vontade, para determinar em
que consiste ste elemento subjectivo interno do crime, que
assenta na inteno, e que o terceiro contedo possvel da prova
directa. A matria vasta; mas ns mencion-la hemos
rpidamente, e da forma mais compreensiva que conseguirmos.
Procedamos por ordem.
A) Inteligncia.A prova subjectiva , em primeiro lugar,
chamada para verificar o concurso de facto da inteligncia, rela
tivamente aco praticada e s conseqncias da aco. Esta
viso intelectual da aco e do facto contrrio ao direito que se
lhe segue, necessria para haver dolo. Se faltasse a previso
do facto contrrio ao direito, no existiria dolo; mas culpa, se o
facto era de prever; acaso, se o no era. necessrio, portanto,
verificar em primeiro lugar o modo como funcionou de facto a
inteligncia, relativamente ao crime, para determinar se houve
ou no dolo; e para poder, assim, na segunda hiptese, afirmar
a culpa ou a casualidade, com o critrio da natureza do facto
susceptvel ou no de ser previsto.
Mas da inteligncia tambm se determina, alm da activi-
dade concreta ou de facto, o grau de amplitude derivado da
potncia da faculdade: a maior ou menor perfeio, ou a im-
perfeio completa e irresponsvel do acto intelectual, por motivo
de condies inherentes faculdade intelectual. Sob ste aspecto,
o concurso da inteligncia pode ser excluido, ou enfraquecido, por
causas fisiolgicas, como a idade, o sonambulismo, o surdomu-
tismo, a loucura; e por causas ideolgicas: o rro.
Concurso de facto e concurso potencial, eis tudo o que
chamado para verificar a prova subjectiva relativamente inte-
ligncia.
B) Vontade. Relativamente ao segundo elemento da inten
o, que a vontade, a prova subjectiva deve tambm em pri
meiro lugar verificar o concurso de facto desta, podendo com
efeito a vontade dirigir-se prpriamente ao facto criminoso, ou
174 A Lgica das Provas em Matria Criminal
a outro, mas aceitando o facto criminoso como conseqncia
incerta da prpria aco: dolo determinado, no primeiro caso, e
indeterminado, no segundo. Distino, esta, que respeita a uma
diversidade fundamental da natureza do dolo, diversidade que
deriva da tendncia diversa que em concreto teve a inteno,
podendo a inteno dirigir-se ao facto criminoso como a um fim
mais ou menos certo da aco, ou dirigir-se a outro, aceitando
tdavia o facto criminoso como uma conseqncia incerta da
aco. Admitida a viso intelectual do facto criminoso, o estudo
da diversa tendncia da vontade que deve determinar a diversa
natureza do dolo
1
.
E necessrio, portanto, verificar, em primeiro lugar, o modo
como juncionou de Jacto a vontade, para vr se o dolo deter-
minado ou indeterminado.
Mas tambm relativamente ao concurso da vontade, alm do
modo de funcionar concreto ou de Jacto, necessrio verificar
a sua plenitude, derivada da liberdade potencial da faculdade;
a maior ou menor perfeio do acto volitivo por razo de con-
dies inerentes faculdade volitiva.
Esta perfeio maior ou menor da vontade pode considerar-se
relativamente sua energia intrnseca espontnea, e relativa-
mente ao influxo das causas extrnsecas, que actuam sbre ela.
Quanto energia intrnseca, ela maior ou menor segundo
a maior ou menor fra vencedora da vontade criminosa; e a
medida desta fra vencedora dada pela serenidade e pela dura-
o da determinao criminosa. prova compete por isso verifi-
car se o dolo foi sereno e perseverante, isto , premeditado, ou se
foi imprevisto.
Relativamente ao influxo de causas extrnsecas, elas podem,
actuando sbre a liberdade humana, actuar sbre a liberdade
como faculdade de exteriorizao, ou sbre a liberdade como
1
Para se achar uma diferena jurdica entre dolo determinado e dolo
indeterminado, necessrio fazer consistir o dolo indeterminado na previso
de coisa incerta, porquanto a previso de coisa certa, como direi melhor den-
tro em pouco, se identifica com a vontade dirigida prpria coisa.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 175
faculdade funcional interna. Isto, quanto ao objecto das causas
influentes.
Relativamente ao efeito que o influxo externo pode produzir,
h causas que aniquilam completamente a liberdade, e causas que
a enfraquecem. Apresentemos ste assunto o mais claramente
possvel.
liberdade pode ser completamente destruda na sua faculdade
de exteriorizao por uma causa fsica que actue sbre o corpo; e
tem-se o homem dominado, que o homem transformado
totalmente em um instrumento passivo nas mos de outro homem,
ou nas do destino; assim, se outra pessoa agarra na minha mo em
que introduziu um punhal, e mata com le; assim, se um furaco
me atira para cima de uma criana que morre por ste motivo.
A liberdade pode no ser destruda, mas completamente
paralisada na sua faculdade funcional interna por uma fra
moral (e digo moral, emquanto ao objecto sbre que actua, que
o esprito humano); e tem-se o coagido. Assim, se, no trror do
naufrgio, arrebatamos a tbua de salvao a outro nufrago, que
devido a isso se afoga: coaco interna que motivou a aco; assim,
se, no trror de sermos assassinados, matamos o agressor: coaco
interna que provocou a reaco.
A liberdade pode finalmente no ser destruda, nem com-
pletamente paralisada, mas paralisada em parte, sempre na sua
faculdade funcional interna, e sempre por uma causa moral; e
tem-se o violentado, em quem a espontaneidade de determina-o
no completa. Por isso, em todos os casos compreendidos no
ttulo genrico de mpeto de afecto, que, comquanto consista em
uma coaco interna, s se entende quando tenha tido o seu impulso
em uma causa externa que actuou sbre o esprito: a ira tem o seu
impulso externo em um mal que se sofreu; o temor, em um mal a
sofrer.
Tudo o que temos dito chamado para a verificao da
prova subjectiva emquanto vontade.
E eis sumriamente indicado o que constituo o concurso da
inteligncia e da vontade no crime. Indiquei e no desenvolvi,.
176 A Lgica das Provai em Matria Criminal
porque sse desenvolvimento pertence teoria da imputao, e
no crtica criminal.
0 que importa notar sob o ponto de vista da crtica crimi-
nal que o elemento intencional, sendo uma coisa distinta do
elemento material, necessita de uma prova especial. Na prtica
afirma-se muitas vezes sem mais nada o elemento intencional,
mediante a simples prova do elemento material; e no direi qne
a prtica nunca tenha razo, mas que certamente nem sempre
a tem.
A deduo do elemento intencional do elemento material
lgica smente quando o elemento material in se dolum habet.
O homem, ser racional, no obra sem dirigir as suas aces a um
fim. Ora quando um meio s corresponde a um dado fim crimi-
noso, o agente no pode t-lo empregado seno para alcanar
aquele fim; a deduo, portanto, do elemento intencional da prova
do elemento material lgica nste caso, quando mesmo o fim
criminoso se no tenha alcanado. Ticio prendeu um lao corre-
dio a uma trave, e, introduzindo nle fra o pescoo de Gaio,
fugiu deixando-o a pendurado. Quer Caio morra disso, quer seja
salvo por algum que sbrevenha imediatamente, o elemento
intencional necessrio para se afirmar o homicdio no primeiro
caso, e a tentativa de homicdio no segundo, ficar provado pela
simples prova do elemento material.
Por isso, quando se tenha provado que Ticio prendeu uma
mecha incandescente a um palheiro, e largou a fugir para se pr
a salvo; realize-se ou no o incndio, o elemento intencional da
tentativa, como o do crime consumado, encontra a sua prova no
prprio facto material.
Assim tambm, quando se tenha provado o elemento mate-
rial do estupro, no' ser por certo necessria uma prova especial
do elemento intencional: res ipsa in se dolum habet.
Assim, quem entrega uma fortaleza ao inimigo, quem num
bilhete onde se acha inscrito o valor de mil francos o substituo
por uma soma de dez mil, no tem certamente o direito de exi-
gir da acusao a prova da sua inteno criminosa.
Nstes casos e nos semelhantes, admitindo-se normalmente
A Lgica das Provas em Matria Criminal 177
a faculdade intelectual e a volitiva no agente, necessrio admitir
que funcionaram lcida e activamente para o nico fim possvel da
aco, que o fim criminoso. Nstes casos s se pode impugnar a
inteligncia e a 'vontade como faculdades potenciais do agente,
por virtnde de condies anormais, inerentes concretamente a estas
faculdades. Poder-se h assim alegar a falta de juzo para excluir o
concurso intelectual, e o estado de domnio ou de coaco para
excluir o livre concurso da vontade: necessrio pelo menos que a
credibilidade surja destas condies anormais, para obrigar prova
especial do elemento intencional positivo.
Mas fora dstes casos em que a materialidade no tem mais
que um sentido e um nico fim possvel/ em todos os outros casos
necessrio uma prova especial para a verificao do elemento
intencional. Um individuo deitou abaixo uma rvore alheia que se
encontrava nos limites de uma sua propriedade, e levou-a dali:
necessrio provar a inteno de se apropriar de coisa alheia, para
lhe imputar um furto; ou necessrio provar a inteno de
atribuir-se a propriedade de uma coisa que julga pertencer-lhe, no
obstante a posse alheia, para o imputar por esta razo; ou
necessrio provar a inteno de fazer injria ao proprietrio, para
o acusar de dano voluntrio. Se se no prova espcie alguma
destas intenes criminosas, o ru, em face da imputao de um
dos trs crimes supracitados, tem sempre o direito de ser
acreditado, quando afirma que arrancou a rvore na boa f de
legtimo proprietrio. Se se no prova a especialidade da inteno
criminosa, a prova da materialidade da aco no serve de coisa
alguma.
A prova especial da inteno, por isso, sempre importante,
ainda mais importante em matria de tentativa que de crime
consumado. E eis as razes disto:
Em geral, quere para o crime consumado, quere para a ten-
tativa, tanto vale ter querido o facto criminoso, como t-lo pre-
visto como conseqncia certa da prpria aco; nste ltimo
caso, a vontade e a aco, se bem que se dirigissem a outro fim,
inocente ou menos criminoso, aceitavam, comtudo, a certeza da-
12
178 A Lgica das Provas em Matria Criminai
supervenincia do facto criminoso, como conseqncia da pr-
pria aco. A previso de coisa certa identifica-se, por isso, com
a vontade aplicada ao mesmo acto; existe sempre dolo determi-
nado, tanto para a tentativa, como para o crime consumado.
Mas quando, ao contrrio, a previso do facto como de
uma coisa incerta, resultam ento da conseqncias mais im-
portantes para a tentativa do que para o crime consumado;
ento s se manifesta o dolo indeterminado, e esta espcie de
dolo s se concilia com o crime consumado. A indeterminao
do dolo destri a imputabilidade da tentativa, ao passo que no
faz seno enfraquecer a do crime consumado. Pelo que respeita
ao crime consumado, esta distino de dolo determinado e inde-
terminado tem apenas um valor de simples graduao do dolo,
ao passo que ao contrrio, quando se trata de tentativa, esta
distino tem o valor de admisso ou excluso da imputabili-
dade. E compreende-se a razo.
Perante o facto criminoso verificado, natural que, t-lo-
previsto como coisa certa ou incerta, no tem uma tal impor-
tncia que exclua a imputabilidade. A imputao radica-se,
de certo modo, no facto material produzido pela aco, bastando-
a sua simples previso para se afirmar o dolo do agente.
Mas quando se trata de tentativa, o facto criminoso no-
existe, ou pelo menos no existe o facto criminoso correspondente
ao maior fim criminoso que se imputa; a imputao radica-se
totalmente no elemento moral, isto , na inteno, que para ser
imputvel, deve conseguintemente ser bem determinada. E a
vontade excedente aco, que se imputa na tentativa; e esta
vontade, para ser imputada, deve dirigir-se explicitamente ao
crime que se pretende imputar em razo da tentativa. Conse-
guintemente, se o dolo indeterminado, no h mais que falar
de tentativa; existir uma aco no imputvel, ou uma aco
imputvel pelo que , e no pelo que podia ser, pelo que produ-
zia, e no pelo que podia ter produzido.
Todos vem daqui a grande importncia da prova subjectiva
da inteno na tentativa.
E eis a razo porque falamos do facto, da aco e da inten-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 179
o, isto , dos trs elementos constitutivos do crime. Quando a
prova tem por contedo imediato, no todo ou em parte, um ds-
tes elementos, a prova directa.
Isto sob o ponto de vista da diviso das provas emquanto ao
contedo. Voltaremos a tratar dste assunto com uma certa
largueza quando, a propsito de diviso formal das provas, tra-
tarmos da prova directa em especial que se apresenta, na origi-
nalidade da sua forma material, sob os olhos do juiz.
CAPTULO III
Prova Indirecta em especial, sua natureza e
classificao
Se o homem s podesse conhecer pela prpria percepo
directa, seria bem pobre o campo dos seus conhecimentos; pobre
no mundo das ideias, pobre no mundo dos factos. Para que um
facto possa ser percebido directamente, necessrio a coincidn-
cia de lugar e de tempo entre le e o homem que o deve perceber.
Ora, o homem simplesmente um ponto na amplido ilimitada do
espao; no mais que um tomo fugitivo, no infinito desenvolver-
se do tempo. grande massa dos acontecimentos passa-se fora da
esfera das nossas observaes directas; e so por isso bem poucos
os factos que ns podemos conhecer pela viso directa de nossos
olhos.
Supre isto, em parte, a viso directa dos outros, que nos
referem o que perceberam: o conhecimento de cada um serve-se,
por isso, do de todos. Mas isto tambm nem sempre possvel, e
existe uma multido de coisas que se escapam no s nossa
percepo, mas tambm s dos outros que poderiam referi-las.
Dever o homem renunciar ao conhecimento destas coisas, e per-
manecer nas trevas? Felizmente, no. Entre uma coisa e outra
existem fios secretos e invisveis aos olhos do corpo, mas visveis
aos do esprito; fios tnues que so o meio providencial por que
180 A Lgica das Provas em Matria Criminal
esprito chega conquista do ignoto; fios tnues, percorrendo quais
o esprito humano, partindo daquilo que conhece directa-ente,
chega ao que no pode directamente perceber. por stes
caminhos, invisveis aos olhos do corpo, que o esprito humano,
achando-se em face das causas, se dirige por meio do pensamento
aos seus efeitos, e achando-se em face dos efeitos, se encaminha
pelo pensamento s suas causas. E stes caminhos podem conduzir
bem longe e bem alto. No porventura subindo a corrente dos
homens e das coisas que decorre de h seis mil anos, que os olhos
do filsofo e os do santo descobriram DO extremo do horizonte,
um, o Infinito, e o outro, Jehovah?
Mas deixando de parte tudo o que extra-mundano e que no
nos respeita, parece que tda a coisa, na sua realizao no mundo,
derrama em trno de si como que uma irradiao de relaes, que
a liga a muitas outras coisas. E precisamente pela percepo destas
outras coisas, e pela percepo das suas relaes com o que
queremos conhecer, que ns chegamos conquista do ignoto;
meio de conhecimento indirecto, que o triunfo da inteligncia
humana sbre as trevas de que o rodeia a sua natureza finita.
to necessrio vida, servir-se tambm dos meios indi-
rectos para o conhecimento das coisas, que a natureza previdente,
at na cegueira animal do bruto, creou impulsos instintivos para o
guiar em direco quilo que no se lhe apresenta directamente s
suas percepes sensrias directas. O co que, farejando o simples
vestgio, consegue alcanar o seu dono, no faz mais que dirigir-se
para o ignoto por meio do conhecido. O pssaro que, com os
simples prdomos do inverno, emigra para regies mais
clementes, no faz mais que fugir bruma que ainda no veio, mas
que le pressente por meio da percepo dos indcios precursores.
Fatalidade benfica, esta, nos animais, que os conduz pelo mesmo
caminho por que nos conduz a razo, e os faz chegar a um igual
fim: isto , convico deduzida de provas indirectas; convico
instintiva e cega, nles; convico racional e esclarecida, em ns.
Em ns, sempre a razo que guia o esprito no seu cami-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 181
nho do conhecido para o desconhecido, por meio daqueles fios
ideolgicos que ligam o primeiro ao segundo. E o facho que ilu-
mina a razo nste caminho dedlico em que fcil perder-se, a
luz das ideias gerais; luz que se reflecte sbre as ideias par-
ticulares, e no-las faz distinguir.
O instrumento, pois, de que a razo se serve para recolher,
direi assim, os raios das ideias gerais, e concentr-los sbre as
ideias particulares, , como vimos ao falarmos da certeza em
geral, o raciocnio; o raciocnio, que o instrumento universal da
reflexo.
Mas qual a base dste raciocnio?
A experincia externa e a experincia interna; a experincia
do mundo fsico que nos rodeia e a do mundo moral da nossa
conscincia: eis a base do raciocnio que nos guia, pelo caminho
do conhecido, para o ignoto.
O assunto rduo, e merece ser tratado com ateno.
Procedamos com ordem. Comecemos por estudar a natureza
do raciocnio, que determinada pela natureza lgica da ideia
geral conhecida, que nos conduz ao particular ignoto. Passaremos
por isso a estudar-lhe a natureza e as diferenas ontolgicas; e
estas diferenas dar-nos ho em seguida o critrio para uma
classificao das provas indirectas.
Qual , portanto, a natureza lgica do argumento probatrio
indirecto? Sempre que se fala de raciocnio, fala-se de con-
seq
ncia particular, deduzida de uma premissa mais geral: , em
suma, a forma lgica da. deduo. Ora, em matria de argumen-
tos probatrios indirectos, tratando-se de factos particulares, indi-
cadores de um outro facto particular era que se concretiza o
crime, apresenta-se mente uma certa dificuldade lgica de admi-
tir a deduo como meio intelectual para conduzir ao conheci-
mento do crime. Poder acaso o crime deduzir-se por meio de
uma evoluo racional de uma ideia geral?
Mas tda a dificuldade desaparece, quando se atenda a que o
raciocnio, lgicamente, tem uma dupla natureza, relativamente ao
nosso duplo modo de perceber o contedo da maior.
O contedo geral da maior pode ser percebido imediata-
182 A Lgica das Provas em Matria Criminal
mente na sua realidade ideal; e da sua generalidade percebida
pode directamente deduzir-se o particular que nela se contm;
o caso da deduo pura, o mtodo fecnndo das scincias abs-
tractas, que consistem nicamente na evoluo dos princpios
supremos. ste raciocnio, que chamo puro, no tem aplicao
possvel s contingncias do crime; e no desta espcie de racio-
cnio que entendemos falar, quando falamos da forma lgica do
argumento probatrio indirecto.
Mas o contedo da maior do raciocnio, alm da percepo
imediata da sua realidade ideal, pode provir de um trabalho
indutivo; a observao das particulares faz-nos subir a uma ver-
dade mais geral: o caso da induo, o mtodo fecundo das
scincias experimentais. So as vrias particularidades observa-
das, que nos do aquela verdade geral, de que nos valemos para
em seguida concluirmos pela particularidade do crime. Nste
raciocnio, que chamo experimental, para o distinguir do outro
que chamei puro, sempre por meio do trabalho dedutivo que
se procede do conhecido ao desconhecido; mas a maior dste
raciocnio, o princpio geral que o ponto de partida da argu-
mentao, no o tomamos como percepo imediata, mas por tra-
balho de induo. ste o raciocnio em que se concretiza a
forma logica do argumento probatrio indirecto. Com a
experincia externa, observando que vrios fenmenos fsicos do
mundo externo so conformes no maior nmero dos casos,
conclumos pela verdade geral que constituo o ordinrio fsico, isto
, a regra do modo de ser e de actuar ordinrio das coisas;
servimo-nos por isso dste nosso conceito do modo de ser e de
actuar ordinrio das coisas, como de uma premissa, para
chegarmos concluso de uma determinada particularidade.
Assim, da observao particular e cumulativa de vrias espingardas
imediatamente a serem disparadas, sobe-se por induo afirmao
geral de que certos e determinados vestgios do cano provam
ordinriamente a exploso recente: encontram-se, em seguida,
aqueles dados vestgios nos canos de uma determinada espingarda,
e conclui-se por uma exploso recente desta espingarda.
Por outro lado, com a experincia interna observamos os
A Lgica das Provas em Matria Criminal 183
fenmenos morais particulares da conscincia, e destas observa-
es particulares passamos ao conceito do moral ordinrio, isto ,
a regra do modo de pensar e de actuar ordinrio dos homens,
verdade geral de que nos servimos como premissa para outras
espcies de raciocnios. Conseguintemente da observao particular
de cada homem, subimos por induo ao princpio geral, de que o
homem obra ordinriamente com um fim; examinando em seguida
uma dada aco, conclumos que o agente deve t-la praticado com
um dado fim.
Lgicamente s o raciocnio que chamamos experimental
pode funcionar como argumento probatrio indirecto.
Procuremos agora examinar a natureza ontolgica dste
raciocnio probatrio, isto , a natureza das verdades que podem
ser o seu contedo.
O raciocnio um juzo deduzido de dois outros juzos; cada
um dstes juzos expresso por meio de uma proposio: maior,
menor e concluso. Na primeira das premissas, que se chama
maior, assenta-se o juzo mais geral, ou seja o princpio em que se
contm a ilao que se procura extrair com a concluso; a
segunda das premissas, que se denomina menor, no mais que
um juzo que declara essa continncia. V-se daqui que a natureza
do raciocnio determinada pelo juzo contido na maior;
porquanto, de um lado, a concluso se acha contida naquele
mesmo juzo, e do outro, a menor s serve para declarar essa
continncia.
Para estudar conseguintemente a natureza ontolgica do
raciocnio, basta, como se fz relativamente ao estudo da natureza
lgica, estudar um nico juzo, o juzo expresso na maior. Se para
apurar a natureza lgica do raciocnio probatrio, atendemos ao
juzo contido na maior, em relao ao modo como se apossa do
esprito; para apurar agora a natureza ontolgica, devemos
considerar o mesmo juzo em relao d verdade a que se refere.
Ora, relativamente verdade, que o seu contedo, quais as
espcies de que pode ser ste juzo constitutivo da maior? A
resposta acha-se compreendida na questo geral e metafsica da
reduo dos primitivos juzos.
184 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Um juzo no mais do que. a relao entre duas ideias.
Ora, estas duas ideias, que constituem os dois trmos de relao,
podem ser idnticas entre si, e podem ser diversas. Eis, sob um
ponto de vista muito geral, duas categorias de relaes entre as
ideias; eis, conseguintemente, duas espcies de juzos possveis,
relaes de identidade e juzos analticos; relaes de diversidade
e juizos sintticos.
Todos os juzos de identidade reduzem-se lgicamente a um
s e supremo juzo que se denomina princpio de identidade:
o que , .
Entre duas coisas diversas, por isso, no pode existir relao,
seno quando uma actua sbre a outra, uma desenvolve a sua
actividade sbre a outra; por outros trmos, os juzos sint- ticos
reduzem-se a um s e supremo princpio que se denomina de
causalidade: todo o fenmeno supe uma causa.
Temos, portanto, dois juzos primitivos e supremos: o prin-
cpio de identidade, que o tronco primitivo de todos os juzos
analticos, o princpio de causalidade que tronco original de
todos os juzos sintticos
1
.
1
Os filsofos enumeram ordinriamente oito juzos primitivos, a que
se reduzem todos os outros, e que por isso chamam tambm princpios.
Alm dos dois por ns supracitados, enumeram outros seis: 1. o prin-
cpio de contradio: impossvel que uma coisa seja e no seja ao mesmo
tempo e sob a mesma relao; 2. o princpio de conhecimento: o objecto do
pensamento o ser; 3. o princpio de substncia: tda a qualidade supe
uma substncia; 4. o princpio de excluso do trmo mdio: uma coisa ou
no ; 5. o princpio da razo suficiente: no existe coisa alguma sem a sua
razo suficiente; 6. o princpio de finalidade: todo o meio supe um fim.
Mas stes outros seis princpios, reflectindo bem, reduzem-se, por sua
vez, aos dois primeiramente expostos, que ficam, assim, sendo os verdadeiros
juzos primitivos. Vejamo-lo rpidamente.
l. Uma coisa no pode ser e no ser ao mesmo tempo e sob as mes*
mas relaes, precisamente porque o que , ; o princpio de contradio
reduz-se, portanto, ao princpio de identidade.
2. O objecto do pensamento o ser, pois que se fsse o nada, pen-
sar-se hia em nada, isto , pensar-se hia e no se pensaria, indo de encontro-
ao princpio de contradio. O princpio de conhecimento, resolvendo-se con-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 185
Sendo a natureza de todo o raciocnio determinada pela natu-
reza do juzo contido na maior, e como o juzo contido na maior
s pode ser de duas espcies, segue-se que o raciocnio em geral
s pode ser de duas espcies: raciocnio analtico, em relao .
identidade; raciocnio sinttico, em relao causalidade.
E em particular, o raciocnio, como argumento probatrio
indirecto, que sob o ponto de vista lgico s pode ser, como ante-
riormente se viu, experimental, sob o ponto de vista ontolgico
pode ser, como depois se viu, de duas espcies: argumento pro-
batrio relativamente identidade, argumento probatrio relati-
vamente causalidade.
seguintemente no princpio de contradio, e resolvendo-se ste por sua vez
no princpio de identidade, segue-se tambm que o principio do conhecimento
se rednz ao princpio de identidade.
3. O princpio de substncia reduz-se tambm ao de identidade, pois
que a qualidade supe a substncia, por isso que tda a qualidade no seno
o modo de ser da substncia. s qualidades so a substncia decomposta nas
suas modalidades, so, direi assim, as aparncias da substncia. Todo o modo
de ser da substncia deve supor consequentemente a substncia, de outra
forma supor-se hia o nada, e seria, por isso, modo de ser e modo do nada, ao
mesmo tempo e sob a mesma relao, o que impossvel devido ao mesmo
princpio de contradio que se resolve no princpio de identidade.
4. E pelo mesmo princpio de identidade, pois que o ser o ser, uma
coisa ou no .
Eis, como, o princpio, de contradio, o de conhecimento, o de subs-
tncia, e o de excluso do trmo mdio, se reduzem todos les ao princpio
de identidade.
Vejamos agora os outros dois juzos:
5. O princpio da razo suficiente reduz-se ao de causalidade, por-
quanto o que causa emquanto produz, razo emquanto explica.
6. O princpio de finalidade, por ltimo, reduz-se tambm ao de cau-
salidade, porque sempre o fim que determina a natureza do meio-, a natu-
reza do meio , assim, uma conseqncia ou um efeito por assim dizer da
natureza do fim. Os filsofos, chamando, ao princpio de finalidade, princpio
das causas finais, mostraram concordar no que afirmamos.
Eis, pois, os outros dois princpios, o da razo suficiente e o de finali-
dade, reduzidos, por sua vez, ao princpio de causalidade.
Concluindo, temos portanto razo para dizer que os verdadeiros juzos
primitivos e supremos so dois: o princpio de identidade e o de causalidade.
186 A Lgica das Provas em Matria Criminal
O estado destas duas especialidades do argumento probat-
rio deve conduzir, segundo o nosso parecer, a duas classes da
prova indirecta: prova indirecta era relao de identidade, em
cuja prova assentamos especial e prpriamente o que se chama
presuno; prova indirecta em relao de causalidade, em cuja
prova assentamos especial e prpriamente o que se chama indicio.
Determinemos estas noes.
Admitamos que na maior do raciocnio probatrio, quando
se atribue uma qualidade a um sujeito, existe relao de identi-
dade, pois que todo o ser compreende na sua totalidade tambm
os seus atributos, e entre o atributo e o ser existe, sempre, por
isso, identidade parcial.
Posto isto, sempre que, a propsito de argumentao indi-
recta, na maior do raciocnio probatrio se est em face da atri-
buio de uma qualidade a um sujeito, o raciocnio leva a uma
presuno prpriamente dita.
Quando, por isso, na maior do raciocnio probatrio, se atri-
bui uma causa a um efeito, ou vice-versa, o raciocnio indi-
cativo; isto , raciocnio que conduz a um indcio
prpriamente dito.
Posto isto, para nos no perdermos em abstraces,
vejamos como se raciocina a propsito de presuno e como a
propsito de indcio.
Comecemos por uma presuno qualquer. Pela observao
dos vrios indivduos constitutivos de uma espcie, sobe-se indu-
tivamente afirmao de um determinado predicado daquela
determinada espcie, e conseguintemente na maior de um racio-
cnio diz-se, por exemplo: os homens so ordinriamente ino-
centes. Na menor afirma-se a continncia do indivduo na esp-
cie, afirma-se o facto indirectamente probatrio (que chamarei
facto presuntivo), como pertencente quela espcie; diz-se o ar-
gi
do um homem. Na concluso, atribui-se ao acusado o que na
maior se atribui a todos os homens, o ser ordinrio a inocncia, e
conclui-se: portanto o argido ordinriamente inocente; ou
por outros trmos: o acusado portanto provvelmente
A Lgica das Provas em Matria Criminal 187
inocente; ou noutros trmos ainda: conseguintemente o acusado
presumese inocente. esta a presuno de inocncia, por ns
desenvolvida a propsito do onus da prova. Porque que, nstes
raciocnios, se passa a considerar o homem como ordinriamente
inocente? Devido relao ordinria de identidade parcial, afir-
mada entre o sujeito da maior que a humanidade e o seu atributo
de inocente; devido a que, compreendendo-se o indivduo na
espcie, passa-se a atribuir ao indivduo o que se atribui a espcie.
Examinai, pois, tdas as presunes prpriamente ditas, e ser
sempre ste o caminho percorrido pela razo humana para dar
valor concluso: o caminho da relao de identidade.
Tomemos, agora, um indcio qualquer. Cometeu-se um crime;
Ticio, logo que foi suspeitado como seu autor, fugiu. Esta fuga
serve de indcio de culpabilidade. Qual o caminho que a inte-
ligncia segue para, segundo a nga Ticio, concluir pela culpa-
bilidade? Ei-lo. Da observao dos vrios factos particulares sobe-
se afirmao da relao especfica de causa e de efeito entre a
fuga e a conscincia do crime; afirma-se conseguintemente na
maior do raciocnio: a uga, logo em seguida a ser-se suspeitado de
um crime, ordinriamente causada pela conscincia do crime. Na
menor, passa-se a afirmar o facto particular da fuga de Ticio, o
facto indicador, e diz-se: Ticio fugiu. Na concluso, passa-se a
atribuir fuga particular de Ticio a causa que ordinriamente se
atribui fuga, em geral, de qualquer outra pessoa naquelas
condies, e diz-se: logo Ticio tem provvel
mente a
conscincia da sua criminalidade. Eis, em concreto, o caminho da
inteligncia no argumento probatrio que se chama prpriamente
indcio.
Um parntesis: na concluso dste raciocnio indicativo,
assim como na do precedente raciocnio presuntivo, falei de pro-
babilidade; pois que, como declarai falando da certeza, e como
direi dentro em pouco, partindo da premissa do modo de ser
ordinrio das coisas, chega-se apenas a concluses provveis;
partindo ao contrrio da premissa do modo de ser constante das
coisas chega-se a dedues certas. E fecho o parntesis.
Concluindo, o raciocnio presuntivo deduz o conhecido do
188 A Lgica das Provas em Matria Criminal
desconhecido por ria do princpio da identidade; o raciocnio
indicativo por via do princpio de causalidade.
Mas qnereis uma contraprova da verdade da nossa tese?
A contraprova est na orma diversa em que costuma expressar-se
a presuno e o indcio; forma diversa, que s se explica com a
nossa teoria.
O raciocnio indicativo reduz-se ordinriamente a um enti-
mema, em que a maior omitida; costuma dizer-se, por exem-
plo: Ticio fugiu; logo culpado. O raciocnio presuntivo, ao
contrrio, reduz-se ordinriamente simples concluso, supri-
mindo-se as duas premissas, maior e menor; costuma dizer-se,
por exemplo, simplesmente: o argido presume-se inocente.
Na nossa teoria clara a razo. Est no diverso caminho que
se toma para chegar ao conhecido, a razo porque ao enunciar
como prova a presuno, se costumam omitir ambas as premissas, e
ao enunciar como prova o indcio, se costuma suprimir
nicamente a maior. Vejamos.
Tanto o raciocnio presuntivo como o indicativo teem sem-
pre uma maior, que dada pela experincia comum. Referiudo--
nos aos exemplos precedentes, tanto o princpio especfico da
identidade, expresso pela proposio: os homens so ordinria-
mente inocentes; como o princpio especfico da causalidade
expresso pela proposio: a fuga em certas condies dadas
ordinriamente ejeito da conscincia do crime', tanto um prin-
cpio como o outro, dizia, so atingidos pela experincia comum,
e julga-se por isso intil enunci-los. Eis porque a maior, tanto
no raciocnio presuntivo como no indicativo, pode omitir-se igual-
mente: ela supe-se em tdas as conscincias.
Quanto menor, o caso diverso, para ambos os raciocnios.
No raciocnio presuntivo, a maior s afirma a compreenso
da pessoa ou da coisa particular no sujeito da maior, para poder
em seguida atribuir pessoa ou coisa particular o que se atri-
bui ao sujeito da maior. Assim, depois de se afirmar na maior
do raciocnio, que os homens so ordinriamente inocentes,
passa-se na menor a afirmar que o argido um homem, para
poder-se em seguida concluir que le tomado como inocente
A Lgica das Provas em Matria Criminal 189
at prova em contrrio. Ora, tanto nste caso, como no de qual-
quer outro raciocnio presuntivo, a compreenso do particular no
geral, a continncia do indivduo na espcie, uma percepo de
consenso comum: compreendido por todos intuitivamente: e eis
porque se cr tambm completamente intil enunciar a proposi-
o que afirma esta continncia, e se omite a menor como a maior.
ste raciocnio presuntivo, como qualquer outro, costuma reduzir-
se, por isso, na linguagem comum, simples concluso, e
enuncia-se, nicamente, com as palavras: o argido presu-me-se
inocente.
J assim no , relativamente menor do raciocnio indi-
cativo. No raciocnio indicativo, a menor afirma em primeiro
lugar tda a verificao de ura efeito particular, para atribuir-lhe
em seguida a causa que na maior se atribui ao efeito especfico,
em que por intuio se compreende o efeito particular. Por isso,
depois de trmos enunciado na maior do raciocnio que a fuga,
primeira suspeita, ordinriamente causada pela conscincia do
crime, passa-se na menor a afirmar a fuga do acusado, para poder
depois concluir que le tem a conscincia da sua criminalidade, e ,
conseguintemente culpado. Na menor dste raciocnio admite-se,
por isso, sempre em primeiro lugar um facto particular, a que se
quer atribuir uma dada causa; trata-se sempre de afirmar ou
verificar um efeito particular, e todos vem que no pode omitir-se
a menor nste caso. No s necessrio enunciar a menor; mas,
mais ainda, necessrio prov-la; necessrio provar que aquele
dado facto particular que se considera como efeito, de onde se
quer subir ao conhecimento da causa, que aquele dado facto, que
constitui o material do indcio, se tenha verificado.
Conseguintemente, na enunciao do raciocnio indicativo, se
permitido omitir a maior, nunca pode permitir-se a omisso da
menor; necessrio dizer, pelo menos: o acusado fugiu, logo ru.
Nste caso sucede o mesmo que no raciocnio indicativo; no se
pretende deduzir a causa do efeito, mas o efeito da causa: a
menor, em vez de conter a afirmao de um facto particular que
se considera como efeito, deve conter a afirmao de um- facto
particular que se considera como causa.
190 A Ilgica das Provas em Matria Criminal
Isto no muda nada: ser sempre igualmente necessrio enun-
ciar e provar ste facto particular causal, se quere concluir-se a
sua relao com um outro facto que se considera como seu efeito. I
A diversa natureza, portanto, como ns a determinamos, do
raciocnio presuntivo e do indicativo explica-nos a diversa maneira
como costuma enunciar-se a presuno e o indcio; coisa que
serve de contraprova verdade do que afirmamos. Mantenhamos,
pois, as nossas noes como as determinamos sob o ponto de
vista da classificao; o desenvolvimento particular de cada uma
das classes esclarecer e completar melhor o nosso pensamento.
necessrio agora fazer um passo para trs. Comeamos
nste captulo por determinar a natureza lgica do argumento
probatrio, e vimos que se parte sempre de uma ideia geral,
conhecida, pela qual, supondo um facto particular conhecido, se
chega ao conhecimento de um facto particular ignoto; procura-
mos determinar que espcie de ideia geral serve de premissa s
provas, e vimos que pelo argumento probatrio s pode permi-
tir-se uma ideia geral experimental.
Agora que determinamos tambm a natureza ontolgica do
argumento probatrio, e aa classes em que conseqentemente se
divide a prova indirecta, julgamos oportuno tornar a considerar
a natureza lgica especial da ideia geral de onde se parte, para
poder em seguida referi-la a cada uma das classes da prova
indirecta, presuno e ao indcio.
Qual a regra lgica, pela qual o esprito humano se
acha no direito de tirar de factos gerais uma concluso
particular? Deu-se um crime: os factos gerais da criao que
ligao podem ter com esta individualidade criminosa, que
chamamos delito?
No grande e indefinido acervo dos factos fsicos e morais,
existem conformidades no modo de ser e de actuar fsico e moral
da natureza. Tdas estas conformidades, atendidas sob o ponto
de vista da causa que as produz, constituem as que chamamos
leis naturais, leis fsicas e leis morais.
Se, ao contrrio, atendermos a estas mesmas conformidades
sob o ponto de vista da sua harmnica coexistncia, constituem
o que. se chama a ordem, que se concretiza no facto constante,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 191
ou no modo de ser e de actuar constante da natureza. constante,
o que se apresenta como verdadeiro em todos os casos particulares
que se compreendem na espcie; ordinrio o que se apresenta
como verdadeiro no maior nmero dos casos que se compreendem
na espcie. Partindo da ideia de ordem como modo de ser e de
actuar constante da espcie, deduzem-se conseqn-
cias certas
relativamente ao indivduo; partindo da ideia de ordem como modo
de ser e de actuar ordinrio da espcie, deduzem-se conseqncias
provveis relativamente ao indivduo: o constante da espcie lei
de certeza para o indivduo; o ordinrio da espcie lei de
probabilidade para o indivduo.
Dissemos que o esprito partindo do conhecimento de uma
coisa chega ao conhecimento de outra, quer sob a luz do princpio
de causalidade, quer sob a luz do princpio de identidade.
Emquanto relao de causalidade, como meio de conhe-
cimento, quer se parta da ideia geral do modo de ser e de actuar
constante da natureza, quer se parta da ideia geral do modo de ser
e de actuar ordinrio da natureza, tem-se sempre uma prova
indirecta, tem-se sempre um indcio, porquanto a causa sempre
uma coisa diversa do efeito, e a percepo de uma relao,
constante ou ordinria que seja, entre causa e efeito, no destri a
sua diversidade; e por isso conhecer por relao de causalidade,
sempre conhecer uma coisa pelo conhecimento de outra, sempre
conhecer por meio indirecto; sempre conhecer por meio de
indcio. Conseguintemente, no indcio pode partir-se em tese geral,
tanto da ideia do ordinrio, como da ideia do constante modo de
ser e de actuar da natureza. Mas importante vr, em particular,
como que as coisas costumam funcionar como indicio, se
subordinadas ideia do ordinrio, ou do constante modo de
actuar da natureza.
Um dado facto s pode ser revelador de outro pelo seu
natural modo de ser, ou pelas alteraes introduzidas no seu
natural modo de ser; e ste facto revelador pode ser um facto
interno da conscincia humana, ou um facto externo fsico.
Relativamente aos factos internos do esprito humano, no
necessrio fazer distines. stes nunca podem referir-se a leis-
192 A Lgica das Provas em Matria Criminal
infalveis; pois que as diversas casualidades do esprito, e princi-
palmente o influxo do livre arbtrio, produzem anomalias contrrias
lei: pode por conseguinte, relativamente a facto internos da
conscincia, haver leis para o maior nmero dos casos, e no para
todos os casos; leis morais de probabilidade, e no de certeza. Por
outros trmos, a propsito de fenmenos morais, tomados como
reveladores de outro facto, s possvel colocarmo-nos sob o ponto
de vista do que ordinrio para a espcie, e no do que
constante. O dio feroz de Tcio para com Gaio, nunca poder,
como causa em relao ao efeito, indicar com cer-teza em Ticio o
assassino de Caio. O prazer mal dissimulado por Ticio plo
assassinato de Caio, tambm no poder, como efeito em relao
causa, indicar com certeza em Ticio o assassino de Caio.
Emquanto s coisas materiais, conveniente distinguir.
Comecemos por consider-las como efeito revelador da causa, para
passar depois a consider-las como causa reveladora do efeito.
Uma coisa material pode ser, como efeito, reveladora de um
facto causal, quer pelas modificaes nela introduzidas, quer pelas
modalidades naturais que lhe so prprias.
As modificaes introduzidas nas coisas materiais resol-vem-
86, como veremos ao falar das provas reais, nas modalidades
extrnsecas de alterao ou de locomoo das coisas. Ora, po-
dendo, tanto a alterao como a locomoo, ser determinadas, quer
pela livre aco de qualquer homem, quer pela possvel influncia
mltplice de mil coisas sbre uma, segue-se que estas modalidades
introduzidas nas coisas no podem referir-se a leis infalveis, ao
revelarem a sua causa; podendo apresentar anomalias. Elas podem
referir-se a leis para o maior nmero de casos, no para todos os
casos; a leis fsicas de probabilidade, no de certeza. Noutros
trmos, a propsito de modificaes materiais, tomadas como
reveladoras de um dado facto causal, no podemos colocar-nos
seno sob o ponto de vista do que ordinrio, e no do que
constante.
Mas as coisas, por vezes, fazem pensar, j no na causa de
uma modificao sua; mas fazem pensar na sua causa, devido ao
A Lgica das Provas em Matria Criminal 193
seu natural modo de ser: isto , quando a coisa considerada
nas modalidades prprias da sua natureza, no em uma modifi-
cao extrnseca que lhe foi introduzida, isto , quando a coisa
4 considerada como produzida, e no como modificada. Ora,
entre os efeitos desta espcie e as suas causas, o esprito percebe
por vezes no s relaes ordinrias, mas constantes; e existem
ento os rarssimos indcios necessrios. Assim, a criana que,
devido s suas condies naturais de ser de recm-nascida, revela
um parto recente, revela-o no s pelas alteraes introduzidas
na sua modalidade natural, no s por alteraes ou por loco-
moes, mas pelo seu modo de ser natural e constante; e revela-o
de um modo constante. O nascimento portanto de uma criana
de uma mulher, leva a afirmar com certeza a cpula carnal pre-
cedente dela com um homem; e tratando-se de mulher casada,
admitindo-se a certeza do afastamento do marido durante o periodo
possvel da concepo, leva a afirmar com certeza o adultrio
dela. Mas os indcios necessrios desta espcie so raros, alm
de tudo o que se diz, em juzo penal.
Passemos a considerar as coisas materiais como causa
reveladora do efeito. Sob ste ponto d vista, a coisa s
considerada emquanto ao seu modo natural de ser, intrnseco ou
extrnseco: uma coisa devido ao seu modo natural de ser faz
pensar em outra coisa como seu efeito. Ora, uma coisa no
funciona como prova indirecta, indicando outra como causa do
efeito, seno porque por sua natureza se considera capaz de
produzir aquela outra coisa como efeito, e no porque a tenha
realmente produzido. Por outros trmos, uma coisa contingente
no pode s por si, levar suposio de que tenha
necessriamente produzido um efeito, mas que o podia ter
produzido. Num julgamento penal trata-se de verificar um facto
humano, o facto do crime; ora as coisas no podem actuar sbre
ste facto humano com uma influncia necessria, mas
simplesmente com uma influncia provvel. esta influncia
causal das coisas, nos factos humanos, realiza-se freqentemente
assumindo a funo de prova, logo que o homem incorpora, direi
assim, na prpria aco estric-tamente pessoal, coisas estranhas, para
as fazer funcionar como 19
194 A Lgica das Provas em Matria Criminal
meio, como quando o delinqente faz entrar na ordem da sua
actividade criminosa uma alavanca, uma escada, um punhal. Um
dado punhal, confrontado com uma dada ferida, pode ser o que
na realidade a produziu; uma dada alavanca, confrontada com a
porta frada, pode ser a que a forou realmente; uma dada
escada, confrontada com um muro que foi escalado, pode ser a
que na realidade serviu para o escalar.
Para a verificao, pois, daquele facto que se chama crime,
uma coisa no pode servir para o indicar como causa daquele
efeito, seno com probabilidade, e no com certeza, isto , sob o
ponto de vista do que ordinrio para a espcie, e no do que
constante.
E concluindo: no argumento probatrio, em geral, que se
chama indcio, parte-se qusi sempre da ideia geral do que
ordinrio, e rarissimamente da ideia geral do que constante
para a espcie.
E passemos a considerar a presuno, que, como dissemos,
tem por ponto de partida a relao de identidade.
Emquanto relao de identidade como meio de conheci-
mento, necessrio observar que esta relao no pode ser gera-
dora daquela prova indirecta, que se chama presuno, seno
quando se parte da ideia geral do ordinrio modo de ser da
natureza. Se, a propsito de relao de identidade, se parte, ao
contrrio, da ideia do constante modo de ser da natureza, o quase
percebe como constante na espcie, percebe-se como infalvel. no
indivduo; e o que se percebe como infalvel no indivduo, atribui-
se-lhe de um modo directo, e no de modo indirecto. No
pode obter-se, repetimo-lo, pela via da identidade, aquela prova
indirecta que se chama presuno, quando se parta da ideia do
ordinrio modo de ser da natureza; ento, que perce-bendo-se um
atributo como respeitante a uma espcie, e conse-guintemente em
relao de identidade parcial com ela, se passa a atribu-lo ao
indivduo, no como infalvel nle, mas como provvel; passa-se
a atribu-lo ao individuo, no como respeitante sua natureza
individual, o que seria atribu-lo d um modo-directo, mas
como respeitante espcie que o indivduo per-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 195
tence; o que atribu-lo ao indivduo de um modo indirecto.
Quando se fala, pois, da prova indirecta que constitui a presuno,
supe-se sempre que no argumento probatrio se parte do
ordinrio modo de ser da natureza.
I E assim que, parte os casos excepcionais em que a fra
probatria do indcio derive de uma lei constante, o ordinrio 6
portanto a base fundamental e lgica da prova indirecta em geral:
eis a relao entre os factos gerais do mundo fsico e do mundo
moral, por um lado, e o facto particular do crime, do outro.
O ordinrio da espcie, emguanto aos sujeitos em si e nos
seus atributos, faz presumir o particular do indivduo: eis a rvore
genealgica de tdas as presunes.
O ordinrio da espcie emguanto relao de causalidade
entre diversos sujeitos, faz com que uma coisa, individualmente,
indique a outra: eis a rvore genealgica de qusi todos os indcios.
A teoria do ordinrio, portanto, a base tanto dos indcios,
como das presunes: influncia ordinria entre causa e efeito;
aderncia ordinria de uma quantidade a um sujeito. Antes de
fechar ste captulo, e de passar ao exame particular das classes,
julgamos oportuno fazer uma observao complementar de ndole
comum.
Expuzemos o critrio fundamental, que julgamos exacto, para
a distino entre a presuno e o indcio; vimos, assim, que] no
deve confundir-se uma com o outro. Mas no se julgue por isso,
que o indcio e a presuno ficam separados nitidamente, de
maneira que quando existe um se no possa falar da outra. Isso no
seria verdadeiro. Antes de mais nada, como a presuno presta
sempre o seu servio para estabelecer a credibilidade subjectiva de
qualquer prova, concorre tambm por isso para estabelecer a
credibilidade subjectiva do indcio: depois de se ter presumido a
genuinidade subjectiva do facto indicador, dedu-zindo-a do
ordinrio modo de ser dos factos daquela espcie; depois de se
ter julgado que le no se apresenta assim por obra da malcia
humana, isto , por obra de uma aco destinada a enganar;
depois de uma tal presuno, que se passa a fazer valer o indicio
na sua substncia probatria, como indicativo
196 A Lgica das Provas em Matria Criminal
daquele dado facto que se pretende verificar. a presuno que
comea por acreditar a subjectividade do indcio, como, de resto, a
de tda e qualquer prova.
Mas alm disso, parte o concurso da presuno na apre-
ciao subjectiva do indcio; mesmo emquanto ao contedo,
muitas vezes a presuno e o indcio cruzam-se e auxiliam-se. Por
isso, em todos os casos em que o elemento material faz admitir o
elemento intencional, quando res ipsa in se dolum habet, em suma,
nos casos de presuno de dolo, existe sempre a acumulao da
presuno e do indcio. Comea-se pela presuno de que o acusado
actuou com inteligncia, porquanto todos os homens costumam
ordinriamente proceder desta forma; e esta uma presuno
verdadeira. V-se depois que o elemento material no pode
corresponder seno a um dado fim, e conclui-se que por isso o
agente encaminhou a sua aco para aquele fim; o elemento
material torna-se, assim, indicio particular do dolo.
Eis como a presuno e o indcio se cruzam e auxiliam; e eis
como certos argumentos probatrios podem chamar-se por um
lado presunes, e por outro, indcios. Mas comquanto a presuno
e o indcio se cruzem e se ajudem, no j porque se confundam;
conservam-se sempre distintas na sua natureza especfica, que
determinada pelo nosso critrio acima exposto.
TITULO I DO CAPTULO III
Presuno
Dissemos em primeiro lugar, que o raciocnio presuntivo deduz
o conhecido do desconhecido partindo do princpio de identidade,
emquanto que o raciocnio indicativo deduz o conhecido do des-
conhecido partindo do princpio de causalidade.
presuno no para ns mais que uma espcie da prova
indirecta.
A ste nosso conceito, ainda no apresentado at aqui por
pessoa alguma, opem-se duas noes diversas. Disseram alguns:
A Lgica das Provas em Matria Criminal 197
a presuno no se distingue do indcio; constitui com le uma
coisa nica. Disseram outros: a presuno no s no o indcio,
como tambm no prova de modo algum; um meio de certeza
estranho prova. conveniente lanar uma vista de olhos a cada
uma destas opinies, antes de passarmos confirmao da nossa.
Os escritores que confundiram a presuno com o indcio,
deixaram-se vencer pela linguagem vulgar; linguagem vulgar que
se deixou, por sua vez, arrastar pela etimologia indeterminada da
palavra. Praesumer, qusi tomar antecipadamente uma opinio;
etimologia genrica e indeterminada do vocbulo, que lana a
suspeita sbre a coisa que significa. E a linguagem vulgar, con-
tinuando em harmonia com as razes etimolgicas, tambm em-
pregou esta palavra com os seus derivados para significar um
vcio moral, prprio dos espritos vulgares; e confirmou com isso
a condenao daquele significado equvoco da palavra.
Como vcio moral, a presuno a soberba dos insignifican-
tes; como argumento lgico mal usado, a certeza dos idiotas:
baixeza, em todo o caso, moral ou intelectual.
A linguagem comum no tem dado conseguintemente pala-
vra presuno mais que um sentido muito geral e indeterminado;
e isto explica-se tanto nste, como em mil outros casos. O senso
comum que se alimenta de vises intuitivas, se tem o poder da
sntese, no tem o da anlise. Compete ao homem de scincia
destrinar das snteses iniciais, indeterminadas e por isso muitas
vezes confusas, do senso comum, as noes analticas, claras,
precisas e distintas, afim de as reunir claramente, e coorden-las
em seguida nas altas harmonias da sntese scientfica.
A lgica criminal tem a obrigao de determinar a noo
scientfica da presuno. E que a presuno tem direito a uma
noo sua, prpria, deduz-se de que, embora a scincia no tenha
at aqui determinado a sua noo, comtudo, muitas vezes, quando
fala de presuno, fala dela num sentido especial, que leva
lgicamente suposio de que a presuno alguma coisa
diversa do indcio. Quereis uma prova disto? Apresentai aos
prprios defensores da identidade entre presuno e indcio
argumentos
198 A Lgica das Provas em Matria Criminal
lgicos, que a scincia s chama com o nome de presunes, e
verificai um pouco se les so capazes de consentir que o seu
esprito lhes d o nome de indicio. Os prprios defensores da
identidade entre presuno e indcio, nunca conseguiro nem
podero dizer, por exemplo, que ao acusado assiste o indcio da
inocncia at prova em contrrio; diro sempre e sempre que lhe
assiste a presuno da inocncia.
Porque isto? Porque intuitivamente se v que a
presuno uma coisa diversa do indcio, comquanto se no
tenham determinado scientificamente as respectivas noes e
diferenas; porque se sente, comquanto se no saibam dar as razes,
que o argumento lgico, que leva a julgar inocente o acusado,
uma verdadeira presuno, e no um indcio.
Passemos agora segunda opinio que contradiz a nossa.
A presuno, dizem outros escritores, um meio de certeza, mas
no uma prova. Esta opinio no nos parece menos errnea que
a primeira.
Antes de mais nada, julgo perigoso classificar a presuno
como uma fonte especial de certeza criminal estranha prova,
seja porque isto pode insinuar no esprito o desprzo pela prova,
mostrando que sem ela pode alcanar-se a certeza, seja porque a
presuno, quando no considerada como argumento probat-
rio, no revela a sua verdadeira natureza, e adquire por isso na
conscincia do juiz leviano uma importncia exagerada. Tirando
a presuno, que a espcie, do seu gnero, que a prova indi-
recta, perde-se todo o critrio lgico para avaliar a sua natureza.
Arrastando-o pois directamente para fora do campo das provas,
cria-se a perigosssima dualidade de uma convico produzida
pelas provas, e de uma convico produzida pelas presunes,
que se apresentam, por isso, como argumentos bastardos de uma
progenitura duvidosa, indefinidos e indefinveis, no campo da
lgica judiciria: no podem trazer seno confuso.
Mas porque que, tendo-se admitido a natureza de prova
no indcio, se no quis admiti-la na presuno? A razo aparece
claramente da diferente noo de uma e de outra; diferena por
ns j anteriormente determinada, e para que remetemos. Quando
A Lgica das Provas em Matria Criminal 199
(se faz valer a fuga de Ticio como indcio da sua criminalidade, a
fuga um facto particular diverso da criminalidade, e que necessita
no s ser enunciado, mas tambm ser particularmente provado:
v-se em tudo isto claramente a natureza do argumento probatrio.
Quando, ao contrrio, se apresenta com a frmula elptica: o
acusado Ticio deve presumir-se inocente at prova em contrrio;
no se descobre primeira vista qual o facto de que se parte para
cbegar presuno, que na realidade no parece dar lugar a
concluso; aquele facto dissimula-se no sendo necessrio prov-
lo, e parece portanto no se tratar de prova, mas de uma simples
apreciao subjectiva. Mas no assim; h sempre um facto
conhecido de que se parte para chegar ao desconhecido que se
presume, e aqnle facto de onde se parte um facto que se tem sob
os olhos, e que no precisa por isso ser provado, nem enunciado. O
facto que nos leva presuno da inocncia do argido, a sua
qualidade de homem, que, por incluir o ser pertencente espcie
humana, ordinriamente inocente, nos faz concluir pela presuno
da inocncia, ou por outros trmos, pela probabilidade da inocncia
do acusado. A qualidade de homem no acusado, que o material
da presuno, salta aos olhos e prova-se por si s; intil enunci-
la. A consequente pertinncia dessa qualidade espcie humana,
tambm uma verdade intuitiva, que no necessita ser enunciada. No
raciocnio presuntivo, procedendo-se em relao identidade,
como j vimos, existe uma tal simultaneidade de percepo das trs
proposies, que no se enuncia mais que uma s delas: a
concluso. Mas no quere isto dizer que na presuno no exista
um facto particular de que se parte, nem que se parta de dados sem
o apoio da prova. No se sai da esfera das provas; h sempre um
facto probatrio; e para afirmar a verdade dste facto probatrio
temos a viso directa de nossos olhos, e dos de qualquer outro
homem; assim como para a eficcia de prova que se atribui a sse
facto temos, alm do nosso tstemunho, os tstemunhos de todos os
homens, tstemunhos registados naquele livro precioso da cons-
cincia humana que se chama senso comum. No h por isso razo
para negar presuno a sua natureza de prova.
200 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Voltemos por isso a nossa noo: a presuno no mais
que uma espcie de prova indirecta.
Relativamente qualidade indirecta da presuno 6 neces-
srio demorarmo-nos um pouco para esclarecer o seu conceito,
prevenindo objeces possveis e especiosas.
Dissemos que o raciocnio presuntivo deduz o conhecido do
desconhecido por meio do principio da identidade. Dissemos que
entre um sujeito e os seus atributos h sempre identidade par-
cial. Ora, considerando que em tda a presuno, no se faz seno
apropriar um atributo a um sujeito, e considerando que o atri-
buto o desconhecido que se chega a conhecer, do mesmo modo
que o sujeito o conhecido que serve a faz-lo conhecer, resulta,
pela identidade parcial que afirmamos existir entre sujeito e atri-
buto, que h identidade entre o conhecido e o desconhecido, ou
seja entre a prova e a coisa provada; e parecer por isso que a
presuno, como argumento probatrio, tem um contedo de prova
directa para o juiz que dela se serve. Mas no assim. Em mat-
ria de provas, para determinar a sua natureza, necessrio aten-
der ao caminho pelo qual a mente passa da prova coisa pro-
vada. Ora, quando por meio do raciocnio presuntivo se afirma no
indivdno um atributo, aquele atributo afirma-se no percebendo-o
directamente no indivduo a que se refere, mas percebendo-o na
espcie; e portanto aquela afirmao do atributo individual uma
afirmao indirecta. Assim, tratando-se do indivdno humano, e
dos atributos que, pela sua qualidade de homem, lhe so atri-
budos pela presuno, deve ser a sua qualidade de homem que-
se percebe directamente, como uma prova directa real; mas os
atributos que se lhe atribuem, porque pertencem espcie humana,
atribuem-se-lhe indirectamente, como sendo percebidos na esp-
cie, e no no prprio indivduo a quem so atribudos.
J o dissemos, em matria de presuno parte-se da ideia
do que ordinrio e no da do que constante para a espcie.
Na presuno, atribui-se uma qualidade a um sujeito, pelo facto
de se achar ordinriamente ligada aos sujeitos daquela espcie.
A ligao ordinria de uma qualidade a um sujeito, a ligao
no maior nmero dos casos compreendida na espcie; de modo
A Lgica das Provas em Matria Criminal 201
qne casos h, sempre compreendidos na mesma espcie, em que
aquela ligao no se verifica. Se ns, raciocinando, atribussemos
um predicado a um indivduo, porque o percebemos como
predicado constantemente prprio da espcie, e, conseguinte-
mente, infalivelmente ligado a todos os indivduos pertencentes
espcie; ento, comquanto seja sempre o caminho indirecto que
percorremos para atribuir aquele predicado ao indivduo, acaba-
remos comtudo por atribu-lo de um modo directo; pois que per-
ceber um predicado como infalvel em um sujeito, perceb-lo no
prprio sujeito. Nste caso, no h que falar de percepo e de
prova indirecta, comquanto por motivo de mtodo intelectual se
tivesse seguido uma via indirecta. Estamos sempre em face de uma
percepo directa pura e simples, a que nos conduzia um mtodo
lgicamente indirecto: j se no trata de presumir uma dada coisa,
mas de a perceber como coisa evidentemente certa.
Mas no ste o caso da presuno. Ns no partimos, j o
dissemos, da ideia do que constante na espcie, relativamente a
todos os seus indivduos; mas da ideia do que ordinrio; e o
ordinrio da presuno a ligao de um atributo a um sujeito no
maior nmero dos casos compreendidos na espcie, e no em
todos os casos; e por isso a ligao ordinria de um predicado
colectividade dos indivduos de uma espcie, resolve-se em uma
ligao provvel do prprio predicado a um indivduo particular.
Existe sempre identidade, porquanto todo o ser compreende
na sua totalidade tambm os seus atributos, e entre o atributo e o
ser, como aquele se apresenta ligado a ste, h, por isso, iden-
tidade parcial; mas esta identidade apresenta-se sempre ao nosso
esprito no como identidade efectiva com o indivduo, mas com
a espcie; com o indivduo a identidade apresenta-se simplesmente
como provvel. No percebemos, por isso, aquele predicado, em
si mesmo, no indivduo a quem o referimos, mas percebemo-lo no
maior nmero dos indivduos da mesma espcie, e atribuimo-lo por
isso, como provvelmente ligado, a um indivduo particular, ou,
ento, presumimo-lo no indivduo. Todos vem como nste caso
a presuno fica sempre indirecta, e a prova que nos conduz
202 A Lgica das Provas em Matria Criminal
a esta presuno sempre prova indirecta. Parece-me ter, assim,
esclarecido o carcter de prova indirecta da presuno.
Do que temos dito no captulo precedente, e nste, sbre a
natureza do ordinrio, isto , sbre a natureza daquela ideia
geral e experimental que o contedo da premissa maior de todo
o raciocnio presuntivo, resulta claramente qual o valor proba-
trio da presuno. Como a presuno parte sempre no da ideia
do que constante, mas da ideia do que ordinrio para a
espcie, segue-se que a presuno argumento probatrio de sim-
ples probabilidade, e nunca de certeza.
s presunes dividem-se geralmente em simples e legais:
presunes simples, as que se entregam, pelo seu valor probat-
rio, livre apreciao do juiz; presunes legais, aquelas a que
a lei atribui um determinado valor de prova. Mas para ns que
nos declaramos contra tdas as provas legais, esta distino no
tem valor scientifico; para ns as presunes legais so as irra-
cionais; racionalmente para ns, s h que falar, em matria cri-
minal, de presunes simples. Smente sob o ponto de vista do
facto legislativo, diremos tambm uma palavra sbre presunes
legais, no final desta parte especial, depois de trmos falado dos
indcios. E propomo-nos a falar delas no aqui, mas no fim, por-
quanto, tendo a legislao aceitado da linguagem comum o sen-
tido genrico de prova indirecta dado palavra presuno, com-
preendeu nela tambm os indcios. B por isso aquelas provas
legais que teem corrido na legislao positiva e na escola, sob a
simples denominao de presunes, no so na realidade tdas
elas presunes, mas compreendem ao mesmo tempo indcios e
presunes. lgico, portanto, falar delas depois de ter tratado
especificadamente das presunes e dos indcios.
Querendo apresentar uma classificao das presunes para
as exemplificar, o mais lgico partir do ponto de vista objectivo,
isto , do ponto de vista da natureza daquilo que se presume.
A presuno no seno a afirmao da ligao ordinria
de uma qualidade a um sujeito: conseguintemente, ou se teem
presunes sbre o sujeito homem, considerado, exclusivamente
ou no, como ente moral, ou sbre a coisa, compreendendo nela
A Lgica das Provas em Matria Criminal 203
o homem considerado como ser puramente fsico: presunes do
homem, as primeiras; presunes das coisas, as segundas.
A importncia probatria das presunes est qus tda nas
presunes do homem. tribui-se uma dada qualidade ao homem
em geral, ou a uma dada espcie de homens, e conclui-se atri-
buindo-a ao homem indivduo: o grande campo das presunes
que teem valor em tdas as matrias que respeitam a factos
humanos ou a afirmaes humanas. assim importante a pre-
suno da inocncia, e a da menor criminalidade, de que falamos a
propsito do onus da prova. sempre importante por isso a
presuno de que a inteligncia acompanha a aco, presuno que
se resolve, em certas condies, na que se chama presuno de
dolo, de que falamos a propsito de onus da prova, e a propsito
de elemento intencional do crime, e da qual presuno indicamos a
prpria natureza, mixta de indicio, no final do captulo precedente.
E por isso tambm importante a presuno da veracidade ordinria
do homem, presuno, que como veremos, o primeiro e
fundamental argumento da credibilidade subjectiva de tda a
afirmao pessoal. E em mil casos, repetimo-lo, que as presunes do
homem teem grandssima importncia em matria de prova penal.
H, pois, as presunes das coisas, quando se atribui uma
qualidade s coisas em geral ou a uma espcie de coisas, e con-
clui-se atribuindo-a coisa indivdua. esta espcie pertence
uma presuno importante a que eu chamarei de identidade
intrnseca das coisas, e aquela pela qual se cr com probabi
lidade, antes de qualquer outra prova, que uma coisa seja actual
mente, em si mesma, precisamente aquilo que aparece, pois que
ordinriamente as coisas so o que parecem ser, sob a f da
experincia comum. O que nos aparece como uma bengala, pre-
sume-se ser nada mais que uma bengala, e no uma arma explo
siva: uma presuno de identidade substancial e intrnseca.
E mesma espcie pertence ainda uma outra presuno mais
importante que a primeira, e a que eu chamarei de identi-dade
extrnseca, ou de genuinidade das coisas. Esta presuno "tem um
duplo contedo.
204 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Em primeiro lagar, pela presuno de genuinidade, a coisa
que, pelas suas determinaes individuais distintivas, parece ser
a que Ticio possua, presume-se ser prpriamente a que Ticio
possua numa dada ocasio; e de um modo geral, a coisa que
pelas suas aparncias distintivas mostra ter uma relao de per-
tinncia com uma dada pessoa, com um dado tempo ou com um
dado lugar, presume-se que tenha esta relao: uma presuno
de identidade substancial e extrnseca.
Em segundo lugar, sempre pela mesma presuno de genuini-
dade, cr-se, antes de qualquer outra prova, que uma coisa, nem
quanto ao modo, nem emquanto ao lugar, nem emquanto ao
tempo no tenha sido falsificada por obra maliciosa do homem ;
pois que geral e ordinriamente as coisas se apresentam sem
falsificao maliciosa, sob a f da experincia comum. E esta
uma presuno de identidade formal e extrnseca. Assim o punhal
que aparece manchado de sangue, presume-se ter ficado nas con-
dies particulares em que foi encontrado, quer pelo uso que
dle fez o proprietrio, quer por um facto casual, e no adulte-
rado assim pela aco maliciosa do homem, destinada a enganar
com aquela aparncia. Assim, tambm, o veneno encontrado no
armrio de um indivduo que dle possui a chave, presume-se a
psto por le, e no introduzido a dolosamente por obra mali-
ciosa de outrem.
Estas duas presunes sbre coisas que chamamos de iden-
tidade intrnseca e de identidade extrnseca, so o fundamento
da credibilidade subjectiva das provas reais, e so de grande
importncia para os juzos humanos. Sem elas achar-nos hemos
condenados a vaguear no meio de um grande vcuo de sombras
e de fices. O mundo externo no se nos revela seno pelas suas
aparncias; as vises do esprito so precedidas e dirigidas pelas
do corpo. Se o pensamento humano, em tudo o que aparece fisi-
camente, no tivesse de descobrir primeira vista seno uma
iluso, um lgro e uma insdia, o pensamento, desconfortado e
repelido do mundo exterior, s poderia refugiar-se na solido d
conscincia, por duvidar de tudo.
A Lgica das Proveu em Matria Criminal 205
TTULO II DO CAPTULO III
Indcio
Pargrafo 1. do Ttulo II Indicio em geral
Tanto ao desenvolver o conceito genrico da prova indirecta
e ao determinar as bases da sua classificao fundamental, como
ao falar em particular da primeira espcie das provas indirectas,
que a presuno, temos determinado em grande parte o conceito
da segunda espcie, que o indcio.
Em vista de tudo quanto temos dito, tda a prova indirecta,
quer seja presuno quer indcio, tem a forma lgica do racio-
cnio. Mas emquanto o raciocnio presuntivo parte do conhecido
para o desconhecido sob a luz do princpio de identidade, o racio-
cnio indicativo parte, ao contrrio, do conhecido para o desco-
nhecido sob a luz do princpio de causalidade.
O indcio, portanto, uma das duas espcies da prova indi-
recta, de que a outra a presuno.
A esta noo que apresentamos do indcio, opem-se duas
escolas.
Sustenta-se, por um lado, que o indcio e a presuno so a
mesma coisa. J combatemos esta opinio a propsito da pre-
suno, mostrando como ela s tem por base a falta de anlise
lgica. Os prprios defensores desta opinio, j o dissemos, quando
se encontram em face de algumas presunes verdadeiras, no
sabem como resolver-se a chamar-lhes indcios; no sabem nem
sabero nunca resolver-se a chamar indcio presuno de ino-
cncia que assiste ao argido at prova em contrrio. Como
poder isso ser, se presuno e indcio so uma s coisa? V-se
claramente que esta afirmao de identidade no se funda em um
convencimento lgico, mas deriva simplesmente da falta de
percepo das diferenas substanciais, que existem entre presun-
o e indcio. Nega-se, em geral, a distino entre uma e outro,
nicamente porque se no alcanam as suas noes diferenciais;
206 A Lgica das Provas em Matria Criminal
e quando, por isso, em particular, temos em nossa frente uma
verdadeira presuno, no temos a coragem de lhe chamar ind-
cio, porque a razo pressente confusamente que existe nela qual-
quer coisa de especial, que no permite a sua confuso com o
indcio.
A opinio da identidade entre a presuno e o indcio, no
se funda pois sbre convico alguma lgica; e deve por isso
ser rejeitada sem mais.
Mas outra opinio h que se ope nossa. Alguns, poster-
gando a natureza da prova indirecta do indcio, no viram nela
seno uma designao colectiva das provas imperfeitas. Tda a
prova imperfeita, qualquer que seja o seu contedo, um indcio.
Opinio estranha, esta, que traz uma confuso bablica para o
campo das provas. Segundo esta opinio, a mesma prova ora
indcio, ora no o , sem que coisa alguma se mude na sua natu-
reza: assim, o tstemunho nico que se considera imperfeito,
um indcio; se se junta ontro tstemunho, deixando de existir a
imperfeio por motivo de ser nico, j no indcio. O indcio
tomado nste sentido, alguma coisa de indeterminado, que s
serve para originar confuso. A imperfeio das provas pode refe-
rir-se ao contedo, ao sujeito e forma probatria; tudo isto,
pois, se compreenderia no indcio, e com que vantagem para as
determinaes scientficas, todos o vem. Esta opinio nasceu de
alguns artigos da Carolina, que' enumeraram entre os indcios o
depoimento de uma s tstemunha, e a confisso extra-judicial,
sem atender naturalmente sua natureza de prova, mas sim ao
seu valor probatrio. E no para espantar que esta opinio
tenha encontrado defensores: qual a opinio que os no encon-
tra? antes para admirar vr como esta opinio tenha sido
tambm seguida, inconscientemente, por muitssimos; e ainda
mais para admirar, encontrar entre stes adeptos inconscientes
tambm homens de alto engenho. Depois de terem estabelecido
em princpio a natureza de prova indirecta do indcio, querem
enumerar entre os indcios o depoimento de vrias tstemunhas
no idneas, o depoimento de uma nica tstemunha, a confisso
extra-judicial, o depoimento do ofendido, a acusao de um scio,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 207
formas de prova, tdas elas, que podem ter um contedo tanto-
directo, como indirecto, e que, por isso, principalmente, no so
tomadas em conta, e no teem importncia, seno emquanto se
apresentam com um contedo directo.
O pobre leitor consciencioso, que tem por hbito ler medi-
tando, quando se encontra em face de tais contradies, expostas
com uma grande desenvoltura como verdades no contestadas e
no contestveis para pessoa alguma, fica, primeira vista,
desorientado: no sabe se h de suspeitar do autor, de si, ou da
razo humana. O autor fica com a melhor; e o pobre leitor, as mais
das vezes, induzido a suspeitar de si; e pensa que nas ideias
scientficas h lados que le no sabe atingir. V ento na-scincia
uma Deusa misteriosa, que s se revela aos seus sacerdotes, uma
Isis que no se desvela perante os olhos profanos; e sente-se
profano e no admitido no templo. s vezes, porm, em lugar de
se prostrar nesta humilde dvida de si mesmo, o leitor envolve
numa s dvida, o que peor, o autor, a si e a todos, e perde a f
na razo humana, pelo menos no que respeita scincia. O melhor
partido o mais raro; o de atribuir ao autor, o que lhe de atribuir:
a sua contradio; e o mais raro por isso que o mais fatigante,
obrigando no s a vr em que est lgica e genticamente o rro;
mas a fixar, em seu lugar, a verdade, de um modo determinado e
racional. Duvidar sempre mais fcil que afirmar, quando se
quere assentar na dvida; e por isso ao lado da dvida
investigadora, da dvida que no descansa, da dvida dos espritos
fortes, dvida que se resolve na tendncia para a afirmao
racional, h outra espcie de dvida: uma dvida inerte, que no
tende a coisa alguma, e em que se adormenta a grande massa dos
espritos fracos, uma dvida que filha natural da inrcia do
pensamento, e que constitue a scincia cmoda dos indolentes.
Mas a quem escreve em matria scientfica no se consente
semelhante preguia. Tem obrigao de apurar e de combater os
rros dos escritores que o precederam; os que se lhe seguirem,
combatero os seus. O campo dos rros vai-se, assim, restringindo,
e o das verdades alargando, e a razo humana, por um progresso
incessante, vai-se aproxi-
208 A Lgica das Provas em Matria Criminal
mando cada vez mais daquela alta e completa harmonia das
verdades, que a nobre aspirao da inteligncia humana.
Voltando, pois, ao assunto, o indcio, que pode ser perfeito
e imperfeito, no pode ser tomado como equivalente da prova
imperfeita.
Se aqules indivduos que deram esta significao palavra
indcio, tivessem usado outra palava para significar aquela esp-
cie de prova indirecta, que ns classificamos sob o mesmo nome
de indcio, a nossa no seria mais que uma questo de palavras.
Mas no: aquela espcie de prova indirecta, -que denominamos
indcio, fica para les sem nome particular e sem uma noo
exacta em crtica criminal. A nossa questo no conseguinte-
mente uma questo de palavras; uma questo de ideias; e por
isso, ao mesmo tempo que rejeitamos como errnea a definio
do indcio, protestamos contra a estranha contradio dos que
em abstracto lhe do um sentido de prova indirecta, e em con-
creto colocam entre os indcios tambm as provas directas, quando
imperfeitas.
Confirmamos, por conta prpria, novamente aqui a
nossa noo: o indcio aquele argumento probatrio indirecto
que deduz o desconhecido do conhecido por meio da relao de cau-
salidade.
Mas qual a fra substancial e probatria do indcio?
A medida desta fra probatria s pode encontrar-se na natu-
reza ntima da prova que examinamos; natureza ntima, que
determinamos em uma relao especfica de causalidade. neces-
srio, por isso, para conhecer a fra probatria do indcio, inves-
tigar em particular a fra da relao especfica de causalidade
que nle liga o desconhecido ao conhecido.
J vimos, falando da prova indirecta em geral, qual a
forma lgica do indcio. A sua forma lgica, dissemos, o racio-
cnio. Reuni todos os indcios possveis, fazei a sua anlise lgica,
e encontrar-vos heis sempre em frente de uma premissa maior,
que tem por contedo um juzo especfico de causalidade; de
uma premissa menor, que afirma a existncia de um sujeito par-
ticular que se contm no sujeito especfico da maior; e de uma
A Lgica das Provas em Matria Criminal 209
concluso que atribui ao sujeito particular em questo o predicado
atribudo ua maior ao sujeito especfico. Nesta concluso, assenta
prpriamente o argumento probatrio. No intil aqui um
esclarecimento. Falamos de juzo especfico e de sujeito especifico
por exactido de linguagem, porquanto o juzo verdadeiramente
genrico de causalidade o prprio principio de causalidade : todo
o fenmeno supe a causa. O juzo de causalidade expresso pela
maior do raciocnio indicativo no exprime
pr
priamente seno a relao entre uma espcie de causas e uma
espcie de efeitos; eis em que sentido o chamamos especfico.
Compreende-se, pois, que ste juzo especfico de causalidade
sempre geral relativamente ao juzo particular que se quer dle
deduzir. Dado ste esclarecimento, que nos parece til, prossi-
gamos.
Vimos tambm, anteriormente, que a ideia mais geral, con-
tida no juzo da maior, nos dada pela experincia, que a deduz
por induo da observao das vrias particularidades. Vimos,
alm disso, que esta ideia geral de que se parte, consiste, para o
indcio quasi sempre, e sempre para a presuno, no modo de ser e
de actuar ordinrio da natureza. Remetendo para o completo
desenvolvimento das teorias, relativamente a ste ponto, para o
que dissemos anteriormente nesta mesma Parte do livro, julgamos
oportuno considerar aqui de novo a fra da relao, que no
indcio nos conduz do conhecido ao desconhecido, para fixar
assim o valor do indcio.
No indcio a coisa que se apresenta como conhecida, sem-
pre diversa da coisa desconhecida que se faz conhecer. Ora, uma
coisa conhecida s nos pode provar uma coisa desconhecida
diversa, quando se nos apresente como sua causa ou como seu
efeito, porquanto entre coisas diversas no h, como demonstra-
mos, seno a relao da causalidade que possa conduzir de uma a
outra. A coisa conhecida, que, emquanto serve para indicar a
desconhecida, pode chamar-se tambm coisa indicadora, pode
apresentar-se tanto como uma causa, como um efeito; e esta coisa
indicadora pode consistir em um facto interno da conscincia, ou
em um facto externo do mundo.
14
210 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Quanto aos factos internos da conscincia, vmos bem cla-
ramente, que les, quer como causa, quer como efeito, s podem
dar lugar a indcios contingentes. til, por isso, smente,
falar de novo sbre a eficcia probatria possvel dos factos
externos.
O facto externo que serve de coisa indicadora, se se apre-
senta como potncia causal, s pode provar o seu efeito de um
modo mais ou menos provvel; nunca de um modo certo; porque
no campo das coisas contingentes, causas (no sentido de simples
potncias causais) que devem produzir necessriamente um dado
efeito, no existem. Tda a causa finita tem necessidade de
determinadas condies, no s extrnsecas mas intrnsecas, e
nem tdas elas perceptveis para ns, para produzir um efeito;
na falta das quais a causa potenciai fica infecunda. No campo
das coisas finitas poder apenas afirmar-se, depois da observao
das particularidades, que uma dada potncia causal produz um
dado efeito no maior nmero dos casos, e no em todos os casos ,-
s poder afirmar-se a relao ordinria da causa para o efeito,
e no a relao constante; e o indcio que dela deriva s poder
ser um indcio contingente.
Voltemos ao indcio era que o facto indicativo se apresenta
como efeito. Uma coisa material pode lembrar outra, como sua.
causa, ou pelas suas modificaes formais, ou pelas suas moda-
lidades substanciais.
Vimos que as modificaes formais, reveladoras de uma
dada cansa, se concretizam na alterao e na locomoo. Ora,
podendo a alterao e a locomoo das coisas, derivar natural-
mente no s de mil casualidades, mas tambm de mil manifes-
taes possveis do livre arbtrio do homem, nunca revelam a
sua causa de um modo determinadamente constante. Em vista
de uma alterao ou locomoo, como prova indirecta, s poder
afirmar-se a relao ordinria entre efeito e causa; s poder
afirmar-se que no maior nmero dos casos, aquele dado facto
que se considera como efeito, deriva daquele outro facto que se
considera como causa. O indicio que da deriva no pode, por
isso, ser seno contingente. As mancbas de sangue encontradas
A Lgica das Provas em Matria Criminal 211
sbre o fato de Ticio, depois do assassinato de Caio, sero apenas
um indicio contingente da criminalidade de Ticio, como qualquer
outro indicio consistente em modificaes formais das coisas.
Mas dissemos que uma coisa faz induzir outra como sua
causa no s pelas modificaes formais, mas tambm pelas mo-
dalidades substanciais. Por outros trmos, uma coisa pode evocar
a sua causa no R emquanto modificada, mas emquanto
produzida: no a modificao, mas o natural e substancial modo
de ser da coisa pode fazer pensar na sua causa. Assim, a criana
que pelas suas condies naturais de ser, de recemnascido, revela
um parto recente, revela-o no simplesmente pelos critrios
extrnsecos da alterao ou da locomoo, mas pelo seu modo de
ser natural. Ora, entre efeitos desta espcie e as suas causas que
o esprito humano percebe por vezes relaes no simplesmente
ordinrias, mas constantes: e nstes casos o indcio no
contingente, mas necessrio. Por esta forma, da percepo das leis
nunca alterveis da gerao do homem, deriva uma cadeia de
indcios que so necessrios: assim, a gravidez da mulher, ou antes
a existncia do feto em gestao no tero da mulher, o indcio
necessrio da sua cpula com o homem; assim, as condies
naturais que apresenta o recemnascido, podem funcionar como
indcio necessrio do parto recente; assim, o ser, em geral, em
vida nste mundo, prova necessriamente uma vida intra-ute-rina
precedente no seio de uma mulher, e ter-se dado o parto.
Conquanto poucos, h sempre contudo indcios necessrios.
Da fra que pode apresentar a relao de causalidade entre
facto indicativo e facto indicado, relao de causalidade que o
trmite lgico do raciocnio indicativo, deduzimos o valor proba-
trio que pode apresentar o indicio. Ora nesta noo do valor dos
indcios que se funda uma primeira classificao dles. Os
indcios, sob o ponto de vista do valor, so de duas espcies:
indcios necessrios, que revelam com certeza uma dada causa, e
indcios contigentes que revelam mais ou menos provvelmente
uma dada causa ou um dado efeito; os primeiros, fundados em
uma constante relao de causalidade; e os segundos, fundados
em uma relao ordinria de causalidade.
212 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Os indcios contingentes, tomados em um sentido muito
geral, compreendem no s os que apresentam uma maior con-
vergncia de motivos para crr, do que para no crr, mas tam-
bm os que apresentam igualdade de motivos para crr e para
no crr em um dado facto; indcios contingentes de probabili-
dade, os primeiros; indcios contingentes de credibilidade, os
segundos. Mas stes indcios que chamo de credibilidade, se
teem um sentido sob o ponto de vista do conhecimento, no
teem sentido sob o de verdadeiras provas: o indcio de credibili-
dade s prova relativamente possibilidade de um facto, e
no relativamente efectiva realidade dsse facto. Falando de
provas em geral, mostramos claramente, que as provas de credi-
bilidade no so verdadeiras provas; e intil repeti-lo aqui.
Compraz-nos, aqui, observar simplesmente que so precisamente
os indcios de simples credibilidade, aqules indcios proteiformes
que podem servir igualmente para a acusao e para a defeza, e
que, conquanto devessem ser rejeitados, se fazem por vezes valer
na prtica judiciria a favor de uma ou da outra, segundo a
fra oratria do acusador superior ou inferior do defensor.
Tais provas, onde quer que sejam invocadas, devem sempre
rejeitar-se.
Restam, pois, simplesmente como indcios contingentes os
provveis. Ora, podem os indcios provveis subclassificar-se sob
o mesmo ponto de vista do seu valor probatrios? Ao falarmos
da probabilidade, demonstramos que, se ela susceptvel de
graduao, a sua graduao no pode determinar-se com limites
fixos; e dissemos que se se pode falar de uma probabilidade
mnima, de uma mdia e de uma mxima, que chamamos o
verosmil, o provvel e o probabilissimo, no podem no entanto
determinar-se precisamente os limites que separam stes graus
uns dos outros. Pondo de parte o probabilssimo, cuja delimitao
do provvel mais rdua que tudo, os indcios contingentes, sob
o ponto de vista do seu valor, poderiam assim distinguir-se em
indcios verosmeis ou de probabilidade mnima, e indcios pro-
vveis ou de probabilidade mdia e mxima, atendendo sempre
que no so susceptveis de se fixar priori, em trmos fixos,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 213
as condies constitutivas da verosimilhana, e as constitutivas da
probabilidade era sentido especial, como demonstramos falando de
probabilidade em geral.
Recapitulando: o estudo da relao de causalidade no racio-
cnio indicativo, estudo destinado a conhecer a fra probatria
dos indcios, leva-nos a uma primeira distino fundamental
dstes raciocnios, relativamente ao seu valor probatrio: indcios
necessrios, indcios provveis e indcios verosmeis. Mas esta
distino, referindo-se ao valor que, no que respeita grande
massa dos indcios contingentes, no pode determinar-se em tr-
mo
s fixos, no satisfaz por completo s necessidades da scincia.
scincia necessita de uma distino que parta de um critrio
substancial e determinado, de tal natureza que, dado um indcio,
ste deva, subordinar-se-lhe firmemente e sem deslocaes pos-
sveis.
parte os critrios necessrios que so de uma eficcia
muito rara em matria criminal, os tratadistas teem procurado
descobrir divises dos indcios contingentes, segundo critrios que
permitam classific-los priori de uma maneira determinada.
Emquanto distino precedente de indcios verosmeis e
provveis, no podendo esta, repitamo-lo, determinar-se clara e
precisamente, segue-se em primeiro lugar que mesmo em con-
creto possa surgir por vezes a dvida sbre se um indcio pro-
vvel se verosmil; em abstracto, pois, por uma classificao feita
priori, esta distino tem cada vez menos valor, porquanto a
fra probatria do indcio, a que se refere esta distino, sendo
determinada pelo conjunto das circunstncias concretas do facto
indivduo, e sendo estas circunstncias indefinidamente variveis,
segue-se que um indcio que em dadas circunstncias provvel
em outras simplesmente verosmil, e vice-versa.
Os tratadistas teem-se empenhado em fazer outras distines,
sempre na esperana de encontrarem um critrio substancial, capaz
de uma classificao fixa e determinada dos indcios contingentes.
Vejamos se o conseguiram, examinando rpidamente as distines
acreditadas na scincia; e passaremos em seguida a expr um
critrio de distino que nos parece ser racional.
214 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Fz-se correr, em primeiro lugar, na seincia a distino
entre indcios prximos e remotos. Esta distino pode ser tomada
em dois sentidos: pode tomar-se no sentido que Carrara, segundo
o seu costume, formulou com preciso, de indcios conexos
consumao do crime, e de indcios conexos sua simples exe-
cuo; e pode tomar-se no sentido da classificao, por ns ante-
riormente feita, entre indcios provveis e verosmeis.
Tomada na primeira acepo diga-se ao eminente mestre,
com o devido respeito, que a distino se funda em um critrio
acidental, que no nos revela coisa alguma da substancialidade
probatria do indcio. Parecer que, distinguindo os indcios
segundo a sua ligao com a execuo ou com a consumao,
les so assim divididos segundo um critrio fixo que revela e
explica a sua diversa eficcia probatria; o que no assim. H
indcios de execuo que teem uma fra probatria maior que
a dos indcios de consumao. Ter sido visto Ticio agachado,
com uma espingarda, atrs de um valado que ladeia uma estrada,
uma hora antes de, naquele lugar, naquele caminho, ter sido
morto um homem com um tiro de espingarda' um indcio
remoto que no se liga com a consumao; mas ste indcio
remoto tem uma fra probatria muito maior que a simples
mancha de sangue que se tivesse encontrado no casaco de Ticio,
mancha de sangue que seria um indcio da consumao.
Se portanto a distino entre indcios prximos e remotos
a tomamos no sentido de indcios provveis e verosmeis, esta
distino no faz mais que ligar a grande indeterminao das
palavras, indeterminao natural das coisas significadas. E o
mesmo se diz das distines do indicio em urgente e no urgente,
violento e no violento, grave e ligeiro; nomenclaturas, tdas
elas indeterminadssimas, que no fazem seno aumentar aquela
indeterminao que j naturalmente se encontra nas graduaes
da probabilidade, graduaes da probabilidade que so chamadas
pelos seus prprios trmos, uma verosmil, a outra provvel.
melhor ento, conservar a distino precedente de indcio
verosmil e de indcio provvel, abolindo tda a nomenclatura
incerta e equvoca; sabe-se ao menos o que se quer dizer.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 215
Tambm se dividiram os indcios em comuns e prprios:
Comuns, os que existem relativamente a todos os delitos, como a
fuga, o suborno das tstemunhas; prprios, os que s existem
relativamente a um dado delito, como a adquisio de veneno, que
um indicio para o envenenamento, como a clandestinidade da
gravidez e do parto, que um indcio para o infanticdio. Esta
distino, se bem que se prste a uma certa classificao material
dos indcios abstractamente considerados, parece-nos contudo
completamente insignificante. Ela no se funda na subs-
tancialidade do indcio; no nasce seno de uma considerao
extrnseca do todo. A inanidade desta distino resulta claramente
do facto de um indcio no poder ser chamado a funcionar em
concreto, como prova de ura dado crime, quando no seja
considerado como prprio dsse crime; e precisamente por isso
que o indcio se apresenta pelas suas condies concretas de prova.
O suborno das tstemunhas, dizem, um indcio comum, um
indcio que se pode apresentar a funcionar como prova indirecta
para qualquer crime. E absolutamente verdadeiro: mas esta uma
considerao que no tem valor algum para a substncia probatria
do indcio concreto. Desde que o suborno se considera em concreto
como um indcio de criminalidade, quer isso dizer que le se
considera relativamente s tstemunhas de uma dada causa, e
relativamente ao acusado que ai se encontra sub judice; por outros
trmos, quer dizer que o suborno se considera como indicio
prprio; e no pode ser considerado de outro modo, devido s
condies concretas com que se apresenta. O mesmo sucede com
todos os outroa indcios comuns: s teem sentido probatrio
quando se supem com as determinaes concretas, em virtude
das quais se tornam prprios: um indcio que se quisesse continuar
a considerar como comum, isto , sem essas tais determinaes
concretas, no seria mais que um facto existindo no ar por
abstraco, sem eficcia alguma probatria. Qual ser pois a
importncia substancial de tal distino? E uma distino derivada
de um critrio extrnseco do indcio considerado em abstrato, que
no tem assim sentido, nem aplicao, relativamente aos indcios
considerados em concreto. ste critrio
216 A Lgica das Provas em Matria Criminal
nicamente pode nas exemplificaes funcionar como acessrio
ao lado de um critrio substancial, afim de no se perder na
infinita miualha dos indcios particulares, que podem verificar-se
relativamente a cada delito.
Outra distino dos indcios divide-se em antecedentes, con-
comitantes e subsequentes, tomando como guia o critrio mate-
rial do tempo em que se deu o facto indicativo, relativamente
ao tempo da consumao do delito. Esta distino cronolgica
no tem maior importncia que a precedente, conquanto, como a
precedente, se prste a uma certa classificao metdica dos
vrios indcios. Achamo-nos sempre na mesma grave dificuldade:
o critrio material de que se parte nesta distino tambm
le um critrio extrnseco que nada revela da natureza substan-
cial do indcio como prova; e por isso a distino que dle deriva
no pode ter importncia alguma racional. Emquanto
distino entre indcios da criminalidade ou da inocncia,
proposta por Weiske, e louvada por Carrara, uma distino
que se no funda na natureza especfica do indcio; uma
distino que pode referir-se a tdas as provas, consideradas
relativamente ao seu fim especial; e por isso, com maioria de
razo, nos ocupamos dela falando das provas em geral.
Pelo nosso lado, emquanto admitimos, sob o ponto de vista
do seu valor probatrio, a distino dos indcios em necessrios
e contingentes, e a subdiviso dstes em provveis e verosmeis,
encontramos sempre, em vista do que temos dito, sendo a proba-
bilidade e a verosimilhana, como qualquer outra graduao da
probabilidade genrica, indeterminveis, encontramos sempre,
dizia, que em concreto no se sabe por vezes se um dado indcio
deve chamar-se provvel se verosmil; e achamos por isso, que,
em abstracto, esta distino tem cada vez menos importncia,
porquanto esta distino se refere directamente ao valor dos
indcios, e o valor dos indcios no pode calcular-se com exac-
tido, seno em concreto.
Sentimos, conseguintemente, a necessidade de outra distin-
o com trmos claros e precisos, sob os quais possamos classi-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 217
ficar, de um modo fixo, os indcios. Mas esta distino, que
procuramos, deve, para ser digna da scincia, inspirar-se em um
critrio substancial, isto , em um critrio que enuncie e explique
a substncia probatria do indcio. Quando tivermos achado ste
critrio determinado e substancial, todo o indcio, quer se con-
sidere em abstracto, quer em concreto, dever subordinar-se fixa-
mente s categorias substanciais que dle derivam, por isso que
no h coisa que possa separar-se da substncia sem deixar de
existir.
Se se requer um critrio substancial, claro que le no nos
pode vir seno da contemplao da substncia probatria do
indcio. Ora, ao darmos a noo de indcio, vimos j em que
consiste a substncia probatria do indcio: ela baseia-se no prin-
cpio de causalidade. O princpio de causalidade: eis o caminho
pelo qual o esprito se dirige do conhecido ao desconhecido, no-
raciocnio indicativo. Mas o ponto de partida da razo, nesta
marcha para o desconhecido, no sempre o mesmo; ora se parte
do que consideramos como causa, e nos dirigimos para o efeito
que queremos conhecer; ora se parte do que consideramos como
efeito, e avanamos para a causa que queremos conhecer; para
outros trmos, ora a causa que nos indica o efeito, ora o efeito
que nos indica a causa. Eis, segundo nosso parecer, duas classes
substancialmente diversas de indcios. O indcio que tem a sua
eficcia em uma causa que indica o efeito, poderia cha-mar-se
causal; o indcio que tem a sua eficcia em um eleito que indica a
causa, poderia chamar-se de efeito. E usando assim estas
denominaes, empregam-se, como se v, as expresses causal e
de ejeito em um sentido activo, isto , atribuindo-as ao fim activo
do indcio, coisa que faz conhecer, e no que se faz conhecer,
ao facto indicativo, e no ao facto indicado. Se o facto
indicativo como causa, tem-se o indcio de efeito. Convm assim
fixar bem o sentido das palavras para que no surjam equvocos.'
Esta nossa distino de indcios causais e de ejeito, parece--
nos utilssima para a classificao dos indcios. A vantagem dste
nosso critrio parecer grandssima, quando se atenda a
218 A Lgica das Provas em Matria Criminal
que em muitos factos se admite o valor de indicio de uma forma
muito indeterminada, sem se tomar conta da sua substncia de
prova. Ora, classificar os indcios, segundo o nosso critrio, sob
o seu aspecto substancial, obriga ao estado da sua verdadeira
natureza e do seu verdadeiro valor, por isso que exige que se
considere a relao particular de causalidade, em que se funda
tda a fra probatria do indcio. Procedendo assim, alguns
indcios que, pela maneira indeterminada por que so percebidos,
figuram por vezes como argumentos probatrios de uma certa
fra; considerados na sua verdadeira substancialidade de prova,
isto , na relao de causalidade entre facto indicativo e facto
indicado, mostraro o seu verdadeiro valor, muitas vezes mnimo
e desprezvel.
Quando se no consegue, primeira vista, classificar o ind-
cio entre os causais ou os de efeito, quer dizer que se no tem
um conceito justo do valor probatrio do indicio; quer dizer
que a sua avaliao objectiva se faz por um impulso cego, e no
por um clculo raciocinado. necessrio ento prevenirmo-nos
contra o indcio, e aceit-lo smente quando, avaliando-o exacta-
mente, se chega a classific-lo.
Ora, sob o ponto de vista geral destas duas classes, con-
veniente observar que os indcios de efeito apresentam sempre
uma eficcia probatria maior que a apresentada pelos indcios
causais. No quer isto dizer que, em particular, um indcio
causal no possa at ter maior fra que um indcio de efeito.
Se se escolhe o mais forte dos indcios causais e se compara com
o mais fraco dos de efeito, compreende-sc como aquele pode ter
maior eficcia probatria do que ste. Mas no assim que se
julga lgicamente do valor probatrio das classes; necessrio
consider-las na sua totalidade, abrangendo tdas as particulari-
dades que lhes pertencem, umas em confronto com as outras.
Ora, sob ste ponto de vista, que ns dizemos que os indcios
de efeito, em geral, teem maior eficcia probatria que os causais.
E compreende-se a razo.
O efeito serve melhor para indicar a causa, do que a causa
o efeito, porquanto, no campo das contingncias, todo o facto
A Lgica das Provas em Matria Criminal 219
certamente a resultante determinada de uma causa; mas nem todo
o facto certamente o gerador real de um efeito. O que se considera
como efeito, no pode ser seno o efeito de uma ou de outra causa.
O que se considera como causa pode no ser causa de modo
algum, pode no ter produzido efeito algum pela falta de
determinadas condies internas ou externas que no percebemos.
Eis um motivo iufirmante inseparvel dos indcios causais, e um
motivo corroborador relativamente aos indcios de efeito. Eis a
razo do maior valor de uma classe sbre a outra.
E como as verdades se no contradizem, mas antes se har-
monizam e completam entre si, o que constitui a sua contraprova,
na classe a que atribumos maior eficcia probatria, entre os
indcios de efeito que pode encontrar-se a plena perfeio da
prova proveniente do indcio, isto , o indcio necessrio. A coisa
indicativa que se apresenta como causa, tambm o dissemos
noutro lugar, no pode provar o seu efeito, seno de um modo
mais ou menos provvel, pois que no campo das coisas
contingentes no h potncias causais que devam produzir neces-
sriamente um dado efeito; qualquer causa potencial finita pode
conservar-se infecunda por razes intrnsecas ou extrnsecas que
no percebemos. H, ao contrrio, factos que uma vez produzidos
s podem ser efeito de uma nica causa; a qual , assim, neces-
sriamente indicada pelo seu efeito. Por isso, esfrando-se o
esprito humano por descobrir indcios, em sentido prprio, ver-
dadeiramente necessrios, no os encontrar seno entre os de
feito.
classe dos indcios de efeito tem por isso, em geral, maior
eficcia probatria que a dos indcios causais, e compreende em
si os indcios mais perfeitos pelo seu contedo, que so os
necessrios.
Afim de determinar cada vez melhor stes conceitos, diga-
mos tambm uma palavra sbre o valor dos indcios causais,
relativamente s leis morais a que podem referir-se, a propsito
de delito.
O indcio causal do delito , em geral, o indcio que tem o
seu fundamento em um facto causador do delito. Ora, o indcio
220 A Lgica das Provas em Matria Criminal
causal pode consistir, em particular, num facto que tenha podido
gerar a inteno, e sirva para a indicar. 0 indcio causal pode
tambm consistir em um facto, que tomado, como manifesta-
o de inteno que pde depois, afirmando-se e determinando-se,
produzir a aco criminosa; pelo que o indcio indica a aco,
fundando-se na regra geral, que a inteno, mesmo quando
vaga, precedente ao delito, a qual afirmando-se cada vez mais
em uma inteno determinada, acaba por produzir a aco
criminosa. Tanto no primeiro como no segundo caso, o indcio
funda-se sbre leis morais. Ora, necessrio ter cuidado ao
extrair dedues das leis morais, pois que estas podem sempre
naufragar contra as disposies do esprito individual e contra
o livre arbtrio, em que se funda o motivo infirmante,
fundamental desta espcie de indcios. Vejamos concretamente a
fraqueza e a natureza falaz dstes argumentos probatrios.
Existe um facto, que pode ter produzido o inteno do
delito. E que concluir da? A misria que pode originar a von
tade de roubar, pode ser alguma vez um bom indcio da exis
tncia real dessa vontade? De modo algum! a misria pode
coexistir som a resignao do esprito humano; pode coexistir
com o insofrimento mas repugnando-lhe o crime; pode produzir
um impulso criminoso, mas imediatamente reprimido por aquele
domnio, que, pelo livre arbtrio, o homem exerce sbre as pr
prias tendncias.
Um homem recebeu uma grave ofensa de outro. E da?
Poder-se h por acaso concluir bem pela inteno homi-
cida? Aquela ofensa sofrida pode ter sido perdoada por um
esp-
rito profundamente cristo; pode ter gerado dio, mas no
criminoso; pode ter produzido um impulso criminoso, mas me-
diatamente reprimido; e assim por diante. H sempre um
cmulo de motivos infirmantes, dignos de serem levados em
conta, nstes indcios.
Tratemos agora da outra espcie, que mencionamos, de
indcios causais; aqules factos, que, emquanto se consideram
como manifestaes de uma inteno no contempornea da
aco criminosa, se tornam indicativos da inteno criminosa
A Lgica das Prova em Matria Criminal 221
concomitante aco, e por isso da prpria aco criminosa de uma
dada pessoa. Tambm aqui a impenetrabilidade da conscincia e do
livre arbtrio, dominador dos espritos, tornam frgeis stes indcios.
Ter dito algum que se quer vingar de Ticio, ter ameaado Ticio,
podem ter sido exteriorisaes de uma inteno real de delito, mas
uma fanfarronice, uma jactncia; pode ter sido simplesmente um
meio empregado para amedrontar Ticio. E mesmo admitindo que
existiu realmente a inteno do delito, mesmo admitida a
correspondncia entre a inteno e a sua manifestao, aquela
inteno pode ter sido fruto da ira sbita, e ter-se apagado com o
desaparecimento desta; pode ter sido uma daquelas intenes que o
espirito humano, naturalmente bom, s indeterminadamente se inclina
a ter, mas que repele em seguida de uma forma precisa e determinada;
pode mesmo ter sido friamente determinada, mas ter sido, no entanto,
abandonada em seguida, pelo triunfo das boas tendncias que fz pre-
valecer o livre arbtrio; pode, finalmente, no ser abandonada, mas
sim ficar como uma simples tendncia interna, por isso que outrem,
antecipando-se, praticou o crime; e assim por diante. No h, pois,
quem no veja como e quanto enganadora a| natureza daqules
critrios morais, que servem de guia nos indcios causais do delito.
Voltando, agora, aos indcios em geral, o que diremos ns da
sua importncia probatria no juizo penal? Falaremos por acaso do
nmero e das qualidades dos indcios necessrios para que se tenha
um legtimo convencimento? Tudo isto seria, para ns, superfluidade
de tratadistas, tendo desprezado a prova legal, e tendo determinado a
natureza de que deve ser, qualquer que seja a prova de que provenha,
o convencimento sbre que deve fundar-se a sentena. Para ns no h
mais que um s e mesmo preceito para tda a espcie de prova: para
haver uma legitima sentena de condenao, no devo o
convencimento que provm das provas ter contra si dvida alguma
racional.
Os indicios no merecem por certo a apoteose, mas tambm no
merecem a excomunho maior. necessrio ter cautela na afirmao
dos indcios; mas no pode negar-se que a certeza
222 A Lgica das Provas em Matria Criminal
pode por vezes provir dles. E isto claro, quando se atenda a
que entre os indcios tambm se encontram os necessrios.
Suponhamos que Ticio steve durante um ano na Amrica, longe
da sua mulher que ficou em Itlia; suponhemos que no fim do
ano, ao voltar, encontra a sua mulher grvida: no lhes parece
que Ticio deve estar legitimamente certo do adultrio de sua
mulher? No lhes parece que outra pessoa, a quem conste o
afastamento de Ticio durante todo aquele tempo de sua mulher,
deva legitimamente ter a mesma certeza? E atendei a que nem
todos os indcios de certeza se apresentam como tais no princ-
pio do julgamento; h indcios de probabilidade que no decurso
do julgamento, pela supervenincia de outras provas, se tornam
de certeza. E isto tem lugar quando as provas supervenientes
excluem tdas as hipteses, excepto uma, que se refere ao ind-
cio de probabilidade; caso em que aquela hiptese fica sendo a
nica e necessria hiptese do indcio.
ste ltimo caso ser raro, porquanto sendo de ordinrio
indefinida a vria significao dos indcios, no possvel enu-
merar determinadamente e combater as vrias hipteses, menos
uma, que se referem ao indcio; mas no pode negar-se que
um caso possvel que se tem de juntar ao nmero, mesmo muito
reduzido, dos indcios que se apresentam primeira vista, como
necessrios. Em face destas verdades achar-vos beis com cora-
gem para repelir o indcio do campo das provas, ou de o decla-
rar sempre suspeito? Se quereis sempre provas directas para
condenar, crimes ha que, pela sua natureza, escaparo qusi
sempre pena. Como poderia haver a pretenso de exigir que
em juzo as acusaes de adultrio se apresentassem apoiadas
absolutamente sbre provas directas? Isso equivaleria a cortar o
crime de adultrio do Cdigo Penal. Os inimigos a todo o transe
do indcio, devem reflectir tambm, que entre os elementos cons-
titutivos do delito h um que qusi sempre s se pode verificar
pelas provas indirectas: o elemento subjectivo, a inteno cri-
minosa. Tirando o caso rarssimo de se ter a confisso, nica
prova directa possvel da inteno, sem o auxlio das provas
indirectas ficar-se ia sempre nas trevas relativamente ao ele-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 223
mento moral do delito, e seria necessrio absolver. Tanto valeria
abolir de uma vez o Cdigo Penal. No pode, por isso, se quer,
pr-se em dvida a grande utilidade dos indcios como gaia, em
geral, na investigao das melhores provas, e era particular, na
indagao do delinqente.
No exageremos portanto. O indcio pode dar a certeza, mas
necessrio estar sempre em guarda contra as insdias desta
espcie de prova. E para nos salvaguardarmos das insdias
necessrio proceder cautelosamente na avaliao do indcio,
considerando escrupulosa e ponderadaraente os motivos infirman-
tes, por um lado, e os contra-indcios, por outro. necessrio dizer
aqui uma palavra sbre o que entendemos por motivo infir-mante e
por contra-indcio.
Na avaliao do indcio, o juiz tem um duplo dever. Deve em
primeiro lagar atender aos motivos que baja para no crr
inberentes ao indcio por si mesmos; stes motivos para no crr,
constituem os motivos infirmantes, que derivam por vezes da
considerao da subjectividade do indcio, e derivam sempre da
considerao do seu contedo quando se no trata de indcio
necessrio. O juz deve alm disso atender s provas infirmantes
do indcio; e a prova infirmante do indcio, consista ou no em
outro indcio, constitui o contra-indcio, em geral. So duas coisas
bem distintas entre si, mas que a escola confunde por vezes.
A considerao de que o objecto encontrado junto do
acusado e apresentado como pertencente ao ofendido, possa, por
vezes, ser um objecto semelhante ao do ofendido e perteu-cente
legitimamente ao acusado, no seno a considerao de um
motivo infirmante da subjectividade do indcio, e no j um
contra-indcio.
Tomar em conta a hiptese no criminosa que se inclui no-
contedo do indcio, e que se concilia com aquele facto indicativo
que se apresenta como matria do indcio incriminante, j. no
tornar patente o contra-indcio. Apresentando-se, por exemplo, um
casaco ensanguentado, considera-se a possibilidade de que aquele
sangue no seja proveniente do ferimento de Ticio,
224 A Lgica das Provas em Matria Criminal
mas que possa provir da morte de um animal, ou da sangria de
um doente; considerar estas hipteses que explicariam de um
modo natural o facto da mancha de sangue, no mais que
atender ao contedo naturalmente varivel e polivoco do mesmo
indcio. Trata-se de motivos infirmantes do indcio; de contra--
indcios no h aqui que falar.
O contra-indcio no s um indcio que se ope a outro
indcio, mas qualquer prova que se ope a um indcio: o contra-
indcio, j o dissmos, em suma a prova infirmante do indcio. E
portanto o contra-indcio, como tda a contra-prova em geral,
pode ser de duas espcies. Pode em primeiro lugar contradizer o
indcio na sua subjectividade de prova: no prprio facto
indicativo. Por exemplo, ao facto de um objecto encontrado Junto
do acusado e que se julga pertencer ao ofendido pode opr-se
como prova, que aquele objecto no precisamente o objecto que
se julga pertencente ao ofendido, mas um objecto semelhante
possudo pelo acusado anteriormente a ter-se consumado o crime.
Ao facto da inimizade entre o ofendido e o pretendido ofensor
pode opr-se a prova de que a inimizade tinha cessado
anteriormente ao crime.
O contra-indcio pode em segundo lugar contradizer o ind-
cio emquanto sua objectividade de prova, isto , emquanto
ao seu contedo probatrio. Por exemplo, no caso de enve-
nenamento, ao indcio que provm da posse do arsnico, pode
opr-se a prova de que o arsnico fra comprado e empregado
para destruir os ratos; no se impugna, assim, o facto indi-
cativo, aqui impugna-se a explicao incriminante do facto
indicativo.
necessrio, portanto, em tda a prova indirecta distinguir
o que motivo infirmante daquilo que prova infirmante. Os
motivos infirmantes so inerentes prova indirecta considerada
em si mesma, tanto em relao ao sujeito que faz a prova, rela-
tivamente ao qual no teem sempre lugar, quanto ao que respeita
ao objecto provado, relativamente ao qual teem sempre lugar,
uma vez que se no trate de indcio necessrio. prova infir-
mante a que vera dar pso a um motivo infirmante, actuando
A Lgica das Provas em Matria Criminal 225
quer contra o contedo incriminante do indcio, quer contra a sua
credibilidade subjectiva, abstraindo do seu contedo. E agora
que vimos a diferena entre o que motivo infir-mante do indicio
e o que contra-indcio, considerando a importncia que teem os
motivos infrmantes, conveniente dizer ainda uma palavra em
particular a seu respeito.
Do que temos dito, deduz-se claramente que s h duas
espcies de motivos infirmantes: motivos infrmantes da subjecti-
vidade da prova, e motivos infrmantes da objectividade da prova. I
Os motivos infrmantes da objectividade da prova so relativos a
cada uma das provas concretas, e por isso no pode falar-se dles
priori, de um modo geral. Todo o indcio concreto, como
apresenta a sua concreta e determinada indicao, mais ou menos
provvel, de um dado gnero, assim tambm apresenta contra-
indicaes determinadas e concretas, menos crveis do que aquela,
mas que a contradizem, e que podero ser as verdadeiras.
Relativamente, pois, aos motivos infrmantes da subjectivi-
dade da prova, podem mencionar-se priori as suas determi-
naes genricas. Falando da presuno, ns indicamos como
presunes fundamentais da credibilidade subjectiva das provas
reais, aquela que chamamos de identidade intrnseca, e aquela que
chamamos de identidade extrnseca, ou de genuinidade. Ora,
quer-me parecer que, em ordem aqules mesmos conceitos, os
motivos genricos infrmantes da subjectividade da prova indi-
ciria reduzem-se a dois:
1. Falta de identidade intrnseca da coisa.
A que se apresenta actualmente, em ai mesma, como uma
certa coisa, no a que se cr, mas outra coisa.
2. Falta de identidade extrnseca ou de autenticidade da
coisa.
Esta segunda espcie de motivo infirmante tem um duplo
contedo.
Em primeiro lugar, a coisa, que pelas determinaes que
apresenta parece ser a possuda um dia por Ticio, no a que
possua Ticio, mas outra que se lhe assemelha: por outros ter-
15
226 A Lgica das Provas em Matria Criminal
mos, a coisa que se considera pertencente a Ticio no tem com
Ticio a relao que se julga: ou em outros trmos ainda mais
gerais, a coisa que mostra ter uma dada relao de posse com
uma pessoa, num dado tempo e lugar, no tem na realidade
aquela relao.
Em segundo lugar a coisa pode ser falsificada nas suas
modalidades.
Dissemos mais de uma vez que no pode emquanto s suas-
modalidades considerar-se falsa subjectivamente a coisa seno
quando ela tenha sido modificada por obra maliciosa do homem
destinada a enganar. As modificaes que o acaso imprime s
coisas so tomadas em conta na avaliao objectiva do indcio,
por isso que constituem precisamente a polivocidade natural do
seu contedo.
Posto isto, a falsificao subjectiva da coisa pode ser pro-
duzida por obra do homem por trs motivos:
a) em seu proveito ou em proveito alheio: o acusado fal-
sifica as coisas para no ser indiciado; ou os amigos e os seus
parentes falsificam, para que le no seja indiciado;
b) para prejudicar a outrem: falsificam-se as coisas para
servirem a indiciar uma dada pessoa;
c) por mera brincadeira: falsificam-se as coisas para gozar
o espectculo da inquietao de momento que se cria em uma
pessoa, ou para lhe car em cima a troa por qualquer modo.
Para a avaliao de todo o indcio, necessrio comear por
estud-lo subjectivamente, antes de passar a estud-lo objectiva-
mente; necessrio em primeiro lugar pesar o indcio no seu
valor subjectivo, isto , considerando os motivos infirmantes da
identidade intrnseca e extrnseca do facto indicador, e pes-lo
depois no seu valor objectivo, isto , nos motivos infirmantes da
coisa indicada.
Mas principalmente a avaliao objectiva que tem uma
importncia mxima, quando se trata de indcios. E necessrio
no esquecer que a avaliao objectiva da prova indirecta sem-
pre rdua. Eis porque, no intil repeti-lo, preciso proceder
cautelosamente quando se trata de provas indirectas, pois que
A Lgica das Provas em Matria Criminal 227
particularmente por essas, que muitas vezes se cria no esprito do
homem uma certeza artificial e inexacta, que toma o lugar do
convencimento racional, uma certeza artificial e inconsiderada da
qual no se saberia, querendo, indicar fria e calculadamente as
razes determinantes, uma certeza de impulso, que atingindo mais
fra na imaginao, que no na razo, pode fcilmente arrastar a
rros lastimveis, de que h mil exemplos na histria dos
julgamentos penais.
Recordemos aquela missa solene chamada delia Gazza a que,
em Paris, assistiam todos os anos os magistrados trajados de
vermelho: aqules hbitos vermelhos recordavam o sangue de
uma pobre inocente, com que se manchara a justia humana!
Recorde-se aquela voz solene que, antes de tda a sentena capi-
tal, lembrava aos juizes de Veneza a sorte do povero fornajo:
aquela voz solene recordava o inocente Pietro Tasca, sacrificado
tambm le cruenta justia humana! Certas recordaes, mais
do que qualquer teoria, servem para ensinar ao juiz que, acaute-
lar-se em matria de prova, no uma hesitao de pobre de
esprito, mas sagacidade de sbio.
Para complemento dste captulo, terminaremos referindo--
nos a alguns corolrios das teorias precedentes, que encerram
verdades importantssimas em matria de indcio. 1. Tanto no
indcio como em qualquer outra prova, necessrio uma dupla
avaliao; a avaliao subjectiva e a avaliao objectiva. A
avaliao subjectiva do indcio tem por fim fortalecer o facto
indicativo, ou seja a subjectividade da prova; a avaliao
objectiva tem por fim fortalecer o facto indicado, ou seja o
contedo da prova. Em quanto ao contedo, o indcio pode ser
tomado como prova, atribuindo-lhe sempre o devido valor, mesmo
quando no mais que simplesmente verosmil; mas quanto ao
sujeito probatrio, isto , emquanto ' realidade do facto indi-
cativo, o indcio deve ser certo, sem o que deve rejeitar-se.
Por outros trmos, considerando que o indicio, que faz prova
emquanto ao seu contedo, deve ser, por sua vez, provado em-
quanto ao facto indicativo que o sujeito da prova, pode dizer-se
que, comquanto o indcio seja provvel ou simplesmente veros-
228 A Lgica das Provas em Matria Criminal
mil, le sempre tomado como probante e vice-versa como pro-
vado, se no certo, no pode aceitar-se de modo algum. E
a razo desta regra evidente. O indcio uma coisa
conhecida, que consiste no facto indicativo, a qual serve para
indicar uma incgnita, que consiste no facto indicado; ora no
pode dizer-se prpriamente conhecido seno o que certo. Pode-
mos acaso afirmar que uma coisa nos conhecida, no tendo
sequer a certeza da sua existncia? Se a existncia do facto indi-
cativo, se nos apresentasse como simplesmente provvel, aquela
existncia real no seria para ns seno uma incgnita, e por
isso teremos um incgnito que indica outro incgnito. Que ensi-
namento nos poderia dar a lgica?
2. Como o indcio deve ser provado de um modo certo,
segue-se que o indcio no pode, em geral, ser provado com
outros indcios, porque, falando genricamente, os indcios so
contingentes e no podem por isso dar a certeza do que teem
em vista provar.
Para se admitir a possibilidade de um indcio bem provado
por outro, necessrio referir-se hiptese de que o indcio pro-
bante seja necessrio.
3. E como um indcio no pode, em geral, provar outro
indcio, segue-se que a distino dos indcios em mediatos e
imediatos no admissvel, a no ser que se no queira referir
a classe dos indcios mediatos hiptese de um indcio necess-
rio probante de indcio no necessrio. S nste sentido que a
distino dos indcios em mediatos e imediatos se pode sustentar.
Mas fora desta hiptese, o indicio mediato deve ser rejeitado da
lgica das provas, porquanto se no resolve em um outro, seno
em uma cadeia mais ou menos extensa de indcios, o ltimo dos
quais, que deve provar o delito, incerto no s no seu contedo,
mas tambm na sua subjectividade probatria, e no tem por
isso valor algum.
Estas trs regras precedentes referem-se natureza subjec-
tiva do indcio: derivam da considerao do facto indicativo e do
modo como deve constar, isto , da considerao do valor do
indcio como provado. As regras seguintes referem-se pelo con-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 229
trrio natureza objectiva do indcio, e derivam da considerao
do possvel facto indicado; isto , da considerao do valor do
indcio como probante.
4. O ordinrio, como vimos em lugar prprio, a base
lgica dos indcios contingentes, e o ordinrio consiste na ligao
existente para o maior nmero dos casos entre o facto indicativo
e o facto indicado. Ora, quanto mais intenso o ordinrio de onde
se parte, tanto maior o valor probativo do indcio. Aquilo que
chamamos maior intensidade do ordinrio , pois, determinado pelo
maior nmero dos casos, em que se verifica a mencionada ligao
entre o facto indicativo e o facto indicado, e pelo menor nmero
dos casos em que a mencionada ligao se no verifica. fra
probatria do indcio est, assim, em razo directa da frequncia do
facto indicado, e na razo inversa da multiplicidade e frequncia
dos factos contrrios.
5. Vrios indcios no seu concurso podem constituir uma
prova cumulativa provvel, e vrios indcios provveis em con-
curso podem refrar a sua probabilidade cumulativa, elevando-a
at ao mximo grau; e por vezes, ultrapassando ste mximo
grau, podem chegar a fazer com que se no reputem dignos de
serem tomados em conta os motivos para no crr, gerando assim
a certeza subjectiva.
Isto, porm, j se no explica, como o explicaram alguns,
com a ideia materialmente numrica da soma de fraces condu-
centes unidade, com a ideia de fraces de convencimento de
cada um dos indcios, reunindo-se no convencimento pleno.
soma s possvel entre valores homogneos, e os indcios como
valores probatrios so heterogneos; um indica o delito por um
lado, o outro, pelo outro.
O aumento de f proveniente da acumulao dos indcios
explica-se diversamente; explica-se por meio de um argumento
probatrio especial resultante do concurso das vrias provas,
argumento probatrio que me parece dever chamar da conver-
gncia das provas.
No repugna conscincia que um facto que ordinriamente
se acha ligado a um dado acontecimento, servindo por
230 A Lgica das Provas em Matria Criminal
isso para o indicar, se encontre s vezes, num caso singular e
concreto ligado extraordinriamente a um acontecimento diverso:
necessrio porm que o extraordinrio se verifique algumas
vezes, de outro modo reduzir-se-ia a nada. Mas que mais de um
facto que se acham ligados ordinriamente a certos acontecimen-
tos, isto , no maior nmero doa casos, se encontrem depois nos
casos singulares e concretos, todos ao mesmo tempo, ligados
extraordinriamente a acontecimentos de outro gnero, isso
contrrio ao modo de ser das coisas. Seria necessrio supr o
desarranjo da ordem natural do mundo: seria necessrio, por um
lado, que vrios factos, surgindo contemporneamente das velhas
leis reguladoras da sua vida, s encontrassem a sua explicao
em tantos acontecimentos extraordinrios; seria necessrio, por
outro lado, supr as insdias do acaso, que, agrupando e apresen-
tando contemporneamente ao nosso esprito aqules vrios factos
que teem relaes extraordinrias, venham assim induzir-nos em
rro; seria necessrio supr em suma, que relativamente ao que
se quer verificar o mundo se tivesse transformado no reino do
extraordinrio. Tudo isto, que contestado pela experincia,
repugna conscincia.
O extraordinrio, justamente porque o , raro. Ora,
medida que cresce o nmero dos indcios concordantes, para no
se crr nles, necessrio, fazendo uma violncia cada vez maior
nossa conscincia experimental, admitir um nmero maior de
casos extraordinrios verificados. Eis porque, com o aumento do
nmero de indcios, cresce a improbabilidade de que les sejam
enganadores, aumenta, por outros trmos, a sua fra probat-
ria; e'ste aumento de fra probatria proporcional no s ao
nmero, mas tambm importncia das provas que se acumu-
lam: eis o argumento probatrio que denominamos da conver-
gncia das provas.
Mas de que natureza ste argumento probatrio? No
mais do que uma presuno. Sendo o mundo o reino do ordin-
rio, presume-se que no possam encontrar-se no mundo conjun-
tamente vrios casos extraordinrios. Ora, quando vrios indcios
so concordantes, quer dizer que les, explicados com aconteci-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 231
mentos ordinrios, indicam conjuntamente um dado facto; para
no crr nles necessrio supr a explicao de cada um dles
com acontecimentos extraordinrios, indo de encontro presun-
o acima exposta, de que no podem encontrar-se conjuntamente
no mundo vrios casos extraordinrios. For outros trmos, sob o
aspecto positivo, a convergncia de provas resolve-se na intensa
presuno de verdade do facto ordinrio, que o indicado pelas
provas concordantes.
6. Um s facto indicativo no pode dar lugar seno a um s
indcio. Se se multiplicam as provas diversas do mesmo facto
indicativo, o indcio fortificar-se h cada vez mais subjectivamente,
roas objectivamente, emquanto ao seu contedo probatrio,
conservar-se h sempre um s e mesmo indcio. E isto verdadeiro
mesmo quando, do nico facto probante, as mltiplas provas
atstem partes diversas, ou momentos diversos, sempre que a
prova destas partes diversas do facto indicativo no se refiram
seno prova do prprio facto.
Um indivduo viu Ticio sair de casa precipitadamente; outro
viu-o, correndo, atravessar uma praa; outro ainda t-lo-ia visto
saltar para um trem que partiu a galope. Estas trs asseres s
servem para certificar um nico facto indicativo, a fuga; e ste
facto indicativo, ainda que se prove de mil maneiras, no pode
constituir mais que um s e mesmo indcio.
Pargrafo 2.do Ttulo 2.Indcios particulares
Passando a tratar dos indcios particulares, no nosso
propsito fazer uma longa exposio de todos os factos particula-
res que podem servir para indicar o delito; no julgamos dever
perder-nos em tais minudncias sem limites definidos. Entende-
mos smente dever exemplificar como os vrios indcios se devem
classificar, sob as duas classes de indcios de causa e de feito.
Para ste fim escolheremos e tomaremos para ste exame
indcios genricos, cada um dos quais compreende em si mil
factos particulares, que em concreto podem ser indicativos do
232 A Lgica das Provas em Matria Criminal
delito: assim, a meno de qualquer indicio genrico valer como
indicao de todos os indcios particulares que nle se conteem.
No exame dos indcios teremos que indicar o seu valor probatrio.
Por agora conveniente observar, que se classificamos um
indcio como provvel, ou como verosmil, no entendemos
comtudo, em contrrio das teorias anteriormente expostas, atri-
buir-lhe um valor invarivel e absolutamente determinado; no
fazemos mais do que atribuir-lhe o valor que julgamos le ter no
maior nmero dos casos. O indcio, j o dissemos anteriormente
em outro lugar e convm repeti-lo aqui, podendo, como todos os
factos contingentes, concretisar-se e individualisar-se com uma
variedade indefinida e indefinvel de contingncias acessrias que
concorrem para determinar o seu valor, segue-se que, devido a
um particular concurso de circunstncias que o acompanham, o
indcio ordinriamente verosmil pode, em casos particulares, ter
fra de provvel, e o indcio ordinriamente provvel pode, em
casos particulares, ter simplesmente fra de verosmil.
RTIGO 1.Indicio causal da capacidade intelectual
e fsica para delinqir
No pode conceber-se o crime, sem a aco inteligente
humana que o torna existente; e no pode conceber-se a efic-
cia da aco inteligente do homem, sem admitir nle uma capa-
cidade intelectual e fsica, que por isso condio sine qua non
do crime. A causa genrica da aco criminosa, portanto a
capacidade intelectual e fsica do agente; e quando esta funciona
como indcio, no seno um indcio causal.
Ora h delitos para que no se exige uma capacidade espe-
cial no agente; basta, para sses, uma capacidade que se encon-
tra em todos, ou em qusi todos os homens. Para roubar o que
se encontra na via pblica, confiado f pblica, no neces-
srio certamente se quer uma aptido especial da inteligncia,
nem uma percia especial de mo. Para estuprar uma mulher
que no pode resistir, por estar doente, ou por outro motivo, no
por certo necessrio capacidade alguma, intelectual ou fsica,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 233
especial: a potncia 6 a regra, a impotncia a excepo, para todos
os que no so decrpitos. Todos vem que, nstes casos, a
capacidade fsica e intelectual achando-se em todos, no pode
funcionar como indcio para nenhum.
Mas outros crimes h para cuja prtica necessrio uma
aptido especial. Assim, para usar eficazmente de artifcios frau-
dulentos, que levem o proprietrio a desapossar-se de coisa sua, i
necessrio no agente uma astcia especial, proporcional ao artifcio
usado, e esperteza do defraudado; para o stelionato pois
necessrio uma capacidade que no se encontra em todos. Assim
tambm, para outros delitos: para um desenho injurioso,
necessrio um desenhador; para uma falsificao de moeda, um
gravador; para um libelo difamatrio, uma pessoa que escreva; e
para um libelo bom, necessrio por vezes no s uma pessoa que
saiba escrever mas um escritor; e para um escrito redigido pela
mesma pessoa era diversas lnguas, um poliglota. E nstes
casos, era que precisa uma capacidade fsica ou intelectual no
comum, nstes casos que a capacidade funciona como indcio
causal; indcio que tem tanta maior fra probatria quanto menor
o nmero dos capazes, e que atingiria a fra do indcio
necessrio, se a capacidade s se encontrasse em um indivduo.
Por outros trmos, verificando-se um facto humano, se para
sua realizao necessria uma capacidade especial, achando-se
esta capacidade em um homem, ela liga-se, como causa a efeito,
quele facto humano, de que assim considerada como indcio;
indcio que mais ou menos forte, conforme essa capacidade
mais ou menos rara entre os homens.
A capacidade fsico-intelectual considerada como indcio
causal da aco criminosa, de duas espcies. Ou a capacidade se
encontra no sujeito da aco, abstraindo da sua relao com coisas
determinadas e concretas, e esta capacidade poderia chamar-se
prpriamente subjectiva; ou s existe pela relao da pessoa do
agente com coisas determinadas e concretas, e esta capacidade
poderia denominar-se relativa.
Para se obter uma nomenclatura mais concisa e menos
234 A Lgica das Provas em Matria Criminal
exposta a equvocos, julgamos melhor indicar a primeira, ou seja
a capacidade subjectiva, simplesmente com a palavra capacidade,
por antonomsia; indicando em seguida a segunda, ou seja a
capacidade relativa, com a palavra oportunidade. E claro que
empregando assim a palavra oportunidade, julgamos dar-lhe um
sentido largussimo, que abranja tda a facilidade de aco que
nasce da relao entre o agente e as coisas concretas: nste sen-
tido a oportunidade respeita no s ocasio de dizer e de fazer,
mas ao lugar, ao tempo e a tdas as circunstncias
1
.
Uma palavra explicativa sbre cada uma destas duas esp-
cies de capacidade.
A qualidade de desenhador a propsito de desenhos inju-
riosos, a qualidade de gravador a propsito de falsificao de
moeda, a qualidade de astcia a propsito de stelionato, so
indcios causais que consistem em uma capacidade prpriamente
subjectiva, porquanto, nesta hiptese, a capacidade, comquanto
seja tomada em considerao a propsito destas coisas, no con-
siste contudo em uma relao efectiva da pessoa com sse dese-
nho, com essa moeda, com sse engano fraudulento; mas subsiste
na pessoa, abstraindo do facto criminoso concreto e individual.
Eis o caso da capacidade prpriamente dita, por antonomsia.
Relativamente oportunidade, que a capacidade prove-
niente da relao efectiva que o agente tem com coisas determi-
nadas e concretas, ela pode ter lugar por dois modos.
A oportunidade pode nascer, em primeiro lugar, da relao
da pessoa com o meio criminoso. A posse dos meios que facilita
o crime, pode ser chamada a funcionar como indcio. Assim, a
1
TOMHASEO, no seu ureo livro dos sinnimos, embora admita que a
palavra oportunidade se pode empregar nste sentido largussimo (n. 3305),
de opinio que deve referir-se nicamente ao bem, e que chamar oportuni-
dade facilidade em praticar o mal, imprprio e imoral (n. 3002). Mas
os escrpulos do linguista pensador devem subordinar-se s necessidades da
linguagem. Emquanto no houver uma palavra diversa que signifique em
particular a facilidade do mal, ser por isso necessrio, quando se queira
exprimir concisamente o prprio pensamento, lanar mo da mesma e nica
palavra oportunidade, tanto para o mal como para o bem.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 235
posse dos venenos anteriormente ao crime, pode ser chamada em
auxlio de outras circunstncias a fim de funcionar como indcio
causal no envenenamento. Assim, a posse de uma gazua ante-
riormente ao crime, pode ser chamada a funcionar como indcio
causal no roubo com abertura de fechadura.
A oportunidade pode nascer tambm da relao da pessoa
com o sujeito passivo do crime, isto , com a coisa ou pessoa sbre
que se desenvolve a aco criminosa. Todos compreendem, que
mesmo a pessoa, emquanto objecto de aco, uma coisa; e por
isso tambm esta hiptese entra na nossa frmula geral, que afirma
que a oportunidade nasce sempre da relao da pessoa com as
coisas concreta?. Desta forma, pela proximidade que tem com o
sujeito passivo do crime, pode funcionar como indcio no furto ter
tido nas mos a coisa roubada; pode funcionar como indcio no
homicdio ter estado em companhia da pessoa assassinada, no dia
da sua morte.
Recapitulando, a oportunidade que a capacidade prove-
niente da relao efectiva da pessoa com coisas determinadas e
concretas, pode consistir na relao com os meios criminosos, e
na relao com o sujeito passivo do crime. Mas, para sermos
completos nesta noo, conveniente ajuntar que, tanto num
como noutro caso, a oportunidade pode ser material e moral.
Assim, oportunidade material relativa ao meio, a posse do
veneno e a posse da gazua no envenenamento e no furto; , ao
contrrio, oportunidade moral, sempre relativa ao meio, a posse
de um segrdo vergonhoso, no escrito que o tenha por assunto.
Assim, portanto, oportunidade material relativa ao sujeito
passivo do crime, ter tido em mo a coisa roubada, no furto; , ao
contrrio, oportunidade moral, sempre relativa ao sujeito passivo
do crime, o conhecimento do lugar onde se achava escondida a
coisa que depois foi roubada.
Temos, por esta forma, falado, sob o ponto de vista genrico,
da capacidade fsico-intelectual para delinquir. Da noo que
apresentamos revela-se quais e quantos subindicios nela se com-
preendem. H subindicios relativos capacidade prpriamente
dita, que a capacidade prpriamente subjectiva; e que consis-
236 A Lgica das Provas em Matria Criminal
tem nos factos particulares que manifestam a aptido intelectual
e a percia fsica. H subindcios particulares, respeitantes
capacidade relativa, que chamamos oportunidade; e que consis-
tem nas relaes particulares e efectivas da pessoa com as coisas
concretas.
Emquanto aos factos que constituem os subindcios da opor-
tunidade, conveniente observar que les, como factos compro-
vativos, so proteiformes, em razo do tempo em que se verifica
a sua existncia.
Os instrumentos criminosos, quando se tenha verificado a
sua relao, anterior ao delito, com uma pessoa, constituem
subindcios causais de oportunidade; quando se tenha verificado
a sua relao, com uma pessoa, no momento da aco confun-
dem-se com a prova directa da aco; quando finalmente se
tenha verificado a sua relao posterior ao delito, com uma pes-
soa, les podem constituir indcios de ejeito. Se a verificao
da relao posterior ao delito com a pessoa serve nicamente
para verificar a relao anterior, e, por isso, para levar supo-
sio do provvel funcionamento do instrumento no crime, tem-se
sempre um indcio causal; mas se a fra probatria do instru-
mento, encontrado posteriormente ao delito junto do acusado, se
coaduna, ao contrrio, precisamente com essa relao posterior,
entre a coisa e o homem; se se harmonisa, por exemplo, com
algum acto do acusado relativamente ao prprio instrumento,
como traz-lo escondido, ou no saber explicar a sua posse, ento
o instrumento converte-se em indcio de efeito, no por si, mas
pela sua natureza clandestina ou pela reticncia do acusado,
natureza clandestina ou reticncia, que so as que se apresentam
prpriamente como efeitos do delito cometido, e servem assim
para sua indicao por fra do indcio efeito. Isto, relativa-
mente oportunidade proveniente da relao com os meios.
O mesmo se d relativamente oportunidade que nasce da
relao com o sujeito passivo do crime. Quando se procura veri-
ficar ter a pessoa estado prximo do sujeito passivo do crime
anteriormente ao prprio crime, tem-se o subindcio causal da
oportunidade quando a pessoa foi vista proximo do sujeito pas-
A Lgica das Provas em Matria Griminal 237
sivo no momeato e assim ao praticar a aco criminosa, tem-se a
prova directa da aco; quando, finalmente, se verifica a pro-
ximidade da pessoa com o sujeito passivo posteriormente ao
crime, tem-se um indcio de efeito, que consiste em considerar
como conseqncia da aco criminosa de uma pessoa a sua pro-
ximidade, imediatamente depois do crime, no lugar onde le se
perpetrou.
No julgamos necessrio examinar em particular os vrios
subindcios compreendidos no indcio genrico e complexo da
capacidade subjectiva; basta trmo-nos referido sua diversa
natureza.
Temos visto at aqui, que na capacidade verificada de delin-
qir se encontra um indcio mais ou menos provvel de crimina-
lidade ; conveniente acrescentar que na incapacidade verificada
se encontra, ao contrrio, a prova certa da inocncia. impo-
tncia, a falta absoluta de meios, o alibi, tda a credibilidade em
geral relativamente ao pretendido sujeito da aco, constituem a
impossibilidade subjectiva do crime, como a incredibilidade do
suposto facto em si, constitui a sua impossibilidade objectiva.
Mas ste indcio da capacidade, em sentido lato, de delin-
qir tem um grande valor ? Dissemos que um indcio causal:
tendo-se dado um crime, encontra-se num homem a capacidade
necessria para o cometer, e esta capacidade liga-se, como causa a
efeito, quele crime. Por outros trmos, diz-se: < Ticio pode ter
cometido aquele dado crime; e conclui-se: logo Ticio come-
teu-o. No se faz pois mais que concluir da potncia para o
acto. Basta ter presente a natureza substancial dste argumento
lgico, para sentir a necessidade de estar prevenido contra as suas
insdias.
Se a capacidade para um dado crime s se encontrasse em
uma pessoa, no b quem no veja a fra que ento teria o
indcio causal da capacidade. Cometeu-se um crime; s pode ter
sido cometido por Ticio; logo foi Ticio que o cometeu: o argu-
mento lgico bom uma vez que a capacidade exclusiva de Ticio
steja bem e incontestvelmente verificada. Ora, esta verificao
coisa dificlima, e necessrio andar com tda a ponderao
238 A Lgica das Provas em Matria Criminal
para se chegar a uma afirmao desta natureza. necessria
no nos deixarmos levar de nimo ligeiro convico de qae, por
exemplo, no estando presente na casa onde se praticou o roubo,
onde se cometeu o assassinato, seno Ticio, o ladro ou o homi-
cida no possa ser seno Ticio.
S Ticio se achava presente na casa... Mas como verificar
que no pode ter penetrado a outra pessoa ocultamente? A casa
estava fechada a qualquer outra pessoa, e depois do crime con-
tinuou fechada... Mas no h por acaso meio de abrir e tornar
a fechar a porta?
Ah! muitas vezes as prevenes e as opinies antecipadas
contra quem se Benta no banco dos rus, muitas vezes a precipi-
tao de um convencimento, fazem parecer como certa uma capa-
cidade criminosa exclusiva, que no verdadeira.
Para recordar uma delas, recordemos a histria do pobre
Le-Brun
l
.
Jacques Le-Brun era um servo dedicado e fiel da senhora
de Mazel. Na noite de 27 de novembro de 1689, foi esta truci-
dada no leito com cinqenta facadas. Verificou-se que as quan-
tias de dinheiro, que a vtima tinha escondidas, haviam desapa-
recido, O cordo da campainha do seu quarto foi encontrado
amarrado, para que se no podesse dar o sinal de alarme. Os
quartos que davam acesso quele em que se encontrava a vtima,
estavam fechados chave.
O pobre Le-Brun foi prso, encarcerado e submetido a jul-
gamento. Jacques Le-Brun tinha sido sempre um servo dedicado
da senhora Mazel. Mas que importa isso? le s podia ter amar-
rado o cordo da campainha. Giacomo Le-Brun fra sempre um
servo fiel..Mas que importa isso? s le conhecia os esconderijos
onde a patroa guardava o dinheiro. Jacques Le-Brun tinha um
passado imaculado. Mas que importa isso ? encontrara-se-lhe uma
chave que abria vrias portas que conduziam ao quarto da patroa.
Todo o passado de Jacques Le-Brun protestava contra semelhante
1
BRUGNOLI, Delia certezza e prova criminale, 386.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 239
acusao. Mas que importa isso ? A oportunidade daquele crime,
naquelas condies, recaa exclusivamente sbre le: s le podia
ter cometido aquele crime; le portanto o cometera. E Jacques Le-
Brun foi condenado, em Paris, por sentena de primeira instncia
de 18 de janeiro de 1690, a ser despedaado vivo.
Emquanto pendia o recurso de apelao, sendo submetido
tortura ordinria e extraordinria, os atrozes tormentos corporais,
e talvez ainda mais os do seu esprito, mataram-no.
No ms de abril seguinte descobriu-se o assassino; e no era
Le-Brun. Era le Joo Gerlat, conhecido por Bery, que fra lacaio
da senhora de Mazel poucos meses antes do crime, que se
introduzira de dia, desapercebidamente, em casa, e se escondera
debaixo do leito da vtima. Contou todos os detalhes do atroz
crime. Foi ento condenado Bery, e declarado inocente Le-Brun.
Mas, ai! o pobre Le-Brun j no existia: o indcio da oportuni-
dade para delinqir j o tinha assassinado!
rtigo 2.Indcio causal da capacidade moral para
delinqir pela disposio geral do esprito da pessoa
O homem, como um ser racional, no pode praticar uma
aco, em geral, sem uma razo suficiente; e isto verdadeiro at
relativamente aco criminosa. Mas pelo que respeita aco
criminosa, ainda h mais.
O esprito humano tem uma repugnncia natural para o
crime. Esta repugnncia fortificada pelo temor da reprovao e
do desprzo social, que perseguem o delinqente; esta repu-
gnncia fortalecida ainda pelo receio das penas remotas, mas
infalveis, com que a religio ameaa para alm do tmulo, e pelo
temor das penas iminentes, com que a lei ameaa aplicar logo que
se comete o crime.
Se, portanto, o homem, como ser racional, tem sempre
necessidade de um motivo para uma aco qualquer; quando se
no trata, pois, de uma aco qualquer, mas de uma aco cri-
minosa, existindo contra ela uma forte e natural repugnncia, h
necessidade, no de um motivo qualquer, mas de um motivo
240 A Lgica das Provas em Matria Criminal
poderoso, de um motivo que tenha a fra de vencer aquela
repugnncia do esprito.
Ora necessrio observar que a repugnncia para o delito,
de que falamos, no igualmente forte em todos os homens.
Em alguns especialmente ela enfraquecida pela corrupo do
esprito e pelo hbito do mal; e todos vem, que nste caso os
motivos particulares, criminosos, teem um triunfo mais fcil.
Por isso a tendncia da vontade para se subordinar ao delito,
ou, por outros trmos, a capacidade moral para delinquir, tem
duas causas: de um lado, o motivo, concreto que actua sbre o
esprito por meio de impulsos particulares; do outro, a dbil
resistncia que esta lhe ope, devido s suas condies gerais.
Subordinar a vontade ao delito no mais que o efeito destas
duas causas; uma necessria: o mvel particular criminoso, sem
o qual no pode existir o delito; outra, contingente: a disposi-
o geral criminosa, que pode ter, ou no, contribudo para a
realizao do delito.
Quando em uma determinada pessoa se encontra uma des-
tas condies geradoras da vontade criminosa, e principalmente
quando elas se encontram reunidas, o esprito liga-as ao delito,
como causa a efeito, e em seguida, com uma probabilidade mais
ou menos limitada, atribui o delito quela pessoa determinada
em que verificou as causas morais. nisto que est o indcio
causal da capacidade moral para delinquir.
Do mvel particular para delinquir, sem o qual no pode
haver delito, trataremos no captulo seguinte. Aqui julgamos
dever falar da inclinao genrica e pessoal para o delito.*
A inclinao genrica e pessoal para o delito pode
derivar de duas fontes: ou das aces da pessoa at ao
momento do delito, ou das condies do seu organismo fsico.
Emquanto aos actos da pessoa que precedem o delito, os
quais determinam a disposio criminosa, sses concretisam-se
em delitos precedentes, em aces simplesmente perversas,
ou em manifestaes verbais da pessoa, reveladoras dos seus
inquos sentimentos; tambm compreendemos esta terceira
categoria no ttulo de aces, tomando a palavra aco em
um
A Lgica das Provas em Matria Criminal 241
sentido muito geral, de modo a abranger como acto tambm a
palavra.
Todos compreendem, que a ndole criminosa se revela
melhor pelos delitos precedentes; tanto melhor, quanto maior o
seu nmero, e ainda melhor, se so da mesma espcie do delito
imputado. Todos compreendem, que a ndole criminosa se revela
peor nas aces perversas e ainda menos pelas simples manifes-
taes verbais.
Estas trs espcies de manifestao da disposio criminosa,
so verificadas geralmente por meio de tstemunhos pblicos e
particulares. Mas quando se trata de delitos precedentes, h uma
forma particular de verificao: e a sentena do magistrado. De
tda a forma, quando se querem considerar as aces de uma
pessoa como manifestaes de ndole criminosa, seja qual fr o
meio de prova com que se procure verific-las, sempre neces-
srio que se verifiquem de um modo certo.
Gabe aqui fazer uma observao probatria de grande im-
portncia. A vantagem, j o dissemos, da nossa classificao dos
indcios, em causais e de efeito, est em obrigar a tomar conhe-
cimento exacto da substncia do indcio; em obrigar a determinar,
em que consiste prpriamente o facto indicativo, em que o facto
indicado, em que a sua relao. Ora sob o ponto de vista da nossa
classificao, vimos que o facto indicativo do indcio de que
falamos, a inclinao geral para cometer delitos, e facto indicado
o delito cometido. Ns sabemos no entanto, pelai teorias gerais
j expostas, que, para a legitimidade do indcio, | indispensvel
que o facto indicativo conste de um modo certo. Ora, ter-se
provado de um modo certo que uma pessoa proferia palavras ms,
ou cometeu aces perversas ou at criminosas, no j ter
provado de uma forma certa o facto indicativo da sua disposio
criminosa. As palavras ms, ou as aces perversas, ou as
criminosas que se provaram, devem ser de natureza a provarem, por
uma vez, de um modo certo, a disposio crimi-nosa; de outra
forma o indcio no tem valor algum legtimo, ficando duvidoso o
facto indicador: tem-se um indicio dubitativo de indcio
dubitativo. E, contudo, no se costuma atender a
242 A Lgica das Provas em Matria Criminal
isto, precisamente porque os indcios costumam fazer-se valer da
um modo vago e indeterminado, sem se formar juizo das razes
do que prpriamente facto indicativo, do que facto indicado
e da natureza da relao que liga um ao outro. A nossa classi-
ficao tem o mrito de obrigar a estas determinaes.
E necessrio, portanto, que as aces verificadas sejam tais,
ou em tal nmero, que deem a certeza da disposio criminosa,
para que depois se possa fazer valer legitimamente esta disposi-
o como facto indicativo do delito cometido. A prova das aces
criminosas ou perversas, pode por vezes servir para destruir a
alegada incapacidade moral para delinqir, ou para excluir a
possibilidade da sua afirmao, sem que por isso prste para fazer
constar a tendncia para delinqir.
Dissemos que a propenso para o delito, pode deduzir-se,
no s das aces de uma pessoa, mas das suas condies fsicas-
E to ntima a relao entre a alma e o corpo, que parece racio-
nal dever existir entre les um influxo modificador; e que por
isso do exame do homem externo se procure deduzir o homem
interno, e que nas aparncias externas visveis se queira achar a
revelao do interno invisvel.
O corpo pode, em primeiro lugar, servir para a investigao
moral, por isso que a actividade espiritual se reflecte sbre le
As feies do rosto, cada uma das partes do organismo, o modo
de trajar, de andar, de falar, de escrever; tudo aquilo, em suma
r
que pode ter uma importncia particular para as condies par-
ticulares do esprito, pode servir para o revelar, por isso que
uma impresso dle. Est nisto, a razo justificativa e a matria.
da fisiognomonia. E nste conceito genrico compreende-se tam-
bm a cranioscopia. sempre que as conformaes do crneo,
em que se julga encontrar a revelao de disposies especiais
do esprito, se considerem mais como efeito que como causa
delas.
Mas o corpo tambm se presta investigao do esprito,.
mesmo quando, por sua vez, influi sbre o esprito. Por outros
trmos, o fsico do homem pode revelar o seu mvel, no s'
por ser uma impresso sua, mas tambm porque possui em si,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 243
devido s suas condies materiais, necessidades e aptides que
se impem ao espirito. sob ste critrio, tambm, que se orien-
tariam as doutrinas cranioscpicas, se se consideram as aptides
do esprito, no como causa, mas como efeito das conformaes
materiais do crneo. com ste mesmo critrio, que a idade e o
sexo podem ser reveladores de tendncias morais diversas. Assim,
no homem novo supem-se mais provvelmente tendncias erti-
cas que no velho; assim, na mulher supe-se mais fcilmente a
tendncia para o delito consumado com insdia, que para o con-
sumado por violncia abertamente agressiva e lutadora.
A arte de perceber a ndole moral do homem atravs do seu
exterior, e de investigar as suas disposies ocultas, se oferece um
largo campo aos manejos dos saltimbancos, tem sido tambm um
severo assunto de meditao para os sbios. E, na verdade, se a
fisiognomia em geral, e a cranioscopia em especial, tivessem
atingido um rigor scientfico capaz de autorizar a deduo de
concluses infalveis dos dados que elas oferecem, seria isso um
grande passo para a humanidade. No se trataria simplesmente de
uma grande conquista sob o ponto de vista da scincia, seria
tambm uma grande conquista, sob o ponto de vista da vida. O
malvado no poderia ja esconder sempre, impenetrvel e segu-
ramente, o seu intento: o bom poderia precaver-se contra a
malvadez latente, por aquilo que lhe fsse revelado pelos dados
perceptveis aos olhos do homem; e a arte de bem governar,
consistindo na polcia preventiva, teria achado, assim, uma orien-
tao segura e eficaz. A teoria das provas encontraria ento,
tambm ela, o meio seguro e fcil de ler, no esprito dos indiv-
duos submetidos a julgamento, as suas paixes e as suas pro-
penses. O esprito malvado no poderia ter j, em concluso, a
velhaca e insidiosa segurana de quem se sente bem acautelado.
Mas tudo isto no por emquanto, seno uma arte bem
equvoca e bem incerta de investigao; tudo isso por emquanto
no mais que uma tentativa scientfica, mais ou menos racional;
no mais por emquanto que um hbito prtico, mais ou menos
inconsciente e instintivo. E, a propsito dste assunto,
244 A Lgica das Provas em Matria Criminal
falo tambm de hbito prtico, por que ns na vida diria fazemos
aplicao contnua e inconsciente dos critrios fisionmicos. O
nosso grau de estima, pelas pessoas que apenas conhecemos, no
se determina seno por ste meio. Quando em seguida ao nosso
primeiro encontro com um homem, de quem ignoramos tndo, nos
deixamos levar confiados em um juzo geral de reprovao
dizendo: antiptico, no fazemos mais do que afirmar instintiva
e inconscientemente uma opinio desfavorvel sbre o homem
moral, deduzindo-a da observao do homem fsico. B quando
dizemos ao contrrio: simptico, a nossa opinio favorvel sbre
o homem interno e invisvel, sempre do mesmo modo, deduzida
da observao do homem externo e visvel. Critrios sempre
fisionmicos; mas, ai de mim, quantas vezes errneos! Muitas
vezes, almas boas, cheias de tda a gentileza, so caluniadas por um
exterior repugnante, ou pelo menos desengra-ado, ou
simplesmente no revelador da beleza interna; muitas vezes,
espritos malvados, cheios de tda a perversidade, so acreditados
por um exterior todo cheio de graa e de brandura. Os critrios
fsicos, pelo juzo do homem moral, so conseguin-temente ainda
critrios incertos, sbre que a teoria das provas se no pode basear.
ndole criminosa, como facto indicativo, no pode ser verificada
pela simples observao do homem externo. As observaes sbre
o exterior do homem serviro antes de guia para a investigao das
provas sbre o moral, que de prova. Assim, admitindo-se que o
exterior de um homem manifesta uma certa violncia de carcter,
em vez de se aceitar esta sem mais como provada, ser necessrio
encaminhar a investigao de modo a verificar por outros meios
esta suposta violncia, que depois, por sua vez, dever servir de
facto indicativo do delito cometido.
Temos at aqui falado das duas fontes donde deriva o con-
vencimento da propenso para delinquir; e vimos que essa pro-
penso, sendo chamada a funcionar como facto causal, indicativo
do delito cometido, deve verificar-se, como qualquer outro facto
indicativo, para se obter um indcio legtimo. Observemos agora,
que, mesmo quando se chega certeza da propenso moral para
A Lgica das Provas em Matria Criminal 245
delinqir, tambm ento o indicio, que dela se extrai, no ainda
de grandes conseqncias.
capacidade moral genrica para delinqir, no mais que
um indcio acusador simplesmente verosmil. Mais concludente
que ste, ao contrrio o indcio dirimente da incapacidade gen-
rica moral para o delito. Mas, em primeiro lugar, vejamos em que
sentido falamos aqui de incapacidade moral para delinqir.
Se houvesse uma incapacidade geral, absoluta e imprescin-
dvel, e se se chegasse a verific-la, deixaria de haver possibili-
dade do crime, e caria por terra tda a imputao. Mas esta
incapacidade moral, absoluta, no existe; ela s pode ser relativa,
para o homem: o livre arbtrio, que le tem, pode sempre faz-lo
passar por sbre tda a convico e todo o hbito honesto da sua
vida. sob ste aspecto relativo, que ns consideramos o indcio
dirimente da incapacidade. Ora, considerando-o tambm sob ste
aspecto relativo, ns dizemos que o indcio da incapacidade para
delinqir um indcio dirimente, sempre mais concludente que o
indcio acusador da capacidade.
Com efeito, no se passa de um salto da vida honesta para o
crime. A fra probatria da incapacidade moral genrica, como
indcio absolutrio, funda-se na experincia comum, que ensina
que os homens que teem um passado honesto, no cometem
ordinriamente crimes; portanto, encontrando-se no argido um
passado honesto, conclui-se lgicamente pela probabilidade da sua
inocncia.
Mas, qual ao contrrio a base do indcio acusatrio da
capacidade moral genrica para delinqir? E que ordinriamente
os crimes so cometidos por aqules, cujo passado os tem reve-
lado como perversos. Conseguintemente, a concluso lgicamente
provvel que da se pode tirar, que o acusado, tendo-se revelado
malvado no seu passado, um dos que provvelmente cometeram o
crime. Tem-se um indcio provvel para a classe dos malvados:
para o indivduo no pode ser mais que um indcio simplesmente
verosmil.
246 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ARTIGO 3.Indicio causal da capacidade moral para
delinquir por um impulso particular para o crime
No artigo precedente dissemos j que o homem, como ser
racional, tem sempre necessidade de uma razo determinante para
praticar nma aco, e que com maioria de razo e impreterivelmente
tem por isso necessidade da razo determinante, quando se trata de pr
em prtica uma aco criminosa, por isso que o espirito humano tem
uma repugnncia natural para o crime, que fortalecida pelas penas
sociais, religiosas e legais. A razo determinante para delinqir,
emquanto tem a fra de mover a vontade para o delito, diz-se
motivo, considerando-a antes sob o ponto de rista da potncia; e
chama-se mvel, considerando-a antes sob o ponto de vista do acto.
Ora, compreen-de-se facilmente qne ste movei, que faz dobrar a
vontade para um determinado delito, a cansa moral particular dsse
delito. por isso, que quando se encontra em urna pessoa um motivo
particular, o espirito liga-o ao delito cometido, como causa e efeito; e
depois, com uma probabilidade maior ou menor, atribui 0 delito aquela
pessoa determinada, em que verificou a causa particular moral, ou seja
o motivo determinante: nisto est o indicio cansai do motivo para
delinquir.
Antes de passar adiante no desenvolvimento dste assunto, afim
de tornar mais claro o que temos dito, conveniente observar que o
mvel, ou motivo se assim se lhe quiser chamar, pode ser considerado
sob dois aspectos diversos, que conduzem sua distino em interno e
externo, conforme le considerado como afecto do espirito, ou
como causa externa que aquele afecto produz. A causa imediata do
delito est sempre no mvel interno; mas o mvel externo serve para
determinar no s a natureza do primeiro, como tambm a sua medida, e
conseguintemente a sua fra probatria. necessrio portanto ter
presente ste duplo aspecto do mvel para delinquir, quando se queira
proceder por uma forma clara e precisa ao seu estudo.
O espirito humano naturalmente bom; le no consentiria
A Lgica das Provas em Matria Criminal 247
em se dobrar ao mal e ao delito, sem o pervertimento das suas
paixes. O estudo, por isso, dos motivos da delinqncia, resol-
ve-se no estudo das paixes.
A paixo fundamental do esprito humano o amor; dle
nasce o dio, como a sombra da luz. Entre a fonte da luz e a sua
esfera de irradiao, coloque-se um objecto material, e tem-se a
sombra; entre o amor de um objecto e o prprio objecto cobiado,
coloque-se um obstculo moral, e tereis o dio. O dio , assim, o
filho tenebroso do amor. Por outros trmos, em linguagem
lgicamente severa, o dio tem per objecto o mal; o mal a
privao do bem; conseguintemente, o dio do mal nasce do amor
do bem. A tendncia, pois, predominante da vontade a tendncia
para o bem; e mesmo quando o homem pratica aces perversas e
criminosas, no porque ame o mal como mal, e odeie o bem
como bem; no, porque as paixes triunfantes, ofuscando nle a
serenidade do seu critrio, fazem com que o mal lhe parea bem, e
bem o mal.
As paixes humanas no se impem vontade, arrastando-a
aco, sem um impulso exterior: a entrada em movimento da
actividade humana, sempre determinada por um impulso exterior.
Os impulsos externos que actuam sbre o esprito humano,
em vista do que temos dito, so de duas espcies: impulsos que
actuam com a fra da atraco; impulsos que actuam com a
fra da repulso: o bem ou a aparncia do bem, os primeiros; o
mal ou a aparncia do mal, os segundos. Analisemo-los rp-
mente, comeando pelos impulsos originados pelo aspecto do mal.
Dissemos, que o sentimento de repulso, que o esprito tem
para o mal, se chama dio. O dio nste sentido, compreende
todo o sentimento de repulso, que, em geral, se tem para o mal.
Mas o dio, compreende-se tambm em um sentido especfico,
que bom determinar, juntamente com as outras formas
especficas que a repulso assume em face do mal.
O mal pode exercer a sua influncia repelente sbre o esp-
rito humano de uma dupla maneira, quer ferindo o homem efec-
tivamente, quer ameaando feri-lo: mal sofrido, no primeiro caso;
mal a sofrer, no segundo.
248 A Lgica das Provas em Matria Criminal
O mal sofrido, quando se sofre actualmente, faz nascer, em
primeiro lugar, relativamente ao mal em si mesmo, o deseja
violento de o repelir, e de se livrar dle; desejo, que supomos
violento, admitindo que o mal seria de uma certa gravidade, por-
quanto na hiptese contrria, quando se trate de mal facilmente
suprtvel, o desejo de o repelir resolve-se, de preferncia, em
um desejo de bem, e a paixo categoriza-se, ento, entre aquelas
que nascem do aspecto de um bem. O prprio mal sofrido, con-
siderado em seguida relativamente ao autor, desperta a ira, se o
mal actual, ou tambm, simplesmente recente; desperta o dio
em sentido especfico, se o mal remoto.
O mal futuro desperta no esprito humano outra paixo: o
temor, que, para sermos exactos, se subdistingue em temor de um
mal eminente, e temor de um mal no eminente. E eis como, do
mal ou da aparncia do mal, surgem cinco paixes: desejo
violento de repelir o mal, ira, dio em sentido especfico, temor do
mal eminente, e temor do mal no eminente. Cinco mveis para
o delito, quando se considerara como impulsos criminosos.
Do bem ou da aparncia do bem, no nasce seno uma pai-
xo: a cubia; um mvel para o delito, que consiste no desejo
desordenado e poderoso do que nos aparece como um bem. ste
mvel maior ou menor, segundo a grandeza do bem cubiado
por um lado, e a privao dle, naquele que o cubia, por outro.
Passai, pois, em revista todos os motivos particulares que
podem determinar ao delito; e encontrareis sempre, que les se
reduzem s seis paixes genricas que designamos: desejo violento
de repelir o mal, a ira, o dio em sentido especfico, o temor do
mal eminente, o temor de um mal remoto, e a cubia. fcil a
cada um fazer esta anlise; e por isso parece-nos intil demo-
rarmo-nos mais nste ponto.
Os impulsos externos, porm, no actuam sempre do mesmo,
modo sbre o esprito humano. Umas vezes actuam de um modo-
rapido e violento, despertando paixes cegas e no raciocinadas;
outras actuam com uma aco mais lenta, despertando paixes
que, comquanto criminosas, so contudo esclarecidas e racioci-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 249
nadas. Quando estas paixes do o impulso ao delito, tem-se no
primeiro caso um mvel de impeto, tem-se no segundo um mvel
reflexo.
Resolvem-se em mveis impetuosos, as paixes nascidas do
aspecto do mal prximo; prximo passado ou prximo futuro,
recente ou eminente, a paixo da ira como a do temor de um mal
eminente, temor que, pela sua grande intensidade, se denomina
mais prpriamente mdo. Compreende-se facilmente como a
vivacidade da dor do mal ento sofrido, como a agitao im-
prevista produzida pelo mal ameaado como eminents, devem
ofuscar a lucidez do juzo e a calma da razo.
Mas se o mal prximo sofrido e o mal prximo a sofrer, do
lugar a dois mveis de mpeto, com maior razo deve dar lugar a
um mvel de mpeto o mal presente, o mal de uma certa
gravidade que se sofre. Quando se est sob o.s espinhos de um
mal que se no suprta fcimente, o esprito j no raciocina com
calma; mas sente violentamente a necessidade de se livrar dle,
por vezes mesmo, para alguns, custa de um delito; e eis o desejo
violento de repelir o mal, convertido em outro mvel impetuoso de
delinqncia, que convm chamar mpeto da necessidade em
sentido geral, porquanto consiste na necessidade violenta de se
libertar no mal. Quando o mal que nos atormenta nos impele
revolta contra o que nos atormenta, ste movimento do esprito
compreende-se na ira; mas quando o esprito se dispe a actuar
eventualmente em prejuzo de terceiro, para se libertar de um mal
que est sofrendo, esta sua disposio no encontra cabimento na
ira, e necessrio exprimi-la, se me no engano, com a nossa
frmula especial. O naufrago que arrebata a tboa a outro
naufrago, para se agarrar a ela por sua vez e conseguir assim
salvar-se, no lha arrebata por ira, mas pela violenta necessidade
de repelir o prprio mal. ste mpeto de necessidade de que falo,
no deve por outro lado confundir-se com a cubia. O ladro que
impelido pelo aguilho da fome rouba um po para a matar, no
rouba por cubia: no h nle o simples desejo de afastar de si um
mal fcil de suprtar, o que, na calma relativa do esprito, se
converte, mais que em
250 A Lgica das Provas em Matria Criminal
qualquer outro caso, no desejo de um gzo a mais; ao contrrio
poderosa no seu esprito a nessidade de se libertar do mal
atormentador e no fcil de suprtar que a fome. Quando
esta necessidade, por fra do mal que se sofre toma uma tal
fra que se lhe no pode resistir, tem-se o majo-ris rei impetus cui
resisti non potest, e cessa tda a imputabi-lidade; coisa que
sucede tanto pela fra de um mal aptual, como pelo mdo
irresistvel da ameaa de um mal eminente. Nesta hiptese, j se
no est em face de casos de mpeto em sentido restrito, mas sim
de casos de coaco da vontade; j se no trata de casos de
desculpa, mas de circunstnciai justifica-tivas. ste ltimo , de
resto, um ponto de vista alheio ao nosso assunto: basta-nos
mencionar smente que os mveis de mpeto, relativamente
imputao, convertem-se em uma desculpa ou em uma
circunstncia dirimente da aco materialmente criminosa.
Concluindo, so mveis de mpeto os que nascem do mal
presente, recente, ou iminente, isto , o desejo violento de repelir
o mal, a ira, e o temor de um mal prximo: mpeto de necessidade,
mpeto de ira e mpeto de trror. I Se portanto o mal sofrido
um mal remoto, ento aquela revolta violenta e cega do
esprito, que tem lugar em presena do mal ento sofrido, cede
o lugar a um sentimento mais calmo e mais raciocinado de dio:
violncia cega da ira sucede, assim, a calma raciocinadora do
dio em sentido especfico, contra o autor do mal. O dio
portanto um impulso seflexo de delinquncia.
Assim, pois, quando o mal a sofrer no um mal iminente,
mas sim longnquo, ento todos compreendem que o seu aspecto
no pode gerar no esprito aquele desvairamento cego e violento
em que se concretiza o mpeto da paixo: o esprito humano,
sabendo ter diante de si o tempo suficionte para apagar os gol-
pes do mal que o ameaa, no perde o seu sangue frio. Em lugar
do mdo impetuoso e cego do mal iminente, tem-se o receio
calmo e calculador do mal longnquo. A ameaa de um mal
remoto, d conseguintemente lugar a outro impulso reflexo de
delinqncia.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 251
Portanto, se do mal presente e prximo nascem trs mveis
que so o mpeto da necessidade, o mpeto da ira e o mpeto do
trror: do mal remoto nascem tambm dois impulsos reflexos do
delito: o dio em sentido especfico, e o temor de um mal remoto.
Pode, pois, considerar-se sempre como reflexo o impulso
que nasce do aspecto de um bem. O desejo vivo de uma coisa, que
leva coordenao das aces para o seu conseguimento, em vez
de ofuscar as faculdades do esprito, costuma antes aviv-las. A
cubia , portanto, sob um ponto de vista geral, uma paixo
raciocinadora; e o impulso que dela deriva um impulso reflexo.
No descemos a ulteriores anlises particulares, porque
seriam alheias ao nosso assunto. O que temos dito at aqui, no
tem por fim principalmente seno aclarar a distino entre mvel
de mpeto e mvel reflexo, distino que, se tem a sua grands-
sima importncia em matria de imputao, no intil em
matria de prova.
Com efeito, como nas paixes que constituem um mvel de
mpeto se encontra um estmulo mais forte, que nas constitudas
por um mvel reflexo, deduz-se lgicamente que a relao de
causalidade entre o mvel do mpeto e o delito, mais eficaz do
que o do mvel reflexo; e portanto, a existncia de um mvel da
natureza do primeiro, constitui um indcio mais concludente do
que o proveniente da existncia de um mvel da segunda espcie.
E eis uma primeira verdade probatria derivada desta classificao.
Junte-se a isto tambm, que, para que um mvel reflexo
tenha uma certa fra de indcio, necessrio haver proporo
entre le e o delito, porquanto o esprito humano, sob o estmulo
de um mvel reflexo, no perde, como dissemos, a serenidade do
seu raciocnio, e no pode por isso por uma pequena e despro-
porcionada causa, falando genricamente, determinar-se ao delito.
O mvel reflexo, para funcionar como indcio, deve ser, portanto,
ainda mais proporcionado ao delito, do que necessita ser relati-
vamente ao impulso impetuoso. E eis aqui uma segunda verdade
probatria que se liga mesma classificao. A propsito desta
segunda verdade probatria, compreende-se, pois, que a propor-
252 A Lgica das Provas em Matria Criminal
cionalidade de que falamos sempre considerada relativamente
disposio subjectiva da pessoa, sbre que se julga ter actuado
o mvel: impelir ao homicdio um indivduo desordeiro, ser sem-
pre mais fcil, que impelir uma pessoa tranqila. E basta sbre
o assunto.
Examinemos agora uma ltima classificao, que julgamos
importante para o nosso assunto, e que se baseia na considerao
das pessoas sbre cujo esprito, pela sua natureza, actuam os
impulsos para delinqir.
H motivos de delinquncia, que consistem em uma relao
particular entre o suposto delinqente por um lado, e o paciente
ou o sujeito passivo da consumao do crime por outro
1
. Assim,
se a propsito de um crime contra a pessoa do ofendido, se fazem
valer, como motivos indiciadores da pessoa do delinqente, a ira
ou o dio provenientes de uma injria sofrida, stes motivos indi-
ciadores consistem simplesmente em uma relao particular entre
o ofendido e o suposto ofensor. Assim, se, tendo desaparecido
um objecto de uma coleco, se faz valer contra Ticio, coleccio-
nador entusiasta, o motivo indiciador de querer completar a sua
coleco, a que faltava precisamente o objecto desaparecido; ste
motivo indiciador consiste em uma relao particular entre a
pessoa do suposto ladro e a coisa particular roubada. Ora
conveniente determinar por meio de denominaes particulares
os motivos desta espcie; e ns julgamos que, como les no
nascem seno das relaes singulares de uma determinada pessoa,
fica bem denomin-los pessoais.
1
Paciente e sujeito passivo do crime, no so o mesmo. O paciente, ou
por outros trmos, o ofendido, aquele de quem, pelo meio do crime, 6
violado o direito concreto. O sujeito passivo consiste na coisa ou pessoa
sbre que recai a aco criminosa em geral: a coisa ou a pessoa sbre que
recai a aco consumadora do crime o sujeito passivo da consumao, em
especial; a coisa ou pessoa sbre que recai a aco executria, mas no con-
sumatria, do crime, o sujeito passivo da violncia. Assim, sujeito pas-
sivo do acto, no roubo, a porta arrombada para a introduo afim de roubar,
sujeito passivo da consumao a coisa rombada; o paciente do roubo o
proprietrio.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 253
H pois outros motivos, que actuam sbre o esprito humano,
abstraindo do sujeito individual passivo e do paciente individual
de um determinado crime; e por isso que se encontram em todos
os homens, ou em grande parte dles, stes impulsos denomi-
nara-se comuns. Assim, a cubia, manifesta ou latente, do locuple-
tamento, geral nos espritos, excepto nos que chegam altura do
desintersse, pela elevao moral ou religiosa. Assim, a cubia,
manifesta ou latente, dos prazeres venreos, geral nos homens; e
so poucos os que a ela se subtraem, por fraqueza fsica, ou pela
fra moral. Assim, o dio de partido, que, no caso de encarniadas
lutas internas, se faz valer como mvel indiciador contra Ticio, para
o assassinato de Gaio, um mvel comum a muitos outros
cidados, isto , a todos os que militam pelo mesmo partido de
Ticio.
H finalmente motivos, de que, comquanto a paixo funda-
mental seja comum, o grau, isto , a intensidade da paixo,
pessoal, ou seja particular a uma determinada pessoa. A stes
mveis parece-nos exacto chamar-lhes comuns-pessoais. Assim a
cubia do locupletamento 6 comum; mas, em determinado indi-
vduo, pode ter atingido um tal grau de intensidade no comum,
que se torne particular e caracterstica da sua pessoa. O mesmo
pode dizer-se de qualquer outro motivo comum.
O motivo comum s tal relativamente sua intensidade
mdia. Do momento que atinge um grau de intensidade superior
mdia, um grau de intensidade particular a uma determinada
pessoa, torna-se pessoal a ste respeito, e tem-se portanto um
motivo comum-pessoal.
A estas noes que temos determinado dos motivos comuns,
comuns-pessoais e pessoais, ligam-se muitas variedades importan-
tes, que bom mencionar.
Dado um crime, e dada a existncia de um motivo para o
cometer em uma pessoa, surge naturalmente a pergunta, sbre se
ste motivo tem sempre a mesma fra probatria. Ora a resposta
a esta pregunta encontra-se nas noes precedentes. Os motivos
comuns no podem ter valor algum probatrio; porquanto o que
comum a uma grande parte dos homens, no pode servir
254 A Lgica das Provas em Matria Criminal
para indicar nenhum dles individualmente. Os motivos comuns--
pessoais teem o valor probatrio de fracos indcios, de indcios
simplesmente verosmeis; pois que, comquanto consistam em uma
intensidade particular da paixo que se considera como causa do
delito, intensidade particular verificada como sendo prpria de
uma dada pessoa, mesmo para quem conhece o corao humano,
e sabe o rpido e espontneo desenvolvimento que as paixes
podem ter em todos os homens, apresenta-se sempre ao esprito
a hiptese de que aquela mesma intensidade de paixo possa
facilmente encontrar-se tambm em outra pessoa, em que se acha-
ria assim, por sua vez, a paixo causadora do delito. Todos com-
preendem como isto enfraquece a determinao causal do indcio
comum-pessoal. Indcios de uma probabilidade mais concludente
so, ao contrrio, os motivos pessoais, pois que consistem em uma
relao concreta e exclusivamente individual de uma dada pessoa.
No intil aqui observar que se os motivos para delin-
quir, como provas da criminalidade, no teem valor algum, ou
teem um valor mais ou menos fraco que os indcios, a ausncia
verificada de motivos tem, ao contrrio, um valor decisivo como
prova da inocncia.
Se se no admite um motivo criminoso no acusado relativa-
mente ao delito que se julga, a sua aco no pode ser conside-
rada como aco humana, porquanto o homem tem sempre um
fim nas suas aces; e, se no pode considerar-se como aco
humana, desaparece tda a responsabilidade, e no se pode por
isso pronunciar legitimamente uma condenao.
Ser, portanto, necessrio apresentar sempre uma prova par-
ticular do motivo para delinqir? Tambm aqui, a resposta se
acha ligada nossa classificao precedente; e aparece uma nova
ordem de corolrios.
Quando um crime explicado por um impulso comum, no
necessrio verific-lo por meio de uma prova especial, como
existente no acusado; basta a simples presuno para se admitir
a sua existncia nle. Suponhamos que se provou contra Ticio a
materialidade de um furto, ser acaso necessrio provar, com
uma prova especial, que le tinha em vista o lucro? No, o
A Lgica das Provas em Matria Criminal 255
desejo do lucro comum a todos os homens, e a simples pre-
suno basta para o fazer admitir em Ticio, cuja aco material de
furto se verificou. Se, ao contrrio, apropriao material da coisa
alheia perpetrada por Ticio, se quisesse atribuir o intento de se
reapoderar do que seu ou de fazer um dano; resolven-do-se,
stes, em motivos pessoais, ento que seria necessrip prov-lo
de um modo especial, antes de condenar por se ter feito justia ou
pelo dano produzido. E nste ponto, chamo a ateno do leitor
sbre stes exemplos apresentados, para lhe fazer observar como a
diferena do mvel pode resolver-se em diferena substancial do
crime: a prpria apropriao material de uma coisa pode ser um
furto, uma readquisio, ou dano produzido, segundo o diverso
motivo que guiou a aco. E proseguindo, supo-nhamos ainda, que
se verificou a materialidade de um estupro, atribudo a Ticio: Ser
acaso necessrio, com uma prova especial, provar nle um fim
libidinoso? De modo algum! a lascvia um impulso comum; e
basta por isso a simples presuno para se admitir a sua existncia
em Ticio, cuja aco material do estupro se provou. Se, ao
contrrio, se quisesse atribuir mate-rialidade do estupro,
suponhamos, o fim de infligir uma vergonha, ste fim resolvendo-
se em um impulso pessoal, ento, que seria necessria uma prova
especial para o fazer constar. Em conclusp: o mvel comum do
crime no tem necessidade de uma prova especial.
Passemos agora verificao dos mveis do crime comuns-
pessoais. Vimos que stes teem um valor probatrio, que os sim-
plesmente comuns no teem, e por tanto os primeiros dintin-guem-
se dos segundos, como factos probatrios. Observaremos, agora,
que, relativamente quela verificao do impulso necessrio para
condenar, os comuns-pessoais confundem-se com os simplesmente
comuns; porquanto, ainda que fsse necessrio uma dada fra,
no comum, de mvel, para o crime que se julga, contudo,
atendendo ao fcil e tcito desenvolvimento que as paixes podem
ter em todos os homens, presume-se sempre que aquela tal fra
necessria se tenha unido paixo daquele acusado, cuja aco
material criminosa se acha por outro modo provada.
256 Lgica das Provas em Matria Criminal
Por isso, mesmo quando para se explicar um crime necessrio
um impulao comum-pessoal, no necessrio estabelec-lo com
uma prova especial, como subsistente no acusado; a simples pre-
suno basta mesmo aqui, para o fazer admitir. O assassinato
de um homem com o intuito de roubo, requer uma cubia no
comum pela sua intensidade; mas nem por isso existe obrigao
de provar ste impulso comum-pessoal, quando se tenha provado
a materialidade do homicdio e do furto consumados por Ticio.
Mas para sermos exactos, necessrio observar que nstes
casos precedentes, em que a presuno basta para estabelecer a
existncia do mvel do crime no acusado, essa presuno acom-
panhada sempre de um indcio concludentssimo. A materialidade
criminosa, em quanto atribuda com certeza ao acusado, um
facto indicativo de um grande valor, de ter actuado nle, com a
fra necessria, aquele mesmo impulso que a presuno faz
supr. E ste indcio necessrio, quando, tendo-se excludo
tdas as hipteses, no resta mais que a hiptese daquele dado
impulso para explicar o facto material.
E, por isso, necessrio nunca esquecer que, se o mvel
comum-pessoal se considera, no porque resulte dos factos crimi-
nosos provados, mas porque deve, ao contrrio, provar os factos:
quando se queira, em suma, empreg-lo como indcio da crimi-
nalidade, ento necessrio uma prova especial para verificar
aquela tal intensidade particular, em que consiste a individuali-
dade do mvel do crime, e conseguinteraente a sua fra de
indcio causal.
Passemos, agora, verificao do mvel do crime puramente
pessoal. Quando o crime se no explica por impulso algum comum,
ou comum-pessoal, quando se lhe atribui um impulso simples-
mente pessoal, ento, para afirmar determinadamente a existn-
cia dle em um indivduo, necessrio apresentar uma prova
especial: j no o caso dos motivos comuns ou comuns-pessoais,
que se afirmam por uma simples presuno, acompanhada do
indcio da materialidade da aco. O assassinato de Ticio, admi-
tamos, imputado a Caio. Porque teria morto, Caio? Pode ter
morto com a cubia do lucro, fundada em uma relao pessoal
A Lgica das Provas em Matria Criminal 257
que necessrio provar; como quando le tivesse querido, com o
assassinato, apropriar-se de uma soma que Ticio lhe emprestara;
pode ter assassinado pela ira despertada nle por uma injria
recente, ou por dio, proveniente de uma antiga injria; pode ter
assassinado por receio de um mal com que Ticio o ameaou. Eis
outros tantos motivos, todos les consistentes em relaes
pessoais, nenhum dos quais se pode admitir s por si como
presuno, nenhum dos quais indicado em particular pela
materialidade da aco. necessrio provar de um modo especial
que Gaio tinha um motivo pessoal de lucro, de ira, de dio, de
temor, ou de qualquer outra espcie, para poder em particular
afirmar como existente um dstes motivos determinados. Quando
se verificasse a ausncia de motivos, esta ausncia, como disse-
mos, uma grande prova da inocncia.
A algum parecer que nos delitos contra as pessoas, esta
prova que ns afirmamos de inocncia, se resolve ao contrrio em
prova de maior criminalidade. E observar-nos ho que a agravante
do impulso de malvadez brutal consiste precisamente na ausncia
de causa: dizer-nos ho que, com efeito, os cdigos falando dste
impulso teem ajuntado: sem outra causa, ou ento falam de
simples impulso de brutal malvadez; alegar-se h nste caso a
autoridade dos escritores, que, por sua vez, afirmaram
explicitamente que para haver o impulso de brutal malvadez deve
ser certa a falta de uma qualquer causa
1
. Eu, na verdade, peo
perdo aos sbios legisladores e aos doutos escritores; mas no
posso concordar com o seu parecer, pelo menos quanto forma
por que o exprimem. Compreendo a maior imputabilidade do
impulso brutal, quando se parte da hiptese de motivos mnimos,
desproporcionados, insuficientes, que atingiriam a sua eficcia
mxima no impulso geral da disposio para delinqir,
despertando, assim, maior alarme na sociedade. Mas se se parte,
em rigor, da hiptese de ser certa a falta de qualquer causa,
1
Veja-se PESSINA, Diritto Penale, vol. II, 24.
17
258 A Lgica das Provas em Matria Criminal
j no posso compreend-la. Parece-lhes que nste caso se steja
em frente de um homem responsvel pelos seus actos?
Chamaram ao homicdio sem causa alguma, homicdio bes-
tial; mas, peo desculpa, quanto a mim parece-me, dste modo,,
caluniarem-se tambm os animais. Os prprios animais, com
efeito, no matam absolutamente sem motivo. Um animal mata
outro porque v nle um concorrente ao seu magro banquete, ou-
porque quer saciar directamente sbre le a sua fome, ou porque
v, pelo menos, nle um invasor dos lugares que considera como-
um reino. Um animal mata outro por rivalidade de amor, se do
mesmo sexo, ou tambm, se de sexo diverso, um macho mata,.
por vezes, uma fmea, quando encontra nela resistncia satis-
fao das suas necessidades sexuais. Em suma, um motivo, com-
quanto mnimo, tem-no tambm sempre o animal; havendo falta
absoluta de motivos, nem le mesmo mata.
O homicdio sem uma causa qualquer no deve portanto
chamar-se bestial; s pode chamar-se manaco. Dada a ausncia
absoluta e verificada de todo o motivo, ainda que mnimo e
insuficiente, conclui-se, que a imputao de homicdio uma im-
putao de uma coisa moralmente impossvel, ou que o homicdio
foi cometido em um acesso de loucura. A vontade que se deter-
mina a uma aco grave e criminosa, no tendo absolutamente
motivo algum, e desafiando ao mesmo tempo a reprovao e o
desprzo da sociedade, desafiando as penas com que a religio
ameaa para alm do tmulo, e com qu a lei ameaa imediata-
mente, no pode ser seno uma vontade dominada pela loucura:
uma doena aguda da vontade que tem o seu reflexo na inteli-
gncia, como as doenas agudas da inteligncia teem o seu reflexo
sbre a vontade; um caso patolgico, no um caso penal;
necessrio o manicmio, e no o crcere. Mas assim ameaamos
sair do nosso assunto; ponhamos ponto.
Voltando para trs, convm agora recapitular as classifi-
caes a que temos submetido o motivo para delinqir. Trs
espcies h.
Considerando o motivo interno emquanto sua natureza
substancial, derivada da diferena do impulso externo que o cria,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 259
classificamo-lo em desejo violento de repelir o mal, em ira, em
dio, em pavor de um mal iminente, em rceio de um mal lon-
gnquo, e em cubia: os cinco primeiros motivos so derivados do
dio em sentido genrico, isto , do sentimento repulsivo do
esprito humano para com o que se lhe apresenta como mal; o
ltimo, a cubia, no seno a determinao genrica do senti-
mento de atraco do esprito para o que se lhe apresenta como
bem. Ao todo, seis motivos para delinquir.
Considerando, em seguida, o motivo interno para delinqir
relativamente natureza da sua modalidade, derivada do modo
concreto como o impulso externo actua sbre o esprito, distin-
guimo-lo em mvel de mpeto e em mvel reflexo. E dos seis
impulsos possveis vimos que trs so de mpeto e trs reflexos:
so impulsos de mpeto, o mpeto da necessidade, o mpeto da ira
e o mpeto do mdo; so mveis reflexos, o dio, o temor de um
mal longnquo e a cubia.
Considerando, finalmente, os motivos emquanto ao sujeito
relativamente ao qual se apresentam como possvel modificador,
isto , emquanto se apresentam como actuando sbre muitas
pessoas, ou sbre cada pessoa, distinguimo-lo em comum, pessoal,
e comum-pessoal.
No podemos encerrar ste captulo sem lanarmos uma
ltima vista de olhos sbre a natureza genrica do que se deno
minou motivo para delinquir. Dissemos j que o motivo em
aco, isto , o motivo emquanto actua realmente sbre a von
tade, denominado mais prpriamente mvel. Ora bom obser
var que o mvel interno, emquanto a vontade sob a sua presso
tende para o delito, resolve-se na inteno. Em seus efeitos, a
inteno no mais que um esfro da vontade para o delito,
como a define Carrara, ou, por outros trmos, a inteno a
tendncia efectiva da vontade para o delito. Esta tendncia tem
como ponto de partida, e como popto de chegada, o mvel do
crime: ponto de partida, porque dle provm o primeiro impulso
da vontade, o ponto de partida, direi assim, para o delito; ponto
de chegada, porque por le se determina o limite a que quer
chegar a vontade, meta optata criminis.
260 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Posto isto, para a integridade e para a preciso das teorias,
importantssimo notar que a inteno, como j o dissemos a
propsito de prova directa, no elemento do delito, seno
naquilo em que concomitante aco. inteno precedente
ao delito, em quanto no aparece, sem soluo de continuidade,
ligada aco criminosa, um facto diverso do delito, que pode
prov-lo por fra indirecta. E por isso as manifestaes mesmo
directas da inteno precedente ao delito, quando ela se consi-
dera destacada do prprio delito, teem sempre um contedo de
prova indirecta; so outros tantos indcios causais que servem
para indicar, como causa do efeito, a inteno determinada e
sucessiva, concomitante aco, e constitutiva do verdadeiro
elemento criminoso. Assim, as ameaas feitas ao ofendido prece-
dentemente ao delito, ou os conselhos solicitados de outrem
sbre o modo de consumar o delito, quando mesmo pela sua
determinao sejam uma revelao directa da inteno, mesmo
quando se apresentam como manifestao de uma inteno pre-
cedente ao delito e destacada dle, no so mais do que sub--
indcios causais da tendncia moral, particular e efectiva, para
delinquir, em que consiste prpriamente aquele elemento subjec-
tivo do delito que se denomina inteno criminosa.
Todos stes factos, pois, que levam a estabelecer a tendn-
cia particular para delinqir, por isso que so uma conseqncia
dela mais ou menos provvel, so indcios de efeito da tendncia
particular para delinquir; revelam essa tendncia como o efeito
revela a causa. Assim, certos actos que se consideram simples-
mente preparatrios ao delito, como a adquisio de armas, so
simplesmente indcios de efeito da tendncia para delinquir.
necessrio, porm, notar que stes indcios quando considera-
dos como reveladores de uma tendncia para delinquir, prece-
dente ao delito, e destacada dle, so prpriamente indcios de
efeito da tendncia para delinqir, e no do delito, porquanto
a tendncia para delinquir no constitui aquele elemento crimi-
noso que se chama inteno criminosa, seno emquanto se consi-
dera ligada, sem soluo de continuidade, aco criminosa.
So, por isso, prpriamente, indcios de efeito da inteno crimi-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 261
nosa, e por isso do delito no seu elemento subjectivo, smente
aqules factos que se consideram capazes de fazer concluir pela
inteno criminosa como perseverante no perpetrar da aco!
ARTIGO 4.Indcio de efeito dos vestgios materiais do
delito
Uma cansa s revela o seu efeito por meio da sua modali-
dade natural, extrnseca ou intrnseca; modalidade moral ou
fsica, segundo se trata de causa moral ou de causa fsica. sem-
pre das modalidades naturais das causas, que se deduz o seu
efeito.
Um efeito ao contrrio revela a sua causa por diversas
razes; mas sempre que uma coisa serve para indicar uma outra
apresentando-se como seu efeito, tem-se um indcio de efeito.
Falaremos no artigo seguinte do modo como um efeito pode
moralmente indicar a sua causa; aqui ocupar-nos hemos da
diversa maneira pela qual um efeito pode indicar a sua causa
fisicamente.
Um efeito pode fisicamente revelar a sua causa, pela sua mo-
dalidade natural, ou pela alterao produzida na sua modalidade.
Um facto revelador da sua causa pela prpria modalidade
natural, quando ste , direi assim, produzido de uma forma
generativa, quando pode considerar-se em si, isto , como tendo vida
prpria, distinta das outras coisas, e no como consistindo
exclusivamente em modificaes de outras coisas. nestas condies
que um facto pode revelar a sua causa, no por modificaes sofridas,
mas pela sua modalidade natural prpria, extrnseca ou intrnseca.
Assim, a criana que, pelas suas condies naturais de recem-
nascido, revela o parto recente de uma mulher, revela-o no s pelas
modificaes produzidas na sua modalidade natural, mas pelo seu
prprio modo natural de ser.
Por outro lado, esta maneira de revelar a causa no tem, em
geral, importncia, relativamente ao delito. O delito no um
facto que tenha vida prpria ou automtica no meio dos outros
factos. A materialidade do delito consiste sempre em mo-
262 A Lgica das Provas em Matria Criminal
dificaes das coisas ou das pessoas; e est nisso a sua ilegitimi-
dade: na perturbao do legtimo modo de ser das coisas ou das
pessoas, calcaudo o direito da pessoa relativamente a si mesma,
relativamente s outras pessoas, ou relativamente s coisas.
Mas dissemos que havia outra maneira pela qual o efeito pode
fisicamente indicar a sua causa: pode indic-la pelas modificaes
produzidas. Para que uma nova realidade entre materialmente na
coexistncia de outras realidades, necessrio uma espcie de
adaptao fsica da primeira no meio das outras, ou em prejuzo
das outras. Todo o facto em geral, e todo o delito em especial, no
curso da sua realizao material no espao, vai de encontro s
outras realidades existentes, produzindo-lhes modificaes
fsicas. Estas modificaes s podem ser de duas espcies:
alterao emquanto ao modo de ser, alterao emquanto ao lugar de
ser, alterao e locomoo. Eis a grande fonte das provas reais
directas e indirectas.
Emquanto a alterao e a locomoo teem lugar sbre o
sujeito passivo da consumao
1
, realizando o facto criminoso,
teem-se as provas directas. O cadver, a ferida, a casa incen-
diada, e coisas semelhantes, so provas directas por alterao. A
pessoa sequestrada, encontrada na priso arbitrria de um
particular, a coisa roubada, achada na casa do ladro, e outras
que tais, so provas directas por locomoo. Aqui no temos
que nos ocupar de provas directas; mas devemos chamar, mais
uma vez, a ateno do leitor para uma verdade j desenvolvida
em lugar prprio. O elemento criminoso, constitutivo da prova
directa emquanto a si mesmo, pode funcionar como prova indirecta
relativamente aos outros elementos do delito. Consequentemente as
modalidades apresentadas, quer pelo cadver, quer pela ferida,
quer pela casa incendiada, podem ser um indicio do assassino,
da pessoa que feriu e do incendirio. Conseguinte-mente o lugar
que serviu de crcere arbitrrio e privado, ou de
1
O sujeito passivo da consumao do crime , repetimo-lo, a coisa ou
a pessoa sbre que se exerce a aco consumadora do crime.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 263
Teceptculo da coisa roubada, pode ser um indcio da pessoa do
sequestrador, ou da do ladro.
Mas, alm do sujeito passivo da consumao do crime, a alte-
rao ou a locomoo pode ter lugar sbre outras coisas diversas
do delito. Tem-se ento a prova simplesmente indirecta, tem-se
uma coisa diversa do delito, que prova o delito: coisa que, sem-
pre, no tem lugar seno pela alterao ou pela locomoo.
No havendo, portanto, seno duas espcies de modificaes
materiais reveladoras do delito, derivam daqui igualmente duas
espcies de indcios por modificao das coisas: indcios por alte-
rao, indcios por locomoo. Tomemos para exame todos os ind-
cios do delito consistentes em modificaes materiais das coisas,
e encontraremos sempre a sua substncia probatria na alterao,
ou na locomoo. Digamos algumas palavras exemplificativas a
seu respeito.
No s do desenvolver da aco criminosa prpriamente
dita, mas tambm do que a precede imediatamente, do que a
acompanha, e do que a segue, que pode nascer aquela modifica-
o no modo de ser das coisas que chamamos alterao, e que
pode funcionar como prova indirecta de efeito do delito. So mil
os factos concretos que podem coordenar-se nesta categoria.
Um indivduo foi morto facada, em pleno campo: no ter-
reno hmido, junto das pgadas correspondentes aos ps da
vtima, outras pgadas h que correspondem aos ps do acusado.
Teve lugar um roubo em um celeiro abandonado: sbre uma
mesa, coberta de p, encontrou-se a impresso de uma mo que
a se deve ter apoiado aberta; aquela impresso corresponde pre-
cisamente mo do acusado.
Em casa do indivduo acusado de ferimentos, encontra-se
um casaco e uma arma manchados de sangue.
Aquelas pgadas, aquela impresso da mo, aquele casaco e
aquela arma com manchas de sangue, so outros tantos indcios
de efeito, consistentes em uma alterao das coisas.
Um indcio da mesma espcie tambm o da material
mudana de estado econmico, nos delitos que produzem um
lucro; mudana de estado econmico, que se revela em despe-
264 A Lgica das Provas em Matria Criminal
zas excessivas, ou em pagamento de antigos dbitos em seguida
ao delito, mudana de estado econmico que depende, como do
causa sua, do delito.
E, chamando a ateno para que coisa tambm a pessoa,
emquanto objecto de modificaes fsicas, segue-se que nos ind-
cios por alterao de coisa se compreendem tambm os indcio
provenientes de alteraes particulares sbre a pessoa da vtima;
assim, no caso de estupro, a sfilis transmitida estuprada, prova
directa emquanto consiste nos efeitos do delito sbre o sujeito
passivo da consumao, 6 prova indirecta emquanto pessoa do
delinqente para cuja indicao serve. pela mesma razo, com-
preendem-se tambm na nomenclatura geral os indcios prove-
nientes de alteraes sbre a pessoa do delinqente, quer por
reaco da vtima, quer por um acidente qualquer que se deu
em conseqncia do delito. Assim, tendo-se encontrado o morto
com uma mo fechada apertando um punhado de cabelos, a falta
daqules cabelos na cabea do argido, um indcio contra le
r
derivado da reaco da vtima. Assim tendo havido luta, outro
indcio derivado da reaco da vtima, a ferida encontrada
sbre a pessoa do acusado. E a ferida do acusado pode ser tam-
bm um indcio derivado de um acidente ocorrido; como quando
o delinqente tivesse caido, admitamos, ao fugir.
Da mesma forma que para a alterao, assim tambm para
a locomoo, so infinitos os factos concretos que teem nela a
sua fra de indcios de efeito. Assim, a modificao emquanto
ao lugar que d fra de indcio de efeito, tanto ao acbar-se junto
do acusado a coisa pertencente ao delito, como ao achar-se no
lugar do delito uma coisa pertencente ao imputado. Duas gran-
des categorias de indcios, como se v. Na primeira hiptese,
pensa-se: como teria podido, um objecto pertencente ao delito,
achar-se junto do acusado, se ste o no tivesse consigo ao cometer
o delito? Na segunda hiptese, pensa-se: como poderia um
objecto pertencente ao acusado, achar-se no local do delito, se
le o no tivesse deixado a, emquanto perpetrava o delito?
Julgamos intil entrar em uma enumerao mais detalhada
dos indcios de efeito, provenientes dos vestgios materiais do,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 265
delito; o leitor inteligente pode supri-los por si s. Sob o ponto de
vista dste livro, urge, mais que tudo, estabelecer os conceitos
gerais e superiores das provas, recorrendo exposio das
particularidades, tanto quanto baste para mostrar como estas,
segundo nos parece, se coordenam naqules nossos conceitos
superiores.
No falamos, por isso, das relaes do maior ou menor valor
probatrio que teem entre si os indcios derivados da alterao, e
os provenientes da locomoo, por isso que no existe razo
alguma de ordem geral que leve a concluir pelo maior valor
probatrio de uns ou de outros.
A fra probatria de cada indcio de efeito de vestgios
fsicos, quer pertena a uma ou a outra categoria, por isso
sempre estabelecida nicamente pela realizao concreta do pr-
prio indcio, segundo o influxo das circunstncias particulares que
o acompanham, e sob a luz da justificao particular que-ela d ao
acusado.
E, a propsito disto, deve notar-se a grande importncia da
justificao, na recta avaliao dos indcios em geral. Suponhamos
que os indcios abstractamente mais graves se acumulam sbre a
cabea de um homem; existir sempre uma justificao que sirva
para os anular. Vejamos.
Ticio passeia no seu jardim; agredido por um desconhecido;
defende-se. Segue-se uma luta corpo a corpo: os dois ferozmente
abraados, rolam sbre o terreno; o agressor consegue libertar-se
das mos do agredido, pe-se de p, e raata-o estocada.
Examina-se o cadver e as suas mltiplas feridas; e em uma destas
feridas encontra-se a ponta do estoque, que se partira batendo de
encontro a um osso. No basta; no cho encontra-se uma carteira,
que se verifica no pertencer vtima, e se supe-ser do
delinqente.
Pois bem, senhores, suponhamos, agora, que aquela carteira
traz as iniciais de Caio, e que se reconhece tambm por outros-
meios pertencer-lhe. Suponhamos que em casa de Gaio se encon-
tra um pedao do estoque, que se adapta exactamente ponta
descoberta na ferida. Suponhamos, finalmente, que na mesma-
266 A Lgica das Provas em Matria Criminal
casa de Caio se acha o seu casaco, sujo de terra e manchado
de sangue. Que direis vs do valor probatrio dstes indcios
contra Caio? A conscincia no nos gritar, sem hesitaes:
Caio o ru?
E no entanto o terrvel indcio da carteira de Caio encon-
trada no local do delito, desaparecer logo que Caio prove que
ela lhe fra roubada dias antes, e que le at disso j dera parte.
E no entanto o terribilssimo indcio do pedao do estoque,
encontrado junto de Caio, desaparecer tambm, quando Caio
demonstrar de um modo irrefutvel que le tinha encontrado e
guardado durante o caminho aquele pedao, no dia seguinte ao
crime. E no entanto o terceiro indcio formidvel do casaco, sujo
de terra e de sangue, desaparecer, finalmente, por sua vez, -
quando Caio provar incontestvelmente, que aquele casaco j
assim estava anteriormente ao crime, por ter le sido atacado e
derrubado, admitamos, por um javali, e por le ferido, andando
- caa com amigos, que confirmam a sua assero. Eis, senhores,
como trs indcios abstractamente formidveis, perdem em con-
creto todo o seu valor com a justificao do acusado.
E necessrio nunca esquecer que a fra probatria parti-
cular de todo o indcio, deve avaliar-se em concreto: a consi-
derao das circunstncias particulares em que se concretiza o
indcio, a considerao da justificao .que nos dada pelo
acusado, que determinam o valor probatrio efectivo de todo o
indcio, qualquer que seja a sua natureza.
ARTIGO 5. Indicio de efeito dos vestgios morais
do delito
Um facto na sua realizao no mundo pode no s deixar
vestgios sbre os corpos, como tambm sbre os espritos:
vest-gios materiais, os primeiros; vestgios morais, os
segundos.
Os vestgios morais nascem da percepo de um facto, e
resolvem-se em presses mnemnicas.
As impresses mnemnicas, por isso que consciente e volun-
tariamente reveladas pela prpria pessoa, do lugar quela
esp-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 267
cie subjectiva de provas que chamamos afirmao pessoal, ou prova
pessoal. Ora a afirmao pessoal pode ter igualmente um I contedo
de prova directa ou indirecta, conforme tem por objecto o delito, ou
uma coisa diversa do delito, e que leva a concluir pela sua
existncia. Mas ns no entendemos falar aqui dos ves- I tgios
morais sob ste ponto de vista. E se os tratadistas, confundindo o
que prova indirecta com o que prova imperfeita, falando de
indcios, falaram de confisso extra-judicial, e de outras formas de
afirmao de pessoas, ns, que j combatemos uma tal confuso,
no a seguiremos por certo num caminho falso.
No queremos falar aqui dos vestgios morais emquanto
consciente e voluntriamente manifestados; mas emquanto se
revelam inconsciente e involuntriamente. conscincia do delito
cometido desperta sentimentos no esprito, que por vezes se exte-
riorizam era um dito ou em um facto de uma pessoa; stes sen-
timentos exteriorizados num dito ou num facto, quando se ligam
como efeito a causa, conscincia incriminadora, e emquanto a faz
revelar, constituem um indcio de efeito. Eis o campo e a. matria
dos indcios de efeito dos vestgios morais. Prossigamos um pouco
analiticamente.
Da conscincia do delito cometido nasce, no esprito de todos
os delinqentes, o temor da pena; nasce, em muitos, o remorso;
nasce, nos mais perversos, o prazer de ter alcanado a meta
criminosa. O temor e o remorso nascem do delito emquanto le se
considera como um mal; o prazer nasce do delito emquanto le se
considera como um bem. Examinemos cada um dstes
sentimentos, para ver como les se manifestam por palavras ou
factos externos, constitutivos de outros tantos indcios; e come-
cemos pelo temor, rica fonte de indcios do delito.
Com o esprito agitado pelo temor da pena, o delinqente
procura muitas vezes meios para a evitar; e oferecem-se-lhe duas
espcies de meios para alcanar sse fim: meios mediatos e meios
imediatos.
Sabendo, em primeiro lugar, que a verdade verificada do
delito, que conduz necessriamente pena, o delinqente tenta
268 A Lgica das Provas em Matria Criminal
por vezes sufocar em globo esta verdade, gost-la ao nascer, afim
de que no se reflita sbre o esprito do juiz. Para escapar
pena, recorre, assim, ao meio mediato de ocultar ao juiz a ver-J
dade criminosa: tenta ocult-la por sua parte; tenta ocult-la
por parte das outras pessoas que a afirmam; tenta ocult-la
por parte das coisas que a comprovam.
1. Por sua parte, recorre a duas maneiras com que se
pode ocultar a verdade: ou diz o contrrio da verdade, ou calca
a verdade; mentira ou silncio, falsidade prpriamente dita, ou
reticncia.
O acusado que na solenidade do julgamento se deixa levar a
afirmar o que consta ser por le conhecido como falso, ou a negar
o que consta ser conhecido por le como verdadeiro, revelando o
intersse em esconder a verdade, leva a crr. que esta verdade lhe
contrria, e que le ru: eis o indcio de efeito da mentira. s
contradies e as inverosimilhanas so classificadas rroneamente
por alguns tratadistas como indcios espe- ciais: no so seno
formas pelas quais se manifesta a mentira, e tiram da a sua
fra de indcio. O acusado caindo em contradi- o com o que
le prprio disse, mostra ter mentido anterior ou posteriormente; e
caindo em inverosimilhanas levanta a suspeita de mentira, se a
inverosimilhana se entende no sentido de im-probabilidade, e d a
certeza da mentira, se inverosimilhana se entende no sentido de
incredibilidade. As contradies do acusado e as suas
inverosimilhanas, emquanto se consideram como indcios,
reduzem-se conseguintemente mentira.
por isso necessrio observar, que aquela simples suspeita,
de mentira que nasce da inverosimilhana tomada no sentido de
improbabilidade, no pode legitimamente haver-se como indcio
de criminalidade; porquanto a suspeita de mentira no seria
mais do que o indcio de um indcio: a improbabilidade do que
diz o acusado levantaria a suspeita da sua mentira, e a suspeita
da mentira, por sua vez, faria suspeitar da criminalidade. Que
valor lgico poderia, pois, ter uma tal concluso duvidosa, dedu-
zida de uma premissa duvidosa?
A mentira do acusado, quer resulte da sua contradio ou
A Lgica das Provas em Matria Criminal 269
4a incredibilidade da sua assero, quer resulte de outra fonte,
qual a afirmao de terceiros, para que possa haver-se legiti-
mamente como indcio de criminalidade, necessrio que seja
certa. E s ento, que se tem um indcio legtimo. H Mas, tambm
ento, necessrio dar por isso a ste indcio legtimo uma
importncia muito maior, exagerando o seu valor.
O acusado nem sempre levado a mentir pela conscincia da
sua criminalidade: por vezes, a sua mentira filha do receio
que a verdade pura e simples da sua inocncia no possa triun
far, e mente para destruir aparncias que, le julga, o faro
condenar injustamente. Algumas vezes, pois, o que se julga ser
mentira no seno um equvoco, e por vezes tambm os perigos
e os sofrimentos, que se acham sempre ligados a um julgamento
criminal, perturbam por tal forma o esprito do acusado, ainda
que inocente, que lhe ofuscam a memria e fazem-no car invo-
lu
ntriamente em inexactides e contradies. Eis outros tantos
motivos que enfraquecem o indcio de criminalidade que se faz
consistir na mentira.
Dissemos que no smente mentindo se oculta a verdade,
mas tambm simplesmente calando. Ora o acusado que cala,
mostra tambm ter intersse em ocultar a verdade; e isto faz
supr que a verdade lhe e contrria e que le ru; eis o indcio
de efeito do silncio, indcio ainda mais fraco que o da mentira.
O silncio pode ser total ou parcial.
Quando o silncio parcial, quando s se cala uma dada
circunstncia, necessrio verificar bem que esta circunstncia
era conhecida do acusado, e que le no a podia ter esquecido,
nem omitido casualmente no seu depoimento, quer pela natureza
dessa circunstncia, quer pelas intrrogaes especiais que se
fizeram; necessrio todo isto, antes de ver, no silncio parcial,
um meio de ocultar a verdade.
Mas o silncio, ainda quando total, como quando o acusado
se recusa sistemticamente a responder ou responde evasivamente,
no mais do que um fraco indcio, comquanto em dada ocasio
tenha sido considerado como uma confisso tcita.
Muitas vezes o acusado, ainda que inocente, cala-se devido
270 A Lgica das Provas em Matria Criminal
trepidao do seu esprito, que lhe faz ver um perigo des-
conhecido em tda a palavra sua; cala-se, devido ao abatimento
em que cai, e que lhe faz crr intil tda a defeza, sentindo-se
fraco em face de uma acusao formidvel; por vezes o acusado
emudece devido ao espanto, outras, devido clera.
Pode tambm o inocente ter sido levado ao silncio por um
sentimento nobilssimo: despreza a sua salvao, para evitar a
condenao, ou mesmo a simples ignomiuia, de uma pessoa que
ama. Francisco Magenc foi acusado de assassnio, e recusou jus-
tificar-se, limitando-se a dizer: eu estou inocente. Os tribunais
do departamento de Gers condenaram-no. E condenaram um
nobre corao, porquanto Francisco Magenc estava inocente, e
tinha-se calado para que seu pai no fsse condenado, que era o
verdadeiro assassino
1
.
Quem h que no conhea a triste histria do nobre vene-
ziano Antonio Foscarini? Tdas as noites encontrava-se com sua
amante numa casa prxima do palcio do embaixador de Espanha.
Surpreendido de noite, disfarado, naquelas imediaes, foi
acusado de maquinaes secretas com o embaixador estrangeiro:
crime de morte na Repblica de Veneza. Podia justificar-se,
nomeando a bela senhora que o acolhia naquelas entrevistas
nocturnas; podia justificar-se, mas cobrindo de ignomnia o nome
da sua amante. Preferiu calar-se; foi condenado pelo conselho
dos Dez; e foi estrangulado no crcere.
Antes de passar adiante, conveniente observar que a con-
tumcia como indcio de criminalidade, entra no indcio do
silncio, de que uma forma especial. O que contumaz no se
esconde, no escapa; limita-se a no se apresentar no julgamento
a que foi legitimamente chamado. A contumcia no poderia
levar concluso do delito, se no se visse nela, a vontade do
que contumaz de calar por sua parte a verdade aos juzes. Em
vez de se apresentar e conservar-se calado, o contumaz cala-se
no se apresentando; uma maneira como qualquer outra, de se
1
BRUGNOLI, Certezza e prova criminale, 567.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 271
calar; e o indcio no pode provir seno do silncio deliberado e
total do contumaz.
2. Mas o delinqente, por vezes, percebendo que a men
tira ou o silncio por sua parte, so bem dbeis meios para
impedir que a verdade do delito chegue ao conhecimento dos
juzes, havendo outras pessoas cujo atestado pode esclarec-las
completamente, recorre ao meio mais arrojado de tentar que a
verdade se mantenha oculta, mesmo por parte das outras pes
soas. Ora, o delinqente pode procurar ste fim por dois meios.
Pode tentar impedir o comparecimento material da tstemunha J
perante o juiz, e pode tentar induzir a vontade da tstemunha a
ocnltar a verdade; pode tentar, por outros trmos, que a tste
munha no se apresente, ou pode tentar que, apresentando-se,
minta.
Para que a tstemunha se no apresente, o delinqente pode
recorrer violncia material, ou fraude. Recorreria, assim,
violncia material assassinando a tstemunha de quem teme, ou
encerrando-a em um crcere privado. Recorreria fraude criando
artificiosamente uma razo que induza a tstemunha a afastar-se,
tornando impossvel apresentasse em juzo; como se, por exemplo,
lhe fizesse chegar s mos um falso convite para recolher uma
herana na Amrica, para que a tstemunha, partindo, no possa
apresentar-se perante os tribunais de Itlia; como tambm, se
entrasse em ajustes com o oficial, para que a citao para
comparecer em juzo fsse ignorada pela ts-
te
munha. Todos vem que a gravidade indicadora de tais factos tem
de ser, mais que nunca, apreciada no caso em particular.
Mas em geral podemos dizer, que os indcios provenientes
da violncia sbre as pessoas, so de uma enorme gravidade, e
superior dos indcios provenientes do emprgo de fraude. Quem
chega ao ponto de usar de uma violncia criminosa para sufocar a
verdade, provvel em supremo grau que seja ru. O indcio de
emprgo de fraude tem ao contrrio contra si um motivo infir-
mante, que no tem valor no caso de violncia; pode recorrer-se a
afastar, por meio de fraude, uma tstemunha, porque o acusado a
julga seu inimigo, e capaz de mentir em seu prejuzo. Com-
'272 A Lgica das Provas em Matria Criminal
preende-se que ste motivo infirmante no tem valor suficiente
quando se quer fazer valer relativamente a uma violncia crimi-
nosa que se empregou; no h valor suficiente, porque no h
proporo entre uma simples suspeita do acusado e a violncia
criminosa por le perpetrada.
O leitor deve ter notado que ns no levamos em conta a
violncia moral e as promessas, como meios empregados para
fazer com que a tstemunha no comparea. Fizemo-lo proposi-
tadamente, por isso que a violncia moral e as promessas so
meios bem falveis, em face da fra da lei que obriga a tste-
munha a comparecer.
Mas, de qualquer modo que seja, a tentativa para que uma
tstemunha se no apresente, sempre rdua, e de difcil xito.
Mais simples e mais eficaz, ao contrrio tentar que a tste-
munha comparea e minta.
E nste intuito o acusado pode servir-se eficazmente do
temor de um mal, ou da esperana de um bem, para obrigar a
vontade da tstemunha a mentir; pode valer-se da violncia
moral, ou das promessas: e eis as ameaas e o subrno, outros
dois graves indcios de efeito, por isso que so inspirados pela
conscincia criminosa, e so destinados a ocultar a verdade,
fazendo com que a tstemunha minta.
Podendo, pois, a aco ocultadora do delinqente, em vez
de se dirigir sbre a tstemunha, dirigir-se sbre o ofendido
para que se cale, h nestas hipteses dois indcios anlogos aos
precedentes, nas ameaas ao ofendido e na transaco com le.
3. Mas a verdade no provm smente das pessoas; ela
deriva muitas vezes directamente das coisas.
H, nas coisas, aparncias fsicas reveladoras do delito; e a
obra ocultadora do delinqente pode recar tambm sbre elas.
E aqui, compreendemos na denominao genrica de coisas tam-
bm a fra material que pode assumir a afirmao pessoal; a
forma material, distinta da pessoa que afirma. Assim, o escrito,
forma permanente da afirmao pessoal, emquanto a si mesmo e
as modificaes de que pode ser objecto, compreende-se na deno-
minao genrica de coisas.
Lgica da Provas em Matria Criminal 273
O delinqente pode portanto, para ocultar a verdade, enca-
minhar a sua aco sbre as coisas em geral, afim de alterar as
suas aparncias reveladoras, e tem-se ento o outro grave indcio
da adulterao das coisas, que, naturalmente, pode ser adulterao
emquanto ao modo ou emquanto ao lugar das coisas.
O acusado a cujo respeito conste ter encoberto, destrudo ou,
alterado o corpo de delito, lanando ao mar, deformando os quei-
mando um cadver; o acusado a respeito de quem conste ter lavado
s escondidas com as prprias mos um casaco ensanguentado; o
acusado de quem conste ter queimado ou alterado um escrito
acusador; o acusado de quem conste ter levado insidiosamente para
casa alheia um objecto respeitante ao delito, que se achava em sua
casa; o acusado de quem conste ter lanado a um poo a arma
homicida; d sempre um grave indcio, contra si, querendo com a
adulterao das coisas, ocultar a verdade do seu delito.
Indcio grave, a adulterao das coisas; mas necessrio no
esquecer, que ela pode tambm ser inspirada ao inocente, pelo
receio de ser injustamente indicado como ru das fatais aparncias
das coisas: motivo infirmante, ste, que deve ser tomado em
devida conta, segundo os casos.
Temos at aqui falado da ocultao da verdade ao juiz, como
meio mediato para escapar pena. Mas pode tambm o
delinqente recorrer a um meio menos mediato. Sentindo no
poder sustar a verdade nas suas origens, julgando que ela deve
fatalmente chegar at ao juiz, pode o delinqente dirigir a sua
aco sbre o esprito dste, afim de que se faa surdo s vozes da
verdade, ocultando-a sociedade, no acusando ou no con-
denando. E eis o gravssimo indicio da corrupo do magistrado,
indcio derivado tambm do temor da pena.
H finalmente um meio prpriamente imediato para evitar a
pena, outro meio que se resolve em outro indcio. O delin-
qent
e, no pensando em sustar na sua marcha triunfante a verdade,
aquela verdade que comea pelas provas e termina na justa
aplicao da pena, tenta furtar-se execuo material da prpria
pena e esconde-se.
18
274 A Lgica das Provas em Matria Criminal
No tenta ocultar a verdade para que a pena no se pro-
nuncie, tenta, ao contrrio, ocultar a sua pessoa, para que a pena
se no aplique.
Eis o ltimo indcio derivado do temor da pena: indcio da
ocultao da prpria pessoa, indcio que pode concretisar-se na
fuga, ou na simples ocultao em um abrigo secreto, ainda que
seja sbre o prprio local do delito.
conveniente acentuar aqui que a palavra ocultao,
empregada na linguagem jurdica, se reduz nicamente oculta-
o da pessoa, e forma com ela um nico e mesmo indcio: a
ocultao no exprime, com efeito, mais que o estado de facto
da ocultao da pessoa.
O indcio da ocultao da pessoa no sempre um indcio
muito concludente de criminalidade. O inocente tambm foge ou
se esconde por uma natural hesitao de esprito, ou pela cons-
cincia da sua fraqueza em face da formidvel potncia de uma
acusao; especialmente, se sabe que, para se defender, tem de
combater contra um preconceito, contra um partido, contra um
fanatismo religioso ou poltico. O inocente tambm foge ou se
esconde, por temer vexaes judiciais, no obstante a inocncia;
e ste motivo infirmante, ter tanto mais fra, quanto maia
vexatrio fr o processo, quanto maior fr a fra preponderante
concedida acusao, quanto mais arbitrrios forem os juzes,
quanto mais ameaadoras forem as prises preventivas, tormento
dos inocentes e dos rus.
Temos falado at aqui dos indcios derivados prpriamente
do temor da pena. Tratemos agora dos indcios provenientes do
remorso, que o segundo sentimento, como dissemos, que deriva
da conscincia do delito cometido, considerado como um mal.
A propsito do remorso, como de qualquer outro vestgio
moral, no atenderemos por agora s manifestaes conscientes e
voluntrias do acusado que equivaleriam a uma prova directa,
mas sim s manifestaes involuntrias e inconscientes. H sinais
fsicos da pessoa, que revelam o sentimento interno: so stes
sinais fsicos, que examinaremos aqui, como factos indicativos da
criminalidade.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 275
O crar, o empalidecer, o tremor, os suspiros, o chro, as
exclamaes involuntrias, o balbuciar, e coisas semelhantes, so
manifestaes fsicas, que se referem tanto ao remorso como ao
temor da pena; mas ns preferimos classific-las como expresses
do remorso para no as confundir com aqueTes indcios vlidos
que consistem nas manifestaes do temor, de que anteriormente
falamos.
Ora, tdas as manifestaes fsicas supracitadas, e outras
anlogas, considerem-se mesmo como manifestaes do remorso
ou do temor da pena, teem, em geral, um valor muito fraco de
indcio. Elas podem ser produzidas, no s pelos dois sentimentos
supracitados, como tambm por uma causa fsica, como no caso
de uma simples agitao nervosa; podem ser produzidas por um
sentimento de dr, natural ao ver-se suspeitado de um delito;
podem nascer de um sentimento de clera contra uma acusao
injusta e contra um depoimento falso. Que pode pois concluir-se
lgica e vlidamente dstes factos? So factos, genericamente
falando, coordenveis com causas diversas, e por isso, como
indcios, so proteiformes, e prestam-se a concluses opostas. Eis
porque vereis por vezes, o mesmo pblico acusador, ora fulminar
um acusado pela sua perturbao, ao ver-se prender, ora fulminar
outro por se conservar impassvel perante a fra pblica,
achando o indcio de criminalidade tanto na sua perturbao como
no facto de se no perturbar. Triste retrica, na verdade, cujo uso
s pode perdoar-se nos discursos acadmicos; no coloca ento
em perigo a liberdade de pessoa alguma, e o ouvinte pode vencer
o seu aborrecimento deixando-se adormecer. Quando porm entra
em jogo a liberdade de um homem, ser-vir-se desta retrica, se
no ignorncia, ferocidade. E basta a ste respeito.
O delito apresenta-se sempre, antes de cometido, e algumas
vezes depois de cometido, como um bem aos olhos do delinqente;
isto , como uma coisa que corresponde aos prprios desejos; e eis
outro indcio de efeito, o indcio da satisfao do delito cometido.
Mas, na verdade, ste indcio no tem qusi valor algum.
Pode ter-se a satisfao de um crime cometido sem que se seja
276 A Lgica das Provas em Matria Criminal
o seu autor: ao contrrio, esta espcie de satisfao no se ma-
nifesta ordinriamente seno da parte de quem alheio ao crime.
Para o verdadeiro delinqente, a satisfao de se ter alcanado
o fim criminoso, nunca pode ser to plena e violenta, que rompa
involuntriamente em ditos ou factos que a revelem; porquanto
uma tal satisfao sempre resfriada e amargurada, nle, pelo
grave perigo de uma condenao: a mais elementar e comum
prudncia ensinar-lhe h por isso a esconder a sua satisfao.
E ste em concluso, um indcio, a que se no pode dar
um grande valor.
Falamos, assim, do temor da pena, do remorso e da satis-
fao, como de sentimentos derivados da conscincia acusadora,
e que servem mais ou menos para a indicar, por meio das suas
exteriorizaes, como o efeito indica a causa, constituindo os
vrios indcios de efeito dos vestgios morais.
O leitor deve ter visto, que, nste rpido estudo, nos temos
referido sempre ao presumido autor do crime. Ora, parte o
remorso, que um sentimento pessoal incomunicvel, tanto o
temor da pena como a satisfao do delito so sentimentos em
que podem tomar parte terceiros. Pode-se ter e manifestar o
temor, no s pela pena que ameaa a sua pessoa, mas tambm
pela pena que ameaa a pessoa querida de um parente, de uma
amante, de um amigo. Pode participar-se vivamente nos amores
e nos dios de uma pessoa querida, que se reconhece autora de
um crime, tomar manifestamente parte ha satisfao de se ter
alcanado o fim criminoso.
Tudo isto verdade; mas igualmente verdade que as
manifestaes de tais sentimentos por parte de um, no podem
legitimamente ser reveladoras da criminalidade a cargo de ou-
trem. Mesmo que o parente, a amante ou o amigo do argido
se mostrem satisfeitos: que tem isso ? Aquela sua satisfao pode
ser sempre pessoal; no h razo para que deva acreditar-se
em uma participao na satisfao do delinqente. O parente, o
amigo, a amante, comquanto tentem subornar as tstemunhas,
ou entrar em transaco com o ofendido, ou adulterar as provas
reais, ou corromper os juzes em favor do argido: que se con-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 277
elue da ? Tdas estas aces, podem ter sido inspiradas no pela
certeza, mas pela simples dvida sbre a sua criminalidade, jun-
tamente com a vontade de o verem salvo, custe o que custar, e em
tda a hiptese.
O argido, se est inocente, sabe no ter cometido coisa
alguma criminosa; e alcana fra e segurana na conscincia
ntegra das suas aces. Para quem o ama intensamente a emoo
maior; comquanto o reconhea inocente, nunca pode conhecer
completamente todos os actos da sua vida, e ocorre-lhe ao
esprito, devido exaltao da sua imaginao, a possibilidade de
factos que o faam aparecer como culpado, no obstante a sua
inocncia; e ento, trabalha para desviar a pena da pessoa querida,
como se a reconhecesse criminosa. Todos vem, por isso, que
nstes factos de terceiro nunca se pode encontrar um indcio
lgico da criminalidade do argido.
CAPTULO IV Provas
indirectas juris et de jure
A lei procurando determinar a fra probatria de algumas
provas indirectas, ou lhes atribui um valor tal que impe a f at
prova em contrrio, ou atribui-lhes tal valor que impe a f no
obstante tda a prova em contrrio. Com uma denominao
genrica, chamando presuno tda a prova indirecta, os antigos
jurisconsultos chamaram presunes tantum juris, s primeiras, e
presunes juris et de jure, s segundas.
Na verdade, esta nomenclatura no elegante; mas est de
tal forma radicada na linguagem comum scientfica, que deve
aceitar-se, como nomenclatura convencional.
Emquanto presuno legal juris tantum, no vale a pena
tratar dela em especial; uma prova legal, como qualquer outra,
contra a qual basta a reprovao geral que recai sbre as provas
legais.
278 A Lgica das Provas em Matria Criminal
No possvel, porm, deixar de falar das presunes que
se denominam juris et de jure, devido grande importncia
que teem tido em juzo criminal, e que, comtudo ainda por vezes
tentam ter. Ao ocupar-nos dste assunto no falaremos smente
de presunes, mas de provas indirectas juris et de jure; no
falaremos de presunes, porque estas teem para ns um sentido
especial, tendo combatido j antes a confuso que se pretende
fazer entre elas e o indcio. Falaremos em geral de provas indi-
rectas, porquanto entre as que se chamam presunes juris et
de jure, alm de serem presunes em sentido prprio, existem,
tambm, e em maior nmero, verdadeiros indcios.
Quando o Costume de Beauvoisis estabelecia que quem tivesse
ameaado outro com um mal, devia necessriamente tomar-se como
seu autor, caso o mal se viesse a realizar; no dava valor juris
et de jure a uma presuno mas sim a um verdadeiro indicio;
afirmava como necessria a relao de causa a efeito entre a ten-
dncia particular para delinqir de um dado indivduo, manifes-
tada pela ameaa do delito, e o delito praticado.
Quando o mesmo Costume prescrevia em outro dos seus cap-
tulos, que o acusado, que se evade do crcere durante o processo,
deve considerar-se necessriamente como culpado, no fazia mais
que afirmar outro indcio juris et de jure: elevava, por fra da
lei, a indcio necessrio o indcio de efeito contingente da fuga.
Por isso, quando em alguma legislao antiga se afirmava,
que quem ocultasse o seu parto, devia ser tomada necessria-
mente
como infanticida, era a outro indicio em sentido prprio, que se
dava valor juris et de jure: elevava-se, por fra da lei, o
indcio necessrio do delito cometido a indcio contingente da
ocultao do parto.
Esta matria no pode conseguintemente limitar-se s pre-
sunes em sentido prprio; necessrio por isso trat-la sob uma
denominao mais geral, sob a denominao que abranja tanto as
presunes como os indcios. Eis porque, no ttulo dste captulo,
falamos de provas indirectas juris et de jure; e eis porque nos
ocupamos dste assunto, depois de nos trmos ocupado em par-
ticular da presuno e do indcio.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 279
Falando de certeza, demonstramos o absurdo da certeza legal;
falando de provas, demonstramos a inadmissibilidade das provas
legais: e por isso, aqui, em virtude de um simples corolrio, pode-
remos, como fizemos relativamente s provas indirectas juris tan-
tum, rejeitar imediatamente tambm as provas directas juris et de
jure; porquanto elas no so mais que provas legais elevadas
mxima potncia, provas legais absolutas e incontestveis. Mas
pela sua importncia conveniente dizer aqui uma palavra em
particular, para demonstrar qual a espcie de provas indirectas
juris et de jure que ameaa agora especiosamente invadir o campo
das provas criminais.
Numa poca distante da nossa, quando a arte de coligir as
provas se acbava ainda na adolescncia, e qusi no existia pol-
cia judiciria, a dificuldade de alcanar as provas directas da
criminalidade, e ao mesmo tempo, a superstio, fizeram com que
te encontrasse um valor absoluto de prova em factos que no
tinham relao alguma com o delito. Estabeleceram-se, ento,
estranhas provas indirectas juris et de jure; provas artificiais e
arbitrrias, que consistiam em submeter o argido a experincias,
cujo resultado devia mostrar ntida e incontestvelmente a sua
criminalidade ou a sua inocncia. Estas experincias, que foram
designadas pela palavra alem ordalias, multiplicaram-se
estranhamente na idade mdia.
Mencionemos algumas.
Obrigava-se, por exemplo, o argido a pr a sua mo em
contacto com um frro incandescente, ou a mergulh-la em gua
a ferver; aquela mo era em seguida envolta em um pequeno
saco que se selava. Se passados trs dias, descobrindo-se a mo,
esta apresentava vestgios de queimadura, o argido era imedia
tamente declarado culpado; se a mo se achava ilesa, era decla
rado inocente. A inocncia ou a criminalidade era, assim, veri
ficada por meio do fogo ou da gua a ferver, provas indirectas
juris et de jure.
Assim tambm, quando um homem tinha sido assassinado, e
se no conhecia o assassino, obrigava-se, aquele sbre quem recaiam
as suspeitas, a apresentar-se para tocar o corpo da vtima, exposto
280 A Lgica das Provas em Matria Criminal
sbre um esquife. Se, ao contacto de um homem, o cadver deixava
car uma gota de sangue, aquele homem era o ru, pela prova
incontestvel do esquife, prova indirecta juris et de jure.
Entre tdas as experincias probatrias, teve tambm grande
importncia na idade mdia, no s em matria penal, como tam-
bm no cvel, o duelo judicirio. Efectua-se um combate, segundo
os casos, entre acusador e acusado, entre e acusado e o juiz, e
at entre o acusador e a tstemunha. O vencedor tinha sempre
razo; o vencido nunca.
I Tdas estas experincias resolviam-se prpriamente em tan-
tos outros indcios juris et de jure, que consistiam em coisas,
que sendo diversas da criminalidade ou da inocncia, nem por
isso deixavam de servir para provar incontestvelmente uma ou
outra, comquanto no existisse relao alguma natural entre estas
pretendidas provas e o que se julgava provado. Mas a relao
entre estas experincias por um lado, e a criminalidade ou a
inocncia por outro, julgava-se ser determinada, uma vez por
outra, pela Providncia. Tendo o brbaro processar daqules tem-
pos estabelecido a seu modo as experincias do frro em braza,
da gua a ferver, do esquife, do combate judicirio, e assim por
diante, e predeterminando os resultados que deviam comprovar
a criminalidade, e os que deviam atestar a inocncia, julgava-se
que Deus, suprimindo as leis naturais, devia intervir afim de que
os sinais, no modo pre-estabelecido, correspondessem verdade.
E por isso tratando-se de um inocente, no podia admitir-se que
a sua mo, quer quando submetida ao contacto do frro em braza,
quer quando imersa na gua a ferver, apresentasse vestgios da
queimadura; tratando-se de um inocente, no podia admitir-se o
sangrar do cadver, ao seu contacto com o corpo da vtima; tra-
tando-se de um inocente, no podia admitir-se que le sucum-
bisse na luta. E vice-versa, tratando-se de um criminoso, que
deixasse da dar-se a queimadura da mo, o sangrar do cadver
e a drrota no combate,
Nos resultados das experincias encontravam-se, assim,
outros tantos efeitos mediatos e sbrenaturais da criminalidade ou
da inocncia. No se tratava de considerar aqules resultados
como
A Lgica das Provas em Matria Criminal 281
efeitos derivados imediata e naturalmente da criminalidade ou da
inocncia; mas consideravam-se como derivados da vontade de
Deus que, conformando-se com as normas vigentes, as produzia
diversas, conforme se estava culpado ou inocente: havia, assim,
indcios de efeito mediatos juris et de jure.
Em concluso, ordenando-se uma destas experincias, no se
fazia mais que intimar ao Altssimo uma citao para comparecer,
em hora fixa, obrigando-o a prestar o seu depoimento, no por
meio de um milagre qualquer, mas por um determinado milagre
prescrito pelo processo. Eram stes os juzos de Deus
r
a que Deus
era chamado para apresentar a prova decisiva para a acusao ou
para a defesa. Hoje em dia, ste juzo de Deus,. no passa de uma
recordao histrica, nem nos ocuparemos aqui de fazer a crtica
das razes que provocaram o seu aparecimento e a sua divulgao;
esta crtica tem sido esplndidamente feita por outros escritores; e
qualquer palavra a seu respeito seria suprflua. Refermo-nos aqui
a estas estranhas provas smente para determinar a substncia
probatria, que, segundo nosso parecer, a dos indcios de efeito
mediato, juris et de jure; substncia probatria que entra, assim,
no objecto de que tratamos.
Mas pondo de parte as estranhas e arbitrrias provas abso-
lutas, que se deduzam das experincias judicirias, provas indi-
rectas sbrenaturais e fantsticas, tem havido tambm provas
indirectas naturais, a que por vezes a lei tem querido conceder
um valor absoluto de provas indirectas, juris et de jure, em
matria criminal.
Umas vezes tem sido a ameaa precedente ao delito, que se
tem considerado como prova juris et de jure de criminalidade;
outras tem sido a fuga da priso, emquanto o processo se acha
pendente; outras a ocultao do facto, relativamente ao infanti-
cdio; e assim por diante.
Mas estas provas naturais juris et de jure tambm no so
hoje mais que uma reminiscncia histrica para a scincia
criminal. Em harmonia com os argumentos lgicos, que expose-
mos a propsito de certeza legal e de provas legais, tem preva-
lecido a teoria de que se no podem admitir provas criminais
282 A Lgica das Provas em Matria Criminal
juris et de jure; porquanto a certeza criminal, para ser leg-
tima, deve ser substancial e no formal.
Hoje em dia, devido aos progressos da scincia, o nico
campo em que podem florescer as provas indirectas juris et de
jure, o das provas em matria civil.
Mas se elas so admissveis em matria civil, isso
devido antes considerao do direito, que do facto; as
provas juris et de jure em matria civil teem a sua razo de ser
no tanto na sua eficcia probatria real e substancial, quanto nos
motivos sociais que aconselham a dar-lhes um valor absoluto. Com
efeito, lancemos uma vista de olhos s provas concretas juris et
de jure, em matria civil.
A lei civil determina uma categoria de incapazes para rece-
berem por doao ou por testamento. Ora, as doaes e as dispo-
sies testamentrias a favor de alguns parentes dsses tambm
se reputam, por presuno juris et de jure, feitas em fraude da
lei, considerando-as como relativas aos incapazes por interposta
pessoa do parente; coisa que verdade no maior nmero de
casos. Mas se essa matria civil, por uma presuno juris et de
jure, se afirma dever isso reputar-se verdade, no s no maior
nmero dos casos, mas sempre, no j por uma iluso da
lgica das provas; no. A lgica das provas civis no pode dei-
xar de reconhecer que a liberalidade a favor de um parente do
incapaz, tambm pode, em algum caso especial, ser feita de boa
f, sem ideia de defraudar a lei e de fazer a transmisso para o
incapaz. Mas emquanto a lgica das provas reconhece isto, a
lgica do direito julga melhor afirmar irrefutvelmente, para
todos os casos, a presuno de fraude lei, quer seja para cor-
tar a questo, quer para no se achar sempre em frente da fcil
afirmao de boa f, que obrigaria prova difcil da vontade de
defraudar a lei. Eis como a presuno juris et de jure de fraude
lei, que anula a liberalidade a favor do parente do incapaz,
no tem a sua razo de ser na eficcia probatria real e substan-
cial da presuno, mas sim no clculo das utilidades sociais.
Assim, pois, quando em matria civil se faz depender a
propriedade ou a validade de um acto, de uma presuno juris
A Lgica das Provas em Matria Criminal 283
et de jure, baseada em determinadas circunstncias, no quer isso
dizer que, em matria de facto, se no admita absoluta-mente a
possibilidade concreta do contrrio; mas sim que se julga melhor
evitar a longa oscilao dos direitos, e a multipli-cao das
demandas.
Assim, finalmente, qnando em matria civil se presume um
valor absoluto de verdade, em dados casos, na confisso e no
juramento, no admitindo a prova da sua falsidade, no quer dizer
que a lgica das provas no reconhea a possibilidade de que a
confisso e o juramento, no caso concreto, possam ser fal-sos. A
lgica das provas reconhece isto; mas a lgica do direito julga
melhor, com presunes juris et de jure, dar-lhes sempre, em
determinadas condies, um valor absoluto de verdade, quer para
no demorar indefinidamente as questes, quer para que, tratando-
se de direitos particulares que licito alienar, a confisso como o
juramento, mesmo quando no correspondam verdade, possam
no entanto valer em casos apropriados como transaco ou como
renncia.
Concluindo, as provas indirectas juris et de jure em matria
civil, teem a sua razo de ser no tanto na sua eficcia probatria
real e substancial, como em motivos de direito, e no clculo da
utilidade social.
Quisemos determinar a razo de ser das provas indirectas
juris et de jure no direito civil, para nos prepararmos para a
soluo de um importante problema de crtica criminal.
Dissemos que, hoje em dia, no h quem contste que em
matria criminal se no devem admitir provas indirectas juris et
de jure. Mas quando se trata de provas juris et de jure, j
estabelecidas no nosso direito comum, j no existe repugnncia
em afirmar que elas devem ter fra probatria tambm em
matria criminal. Porque isto? Pela unidade, diz-se, do sistema
probatrio, no devendo as provas mudar com a mudana de
jurisdio.
Ter-se h acaso razo? Parece-nos que no. Esta pretendida
unidade do sistema probatrio, considerando-se em sentido geral e
literal, contestada por tdas as legislaes, pela diversa
284 A Lgica das Provas em Matria Criminal
e especfica organizao das provas em matria penal e em mat-
ria civil. Mas nste sentido a oposio no seria sria; e no
deve por isso entender-se por esta forma.
Os que contestam esta opinio entendem dever dizer que
uma e mesma coisa no podem provar-se por dois modos diver-
sos segundo as diversas jurisdies, e que quando para verifi-
cao de uma relao jurdica se afirmou como suficiente em
matria civil uma dada prova, esta mesma prova no pode, rela-
tivamente verificao daquela mesma relao, considerar-se
insuficiente em matria penal.
Ora isto verdade; mas dada uma determinada condio,
que os adversrios no tomam em considerao. Isto verdade
no caso de que a declarao da suficincia da prova civil, no
seja substancialmente contrria ao fim probatrio penal. E jus-
tamente ste o caso das provas indirectas que se denominam juris
et de jure em matria civil. Em matria civil, como vimos, so
elas declaradas tais no j nicamente por razes de eficcia
intrnseca probatria, mas por razes de direito e por clculo de
utilidade social; consideraes acessrias, estas, que no teem o
mesmo valor em matria criminal. Em matria civil aquelas pro-
vas so declaradas absolutas por isso que em matria civil s se
procura alcanar uma certeza artificial, correspondente a uma
verdade formal e hipottica; mas o fim probatrio penal a cer-
teza natura], correspondente a verdade real e efectiva da crimi-
nalidade. Eis porque as provas indirectas que so juris et de
jure para a atribuio dos direitos em matria civil, no podem
j ser tais relativamente aplicao da pena em matria criminal.
Em matria penal no pode afirmar-se a criminalidade, se
ela se no apresenta como uma criminalidade real e efectiva.
Ora a prova civil indirecta juris et de jure, no a expresso
da verdade real e efectiva; e portanto no pode servir de base a
uma condenao.
Vejamo-lo em um caso concreto, afim de aparecer mais cla-
ramente a verdade que afirmamos. Tomemos uma prova indirecta
juris et'de jure, e transportemo-la do campo civil para o cri-
minal.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 285
Em matria civil, admitindo-se a prova do matrimnio, no
impugnado, entre Ticio e Caia, o filho de Caia, afora alguns casos
determinados de impugnao de legitimidade, deve consi-derar-se
como filho de Ticio: um indcio juris et de jure, derivado do
facto indicativo da relao matrimonial entre um homem e uma
mulher; e no lcito provar o contrrio, absolutamente, seja de
que maneira fr. Em casos desta natureza nem mesmo pode
sempre ter o valor o recurso de impugnar o acto de que deriva a
prova indirecta: o acto pode ser certssimo, e consequentemente
irrefutvel, como a verdade; e a falsidade pode achar-se tda na
prova indirecta que dela se deduz, e que no pode ser combatida
em si mesma.
Ora, poder esta prova civil juris et de jure, passando para a
matria penal, legitimar uma condenao? No, absolutamente
no.
Suponhamos, na hiptese que analisamos, que Semprnio,
filho de Caia, considerado em matria civil como filho de Ticio,
porque pater is est quem justae nuptiae demonstrant, no na
realidade dos factos filho de Ticio, mas ao contrrio um filho
adulterino de Caia. Suponhamos que Ticio, acusado de parric-dio
imprprio na pessoa do seu presumido filho, comquanto se no
encontre nos casos em que lhe permitido a impugnao de
legitimidade, ainda que possua provas capazes de criarem no
esprito do magistrado a certeza moral de que Semprnio, assas-
sinado por le, no era seno um filho adulterino de sua mulher, e
que o dio entre le e ste seu presumido filho, tinha a sua
principal origem justamente na notoriedade da filiao adul-
terina.
Devereis ento pr a mscara do silncio ao pobre acusado,
e, admitindo uma falsa paternidade das leis civis, punir com os
rigores do Cdigo penal um falso parricdio? Uma filiao presu-
mida pela norma dos critrios civis dever gerar um parricdio
putativo em matria penal?
Ferguntai-o ao senso comum, no adulterado pelas subtilezas
das investigaes acadmicas; e o senso comum vos responder
resolutamente que no. A conscincia social nunca poderia
286 A Lgica das Provas em Matria Criminal
satisfazer-se com uma pena infligida por fra de uma fico jur-
dica: em tal caso, julgaria vtima o condenado, e delinqente a lei.
Mas se sustentamos que a prova civil juris et de jure no
pode valer em prejuzo do argido, necessrio porm acrescen-
tar que ela deve valer em seu favor. Compreende-se a razo
disto. Se pela condenao se recusa o valor juris et de jure
prova legal civil, porque a condenao ocorre rigorosamente
verificao da criminalidade efectiva, verificao que se no efec-
tua pela prova civil. Mas, para a absolvio, j no existe esta
dificuldade: para absolver basta a simples dvida. As provas
civis juris et de jure esto substancialmente em contradio
com a justia penal para a condenao, e por isso so rejeitadas;
no esto substncialmente em contradio para a absolvio, e
por isso so aceitas. Isto relativamente aos princpios superiores
da organizao das provas.
E esta mesma tese sustentada relativamente ao direito
escrito, quando no tenha aceitado nem rejeitado expressamente
as provas civis juris et de jure. Para a legitimidade da conde-
nao no basta que ela tenha sido proferida seeundum jus]
scriptum; deve ter sido tambm secundum justitiam. Ora, con-
denando por fra de uma prova indirecta juris et de jure, no
se tem a certeza de proceder secundum justitiam. Vice-versa,
deve pronunciar-se a absolvio, e legitimamente proferida,
quando se apresenta conforme tambm ao simples jus scriptum.
Uma vez, por isso, que a prova indirecta juris et de jure, esta-
belecida pelas leis, favorvel ao acusado, no pode postergar-se,
para condenar, sem emitir uma condenao arbitrria, calcando
uma norma geral probatria que o Cdigo de direito penal no
rejeitou expressamente.
Analisemos um caso concreto referente a esta segunda
Parte da nossa tese.
Referindo-nos mesma hiptese precedente, em que Sem-
prnio reputado como filho legtimo de Ticio, pelo indcio
juris et de jure do matrimnio, suponhamos que Semprnio
roubou ao seu presumido pai, e que ste, no existindo aco
penal por furto entre filho e pai, quer provar que Semprnio no
A Lgica das Provas em Matria Criminal 287
seu filho, afim de ser punido. Poder Ticio ser admitido a fazer
prova? No: ter contra si a relao civilmente inimpugn-vel da
filiao: pater is est quem justae nuptiae demonstrant. A lei civil
reconhece como prova inimpugnvel da filiao o-legitimo
matrimnio; no permitido insargir-se contra esta disposio
absoluta, no expressamente rejeitada pela lei penal, para infligir
uma pena que seria arbitrria e contra a lei.
Concluindo, sendo a verdade real e efectiva o fim supremo
do julgamento penal, no podem existir provas indirectas juris et
de jure; e as provas indirectas juris et de jure estabelecidas em
matria civil podem '(e devem, nos casos adequados) ter eficcia
em favor do argido, mas nunca podem t-la contra le.
E s no fim do julgamento, que, mesmo em matria penal, se
encontra uma prova indirecta juris et de jure que deve ser
reconhecida, dentro de certos limites, como legtima perante a
scincia: a presuno de verdade que surge do julgamento
definitivo. O julgamento definitivo, devido s garantias no meio
das quais se desenvolve, presume-se verdadeiro, por uma pre-
suno juris et de jure, que o torne inatacvel. No esta uma
simples presuno de verdade material, intrnseca ou extrnseca;
mas uma presuno de verdade ideolgica, que consiste em
presumir absolutamente, que o que se julgou conforme ver-
dade objectiva: res judicata pro veritate habetur.
Esta presuno em vez de ser contrria ao fim da justia,
antes necessria para a realizao daquele fim. Dando-se largo
campo a tdas as provas no decurso do julgamento; permitin-do-se
provar tudo o que se quer a favor da prpria inocncia; necessrio
comtudo que se feche uma vez ste debate entre o acusado e a
sociedade, de modo que se no permita pr mais em dvida a
inocncia do acusado absolvido, por um lado, e a criminalidade do
acusado que foi condenado, por outro. Se a justia penal no
tivesse uma sentena final, segura e definitiva, sombra da qual
se faa repousar a conscincia social, ela em vez de um
instrumento de tranqilidade, tornar-se ia, ao contrrio, uma causa
contnua de perturbao.
Mas, tambm aqui, necessrio por isso distinguir. Se as
288 A Lgica das Provas em Matria Criminal
razes polticas expostas, levam a tornar absoluta e indestrutvel
a presuno de verdade do julgado emquanto absolvio, no
teem corntudo a fra de excluir todo o limite emquanto sen-
tena condenatria. Que por razes polticas se deixe impune
mesmo o que criminoso, quando foi legitimamente absolvido;
isto no repugna conscincia social, que v em tudo isto o fim
4a tranqilidade civil e da estabilidade do direito. Mas que deva
continuar-se a atormentar com uma pena aquele que est evi-
dentemente inocente, nicamente porque foi condenado por rro,
tudo isto perturbaria profundamente a conscincia social, que,
nste caso, veria na legalidade, no j uma defesa do cidado,
mas uma ofensa ao seu direito. As razes polticas podem ter
legitimamente valor para a absolvio, mas nunca para a conde-
nao. No pode haver condenao legtima sem justia intrnseca.
Se, portanto, convm que a presuno de verdade seja abso-
luta relativamente sentena absolutria, ela deve, ao contrrio,
ter limites no que respeita condenatria. stes limites, racio-
nalmente, derivam da evidncia da verdade real em contradi-
o com a presuno de verdade da sentena condenatria.
Quando a verdade real e evidente contrria verdade
presumida da sentena condenatria, querer sustentar ainda a
inviolabilidade da sentena, seria ir de encontro aos prprios fins
da justia penal.
A verdade presumida deve, ento, ceder o campo verdade
real; fico jurdica deve substituir-se, ento, a verdade do
direito.
A verdade presumida da sentena condenatria, pode apa-
recer como evidentemente insustentvel, quer por o seu contedo
estar em contradio com o contedo de outra sentena, de
modo que uma delas tem de ser falsa; quer por se mostrarem
falsas as provas em que se baseou a convico geradora do jul-
gado; quer por se verificar a falsidade da conscincia de que
emanou o julgado; quer por se verificarem as falsidades do facto
sbre cuja existncia se baseou a sentena.
1. Quando uma sentena condenatria se acha em con-
tradio directa com outra sentena, de modo que os seus dois
A Lgica das Provas em Matria Criminal 289
contedos sejam inconciliveis, teem-se duas presunes iguais e
opostas de verdade, que se destrem. Um dos dois julgados deve
ser necessriamente falso
1
.
2. Quando uma das provas que contribuiu para criar o
convencimento, se verifica ser evidentemente falsa, no se sabendo
a eficcia que pode ter tido sbre o esprito do magistrado cada
uma das provas, a condenao apresenta-se como resultado pos-
svel da prova falsa; e por isso a presuno da veracidade do
julgado deixa de existir.
Para que, portanto, se no altere a estabilidade necessria
dos julgados, necessrio que a falsidade da prova steja bem
verificada, afim de ter fra para destruir a presuno de verdade
inherente a todo o julgado. A arte judiciria aconselha que se no
tenha, para ste fim, como verificada a falsidade da prova, seno
por meio de uma sentena do magistrado
2
.
3. Mas se a falsidade das provas destri a presuno da
verdade do julgado, com maioria de razo a destruir a falsidade
da conscincia do julgador.
Se a conscincia do juiz que pronunciou a sentena se apre-
senta certamente falsa por corrupo relativa causa, a presuno
juris et de jure de verdade da sua sentena j no pode admitir-se
3
.
Mas tambm aqui, para se no perturbar a estabilidade
1
O nosso processo, admitindo como caso de reviso a contradio da
julgados, limita-se contradio entre dois julgados condenatrios. Limita*
o arbitrria e irracional, porquanto a contradio directa e inconcilivel
pode ter lugar tambm com um julgado absolutrio. Se Ticio foi condenado
como autor de um dado facto criminoso, e posteriormente, sendo Caio pro-
cessado como autor daquele mesmo facto, se declara no ter lugar o proce-
dimento por no se ter dado o crime, podero conciliar-se as duas sentenas ?
2
Tambm aqui o nosso processo apresenta outra limitao ilgica.
No atende, para a reviso, seno ao caso de falso tstemunho. Se se trata
de uma falsa queixa, de um documento falso, de um exame falso, no h por
ventura igual razo para a reviso de uma sentena condenatria?
3
ste caso no considerado pelo nosso processo como um caso de
reviso.
19
290 A Lgica das Provas em Matria Criminal
necessria dos julgados necessrio que o rro na conscincia,
dos julgadores provenha de uma verificao irrefutvel, como a.
de uma sentena do magistrado.
Por isso admitindo-se processualmente que a falsidade da
prova, como a falsidade da conscincia do julgador, devem resul-
tar de outra sentena, para que tenham a fra de destruir a
presuno juris et de jure da verdade do julgado de condenao
anterior; segue-se, por isso, que tanto o caso da falsidade da
prova, como o da falsidade da conscincia do juiz, se resolvem
tambm em contradio de julgado. Seriam dois casos de contra-
dio indirecta dos julgados, ao passo que o examinado no>
nmero 1. seria um caso de contradio directa.
4. Finalmente a presuno de verdade do julgado nem
mesmo tem razo de ser, quando os factos sbre cuja existncia
ela se baseava se mostrara evidentemente falsos.
Ticio foi condenado por homicdio exercido sbre Caio; no
entretanto vem-se a conhecer que Caio come, bebe, dorme e ves-te-
se. Semprnio foi condenado por ter subtrado um dado objecto-a
Mrio; comtudo vem-se a saber, que Mrio conservou sempre
consigo aquele dado objecto, ou ento aparece um terceiro que
confessa ser o autor daquele facto. A presuno de verdade do
julgado deve, nstes casos, declarar-se vencida em face da evi-
dncia dos factos. verdade que nstes dois ltimos casos pode
ter-se intrometido a fraude, colocando-se de novo maliciosamente
junto do seu possuidor os objectos roubados, ou confessando-se
falsamente ter cometido o crime, para livrar o condenado. Mas
no esta uma razo suficiente para que a lgica das provas
no deva considerar tambm stes casos como compreendidos na
evidente falsidade dos factos, capaz de destruir presunes de
verdade do julgado. Competir pois arte judiciria investigar e
ensinar os meios oportunos, para que a justia social se garanta
em todos stes casos, em que h possibilidade de ser enganada
1
.
1
O nosso processo considera, como capaz de reviso, nicamente o
caso em que, depois de uma condenao por homicdio, se verificar estar
viva a pessoa que se supunha assassinada.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 291
E agora, parece trmos dito bastante quanto presuno
juris et de jure, do julgado penal.
Eesta-nos apenas uma ltima observao complementar.
Sabemos que, mesmo julgado civil, se presume verdadeiro
por presunes juris et de jure: ora, levanta-se a pergunta, se o
julgado civil deve, ou no, ter a sua fra irrefutvel em matria
penal. A resposta fcil, em vista das consideraes
precedentemente apresentadas por ns.
O julgamento civil tem em vista um fim diverso do do jul-
gamento penal: o primeiro contenta-se em alcanar a verdade
formal; o segundo pretende alcanar a verdade substancial. O
julgamento civil baseia-se por isso sbre provas, que nem sempre
podem ter o mesmo valor em matria penal; como j vimos
relativamente s provas indirectas juris et de jure, civis.
A diferena dos fins e a diferena de valor das provas nos
dois juzos leva, assim, claramente concluso, de que a pre-
suno juris et de jure de verdade do julgado civil no pode ter,
em matria penal, mais fra do que qualquer outra presuno
civil do mesmo gnero.
QUARTA PARTE
Diviso subjectiva das provas Prova real
Prova pessoal
PREMBULO
Falando das provas em geral, dissemos que no possvel,
quer emquanto ao sujeito, quer emquanto forma, determinar
a natureza das provas, no as referindo, como a um ponto fixo,
conscincia sbre que so destinadas a operar; conscincia,
que em juzo penal a do juiz com a faculdade plena de julgar,
isto , do juiz que pode absolver e condenar; por outros trmos,
do juiz dos debates finais. Ora o sujeito da prova no pode em
concreto apresentar-se perante o juiz, como perante qualquer
outra pessoa, seno por uma forma particular, que a forma da
prova. Comquanto se trate de afirmao de pessoa ou de coisa,
nunca ser possvel, em concreto, apresentar-se perante o juiz
um sujeito da afirmao, isolado de uma determinada forma de
afirmao: a pessoa que afirma nunca poder apresentar-se
conscincia do juiz, seno emquanto exterioriza a sua afirmao
pela forma do tstemunho ou do documento, que so as duas
nicas espcies formais da afirmao pessoal; a coisa que afirma
no poder, mesmo como tal, apresentar-se perante o juiz, seno
quando exteriorize a sua afirmao na forma de prova material,
que a nica espcie formal da afirmao de coisa.
For isso, se por um lado s se pode, na prova concreta con-
ceber um sujeito de prova, emquanto se revela por uma deter-
minada forma de prova; por outro, quer o sujeito, quer a for ma
A Lgica das Provas em Matria Criminal 293
da prova so, em lgica criminal, estudados e determinados
relativamente a um mesmo critrio, isto , relativamente a cons-
cincia do juiz dos debates. E portanto o estudo da prova relati-
vamente ao sujeito, no pode separar-se completamente do estudo
da prova emquanto forma. diviso, por isso, das provas em-
quanto ao sujeito, uma diviso abstracta, que encontra o seu
desenvolvimento na diviso concreta das provas emquanto
forma; e esta parte do livro, que se ocupa da diviso subjectiva
das provas, no tem prpriamente mais que o valor de um exrdio
relativo ao tratado das provas sob o aspecto formal. Isto serve
para explicar porque que, no desenvolvimento desta Parte, nos
restringiremos aos seus mais apertados limites, reser-vando-nos
para mais amplas consideraes, na Parte seguinte do livro.
CAPTULO I Diviso subjectiva
da prova em real e pessoal
Deu-se um facto no mundo: manifestou a sua vida de rea-
lidade no mundo exterior, e desapareceu. No actualmente
possvel perceber o complexo inteiro dos elementos constitutivos
daqules factos; mas necessrio em todo o caso verificar a
realidade da sua existncia passada, fazendo-o, direi assim, revi-
ver aos olhos do esprito. Por que meio ser isto possvel ?
Em primeiro lugar, todo o facto, por isso que se verificou no
meio de outras realidades, tdavia subsistentes, pode ter deixado
sbre elas vestgios mais ou menos manifestos da sua passagem,
vestgios reais e vestgios morais: so stes vestgios os grandes
reveladores do facto que passou: por meio dstes vestgios, que
se costuma chegar certeza desejada: esta a rica fonte das
provas.
So duas, conforme dissemos, as espcies de vestgios que
um acontecimento pode deixar atrs de si: reais e morais. Os
vestgios reais consistem nas modalidades de efeito que se apre-
294 A Lgica das Provas em Matria Criminal
sentam ligadas realidade inconsciente das coisas; e a coisa,
emquanto na sua inconscincia faz perceber estas modalidades,
d lugar a uma espcie de prova que se denomina real. Os ves-
tgios morais consistem, pois, nas impresses mnemnicas do
esprito humano, e distinguem-se em duas categorias conforme
essas impresses so reveladas consciente ou inconscientemente:
a revelao inconsciente das impresses mnemnicas no pode
dar lugar seno a uma prova real, por isso que o esprito, em-
quanto no possui a conscincia das suas manifestaes, le
tambm uma coisa, e no uma pessoa; a revelao consciente
das impresses mnemnicas d, ao contrrio, lugar a outra esp-
cie de prova, que se denomina pessoal.
O sujeito daquela espcie de prova que consiste nas moda-
lidades reais e de efeito da coisa, a prpria coisa, em sentido
genrico, a que a modalidade se refere; e a prova que resulta
da percepo destas modalidades inconscientemente manifestadas
a afirmao de coisa, ou, ento, prova real.
O sujeito daquela espcie de prova que consiste nas impres-
ses morais conscientemente manifestadas, a pessoa cujo esprito
conserva aquelas impresses, e as revela sabendo revel-las; e a
prova resultante da revelao consciente que faz uma pessoa das
impresses morais que se conservaram no seu esprito, a afir-
mao pessoal, ou, ento, prova pessoal.
Sob o ponto de vista dos vestgios que um facto pode ter
deixado atrs de si, h conseguintemente dois sujeitos possveis
de prova do mesmo facto: ou uma coisa que atesta, ou uma
pessoa que afirma. E a prova, sob o ponto de vista do sujeito,
divide-se por isso, em duas espcies: afirmao de coisa, ou prova
real, e afirmao de pessoa, ou prova pessoal. A. coisa produz
afirmaes apresentando, inconscientemente, percepo de quem
quer investigar, as modalidades reais que sofreu, relativas ao
facto a verificar. A pessoa produz afirmaes, revelando conscien-
temente as impresses psquicas que se conservaram no seu esp-
rito, relativamente ao facto a verificar.
Consideramos at aqui tanto as coisas como as pessoas, sob
o ponto de vista dos efeitos que um facto pode ter produzido
A Lgica das Provas em Matria Criminal 295
nelas, e do modo como, pelos efeitos sofridos, as coisas e as pes-
soas o podem revelar; e sob ste ponto de vista distinguimos as
provas em reais e pessoais. Mas necessrio observar que todo o
facto deve considerar-se, no s como uma causa relativamente
aos seus efeitos, mas tambm como um efeito relativamente s
suas causas. Todo o facto, alm de produzir efeitos, tem uma
causa que o produziu, causa fsica ou moral; e esta causa, con-
siderada no seu modo natural de ser e de potncia causal, pode
conduzir o pensamento afirmao do facto como seu efeito. Ora,
importante observar que se as provas, emquanto so uma
conseqncia do facto provado se distinguem em reais e pessoais,
so, ao. contrrio, sempre reais emquanto consistem em uma
causalidade do facto. E sempre, e sem excepo, prova real a que
resulta da percepo das modalidades de um sujeito (seja ste uma
coisa ou uma pessoa), emquanto que as modalidades so
percebidas e consideradas no como vestgios prpriamente ditos,
isto , no como efeito, mas sim como reveladores de uma
eficincia causal no sujeito, fsico ou moral, a que se ligam; como
reveladores, no sujeito, de uma eficincia causal que faz pensar no
facto como em um efeito. Do conseguintemente lugar a uma
prova real no s as modalidades da coisa reveladora de uma
eficincia causal na prpria coisa material a que se referem, mas
tambm as modalidades de esprito humano, que nle revelam a
causalidade do facto: nste ltimo caso, comquanto se trate de
modalidades simplesmente morais, a prova que delas deriva no
consiste, porm, j em uma afirmao pessoal, mas em um estado
de alma, considerado, em si mesmo, como uma realidade de facto,
considerado como uma coisa causadora daquela coisa causada, que
o facto que se pretende verificar. ste estado de esprito, que se
considera como causa, admitamos, de um delito, no sendo
possvel perceber-se directamente pelo prprio esprito,
percebido atravs da materialidade de um facto externo, que o
manifste; e ste facto externo poder ser at a palavra da prpria
pessoa, em cujo esprito se afirma a causa moral do delito. Ora,
necessrio observar que nesta ltima hiptese pode dar-se o caso
de que, por meio da palavra, a
296 A Lgica das Provas em Matria Criminal
pessoa revele conscientemente a existncia do supracitado motivo
para delinquir no seu esprito: e nessa hiptese importante
notar tambm que ser pessoal a prova da existncia do mo-
tivo causal, mas o motivo causal como prova do delito cometido
ser sempre uma prova real: aqui, a palavra consciente da pessoa
apresenta-se como destinada a fazer f da verdade da existncia
do motivo, e no j da pretendida relao que sse motivo
tem com o delito cometido; esta relao admitida pelo juiz
no sbre a f da afirmao consciente da pessoa, mas pela pr-
pria percepo que lhe apresenta um tal motivo (de cuja exis-
tncia j tem a certeza pela prova pessoal), como uma coisa que
se acha ligada, como causa a efeito, ao delito cometido; e por
isso o motivo causal, emquanto se considera em si, como prova
do delito cometido, , repetimo-lo, uma prova real. Conseguinte-
mente, um estado da alma que, emquanto se considera como
causa do delito, se faz funcionar como prova do delito cometido,
semelhante estado de alma de uma determinada pessoa, consi-
derado em si mesmo como prova, apresentar-se h sempre como
prova real, tanto quando manifestado inconscientemente, como
quando conscientemente, pela prpria pessoa. Mas segundo o
que temos dito, semelhante estado de alma considerado como
causa de um dado facto, desde que se apresenta conscientemente
revelado pela pessoa-sujeito, apresenta-se, no como uma prova
real pura, mas como um mixto de prova pessoal e real: pr-
pri
amente uma prova pessoal com um contedo de prova real.
Em concluso, o que era urgente demonstrar, e que julgamos
ter demonstrado, que da considerao das causas (que quando
tenham produzido um facto podem servir para sua prova), no
se deduz seno a noo das provas reais.
A esta espcie de provas reais, que consiste nas modali-
dades que revelam no sujeito, a que se ligam, uma eficcia
causal, a esta espcie de provas reais, dizia, pertencem tdas
aquelas provas indirectas que, sob o ponto de vista do juzo
penal, compreendemos sob o ttulo de indcios causais do delito,
quer tais indcios consistam em uma realidade fsica ou em uma
realidade moral, que se perceba como causa do delito cometido.
A Lgica das Provas em Matria Oriminal 297
Concluindo, a distino das provas em pessoais e reais
deriva da considerao dos vestgios que um facto pode deixar
atrs de si, e do modo como esses vestgios podem revelar o facto;
a considerao das causas, que tendo produzido o facto, podem
revel-lo, no faz, ao contrrio, sair do campo das provas reais.
Ora, voltando distino da prova em pessoal e real, pro-
curemos esclarecer a sua noo, determinando o seu contedo-
ntes de tudo, falando de prova pessoal, dissemos que a
prova pessoal de um facto consiste na revelao consciente, feita
por uma pessoa, das impresses mnemnicas que o facto impri-
miu no seu esprito. Ora, necessrio notar que por facto no se
entende exclusivamente um facto externo. A pessoa produz prova
pessoal mesmo quando revela conscientemente um facto interno,
j verificado na sua conscincia, como, por exemplo, revelando a
inteno criminosa que tinha ao praticar uma aco. necessrio
notar ainda que a pessoa produz prova pessoal no s quando
revela conscientemente um fecto interno do seu esprito como um
facto passado, mas tambm quando o revela como um facto
actual, revelando, por exemplo, as suas convices actuais e as
suas vontades actuais: nste caso pode parecer que j se no trata
da revelao de impresses mnemnicas, e que por isso a frmula
por ns usada ao dar a noo da prova pessoal, no seja
suficientemente compreensiva. Mas se se atender a que o
fenmeno actual do esprito tambm no revelvel seno
emquanto a conscincia dle tem a viso, e uma consequente
impresso ideolgica, segue-se que o caso da revelao de
fenmenos actuais do esprito tambm um caso de revelao de
impresses mnemnicas em sentido lato; caso de revelao de
impresses mnemnicas, relativamente funo originria da
memria, que consiste na recepo consciente das impresses
ideolgicas, e no j relativamente s funes sucessivas, pelas
quais essas impresses se conservam e so depois despertadas em
uma poca futura. Em todo o caso, o esclarecimento que aqui
apresentamos deve servir, sob ste ponto de vista, para completar
e determinar a noo da prova pessoal.
298 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Da rpida noo, precedentemente apresentada sbre o que
a prova pessoal e o que 6 prova real, deduz-se claramente que
a prpria pessoa, quando apresenta modificaes corpreas, tam-
bm ela no mais que uma coisa. Assim, o ferimento que
apresenta a pessoa fsica, no mais do que uma prova real: e
isto claro.
Mas importante notar que no s pelas modificaes
corpreas sofridas que a pessoa d lugar a provas reais. H casos
em que se trata de modificaes psquicas produzidas na cons-
cincia de uma pessoa, e por ela manifestadas, e no obstante
para falar com exactido, no h seno provas reais e no pes-
soais. Para distinguir clara e determinadamente quando as
manifestaes do esprito interno, por parte de uma pessoa, cons-
tituem uma prova pessoal e no real, necessario ter presente
que h duas condies essenciais para que a manifestao do
esprito interno constitua uma prova pessoal: essencial, em
primeiro lugar, a conscincia da manifestao; essencial, em
segundo lugar, que essa manifestao se apresente como desti-
nada a fazer f da verdade dos factos por ela afirmados. Se as
exteriorizaes do esprito humano no so conscientes, ou se as
exteriorizaes do esprito no se consideram como destinadas a
fazer f da verdade dos factos por elas manifestados, no h
prova pessoal, mas real.
Sem a conscincia dos prprios actos, o esprito humano
considerado como uma coisa, e no como uma pessoa. E, dado
um facto humano que se considera como manifestao do esp-
rito interno, a conscincia, como condio da prova pessoal, deve
ser considerada no s emquanto deve acompanhar a exterioriza-
o de um tal facto humano como facto, o que uma condio
da voluntariedade do facto; mas tambm emquanto deve acom-
panh-la como revelao do animo interno. Funcionando como
prova do esprito interno, so provas reais e no pessoais, no
s a palids, o tremor, o desmaio do argido, e qualquer outro
facto involuntrio da pessoa; mas so tambm provas reais todos
aqules factos humanos voluntrios que se empregam como prova
para revelar o esprito interno, todos aqules factos que, embora
A Lgica das Provas em Matria Criminal 299
conscientemente praticados como factos, so comtudo incons-
cientemente emitidos como revelao do esprito interno: todos
stes factos, voluntrios e involuntrios, por isso que so cha-
mados a funcionar como prova e como revelao inconsciente do
esprito interno, constituem provas reais; e provas reais desta
espcie so por isso as que ns, sob o ponto de vista do juzo
penal, classificamos sob o ttulo de indcios de efeito dos vest-
gios morais do delito.
prpria palavra, que essencialmente destinada a exprimir
as manifestaes conscientes da alma, no pode considerar-se
como prova pessoal, quando no seja destinada conscientemente a
revelar a alma. Sempre que uma exteriorizao inconsciente do
esprito, ela no pode ser seno uma prova real. No smente o
esfregar das mos da Lady Macbeth, para fazer desaparecer
aquela mancha que nelas depositra o remorso; no smente
aquele esfregar das mos, que tinha uma natureza de prova real;
mas tambm os seus terrveis desvarios de somniloqua. Ela no
apresentava, para quem a escutava, seno uma prova real, mesmo
quando, olhando a sua pequena mo sanguinria de rainha,
exclamava:
Qui sempre odor di sangue!
Lassa! tutti i profumi dell' Arabia
Giammai lenir questa piccola mano I
Non potranno. >
E sempre pela mesma razo, at a prpria confisso escrita
do delito, feita pelo argido em um momento de somnambulismo,
no ser prpriamente seno uma prova real. Sim, uma prova
real, porquanto essencial prova pessoal a conscincia da pr-
pria manifestao; nesta conscincia, que assenta a natureza
especfica da afirmao pessoal. Snprima-se a conscincia, e o
que ficar? A exteriorizao de um estado de esprito, que pode
no ser mais do que uma manifestao doentia. No maior nmero
das provas reais, que o das reais-corpreas, trata-se de modifi-
caes materiais, percebidas imediatamente sbre a prpria coisa;
trata-se aqui de modificaes espirituais, percebidas, por via me-
300 A Lgica das Provas em Matria Criminal
diata, na pessoa. Mas que se conclui disto? As modificaes espi-
rituais, como as materiais, so, do mesmo modo, inconsciente-
mente apresentadas pelos seus respectivos sujeitos percepo
do juiz.
Suprima-se a diferena acessria da manifestao, derivada
da diversa natureza dos sujeitos, pela qual o sujeito espiritual
tem necessidade de exteriorizar as suas modificaes, para as tor-
nar perceptveis, e o sujeito material apresent-las h j paten-
tes e exteriorizadas; e, parte esta diferena, tero a mesma
natureza de prova: modificaes tdas elas inconscientemente ofe-
recidas pelos prprios sujeitos percepo, e que entram por isso
na classe das provas reais. Sem a conscincia, no h seno coisa,
mesmo na parte espiritual da pessoa; e a manifestao incons-
ciente do fenmeno espiritual, por parte da pessoa-sujeito, no se
reduz seno a uma evoluo fatal do prprio fenmeno, que se
resolve em uma prova real.
Mas no s quando inconscientemente articulada ou escrita
que a palavra constiti ama prova real: nem tda a palavra
consciente uma prova pessoal. A palavra consciente, para ser
uma prova pessoal, deve apresentar-se como sendo destinada a
fazer f da verdade dos factos por ela afirmados; e s prova
pessoal emquanto se apresenta como tal.
Vimos j anteriormente que o motivo para delinquir, consi-
derado como indicio causal do delito cometido, no seno uma
prova real; observamos tambm que a existncia dsse motivo
pode ser conscientemente revelada pela prpria pessoa em cujo
esprito se afirma; e mostramos que nesse caso se obter uma
prova pessoal da existncia do motivo causador, mas que o
motivo causador como prova do delito cometido uma prova
real: e a razo est prpriamente em que a suposta palavra cons-
ciente de uma pessoa no se apresenta como destinada a fazer f
da verdade dos factos por meio dela afirmados, seno emquanto
existncia do motivo, e no j emquanto relao dsse motivo
com o delito cometido. Eis porque essa prova se apresenta no
como uma prova real pura, mas como um mixto de prova pes-
soal e real, e prpriamente como uma prova pessoal que tem por
A Lgica das Provas em Malria Criminal 301
contedo uma prova real. E diga-se entre parntesis, nste sentido
e sob ste aspecto, tdas as afirmaes indicirias de uma pessoa
so provas pessoais com contedo de provas reais, mesmo quando
teem prpriamente por contedo indcios de efeito
1
. Assim,
quando uma tstemunha vem conscientemente depr ter visto, em
seguida ao crime, fugir o argido, tem-se uma prova pessoal
emquanto verdade da fuga, e uma prova real quando se emprega
a fuga como indcio de efeito do crime consumado. E fecho o
parntesis.
Agora importa considerar que a palavra consciente no pode
considerar-se como destinada a fazer f da verdade dos factos por
ela afirmados, quando se apresenta, no como uma simples
revelao do esprito interno, mas como uma forma de concreti-
zao da realidade: e por isso, oste caso, tem-se igualmente uma
prova real e no pessoal. Nos crimes que consistem na palavra,
como na injria e na ameaa, a palavra constitutiva do crime,
suponhamos que tenha sido pronunciada perante o juiz, no ser
mais que uma prova real. Trata-se de um crime cuja existncia de
facto est na manifestao material dos pensamentos; e portanto a
palavra injuriosa, ou a palavra de ameaa, no seno o prprio
crime na materialidade da sua existncia, que se submete ao
esprito do juiz, e no j uma afirmao pessoal consciente,
destinada a convencer da verdade dos factos atestados: a palavra,
nstes casos, atendida como a concretizao do crime, e no sob
o ponto de vista de ser destinada a fazer f dos factos por ela
afirmados, ponto de vista essencial para a prova pessoal. E como a
palavra articulada, prova real a palavra escrita, quando se
considera como constitutiva do crime. Assim o escrito falsificado,
assim o libelo difamatrio, assim a carta ameaadora,
1
Relativamente s afirmaes directas de pessoa, elas, ao contrrio, por
isso que so directas, no tem prpriamente por contedo uma prova real
do delito, mas a realidade do prprio delito. A realidade do delito, considerada
em si, nunca poder em rigor chamar-se prova, em sentido especfico, do
delito, sendo ao contrrio a prpria evidncia da verdade criminosa, como
declaramos no cap. I da Parte segunda dste livro.
302 A Lgica das Provas em Matria Criminal
assim a queixa ou a denncia na calnia, assim o bilhete de desafio
no duelo, quando submetidos a juzo, no so mais do que provas
reais, por isso que representara a concretizao material do crime,
e no a revelao de um dado facto, destinada a fazer dle f.
Concluindo, as duas condies essenciais natureza da afir-
mao pessoal, so a conscincia da afirmao, por um lado, e
ser destinada a fazer f da verdade dos factos que com ela se
afirmam, por outro. assim que, completando e esclarecendo
esta noo, prova pessoal tda a manifestao consciente e
pessoal das impresses mnemnicas, destinada a fazer f da ver-
dade dos factos por ela afirmados. E mais resumidamente, cha-
mando afirmao pessoal manifestao das impresses mnem-
nicas por parte de uma pessoa, pode dizer-se: prova pessoal
tda a afirmao pessoal consciente, destinada a fazer f da ver-
dade dos factos por ela afirmados. Tda a outra prova real.
Emquanto s provas puramente reais que consistem em
manifestaes inconscientes do esprito, elas podero chamar-se
provas reais-psquicas. Mas j assim no relativamente s
outras provas puramente reais que consistem naquelas manifes-
taes do esprito que se apresentam como uma forma de con-
cretizao da realidade, e no j como destinadas a fazer f da
verdade dos factos por elas afirmados; estas ltimas provas no
so e no podem chamar-se seno provas reais-corpreas, como
tdas as outras provas prpriamente reais.
Sempre que falte a conscincia na palavra fnica ou escrita
(ou em qualquer outra forma de manifestao do esprito), sem-
pre que isso tenha lugar, entende-se que a palavra, com quanto
revele impresses mnemnicas do esprito, as revela como impres-
ses mnemnicas do esprito inconsciente na sua manifestao,
do esprito emquanto coisa, e no pessoa; e entende-se por
isso que a palavra em tal caso uma prova real. Mas se h uma
prova real, emquanto o esprito, sem conscincia, ela deve consi-
derar-se como coisa, e no como pessoa; no se trata j, pois, de
uma coisa materiall mas de uma coisa espiritual; e por isso esta
prova real, para a especificar, pode com exactido chamar-se-lhe
prova real-psiquica.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 30a
J se no d o mesmo quanto palavra articulada ou escrita
que constitutiva do crime; esta confunde-se com a multido das
provas reais-corpreas. A palavra articulada ou escrita,
constitutiva de crime, considera-se tambm como prova real, no
porque se apresente como manifestao inconsciente do esprito;
mas porque, pelo contrrio, se fsse inconsciente, no-poderia
constituir crime. Se a palavra, articulada ou escrita, que constitui o
crime, se considera como prova real, porque ela se apresenta, no
como uma simples revelao de uma modificao, que um facto
imprimiu no sujeito espiritual, mas porque se apresenta, ao
contrrio, como aco de um agente espiritual, violador do direito
de outrem. Trata-se de uma aco externa e material, violadora do
direito de outrem, que se resolve na forma de uma palavra fnica
ou escrita; trata-se de uma exteriorizao material constitutiva do
crime. A palavra, como som ou como escrita, no nste caso
seno o meio de concretizao material do prprio crime, como o
punhal que ferio, como a mecha que incendeia. Estamos
prpriamente em face da materialidade do corpo de delito; no
por isso o caso de prova real-psquica; mas prpriamente o de
prova real corprea. E se a palavra fnica ou escrita, mesmo como
crime, se refere sempre pessoa de quem deriva, ela refere-se-lhe
no como ao sujeito, cuja modificao constitutiva da prova revela,
mas como ao autor moral responsvel, como qualquer outra
materialidade produzida pelo delin-
qente, e que constitua delito.
Parece-nos, por isso, fora de dvida poder-se chamar prova
real-psquica tda a palavra inconsciente ou qualquer outra mani-
festao inconsciente do esprito; no , e no pode chamar-se
seno prova real-corprea, como tdas as outras, a palavra que
constitui o crime. Eis, assim, esclarecido o conceito da subdiviso,
que poder fazer-se, das provas reais em corpreas e psquicas.
At aqui temos procurado determinar a natureza substncial
das provai reais e das provas pessoais. Mas para completar estas
noes, necessrio determinar ainda relativamente a que se
considera a natureza destas duas espcies de prova.
A propsito disto recordemos ainda uma vez, aqui, o que
301 A Lgica das Provas em Matria Criminal
dissemos em outro lugar, repetidas vezes: a distino subjectiva
das provas, em pessoais e reais, deve considerar-se em relao
conscincia do juiz dos debates. Se assim se no fizesse, se se
atendessem as provas relativamente sua fonte originria, no
haveria seno provas reais. No h afirmao por scincia pr-
pria, que a afirmao pela qual atingem fra probatria tdas
as afirmaes consecutivas inorigiuais de uma pessoa; no h,
dizia, afirmao original de uma pessoa, que no inclua uma
prova (em sentido genrico) real, relativamente prpria pessoa
que faz a afirmao original, sob o ponto de vista do sujeito
que se lhe apresentou como fazendo prova. Temos sempre uma
prova real, relativamente ao que faz a afirmao, o qual teve a
percepo directa das coisas que refere: a voz das coisas falou--
lhe, 6 le transmite-a ao juiz. Tda a prova, nste sentido,
comea por ser real. Divide-se depois em pessoal e real, segundo
o sujeito que afinal se apresenta perante o juiz produzindo a
certeza no seu espirito; e ste o momento, em que se estuda
a natureza subjectiva das provas, e se distinguem as suas classes.
De resto, se ns, para distinguir a prova pessoal da real,
consideramos o sujeito que em concluso se apresenta para pro-
duzir a certeza no espirito do juiz, no quer isso dizer que, para
obtrmos a prova pessoal, exijamos a presena material em juzo
da pessoa que faz a afirmao; no. H formas de afirmao de
pessoa, que se destacam materialmente da pessoa que afirma,
ficando moralmente ligadas a ela: o escrito, como declarao
consciente, encarna em si a afirmao de uma pessoa, mesmo
depois de separado da pessoa fsica que afirma; e por isso sem-
pre que o escrito uma manifestao consciente pessoal, desti-
nada a fazer f dos factos nle afirmados, sempre uma prova
pessoal, comquanto a pessoa fsica no comparea em juzo.
O juiz, nste caso, por detrs da materialidade do escrito, ver
sempre a pessoa moral do que afirma; e por isso sempre como
declarao consciente da pessoa, que o escrito ter fra de prova
no seu esprito.
E agora, que nos parece ter esclarecido a noo das provas
reais e das provas pessoais, julgamos til voltar atrs ao exame
A Lgica das Provas em Matria Criminal 305
de uma das nossas premissas. Ns, atendendo a que ao conheci-
mento de um facto, que j no existe, se pode chegar pela con-
siderao das suas causas e dos seus efeitos; do exame dos efeitos
em sentido generalssimo, do exame dos vestgios morais e reais
que o facto deixa atrs de si, deduzimos que, havendo simples-
mente dois sujeitos possveis de prova, a pessoa consciente ou a
coisa inconsciente, as provas, sob o ponto de vista do sujeito, se
dividem em pessoais e reais. Apraz-nos agora considerar de novo
como que um facto, que j no existe, pode ser revelado pelas
suas causas e pelos seus efeitos.
Relativamente ao que o facto indica, ligando-se-lhe como
causa a efeito, no necessrio falar em particular, mais desen-
volvidamente. Uma coisa s pode revelar o seu efeito pelo seu
modo natural de ser. O estilete triangular, que se apresenta como
indcio causal relativamente ferida que apresenta o ofendido, s
aparece como causa dsse efeito, devido ao seu modo natural de
ser, e no por uma modificao que tenha sofrido.
Emquanto aos efeitos do facto, dissemos que les se resol-
vem em vestgios morais e vestgios reais.
Emquanto aos vestgios morais, tambm nos no parece
necessrio gastar mais palavras. J dissemos, que les nascem da
percepo do facto por parte do esprito humano, e se con-
cretizam nas impresses mnemnicas, que se conservam no esp-
rito de uma pessoa: quando estas modificaes do esprito interno,
so reveladas conscientemente pela pessoa, teem-se as provas
pessoais; e quando, pois, so inconscientemente reveladas, tem-se
aquela categoria particular de provas reais, por ns designada
pela denominao de provas reais psquicas.
E conveniente por isso, detrmo-nos um pouco na conside-
rao dos vestgios fsicos, isto , dos efeitos reais corpreos, que
o facto deixa atrs de si.
Um efeito pode fisicamente revelar a sua causa, quer pela sua
modalidade natural, quer por alteraes produzidas na sua
modalidade.
Deixando de parte o caso, que demonstramos ser rarssimo,
de uma coisa revelar a sua causa pela sua modalidade natural,
20
306 A Lgica das Provas em Matria Criminal
parece-nos til insistir ainda sbre o que dissemos noutra parte,
relativamente hiptese de que uma coisa revele a sua causa
por uma alterao produzida no seu modo de ser, isto , por uma
modificao fsica
1
.
Para que uma nova realidade entre materialmente na|
coexistncia de outras realidades, necessrio uma espcie de
adaptao fsica da primeira ao meio das outras. Todo o facto
em geral, por isso, e todo o delito em especial, no decurso da
sua realizao no espao, vem de encontro s outras realidades
existentes, produzindo modificaes fsicas. Estas modificaes s
podem ser de duas espcies: modificaes emquanto ao modo de
ser, modificaes emquanto ao lugar, alteraes e locomoes.
Examinai, pois, tdas as provas reais, directas e indirectas, que
consistam em modificaes fsicas, e no encontrareis seno coisas
alteradas e coisas deslocadas.
O cadver, o ferimento, a casa incendiada, e outras coisas-
semelhantes, so provas directas por alterao. A pessoa seques-
trada, encontrada na priso arbitrria de um particular, a coisa
roubada, achada na casa do ladro, e coisas semelhantes, so
provas directas por locomoo.
O cabelo do acusado, encontrado junto do local do crime,
uma prova indirecta por locomoo. A gua suja de cinza, encon-
trada na bacia do acusado de incndio, uma prova indirecta
por alterao.
Quando se trata, portanto, de modificaes materiais, fisica-
mente perceptveis, elas consistem nicamente em alteraes e
locomoes das coisas.
E tambm importante observar que, quando se trata de
coisas materiais que o delinqente fz entrar, na qualidade de
meios, na ordem da sua prpria actividade criminosa, e que por
isso funcionam como indcios causais do delito, como no caso do
um punhal e de uma alavanca, que se consideram como agentes
1
Veja-se, relativamente a ste assunto, na Parte terceira, o cap. III e
o art. 4..
A Lgica das Provas em Matria Criminal 307
causais da ferida e do arrombamento da porta; necessrio, dizia
eu, observar que esta espcie de coisas materiais que se ligam,
como causa e efeito, a um dado facto, no encontram a sua
eficcia probatria, seno quando correspondem a uma alterao
ou locomoo produzidas. O punhal s tem eficcia probatria,
quando a forma da ferida, alterao fsica da pessoa, corresponde
a le. alavanca s tem eficcia probatria, quando a porta
frada e os vestgios do esfro feito nesse sentido, alteraes
fsicas das coisas, lhe correspondem. posse de um determinado
veneno s tem eficcia acusadora, quando a alterao fsica do
organismo da vtima do envenenamento, alterao derivada da
natureza do veneno ingerido, se harmoniza com a natureza do
veneno possudo. Se Ticio acusado de ter roubado coisas que se
no podem transportar seno por meio de um carro, e no seu ptio
se encontra, contra o costume, um carro, ste carro s ter eficcia
acusadora contra Ticio, por corresponder suposta locomoo
das coisas. E assim por diante.
E basta quanto a natureza dos vestgios de que podem
derivar as provas.
J mencionamos em uma Parte precedente, e desenvolvere-
mos na Parte seguinte dste livro, como que o fundamento da
credibilidade da prova pessoal se encontra na presuno de vera-
cidade das pessoas, isto , na presuno de que as pessoas se no
enganam nem querem enganar; e veremos tambm em seguida,
como em concreto a prova pessoal deve ser avaliada
subjectivamente.
J anteriormente mencionamos, e veremos tambm em se-
guida, como o fundamento da credibilidade das provas reais a
presuno da verdade das coisas, presuno que se funda na
crena de que as coisas sejam ordinriamente tais quais parecem
ser, e no se encontrem falseadas por obra maliciosa do homem; e
veremos tambm, em seguida, como a prova real deve ser, em
concreto, avaliada subjectivamente.
Resta-nos simplesmente fechar ste captulo; e parece-nos
no ser intil fech-lo com uma considerao de ndole comple-
mentar, relativamente a uma condio do sujeito probatrio, em
308 A Lgica das Provas em Matria Criminal
certos casos necessria, para que o vestgio real, ou moral, tenha
eficcia de prova: esta condio assenta na identificao material
do sujeito das provas.
Comecemos pelas provas reais. Dissemos j que as coisas
modificadas s podem revelar o delito por locomoo ou por
alterao.
Ora, quando as coisas so reveladoras pela sua locomoo,
para que tenham fra de prova, ordinriamente de grande
importncia a sua identificao. Tratando-se, ao contrrio, de
provas que consistem em alteraes das coisas, a identificao
no tem ordinriamente importncia.
Por outros trmos:
Para que a coisa seja reveladora por locomoo ou por alte-
rao, necessrio que se tenham verificado tanto a primeira
modalidade como a segunda. Ora, para verificar a locomoo,
necessrio ordinriamente provar que a coisa que se encontra em
um lugar, justamente a que se achava em outro; isto ,
necessrio identific-la. Quando se trata, ao contrrio, de alte-
raes, no se faz entrar ordinriamente em discusso a identi-
dade da coisa alterada; para a eficcia da prova no , por-
tanto, ordinriamente importante a identificao; costuma ser
importante, ao contrrio, precisamente o oposto; freqentemente
necessrio, direi assim, desidentificar parcialmente a coisa; isto
, provar que a coisa no tinha, anteriormente aco crimi-
nosa, aquela tal modificao, que se julga ser reveladora do delito.
No resta portanto ordinriamente, no caso de provas reais por
alterao, mais do que observar a alterao em si, para vr se
tem aquela natureza acusadora que se lhe atribui. S no caso de,
extraordinriamente, ter sido posta em discusso a identidade da
coisa alterada, s ento, ser necessrio recorrer identificao.
Relativamente, pois, s afirmaes pessoais, se elas se concre-
tizam na palavra fnica, nunca poder dar-se identificao alguma,
porquanto a palavra fnica, sendo inseparvel da pessoa fsica
que a profere, nunca poder pr-se em dvida a sua autenticidade.
Se, portanto, se concretizam na palavra escrita, ento o escrito,
sendo uma materialidade da manifestao, que se destaca da pes-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 309
soa fsica que o escreveu, segue-se que esta pode impugnar a sua
autenticidade, fazendo aparecer assim a necessidade da identi-
ficao tambm para esta espcie de prova pessoal.
E limitar-nos hemos a esta caracterstica generalssima da
identificao material do sujeito das provas, pois que o desen-
volvimento desta matria nos faria sair do nosso campo, condu-
zindo-nos para o da arte criminal.
CAPITULO II
Presena em juzo do sujeito Intrnseco da
prova: Originalidade
Atendendo a que, em concluso, se no pode materialmente
apresentar a figurar como prova em juzo seno uma pessoa ou
uma coisa, dividiram-se por isso as provas em pessoais e reais,
precisando o contedo destas classes com as determinaes que a
razo aconselha. Ora, esta diviso subjectiva das provas, refere-se
ao sujeito que a prova pode apresentar considerada extrin-
secamente, na forma em que se pode concretizar em juzo. Mas a
prova tambm pode ser considerada por outro modo; pode ser
considerada intrinsecamente, na substncia probatria do seu con-
tedo. Ora, o sujeito da prova intrnseca, nem sempre coincide
com o sujeito da prova extrnseca; e se a simples apreciao do
sujeito da prova extrnseca, conduz diviso das provas em pes-
soais e reais, a considerao ulterior do sujeito da prova intrn-
seca, leva a sua diviso em originais e no originais.
Ticio, como pessoa consciente, vem expor em juzo a scena
do delito, como lhe foi narrada por Caio, que a viu com seus olhos.
Considerando extrnsecamente o depoimento de Ticio, vemos que
uma afirmao que tem por sujeito uma pessoa, e prpriamente
a pessoa de Ticio, que vem depor material e conscientemente em
juzo, e tanto basta, para se considerar esta afirmao como afir-
mao de pessoa, como prova pessoal. Mas se considerarmos esta
afirmao de Ticio intrinsecamente, na substncia probatria do
310 A Lgica das Provas em Matria Criminal
seu contedo, verificamos que a verdadeira prova do delito,
a afirmao de ter sido presencial por parte de Caio, e que o
depoimento de Ticio, que refere o que Caio lhe contou, no
prpriamente prova do delito, mas uma prova da prova do delito;
a afirmao de Ticio s serve para provar a narrativa de Caio,
em que consiste substancialmente a prova do delito. O sujeito
da prova, extrlnsecatnente considerado, como se apresenta em
juzo, Ticio que se apresenta a depor, como pessoa consciente;
o sujeito da prova, intrinsecamente considerado, Caio que pre-
senciou o delito, e cuja afirmao a que constitui prpriamente
a prova do delito. Pela simples considerao do sujeito extrn-
seco, a afirmao de Ticio uma afirmao de pessoa; pela con-
siderao ulterior do sujeito intrnseco, no presente em juzo, a
sua afirmao uma afirmao no original. A afirmao de
Ticio teria original, se nela o sujeito extrnseco coincidisse com
o sujeito intrnseco, se Ticio, que se apresenta a depor em juzo,
depuzesse sbre o que le prprio vira, e no sbre o que lhe foi
contado.
A originalidade da prova, portanto, no mais do que
uma condio subjectiva da prova, considerada na sua substn-
cia; no seno a ligao da prova, intrinsecamente conside-
rada, ao sujeito; no seno a presena, em juzo, do sujeito
intrnseco da prova; no , por outros trmos, seno a identi-
dade do sujeito extrnseco e do sujeito intrnseco da prova.
Vejamos breve e distintamente como se concretiza a origi-
nalidade tanto pela afirmao de coisa, como pela afirmao de
pessoa.
Emquanto afirmao de coisa, necessrio principiar por
relembrar a subdistino que dela fizemos nas suas subespcies
de provas reais-corporais e provas reais-psquicas, para vr dis-
tintamente, em relao a umas e outras, como se realiza a ori-
ginalidade.
Para as provas reais-corpreas, no existe seno um nico
modo de percepo da modalidade material, como aderente ao
sujeito corpreo; a presena efectiva do corpo cuja modalidade
probatria se percebe. Assim, o corpo morto, o corpo ferido, o
A Lgica das Provas em Matria Criminal 311
punhal manchado de sangue, quando so directa e imediatamente
percebidos, so provas reais-corpreas originais. I E provas reais-
corpreas, como vimos no captulo precedente, tambm originais,
so o escrito difamatrio, o escrito falsificado, e outras
raateriaidades da palavra fnica ou escrita, em que se concretiza o
crime.
I Passando a considerar as provas reais-psqnicas, que consistem
nas manifestaes inconscientes do pensamento, a originalidade
pode concretizar-se de dois modos.
Em primeiro lugar, a palavra fnica, como prova original, s
pode ser considerada quando pronunciada perante o juiz. Ora,
considerando assim a palavra inconsciente, e considerando igual-
mente o escrito inconsciente, como escrito perante o juiz, e, em
geral, considerando como produzida perante o juiz qualquer outra
manifestao inconsciente do esprito interno, tem-se uma pri-
meira espcie de originalidade, que a mais perfeita; a ligao
imediatamente percebida da manifestao material do pensamento
ao seu sujeito, que o homem, no complexo ntegro de corpo e
alma. Assim, a palidez do ru, o seu tremor, as suas palavras
proferidas de um modo hesitante; estas e outras provas reais--
psquicas, se teem lugar em juzo, so provas originais pela
ligao inteira com o sujeito que se acha em juzo.
Dissemos que a palavra fnica, sendo uma forma passageira
de uma manifestao, que nasce e morre com o som da voz
humana, s pode apresentar-se como prova original, na sua ime-
diata ligao com a pessoa fsica que a profere, em vez de se
apresentar como ligada pessoa psquica, a quem pertence o
pensamento que se exterioriza pela palavra. O escrito, ao con-
trrio, como qualquer outra forma de manifestao do esprito,
que se fixa duradouramente em uma materialidade distinta da
pessoa, pode apresentar-se, por meio desta sua vida individual e
distinta, separado da pessoa fsica de que emana, e eis aqui outra
forma menos perfeita da originalidade da prova real-psquica.
Depois de trmos anteriormente dito, que a originalidade a
presena do sujeito probatrio, no parea, agora, que nos
312 A Lgica das Provas em Matria Criminal
contradizemos, afirmando a possibilidade de uma prova original
separada do sujeito. Ns falamos simplesmente de separao do
sujeito fsico. necessrio atender tambm a que, pela natureza
especial das provas constitudas pela manifestao material do
esprito, mesmo quando o escrito, ou qualquer outra forma per-
manente de manifestao, se apresenta desligada do sujeito fsico,
ste aparece sempre ligado ao sujeito psquico, que o seu sujeito
original, isto , o esprito humano, de quem se apresenta, em
juzo, como modificao manifestada materialmente; nste esp-
rito do escritor, nesta presena ideolgica do sujeito psquico, a
quem pertence o pensamento que se encarna no escrito, nesta
presena ideolgica do sujeito, que est a originalidade do
escrito que o juiz examina: eis, portanto, a segunda espcie de
originalidade da prova. real-psquica, segunda espcie que pode
chamar-se imperfeita: a ligao da prova nicamente ao sujeito
psquico. Assim, um escrito, redigido inconscientemente fora do
juzo, e que se apresenta ao juiz, uma prova original da
segunda espcie. E basta, relativamente s provas reais-ps-
quicas.
Eis indicados por esta forma os modos de concretizao da
originalidade da prova real, tanto corprea como psquica.
Emquanto prova real no original, basta dizer uma s
palavra. Fundando-se a classificao subjectiva das provas sbre
a natureza que elas apresentam perante quem tem de julgar; a
prova real, prpriamente dita, no podendo ser apresentada
inoriginalmente perante o juiz seno como contedo da afirma-
o de uma pessoa, segue-se que para ns no existe verdadeira
prova real no original. Se a pessoa que vem conscientemente
referir ao juiz as suas percepes das coisas, no se tem mais
que uma prova pessoal. Quando se fala, por isso, de prova real
em sentido especfico, entende-se sempre falar de prova real ori-
ginal. No podendo obter-se uma pura afirmao de uma coisa,
seno quando a prpria coisa, na inconscincia que sua caracte-
rstica, apresenta uma materialidade probatria imediata per-
cepo do juiz, segue-se que, em matria de prova real prpria-
mente dita, o sujeito extrnseco e o sujeito intrnseco da prova
A Lgica das Provas em Matria Criminal 313
so sempre idnticos entre si, e por isso a prova real sempre
original.
Esta prova essencialmente original, que chamamos real sob
o ponto de vista do sujeito, a mesma que chamamos material
sob o ponto de vista da forma da sua manifestao. Mas se, sob o
ponto de vista do sujeito, a prova real se subdivide em real--
corprea e real-psquica, conforme pode ter por sujeito uma coisa
material qualquer, ou mesmo o esprito humano; sob o ponto de
vista da fornia, ao contrrio, esta espcie de prova, derivada da
percepo directa das coisas, sempre material: mesmo quando a
prova tenha uma origem espiritual, ela no perceptvel se no se
concretiza em uma dada materialidade. A prova real, quer
corprea, quer psquica, emquanto ao sujeito, ser sempre mate-
rial quanto sua forma de se manifestar. Sob o ponto de vista da
forma, teremos ocasio de nos ocuparmos mais largamente desta
espcie de prova.
Passemos agora a considerar, como que se concretiza a
originalidade para a afirmao de pessoa.
So precisamente as provas pessoais, que se dividem em
originais e no originais. Como a pessoa que afirma, na conscin-
cia distintiva das suas afirmaes, pode afirmar distintamente
tanto as prprias percepes sbre o facto que se quer verificar,
como as percepes alheias que lhe foram relatadas, segue-se que,
em matria de afirmao de pessoa, o sujeito extrnseco que
apresenta a prova em juzo, nem sempre uma mesma coisa jun-
tamente com o sujeito intrnseco da mesma prova. Ora quando
existe identidade entre o sujeito extrnseco e o intrnseco, isto ,
quando a pessoa, de que provm a afirmao em juzo, afirma o
que ela mesma percebeu relativamente ao facto que se quer veri-
ficar, a sua afirmao original; quando, ao contrrio, h dife-
rena entre o sujeito extrnseco e intrnseco, isto , quando a
pessoa, de que provm a afirmao em juzo, no afirma seno o
que lhe foi narrado por outrem relativamente s suas percepes
do facto, a sua afirmao no original,
A afirmao de uma pessoa s pode, portanto, considerar-se
original, quando se refere a um contedo percebido directamente
314 A Lgica das Provas em Matria Criminal
pela pessoa que afirma: s afirmao original de pessoa a sua
afirmao de scincia prpria; a pessoa no afirma originalmente
seno o que pessoalmente percebeu.
Posto isto, vejamos as formas por que pode concretizar-se
|a Originalidade da afirmao de pessoa.
Conforme vimos quanto s manifestaes inconscientes da
pessoa, que constituem provas reais-psquicas, tambm a afirma-
o consciente da pessoa por scincia prpria pode ter duas for-
mas de exterioridade: pode ter a forma transitria da palavra
fnica, forma fugaz que nasce e morre com a voz da pessoa; e
pode ter a forma permanente tanto do escrito, como de qualquer
outra matria. Estas duas formas de exteriorizao do lugar a
dois modos diversos de originalidade.
Quando a afirmao de pessoa por scincia prpria se exte-
riorisa na palavra fnica, temos a primeira e mais perfeita forma
de originalidade; temos a ligao da afirmao ao seu completo
sujeito intrnseco, pessoa fsica e moral conjuntamente, de que
considerada no seu conjunto, deriva a afirmao por scincia
prpria. O juiz, percebendo a afirmao, percebe, ao mesmo
tempo, directamente a sua gnese da pessoa fsica e da pessoa
moral: est nisto, em matria de provas pessoais, a superioridade
da prova oral sbre tdas as outras. E intil dizer, que quando
a afirmao por scincia prpria, comquanto no oral, fsse com-
tudo escrita perante o juiz, ela teria o mesmo valor de origina-
lidade da afirmao oral.
Mas quando, por isso, a afirmao por scincia prpria de
uma pessoa se exterioriza na forma permanente do escrito, ento,
fixando-se duradouramente em uma materialidade separada da
pessoa, pode apresentar-se ao juiz separadamente da pessoa de
que provm; e assim que normalmente ela se apresenta. Por
detrs da materialidade do escrito que se l, percebe-se o esp-
rito de quem o escreveu, ou seja o sujeito intrnseco espiritual
da afirmao de pessoa por scincia prpria; porquanto, pela
simplicidade do esprito humano, no pode perceber-se o pensa-
mento de uma pessoa, sem perceber o esprito que pensa. E
esta presena da simples pessoa moral, referindo o que conhece
A Lgica das Provas em Matria Criminal 316
por scincia prpria, a presena dste sujeito intrnseco espiri-
tual, que d originalidade a esta forma de afirmao de pessoa.
Mas sempre uma originalidade menos perfeita; por isso que o
sujeito da prova no se acha presente na sua ntima comunho de
esprito e de corpo; acha-se apenas ideolgicamente presente na
sua parte espiritual.
Esta segunda maneira de originalidade, determinada pela
presena da pessoa moral desligada da pessoa fsica, consideramo-
la relativamente ao escrito, que a mais perfeita das formas
permanentes de manifestao do pensamento. Mas no quer isto
dizer, que seja esta a nica forma possvel de exteriorizao per-
manente da afirmao de pessoa; no, outras h; o marco de
pedra, as insgnias dos brazes, um monumento sepulcral, uma
cruz colocada no lugar onde se sepultou um homem, com quanto
formas defeituosas de afirmao pela indeterminao do seu signi-
ficado, so, comtudo, tdas elas formas permanentes da afirmao
de pessoa; porquanto em todos os casos supracitados no significa
isso que as coisas modificadas, no com o fim de afirmao,
tenham por si mesmo uma significao reveladora, hiptese em
que se trataria de afirmao de coisa; trata-se, ao contrrio, de
coisas modificadas com o fim de afirmaes; a coisa no mais
que um meio de que se serve conscientemente a pessoa para
produzir duradouramente uma determinada afirmao. E, por isso,
a segunda maneira de originalidade da afirmao de pessoa refere-
se, portanto, no s ao escrito, mas tambm a tdas aquelas
formas menos perfeitas de afirmao, que consistem na
exteriorizao e fixao do pensamento em uma materialidade
permanente qualquer, diversa do escrito.
Em quanto afirmao no original de pessoa, dissemos, que
ela no prpriamente uma prova, mas a prova de uma prova.
Quando Ticio vem afirmar no as suas percepes do facto que se
quer verificar, mas as percepes de Caio, que por ste lhe foram
narradas, a verdadeira prova do facto a afirmao de Caio; e a
afirmao de Ticio no atesta o facto, mas atesta ao contrrio, a
prova que serve para o atestar; no , portanto, prova
relativamente quele facto, mas prova de prova. A prova
316 A Logica das Provas em Matria Criminal
no original, no sendo mais que uma prova de prova, apresenta
uma dupla possibilidade de rro, a possibilidade inerente a si
prpria, e a inerente prova original que contm. A no origi-
nalidade pode ser de um, de dois e mais graus: o tstemunho
de Ticio pode ter por contedo, no a declarao original de
Caio, mas o tstemunho igualmente no original de Semprnio,
a quem foi feita a declarao original de Caio, e que a contou a
Ticio; e assim por diante. medida que aumentam os graus de
no originalidade, aumenta igualmente a possibilidade de rro:
como no tstemunho no original de primeiro grau, possibili-
dade de se enganar e de querer enganar da primeira tstemunha,
se junta sempre a possibilidade de se enganar e de querer enga-
nar da segunda tstemunha, assim tambm possibilidade enga-
nadora da segunda tstemunha se veem juntar a da terceira, da
quarta, e assim por diante, medida que aumentam os graus de
no originalidade. A prova no original por isso sempre infe-
rior prova original; e medida que aumentam os graus de
no originalidade, crescendo a possibilidade de rro, e afastan-
do-se sempre cada vez mais do facto a verificar, cresce a infe-
rioridade da prova no original, at perder qusi todo o valor.
Relativamente deminuio do valor das provas no originais
proporo que aumentam os graus, ptima a comparao que
se faz com a deminuio da visibilidade atravs de maior numero
de chapas de vidro: um corpo que se via distintamente atravs
de uma s chapa de vidro, distingue-se cada vez menos clara-
mente medida que se vo interpondo outras chapas de vidro;
e quando estas tenham chegado a um dado nmero, acaba-se por
perder completamente a possibilidade de vr.
Mas vejamos qual a especialidade em que pode concreti-
zar-se a no originalidade da afirmao de pessoa.
As possibilidades de no originalidade da afirmao de uma
pessoa so quatro; duas referentes hiptese da no originali-
dade em forma oral, duas referentes hiptese da originali-
dade em forma escrita. Se a afirmao original de pessoa 6 oral,
ela pode ser transmitida no originalmente, tanto por meio de
outra afirmao, oral, como por uma afirmao escrita. E assim
r
A Lgica das Provas em Matria Criminal 317
conseguintemente, se a afirmao original escrita, pode ser
transmitida no originalmente tanto em forma escrita como em
forma oral.
Vejamos em especial cada uma destas espcies da no ori-
ginalidade :
1. Se o tstemunho original oral, pode ter-se em primeiro
lugar a sua transmisso no original mesmo oralmente. Ticio teve
a percepo directa de um facto; Caio ouviu a narrao de Ticio, e
vem referi-la em juzo; eis aqui um tstemunho no original de
primeiro grau. possibilidade de engano e de vontade de enganar
da primeira tstemunha vem juntar-se a da segunda; e se mais
graus houvesse, seria necessrio acrescentar cada vez mais
possibilidade de rro.
E a possibilidade de engano torna-se, pois, incalculvel,
quando a cadeia dos ouvi dizer se perde no ignoto; o caso da
voz pblica, ou fama pblica, ou notoriedade, se assim lhe
querem chamar. A tstemunha primitiva original no mais que
uma hiptese misteriosa. em vo que se inquirem as mil vozes
particulares, de que se compe a voz pblica; os mil pequenos
sussurros, de que se compe o grande sussurro que a
notoriedade; os mil rumores de ignota provenincia, cujo eco
inexplicvel e irresponsvel a fama pblica: tdas aquelas vozes,
todos stes sussurros, todos stes rumores, no conseguiro revelar
a sua filiao legtima, a sua permanncia de um tstemunho de
scincia prpria. o cmulo da no originalidade da afirmao de
pessoa: a no originalidade annima.
O primeiro a lanar no espao aquela dada voz, que em
seguida o eco popular repete e multiplica at ao infinito; o pri-
meiro a contar aquela determinada histria, que depois se apre-
senta sob o passaporte da impunidade que trs comsigo a fama
pblica; o primeiro que diz ter ouvido, no por vezes seno uma
falsa tstemunha; os, que se arvoraram em propagadores de
novidades so freqentemente uns incrdulos: a aliana do delito
de um com a credulidade tagarela de mil, eis o que por vezes a
chamada voz pblica, notoriedade, fama pblica. Nste caso, com
a multiplicao epidmica da tstemunha original,
318 A Lgica das Provas em Matria Criminal
passa-se o mesmo que com a da moeda falsa: esta fabrica-a o
delinqente; e posta em circulao muitas vezes por gente fcil
e de boa f.
Desde que Ticio diz ter ouvido a Caio, tstemunha de cin-
cia prpria, ou ento Caio afirma por sua vez, ter ouvido a
Mevio, tstemunha originria de scincia prpria, ter-se ha uma
afirmao no original do primeiro ou do segundo grau, e assim
por diante; mas ser sempre uma afirmao que se transmite
por meio de pessoas determinadas, e que tem a sua origem
segura na afirmao original de uma pessoa determinada, como
a de Caio ou de Mevio. Ser questo da credulidade de
Mevio, de Caio, de Ticio, para se acreditar no que les tenham
afirmado, o primeiro, suponhamos, por scincia prpria, e os
outros relativamente por ouvir dizer; mas sendo havidos como
dignos de crdito tanto Mevio, como Caio e como Ticio, dever-se
h lgicamente acreditar no delito ou no indcio do delito,
segundo o diverso contedo dos seus depoimentos. Admitamos
que Mevio e Caio morreram; o tstemunho, por si crvel, de
Ticio, apoiado nas narraes, por si crveis, de Caio e Mevio,
conduzir sempre f no contedo da afirmao, segundo a sua
diversa natureza, como em uma prova directa ou indirecta.
Quando, ao contrrio, a no originalidade da tstemunha
se perde no annimo, ento o seu contedo, quer seja directo
quer indirecto, ter apenas o simples valor de indcio. Esta voz
pblica, cuja paternidade se ignora, ste tstemunho multiforme,
e sem um perfil determinado, que constitui a fama pblica,
mesmo quando afirme directamente o facto criminoso, no tem
em si uma credibilidade tal que possa originar, relativamente a
le, a certeza directa.
No pode haver quem, baseando-se na voz pblica, possa
organizar um raciocnio to acertado, como o das provas direc-
tas : creio na verdade das provas, creio, portanto, necessriamente
na verdade da coisa provada. No se poder, ao contrrio, seno
raciocinar sempre assim: existe esta fama pblica, cuja credibili-
dade fundamental ignoro, visto ignorar a sua origem: o que
deve deduzir-se daqui, emquanto verdade do delicto ? E por isso
A Lgica das Provas em Matria Criminal 319
a voz pblica, mesmo quando tenha por contedo o delito, e , sob
ste aspecto, prova directa, no funciona, sob o ponto de vista do
seu valor probatrio, seno como um indcio simples e duvidoso.
Bis a razo porque os tratadistas s falam, inexactamente, da voz
pblica a propsito de indcio; ao passo que, ao contrrio, a voz
pblica normalmente no tem importncia alguma, a no ser
quando tenha por contedo prpriamente o delito. Assim, se ela
em vez de ter por contedo prpriamente o delito, tivesse por
contedo um facto diverso, que se chama para funcionar como
simples indcio do delito, quer-me parecer que a voz pblica no
teria direito a merecer considerao alguma; porquanto o indcio,
para se apresentar entre as provas, no deve deixar lugar a que se
levante qualquer dvida sbre a veracidade do facto indicador.
Ora, quem sabe se a fama pblica teve a sua origem em um dito
falso posto em circulao, ou se em uma afirmao verdica do
facto indicador! Qual o meio de o descobrir? Como subir s
ignotas origens?
2. Considerando sempre como oral a afirmao original,
pode ter-se, em segundo lugar, a transmisso no original por
escrito. Ticio, tstemunha por scincia prpria de um facto, con-
ta-o a Caio; Caio escreve, por sua vez, por ouvir dizer, a narrao
daquele facto: eis aqui uma afirmao no original escrita, do
primeiro grau, de uma afirmao oral.
3. Passemos hiptese da afirmao original escrita. Esta
pode, em primeiro lugar, ser transmitida no originalmente pela
forma oral. Ticio vem contar em juzo, o que leu, relativamente a
um dado facto, em um escrito que lhe caiu sob os olhos; em um
escrito proveniente de uma tstemunha de scincia prpria
daquele facto: eis aqui uma afirmao no original oral, do pri-
meiro grau, de uma afirmao original escrita.
4. Na mesma hiptese da afirmao original escrita, pode
haver, em segundo lugar, uma afirmao no original tambm
escrita. Ticio escreve o que leu em um dado escrito. afirmao
escrita de Ticio, considerada relativamente afirmao ori-j ginal
que reproduz, constitui uma cpia em sentido genrico. Mas,
atendendo ao diverso modo particular como esta cpia em
320 A Lgica das Provas em Matria Criminal
sentido genrico reproduz a originalidade, h assim diversas espe-
cialidades : a cpia, em sentido genrico, pode apresentar-se como
uma reproduo material completa, e tem-se a cpia em sen-
tido especfico; pode apresentar-se como reproduo material,
na parte que se refere a um dado objecto, e tem-se o extracto,
material; ou pode apresentar-se, finalmente, como uma reprodu-
o ideolgica, quer no todo quer em parte, e temos o extracto
ideolgico. Quando, pois, a reproduo do escrito original tenha
sido feita em lngua diversa, tem-se a traduo: cpia em sen-
tido especfico, extracto material, ou extracto ideolgico, do ori-
ginal, em lingua diversa da original.
Eis mencionadas, por esta forma, e determinadas as espcies
de originalidade da prova pessoal.
Emquanto prova real, mostramos como ela nunca pode
ser no original. As coisas s podem atestar emquanto, na sua
inconscincia, submetem as prprias materialidades probatrias
imediata observao do juiz; e, nesta hiptese, entende-se como
a prova real sempre original. Se, portanto, as coisas se subme-
tam observao imediata de uma pessoa, diversa da do juiz, e
que a ste refere as impresses que recebeu das coisas, ento
relativamente ao juiz j se no tem uma prova real, mas pes-
soal; a voz das coisas falou pessoa, e esta transmite-a ao juiz.
A prova real, que s tal, em sentido especfico, emquanto se
apresenta em juzo como tal, s pode supr-se no original em
uma hiptese destruidora da sua natureza de prova real: supon-
do-a como contedo da afirmao de uma pessoa, j no h seno
uma prova pessoal. De tudo isto resulta no s que as provas
reais, como tais, so tdas originais, mas ainda, que as provas
pessoais so inferiores s provas reais. E so inferiores, porque
emquanto nas provas reais se tem sob os olhos a coisa que faz
a prova, que pode ser estudada nas suas modalidades revelado-
ras; nas provas pessoais, ao contrrio, a voz das coisas pode, por
rro da pessoa que faz a narrativa, chegar alterada ao ouvido do
juiz, ou, por dolo da mesma, chegar falsificada. Na afirmao de
pessoa, os sentidos do juiz no percebem seno a exterioridade
da prova, a voz ou o escrito; na afirmao original de coisas, ao
A Lgica das Provas em Matria Criminal 321
contrrio, os sentidos do juiz percebem a exterioridade da coisa
provada, o elemento criminoso em si, o indcio em si; o ltimo
dos quais seria o que provou a afirmao indiciria de uma pessoa,
de cuja prova, depois, o juiz sobe ao delito, pelo trabalho
exclusivo do seu raciocnio.
Mas necessrio observar que a verdadeira prova real, que
essencialmente original e superior pessoal, no pode obter-se,
como veremos em lugar prprio, seno raras vezes em juzo.
E necessrio aqui relembrar a sexta regra de crtica judi-
ciria, que desenvolvemos a propsito da prova em geral: em
materia penal, sempre necessrio, dissemos ns, procurar as
melhores provas. Desta regra, aplicando-a ao sujeito das provas,
derivam como conseqncia vrias regras.
Em primeiro lugar, dividindo-se as provas, emquanto ao
sujeito extrnseco, em reaes e pessoais, e sendo, como vimos, as
provas reais superiores s provas pessoais, necessrio no nos
contentarmos com estas, quando possvel obter aquelas.
Em segundo lugar, dividindo-se as provas pessoais, emquanto
ao sujeito intrnseco, em originais e no originais, e as provas
pessoais originais sendo superiores s provas no originais,
necessrio, em geral, no pararmos nestas, quando possvel
obter aquelas.
Em terceiro lugar, as provas pessoais originais podendo ser
orais e escritas, e sendo as provas orais, como vimos, superiores
s provas escritas, necessrio, em geral, tambm no nos con-
tentarmos com estas, quando possvel obter aquelas, ou neces-
srio, pelo menos, falando genricamente, confrontar as provas
escritas com a prova oral do seu autor. H, por isso, afirmaes
escritas que teem uma credibilidade superior das provas orais,
pela qualidade da pessoa que as escreve, e pelo contedo ou pelas
formas particulares do escrito. Mas da especialidade das provas
ocupar-nos hemos em ocasio prpria, quando as considerarmos
relativamente forma da sua realizao.
Emquanto mencionada inferioridade das provas no origi-
nais s originais, devemos dizer uma ltima palavra. No intil
observar que a sua inferioridade no deriva nicamente da
21
322 A Lgica das Provas em Matria Criminal
maior possibilidade de rro, inerente multiplicidade das pro-
vas que fazem a afirmao, por isso que o tstemunho original,
no sendo seno um nico tstemunho, apresenta uma s cate-
goria de suspeitas, as inerentes sua pessoa; ao passo que o
no original do primeiro grau apresenta duas, as inerentes a si,
e as inerentes tstemunha original, e o no original do segundo
grau apresenta trs, e assim por diante. No esta, dizamos, a
nica razo da inferioridade da prova no original: outra h.
A prova no original em juzo supe a prova original fora do
juzo. Ora, por um lado, quem faz uma declarao fora do
juzo, f-la, muitas vezes, leviauamente, sem pesar escrupulosa-
mente as suas palavras; e isto, mais ou menos, segundo a pessoa
com quem fala. Por outro lado, fazendo uma declarao extra--
judicial, a tstemunha original sabe no se encontrar em face
das graves penalidades do falso tstemunho, com que sabe de-
frontar-se quando se encontra na solenidade do debate pblico.
De tudo isto deduz-se uma maior facilidade de mentira na
tstemunha de origem. Emquanto tstemunha de ouvir dizer,
ela tem por isso em muitos casos a esperana de impunidade
no mentir. Sempre que a pessoa que afirma no originalmente
sabe, que por um motivo de fra maior, impossvel
intrrogar a tstemunha originria, ou ler o escrito originrio,
pode mentir sem receio; e precisamente nste caso de
impossibilidade da prova original, que a crtica criminal permite
basear-se comple-tamente na prova original. E assim que na
afirmao no original de uma pessoa, alm da maior
possibilidade de rro, proveniente da multiplicao das pessoas
que afirmam, por isso que tda a nova pessoa, que se
entremete na prova, trs comsigo outros tantos novos motivos
de suspeita quantos os que lhe so inerentes, alm dste
aumento numrico da possibilidade de rro, um aumento h
tambm, direi assim, intensivo, para a maior facilidade da
mentira por parte do que afirma originriamente, e do que
transmite essa afirmao.
Da reprovao geral das provas no originais, exceptuam-se
algumas provas escritas, que pela qualidade de quem as escreve,
|e pelas solenidades que acompanham o escrito, teem uma grande
A Lgica das Provas em Matria Criminal 323
credibilidade, comquanto consistam em uma afirmao no ori-
ginal de uma pessoa. Mas, repetimo-lo, tratar aqui dessas espe-
cialidades probatrias seria inoportuno: ocupar-nos hemos delas
na diviso formal das provas.
Aqui, sob o ponto de vista geral, pode concluir-se afirmando
de novo que quando se pode obter uma prova superior, neces-
srio no se contentar com a inferior; e prova superior, relativa-
mente ao sujeito, a prova real com referncia pessoal; a prova
pessoal original relativamente no original, a prova original
oral, em confronto com a escrita.
A produo da prova inferior s se explica em duas hip-
teses.
Justifica-se, em primeiro lugar, no caso de impossibilidade,
em sentido relativo, de prova superior: a melhor prova que pode
obter-se a inferior; e por isso aceita-se.
Justifica-se em segundo lugar, no caso de oportunidade de
confronto entre a prova superior produzida em juzo, e uma prova
inferior relativa. Tem-se em juzo uma prova real: levan-ta-se a
dvida sbre se ela teria sido alterada dolosamente por maldade de
um terceiro; e chama-se a depor sbre o estado da coisa quem a
tenha percebido em um momento anterior quele em que se
comea a suspeitar da falsificao da coisa. Tem-se uma
afirmao original e oral de uma pessoa: pode ser conveniente
confrontar esta declarao, que a tstemunha original faz em juzo,
com a declarao que ela fez oralmente a outras pessoas fora do
juzo, ou que escreveu, e foi lida por outras pessoas anteriormente
ao julgamento; e chama-se, ento, esta outra tstemunha, no
original, do facto, para declarar as palavras que ouviu ou leu da
tstemunha original que se apresentou em juzo. E no caso de
palavras lidas que so reproduzidas oralmente em juzo, referimo-
nos hiptese de o escrito da tstemunha original j no existir,
ou que se no possa encontrar; pois que, se le existisse e fsse
possvel encontr-lo, ento dever-se ia produzir o prprio escrito;
e confrontar-se ia com o escrito, com esta forma menos perfeita de
afirmao original de pessoa, a declarao original
subjectivamente mais perfeita, que a tstemunha
324 A Lgica das Provas em Matria Criminal
fz oralmente em juzo. Compreende-se, pois, naturalmente, que
a produo da prova inferior, quer sirva para confirmar ou dimi-
nuir a prova superior, tem sempre por fim ltimo o triunfo da
verdade.
Uma ltima reflexo a propsito da originalidade, e tenho
terminado.
Dissemos que a originalidade a ligao da prova ao seu
sujeito intrnseco, ou, por outras palavras, a presena, em juzo,
do sujeito intrnseco da prova. Ora, necessrio observar que a
originalidade das provas d-se no s quando as coisas se apre-
sentam directamente perante o juiz; mas tambm quando, no
podendo a coisa ou a pessoa apresentar-se ao juiz, o juiz as vai
procurar; e digo, que o juiz vai ter com elas, entendendo que
le vai ter com elas transportando consigo, direi qusi, o am-
biente da justia, com a interveno das partes, e nos limites
do possvel, com o livre acesso do pblico. O tribunal, com a
vistoria judicial nste sentido, no faria mais que deslocar tem-
porriamente a sua sede, transportando-a para frente das provas.
H coisas que se no podem transportar para juzo; e tem-se
ento a visita ad rem do juiz, que colhe, por esta forma, a prova
real na sua originalidade. H pessoas que no podem vir a juzo
para serem intrrogadas; e o juiz, com a visita a personam,
colhe a prova pessoal na sua originalidade. No processo positivo,
emquanto visita ad personam, recorre-se muitas vezes ao meio
da dlegao mesmo a um juiz estranho magistratura que tem
de julgar na causa; e ento, a prova apresentada em juzo no
originalmente, pela forma do escrito do juiz dlegado. E a prova,
segundo meu parecer, manter-se h no original, mesmo quando
o juiz da causa tivesse colhido directamente a prova, mas sem
as garantias, mais ou menos largas, da publicidade; porquanto
a originalidade das provas, se necessrio consider-la relativa-
mente conscincia do juiz do debate, esta conscincia deve
contudo ser integrada pela conscincia social. Sem o que, ser
original a prova, pessoalmente para o juiz; e no original para
a conscincia social. necessrio no esquecer que as provas,
como dissemos em outra parte, devem ser apresentadas a ste
A Lgica das Provas em Matria Criminal 325
duplo tribunal, de que o juiz prpriamente dito deve ser a con-
cretizao e o resumo.
Naturalmente, se bem que no originais, estas provas colhi-
das directamente por um juiz dlegado ou pelo juiz da causa,
podem ter uma altssima credibilidade; mas nem por isso podero
chamar-se originais. Naturalmente mesmo qnando estas provas
no originais, se quisessem considerar menos perfeitas, que as
relativas provas verdadeiramente originais que se poderiam obter,
necessrio atender a que, no obstante, a necessidade das coisas
obriga a que nos contentemos com o menos, quando o mais
arrasta consigo inconvenientes sociais superiores s vantagens.
QUINTA PARTE
DIVISO FORMAL DAS PROVAS
Prova tstemunhal Prova documental
Prova material
Prembulo prospectivo da diviso formal das provas
Vimos j na parte precedente do livro como a prova, qae em
quanto ao objecto pode ser directa e indirecta, s pode ter por
sujeito uma pessoa ou uma coisa. Qualquer prova, portanto, ou se
apresenta como afirmao de pessoa, ou como afirmao de coisa.
Mas qual a forma porque uma pessoa pode apresentar a sua
afirmao ao magistrado? Qual a forma porque pode apresen-tar-se
a coisa, como afirmante? Eis aqui o contedo desta ltima parte do
livro: o estado das provas sob o seu aspecto formal.
Emquanto afirmao de pessoa, ela, como vimos noutro
lugar, consiste na manifestao consciente, por parte da pessoa,
tanto das impresses morais produzidas sbre a conscincia por
um dado evento externo, como dos simples factos internos da
prpria conscincia. Emquanto, pois, a pessoa revela consciente-
mente as impresses morais, produzidas pelo mundo externo no
seu esprito, ou os factos internos do prprio esprito, tem-se a
afirmao de pessoa
1
. A investigao, pois, das vrias formas
1
Veja-se a noo determinada e desenvolvida no captulo I, da Parte
quarta: Diviso subjectiva da prova em real e pessoal.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 327
que pode assumir a afirmao de pessoa, resolve-se, por isso, na
investigao das formas porque a pessoa pode exteriorizar o seu
pensamento.
Ora o pensamento humano pode exteriorizar-se por duas
formas: ou se exterioriza na palavra fnica, forma passageira de
manifestaes que nasce e morre com o som da voz humana; ou se
exterioriza em uma forma permanente qualquer, e, em particular,
na escrita; e esta forma permanente, qualquer que seja, de
manifestao concretiza-se por isso sempre em uma materiali-dade
permanente em que se fixa o pensamento, e que se distingue da
pessoa fsica que afirma.
A palavra fnica a forma passageira do pensamento; o
escrito a forma permanente da palavra, e, assim, mediata do
prprio pensamento. Exteriorizao transitria ou permanente,
palavra ou escrito: eis as ditas formas especiais de manifestao
do pensamento humano. E por isso, sob o ponto de vista da prova,
eis tambm as duas formas especficas e fundamentais da afirmao
de pessoa: afirmao oral, ou tstemunho; afirmao escrita ou
documento. Mas conveniente precisar stes conceitos.
O documento, como prova pessoal especfica, no consti-
tudo nicamente pelo critrio formal extrnseco da escrita; outro
critrio formal intrnseco b que necessrio, como melhor vere-
mos em lugar prprio, para determinar a sua natureza especfica
de prova; e ste outro critrio consiste na irreprodutibilidade oral.
Por ontros trmos, nem tda a afirmao pessoal feita por escrito
um documento, mas sim a afirmao feita por escrito e que se
no pode reproduzir oralmente. E esta irreprodutibilidade oral de
um dado escrito pode ser de vrias espcies, segundo os diversos
critrios de que resulta.
A irreprodutibilidade oral pode ser, em geral, de trs es-
pcies :
1. Irreprodutibilidade lgica, que a que deriva de um
critrio lgico que se ope reproduo, como no caso de escritos
casuais dos interessados na causa, e como no caso de escritos no
autnticos, que chamamos antilitigiosos, isto . dos escritos redi-
gidos afim de prevenir controvrsias possveis entre as partes.
328 A Lgica das Provas em Matria Criminal
2. Irreprodutibilidade material em sentido genrico (com-
preendendo a material em sentido especfico e a psicolgica), que
aquela que deriva do critrio da impossibilidade da reproduo
por condies, fsicas ou morais, inerentes pessoa que a afirma.
Assim, no caso de morte, de ausncia, ou de impossibilidade de
encontrar a pessoa que faz a afirmao, cuja declarao se acha
traduzida em um escrito; assim, no caso de lhe sbrevir inca-
pacidade.
3. Irreprodutibilidade legal, que a que deriva do cri-
trio legal, que atribui uma tal f a determinados escritos que
se no permite a produo de prova oral relativamente ao seu
contedo, seja por parte de quem fr, a no ser que se recorra a
um processo penal especial, como a arguio de falsidade.
stes critrios que aqui mencionamos rpidamente tero
de ser desenvolvidos em lugar prprio: era, em todo o caso,
necessrio mencion-los aqui, para determinar as suas noes.
Conseguintemente, para ns, documento a afirmao pessoal
consciente, escrita e irreprodutivel oralmente. Nesta definio
falamos nicamente da forma escrita; mas entende-se sempre,
que pode existir o documento em qualquer outra forma perma-
nente : mencionando o escrito, que a forma ordinria, principal
e mais perfeita, do documento, entendemos compreender nle
subordinadamente tda a outra forma permanente, em que se
suponha exteriorizada a afirmao da pessoa.
A determinao da natureza do documento, como forma espe-
cfica em que se concretiza a prova pessoal, conduz directamente
determinao da outra forma especfica em que a prova pessoal
se pode concretizar, isto , determinao do que o tstemunho.
Se os extremos essenciais do documento so o escrito e a
irreprodutibilidade oral, segue-se que a afirmao da pessoa
no ser um documento, e ser portanto tstemunho, sempre
que se apresenta oral, ou pelo menos reprodutvel oralmente
perante o juiz do debate.
necessrio lembrar aqui uma observao feita por ns ante-
riormente ao falarmos das provas em geral, e que em seguida
repetimos mais vezes. necessrio no esquecer que, para classi-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 329
ficar exactamente as provas, necessrio, para nos no desorien-
tarmos, ter sempre em vista dois pontos fixos qne a lgica nos
indica. Assim, para falarmos aqui nicamente da classificao
subjectiva e da formal, necessrio no esquecer que as provas
no podem, tanto relativamente ao seu sujeito como sua forma,
classificar-se por um modo estvel, quando se no refiram cons-
cincia do juiz dos debates.
Se, ao classificarmos uma prova emquanto ao sujeito, a no
referirmos quela conscincia, nunca alcanaremos coisa alguma
de estvel na natureza pessoal ou real que lhe atribumos: o que
deriva da prova pessoal, emquanto conscincia do juiz, deriva
da prova real, para a conscincia da prpria pessoa que afirma,
que relata a sua percepo das coisas.
Se ao classificar uma prova emquanto forma se no tem em
vista a conscincia do juiz do debate, a mesma prova parecer-nos
h pertencer ora a uma classe formal, ora a outra: o que, segundo
os nossos critrios, documento relativamente ao juiz do debate, por
ter morrido a pessoa cujo depomento oral foi reduzido a escrito
pelo juiz instrutor, um verdadeiro depoimento oral relativamente
a ste ltimo.
Quisemos chamar memria stes critrios para explicar por
que que ns, falando da prova oral e da reprodutibilidade oral,
as referimos ao juiz do debate. E voltemos ao sujeito principal.
A afirmao pessoal , portanto, depoimento, quando se apre-
senta oral ou reprodutvel oralmente no debate pblico. Esta
reprodutibilidade oral, quando se toma como critrio da especi-
ficao do tstemunho, j no se considera como uma potencia-
lidade estril: a reprodutibilidade oral tem o valor de fazer definir
como depoimento uma afirmao escrita, por isso que, 'em regra
geral, deve com efeito reproduzir-se oralmente no debate pblico,
devido quele princpio superior, por ns afirmado em outra parte,
segundo o qual nos no devemos contentar com uma prova em
forma inferior, quando lgicamente ela se pode obter em uma
forma superior. E que a forma oral , por isso, superior escrita,
ou a qualquer outra forma permanente, j o demonstramos em
outro lugar, e compreende-se fcilmente s por si.
330 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Nste ponto prevemos uma observao do perspicaz leitor,
qual julgamos dever responder aqui mesmo, porque argente,
mesmo na simples meno das noes, que elas se apresentem
desde o princpio com uma base racional e sem equvocos. O lei-
tor perspicaz, portanto, poderia dizer: se a reprodutibilidade
oral s constituo o depoimento emquanto se destina a realiz-lo,
para que apresent-la como um critrio particular, alm do da
sua qualidade oral efectiva? Seria mais simples e mais verda-
deiro dizer: no tstemunho seno a afirmao oral da pessoa.
Como se v, a objeco seria de fra, e o leitor teria razo
de sobejo, se no existissem afirmaes escritas, que, comquanto
susceptveis de reproduo oral, comtudo, pelos ditames da arte
criminal, se acha oportuno, quer pela sua natureza especial, quer
pela melhor economia dos julgamentos, no reproduzir absoluta-
mente; ou reproduzir sem comtudo aniquilar a sua existncia em
forma escrita.
parte as afirmaes escritas reprodutveis oralmente que
parece conveniente no reproduzir em absoluto, tambm aquelas
de que se sente a necessidade de as reproduzir oralmente, no
se consideram por isso, sempre e tdas elas, como inexistentes
no julgamento pblico; mas manteem-se na sua forma escrita,
a par da sua reproduo oral; por outros trmos, h afirmaes
escritas de que nos debates se admite cumulativamente a lei-
tura prvia, e depois a sucessiva reproduo oral por parte da
pessoa que afirma.
Ora, no s as afirmaes escritas reproduzveis que se no
reproduzem em absoluto oralmente, mas tambm estas afirmaes
'escritas que se reproduzem por uma forma oral sucessiva, consi-
deradas em si mesmas, so sempre, falando com preciso, con-
sideradas como tstemunhos escritos, e no como documentos;
so consideradas como tstemunhos, comquanto no sejam em si
efectivamente orais, s porque teem a natureza oral potencial,
pela qual, alm da leitura a que so prviamente admitidas, em
caso de necessidade razovel experimentada por uma das partes,
no s podem, mas devem reproduzir-se com a sua natureza oral
efectiva.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 331
No se admite, em geral, a leitura dos depoimentos escritos;
ouve-se nicamente a sua reproduo oral, aplicando-se o
princpio de serem orais de um modo absoluto. Dos tstemunhos
especiais a que acima me referi admite-se a leitura, recorrendo-se
em seguida reproduo oral, ou mesmo sem recorrer absoluta-
mente a ela: aplica-se-lhes o princpio da sua natureza oral de um
modo relativo. Casos h, repito, em que se no recorre abso-
lutamente reproduo oral, porque se no faz sentir a sua
necessidade; eis porque que eu, dizendo anteriormente, que a
simples reprodutibilidade oral caracteriza o tstemunho tanto
como se destina a converter-se era manifestao oral efectiva,
acrescentei: em regra geral, querendo dizer: sempre que se sinta a
sua necessidade.
Assim, no caso de certificado de bom comportamento moral,
passado pelo oficial pblico competente, admite-se a sua leitura,
quer pela simplicidade do sen contedo, quer pela autoridade de
quem o escreve, no sendo por isso necessrio que quem o escreven
se apresente nos debates pblicos para o reproduzir oralmente. Se
um perito tivesse que ser sempre intimado para reproduzir
oralmente as suas afirmaes tstemunhais sbre o procedimento
dos indivduos a quem passa o respectivo certificado, teria que
audar continuamente pelas salas dos tribunais.
Portanto, no caso de certides passadas por oficiais pblicos,
conquanto, pelo seu contedo especial que se confia melhor ao
escrito que memria, se admita igualmente a prvia leitura,
contudo, pela importncia do contedo, respeitante ao crime e ao
acusado, a lgica judiciria no pode contentar-se com a simples
leitnra, e exige ao mesmo tempo a reproduo oral, como
confirmao, explicao ou complemento.
arte criminal, em subordinao lgica judiciria, acon-
selha as vrias limitaes que se devem impor ao princpio abso-
luto de ser oral a prova, trausformando-o em um princpio rela-
tivo. Mas em seguida teremos que voltar ao assunto.
Aqui tornava-se urgente mencionar apenas o necessrio para
justificar a nossa noo, que afirma a natureza de tstemunho
mesmo na simples faculdade de reproduo da afirmao de
332 A Lgica das Provas em Matria Criminal
pessoa. Podemos, portanto, confirmar novamente a nossa defini
o: tstemunho a afirmao consciente de uma pessoa, oral
ou pelo menos reprodutvel oralmente no debate pblico.
Concluindo, pelo que dissemos anteriormente pode afinmar-se
que a pessoa no pode apresentar a sua afirmao, seno por
duas formas; e por isso da prova pessoal derivam duas espcies
formais de prova: o tstemunho e o documento.
Tratemos agora da afirmao de coisa.
O tstemunho e o documento, formas de afirmao de pessoa,
podem ser provas originais ou no originais, conforme relatam,
relativamente a um facto, as percepes da pessoa que afirma,
ou a declarao de outrem. Quanto afirmao da coisa, s pode
ser considerada como prova original, a no ser que se pretenda
desconhecer a sua verdadeira natureza. Ela s pode apresentar-se
no originalmente, como contedo da afirmao de pessoa; e
portanto entende-se como que para ns, e j o afirmamos em
lugar prprio, no existe a prova real no original. Se uma
pessoa que vem expor ao juiz as suas percepes sbre as coisas,
emquanto ao juiz, a quem devem referir-se geralmente tdas as
provas cuja natureza subjectiva e formal se quer verificar na
critica criminal, no h mais que uma prova pessoal. Quando se
fala, pois, de prova real em sentido especfico, entende-se sempre
falar de prova real original.
Ora a prova real original no admite seno uma nica forma
possvel: a apresentao da materialidade inconsciente da coisa,
na prpria materialidade das suas formas. E eis aqui outra espcie
formal das provas, espcie formal nica da afirmao de coisa,
espcie que nos parece conveniente indicar com a designao de
prova material, atendendo a que esta espcie de prova tem
todo o seu fundamento em uma materialidade inconsciente
directamente percebida. Esta prova material, como tdas as
provas, pode relativamente ao seu contedo, sob o ponto de
vista do delito, ser directa, como por exemplo o cadver da pessoa
assas-sinada, ou indirecta, como, suponhamos, o objecto que o
assassino deixou car no lugar da aco criminosa.
Ora, como, pelo que dissemos, no existe outra prova real
A Lgica das Provas em Matria Criminal
333
que no seja a original, e como a prova real-original s pode ser
apresentada por uma nica forma especfica, que a da prova
material, segue-se, portanto, que tudo o que dissemos noutra parte
a propsito da prova que chamamos real sob o ponto de vista do
sujeito de que deriva, pode exactamente referir-se prova que
agora chamamos material, e que a mesma prova real
considerada emquanto forma sob que aparece.
Conseguintemente, ser prova material, qualquer materiali-
dade, que, apresentando-se a percepo directa do juiz, lhe sirva
de prova, sempre que esta materialidade, quando apresentada por
uma pessoa, seja inconscientemente produzida como revelao do
seu esprito, ou, mesmo quando, sendo produzida conscientemente
no seu sentido revelador, no seja destinada a fazer f da varie-
dade dos factos com ela afirmados pela pessoa.
Falamos de inconscincia e de falta de destino a fazer f,
porque so stes os dois extremos diferenciais que, quando a
materialidade produzida pela pessoa, distinguem completamente
a prova material, concretizao formal da afirmao de coisa, do
tstemunho e do documento, concretizaes formais da afirmao
de pessoa. Com a verificao de um dstes dois extremos sucede,
como demonstramos ao falar da diviso subjectiva das provas,
que a exterioridade do pensamento deve tambm considerar-se
como prova material.
A prova pessoal no se compreende sem a conscincia da
manifestao; nesta conscincia que se baseia a natureza espe-
cfica da afirmao de pessoa. E por isso tanto a aco humana
que se considera como reveladora de um dado estado de esprito,
como a palavra pronunciada e o escrito feito durante o estado de
delrio, quando se queiram empregar como provas reveladoras do
esprito interno, devem, pela inconscincia da revelao por parte
de seu autor, considerar-se como provas materiais, a que o
esprito do juiz atribui um valor probatrio mais ou menos
concludente.
Mas mesmo quando exista a conscincia, a palavra e o
escrito devem tambm considerar-se como provas materiais sem-
pre que se no apresentem como uma simples comunicao de
334 A Lgica das Provas em Matria Criminal
coisas, ou revelao, se assim se quer dizer, feita pela pessoa;
mas se apresentam ao contrrio com uma forma de concretiza-
o da realidade. Nos crimes que consistem na palavra articulada
ou escrita, esta j no se apresenta em juzo como uma afirma-
o pessoal, destinada a fazer f da verdade dos factos atesta-
dos; e por isso no pode considerar-se, s por si, como uma prova
pessoal, tstemunhal ou documental; mas deve considerar-se
como uma prova material. A palavra injuriosa, a palavra amea-
adora, o escrito difamatrio, o documento falsificado, a carta
ameaadora, a falsa queixa ou a falsa denncia, quando se apre-
sentam em juzo como objecto da acusao, no so seno pro-
vas materiais, por isso que representam a concretizao material
do crime, e no a simples afirmao pessoal de um dado facto
destinada a fazer f.
Eis a razo das duas condies negativas, da inconscincia
e de no ser destinada a fazer f, por ns admitidas, relativa-
mente s materialidades produzidas pela pessoa, na definio da
prova material, para determinar a sua compreenso. E estas duas
condies devem por isso entrar afirmativa e cumulativamente
em uma exacta definio do tstemunho e do documento, defi-
nindo o primeiro: afirmao consciente pessoal, oral ou repro-
dutvel oralmente, destinada a fazer f da verdade dos factos por
ela afirmados; e definindo o segundo: afirmao consciente pes-
soal, escrita e irreprodutvel oralmente, destinada a fazer f da
verdade dos factos por ela afirmados.
Mencionamos apenas as noes do que constitui a prova
real, e do que constitui a prova pessoal, porquanto o desenvolvi-
mento dessas noes se encontra na parte precedente dste livro,
respeitante diviso subjectiva das provas.
O que temos dito parece-nos suficiente para esclarecer quais
so as espcies primordiais de prova, que derivam da considera-
o do critrio formal, e para determinar em geral as suas dife-
renas. Passaremos agora a tratar em particular de cada uma
destas espcies, dividindo esta quinta Parte do livro em trs Sec-
es: na primeira falaremos da prova tstemunhal; na segunda,
da prova documental; na terceira, finalmente, da prova material.
SECO PRIMEIRA DA QUINTA PARTE
Prova tstemunhal
CAPITULO I
Prova tstemunhal, sua credibilidade abstracta e suas
espcies
A presuno da veracidade humana, inspirando f na afir-
mao de uma pessoa, faz com que ela seja procurada e aceita
como prova pessoal, do mesmo modo que a presuno da vera-
cidade das coisas, inspirando f na afirmao de uma coisa, faz
com que ela seja procurada e aceita como prova real. Falando da
presuno em geral, referimo-nos a ambas estas presunes
particulares. Tornaremos a falar aqui da primeira, isto , da
presumida veracidade humana, reservando-nos para falar da
segunda a propsito da prova material, isto , da presumida
veracidade das coisas.
O fundamento, portanto, da afirmao de pessoa em geral, e
do tstemunho em especial, a presuno de que os homens
percebam e narrem a verdade, presuno fundada por sua vez na
experincia geral da humanidade, experincia que mostra como
em realidade, no maior nmero dos casos, o homem verdico:
verdico, por tendncia natural da inteligncia, que encontra na
verdade, mais fcil que a mentira, a satisfao de uma necessi-
dade ingnita; verdico, por tendncia natural da vontade, a quem
a verdade aparece como um bem, e a mentira como um mal;
verdico finalmente, porque esta tendncia natural da inteligncia
e da vontade, fortificada no homem social no s pelo desprzo
336 A Lgica das Provas em Matria Criminal
da sociedade pelo mentiroso, mas tambm pelas penas religiosas
e pelas penas civis que se erguem ameaadoras sbre a sua
cabea.
Esta presuno da veracidade dos homens acompanha-nos
em tdas as evolues internas do pensamento, como em tdas
as exteriorizaes da actividade. Esta nas afirmaes alheias
desponta inconscientemente na nossa alma, ainda crianas, antes
que a experincia das coisas e dos homens a venha confirmar; e,
com o crescer dos anos, esta f, tornando-se raciocinada e caute-
losa, a fra da nossa virilidade e o tranquilo repouso da nossa
velhice.
A criana que levanta o seu brao com o dedo stendido
apontando para os cus ignotos, e balbucia o grande nome de
Deus; a criana que se ajoelha sbre o pequeno leito, e de mos
postas comea a implorar cheia de confiana o seu bom anjo; a
criana cr em Deus e no seu bom anjo, porque nles lhe falou
a sua me. E quando, com os olhos e o esprito concentrados
sbre o seu livrinho, soletra, dando um som s letras e s sla-
bas, julga que quelas letras e quelas slabas devem por um
consenso comum corresponder aqules sons, porque o professor
lho disse.
E mesmo avanando em idade e nos estudos, no possvel
haver progressos intelectuais, quando se no adquira o impulso
da f nos outros. Quando se medita sbre as fras e sbre os
fenmenos da natureza fsica, necessrio pois comear por ter
f na descrio das observaes e das experincias alheias, antes
de passar s experincias e observaes prprias. Se se medita
sbre as fras e sbre os fenmenos da natureza moral, estudando
a humanidade na sua vida intelectual, social ou politica, nas
vrias pocas e lugares, necessrio comtudo atender-se ao
tstemunho dos outros, e ter nle.
Tda a vida do nosso pensamento nunca se separa comple-
tamente da f na exposio do pensamento alheio: acreditando
nisto, e apoiando-se nisto, que o nosso pensamento vai mais longe
e mais alto.
Mas a f nas afirmaes alheias assiste-nos, no s na vida
A Lgica das Provas em Matria Criminal 337
spiritual, mas principalmente em tdas as ocorrncias da vida
prtica. A maior parte das aces humanas, desde a infncia
velhice, no teem por guia seno a f nas afirmaes alheias.
Relativamente ao primeiro perodo da existncia, pode dizer-se
que nle tda a vida no mais do que um contnuo acreditar nos
outros: do bem que no conhecemos e que procuramos alcanar,
aos males que no conhecemos e procuramos evitar, sempre sob a
f da palavra alheia. E esta f, que guia e regula as aces, no
nos abandona com o crescer dos anos, mas tor-na-se antes cada
vez mais cautelosa e raciocinada. So to poucas as coisas e as
pessoas que podemos conhecer por meio da nossa observao
directa e pessoal, que a vida tornar-se-ia absolutamente
impossvel, se no prestssemos f s observaes alheias para
regular as nossas aces, relativamente a tdas as coisas e a tdas
as pessoas que no conhecemos directamente.
Sem a f na veracidade alheia, nem mesmo a palavra, vn-
culo intelectual, moral e social das almas, teria j razo de ser:
para que serviria a palavra, se no existisse a f na coisa por ela
significada? Suponhamos que uma alma j no tenha f em coisa
alguma; e ela no poder seno ocultar-se estril na priso escura e
taciturna da prpria conscincia. Suponhamos que um homem no
tem f alguma nos outros, e le, vendo em todo o seu semelhante
um inimigo, no saber j como viver no consenso civil, e,
tornando-se selvagem pela suspeita e pelo dio, refugiar-se h na
solido de uma floresta.
Acreditar e ser acreditado, a troca confiante dos pensa-
mentos, das notcias, das reflexes, a renio, emfim, de tdas as
observaes individuais dispersas, em um tesouro comum e
imenso, de onde todos recebem, e para o qual todos contribuem:
is a fra latente, intelectual, que se chama civilizao, e que faz
subir incessantemente a sociedade humana a um nvel mais alto:
eis a fra latente, moral, que se chama solidariedade, e que
associa a si como irmos, na grande unidade da famlia humana,
milhares de existncias individuais, dispersas no espao e ao
tempo.
A presuno, portanto, de que os homens em geral perce-
22
338 A Lgica das Provas em Matria Criminal
bem e narram a verdade, presuno que serve de base a tda a
vida social, tambm base lgica da credibilidade genrica de
tda a prova pessoal, e do tstemunho em particular. Esta credi-
bilidade genrica, portanto, que se funda na presuno da vera-
cidade humana, em concreto aumentada, reduzida ou destruda
pelas condies particulares, inerentes ao sujeito individual do
tstemunho, ou ao seu contedo individual, ou sua forma indi-
vidual, como veremos dentro em pouco.
J definimos o que o tstemunho de que tencionamos
falar nesta Seco. Mas, existindo mais espcies de tstemunhos
de que se fala em crtica judiciria, julgamos conveniente deter-
minar quais so as espcies de que nos devemos ocupar.
As tstemunhas, de que se fala geralmente, podem redu-
zir-se a trs espcies: tstemunhas escolhidas ante/actum; tste-
munhas adventcias in facto; tstemunhas escolhidas post factum.
As tstemunhas escolhidas ante factwm so as tstemunhas
que se escolhem para fazer f de um contracto que deve ter
lugar entre as partes, ou de um acto que se deve praticar; e
quando so chamadas a pr a sua assinatura sbre um dado
escrito, conveniente chamar-lhes tstemunhas instrumentrias;
e quando so chamadas a fazer f de um contracto verbal ou de
qualquer acto que se realiza sem escrito algum, julgo conve-
niente distingu-las com o nome de tstemunhas verbais. Relati-
vamente s tstemunhas instrumentrias, formam elas parte
integrante da f do documento, e por isso no pertencem ao-
tstemunho em sentido prprio, entrando assim na prova docu-
mental. Muitas vezes em juzo penal recorre-se a elas juntamente
com os documentos. Assim, muitas vezes as tstemunhas instru-
mentrias servem para provar a verdade de um acto praticado
pelo juiz, ou por outrem em seu nome; como quando se trata
de exames ou vistorias judiciais, para verificar o material de um
delito, ou quando assistem imposio ou ao levantamento de-
sles nas coisas pertencentes ao delito. Mas as tstemunhas ins-
trumentrias, repito, entram na prova documental, e por isso no-
devemos ocuparmo-nos delas aqui. Relativamente s tstemunhas
que chamamos verbais, essas do lugar a verdadeiros e prprios
A Lgica das Provas em Matria Criminal 339
testemunhos de relaes civis; mas conquanto se distingam por
terem sido escolhidas anteriormente ao facto afim de o atestarem,
elas contudo confundem-se, relativamente avaliao dos seus
depoimentos, com as tstemunhas que chamamos adventcias in
Jacto; no teem importncia alguma especial que obrigue a falar
delas em particular. No teremos, portanto, de nos ocupar aqui
em particular das tstemunhas ante jactam, quer sejam
instrumentrias, quer verbais.
Tstemunhas adventcias in facto so as procuradas even-
tualmente por aquela eventualidade que, teudo-as colocado em
presena do facto, as coloca em condio de o poderem referir.
Eis a primeira e grande categoria de tstemunhas, de que teremos
de nos ocupar nesta Seco.
Tstemunhas escolhidas post factum, so as que ns vamos
buscar, para comprovar certas condies particulares do facto,
no perceptveis generalidade dos homens. Eis a segunda cate-
goria das tstemunhas de que nos ocuparemos nesta Seco.
Mas a tstemunha in facto e a tstemunha post factum, no
encontram a sua distino substancial na presena eventual da
tstemunha perante o facto, e em ter sido procurada a tstemunha
em seguida ao facto. No: a sua distino substancial assenta na
matria da afirmao. O testemunho in facto tem por matria as
coisas que cabem sob os sentidos comuns, as coisas perceptveis
pela generalidade dos homens; no h direito para exigir mais de
uma tstemunha in facto. O testemunho post factum tem por
matria, ao contrrio, coisas no perceptveis pelo comum dos
homens, mas perceptveis smente por quem tem uma percia
especial. Parece-me por isso dever indicar com o nome de
testemunho comum, o primeiro, e com o nome de testemunho
pericial, o segundo, preferindo sempre, nas denominaes,
empregar palavras que exprimam a natureza substancial das coisas
denominadas. O testemunho comum divide-se por isso em trs
classes:
testemunho de terceiro;
testemunho do ofendido;
testemunho do acusado.
340 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Falaremos de cada uma destas classes do testemunho
comum, antes de passar ao testemunho pericial. Uma ltima
considerao. Quais so os sentidos, sbre cuja percepo so
chamadas a fazer f as tstemunhas? Comquanto se possa ser
tstemunha para qualquer espcie de sensao, com-tudo no se
fala geralmente seno de tstemunhas de vista e de ouvir. Isto
devido maior preciso e exactido dstes dois sentidos; mas
isto no importa com tudo que, com um valor infe-rior, no haja
testemunhos baseados noutros sentidos.
Ticio depois de ter visto Gaio beber, que por sse motivo se
supe envenenado, chegou o mesmo copo aos beios, cuspindo
imediatamente o pequeno golo de bebida que lhe caiu sbre a
lngua, devido a um certo sabor spero que o preveniu. Eis uma
tstemunha de gsto.
Ticio numa lata nocturna que ocasionou a morte de um
homem, entrou no quarto completamente s escuras, que era o
teatro da luta, e colocou as mos sbre o assassino: as suas mos
caram sbre a cabea dste., arrancando uma madeixa de cabe-
los, que lhe pareceram anelados e espssos. O homem escapou-se
e fugiu sem que Ticio o podesse ver. Eis em Ticio uma tste-
munha de tato.
"Uma senhora foi encontrada morta no seu toucador. Pelo
conjunto dos factos supe-se que estivesse ocupada na sua toi-
leite. Encontrou-se no cho, desrolhado, um pequeno frasco de
almscar: verosimilmente foi agredida emquanto se perfumava.
Pois bem, Ticio diz, que naquela noite, conversando, horas depois
da descoberta do crime, com Caio, seu companheiro de trabalho,
notou com espanto que ste espalhara um forte cheiro a alms-
car. Eis uma tstemunha de olfacto.
stes trs sentidos, j o dissemos, no do, devido sua
indeterminao, mais que testemunhos de ordem inferior. E com-
quanto possam, como os outros testemunhos, respeitar tanto ao
delito como a coisa diversa dle, e sejam por isso, nas duas hip-
teses, devido sua natureza, em rigor, testemunhos directos ou
indirectos, comtudo, relativamente ao seu valor, les equivalem
sempre a testemunhos indirectos ou indicirios, se assim se lhes
A Lgica das Provas em Matria Criminal 341
quer chamar, por isso que pela indeterminao e incerteza destas
sensaes, o mesmo elemento criminoso, a que estas tstemunhas
se podessem referir directamente, nunca pode, pr intermedio
delas, apresentar-se claro, e necessrio deduzi-lo sempre por um
esfro do trabalho de lgica, excluindo as vrias possibilidades
contrrias.
CAPTULO II
Carcter especfico da prova tstemunhal
Produo oral da prova, tua natureza e eu limites
O carcter fundamental do testemunho, aquele que o espe-
cifica como uma das formas particulares da afirmao de pessoa,
diferenando-o da outra forma particular chamada documento, o
carcter fundamental, repito, do testemunho assenta no facto de
ser oral; qualidade oral efectiva, em regra, ou mesmo simples-
mente potencial, excepcionalmente: esta a forma essencial, sem
a qual a afirmao de pessoa no testemunho.
A qualidade de ser oral da afirmao de pessoa, como regra
probatria, no quer dizer que deva rejeitar-se do debate pblico
todo o escrito; mas sim, que tda a afirmao pessoal que se
apresente sob a forma escrita, deva reproduzir-se oralmente, sem-
pre que seja capaz de tal reproduo.
A afirmao em forma escrita, que se no pode reproduzir
oralmente por razes lgicas, materiais, ou legais, documento.
A afirmao em forma escrita, reprodutvel oralmente, teste-
mun
ho; e deve em regra geral reproduzir-se em forma oral efectiva,
pelo princpio supracitado da sua natureza oral.
Mas, para profundar bera as razes constitutivas do princ-
pio da sua natureza oral, conveniente atender quilo em que
pode consistir a afirmao escrita, que reprodutvel oralmente.
Ora, esta pode ser de duas espcies, que convm considerar em
particular.
342 A Lgica das Provas em Matria Criminal
O escrito do qual possvel a reproduo oral, pode, em
primeiro lugar, consistir no trabalho escrito de um terceiro, ainda
que seja* um oficial pblico, que, tendo ouvido o depoimento oral
da tstemunha, o reduziu a escrito; escrito que se quer reprodu-
zido em palavras articuladas, por parte da tstem unha. origin-
ria, perante o juiz que deve proferir a sentena sbre a causa.
Ora relativamente a esta espcie de escrito, no h quem no
veja que o princpio da natureza oral tem o seu fundamento em
um princpio mais largo, isto , no princpio do exame directo
das provas, exame directo em que, proporcionalmente possibili-
dade, necessrio confiar sempre para evitar a influncia externa
do esprito do redactor do depoimento, sbre o do juiz que deve
proferir sentena. Com o exame directo e oral da tstemunha, o
juiz que tem sob os olhos os vrios elementos do julgamento,
pode descobrir onde a tstemunha foi deficiente por omisso ou
por inexactido, e reparar essa deficincia por meio de oportunas
intrrogaes. Quando tenha, ao contrrio, de julgar segundo
testemunhos reduzidos a escrito por outrem, ainda que o tenham
sido por um oficial pblico, existir sempre a possibilidade de
um auto incompletamente fiel, seja por ter desprezado qualquer
parte do depoimento oral, seja por a ter subentendido.
Alm disso o juiz do debate, confiando na redaco escrita
dos testemunhos, priva-se daquela grande luz que surge do pro-
ceder pessoal da tstemunha, e que ilumina a maior ou menor
credibilidade das suas afirmaes. H sinais de veracidade ou de
mentira na fisionomia, no som da voz, na serenidade ou no emba-
rao de quem depe: uma acumulao preciosa de provas
indirectas, que se perde quandp se julga sbre o escrito.
Finalmente, o facto de ser oral o testemunho nos debates
pblicos garante a sua legitimidade, afastando a suspeita de que
le possa derivar de sugestes violentas, fraudulentas, ou culpo-
sas, e serve para formar justamente o convencimento social, que,
quando se conforma com o convencimento do magistrado que
julga, constitue a sua fra, o prestgio e a eficcia mora-
lizadora.
Concluindo, o princpio da manifestao oral do testemunho,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 343
portanto, emquanto lera a excluir os escritos que so a sua
redaco por parte de terceiros, , em geral, uma conseqncia do
princpio mais largo do exame directo das proras, ou seja da regra
probatria da originalidade, por ns j exposta em outra parte.
Mas outra espcie h de escritos, que o princpio da natureza
oral quer tambm que se reproduzam oralmente, tanto quanto
possvel: aquela espcie de escritos que so obra dos prprios
indivduos que fazem a afirmao. Supondo, em suma, a hiptese
de que a tstemnnha escreveu ela prpria o seu depoimento, o
princpio da produo oral do depoimento repele do campo das
provas tambm esta espcie de depoimento escrito, e quer que a
tstemunha se apresente a depor oralmente nos debates pblicoa.
Porque isto? Aqui no se trata de evitar a inoriginalidade. O
escrito, aqui, supe-se ter sido escrito polo prprio depoente, e o
contedo dsse depoimento fica sempre o mesmo, original ou no
original, de scincia prpria ou de ouvir dizer, quer se produza
por escrito quer oralmente.
Qual pois a razo que aconselha a reproduo oral mesmo
nstes casos? razo est tda na inferioridade que, como prova,
apresenta sempre o escrito em relao palavra. necessrio no
esquecer que, mesmo na hiptese de o escrito ser considerado
como forma original, a sua originalidade sempre menos perfeita
que a da afirmao oral. No depoimento oral h a pre-sena do
sujeito moral e do sujeito fsico da afirmao; no depoimento
escrito no h seno a presena do sujeito moral. Na primeira,
percebe-se a relao da afirmao, no s com o esprito de quem
afirma, mas com a sua pessoa fsica: percebe-se, assim, tambm a
gnese material da afirmao. Na segunda, ao contrrio, no se
percebe seno a ligao ideolgica entre a afirmao e quem
afirma. Basta-nos aqui t-la mencionado, porquanto a propsito da
diviso subjectiva das provas j desenvolvemos estas diferenas.
O escrito, portanto, comquanto, seja tambm uma forma
original da prova pessoal, sempre uma forma menos perfeita
que a oral.
344 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Muitos doa inconvenientes analisados anteriormente a res-
peito dos escritos no originais, apresentam-se aqui tambm a
propsito dos escritos originais, excepto sempre, como natural,
os inconvenientes que na primeira espcie de escritos derivam da
interposta terceira pessoa de quem o escreve. Tanto para esta
segunda espcie de escritos, que supomos terem sido escritos pela
prpria pessoa que faz a afirmao, como para a primeira espcie
que consiste naqules que supomos terem sido escritos por um
terceiro; tanto para uma como para outra espcie, se o juiz des-
cobre defeitos por inexactido e por deficincia do testemunho,
no pode repar-los por meio de oportunos intrrogatrios. Para
esta segunda espcie, como para a primeira, o juiz, confiando no
testemunho escrito, priva-se de tda a aglomerao de provas
indirectas que surge da forma como a tstemunha oral se com-
porta, e serve para acreditar ou desacreditar a sua credibilidade.
Finalmente, a tstemunha que, em lugar de vir depor oral-
mente no debate pblico, reduz a escrito o seu depoimento, tem
todo o tempo e tda a calma para poder reflectir e poder, que-
rendo mentir, dar coerncia sua mentira sem o perigo de ser
perturbado e descoberto por um intrrogatrio perspicaz.
No h pois dvida que o escrito, comquanto seja tambm
uma forma original, sempre uma forma inferior oral; e por
isso pela regra probatria por ns estabelecida em outra parte,
pela regra da melhor prova, deve sempre procurar-se, tanto quanta
possvel, reproduzir oralmente, isto , na forma mais perfeita, a
prova que se apresenta por escrito, isto , por uma forma menos
perfeita.
Concluindo, todo o fundamento racional do princpio da natu-
reza oral da prova encontra-se nas duas regras probatrias con-
cordes, a da originalidade e a da melhor prova, regras probat-
rias, das quais a primeira se inclui na segunda, e nela se contm,
como todo o corolrio se compreende na sua premissa. E esta a
base do princpio de ser oral a prova: conveniente passar agora
ao estudo da sua extenso.
J nos referimos ao contedo do princpio da sua natureza
oral: segundo le, deve reproduzir-se oralmente todo o escrito
A Lgica das Provas em Matria Criminal 345
susceptvel de ser reproduzido oralmente, sendo mais eficaz, em
geral, para o triunfo da verdade, basear o convencimento sbre a
prova oral, de preferncia ao escrito. Se, portanto, a lgica judi-
ciria ao admitir ste princpio, se inspira no intersse de fazer
com que o convencimento judicial surja, no da prova escrita,
mas antes da prova oral, segue-se que de todo o escrito, de que
pode obter-se e se quer a reproduo oral, se deve tambm proibir
a leitura no debate pblico. Com efeito, se se admitisse no debate
pblico a leitura do depoimento escrito, quando tem tambm de
ser reproduzido, ao mesmo tempo, oralmente, reinando o livre
convencimento, le poderia sempre, por meio de impresses
particulares, inspirar-se antes no escrito que no depoimento oral; e
destruir-se-ia assim tda a eficcia prtica da reproduo oral. Do
testemunho escrito, no pode portanto em regra geral admi-tir-se
a leitura, sem ir de encontro lgica judiciria.
Mas se a leitura do testemunho escrito se no deve admitir,
le s no deve admitir-se quando possa prejudicar o triunfo da
verdade judiciria: eis aqui portanto a medida do preceito
proibitivo. Segue-se daqui por isso, que, quando o contedo do
depoimento faz sentir a necessidade de notas ou apontamentos,
deve ficar sempre aberto o caminho para o seu uso, confiando-se
a faculdade de o autorizar, a quem dirige os debates, para evitar
que se abuse, recorrendo a notas por artifcio ou por indolncia, e
no por uma necessidade natural, derivada da natureza do
depoimento. E importa que esta necessidade se faa sentir espe-
cialmente para alguns crimes; como para os de peculato, de
concusso, de quebra-fraudulenta, de falsidade, para que neces-
srio por vezes referir detalhes intrincados e minuciosos de alga-
rismos, que nem sempre se podem reter na memria.
Igualmente, se, tendo j tido lugar o depoimento oral, se
sentisse a necessidade, em servio da verdade, de notar as varia-
es e as transformaes que le introduz no depoimento j escrito,
seria ilgico proibir sem mais nada a sua leitura. Compreende-se
bem, portanto, que para que o princpio de ser oral a prova no
seja arbitrriamente iludido pelas partes, sempre quem dirige os
debates que deve autorizar essa leitura, sucessivamente ao
346 A Lgica das Provas em Matria Criminal
depoimento oral cujas alteraes se querem notar, para o triunfo]
da verdade.
Proibir que se recorra a notas, nos casos em que h natu-
ralmente necessidade delas para a exactido do depoimentp; proi-
bir a leitura do depoimento escrito em seguida ao oral, quando
se faz sentir lgicamente a necessidade de confronto entre um e
outro, para se notarem as variaes supervenientes, seria desna-
turar estranhamente a regra da sua natureza oral. Seria, nem
mais nem menos, que renunciar verdade substncial por amor
de uma verdade formal, de conveno; seria nada menos que
mudar o princpio da natureza oral da prova numa fico jur-
dica, em uma divindade cega e surda, sbre cuja ara se imola-
riam os sagrados intersses da verdade e da justia.
Eis, pois, mais bem determinado o contedo do princpio
da natureza oral da prova. le importa no s dever-se repro-
duzir oralmente todo o depoimento escrito, que susceptvel
dessa reproduo, mas tambm dever-se proibir a leitura de todo
o depoimento escrito; entendendo esta publicao com algumas
modificaes aconselhadas pela razo, e que convm sejam, por
considerao de lgica legislativa, predeterminadas na sua espcie
pela lei, e 'autorizadas na sua individualidade por quem dirige
os debates, afim de que o sofstico intersse das partes no
ameace continuamente demolir a produo oral da prova.
Mas alm das restries supracitadas, ao princpio da natu-
reza oral da prova, isto , as notas para auxiliar a memria e
as leituras para confronto, restries que no so precisamente
uma verdadeira limitao da produo oral da prova, mas so
ao contrrio um complemento racional dela, por isso que colo-
cam o depoimento oral em condies de prestar maiores servios
ao intersse da verdade e da justia; alm destas restries
supracitadas, dizia eu, ba verdadeiras limitaes ao princpio da
produo oral da prova.
A arte judiciria, considerando a natureza especial de alguns
depoimentos escritos, natureza especial para que no nociva a
leitura; e inspirando-se no intersse da economia do julgamento,
pela qual essa leitura parece ser til e recomendvel; a arte
A Lgica das Provas em Matria Criminal 347
judicial, por tudo isto, designa alguns depoimentos escritos cuja
leitura autoriza, quer se recorra ou no sucessiva reproduo
oral, segundo os casos e as necessidades.
No ficaria completa esta nossa noo da natureza oral da
prova, se nos no referssemos tambm a estas limitaes que a
arte judiciria aconselha. Elas servir-nos ho para estudar rpi-
damente a sua natureza; e tambm para pr de lado um certo
critrio de admisso da leitura que, a-pesar-de aceito pelas escolas,
nos parece falso, substituindo-o por outro critrio que nos parece
ser o verdadeiro nste assunto. Comecemos por indicar de uma
forma geral stes critrios.
Depois que a arte judicial determinou quais so os depoi-
mentos escritos que podem ler-se, a escola e a jurisprudncia teem
procurado determinar tambm quando que les se podem ler.
Veio assim a lume aquele critrio que nos no parece exacto. Disse-
se: os depoimentos cuja leitura devemos admitir, s devero ser
lidos quando consistam na exposio de elementos genricos; no
podem ler-se quando consistam ao contrrio na exposio de
elementos especficos. Porque isto?
Na verdade no encontrei muita luz na exposio das razes
justificativas desta regra, que separa o que nem sempre sepa-
rvel, isto , a prova genrica da prova especfica, prova genrica
e prova especfica que no so muitas vezes seno uma s coisa.
Pela aplicao desta regra a cada caso particular, veremos melhor
como ela no mais que uma regra arbitrria. Por agora,
mencionaremos aqui em geral o critrio lgico que lhe opmos.
o seguinte: os depoimentos escritos, cuja leitura se permite em
considerao da sua natureza especial, s podero ler-se
emquanto se mantenham dentro dos limites da sua natureza
especial. Passemos, rpidamente, anlise dos depoimentos escri-
tos particulares, cuja leitura permitida pela arte criminal, e
veremos em particular como se deve entender e aplicar o nosso
critrio.
348 A Lgica das Provas em Matria Criminal
1. QUEIXA OU DENNCIA
queixa e a denncia, por iaso que respeitam exposio
primitiva do crime cometido em prejuzo prprio ou alheio, cons-
tituem sempre o ponto de partida do julgamento criminal. por
isso que a arte criminal acha lgico admitir-se a leitura dles nos
debates pblicos; afim de que se saiba qual o ponto de onde se
parte na causa que se acha sub judice.
Por outro lado, os inconvenientes dos depoimentos escritos,
por meio dstes depoimentos particulares, reduzem-se a nada,
atendendo a que a palavra do queixoso ou do denunciante nunca
inspiram uma confiana ilimitada, tomando antes o aspecto de uma
acusao que de uma prova.
Mas poder acaso sob a forma e o ttulo de queixa e de
denncia fazer-se com que se admita a leitura de tudo o que se
quer? Sero elas uma espcie de bandeira protectora, apta para
cobrir o contrabando de quaisquer depoimentos escritos? natural,
lgico que assim no seja, e que deva existir um critrio para
determinar quando o seu contedo possa legitimamente ser
admitido leitura, e quando no. E eis aqui um dos casos em que,
na falta de melhor, se tem querido fazer valer como critrio
dirigente a distino bizantina da prova em especfica e genrica.
Disse-se, que a queixa ou denncia s podia ser lida quando no
respeitasse prova especfica. Mas, bom Deus! h crimes em que
no h que distinguir entre prova genrica e especifica: como
quereis que, quem se queixa por motivo de injrias verbais, separe
a pessoa que faz a injria da mesma injria? E, alm disso, que
razo h que autorize a ler a queixa indicativa da generalidade, e j
no a indicativa do especfico do crime? Ticio insultado, depois
agredido, finalmente ferido por Caio; apresenta a sua queixa e
narra tudo isto; parece-lhes lgico que se no deva ler a sua queixa,
por isso que largamente indicativa do especifico do crime? No
h razo no mundo que possa justificar uma tal determinao. Se o
processo prosseguia contra Gaio, precisamente pela queixa que o
indiciava segu-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 349
ramente como autor do crime, porque no se poder depois ler
ste acto iniciativo do julgamento ?
De resto, como sucede sempre relativamente a todos os
critrios falsos, ste critrio da prova especifica indetermina-
dssimo. Dissemos j que as queixas ou as denncias, para serem
lidas, no devem conter indicaes especficas. Julgava-se que,
procedendo por ste modo, se acabaria por excluir da leitura qusi
tdas as queixas ou denncias, excluindo tdas as que se referem
a crimes com autor conhecido. Disse-se, ao contrrio, que para
serem lidas, as queixas ou denncias, no deviam conter uma
indicao muito larga da parte especifica do crime. Como
proceder, pois, para acbar a medida desta largueza que se
transforma em excesso? Nada h de mais indeterminado:
conseguintemente oscilaes, julgados arbitrrios e contradies.
O nico critrio para resolver a questo, dissemo-lo ante-
riormente, parece ser ste: a queixa e a denncia s podero ser
lidas emquanto se mantenham dentro dos limites da sua natureza
especial, pela qual so precisamente admitidas leitura.
queixa, como a denncia,' , direi assim, a exposio
fundamental do crime a julgar; e emquanto elas no fazem seno
expor o crime com as determinaes, mesmo especficas que
sejam, com que o queixoso ou o denunciante se apresentou, elas
no excedem a sua natureza, e devem por isso ser lidas. Ticio
conta na sua queixa como foi insultado, agredido ou ferido por
Caio; as suas indicaes sero especficas, mas no excedem o
contedo natural da queixa: le no faz mais do que expor o crime
de que se queixa, com as determinaes objectivas e subjectivas,
que foram objecto imediato da sua observao.
Suponhamos, agora, ao contrrio, que Ticio, queixando-se
de um furto sofrido, vem em seguida acrescentar na sua queixa
que ouviu a Semprnio, que o ladro deve ter sido Caio, porque
na noite do furto o encontrara fugindo com um fardo debaixo do
brao. Eis que a queixa se desnatura, no se referindo ao crime
emquanto objecto imediato da observao do queixoso, mas
transformando-se em uma redaco escrita de testemunho alheio,
cuja leitura se no permite.
350 A Lgica das Provas em Matria Criminal
O nosso critrio parece-nos, pelo menos, mais racional que
o que rejeitamos. De resto, a extenso do caminho impele- e
no podemos descer a maiores anlises, para no nos perdermos
demasiadamente fora do nosso campo.
2. EXAME POR PERITOS
O exame por peritos, como veremos em lugar prprio, o
testemunho de factos scientficos, de factos tcnicos, ou das
suas relaes. Ora a matria no fcil dstes testemunhos, que
respeita muitas vezes a detalhes complicados e impresses anal-
ticas, que. necessrio fixar imediatamente por escrito, quando
se queiram depois reproduzir exactamente, faz com que o escrito
seja o melhor ponto de partida para tais testemunhos, servindo
melhor para garantir a exactido e a verdade. Eis porque se
admite a leitura do depoimento escrito dos peritos. O perigo da
fragilidade da memria considera-se maior, em matria de exame
por peritos, que o perigo das afirmaes artificiosas e preparadas
que acompanha todos os depoimentos escritos: e isto tambm
quanto qualidade da tstemunha perito, que no um homem
indicado ao acaso, mas sim um homem no comum, que se
escolhe post factum.
A propsito de exame por peritos, julgando-se rectamente
que tambm le no deve ser sempre nem com qualquer con-
tedo admitido leitura, surge novamente o problema do cri-
trio dirigente segundo o qual deva ou no poder-se ler. E tam-
bm a propsito disto se apresentou a distino de prova especfica
e genrica, distino que tem tanto valor racional relativamente
legibilidade do exame por peritos, quanto relativamente legi-
bilidade da queixa. Os peritos so chamados para darem conta,
admitamos, do estado mental do argido, coisa que no respeita
a factos genricos, mas, antes, a factos especficos; dever por
isso rejeitar-se a leitura do exame por peritos ? De modo algum!
tanto nste, como em qualquer outro exame por peritos, existem
as mesmas razes que levam a permitir a sua leitura: porque se
dever ento proibi-la?
A Lgica das Provas em Matria Criminal 351
A propsito de exame por peritos, como tambm a propsito
de qualquer outro depoimento cuja leitura se permite, eu volto ao
meu critrio que me parece ser o nico lgico: o exame por peritos
s poder ler-se emquanto se mantenha dentro dos limites da sua
natureza especial, daquela natureza especial, em virtude da qual se
admite precisamente a sua leitura. O exame por peritos ,
repitamo-lo, o testemunho dos factos scientficos, dos factos
tcnicos, ou das suas relaes conhecidas do perito; eis aqui a sua
natureza especial. Suponhamos, agora, que o perito vem referir no
seu escrito o que objecto de percepes comuns. Quando, por
exemplo, sendo chamado para dar o seu parecer sbre ura
ferimento, vem dizer-nos ao contrrio o aspecto que apresentava o
quarto onde se encontrava o ferido, com que cara ficariam os
espectadores, e o que diriam a seu respeito. Todos vem que o
exame por peritos, nste caso, se desnatura: j no teem o
contedo prprio daquele acto especial que se chama exame
pericial, e que se pode ler. Todos vem que, nste caso, lgico
recusar a sua leitura.
3. RBLATRIOS, AUTOS, CERTIFICADOS
Deu-se um crime: um oficial pblico, que no exerccio das
suas funes teve conhecimento dle, comunica-o por meio de
um relatrio ao Procurador Rgio.
Seguiu-se uma visita ao domicilio, uma captura; verificpu-se
o estado em que se encontrava um homem assassinado: o oficial
pblico redige o auto.
Pedem-se ao Sndico informaes relativas forma como
r
em vista da notoriedade, moralmente reputado Ticio; e o Sn-
dico passa um certificado.
Eis aqui relatrios, autos, certificados, que so afirmaes de
pessoas em forma escrita, reprodutveis oralmente; porquanto a
estas reprodues, em geral, no se ope impossibilidade lgica,
nem impossibilidade material, nem, finalmente, no fazendo*les
f seno at prova em contrrio, impossibilidade legal, coisas
estas que veremos melhor a propsito dos documentos. So, por-
352 A Lgica das Provas em Matria Criminal
tanto, verdadeiros testemunhos escritos. Dever proibir-se a lei-
tura dstes testemunhos escritos?
Os relatrios e os autos teem por fim a verificao de factos
que interessam justia punitiva. Ora, de um lado, os oficiais
que os redigem so muitas vezes obrigados a redigir mais de
um sucessivamente, e isto faz com que as recordaes precisas
dos factos possam facilmente apagar-se da memria, e confun-
dir-se entre si; por outro lado, a matria das verificaes por
rezes to intrincada e complexa de detalhes, que torna cada vez
mais difcil a sua reproduo oral.
E isto to verdadeiro que nas legislaes positivas, aten-
dendo precisamente a que a f nos autos e nos relatrios tanto
maior, quanto a sua compilao est mais prxima dos factos
verificados e das notcias colhidas, h disposies que mostram
claramente como a sua compilao deve ter lugar o mais rapi-
damente possvel, no esquecendo legislao alguma fixar
prpriamente um prazo taxativo, para alm do qual se deve
considerar como irregular a compilao do auto.
Por estas consideraes, portanto, que mostram como a
forma escrita garante melhor a exactido do depoimento, a arte
criminal julga conveniente admitir a leitura dos relatrios e dos
autos.
E atendendo a algumas destas consideraes admite tam-
bm a leitura dos certificados. E digo a algumas destas conside-
raes, porquanto para os certificados, que servem em matria
penal, qusi j no h a complicao do contedo afirmado; les
versam qusi sempre sbre notcias simplssimas. Subsiste con-
tudo, e tem antes cada vez mais importncia, a considerao da
sua multiplicidade, que torna difcil a sua fiel lembrana. Tendo
recebido uma dada notcia, e tendo-a inscrito no certificado, o
oficial pblico muitas vezes j se no recorda. Alm disso, a
mesma simplicidade de contedo do certificado anula o perigo
da facilidade de artifcios e mentiras, perigo inerente forma
escrita das afirmaes, que determina a proibir a sua leitura.
Finalmente, os simples certificados teem, em geral, to pouca impor-
tncia em juzo, que fazem com que se no receie da sua leitura.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 353
A arte criminal tem tido, por isso, boas razes para permitir a
leitura das participaes, dos autos e dos certificados.
E levanta-se aqui de novo a conhecida questo: devero stes
depoimentos escritos ler-se sempre e qualquer que seja o seu con-
tedo? Ser verdade que se no deve admitir a sua leitura quando con-
tenham indicaes especificas ? Combatemos j suficientemente esta
ltima opinio, e no julgamos ser necessrio combat-la novamente.
Os relatrios, os autos, os certificados devem poder sempre
ler-se, emquanto se mantenham dentro dos limites da sua natureza
especial, e na medida da competncia do oficial que os redige.
Suponhamos que, em vez de notificar ou verificar simples-
mente aquilo que foi chamado a notificar ou verificar, o oficial,
que faz a participao ou redige os autos, insere a tudo o que
colheu de Ticio relativamente criminalidade de Caio. Supo-
nhamos que, em vez de certificar simplesmente a boa ou m
conduta, notria, de Ticio, o Sndico comea a contar factos par-
ticulares de Ticio, como sendo-lhe conhecidos por scincia pr-
pria, ou como lhe foram narrados por Caio. Em todos stes casos
existiria uma desnaturao dos actos; estar-se-ia portanto em face
de depoimentos escritos que no lcito ler.
Assim pois, se o Sndico redigisse um auto de visita domici-
liria, se um juiz passasse um certificado de bom comportamento,
aquele auto e ste certificado, pela incompetncia dos oficiais que
os redigiram, no teem j a sua natureza especfica que autoriza a
sua leitura; e por isso se se quer usar dles, necessrio repro-
duzi-los oralmente como a generalidade dos depoimentos.
4. INTERROGATORIOS
Considerando que, quaisquer que sejam as respostas que o
acusado venha a dar no seu exame oral no debate pblico,
sempre interessantssimo saber, antes de mais nada, quais foram
as respostas anteriores, quando no se achava to bem preparado
para a defesa como se acha no momento em que tem de se apre-
sentar no julgamento pblico, a arte judiciria julga por isso con-
veniente autorizar a leitura prvia dos intrrogatrios escritos.
23
354 A Lgica das Provas em Matria Criminal
A propsito, pois, de intrrogatrio, que deve ler-se, no se
faz, nem caso para a fazer, questo do seu contedo. Seja qual
fr o contedo do intrrogatrio, sempre que se refira directa-
mente ao exame do argido, deve ser sempre lido, mesmo quando
respeite a uma afirmao alheia, que o argido tenha julgado
conveniente, referir na sua resposta. Tudo o que foi dito pelo
argido, tudo o que lhe foi perguutado, tudo o que tenha res-
pondido, uma vez que se encontre no intrrogatrio escrito, tem
sempre igual razo para ser admitido leitura.
E basta relativamente aos depoimentos escritos especiais cuja
leitura permitida. E, esta, uma matria mais de Arte que de
Lgica Judiciria. E no nos teramos detido aqui, se nos no
tivesse parecido ser ste um dos casos em que os preceitos da
lgica adquirem clareza e determinao, pela exposio e coorde-
nao complementar daqules preceitos da arte judiciria, que se
dirigem ao modo prtico de actuar dos primeiros.
E bom concluir chamando novamente a ateno do leitor
para uma observao importante, relativa a todos os testemunho
escritos que anteriormente aqui examinamos. A admisso da lei-
tura de determinados depoimentos no dispensa completamente
a sua reproduo oral, a no ser quando se no sinta necessi-
dade dela. E esta necessidade da reproduo oral, de alguns
dstes actos, como o depoimento do argido, faz-se sempre sen-
tir; relativamente a outros, como os autos, as participaes e
os exames por peritos, qusi sempre; para outros, como os certi-
ficados, raras vezes.
Mas, nunca ser demais repetir, seja qual fr a natureza
especfica do testemunho escrito, seja mesmo um simples certi-
ficado, quando surja a necessidade, ou mesmo nicamente a opor-
tunidade de explicaes e adicionamentos, seja qual fr a parte
de onde esta necessidade ou esta oportunidade se faa razoavel-
mente sentir, nunca deve omitir-se a sua reproduo oral, quando
se no queira, calcando os princpios da lgica judiciria, violen-
tar aquela verdade real, que a fatigante, difcil, e, apesar disso,
indispensvel aspirao de todo o processo penal, entre os povos
civilizados.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 355
CAPTULO III Credibilidade
concreta da prova tstemunhal
0 homem, geralmente falando, percebe e narra a verdade: eis
o fundamento da credibilidade abstracta da prova tstemunhal.
Mas esta presuno de veracidade pode ser destruda ou
enfraquecida por condies particulares, que se achem, em con-
creto, inerentes ao sujeito, forma ou ao contedo de um tes-
temunho particular: para avaliar a sua fra probatria, em con-
creto, necessrio por isso atender s supracitadas condies
particulares.
Falando de apreciao dos testemunhos, no entendemos que
seja possvel determinar matemtica e definidamente o seu valor.
Teem sido bem vs, e assim devem ser, as tentativas feitas para
reduzir a um calculo numrico a fra probatria dos testemu-
nhos.
Bentham julgou ter alcanado ste fim, propondo, em primeiro
lugar, como critrio para essa medida, um testemunho de fra
mdia. ste testemunho de fra mdia, seria o derivado de um
homem da classe mdia dos cidados, de inteligncia ordinria, de
uma probidade imaculada, que referisse por uma forma,
conveniente o que tivesse observado. ste testemunho funcionando
como ponto fixo de confronto, serviria assim, segundo le, para
determinar o valor de cada um dos testemunhos: poder-se hiam
determinar os graus iguais, maiores ou menores, de credibilidade
de todo o testemunho relativamente ao testemunho mdio,
considerando a paridade, o maior ou menor nmero dos requisitos
que o acompanham. Mas no atendia o grande pensador a que
nem todo o aumento de um certo requisito produz um aumento de
f proporcional no testemunho; assim, h testemunhos cujo
contedo, simples e material, no exige uma grande elevao
intelectual, e para que a afirmao de um grande filsofo pode
valer tanto, ou mesmo menos, que a de um pobre artfice. Tendo
assim o mesmo requisito diverso valor, segundo o diverso
testemunho concreto, no possvel, do seu aumento,
356 A Lgica das Provas em Matria Criminal
deduzir-se um aumento constantemente proporcional do valor do
testemunho. Como, pois, fazer para fixar o valor de um teste-
munho que tenha um requisito a mais ou menos, que a mdia?
Teem todos os requisitos o mesmo valor relativo? Ao contrrio:
todos sabem que por vezes um motivo para crr tem mais fra que
alguns motivos contrrios. Que fazer, finalmente, para fixar a
medida do mais ou do menos de cada requisito que se afirma como
existente em um dado testemunho? O critrio do teste-
mun
ho mdio portanto um critrio arbitrrio que conduzir a milhares
de problemas insolveis e a milhares de rros.
Mas o pensador ingls no ficou por aqui; procurou tambm
inventar um instrumento apto para medir a persuaso dos
testemunhos sbre os factos afirmados, para poder dar valor exacto
e materialmente fra probatria de cada testemunho. ste
testimonimetro consistiria em um decmetro com uma escala
dupla, escala de persuaso positiva e escala de persuaso negativa,
com o zero representando a ausncia de tda a persuaso, pr ou
contra. A tstemunha deveria precisar a sua persuaso, marcando o
grau dela, dizendo, por exemplo, que a sua persuaso de dez
graus, que o mximo, ou de um que o mnimo, do lado positivo;
ou ento que de dez graus, que o mximo, ou de um, que o
mnimo, do lado negativo. ste mesmo instrumento serviria
tambm ao juiz para precisar nitidamente com quantos graus de
persuaso proferiu a sua sentena. Trata-se, em suma, de uma
espcie de barmetro moral, para marcar as presses provenientes
dos factos sbre a persuaso das tstemunhas, e a que vem das
provas em geral sbre a conscincia dos juzes. Na verdade, no
srio. Em primeiro lugar, a tstemunha deve depor sbre factos que
percebeu com certeza, e no com probabilidade. Ora, a certeza,
conforme demonstramos em outra parte, no admite graus: tem-se
ou no se tem certeza: no pode haver fraces de certeza, nem
fraces de prova. Mas admitamos, comtudo, que a tstemunha vem
afirmar percepes provveis, o que pode ter lugar tambm em
alguns casos; pois bem, a' prpria probabilidade, j o
demonstramos em lugar prprio, nem mesmo se pode graduar por
uma forma to mate-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 357
mticamente determinada, que possam marcar-se numricamente
os seus graus. graduao no mais que uma medida, e a
medida no seno uma quantidade material conhecida, que
serve para tornar conhecidas quantidades materiais desconhe-
cidas. Emquanto se est no campo da matria, a sua medida
homognea; mas os movimentos do pensamento e da conscincia,
sendo actos psquicos, e no quantidades materiais, no so
susceptveis de medio. Espiritualidade e medida so conceitos
opostos e heterogneos. Isto, emquanto medida da persuaso em
si mesma.
Mas poder-se h observar que a persuaso a respeito de um
facto, tem um duplo modo de ser: uma idealidade como estado
da conscincia; uma realidade exterior, como motivo material
que a gera. E, portanto, se a persuaso no susceptvel de gra
duao em si, como estado de alma, ela graduvel como facto
exterior que afirma. Mas reflectindo um pouco, ver-se h tambm
a inanidade desta aspirao, que s teria como concluso, esta
belecer o reinado das fraces de prova. Os factos exteriores teem
uma possibilidade de concretizao indefinidamente multplice:
impossvel enumerar priori tdas as contingncias indefinidas
que podem acompanhar o facto probatrio. Ora, nenhuma destas
contingncias pode fazer variar o valor do facto probatrio, tanto
por si mesma, como pelas inmeras relaes que pode ter com
outras contingncias e outros factos probatrios. graduao,
portanto, da persuaso, mesmo de simples probabilidade, no pode
determinar-se com trmos fixos, por isso que o nmero dos moti
vos, mesmo considerados como factos materiais externos, qne em
abstracto podem ser tomados em conta, indefinido. E emquanto
aos motivos que em concreto so tomados em conta, existe sem
pre em primeiro lugar na sua quantidade alguma coisa de inde
terminado que foge avaliao numrica; e, alm disso, no
s o seu nmero, como dissemos em outro lugar, no s o seu
nmero que determina o grau da persuaso, mas especialmente
a sua importncia, valor lgico que se no pode determinar
numricamente.
Concluindo, ao estudarmos as regras que devem guiar-nos
358 A Lgica das Provas em Matria Criminal
avaliao concrta dos testemunhos, no nos cingiremos a expor
uma tabela de quantidades matemticas. Procuraremos simples-
mente indicar os principais critrios dirigentes que devem presi-
dir a uma tal avaliao.
Procedendo analiticamente, examinaremos, em ttulos suces-
sivos, a credibilidade do testemunho concreto, em relao ao seu
sujeito, em relao sua forma, e em relao ao seu contedo,
indicando os motivos de descrdito que se apresentam sob ste
trplice ponto de vista. Concluiremos ste captulo com um ltimo
ttulo, em que examinaremos a fra probatria que uma tste-
munha sem motivo algum de descrdito, pode ter relativamente
ao delito que se procura verificar.
Os critrios de avaliao, que veremos que se aplicam tanto
relativamente ao sujeito como relativamente ao contedo do
testemunho, tero valor para tda a afirmao de pessoas; mesmo
relativamente afirmao que no seja de natureza tal que cons-
titua um testemunho prpriamente dito, isto , para a afirmao
escrita e irreproduzvel oralmente, para o documento, em suma.
A afirmao de pessoa, que se afirme na forma especfica do
testemunho ou do documento, ter sempre as mesmas regras, tanto
quanto ao sujeito da afirmao, que sempre, do mesmo modo,
a pessoa, como quanto ao contedo da afirmao, que sempre,
do mesmo modo, o que a pessoa afirma. Haver, ao contrrio,
regras especiais para avaliar o testemunho e o documento emquanto
ao que prpriamente forma, pois que precisamente na forma
que assenta a diferena especfica entre uma e o outro.
TTULO I
Avaliao do testemunho relativamente ao sujeito
Para que o homem, como pretende a presuno geral da
veracidade humana, narre a verdade que percebeu, necessrio
que no se tenha enganado percebendo, e que no queira enga-
nar referindo. Bis aqui as duas condies que devem ser ine-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 359
rentes ao sujeito do testemunho, sem as quais le no pode ins-
pirar f alguma. Para que a tstemunha tenha direito a ser
acreditada, necessrio portanto: 1. que no se engane; 2. que
no qneira enganar.
A tstemunha que por condies intelectuais, ou sensrias,
fatalmente arrastada a no perceber ou falsa percepo,
uma tstemunha no idnea por deficiente percepo da verdade.
A tstemunha que por condies morais qusi fatalmente
levada a enganar, uma tstemunha no idnea, por deficiente
vontade de dizer a verdade.
Conseguintemente, tanto as tstemunhas que com certeza
ou qusi com certeza no sabem perceber a verdade, como as
que com certeza ou qusi com certeza no a querem dizer, so
tstemunhas no idneas.
So tstemunhas idneas, portanto, as que se supe sabe-
rem dizer a verdade, e quererem diz-la. Mas entre as tstemu-
nhas idneas, algumas h que apresentam na sua qualidade pes-
soal uma razo para se suspeitar da sua veracidade, e por isso
so denominadas tstemunhas suspeitas: as outras que no apre-
sentam razo alguma determinada de descrdito pessoal, so tst-
emunhas no suspeitas.
Principiemos por mencionar os casos de falta de idoneidade,
para passar em seguida aos casos de suspeio.
A primeira categoria de no idneas, j o dissemos,
determinada pela capacidade intelectual ou sensria.
Os mentecaptos, no sentido generalssimo de privao da
mente, tanto permanente como transitria, proveniente de alguma
causa, so tstemunhas no idneas, quer a privao da mente
se refira ao tempo da percepo dos factos sbre que so cha-
madas a depor, quer se refira ao tempo em que teve lugar o
depoimento. No possvel haver percepo sem o concurso da
inteligncia; e por isso esta uma causa de falta de idoneidade
absoluta, para qualquer matria, e em qualquer causa.
Por anloga razo, e do mesmo modo, no idnea o in-
fante, entendendo esta palavra no seu rigor etimolgico, no sen-
tido de que no fala com senso. Mas o que ser a verdadeira
-*
360 A Lgica das Provas em Matria Criminal
infncia? conveniente dizer uma palavra a ste respeito; por-
que a idade pode ser causa de simples suspeita, o que bem
diverso da falta de idoneidade; e necessrio no confundir
uma com outra, como freqentemente costuma fazer-se. A infn-
cia como causa da no idoneidade, poder fixar-se na idade
menor de sete anos. Mas, a ste respeito, necessrio observar
que um limite fixo e fatal no o que possa obter-se de melhor.
parte as precocidades maravilhosas, como a de Heinecken Cris-
tiano Enrico
1
, fora de dvida que de criana para criana h
infinitas diferenas de desenvolvimento intelectual: h muitas
crianas precoces, como tambm h muitas de tardio desenvol-
vimento. Ora, seria prejudicial para a justia privar-se, por motivo
de idade, de uma tstemunha que talvez seja a nica possvel,
e que possa ser apta para produzir uma legtima certeza; como,
por outro lado, seria tambm prejudicial, como fonte de rros,
admitir-se a depor, como tstemunha idnea, quem de facto no
possui essa idoneidade. Portanto, no intersse da justia, em vez
de fixar um limite baixo de idade, como, admitamos, o de sete
anos, abaixo do qual seriam consideradas incapazes, e excludas
de depor; eu julgo antes melhor fixar um limite mais alto, como,
1
Criana admirvel pelas suas precoces e extraordinrias faculdades,
nascida em Lubeck em 1721. Diz-se que com a idade de um ano sabia de
memria os principais factos do Pentateuco, aos treze meses conhecia a his-
tria do Antigo Testamento, aos dois anos e meio respondia sbre histria e
geografia. A lngua latina e a francesa eram-lhe familiares aos trs anos;
aos quatro anos foi apresentado perante a Crte e o Bei da Dinamarca, a
quem pronunciou uma alocuo. Sustentava-se apenas com o leite de sua
ama; procurou-se desmament-lo, mas morreu pouco tempo depois, a 27 de
Junho de 1725, com a idade de cinco anos; e, resignado como um sbio dos
tempos antigos, exortava a sua famlia a no se queixar.
Podem consultar-se a respeito dste fenmeno os jornais daquele tempo:
Memoires de Trvoux (Janeiro 1781), e a Vita escrita por SCHONEICH seu
preceptor; uma Dissertao de MARTINI, publicada em Lubeck no ano 1730,
e finalmente o tmo xvii da Biblioteca Germnica.
Veja-se na Enciclopdia Popolare Italiana: Heinecken Cristiano Enrico.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 361
admitamos, o de doze anos, obrigando o juiz, no caso de as partes
requererem para que seja ouvido um indivduo de idade inferior a
submet-lo a um exame preliminar para julgar da sua capacidade,
colhendo ao mesmo tempo informaes de seus pais ou do tutor.
Em vista dste exame preliminar, realizado tambm em audincia
pblica, o juiz ou declara, nos casos em que a idade o justifique,
no idnea a tstemunha, excluindo-a de depor, ou ento admite-a
a depor, declarando-a idnea, ainda que suspeita por motivos de
idade. Se o juiz tivesse de dar o seu parecer sbre a capacidade do
menor no momento e na ocasio do depoimento na causa, dar-se-
iam diversos inconvenientes. Em primeiro lugar, observando a
tstemunha de fugida durante o depoimento, seria impossvel
pronunciar-se por meio de um juzo ponderado relativamente sua
capacidade; e depois, no convm que ste juzo seja proferido
intrrogando a tstemunha sbre a matria do depoimento,
porquanto no caso de le ser declarado no idneo, poderia no
entanto alguma das suas afirmaes exercer uma certa influncia
sbre o nimo do juiz e do pblico; o que no seria bom.
Sempre, sob o ponto de vista geral da deficiente percepo
da verdade, e em particular sob o ponto de vista da incapacidade
sensria, so no idneos, relativamente, os indivduos privados de
um sentido: assim, o surdo, relativamente audio das coisas; o
cego, relativamente viso das coisas; quem atacado do
daltonismo, em relao s cres que no percebe; e| assim por
diante.
Apresentemos, agora, uma observao de carcter geral,
relativamente aos no idneos por deficiente percepo da ver-
dade. Os verdadeiramente no idneos, aqules cuja deficincia
de capacidade, quer intelectual quer sensria, se acha verificada,
devem excluir-se de depor. O seu depoimento no pode ser seno
uma fonte de rros para a justia: o depoimento de quem ignora a
verdade, ou intil, ou prejudicial: para que, portanto, admiti-lo
? um dever lgico e jurdico recus-lo, para no se ir de
encontro a graves e certos riscos de rro. Compreende-se, pois,
que no deve alargar-se a capricho o nmero dos no id-
362 A Lgica das Provas em Matria Criminal
neos, privando, assim, a justia de meios oportunos para o conhe-
cimento da verdade. Por vezes entre os no idneos so muitas
vezes includas pelos tratadistas as tstemunhas simplesmente
suspeitas; ora, se se no devessem ouvir as tstemunhas devido a
uma simples suspeita, todos vem que a justia humana no teria
muitas vezes meio algum para chegar descoberta da verdade. S<5
devem excluir-se de depor as verdadeiramente tstemunhas
inidneas.
Passemos agora a tratar da segunda categoria das no id-
neas; das que o so por deficiente vontade de dizer a verdade.
So no idneas, por deficiente vontade de dizer a verdade,
tdas aquelas que por um dever moral so impelidas a escond-la.
Consideremos como causa de falta de idoneidade simplesmente o
impulso para mentir, consistente em um dever moral, pois que
qualquer outro impulso, no s no pode ter igual fra, mas
tambm, seja qual fr a sua fra, pode sempre contrapr--se-lhe a
coaco da lei, obrigando a depor sob a constante ameaa das
penas destinadas a punir o falso testemunho. A solidariedade social
incute em todo o cidado o dever de concorrer com os seus actos,
tanto quanto fr necessrio, para a conservao da tranqilidade
pblica, daquela tranquilidade pblica que perturbada pelo delito
e deve ser restabelecida pela pena. A apresentao, por isso, para
depor, sob o convite da justia, em matria criminal, um dever
cvico, exigvel. Daqui o direito do Estado, de obrigar a depor. Mas
ste direito deve suspen-der-se quando se encontre em face de um
dever moral que aconselhe a calar: o Estado no deve obrigar
imoralidade: civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest. A
tstemunha que obrigada a calar-se por um dever moral, uma
tstemunha no idnea, que se no pode obrigar. Ora, h duas
classes de tstemunhas no idneas destas espcies: tstemunhas
no idneas por parentesco com o acusado, tstemunhas no
idneas por segrdo confidencial. Examinemos estas duas classes.
Os parentes do acusado, dentro de uma certa proximidade de
grau que compete lei positiva determinar, devido aos fortes
A Lgica das Provas em Matria Criminal 363
vnculos com que se sentem ligados a le, so poderosamente
impelidos a desculp-lo. A sociedade no pode, nem deve, infrin-
gir essa solidariedade de intersse e de honra, que liga como que
em um feixe os vrios membros de uma famlia, associan-do-os na
dor e na alegria, na honra e na ignomnia. O parente, por caridade
para com o seu parente, seria arrastado mentira, quando a
verdade fsse contrria a ste ltimo. O depoimento contra o
prprio parente que se acha sob o grave pso de uma acusao,
no tem portanto ordinriamente lugar, por isso que repugna
conscincia; mas mesmo quando tivesse lugar, pela sua prpria
falta de naturalidade, em lugar de fazer supr um culto da
verdade, levaria at ao ponto de sufocar os afectos naturais, faria
supr uma animosidade, que pode ter conduzido mentira em
sentido contrrio. Por outro lado, o depoimento do parente que
tivesse lugar em favor do acusado no teria valor, quando se
supozesse ter sido ditado pelo amor da famlia. Eia aqui as razes
da falta de idoneidade do parente para depor, falta de idoneidade
que absoluta emquanto matria, e relativa emquanto causa:
no se pode por modo algum depor na causa do prprio parente.
Mas, em complemento, necessrio observar tambm que a
vontade contrria verdade como causa de excluso, geralmente,
nas legislaes, considera-se como no existente, quando se trata
de um crime cometido por um parente sbre outro parente, ou
sbre a prpria pessoa do intrrogado; por isso que a solidariedade
com o ofensor, que conduziria sua defesa, supe-se paralisada
pela solidariedade, ou pela identidade, com o ofendido, que leva ao
castigo.
At aqui temos tratado dos motivos lgicos da falta de
idoneidade do parente; mas a sua excluso de depor como tste-
munha determinada por uma razo complexa. Alm dos motivos
lgicos por ns acima citados, h a razo poltica que aconselha a
mesma excluso. necessrio no esquecer que o jri penal tem
por fim restabelecer a tranqilidade social. Ora, o espectculo de
um indivduo que arrastasse para debaixo da espada da justia o
prprio pai, perturbaria a conscincia social:
364 A Lgica das Provas em Matria Criminai
ela encontrar-se-ia violada no seu ideal da solidariedade familiar.
E a lei deve evitar stes efeitos contrrios aos fins da pena.
Quando mesmo a razo lgica, anteriormente mencionada por ns,
no se julgue suficiente seno para legitimar a simples suspeita,
a razo poltica legitimar sempre, incontestvelmente, a excluso
de um tal testemunho.
Passemos s tstemunhas no idneas por segrdo confi-
dencial.
Os indivduos que teem conhecimento de certos factos por
confidncias inerentes ao seu estado, sua profisso, ao seu
oficio, no podem revel-los sem faltar a um dever moral. O padre
chamado a revelar as confidncias confessionais do seu penitente,
o advogado chamado a revelar as confidncias profissionais do seu
cliente, o embaixador chamado a revelar os segrdos de gabinete
que lhe foram confidencialmente confiados, encontram-se em face
de um dever moral que os aconselha a ficarem calados. E, se a
lei, obrigando a depor sbre estas matrias, levasse algum a
cumprir o dever legal contra o dever moral, ste calcar do dever
moral, em vez de ser favorvel sociedade, no faria seno pre
judic-la devido natural perturbao que da resultaria para a
conscincia social: todos sentiriam que todos os seus segrdos,
mesmo os confiados a algum por necessidade, esto sempre
expostos a qualquer intrrogatrio judicial. Tambm aqui, por
tanto, a razo politica se associa eficsmente razo lgica, para
excluir aqules que, por causas inerentes ao estado, profisso,
ou ao ofcio, tenham sido admitidos a uma confidncia, a depor
sbre a matria dessa confidncia. Trata-se de uma falta de
idoneidade relativa emquanto matria, e absoluta emquanto s
causas; no se pode depor sbre o contedo da confidncia, qual
quer que seja a causa para que se tenha sido intimado a com
parecer, *
assim, e com estas determinaes, que se deve entender
o segrdo confidencial de profisso. le s tem direito a ser res-
peitado relativamente ao facto confiado, relativamente materia
da confidncia; e no se pode, por meio de uma estranha e il-
gica inverso, divulgando o facto confiado, invocar ao contrrio
A Lgica das Provas em Matria Criminal 365
o respeito do segrdo pelo nome do confidente
1
. 0 dever moral de
se calar relativo matria da confidncia; e do momento em que
se julga estar calado sbre o facto confiado, no se tem o direito
de no dizer o nome do confidente. O confessor, por exemplo,
poder recusar-se a depor sbre um dado facto, porque teve
conhecimento dle por meio de confidncia inerente ao seu estado,
e tem direito para isso; mas no poder afirmar, admitamos, uma
acusao a cargo de Ticio, como tendo conhecimento dela por um
seu cmplice na confisso, entrincheirando-se depois atrs do
segrdo da confisso emquanto ao nome do cmplice, que se lhe
foi confessar. Se fsse permitido tstemunhar sbre as confidncias,
ocultando o nome do confidente, isso seria o triunfo das acusaes
annimas. A calnia encontraria um meio faclimo para ferir com
infmias, sem perigo algum. Como convenc-la de falsidade ? O
segrdo que envolve a pessoa do confidente conver-ter-se-ia em
uma couraa de impunidade para o caluniador, quer o caluniador
fsse a prpria tstemunha, que inventou uma confidncia que
nunca tivesse existido, quer o caluniador fsse um confidente
malvado, isto , um terceiro, que, artificiosamente, se tivesse
apresentado ao confessor, ou ao advogado, fingindo-se, em um
delito qualquer, cmplice de um seu inimigo, com o fim de o
perder. E basta a ste respeito.
Concluindo, so tstemunhas no idneas por incapacidade
moral, tanto os prximos parentes do acusado, como os que teem
conhecimento dos factos por segrdo confidencial: tanto uns como
os outros so dispensados de depor em razo e na proporo da
sua falta de idoneidade.
Mas ns temos considerado at aqui como no idneos por
deficiente vontade de dizer a verdade, os que por um dever moral
so impelidos a escond-la. Ora, dste conceito smos
1
A palavra confidente, substantivamente, empregada mais freqen-
temente
para significar a pessoa a quem se confiam os prprios segrdos, e mais
raramente para significar a que os confia. Eu emprego-a aqui no segundo
sentido, em harmonia com a razo etimolgica.
366 A Lgica das Provas em Matria Criminal
levados, por um fio de lgica, a algumas dedues, que julga-
mos til expor.
Se a razo desta falta de idoneidade assenta em que o
impulso para mentir provm de um dever moral; quando ste
dever moral que aconselha a calar deixa de existir, deve cessar
tambm a no idoneidade e a consequente dispensa da tste-
munha.
Analisemos os casos.
Repugna conscincia do parente depor contra o parente:
um sentimento natural que deve ser respeitado, e por isso o
parente excludo de depor, afim de o no colocar em luta
entre o sentimento natural que o impele a desculpar, e a ver-
dade, que, eventualmente, pode impeli-lo a acusar. Mas se o
acusado confia em que lhe seria til, por um conhecimento espe-
cial dos factos, o testemunho de um seu parente; e se o afectuoso
parente, concordasse que o seu depoimento detalhado, incontes-
tvel, eficaz, seria til ao acusado; ento porque deveria recusar-se
um tal depoimento? Dir-se hia talvez que a palavra do parente
a favor do acusado no pode ter grande valor, visto se supr ins-
pirada no amor de famlia. E ainda que o seja: ser ela uma
causa de suspeita, que ser devidamente levada em conta; mas
nunca poder ser uma causa de excluso; nunca poder haver o
direito de expulsar da sala de justia uma tstemunha impor-
tante, que, no obstante as suspeitas, poder por condies intrn-
secas de credibilidade do seu depoimento, inspirar f plena, e
fazer brilhar a verdade. O parente era lgicamente excludo de
depor, para no ser colocado na terrvel posio de uma luta
entre o dever moral e o dever legal; o parente era lgicamente
excludo de depor para no se dar sociedade o espectculo
eventual de um homem, que cai sob a espada da justia, impe-
lido pela mo de um seu parente. Mas quando ste parente vem
dizer-vos: no h luta no meu esprito; o meu dever moral est
de harmonia com o dever legal; a verdade est em favor do meu
parente, e eu sinto a necessidade e o dever de a proclamar;
quando o acusado vem dizer-vos: estou certo de que o depoimento
do meu parente s me pode ser til, a verdade est em meu
A Lgica das Provas em Matria Criminal 367
favor, e le no me tem dio, que o possa arrastar mentira;
perante tudo isto, continuar a excluir o testemunho, seria violentar
a lgica e a justia. Eu julgo, portanto, que, sob o duplo pedido
espontneo do parente e do acusado, a tstemunha, no obstante o
parentesco, deve admitir-se a depor. Se exijo a dupla convergncia
das duas vontades, a do acusado e a do parente, porque os factos
podem apresentar-se diversamente nas duas conscincias. Se
bastasse a vontade do acusado, ste, do seu lado, poderia contar
com o amor de famlia, para crr que a tstemunha trairia a
verdade, em seu favor; e a pobre tstemunha encontrar-se hia,
assim, obrigada a sofrer aquela mesma luta, que se quis evitar,
entre o dever moral e o dever legal. Se bastasse a vontade da
tstemunha, esta, por sua vez, poderia, mesmo de boa f, revelar
circunstncias que lhe parecessem favorveis ao acusado, e que
ste pelo seu pleno conhecimento dos factos, julgasse serem-lhe
contrrios; ou, o que peor, a tstemunha tendo dio ao seu
parente, poderia por meio de um depoimento artificioso ser-lhe
nociva, fingindo procurar favorec-lo: ter-se hia em todo o caso
aquele mesmo espectculo, que se queria evitar, de uma
tstemunha que, na sala pblica da justia, com a sua palavra
agrava a sorte do ru, seu ntimo parente.
No foi, pois, casualmente que falei de espontaneidade de
pedido do acusado e da tstemunha, porquanto, se se concedesse
ao juiz, ao acusador, ao ofendido, provocar o consentimento dles,
ento o respeito pelo dever moral do silncio seria uma amarga
ironia. Ento, a recusa eventual de consentimento por parte do
acusado seria imediatamente acolhida e proclamada como uma
confisso implcita; ento, a eventual recusa de consentimento por
parte da tstemunha fazer-se-ia soar como a confirmao da
acusao aos ouvidos do ru; ento, em suma, seria violentamente
calcado na sua substncia aquele direito ao silncio, que se
simularia respeitar por meio de torpes hipocrisias de forma.
Passemos agora aos casos de segrdo confidencial de pro-
fisso.
O confessor, o advogado, o embaixador que teem obrigao
moral de guardar silncio sbre os factos, que lhes so confiado
368 A Lgica das Provas em Matria Criminal
devido sua qualidade, s teem tal obrigao emquanto o seu
estado, a sua profisso e o seu ofcio actuarem, como promessas
implcitas e antecipadas de segrdo, sbre o esprito do confi-
dente, induzindo-o a falar, na legtima f de que o segrdo no
seria violado. V-se daqui que o dever do silncio s subsiste na
hiptese de o confidente querer que se mantenha o segrdo da
sua confidncia. Mas tda a hiptese deve desaparecer em face
da realidade. Quando o cliente diz ao seu advogado ou ao sen
mdico: autorizo-o a publicar as minhas confidncias; quando o
penitente diz ao confessor: quebre o segrdo confessional; ento,
o dever moral de conservar o silncio j no subsiste e afirma-se
por isso, incontestvelmente, em tda a sua fra, o dever civil
de prestar depoimento.
E por isso meu parecer, que no caso de o confidente ser o
acusado ou um seu parente, sob pedido espontneo do primeiro
ou do segundo (incluindo naturalmente, como o mais inclui o
menos, o consenso da publicidade), o mdico, o advogado ou o
confessor no s poderiam, mas deveriam vir depor sbre a ma-
tria da confidncia. E tambm aqui requeiro a espontaneidade
do pedido por parte do acusado e de seu parente, para que da
sua recusa de consentimento se no faa um argumento contra
o primeiro. No se oponha, pois, a possibilidade de uma artifi-
ciosa confidncia por parte do argido a fim de preparar um
testemunho til em devido tempo, pois que esta considerao
no pode justificar a excluso, mas smente a suspeita, que,
admitamos, deve ser levada em conta pelo juiz na avaliao do
testemunho.
Parece-me que quando o confidente seja um terceiro, sob o
livre consenso dsse terceiro (que, nste caso, poderia sem graves
inconvenientes ser tambm provocado por uma pergunta do juiz
ou das partes na causa), o mdico, o advogado ou o confessor
no s poderiam, mas deveriam depor sbre a matria da confi-
dncia feita.
Desde o momento em que existe o consentimento do confi-
dente para a publicidade, o dever do silncio j no existe, e o
poder civil no se encontrando j em frente de dever algum
A Lgica das Provas em Matria Criminal 369
moral a respeitar, deve ter o direito de obrigar, quando o julgue
til, ao cumprimento legal do dever civil de prestar testemunho. O
confessor, o mdico, o embaixador no tero, ento, direito algum
para se recusarem a depor, e podero ser a isso obrigados por
todos os meios e sob tdas as penalidades que a lei impe contra
qualquer ontra tstemunha. Extinto o dever moral de guardar
silncio, deve a6rmar-se em tda a sua fra o dever civil de falar.
E agora basta sbre as condies pessoais que conduzem
no idoneidade das tstemunhas. Tratemos agora das idneas.
As idneas, conforme dissemos, so divididas em suspeitas
e no suspeitas, conforme apresentam, on no, razes pessoais que
conduzam dvida sbre a sua credibilidade. Faremos uma rpida
exposio destas causas pessoais de descrdito que podem encon-
trar-se na tstemunha; e com isto, determinaremos, ao mesmo
tempo, as duas espcies das tstemunhas idneas: a existncia de
uma razo pessoal de descrdito caracterizar a tstemunha sus-
peita, como a ausncia de tda a razo de descrdito caracterizar
a tstemunha no suspeita.
Quando falamos de tstemunhas suspeitas e no suspeitas,
naturalmente no entendemos falar delas sob o ponto de vista da
realidade absoluta, mas sim sob o ponto de vista daquela reali-
dade que aparece aos olhos do juiz. Sob ste ponto de vista as
tstemunhas apresentam por vezes, em uma qualidade pessoal
sua, uma razo para se suspeitar da sua credibilidade; razo que
as faz caracterizar como tstemunhas suspeitas.
Procedamos analiticamente.
Dissemos, que a credibilidade da tstemunha se funda total-
mente na dpla presuno, de que ela se no engana, e de que no
quer enganar. Ora, qualidades pessoais h que incluem a
facilidade de enganar-se; e outras que incluem a vontade fcil de
enganar; no primeiro caso, a tstemunha perde f, por motivo de
suspeita de incapacidade intelectiva ou sensria; no segundo caso,
a tstemunha perde f por suspeita de incapacidade moral.
Emquanto ao primeiro caso claro que a fraqueza, perma-
nente ou transitria, da inteligncia, quer se retira ao tempo
24
370 A Lgica das Provas em Matria Criminal
dos factos observados quer ao dos factos referidos, inclui sempre
a facilidade de a tstemunha se enganar. Esta razo de suspeita,
que subsiste para qualquer depoimento, e por isso absoluta,
conseguintemente maior ou menor, conforme o contedo do tes-
temunho particular; porquanto o testemunho particular pode
exigir uma grande actividade intelectual, como quando se refere
a coisas subtis e metafsicas, e a razo de suspeita ser
mxima; e pode exigir, ao contrrio, uma pequenssima
actividade intelectual, como quando se refira a factos comuns e
materiais, e a razo de suspeita ser mnima.
Na suspeita por motivo de fraqueza intelectual, entra a da
menoridade da tstemunha. Exceptuando o caso de no idonei-
dade, no idoneidade que, existindo oposio das partes, estabe-
lecemos no dever admitir-se seno em conseqncia de um exame
prvio pblico e judicial; exceptuando o caso da no idoneidade,
dizia, a menor idade deve considerar-se como causa de suspeita,
que deve ser tomada na devida conta, admitindo-se sempre o
seu testemunho.
Falando da fraqueza da inteligncia, como motivo de sus-
peita, consideramos a inteligncia no s como aquela faculdade
espiritual que, em presena do objecto, adquire ideia dle, mas
tambm como aquela faculdade que, na ausncia de objecto,
resuseita, direi assim, a ideia dle, reconhecendo-a como corres-
pondente realidade. Por outros trmos, na fraqueza da inteli-
gncia, em geral, compreendemos a da memria, o que impor-
tante, por isso que se refere ao momento de depor. Pode, com
efeito, ter-se uma forte inteligncia para a adquisio das ideias,
tanto na poca da percepo dos factos como na do testemunho,
e t-la fraca para a reproduo das ideias; de modo que na oca-
sio do testemunho as verdadeiras recordaes so substitudas
inconscientemente pelas falsas. A fraqueza notvel de memria
entende-se por isso tambm compreendida entre os motivos que
fazem suspeitar de que a tstemunha se engane.
Alm da fraqueza intelectual, claro tambm que a fra-
queza de um dado sentido deve gerar suspeitas de rro, relati-
vamente espcie da percepo que corresponde quele sentido.
872 A Lgica das Provas em Matria Criminal
lao da perda ou da fraqueza do senso moral, isto , a revelao da
perda ou da fraqueza dste obstculo, que Deus ps na conscincia
humana, contra a mentira; tdas as vezes que em uma condio
pessoal se descubra uma tal revelao, ter-se h legitima razo para
suspeitar na tstemunha a existncia de uma possvel vontade de
enganar, a propsito de tudo e de todos. deficincia de senso
moral, eis o motivo genrico e absoluto de suspeita da vontade de
enganar; motivo genrico, sob o qual se classificam os vrios
motivos particulares e sempre absolutos, consistentes nas diversas
qualidades pessoais, que podem revelar em concreto esta perda ou
ste enfraquecimento do senso moral, que se resolvem, na
conscincia da tstemunha, em falta ou fra-queta de obstculo
mentira.
H crimes que, pela sua natureza, requerem uma baixeza de
esprito que se no concilia com o senso moral, e por isso o facto de
ter sido condenado por um dsses crimes, inspira suspeita sbre a
credibilidade da tstemunha; e digo condenado, nica-
mente
porque a condenao representa a certeza do crime come-tido.
Assim, a condenao por corrupo do oficial pblico, que rebaixou
a altura de uma funo pblica, que lhe foi confiada, a um vil
instrumento de mercancia; assim, a condenao por execuo de um
mandato criminoso, crime revelador da frieza do clculo e de um
torpe contracto; assim, em geral, as condenaes por furto e por
falsificao em tdas as suas variadas formas; tdas as
condenaes, em suma, por crimes reveladores de uma torpe
baixeza de nimo inconcilivel com o senso moral, so motivos
absolutos de suspeita contra a tstemunha.
Tratadistas h que falam da condenao por crimes torpes
como de uma causa de excluso, em parte por influncia de recor-
daes histricas, em parte pela confuso geral com que se cos-
tumam expor as causas de falta de idoneidade e de suspeita. Mas
fora de dvida, e creio intil gastar mais palavras, que a con-
denao por crimes torpes no pode, em presena da lgica, ter
seno a fra de uma simples suspeita, que necessrio levar em
devida conta, admitindo sempre o depoimento.
Um motivo concreto de suspeita por perda de senso moral,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 373
tambm a prostituio que rebaixa o corpo humano a um ins-
trumento de trfico infame. E anlogo motivo de suspeita tam-
bm o lenocnio, que duas vezes ignbil, especulando torpe-
mente com uma torpe indstria.
Abaixo destas ou de outras espcies anlogas de qualidades
pessoais que revelara eminentemente a perda do senso moral, h
assim uma graduao indefinida e descendente de qualidades
pessoais, que revelam uma dada fraqueza de senso moral, auto-
rizando a suspeita em um grau sempre e proporcionalmente menor.
Passemos agora aos motivos relativos que fazem suspeitar
que se quer enganar; motivos relativos que consistem nas rela-
es que a tstemunha tem com a causa.
O homem, geralmente falando, tem na conscincia, j o
dissemos, um obstculo poderoso contra a mentira: o senso
moral. Sem um motivo contrrio, subjectivamente mais forte, o
homem no saberia mentir, inclinar-se-ia respeitoso perante a
verdade. ste motivo contrrio encontra-o nas suas paixes: por
uma paixo, que fala alto no seu esprito, arrastado muitas vezes
a combater e por vezes at a vencer a repugnncia natural, que
tem pela mentira. nas paixes, portanto, que necessrio
procurar, sob o ponto de vista da vontade, os motivos de suspeita
da tstemunha.
Tdas as paixes humanas reduzem-se a duas fontes: o amor
e o dio. Sob estas duas bases capitais das paixes que por isso
se deve classificar a genealogia das suspeitas.
Principiando pelo amor, ste pode ter por objecto a prpria
pessoa ou outrem.
O amor por si mesmo, como motivo de suspeita no teste-
munh
o, pode, em primeiro lugar, afirmar-se como intersse pessoal na
causa. Quando o diverso resultado da causa conduzisse a uma
utilidade pessoal para a tstemunha, ou a uma desvantagem sua,
compreende-se fcilmente que o desejo da utilidade e o temor do
dano, que se resolvem ambos no amor de si prprio, a impilam a
mentir, para alcanar uma sentena do magistrado de harmonia
com os seus intersses. Por ste motivo, nos seus depoimentos, so
suspeitos os acusados, tanto quando tstemu-
374 A Lgica das Provas em Matria Criminal
nhem em seu prprio favor, quando j se acham suficientemente
indiciados, como rus, como quando depem contra o cmplice;
pelo mesmo motivo, dentro de certos limites, suspeito o ofen-
dido: ocupar-nos-emos destas duas classes de tstemunhas sus-
peitas um pouco mais adiante, como objecto principal. Sempre
pelo intersse na causa, so suspeitos tambm todos os que, em
geral, depem em defesa prpria; so suspeitos tambm os denun-
ciantes sem obrigao de ofcio, que pela prpria espontaneidade
da denncia revelam o seu intersse, de qualquer gnero, no
prosseguir do julgamento; tambm so suspeitos os que participam
nas multas, e os civilmente responsveis.
O amor de si prprio, como causa de suspeita, pode tambm
afirmar-se por outra forma. Consideramo-lo anteriormente em
relao vantagem ou desvantagem que do julgamento pode
advir tstemunha; mas isso pode actuar sbre o esprito humano,
arrastando-o mentira, mesmo por uma vantagem ou uma des-
vantagem extra-judicial, derivada da diversa ndole do depoi-
mento. A esperana de um prmio extra-judicial, como o temor
de uma pena extra-judicial, podendo impelir a tstemunha
mentira, fazem surgir uma legtima dvida sbre a sua veraci-
dade. Por esta razo, so suspeitos os que dependem do acusado
e do ofendido, e, at por vezes, os seus parentes mais prximos;
por esta razo so suspeitas as tstemunhas sob cujo esprito pesa
a promessa de um bem desejado, ou a ameaa de um mal que
se teme.
O amor pelos outros, como causa de suspeita, concretiza-se
na amizade para com o argido ou para com o ofendido. Sb a
frmula de amizade pelo ofendido, compreendemos tambm os
casos de parentesco com le; assim como sob a frmula de ami-
zade pelo argido, compreendemos tambm o parentesco com le,
sempre nos casos de afastamento de grau que no seja compreen-
dido na excluso, e nos casos de parente em grau prximo, que
se admita excepcionalmente a depor, pelas vontades convergentes
do argido e do parente, segando o que anteriormente dissemos.
A amizade pelo argido provoca sempre mais graves suspeitas
que a proveniente da amizade pelo ofendido, por isso que ordi-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 375
nrio que a amizade se esforce por afastar o mal da cabea de um
amigo, e , ao contrrio, extraordinrio, que ela chegue at
desposar as suas injustias, fazendo recar por gsto do amigo, ou
pelo intersse da reparao de seus prejuzos, a sua palavra injus-
tamente acusadora sbre as costas do ru.
O dio pelos outros, como causa de suspeita, manifesta-se
na inimizade para com o argido ou para com o ofendido. O dio,
em regra, no pode afirmar-se seno relativamente a outrem,
como causa de suspeita; mas h comtndo casos excepcionais de
dio para com si prprio, que devem tornar suspeitas as palavras
do depoente; assim, um homem preso por monomania suicida, ser
suspeito quando deponha contra si prprio em uma causa capital.
Emquanto amizade e inimizade, para com o argido ou
para com o ofendido, julgo ser til observar que elas no s do a
suspeita de querer enganar, mas servem por vezes tambm para
legitimar a suspeita, relativamente a um dado contedo de test-
emunho, de que a tstemunha se engana; como quando o depoi-
mento versa, no sbre factos materiais, em relao a que o afecto
nunca pode alterar o funcionamento dos sentidos, mas sim sbre
factos morais, que se apresentam diversamente, segundo a sua
diversa apreciao; apreciao diversa, que enormemente influn-
ciada por uma diversa predisposio do esprito, ou preveno, se
assim se lhe quer chamar.
Eis indicados por esta forma todos os motivos de suspeita
que, apresentando-se como aderentes pessoa da tstemunha,
desacreditam a sua credibilidade. Julgamos intil deter-nos fa-
zendo um largo desenvolvimento de cada um dles, convencidos
de que no proviria da utilidade alguma, nem para a scincia,
nem para a prtica judiciria. Supremamente til na matria,
julgamos ser smente designar, com preciso e com ordem lgica,
a natureza de cada motivo de suspeita: a noo desta natureza, eis
o critrio dirigente que deve iluminar-nos na avaliao de cada
caso singular e concreto, para apreciar o seu justo valor em tdas
as vrias e possveis contingncias no meio das quais podem
concretizar-se. Considerar a natureza do motivo que ins-
376 A Lgica das Provas em Matria Criminal
pira a suspeita; proporcionar a suspeita fra do motivo; 9
avaliar esta fra em relao s circunstncias particulares de
facto e ao carcter da tstemunha: eis o que necessrio para
apreciar, no seu justo valor, o motivo de suspeita no caso concreto.
Todos os motivos de suspeita, portanto, quer sejam absolutos,
quer relativos, no podem conduzir lgicamente seno a estar em
guarda contra certos testemunhos, e a no lhes dar um demasiado
valor; mas nunca a exclu-los do campo das provas.
A fraqueza de inteligncia ou dos sentidos, no deve levar
necessriamente concluso do rro da tstemunha.
A falta de um forte obstculo mentira, que assenta no
senso moral, motivo absoluto de suspeita por incapacidade moral,
no deve levar concluso, imediata, de que a tstemunha no
possa apresentar a verdade. A existncia de uma paixo que
combate no caso especial aquele obstculo, motivo relativo de
suspeita por incapacidade moral, no conduz a concluir que
aquele obstculo deva sempre ficar vencido, e que se deva
sempre mentir.
Se tivssemos de excluir tdas as tstemunhas suspeitas,
bem poucos seriam os julgamentos que chegariam a cabo; e
sses poucos no inspirariam f nem na verdade, nem na sua
justia. Quem poderia de facto assegurar que nos impenetrveis
recnditos do esprito da tstemunha aparentemente insuspeita,
da tstemunha sbre cuja f se proferiu a sentena, no exis-
tiam motivos bem poderosos que deviam t-la feito excluir de
depor? A excluso dos suspeitos resolver-se hia, portanto, no
triunfo do scepticismo judicial.
Emquanto aos motivos de suspeita em geral, necessrio
fazer ainda uma observao que julgamos til. necessrio notar
que todos os motivos, quer absolutos, quer relativos, de suspeita,
que se deduzem do estudo da pessoa da tstemunha, podem vir
a ser paralisados por outra condio pessoal, que pode encon-
trar-se na mesma pessoa da tstemunha.
Com efeito, emquanto facilidade de se enganar, o motivo
de suspeita proveniente da fraqueza intelectual ou sensria, pode
ser paralisado pelo hbito de uma dada espcie de observaes,
A Lgica das Provas em Matria Criminal
377
fsicas ou intelectuais, que compense o defeito real de sentido e de
inteligncia. Assim, a observao de um armeiro, se bem que
mope, relativamente conformao material de uma arma, ter,
pelo menos, tanto valor como o depoimento de uma tstemunha
com vista de lince, mas que no tenha prtica alguma de armas-
Assim, o parecer de um alquil de fraca inteligncia, sbre o valor
intrnseco de um cavalo, inspirar, concordareis, mais f que o
parecer de um grande poeta, no habituado a praticar seno o
cavalo Pegaso das suas fantasias.
E em quanto vontade de enganar, a probidade actual da
tstemunha, quando de natureza a mostrar firme o senso moral,
paralisa o motivo absoluto de suspeita oriundo da presumida perda
de senso moral. O que j foi condenado, a que j foi meretriz,
quando pela vida actual mostram ter voltado com o seu esprito
sob o domnio da moral, ficaram, pela sua vida actual,
rehabilitados, direi assim, para a credibilidade.
E continuando sob o mesmo ponto de vista da vontade de
enganar, a prpria probidade actual, quando tal que mostre que
o senso moral to forte que no pode ser vencido por pai-xes
contrrias, serve para paralisar o motivo relativo de suspeita que
nasce da presumida existncia de paixes contrrias. O homem
verdadeiramente probo, se bem que interessado, amigo ou ini-
migo, no mente.
Temos-nos at aqui ocupado em considerar as condies pes-
soais determinadas que tornam o testemunho no idneo ou
suspeito. No se julgue, porm, que todos os testemunhos que no
so, pelas determinadas condies acima expostas, excludos, nem
suspeitos, devam ser tomados como plena e igualmente crveis..Em
primeiro lugar, emquanto possibilidade de que a tstemunha se
engane, para a completa avaliao subjectiva do seu depoimento
ocorre ter em vista o diverso grau de perfeio sensria e de fra
intelectual e menemnica, que apresenta a pessoa que afirma,
mesmo quando no suspeita, relativamente ao contedo da sua
afirmao.
H factos to simples, que no requerem uma grande acti-
vidade sensria e intelectual, e em virtude dos quais perde tda
378 Lgica das Provas em Matria Criminal
A importncia a investigao do grau de capacidade subjectiva
4a tstemunha no suspeita. Para se ter a percepo sensitiva de
uma casa que arde, de um muro que se arrana, de um homem
que ci de um terrao, no tem por certo importncia a maior
ou menor perfeio dos sentidos; nem tem importncia a maior
ou menor fra intelectual para se formar juzo relativamente a
dadas sensaes; e nem mesmo pode ter importncia a maior ou
menor fra de memria para factos que, como stes, so por si
mesmos, to simples e to impressionantes.
Mas nem todos os factos so to simples; alguns h em que
uma diferena de capacidade subjectiva tem importncia, sendo
a f a dar tstemunha proporcional sua capacidade. Para
perceber, suponhamos, os detalhes complicados de um mecanismo,
sero mais aptos os sentidos (aperfeioados pelo hbito, e guiados
por uma inteligncia disciplinada na espcie) de um mecnico,
que os sentidos de uma qualquer outra tstemunha que se limite
a apresentar uma capacidade normal, e por isso simplesmente
no suspeita. Para perceber relaes complicadas de algarismos,
e conserv-los na memria, nem tdas as tstemunhas no sus-
peitas apresentam igual capacidade, e por isso nem tdas devem
inspirar igual f. Para distinguir que um determinado p de
um certo veneno, so necessrios conhecimentos especiais; e quem
possuir melhores dstes conhecimentos, inspirar sempre mais f
que quem tenha menores conhecimentos a tal respeito.
Para avaliar, portanto, subjectivamente um testemunho, no
basta, sob o ponto de vista da possibilidade de engano da tste-
munha, ter s em vista os motivos de suspeita; necessrio
tambm atender s particulares perfeies dos seus sentidos, e
particular fra da sua inteligncia e da sua memria, assim
como tambm do estado dos seus conhecimentos relativamente
matria da afirmao. E relacionar os conhecimentos da tstemu-
nha com a matria da sua afirmao, convir tambm, por outro
lado, para esclarecer o juiz; a tstemunha que vier fazer afirma-
es referentes matria que se supe estranha, ou superior, aos
seus conhecimentos, deve ser convidada a dizer como est de
posse dos conhecimentos que as suas afirmaes fazem pressupr,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 379
e, assim, obrigando-a a prestar as razes do que sabe e do que diz,
poder-se h chegar descoberta de uma sugesto exercida sbre
ela, quer fazendo-lhe reter materialmente, de memria, uma dada
afirmao, quer inspirando-lhe um limitado e momentneo
conhecimento para a levar a falsas afirmaes.
Tambm, pois, sob ponto de vista da vontade de enganar,
necessrio atender ao diverso grau de probidade da tstemunha
ainda quando no suspeita, para apreciar exactamente o seu
depoimento: nem tdas as tstemunhas probas e sem impulso' para
a mentira, nem tdas as tstemunhas normalmente insuspeitas,
merecem igual f. Mesmo em igual ausncia de impulsos aparentes
para a mentira, lgico que quem d maiores provas de probidade
e menos desmentida nas varias contingncias da vida, deve
sempre inspirar mais f. E na hiptese de existirem impulsos para
a mentira, sob o ponto de vista da resistncia a sses motivos, h
probidade e probidade mesmo entre os melho-res : se houve os
mrtires do Cristianismo que, confessando a sua f, caminharam
serenos de encontro morte por amor da verdade ; houve tambm o
apstolo Pedro que, com mdo das perse-J guies, renegou o seu
Senhor, declarando no o conhecer.
Concluindo, a completa avaliao objectiva do testemunho
consiste, no s no estudo daquelas condies determinadas que
tornam a tstemunha no idnea e suspeita, mas tambm no
exame do grau de perfeio intelectual, sensria e moral, que a
tstemunha, mesmo no suspeita, apresenta relativamente ao seu
testemunho: o- complexo destas consideraes que determina a
credibilidade subjectiva do testemunho.
TITULO II Avaliao do
testemunho relativamente forma
Para a completa apreciao do testemunho no basta consi-
derar as condies pessoais que, abstraindo mesmo do
testemunho concreto, fazem pensar que a tstemunha se engana,
ou que quer enganar; isto basta nicamente sob o ponto de vista
da
380 A Lgica das Provas em Matria Criminal
avaliao subjectiva. Mas o testemunho, para ser bem avaliado, deve
atender-se tambm na sua forma e no seu contedo. Tra- taremos
aqui da forma.
Sendo o testemunho o conhecimento de um homem comuni-
cado a outro homem, esta transmisso do pensamento de uma
conscincia para outra s pode operar-se por meio de uma extrin-
secao material; pois que os espritos s comunicam entre si por
meio dos sentidos. A quem recebe o testemunho, ste apresenta-se,
portanto, com formas exteriores, mais ou menos vari-veis. Ora,
como estas formas exteriores, segundo a sua diversa natureza,
aumentam ou diminuem o valor probatrio do teste-
munh
o, segue-se que para o avaliar devidamente, necessrio-tambm
atender quelas; isto , necessrio atender s exterio-ridades, nas
quais, ou pelas quais, o testemunho se realiza.
H exterioridades que aumentam ou diminuem o valor do
testemunho, por isso que directa ou indirectamente servem para
manifestar o ntimo da tstemunha. H exterioridades que aumentam
ou diminuem o valor do testemunho, por isso que, sendo con-
sideradas como formas protectoras d verdade, necessrias para
descobrir e por vezes corrigir os rros possveis da tstemunha, ou
para descobrir e por vezes paralisar a sua possvel vontade de
enganar, a falta delas, destas formas protectoras, considerada como
um perigo de rros por parte do juiz, perigo que naturalmente
diminua ou aumenta o valor probatrio do depoimento. Faamos
uma referncia a estas exterioridades formais, que teem o valor de
dar ou tirar eficcia ao testemunho, e que por isso devem ser levadas
em conta para a sua exacta apreciao. Para que o testemunho revele
a verdade, no basta que a tstemunha se no engane e que no
queira enganar; necessrio tambm que a tstemunha exprima a
verdade por uma forma correspondente a ela, manifestando-a tal qual
se lhe apresenta ao esprito. H tstemunhas que perceberam a
verdade; que entendem referi-la exactamente; e cujos depoimentos,
comtudo, acabam por enganar, devido falta de propriedade e
incerteza da sua linguagem; a afirmao sincera dos factos
verdadeiros converte-se \assim, pelos seus efeitos, em um falso
testemunho. A lngua-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 381
gem, portanto, por isso que a expresso directa do pensamento,
segundo mostra exprimi-lo com maior ou menor preciso e cla-
reza, reala ou abaixa o valor probatrio do testemunho. natural
dever apreciar-se mais um testemunho prestado com uma
linguagem precisa, que um testemunho em uma linguagem que se
prste a equvocos. Eis, portanto, uma primeira exterioridade
tstemunhal que necessrio levar em conta para a avaliao do
testemunho: a linguagem como expresso directa do pensamento.
Mas b tambm exterioridades tstemunhais que teem a sua
importncia como manifestaes indirectas do esprito da
tstemunha, e que, sob ste aspecto, so por isso tambm tomadas
em conta na avaliao do testemunho.
Em primeiro lugar, o mesmo discurso da tstemunha pode,
na sua materialidade de palavras e na sua entoao, reflectir as
secretas disposies de esprito do depoente, elucidando indirec-
tamente sbre a veracidade, e fazendo-nos aumentar ou diminuir a
f nle.
Assim, quando o modo de depor revela animosidade na ts-
te
munha, a falta de serenidade no seu esprito, diminuir a sua f,
mostrando a existncia de paixes que podem ser um impulso para
mentir.
Assim, quando o testemunho prestado com afectao, ,
esta, outra causa de descrdito; por isso que a afectao do dis-
curso supe o estudo e o esfro do esprito, e o estudo e o
esfro do esprito fazem suspeitar da mentira. A linguagem da
verdade, ao contrrio, sempre natural porque sem esfro e
sem estudo; a arte mais fcil a de dizer a verdade.
Ainda quando no texto de mais de um testemunho se nota
eumdem praemeditatum sermonem, esta idoneidade no natural
de forma faz supr uma identidade de inspirao; um concerto
anterior e comum, para se encontrarem de acrdo na afirmao
de um certo facto.
esta uma outra causa formal de descrdito, que pode em
certos casos chegar a anular o valor probatrio dos testemunhos;
porquanto os concertos prvios no sucedem seno por meio do
acordo das tstemunhas mentirosas: as verdadeiras no
382
A Lgica das Provas em Matria Criminal
teem necessidade de concerto; so postas de acrdo pela prpria
verdade.
A animosidade, a afectao, a identidade premeditada da
exposio so, por isso, consideradas como trs causas formais
de diminuio de f nos testemunhos, assim como, a equanimi-
dade, a naturalidade e a ausncia de premeditao do discurso,
so consideradas como trs causas formais de aumento de f. Se
no parece claro ao leitor porque a propsito de forma e de
contedo dos testemunhos se fala de animosidade e de afectao
como causas de descrdito, observarei que a animosidade e a
afectao consistem, no tanto nas coisas que se dizem, como
no modo, como se dizem, e no propsito com que se dizem.
Mas, alm do depoimento, outras exterioridades h revela-
doras 'do esprito mesmo na pessoa do depoente: o complexo
daqules indcios que emanam da maneira de se comportar da
tstemunha, e que aumentam ou diminuem a sua credibilidade.
segurana ou a excitao de quem depe, a calma ou a pertur-
bao do seu rosto, a sua desenvoltura como de quem quer dizer
a verdade, o seu embarao como de quem quer mentir, um s
gesto, um s olhar por vezes, podem revelar a veracidade ou a
falsidade da tstemunha. Eis aqui mil outras exterioridades a
que necessrio tambm atender nos testemunhos, para os ava-
liar bem.
E basta de exterioridade do testemunho, emquanto, directa
ou indirectamente, serve para revelar o nimo da tstemunha.
Mas no tudo. Para a completa avaliao formal do
testemunho necessrio atender tambm quelas formas
protectoras da verdade que a arte criminal aconselha e a lei por
vezes prescreve, como garantia entre a possibilidade de rros
judicirios.
No devemos, por certo, passar aqui em revista tdas as
formas em que e com que a arte criminal aconselha que se
desenvolva o testemunho, que deve servir de base sentena
penal. No queiramos sair do nosso campo. A lgica criminal
ocupa-se da certeza e das suas fontes sob o ponto de vista pura-
mente racional. At aqui estuda-se a natureza das provas e as
suas condies essenciais, quer sob o ponto de vista do sujeito,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 383
quer sob o da forma ou do contedo, est-se sempre no campo da
scincia judicial. Mas quando se passa investigao dos modos
prticos com que devem realizar-se as provas geralmente falando,
ou ao exame detalhado das formas particulares por que o
testemunho, em especial, se deve desenvolver, ento do campo da
scincia passa-se prpriamente para o da arte judicial.
Sob o ponto de vista, portanto, do critrio com que deve, em
geral, avaliar-se o testemunho na sua forma, basta-nos dizer aqui,
que tdas as formas que a arte criminal aconselha para a
exteriorizao judiciria do testemunho, so tomadas em conta
como aumento de f quando observadas, como diminuio de f
quando inobservadas. E para que ste preceito genrico seja
esclarecido por meio de confrontos prticos, bastar mencionar
algumas formas judicirias de maior importncia, que pela grande
influncia que exercem sbre a substncia da prova tstemunhal,
se apresentam como formas qusi substanciais dela. Falaremos em
particular da natureza judicial e da publicidade do teste-
munho, como de uma forma primria e geral, e do intrrogatrio
sem sugesto, como de uma das principais entre as formas
secundrias e particulares.
Comecemos pela sua produo judicial. Quando falamos
das provas em geral, tendo presente a regra superior, preceden-
temente estabelecida, da naturalidade do convencimento, fixamos
a regra da originalidade das provas. necessrio, conforme
dissemos, que as provas se apresentem ao juiz, tanto quanto
possvel, por si mesmas, e no como contedo de outras provas;
necessrio, em suma, que o juiz perceba, tanto quanto possvel,
directamente as provas, como ligadas ao seu sujeito natural e
originrio; pois que claro que o convencimento tanto mais
legtimo, quanto mais se baseia na imediata percepo das provas
de que provm. Ora, esta imediata percepo das provas, para
exercer melhor a sua eficcia a favor da verdade, lgico que
deva desejar-se que se produza na prpria ocasio em que se
elabora o convencimento, sbre que deve basear-se a sentena de
condenao ou de absolvio; por outros trmos, as provas devem
apresentar-se imediata percepo do juiz, naquele mesmo
384 A Lgica das Provas em Matria Criminal
acto de julgamento pblico em que so destinadas a exercer a
sua influncia. E eis como a regra da originalidade, considerada
em relao forma por que deve produzir-se o testemunho, se
converte, em particular, na sua produo judicial. Uma verdade
conduz a outra, formando conjuntamente os elos daquela urea
cadeia em que assenta a scincia; e o acrdo de uma verdade
com outra constitui aquela harmonia ideal, que a grande aspi-
rao da inteligncia humana.
A produo judicial do testemunho consiste, para ns, em
ela ser produzida perante o juiz que plenamente julga, no julga-
mento pblico. E no cause admirao ao leitor se com esta
noo se nega a natureza judicial, prpriamente dita, aos
testemunhos recolhidos no perodo instrutrio pelo oficial pblico
competente. Sabemos que, geralmente, se consideram tambm
como judiciais os testemunhos recolhidos pelo juiz instrutor. Mas
se isto se pode aceitar como uma fico jurdica, no pode acei-
tar-se como uma verdade exacta. Tudo o que tem lugar, mesmo
por parte de oficiais competentes, fora do julgamento pblico,
que o juzo em sentido prprio, sempre, em rigor, extra--
judicial: far parte da instruo, mas no assim do julgamento
pblico, que o julgamento em sentido prprio.
Pode ser que me engane; mas creio que a produo judi-
cial, como atributo da prova, perde tda a exactido e tda a
importncia lgica, se se refere tambm prova recolhida por
um juiz que no o que deve absolver ou condenar, por um
juiz que procede colheita das provas na ausncia das partes e
dos seus representantes, na ausncia do pblico, no segrdo da
instruo.
necessrio no esquecer a regra da sociabilidade do con-
vencimento judicial; necessrio no esquecer que para julgar
com exactido a respeito da natureza das provas, tanto para o
seu sujeito como para a sua forma, necessrio sempre refer-
las conscincia do juiz que plenamente julga no julgamento
pblico. Ora, relativamente a ste juiz, e ao seu julgamento
pblico, o testemunho que produzido como tendo-se desen-
volvido fora do debate pblico, quer se apresente como sendo
A Lgica das Provas em Matria Criminal 385
colhido por um particular, quer como sendo colhido com o fim de
instruir por um juiz competente, sempre um testemunho passado
fora da esfera da observao directa do juiz e do pblico, sempre
um testemunho que no se apresenta originalmente em juzo,
sempre um testemunho no judicial. Compreendo que existe uma
grande diferena de valor probatrio entre o testemunho colhido e
referido por um particular qualquer, e o colhido com as devidas
formalidades por um oficial competente, e referido em um auto
apropriado e regular; especialmente quando ste oficial
competente o mais alto entre os oficiais, como no caso do juiz
instrutor. Acho at justificvel, como direi noutro lugar, a fico
jurdica, pela qual os testemunhos prestados perante o juiz
instrutor competente se consideram como prestados no prprio
julgamento pblico. Mas com-quanto estas afirmaes se
considerem, justamente, de alto valor probatrio, nunca se podero,
com exactido, considerar como uma nica coisa, como igualmente
judiciais, tanto o testemunho produzido no julgamento pblico, sob
a presena directa do juiz que deve absolver ou condenar, e do
pblico que assiste, como o produzido fora do juzo, perante outro
juiz, competente, que o refere ao primeiro. O valor dstes dois
testemunhos poder mesmo con-siderar-se igual, mas a sua
natureza ser sempre diversa. Graas ao seu valor, a prova colhida
por um juiz instrutor competente poder chamar-se qusi-judicial;
mas judicial, nunca. Sob o ponto de vista da produo judicial
teremos, assim, trs classes de testemunhos: testemunho judicial
prpriamente dito, o colhido pelo juiz que julga plenamente, no
debate pblico; testemunho qusi-judicial, ou judicial imprprio, o
que colhido pelo oficial de justia competente; e testemunho
extra-judicial prpriamente dito, o colhido por um particular ou
por um oficial no competente. natureza jurdica do testemunho
de grande importncia para a sua avaliao. devido a ela que
teem valor os outros critrios de avaliao formal de que
anteriormente nos ocupamos. Com efeito, recebendo
directamente o depoimento, que o juiz pode, em primeiro lugar,
atender maior ou menor preciso da linguagem com que feito,
para o avaliar em mais
25
ou menos; e pode, alm disso, atender a todos aqules indcios
que derivam do modo como o depoimento se expressa, e da forma
porque o depoente se comporta; indcios todos les que acreditam
ou desacreditam o testemunho, conforme se referem veracidade
ou falsidade da tstemunha.
Por outro lado, devendo a tstemunha fazer em juzo o seu
depoimento, a solenidade do julgamento actuar sbre o seu esp-
rito em favor da verdade; principalmente, quando a solenidade
do julgamento aumentada pela publicidade.
Falando das provas em geral, falamos tambm da publici-
dade das provas, regra que deduzimos da outra da sociabilidade
do convencimento. Notaremos aqui novamente que a publicidade
do julgamento em que tem lugar o testemunho, exerce sbre o
esprito da tstemunha um grande influxo em favor da verdade;
uma grande garantia formal contra a possibilidade de enganos.
A tstemunha, que tem de fazer o seu depoimento em uma sala
aberta ao pblico, no se deixar levar por aquela ligeireza de
afirmaes, que to comum nas conversas particulares; a
tstemunha, seja um terceiro, o ofendido ou o argido, recear
sempre no pblico a presena de algum que possa estar de
posse da verdade, e que possa desmenti-la quando se afaste da
verdade; a tstemunha, exposta curiosidade investigadora do-
pblico, recear sempre as antipatias, afastando-se da verdade,
e esperar sempre s simpatias conformando-se com ela; a repro-
vao social levantar-se h sempre como uma ameaa terrvel e
annima contra o mentiroso, mesmo quando le julgue poder
escapar-se pena legal. publicidade do julgamento, em que se
produz o depoimento , portanto, uma formalidade que reclama,
melhor que qualquer outra, o cumprimento do dever moral e
jurdico da verdade; e por isso o testemunho extra-judicial
um testemunho grandemente deficiente emquanto forma.
Mas se o testemunho extra-judicial deficiente emquanto
forma, no deixa, comtudo, de ser um testemunho; e sem
razo, nos parece, que os tratadistas falam dle como outra esp-
cie de prova, a propsito especialmente do testemunho extra--
judicial do argido.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 387
Em geral, a afirmao extra-judicial, quere de terceiro, quere
do argido, quere do ofendido, nunca uma espcie particular de
prova. Com efeito, ela s levada em conta quando se apresenta
em juzo: isto , quando se resolve em uma prova judicial. O
testemunho extra-judicial, no , portanto, uma prova mi generis;
entra nas espcies ordinrias da afirmao de pessoa; uma
afirmao pessoal, que se verificou fora do juzo, e que aparece
em juzo no originalmente, como sucede quando uma pessoa vem
contar em juzo a confisso que ouviu fazer ao argido fora do juzo.
No entanto, os tratadistas falam da confisso extra-judicial
em particular entre os indcios. E a costumada confuso, que
lamentamos em outro lugar, entre o que contedo e o que a
forma da prova. O indcio tomado no sentido falso e indeter-
minado de prova imperfeita, e a confisso extra-judicial, sendo
uma prova imperfeita, colocada por isso entre os indcios.
No negamos que a extra-judicialidade em sentido prprio
seja uma grave imperfeio, especialmente em relao confis-
so. A confisso e o testemunho, quando teem lugar em juzo,
apresentam, quando mais no seja, incontestvelmente, a certeza
fsica da sua manifestao material e extrnseca; quando fora do
juzo, necessrio principiar por verificar que tiveram lugar
naquela materialidade de forma que se refere, e depois passar
verdade do contedo. A confisso e o testemunho, quando extra--
judiciais, so evidentemente provas defectivas; mas no deixam,
por isso, de ser confisso e testemunho, e de poder ter por con-
tedo tanto o delito como o indcio, apresentando, assim, natu-
reza de prova direta ou indireta. smente emquanto ao valor
probatrio, que pode dizer-se que elas no teem seno o valor de
simples indcio.
Assim, para no falar seno da confisso extra-judicial, de
que se ocupam em particular os tratadistas, ela referindo-se tam-
bm ao facto principal do delito, e tendo por isso natureza de
prova directa, compreende-se porque no tenha seno o valor de
um indcio. A lgica criminal pe em dvida a confisso extra--
judicial sob o ponto de vista do sujeito intrnseco, porque chega
388 A Lgica das Provas em Matria Criminal
em segundo grau ao ouvido do juiz, atravs da afirmao de uma
outra tstemunha; pe-na em dvida sob o ponto de vista da
forma, porqoe falta na sua exterioridade tda a forma protec-
tora da verdade; pe-na em dvida sob o ponto de vista do con-
tedo acusador, pela ligeireza inconsiderada de quem confessa,
de que prova a sua prpria manifestao feita extra-judicial-
mente, e desmentida depois em juzo. E suponhamos que o argido
no persiste na sua confisso extra-judicial, por isso que, no caso
de persistir, no teria j importncia estar a investigar o valor
da confisso extra-judicial, existindo a confisso judicial. Ora, o
valor superior do testemunho directo no se compreende sem a
certeza incontestvel de que teve lugar, e sem a credibilidade
da tstemunha; admitida a realidade do testemunho, admitida a
f na tstemunha, a relao entre o delito asseverado e o delito
efectivo necessria. Para a confisso feita com as formalidades
devidas no julgamento solene, o seu valor probatrio pode chegar
at ao mximo, porquanto se tem sempre a certeza da sua reali-
dade material, e a f na pessoa que faz a confisso pode ser
admitida sempre pelo juiz; mas tanto aquela certeza,' como esta
f, nunca so inabalveis relativamente confisso extra-judicial;
se se pe em dvida a sua existncia e veracidade; e contudo,
mesmo tendo tambm a natureza da prova directa, compreen-
de-se porque que o seu valor no exceda o de um indcio.
Todos entendem, porm, que, quando o testemunho recolhido por
um oficial pblico competente, o seu valor probatrio, conquanto
colhido fora do juzo prpriamente dito, j no por ns
desprezado no grau acima referido. Sob o ponto de vista do sujeito
intrnseco e do extrnseco (isto , da tstemunha de origem e da
de segundo grau), a qualidade de oficial pblico na tstemunha de
segundo grau e a sua competncia para recolher o testemunho
original, realam o valor subjectivo do seu depoimento,
fazendo crr na existncia real do testemunho de origem e na
fidelidade da reproduo; sob o ponto de vista da forma como foi
recolhido o testemunho original, h sempre formalidades
protectoras da verdade que devem observar-se, e que realam o
valor formal dsse testemunho; sob o ponto de vista
A Lgica das Provas em Matria Criminal 389
do contedo do testemunho de primeiro grau, embora falte a
solenidade de um julgamento, no entanto a presena de um oficial
pblico, autorizado pela lei a recolher os testemunhos, im-pe-se
sempre sbre o esprito da tstemunha de primeiro grau,
conservaudo-a longe daquela distraco inconsciente de afirma-
es que temvel nas conversas particulares. E por isso que
quando se fala da grande fraqueza probatria do testemunho
extrajudicial, se entende falar sempre de extra-judicialidade em
sentido prprio: no se pretende compreender, entre os testemu-
nhos
extra-judiciais, os colhidos pelo oficial instrutor no perodo
preparatrio do julgamento, e que ns chamamos quse judiciais.
Se, portanto, o juiz do debate fase, juntamente com as
partes, a casa da tstemunha que se acha impossibilitada de vir a
juzo, ento o testemunho deve considerar-se prpriamente como
judicial. Com o convite feito s partes para assistirem ao intrro-
gatrio de uma tstemunha e reduo a auto do seu depoimento
no se faz mais que deslocar, limitadamente quele testemunho, a
sede do juzo.
Terminemos esta referncia sbre a natureza judicial do
testemunho com uma reflexo geral, que serve de passagem para
o exame de qualquer outra formalidade legal, particular, que se
queira levar em conta.
A natureza judicial do testemunho, em geral, no s
preciosa por submeter directa percepo do magistrado, que
julga, e do pblico, aquelas exterioridades formais e naturais que
directa ou indirectamente servem para manifestar o nimo da
tstemunha, colocando o juiz em melhor situao para avaliar o
depoimento; preciosssima tambm, por isso que a formali-
dade legal primitiva e geral, que torna possvel a observao e o
confronto de tdas as outras formalidades legais particulares,
aconselhadas pela arte criminal como favorveis descoberta na
verdade. por isso que o testemunho deve desenvolver-se de
julgamento pblico, e por isso includo tanto quanto possvel do
arbtrio individual; por isso que se no apresentam como desejos
inanes e conselhos da arte criminal: sabe-se com firmeza poder,
querendo, faz-los seguir na pratica, e a legislao pode
390 A Lgica das Provas em Matria Criminal
adoptar os que repute oportunos, formulando-os em prescries
legislativas, que no podem ser frustradas pelo arbtrio do
homem.
Tendo falado j de produo judicial, passemos agora a
falar de algumas formas legais secundrias que a arte criminal
aconselha.
A principal de entre as formas secundrias, que a arte cri-
minal aconselha como teis descoberta da verdade, o intr-
ro
gatrio. O seu uso serve, no s para descobrir e corrigir o
rro pessoal do juiz, mas tambm para descobrir e por vezes at
corrigir o rro da tstemunha, e para descobrir e por vezes para-
lisar a sua possvel vontade de enganar.
O juiz que por qualquer razo, fsse mesmo pela sua pre-
veno subjectiva, formou uma errada convico sbre factos,
querendo ter a sua confirmao, e dirigindo nesse sentido as
suas perguntas, encontrar nas prprias respostas, relativas- aos
factos sbre que intrroga, a prova do rro do seu esprito, e
dever abandonar a sua errnea convico. Sem o intrrogatrio,
ao contrrio, a tstemunha poderia no falar naquelas circuns-
tncias particulares, a que se refere a errnea convico do
magistrado, e esta acabaria, assim, por triunfar no seu esprito.
E, parte a possvel preveno do juiz, poder le ter sempre
determinadas dvidas sbre os factos; dvidas, provenientes da
contradio das provas; le sentir muitas vezes, na sua conscin-
cia, pontos obscuros, sbre que se no derramou a luz das pro-
vas. Ora, smente por meio do intrrogatrio que o juiz pode
dissipar aquelas dvidas, e esclarecer aqules pontos obscuros,
chegando, assim, a uma convico raciocinada e segura, sem a
qual se no pode pronunciar uma condenao que no seja arbi-
trria.
Emquanto tstemunha, pois, seja por defeito de exposio,
seja por momentnea hesitao do esprito, pode ela dar lugar a
equvocos com o seu depoimento, e sair ste obscuro e confuso;
pois bem, s o intrrogatrio que em tais casos e por meio de
oportunas perguntas, poder desvanecer os equvocos, e tornar
claros e distintos os factos expostos. O testemunho, por defeito
A Lgica das Provas em Matria Criminal 391
de percepo, por defeito natural de exposio, ou por razo de
uma momentnea hesitao de esprito, pode sair enexacto,
incompleto, no circunstanciado; pois bem, sempre o intrro-
gatrio, s o intrrogatrio que poder revelar ou corrigir as
inexactides, e* conduzir a completar e circunstanciar o testemu-
nho. So
verdades que todos veem, e de que no vale a pena ocuparmo-nos.
E no temos atendido seno ao testemunho da boa f. Que
dever dizer-se, pois, da utilidade do intrrogatrio, relativamente
ao testemunho de m f?
tstemunha que tivesse vontade de enganar, quando sou-
besse no poder ser intrrogada, teceria cmoda e seguramente a
teia das suas mentiras, dsnfo-lhe a ordem e a cr que mais lhe
conviessem para assegurar a sua impunidade. E, parte as
mentiras da exposio, se se exclui o intrrogatrio, torna-se
assim muito fcil e cmodo omitir uma parte da verdade. Seria
sempre bem rduo demonstrar o dolo da tstemunha, que omitisse
uma verdade, quando ela no tenha sido particularmente
intrrogada a seu respeito. Apareceria a salv-la a hiptese de que
a testemuha tivesse esquecido a verdade omitida; apareceria a
salv-la a hiptese de que a verdade omitida no lhe tivesse
ocorrido mente no momento de depr, quer casualmente, quer
devido a uma certa perturbao por se vr objecto da ateno geral
em uma sala pblica de justia; apareceria a salv-la a hiptese de
que ela tivesse omitido aquela dada verdade, por no ter atendido a
sua importncia; apareceria a salv-la a hiptese de que ela
julgasse ter j dito a verdade que omitiu, sempre por aquela
confuso certa, e por aquela perturbao que no so
extraordinrias, relativamente a um depoimento feito perante a
solenidade de um julgamento, perante as austeras figuras dos
juzes, perante as figuras investigadoras e irrequietas dos advo-
gados, e perante as mil figuras, mudas e curiosas, do pblico.
Em face do intrrogatrio, a posio da tstemunha de m f,
torna-se, ao contrrio, perigosssima. A sua teia de mentiras,
ardida com mil cuidados e fadigas, desmancha-se de um instante
para o outro; e a tstemunha mentirosa sente-se atacada dentro
392 A Lgica das Provas em-Matria Criminal
das suas trincheiras; achar-se h sem abrigo: exposta ao fogo de*
fila de intrrogaes lgicas, determinadas, persistentes, impre-
vistas, perturbar-se h, car fcilmente em contradio, e ter.
que render-se, pondo a descoberto as suas mentiras.
No lhe adviro menos perigos do silncio parcial e delibe-
rado. Gomo fingir ter casualmente, por um esquecimento de oca-
sio, por perturbao, por rro sbre a sua importncia, omitido
uma verdade, sbre que se foi categrica e eficazmente intrro-
gado?
Sbre todos os aspectos, no h portanto, dvida de que o
intrrogatrio da tstemunha, seguindo-se ao testemunho, que se
deixou desenvolver a princpio na sua espontaneidade, uma
forma que contribui grandemente para a sua exacta avaliao,
aumentando ou diminuindo a sua credibilidade, segundo a natu-
reza das respostas.
Compreende-se, pois, fcilmente, que se lgico que o direito
de intrrogar no julgamento pblico seja concedido ao juiz, para
dar uma base mais slida ao seu convencimento, no deve le
negar-se s partes interessadas, quando julguem, sob o ponto de
vista das suas convices particulares, e dos seus intersses leg-
timos, poder contribuir com as suas perguntas para a formao
do recto convencimento judicial.
Mas o intrrogatrio, que um grande auxilio para a des-
coberta da verdade, tornas-se-ia, ao contrrio, uma fbrica de
mentiras, se se valesse da sugesto ilcita. Falando das provas
em geral, j falamos da sugesto, e vimos como ela se distinguia
em lcita e ilcita, e como a sugesto ilcita se subdistinguia em
violenta, fraudulenta e culposa. Aqui observaremos, que o inter-
rogante deve tambm proceder com destreza, para fazer com que
a verdade surja da conscincia do intrrogado; mas, deixando de
parte a violncia, que se no pode aceitar nos modernos tempos
em um debate pblico, necessrio notar que esta destreza no
deve transformar-se em- dolo, incluindo nas perguntas que se
fazem, as respostas que se desejam, e inspirando-as, assim, ao
intrrogado: a destreza lcita no deve transformar-se em uma
sugesto dolosa. Observaremos ainda, que, por outro lado, tam-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 393
bm a falta de destreza pode mudar-se em sugesto ilcita: a falta
de destreza pode, como o dolo precedente, tornar-se perniciosa &
verdade, incluindo do mesmo modo, por impercia, na prpria
pergunta uma dada resposta: o caso da sugesto cul-posa.
Compreende-se que tambm nste segundo caso, relativa-mente ao
esprito do intrrogado, a resposta lhe sempre igualmente
inspirada: a impercia produz o mesmo efeito que o dolo do
inquirente.
necessrio no esquecer que as tstemunhas inteligentes e
conscientes, incapazes de se deixarem desviar da verdade, so
bem raras. Geralmente, em face de uma resposta inspirada pela
pergunta do juiz, esta adoptada, quer por leviandade, quer para
ser-se mandado embora mais depressa e vr-se livre de embara-
os, quer por timidez, e quer mesmo porque, julgando o juiz
informado de tudo, melhor que est, prefere-se compartilhar nas
suas convices, e receia-se contradiz-lo. E em todos stes casos,
como nos anlogos, a sugesto conduz falsidade.
Mas necessrio acrescentar, que por esta mesma ordinria
falta de superioridade intelectual na tstemunha, se perniciosa a
sugesto ilcita, til descoberta da verdade a sugesto lcita. A
tstemunha, freqentemente, no percebendo a razo do exame,
divaga em detalhes inteis para o julgamento, des-presando os
factos que lhe interessam. Muitas vezes por pertur-bao, por
perplexidade, por lentido de memria ou da palavra, no narra
exacta e completamente o facto. Ora, para no perder tempo em
divagaes inteis, conveniente sugerir-lhe aquilo sbre que
deve depr; ou, para despertar-lhe a memria, conveniente
sugerir-lhe algum facto, alguma data, alguma circunstncia, que
sirva para encaminhar a tstemunha na ordem das suas
recordaes da verdade. H, portanto, sugestes que servem para a
descoberta da verdade, e que bom empregar, sugestes, que so
denominadas lcitas, para as distinguir das outras, e que so
aconselhadas com o dplo fim da celeridade e do auxlio da
memria. Mas para ste dplo fim, conveniente empre-gar, ou
sugestes dubitativas, que sejam, no s aparentemente, mas
substancialmente tais, ou sugestes afirmativas directas
394 A Lgica das Provas em Matria Criminal
e explcitas. A sugesto ilcita, quer fraudulenta quer culposa,
sugere as respostas sem manifestar sugeri-las; nisto que est
precisamente a sua natureza enganadora. bom saber-se se a
tstemunha alterou o assunto do seu depoimento espontnea-
mente, ou por inspiraes provenientes do juiz; bom que se
saiba, se a tstemunha apresentou uma afirmao por sua recor-
dao espontnea, ou por uma hesitao que veio despertar a
sua memria adormecida: bom saber-se tudo isto, para o tomar
em devida conta.
De que o intrrogatrio feito em audincia pblica se limite
ao uso da sugesto lcita, e no transcenda para a ilcita, so
garantes os representantes das partes, o pblico e o prprio juiz:
os representantes das partes serviro de freio ao juiz; o juiz ser-
vir de freio aos representantes das partes; e o pblico, a todos.
O maior perigo da sugesto ilcita ser para o perodo secreto
do sistema processual mixto; perodo secreto, cujos resultados no
caem completamente no nada com a abertura do debate pblico.
A tstemunha que vem reproduzir oralmente o seu depoimento,
pode sentir-se obrigada a confirmar que lhe foi arrancada pela
sugesto no seu primeiro depoimento. Ainda mais: a tstemunha
pode ter morrido, e o seu depoimento, j consagrado em um
escrito, apresentar-se-ia como est a funcionar de prova no jul-
gamento pblico; e se nle existissem afirmaes arrancadas pela
sugesto, elas teriam o seu efeito contrrio verdade, no julga-
mento pblico. Para reparar em parte stes inconvenientes, a
arte criminal aconselha, para a reduo a auto dos depoimentos,
o cumprimento de uma formalidade acessria; isto , aconselha
que o escrivo reduza a auto, no s as respostas da tstemunha,
mas tambm os intrrogatrios do juiz, para vr se, eventual-
mente, as respostas foram inspiradas por sugesto ilcita. E basta
quanto ao intrrogatrio.
Para remate dste ttulo, voltemos a observar que assim
como a produo judicial e o intrrogatrio, assim tambm
tdas as outras formalidades aconselhadas pela arte criminal em
defesa da verdade, devem ser levadas em considerao para a
justa avaliao do testemunho.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 395
assim, que deve ser levado em conta o juramento, for-
nulidade de que a arte criminal se tem ocupado muitssimo, para
determinar o seu modo e a sua utilidade; modo e utilidade, que so
julgados, no com critrios absolutos, mas com critrios deduzidos
da indole e da civilizao do povo, a que destinado um Cdigo
particular de processo.E assim, que deve ser levada em conta a
lembrana a fazer tstemunha antes de depor, das penalidades
com que ameaado o falso testemunho; lembrana que serve
para funcionar como obstculo contra a possvel vontade de enganar
que existisse nela.
assim, que tda a formalidade favorvel ao triunfo da
verdade, dever sempre ser levada em conta, para avaliar, em
mais ou em menos, o testemunho, na proporo do valor que a
arte criminal atribui a essa formalidade, e segundo essa forma-
lidade foi ou no observada.
TTULO III
Avaliao do testemunho relativamente ao contedo
Nos dois ttulos precedentes tratamos de investigar quais
so, para a justa apreciao do testemunho, os critrios dirigentes
que necessrio seguir sob o ponto de vista do sujeito que afirma,
e sob o da forma por que a afirmao tem lugar; mas isso no
basta. A tstemunha pode apresentar na sua pessoa, abstraindo do
seu testemunho, todos os requisitos que a tornam mais digna de
f; pode, alm disso, fazer a sua afirmao pela melhor forma,
isto , pela que se reputa mais eficaz para fazer acreditar a verdade
do seu testemunho; e no obstante ste testemunho, pode
apresentar-se como no possuindo valor algum probatrio, por
razes inerentes ao seu contedo. Eis aqui, portanto, o terceiro
ponto de vista sob que se atende ao testemunho, afim de o poder
avaliar concretamente com a maior exactido possvel.
396 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Depois de ter examinado o valor concreto do testemunho
em relao ao seu sujeito e em relao sua forma, passamos
agora a consider-lo tambm relativamente ao seu contedo;
esta a matria dste terceiro ttulo. I
Em primeiro lugar, conveniente observar que os critrios
de avaliao, subjectivos e formais, de que nos ocupamos prece-
dentem ente, so todos les critrios extrnsecos em relao ao
contedo do testemunho: aumentam ou deminuem a f na ver-
dade dos factos afirmados sempre por razes extrnsecas s afir-
maes tstemunhais, consideradas em si mesmas, e cuja f se
avalia. J assim no quanto aos critrios de que nos estamos
ocupando, isto , qules derivados da considerao do contedo
do testemunho; esta ltima espcie de critrios pode aumentar
a f no testemunho, como pode deminu-la ou destru-la, tanto
por razes intrnsecas, como por razes extrnsecas, afirmao
considerada em si mesma.
Tanto a credibilidade, como a incredibilidade, a verosimi-
lhana ou a inverosimilhana das afirmaes tstemunhais, como,
a natureza dubitativa, ou afirmativa, da afirmao; tanto a maior
como a menor determinao dos factos afirmados ;* tanto referir
por scineia prpria como por ouvir dizer, dar ou no dar a razo
da prpria scineia: so todos stes critrios intrnsecos de ava-
liao, derivados da considerao do testemunho em si mesmo,
na sua ntima e particular natureza.
Vice-versa, a contradio ou a contestao dos testemunhos
por outros precedentes da mesma tstemunha, ou de outrem, e
em geral por outras provas particulares, um critrio extrnseco
de avaliao, que no assenta no testemunho em si, mas na
relao do testemunho com outras provas em geral.
Faamos aqui uma observao explicativa. Classificamos os
critrios de avaliao do testemunho em intrnsecos e extrn-
secos ao seu contedo ,- no se julgue, por isso, esta classificao,
equipolente outra que poderia fazer-se de critrios directos e
indirectos de avaliao. Os trmos das duas distines no se
correspondem, no tendo uma compreenso idntica. Os critrios
extrnsecos so sempre indirectos; mas nem todos os critrios
A Lgica das Provas em Matria Criminal 397
intrnsecos so directos: h critrios intrnsecos directos e critrios
intrnsecos indirectos.
No nos acusem, por isso, de inexactido se se encontram
enumerados como critrios intrnsecos, critrios que acreditam ou
desacreditam o valor do testemunho s indirectamente. Por
exemplo, o facto de dar, ou no, a razo da prpria scincia s
indirectamente pode esclarecer sbre a verdade do testemunho;
mas no deixa, por isso, de ser um critrio intrnseco de ava-
liao, por isso que deriva da considerao do prprio testemu-
nho em
si, no seu contedo, e no da considerao de relaes extrnsecas
suas. Julgamos conveniente fazer esta observao, para que no
seja mal entendida por algum a nossa distino; por amor de
preciso e de clareza, preferimos at arriscar-nos possibilidade
de acusaes tlas.
Em seguida a isto, passemos a fazer uma referncia parti
cular sbre cada um dos critrios supracitados, que se deduzem
da considerao do contedo do testemunho, e servem para o
avaliar.
1. J desenvolvemos em lugar prprio, as noes de crivei
e de incrvel; no nos parece, por isso, necessrio determo-nos
agora sbre essa matria, bastando a sua simples referncia
quilo de que aqui nos ocupamos, isto , f que deve concre-
tamente inspirar a prova tstemunhal.
Como condio imprescindvel de tda a f no tstemu-
nho, a credibilidade do seu contedo, por isso claro que a sua
incredibilidade destruidora de tda a f.
A incredibilidade, portanto, do contedo do testemunho pode
referir-se tanto aos factos que a tstemunha afirma, como ao
modo como diz t-los percebido; e tanto em um como em outro
caso, todos compreendem que o testemunho no tem valor algum
probatrio; e por isso excludo do campo das provas.
Se a tstemunha vem dizer ter visto Ticio roubar uma mon-
tanha, pondo-a s costas, e levando-a consigo, o seu testemunho
no ter valor algum, pela incredibilidade dos factos afirmados. Se
a tstemunha vem contar-nos a scena de sangue passada no
interior de um quarto fechado, afirmando t-la visto, estando
398 A Lgica das Provas em Matria Criminal
do lado de fora, atravs das suas paredes sem aberturas, que
se achavam entre le e o homicida, o seu testemunho no ter
igualmente valor algum, devido incredibilidade do modo de o
perceber. stes testemunhos, mesmo quando provenham de uma
ts-temunha digna de tda a f, abstraindo destas afirmaes;
mesmo que sejam narradas pela forma mais perfeita possvel;
nunca podero ter valor probatrio.
2. Se a incredibilidade do contedo do testemunho lhe
destri tda a f, a sua inverosimilhana, diminui-lhe a f. I
Falando aqui de verosimilhana, no a entendemos no sentido
restrito determinado por ns em outra parte, isto , no sentido
do primeiro grau da probabilidade. Aqui, entendemos por
verosimilhana a conformidade do contedo tstemunhal com o
que a experincia a le vem jantar como modo de ser e de
actuar ordinrio das coisas e dos homens. O que se verifica ordi-
nria
mente na generalidade dos casos, provvel que se verifique no
caso particular; e por isso o que se apresente como conforme ao
ordinrio, resolve-se no provvel. Verosimilhana, portanto,
entende-se aqui no sentido do que se apresenta como semelhante
verdade. Ora, do mesmo modo que o que se apresenta como
verdade conscincia, se resolve subjectivamente em certeza,
o que se apresenta como semelhante verdade, resolve-se
subjectivamente em probabilidade. Verosimilhana, portanto, no
sentido em que a entendemos, resolve-se em probabilidade
genricamente entendida, em todos os seus vrios e possveis
graus, e a inverosimilhana, portanto, no sentido contraposto de
improbabilidade.
Determinado assim o sentido das palavras, claro que como
a maior ou menor verosimilhana do contedo da afirmao, gera
um aumento proporcional de f no testemunho, assim a sua inve-
rosimilhana causa de diminuio da sua f.
Tanto a inverosimilhana, como a incredibilidade, podem
referir-se tanto aos factos que a tstemunha afirma, quanto ao
modo como diz t-los percebido; e quer num quer noutro caso,
sempre causa de diminuio de f, maior ou menor, segundo o
A Lgica das Provas em Matria Criminal 399
grau de inverosimilhana maior ou menor. Se a tstemunha vem
afirmar ter visto uma rapariga inerme agredir um mancebo,
aparentando vigor ordinrio, bater-lhe e derrub-lo a seus ps; a
sua narrativa inspirar ponca f, pela inverosimilhana dos factos
afirmados. Ordinriamente os homens so mais fortes que as
mulheres, e por isso, a no ser que exista um vigor excepcional
naquela dada rapariga, ou uma fraqueza excepcional naquele dado
homem, as afirmaes da tstemunha sero tanto menos crveis,
quanto mais inverosmeis paream os factos afirmados. Assim,
pois, se a tstemunha vem narrar detalhadamente as palavras
havidas entre Ticio e Caio, e depois uma luta travada entre les,
dizendo ter observado estando a duzentos metros de distncia, o
seu testemunho inspirar pouca f pela inverosimilhana de uma
exacta percepo quela distncia. Ordinriamente, quela
distncia, aos olhos e aos ouvidos do homem escapam os detalhes,
e por isso, a no ser que exista um extraordinrio poder nstes
dois sentidos da tstemunha, as suas afirmaes inspiraro tanto
menor f quanto maior inverosimilhana apresentem.
3. Podem encontrar-se em uma determinada tstemunha
condies fisiolgicas ou patolgicas peculiares tais, que criem
nela uma perfeio particular, ou uma imperfeio particular nas
suas observaes; coisa que, por uma conseqncia natural, eleva
ou abaixa o valor probatrio do seu testemunho, emquanto
matria que se refere particular perfeio ou imperfeio da
sua observao. O estudo destas condies individuais fisiolgicas
ou patolgicas entra no exame do sujeito do testemunho, perten-
cendo, assim, avaliao que denominamos subjectiva.
Mas, parte stes rros de observao que por condies
individuais so para temer em uma dada tstemunha, rros h de
observao que se produzem normalmente em uma dada matria,
em todos os homens.
stes rros comuns no entram na avaliao subjectiva, por
isso que no so determinados por condies particulares da
pessoa da tstemunha; mas entram, ao contrrio, na avaliao
objectiva, por isso que so determinados pela particular matria
400 A Lgica das Provas em Matria Criminal
sensvel, que actua por tal modo sbre os sentidos de todos que
gera normalmente iluses.
Quando o contedo do testemunho tem por objecto uma tal
matria, uma matria em que as iluses so comuns, neces-
srio tomar isso em conta na avaliao objectiva do testemunho,
lev-lo em conta para Do lhe atribuir um valor probatrio supe-
rior ao que merece.
No se ponha, pois, em dvida a existncia destas particu-
lares matrias de sensao, que como as impresses que produ-
zem, levam o esprito a rros, conduzindo-o a juzos errneos.
Kg. 1
Seria descabido fazer aqui uma enumerao de tdas as iluses
comuns e infalveis, em que nos fazem car os sentidos; mas
julgamos til mencionar algumas, para esclarecimento da nossa
tese, escolhendo-as de entre as provocadas pelo sentido da vista,
que dos mais perfeitos.
Um primeiro exemplo: So dois quadrados perfeitamente
iguais, um preto sbre fundo branco, um branco sbre fundo
preto. Pois bem, o quadrado preto sbre fundo branco parecer
sempre maior que o branco sbre fundo preto, no obstante a
perfeita igualdade de ambos (Fig. 1).
Segundo exemplo: Suponhamos que de duas rectas horizon-
tais, perfeitamente iguais entre si, uma termina em cada um
dos seus extremos com duas linhas convergindo em um ngulo
interno sbre a linha horizontal, e a outra termina, em cada
A Lgica das Provas em Matria Criminal 401
uma das suas extremidades, com duas linhas convergindo em
ngulo externo; pois bem, a segunda parecer aos olhos de todos
como sendo mais comprida que a primeira, no obstante a sua
perfeita igualdade (Fig. 2).
Terceiro exemplo: Suponhamos que uma rea perfeitamente
quadrada atravessada tda ela por linhas horizontais ou
verticais; pois bem, o quadrado deixara de parecer quadrado
{Fig. 3).
Outros dois exem-
plos, e termino.
Quem diria que as
duas linhas horizontais a e
b, comquanto paralelas, no
sejam curvas, dilatando-se
na parte mdia para o
exterior? E contudo, se se
medirem, o seu paralelismo encontrar-se h perfeito.
Fig. 8
que a vista arrastada ao rro pelas linhas transversais que
partem em sentido diverso da primeira (Fig. 4).
Mais ainda: ningum diria que as quatro rectas verticais
1, 2, 3, 4, so paralelas entre si. Pois bem, tambm esta uma
iluso: elas so perfeitamente paralelas. Tambm aqui a vista
levada em rro pelas Unhas transversais que cortam as quatro
rectas (Fig. 5).
E poderia continuar; mas bastam os exemplos acima expos-
tos para demonstrar claramente como na realidade existem pode-
26
402 A Lgica das Provas em Matria Criminal
rosas iluses, comuns a todos, e como, por isso, nas matria
sensveis que se referem
quelas iluses, a
lgica no permite que
se dispense uma f
absoluta ao contedo
do testemunhos.
ara uma exacta avaliao da prova tstemunhal,
necessrio atender, alm da natureza do facto percebido, ao
ambiente de espao e de lugar
em que a percepo do facto
se verificou. Segundo a maior
ou menor agudeza dos sons,
assim les se podem perceber
mais ou menos longe; e con-
dies h de espao que os
tornam mais ou menos exac-
tamente perceptveis. H con-
dies de espao que
modificam as impresses que
recebemos de dm dado
objecto, e nos fazem perceber
as distncias de um modo
diverso do ordinrio. H
condies de tempo que
tornam mais ou menos vivas
as sensaes: de noite, no
meio do grande silncio,
percebem-se melhor os sons;
de dia, por meio da luz, tem-
se uma viso mais clara das
coisas; e assim por diante.
Estas consideraes objectivas, e outras
anlogas, daro muitas vezes o exacto valor probatrio de um
dado testemunho ; e por isso no devem desprezar-se.
Fig. 4
Fig. 5
A Lgica das Provas em Matria Criminal 403
4. Dado um testemunho perfeito relativamente ao sujeito,
forma e ao contedo, le ter sempre uma eficcia decisiva na
ao do convencimento; e essa eficcia, emquanto certeza
dos factos asseverados, do esprito da tstemunha comunicar-se h
ao do juiz. A grande eficcia probatria, portanto, de um
testemunho apoia-se, na hiptese de certeza dos factos, na
tstemunha ; certeza que se resolve objectivamente em um
contedo tstemunhal afirmativo. Quanto mais distante parece a
dvida da afirmao da tstemunha, tanto maior fra probatria
adquire o testemunho; e vice-versa, quanto mais dubitativas
parecem as declaraes da tstemunha, tanto maia diminui a sua
fra probatria. E claro, sem necessidade de comentrios: cem
parece-me no equivalem nunca a um assim. Eis aqui, portanto,
outro critrio objectivo para a avaliao do testemunho: a natureza
afirmativa ou dubitativa do seu contedo.
5. Dissemos no nmero precedente que o testemunho no
pode exercer a sua grande influncia probatria, seno quando a
certeza do esprito da tstemunha, passa para o do juiz; e vimos
que o contedo dubitativo, que exclui a certeza na tstemunha,
exclui a grande eficcia probatria sbre o esprito do juiz. Ora,
observaremos que, se o contedo dubitativo do testemunho exclui
a certeza do testemunho, muito mais a exclui o contedo con-
traditrio, quando no faa imediatamente suspeitar da mentira.
Sempre que o contedo do testemunho inclui uma contradio
nas suas partes, le perde lgicamente valor probatrio. Perde
valor no todo, se a contradio relativa ao facto principal, de
modo que no seja possvel a hiptese de um defeito momentneo
de memria ou de ateno, corrigido em seguida; como quando a
tstemunha, depois de ter dito que Ticio matou Caio com uma
facada, acaba por dizer que o matou com um tiro de pistola. Perde
o seu valor em parte, quando a contradio recai sbre
circunstncias acessrias; como quando a tstemunha depois de ter
dito que Ticio estava vestido por uma forma, acaba por afirmar
que estava vestido de outro modo. Nste segundo caso, isto , no
caso de contradio sbre circunstncias acessrias, pode por
vezes a tstemunha explicar a sua contradio, mos-
A Lgica das Provas em Matria Criminal
trando ter chamado sua mente melhor aquelas circunstncias,
sbre que a principio depusera menos pensadamente; e nste
caso, anmenta-se a f no testemunho.
Como, portanto, a concordncia entre as vrias partes do
contendo tstemunhal, condio da eficcia probatria do teste-
munho, assim a contradio entre elas, destri o valor do
testemunho.
6. O contedo de um testemunho ter tanto maior valor,
quanto melhor reproduzir a realidade concreta dos factos. Ora,
os factos reais e concretos so todos determinados; factos con-
cretamente reais, indeterminados, no existem na natureza; e
por isso o testemunho ter tanto maior valor, qnanto melhor
determinar os factos que afirma; e o seu valor diminuir at
reduzir-se a nada, medida que se apresenta mais indeterminado.
determinao, pois, do contedo do testemunho tem um
duplo objecto: o facto em si, e o ambiente, direi assim, em que
o facto se efectuou, a natureza individual, por outros trmos, do
facto real que se afirma ter-se percebido, e as circunstncias de
tempo e de lugar em que le se realizou.
Falando da determinao do facto e das circunstncias em
que o facto se realizou, no entendemos j cingir-nos ao facto
do delito, e muito menos a todo o facto do delito: no ao facto do
delito, porquanto nem todo o testemunho directo; no a todo
o facto do delito, porquanto o testemunho, que faa f de todo o
delito, mais uma hiptese terica, que uma realidade prtica.
Falando de determinao do facto e das suas circunstncias, enten-
demos falar daquele facto, qualquer que seja, que o testemunho
atesta, quer delituoso, quer estranho ao delito. O testemunho tem
sempre por contedo imediato a afirmao de um facto qualquer;
e ns, referindo o valor probatrio do testemunho a sse facto
qualquer, a que o testemunho se refere imediatamente, dizemos
que le est tanto melhor provado quanto mais determinada-
mente afirmado.
Naturalmente, quando o testemunho directo, quando tem
por objecto imediato o delito, ser mais que nunca necessria a
determinao: se o facto do delito se no apresenta determina-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 405
damente verificado em juzo, impossvel legitimar-se uma con
denao. Ainda que sejam mil as tstemunhas a afirmar simples
mente, sem mais, que Ticio matou um homem, esta afirmao
indeterminada nunca poder ter fra para dar a certeza do
homicdio de Ticio, e nunca poder, por isso, servir legitima
mente de base a uma condenao. O homicdio de Ticio nunca
poder provar-se pela simples afirmao: Ticio matou um homem.
necessrio que se prove que homem le matou, porque, onde e
quando o matou. ento que o facto do delito se apresentar
perante a conscincia dos julgadores com aquelas determinaes
com que se realizou no mundo dos factos; ento smente que
poder ser legtima a condenao. O juiz, deve, no conjunto das
provas, encontrar resposta a tdas aquelas perguntas que foram
reunidas por uma velha frmula da seguinte maneira:
Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?
O testemunho que se apresenta com um contedo indeter-
minado, no pode dar a segurana de uma percepo real dos
factos; por isso que os factos concretos, sendo determinados, s
podem ser realmente percebidos como factos materiaes atravs
das suas determinaes materiais, e s podem perceber-se como
factos morais atravs das determinaes morais.
7. O contedo do testemunho, conforme dissemos, adquire
valor probatrio pela determinao dos factos afirmados. Mas a
determinao dos factos afirmados seria nula se se no determi-
nasse tambm como, quando e onde que aqules factos foram
percebidos pela tstemunha. A tstemunha deve apresentar a
razo da sua scincia, disseram os prticos; e dar a razo desta
scinoia consiste precisamente em determinar o como, o quando
e o onde da prpria percepo.
O testemunho tem tanto de valor probatrio, quanto de
exactido tem a percepo dos factos afirmados. Ora, quando se
no sabe como a percepo teve lugar, no pode ter-se f na sua
exactido. Ou a determinao do como, do onde, do quando da
percepo no provoca dvida alguma a seu respeito, e ento o
testemunho exercer tda a sua eficcia probatria; ou faz sur-
406 A Lgica das Provas em Matria Criminal
gir duvidas sbre a exactido da percepo, e ento poder-se h,
nos casos adequados, recorrer s experincias judiciais, que
segundo o resultado, concorde ou discorde, com o dito testemu
nho,
fortificaro ou destruiro a sua f. A considerao, portanto, da razo
da scincia, tambm de grande importncia na avaliao
objectiva do testemunho. 8. Uma tstemunha pode afirmar um
dado facto por scincia prpria, ou por ouvir dizer: ou refere que
ela prpria percebeu, ou refere o que outrem lhe contou. Todos
entendem
que relativamente certeza de um mesmo facto, o testemunho
por scincia prpria tem um valor probatrio grandemente supe-
rior ao testemunho por ouvir dizer, do mesmo modo e pelas
mesmas razes que expozemos em outro lugar, segundo as quais
a prova original superior no original.
Eu disse: relativamente certeza de um mesmo facto,
porquanto relativamente ao seu objecto particular imediato
tambm a tstemunha por ouvir dizer pode ter maior valor pro-
batrio. O objecte imediato desta espcie de testemunho a
narrao feita por outrem tstemunha; e compreende-se que
relativamente a essa narrao no h razo alguma para que o
testemunho de ouvir dizer no possa atingir a mxima credibili-
dade: o testemunho por scincia prpria tem tanta fra para
afirmar os factos percebidos pela tstemunha, factos que so o
seu objecto imediato,' quanta a fra que tem o testemunho de
ouvir dizer para afirmar a narrao dos factos ouvidos pela
tstemunha, narrao que o objecto imediato desta segunda
espcie de testemunho. A diferena de valor probatrio, entre
os dois testemunhos, s se manifesta quando, relativamente ao
mesmo objecto imediato do testemunho por scincia prpria, se
considera, no s esse testemunho, mas tambm o testemunho por
ouvir dizer: relativamente aos factos que o primeiro depoimento
afirma como percebidos pela prpria tstemunha, e o segundo
afirma como narrados tstemunha por outrem, todos vem que
a diferena de valor probatrio muito grande.
Relativamente a stes factos o testemunho por ouvir dizer
no 6 prpriamente uma prova: no mais que uma prova da
A Lgica das Provas em Matria Criminal 407
prova daqules factos, uma prova que pode ter muitssimo valor,
uma prova que sempre fraca, porquanto se produz sem as van-
tagens e as garantias que so inerentes natureza judicial da
prova. H sempre, nesta espcie de testemunho, duas categorias
de motivos infirmantes a que deve atender-se: os que podem
referir-se primeira tstemunha, e os que podem referir-se
segunda. E a soma das fraquezas dos depoimentos crescer pro-
porcionalmente, medida que crescem os graus de no origina-
lidade ; como quando se trata de um ouvir dizer de segando, de
terceiro ou de quarto grau. E a soma destas fraquezas crescer
indefinidamente, se o ouvir dizer se perde em origens indetermi-
nadas e annimas.
9. Mostramos como, atendendo-se ao contedo do testemunho,
nle se notam razes intrnsecas que conduzem ao aumento,
diminuio ou extino do seu valor probatrio.
Mas o valor probatrio do testemunho, tambm o dissemos,
pode perder ou adquirir fra, no s por razes intrnsecas, mas
tambm por razes extrnsecas ao contedo. Vejamo-lo:
Tem lugar um testemunho. O contedo dste testemunho,
considerado em si mesmo, no apresenta razo alguma de des-
crdito; mas considerado, ao contrrio, em relao ao contedo
de outro testemunho, proveniente da mesma ou de outra
tstemunha, pode, sob ste aspecto extrnseco, perder de valor
probatrio, ou tambm adquiri-lo: perder, pela contradio do
testemunho que se avalia, com outro da mesma ou de outra tste-
munha; adquiri-lo, pela natureza contste do testemunho que se
avalia, com outro da mesma ou de outra tstemunha.
Principiemos por considerar a contradio de um depoimento
com outro depoimento da mesma tstemunha.
A tstemunha que percebeu a verdade, e que pretende afirm-
la, no varia nos seus sucessivos depoimentos, porquanto a
verdade sempre a mesma. Quando, ao contrrio, se mente,
ento so naturais as variaes, porquanto nas mentiras se
guiado pela imaginao, e a imaginao varivel pela sua pr-
pria natureza. Eis porque a contradio entre o contedo de um
depoimento e o do precedente, desacredita o valor do depoimento.
408 A Lgica das Provas em Matria Criminal
E necessrio, por isso, observar que ste descrdito cessa,
ou diminui grandemente, quando o testemunho apresenta uma
razo suficiente de ter variado; razo suficiente, que mais fcil
indicar quando a alterao recai sbre circunstncias acess-
rias; e que mais difcil designar, quando a alterao recai
sbre o facto principal. Emquanto s circunstncias acessrias,
a pouca ateno que se lhes presta, ligada pergunta, ao emba-
rao, confuso e inconsiderao de um primeiro depoimento,
pode justificar, relativamente a ste, o rro que em seguida se
vem a corrigir no segundo depoimento, prestado depois de uma
madura reflexo. A tstemunha afirmou, em primeiro intrroga-
trio, que uma dada distncia era de cem metros; em um segundo,
afirma, ao contrrio, que de duzentos, acrescentando t-la me-
dido depois do primeiro intrrogatrio: esta alterao no desacre-
ditar o testemunho, mas acredit-lo h, mostrando a tstemu-
nha escrupulosa nas suas afirmaes.
Vice-versa, emquanto ao facto principal que deve ter pro-
duzido impresses no fceis de destruir no esprito da tstemu-
nha, j no so aceitveis aquelas justificaes; e para acreditar
o segundo depoimento no se apresenta seno a hiptese de que
a tstemunha, tendo mentido da primeira vez, queira dizer a
verdade da segunda. Quem primeiro disse que Ticio no fz nada
contra Caio, quando vem depois afirmar que foi Ticio quem apu
nhalou Caio, no pode justificar-se a sua mudana com o pre
texto de ter errado da primeira vez, por falta de ateno, pr
confuso, por embarao, por no ter considerado bem. stes pre
textos vos desacreditariam principalmente o actual depoimento
da tstemunha. Ter mais crdito o seu segundo depoimento se
le afirmar ter mentido a princpio por d do acusado, e querer
agora dizer a verdade por ter reflectido na grande responsabili
dade moral e legal em que incorre.
Do mesmo modo que para o facto principal, assim tambm para
algumas circunstncias, to notveis na sua ligao com o facto
principal que no possam esquecer-se sem o esquecer, no se
pode, sequer, apresentar o pretexto de um esquecimento mo-
mentneo, corrigido pelo segundo depoimento. Assim, quem,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 409
depois de ter dito em um primeiro depoimento ter visto Ticio
apunhalar Caio na manh de um certo dia, viesse dizer depois ter
isso sucedido na noite daquele dia, no poderia ser acreditado
afirmando ter feito a primeira afirmao por falta de ateno.
Em geral, apresentando-se um testemunho em contradio
com outro precedente da mesma tstemunha, a medida do seu
valor probatrio ser determinada pela maior ou menor seriedade
de razes que apresenta a tstemunha, para explicar a alterao
ocorrida.
Como a variedade de afirmaes nos sucessivos intrrogat-
rios da mesma tstemunha deprecia o valor do seu testemunho,
assim tambm a sua constncia de afirmaes aumenta o seu
valor.
Passemos contradio entre depoimentos de diversas
tstemunhas.
Existindo vrios depoimentos de diversas tstemunhas sbre
o mesmo assunto, o seu contedo pode ser contraditrio em quanto
ao facto principal, ou emquanto s circunstncias acessrias.
Dois testemunhos que se contradizem entre si sbre o
assunto principal, perdem todo o valor probatrio elidindo-se
reciprocamente, dada a sua igual credibilidade em tudo o mais.
Assim, se uma tstemunha afirma que a facada foi vibrada por
Ticio, e outra, que o foi por Caio.
A contradio, pois, sbre as circunstncias acessrias, com-
quanto no destrua a credibilidade do testemunho, enfraquece-a,
contudo, considervelmente. Assim, se uma tstemunha afirma
que o agressor tinha um casaco branco, e outra afirma ao con-
trrio, que era preto.
Os prticos, falando da discordndia entre vrios tstemu-
nhos sbre um dado facto, chamaram-lhe singularidade, e dis-
tinguiram esta em impediente, diversificativa e adminiculativa. A
sua singularidade impediente seria a contradio sbre o! facto
principal, e a diversificativa, a contradio sbre as circunstncias
acessrias. Emquanto a singularidade adminiculativa, esta no
mais que uma contradio aparente, e no real, sbre as
circunstncias acessrias: uma discordncia concilivel
404 A Lgica das Provas em Matria Criminal
trando ter chamado sua mente melhor aquelas circunstncias,
sbre que a princpio depusera menos pensadamente; e nste
caso, aumenta-se a f no testemunho.
Gomo, portanto, a concordncia entre as vrias partes do
contedo tstemunhal, condio da eficcia probatria do teste-
munho, assim a contradio entre elas, destri o valor do
testemunho.
6. O contedo de um testemunho ter tanto maior valor,
quanto melhor reproduzir a realidade concreta dos factos. Ora,
os factos reais e concretos so todos determinados; factos con-
cretamente reais, indeterminados, no existem na natureza; e
por isso o testemunho ter tanto maior valor, quanto melhor
determinar os factos que afirma; e o seu valor diminuir at
reduzir-se a nada, medida que se apresenta mais indeterminado.
A determinao, pois, do contedo do testemunho tem um
duplo objecto: o facto em si, e o ambiente, direi assim, em que
o facto se efectuou, a natureza individual, por outros trmos, do
facto real que se afirma ter-s percebido, e as circunstncias de
tempo e de lugar em que le se realizou.
Falando da determinao do facto e das circunstncias em
que o facto se realizou, no entendemos j cingir-nos ao facto
do delito, e muito menos a todo o facto do delito: no ao facto do
delito, porquanto nem todo o testemunho directo; no a todo
o facto do delito, porquanto o testemunho, que faa f de todo o
delito, mais uma hiptese terica, que uma realidade prtica.
Falando de determinao do facto e das suas circunstncias, enten-
demos falar daquele facto, qualquer que seja, que o testemunho
atesta, quer delituoso, quer estranho ao delito. O testemunho tem
sempre por contedo imediato a afirmao de um facto qualquer;
e ns, referindo o valor probatrio do testemunho a sse facto
qualquer, a que o testemunho se refere imediatamente, dizemos
que le est tanto melhor provado quanto mais determinada-
mente afirmado.
Naturalmente, quando o testemunho directo, quando tem
por objecto imediato o delito, ser mais que nunca necessria a
determinao: se o facto do delito se no apresenta determina-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 405
damente verificado em juzo, impossvel legitimar-se uma con-
denao. Ainda que sejam mil as tstemunhas a afirmar simples-
mente, sem mais, que Ticio matou um homem, esta afirmao
indeterminada nunca poder ter fra para dar a certeza do
homicdio de Ticio, e nunca poder, por isso, servir legitima-
mente de base a uma condenao. O homicdio de Ticio nunca
poder provar-se pela simples afirmao: Ticio matou um homem.
E necessrio que se prove que homem le matou, porque, onde e
quando o matou. ento que o facto do delito se apresentar
perante a conscincia dos julgadores com aquelas determinaes
com que se realizou no mundo dos factos; ento smente que
poder ser legtima a condenao. O juiz, deve, no conjunto das
provas, encontrar resposta a tdas aquelas perguntas que foram
retinidas por uma velha frmula da seguinte maneira:
Quis? quid? bi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?
O testemunho que se apresenta com um contedo indeter-
minado, no pode dar a segurana de uma percepo real dos
factos; por isso que os factos concretos, sendo determinados, s
podem ser realmente percebidos como factos materiaes atravs
das suas determinaes materiais, e s podem perceber-se como
factos morais atravs das determinaes morais.
7. O contedo do testemunho, conforme dissemos, adquire
valor probatrio pela determinao dos factos afirmados. Mas a
determinao dos factos afirmados seria nula se se no determi-
nasse tambm como, quando e onde que aqules factos foram
percebidos pela tstemunha. A tstemunha deve apresentar a
razo da sua scincia, disseram os prticos; e dar a razo desta
scincia consiste precisamente em determinar o como, o quando e
o onde da prpria percepo.
O testemunho tem tanto de valor probatrio, quanto de
exactido tem a percepo dos factos afirmados. Ora, quando se
no sabe como a percepo teve lugar, no pode ter-se f na sua
exactido. Ou a determinao do como, do onde, do quando da
percepo no provoca dvida alguma a seu respeito, e ento o
testemunho exercer tda a sua eficcia probatria; ou faz sur-
406 A Lgica das Provas em Matria Criminal
gir duvidas sbre a exactido da percepo, e ento poder-se h,
nos casos adequados, recorrer s experincias judiciais, que
segundo o resultado, concorde ou discorde, com o dito testemu-
nho,
fortificaro ou destruiro a sua f. A considerao, portanto, da
razo da scincia, tambm de grande importncia na avaliao
objectiva do testemunho.
8. Uma tstemunha pode afirmar um dado facto por
scincia prpria, ou por ouvir dizer: ou refere que ela prpria
percebeu, ou refere o que outrem lhe contou. Todos entendem
que, relativamente certeza de um mesmo facto, o testemunho
por scincia prpria tem um valor probatrio grandemente supe-
rior ao testemunho por ouvir dizer, do mesmo modo e pelas
mesmas razes que expozemos em outro lugar, segundo as quais I
a prova original superior no original.
Eu disse: relativamente certeza de um mesmo facto,
porquanto relativamente ao seu objecto particular imediato
tambm a tstemunha por ouvir dizer pode ter maior valor pro-
batrio. O objecte 'imediato desta espcie de testemunho a
narrao feita por outrem tstemunha; e compreende-se que
relativamente a essa narrao no h razo alguma para que o
testemunho de ouvir dizer no possa atingir a mxima credibili-
dade : o testemunho por scincia prpria tem tanta fra para
afirmar os factos percebidos pela tstemunha, factos que so o
seu objecto imediato, quanta a fra que tem o testemunho de
ouvir dizer para afirmar a narrao dos factos ouvidos pla
tstemunha, narrao que o objecto imediato desta segunda
espcie de testemunho. A diferena de valor probatrio, entre
os dois testemunhos, s se manifesta quando, relativamente ao
mesmo objecto imediato do testemunho por scincia prpria, se
considera, no s sse testemunho, mas tambm o testemunho por
ouvir dizer: relativamente aos factos que o primeiro depoimento
afirma como percebidos pela prpria tstemunha, e o segundo
afirma como narrados tstemunha por outrem, todos vem que
a diferena de valor probatrio muito grande.
Relativamente a stes factos o testemunho por ouvir dizer
no prpriamente uma prova: no mais que uma prova da
A Lgica das Provas em Matria Criminal 407
prova daqules factos, uma prova que pode ter muitssimo valor,
uma prova que sempre fraca, porquanto se produz sem as van-
tagens e as garantias que so inerentes natureza judicial da
prova. H sempre, nesta espcie de testemunho, duas categorias
de motivos infirmantes a que deve atender-se: os que podem
referir-se primeira tstemunha, e os que podem referir-se
segunda. E a soma das fraquezas dos depoimentos crescer pro-
porcionalmente, medida que crescem os graus de no origina-
lidade; como quando se trata de um ouvir dizer de segundo, de
terceiro ou de quarto grau. E a soma destas fraquezas crescer
indefinidamente, se o ouvir dizer se perde em origens indetermi-
nadas e annimas.
9. Mostramos como, atendendo-se ao contedo do testemu-
nho,
nle se notam razes intrnsecas que conduzem ao aumento,
diminuio ou extino do seu valor probatrio.
Mas o valor probatrio do testemunho, tambm o dissemos,
pode perder ou adquirir fra, no s por razes intrnsecas, mas
tambm por razes extrnsecas ao contedo. Vejamo-lo:
Tem lugar um testemunho. O contedo dste testemunho,
considerado em si mesmo, no apresenta razo alguma de des-
crdito; mas considerado, ao contrrio, em relao ao contedo
de outro testemunho, proveniente da mesma ou de outra ts-
te
munha, pode, sob ste aspecto extrnseco, perder de valor
probatrio, ou tambm adquiri-lo: perder, pela contradio do
testemunho que se avalia, com outro da mesma ou de outra tste-
munha; adquiri-lo, pela natureza contste do testemunho que se
avalia, com outro da mesma ou de outra tstemunha.
Principiemos por considerar a contradio de um depoimento
com outro depoimento da mesma tstemunha.
A tstemunha que percebeu a verdade, e que pretende afirm-
la, no varia nos seus sucessivos depoimentos, porquanto a
verdade sempre a mesma. Quando, ao contrrio, se mente,
ento so naturais as variaes, porquanto nas mentiras se
guiado pela imaginao, e a imaginao varivel pela sua pr-
pria natureza. Eis porque a contradio entre o contedo de um
depoimento e o do precedente, desacredita o valor do depoimento.
408 A Lgica das Provas em Matria Criminal
E necessrio, por isso, observar que ste descrdito cessa,
ou diminui grandemente, quando o testemunho apresenta uma
razo suficiente de ter variado; razo suficiente, que mais fcil
indicar quando a alterao recai sbre circunstncias acess-
rias; e que mais difcil designar, quando a alterao recai
sbre o facto principal. Emquanto s circunstncias acessrias,
a pouca ateno que se lhes presta, ligada pergunta, ao emba-
rao, confuso e inconsiderao de um primeiro depoimento,
pode justificar, relativamente a ste, o rro que em seguida se
vem a corrigir no segundo depoimento, prestado depois de uma
madura reflexo. A tstemunha afirmou, em primeiro intrroga-
trio, que uma dada distncia era de cem metros; em um segundo,.
afirma, ao contrrio, que de duzentos, acrescentando t-la me-
dido depois do primeiro intrrogatrio: esta alterao no desacre-
ditar o testemunho, mas acredit-lo h, mostrando a tstemu-
nha escrupulosa nas suas afirmaes.
Vice-versa, emquanto ao facto principal que deve ter pro-
duzido impresses no fceis de destruir no esprito da tstemu-
nha, j no so aceitveis aquelas justificaes; e para acreditar
o segundo depoimento no se apresenta seno a hiptese de que
a tstemunha, tendo mentido da primeira vez, queira dizer a
verdade da segunda. Quem primeiro disse que Ticio no fz nada
contra Caio, quando vem depois afirmar que foi Ticio quem apu-
nhalou Caio, no pode justificar-se a sua mudana com o pre-
texto de ter errado da primeira vez, por falta de ateno, por
confuso, por embarao, por no ter considerado bem. stes pre-
textos vos desacreditariam principalmente o actual depoimento
da tstemunha. Ter mais crdito o seu segundo depoimento se
le afirmar ter mentido a princpio por d do acusado, e querer
agora dizer a verdade por ter reflectido na grande responsabili-
dade moral e legal em que incorre.
Do mesmo modo que para o facto principal, assim tambm
para algumas circunstncias, to notveis na sua ligao com o
facto principal que no possam esquecer-se sem o esquecer, no
se pode, sequer, apresentar o pretexto de um esquecimento mo-
mentneo, corrigido pelo segundo depoimento. Assim, quem,.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
409
depois de ter dito em um primeiro depoimento ter visto Ticio
apunhalar Gaio na manh de um certo dia, visse dizer depois ter
isso sucedido na noite daquele dia, no poderia ser acreditado
afirmando ter feito a primeira afirmao por falta de ateno.
Em geral, apresentando-se um testemunho em contradio
com outro precedente da mesma tstemunha, a medida do seu
valor probatrio ser determinada pela maior ou menor seriedade
de razes que apresenta a tstemunha, para explicar a alterao
ocorrida.
Gomo a variedade de afirmaes nos sucessivos intrrogat-
rios da mesma tstemunha deprecia o valor do seu testemunho,
assim tambm a sua constncia de afirmaes aumenta o seu
valor.
Passemos contradio entre depoimentos de diversas tstemunhas.
Existindo vrios depoimentos de diversas tstemunhas sbre
o mesmo assunto, o seu contedo pode ser contraditrio emquanto
ao facto principal, ou emquanto s circunstncias acessrias
Dois testemunhos que se contradizem entre si sbre o
assunto principal, perdem todo o valor probatrio elidindo-se
reciprocamente, dada a sua igual credibilidade em tudo o mais.
Assim, se uma tstemunha afirma que a facada foi vibrada por
Ticio, e outra, que o foi por Gaio.
contradio, pois, sbre as circunstncias acessrias, com-
quanto no destrua a credibilidade do testemunho, enfraquece-a,
contudo, considervelmente. Assim, se uma tstemunha afirma
que o agressor tinha um casaco branco, e outra afirma ao con-
trrio, que era preto.
Os prticos, falando da discordndia entre vrios
testemunhos Pode um dado facto, chamaram-lhe singularidade, e
distinguiram esta em impediente, diversificativa e aminiculativa.
A sua singularidade impediente seria a contradio sbre o facto
principal, e a diversificativa, a contradio sbre as circunstncias
acessrias. Emquanto a singularidade aminiculativa, esta no
mais que uma contradio aparente, e no real, sbre as
circunstncias acessrias: uma discordncia concilivel
410 A Lgica das Provas em Matria Criminal
entre o dizer de uma tstemunha e o de outra; como quando
uma tstemunha afirmasse que Ticio, o agressor, tinha o chapu
na cabea, e outra afirmasse, ao contrrio, que le estava sem
chapu. Compreende-se fcilmente, que o chapu podia ter cado
da cabea de Ticio, uma tstemunha pode afirmar exactamente
ter visto Ticio com o chapu, e outra t-lo visto sem le. Pelo
que se compreende como esta singularidade pode no diminuir o
valor probatrio dos testemunhos.
O que diminui o valor dos testemunhos a contradio
entre les. E esta depreciao tanto maior, quanto mais difcil
se torna explicar a contradio com a hiptese de rro casual,
proveniente de falta de ateno ao perceber, ou de esquecimento
ao referir. Quando a contradio recai sbre o facto principal,
compreende-se a impossibilidade de sustentar o rro casual de
falta de ateno ou de esquecimento. Quando a contradio recai,
ao contrrio, sbre as circunstncias acessrias, o rro acidental
poderia supr-se mais ou menos fcilmente, segundo a diversa
natureza das circunstncias, mais ou menos notveis. Assim, se
dois testemunhos se contradizem sbre o feitio do casaco do
agressor, coisa que no pode sriamente abalar a sua fra pro-
batria; trata-se de circunstncias to pouco notrias, que na-
turalssimo o rro de uma das tstemunhas, e talvez at das duas.
Os testemunhos podem portanto conservar, no obstante a con-
tradio a sse respeito, todo o seu valor probatrio sbre o res-
tante. Se dois testemunhos se contradizem sbre a cr do casaco
afirmando cres diversas, mas aproximadas, tambm nste caso
no h razo de descrdito. medida que as cres se vo afas-
tando mais, e se torna menos fcil a sua confuso, vai tomando
fra a razo de descrdito; que se torna grandssima, quando
se chega aos dois extremos da escala das cres, afirmando uma
tstemunha: o agressor trazia um casaco preto; afirmando, ao
contrrio, outra: trazia um casaco branco. Torna-se mximo o
descrdito, quando a contradio recai sbre uma circunstncia
to notria, to intimamente conexa percepo do crime, que
no pode percber-se esta sem aquela. Quando a tstemunha
afirma ter visto apunhalar Ticio de manh, e outra afirma, ao
A Lgica das Provas em Matria Criminal 411
contrrio, ter isto sucedido de noite, poder acaso depositar-se f
nos seus depoimentos?
Concluindo: como a contradio entre os testemunhos os
desacredita, assim a falta de contradio conserva-lhes o valor
probatrio a que teem direito, devido a tdas as suas outras con-
sideraes subjectivas, formais e objectivas. A conformidade, pois,
dos testemunhos, isto , a uniformidade de afirmaes entre o
contedo de um e o de outro, aumenta o valor probatrio de cada
um dos depoimentos, em razo directa do nmero e do valor das
afirmaes contstes que tem.
TITULO IV
Valor do testemunho clico
Nos trs ttnlos precedentes temos vindo analisando as
razes de descrdito que podem lgicamente derivar da consi-
derao do sujeito, da forma e do contedo do testemunho con-
creto.
Sempre que alguma destas razes de descrdito inerente a
um dado testemunho, quer seja por defeito no sujeito, quer na
forma, quer no contedo, o testemunho denomina-se, em geral,
defectivo. Sempre que, ao contrrio, o testemunho se apresenta
sem alguma daquelas razes de descrdito, denomina-se, em
geral, clssico.
Tstemunho clssico , portanto, o que no tem defeitos de
credibilidade, quer em razo do sujeito, quer em razo da forma,
quer em razo do contedo. E assim como, tanto o ofendido,
como o acusado, por isso que o so e depem em seu intersse, o
que sucede ordinriamente, apresentam sempre, conquanto
tnues, defeitos subjectivos de credibilidade, assim tambm
quando se fala de testemunho clssico em geral, entendemos
referir-nos principalmente ao testemunho de terceiros.
Alm disso, sendo o testemunho clssico aquele que no
apresenta razo alguma de descrdito, segue-se tambm, que
412 A Lgica das Provas em Matria Oriminal
tda a vez que se fale da mxima fra probatria de que capaz o
testemunho, entende falar-se do testemunho clssico. ste,
compreendem-no todos, s por si a base legtima da certeza
judiciria. Sempre que um facto nos afirmado por um testemunho
clssico, sse facto apresenta-se como certo nossa conscincia; a
dvida no parece razovel. E lgico: quando a tstemunha que
afirma o facto, se nos apresenta como uma pessoa que no se
engana e que no pretende enganar; quando
o prprio contedo da sua afirmao nos parece reflectir a ver
dade; e a forma das suas afirmaes nos aparece sem defeitos;
porque havemos de duvidar? A mxima fra probatria tste
munhal encontra-se, portanto, no testemunho clssico.
Mas conquanto seja grande a eficcia do testemunho clssico,
ela no , contudo, ilimitada; a sua fra probatria tem limites
racionais, de que, devido & importncia da matria e
multiplicidade das controvrsias, nos ocuparemos em captulos
distintos; captulos, que, por motivo de mtodo, desenvolveremos
em lugar oportuno. Aqui, para integridade do estudo particular,
limitar-nos hemos a designar smente, em que consistem stes
limites que sustam a fra probatria do testemunho.
So de trs espcies: a primeira espcie deriva da conside-
rao do nmero das pessoas que afirmam; as duas outras espcies
derivam da considerao objectiva das coisas afirmadas.
1. Ao avaliarmos o testemunho concreto em relao ao
contedo, designamos como causa objectiva e extrnseca de des-
crdito a contradio do seu contedo com o de outro testemunho.
E por isso um testemunho em contradio com outro, no
clssico, sob o ponto de vista do contedo.
Mas necessrio observar que, em geral, falando-se de con-
tradies entre testemunho e testemunho, entende-se sempre falar
de testemunhos de terceiros em contradio entre si; e por isso no
se entende que desaparea a natureza de clssico do testemunho de
terceiro, pela sua contradio com o testemunho do argido.
Admitindo-se, porm, que o testemunho de terceiro no deixa
de ser clssico pela sua contradio com o testemunho do
A Lgica das Provas em Matria Criminal 413
argido, a lgica das provas, atendendo a esta espcie de
testemunho clssico, marca, por tdas as razes que
desenvolveremos em lugar prprio, um primeiro limite fra
probatria do testemunho clssico de terceiro, afirmando que le,
se nico a designar o ru, no pode sem o concurso de outras
provas indirectas, vencer a afirmao contrria do argido. Para
que a declarao do argido, pela prpria qualidade de argido na
pessoa que afirma, seja considerada defectiva, e conseguintemente
inferior declarao clssica de terceiro, necessrio que esta
qualidade do argido, que torna suspeita a sua declarao, no
derive nicamente do prprio depoimento do terceiro que se quer
fazer prevalecer; de outro modo car-se h em um crculo vicioso:
ora, quando o testemunho de um terceiro o nico indicador do
ru, por isso nicamente dle que deriva a imputao.
Isto em quanto ao testemunho de terceiros. Mas o limite da
singularidade tambm considerado emquanto ao depoimento do
ofendido e ao do argido.
Emquanto singularidade do testemunho do ofendido,
sempre que ste testemunho, sem o auxlio de outras provas,
mesmo indirectas, o nico indicativo do suposto delinqente, e
est em contradio com a declarao dste, deve, com maioria
de razo, chegar-se mesma concluso: no pode legitimamente
produzir a certeza.
Emquanto, finalmente, ao testemunho do argido, quando
le a nica prova da criminalidade, sendo o argido s a acusar-
se a si mesmo, sem o concurso de outras provas, mesmo
indirectas, ste seu depoimento, como nico testemunho, con-
quanto no contraditado, no pode contudo produzir a certeza: a
espontaneidade e a singularidade probatria de tais acusaes
contra si prprio do fra preponderante a tdas aquelas razes
de descrdito que enfraquecem o valor da confisso, e que exa-
minaremos em seguida. Condenar um homem sob a f da sua
palavra, autorizar uma espcie de suicdio legal, ao mesmo
tempo que uma criminalidade, que no existe seno nas palavras
de um que se diz delinqente, quando mesmo fsse verdadeira,
414 A Lgica das Provas em Matria Criminal
no fazia sentir sociedade a necessidade, que se resolve em
direito, de punir.
Eis aqui, portanto, em que consiste o limite da singulari-
dade imposto fra probatria do testemunho. Dle falaremos
largamente em outro lugar, expondo as suas razes
1
.
2. Qualquer que seja a coisa que se quer verificar, pode
sempre verificar-se por meio de tstemunhas. Qualquer coisa
provvel, bem provada por meio da prova tstemunhal. Bis
aqui uma regra geral que deve entender-se dentro de certos
limites.
H delitos denominados de facto permanente, por isso que
deixam atrs de si a permanncia de um evento material, sbre-
vivente ao delito. stes delitos no se verificam sem a perma-
nncia de tal evento material; a ausncia dste pe em dvida
a existncia daqules. Ora, se o testemunho, a propsito de um
delito de facto permanente, vem afirmar a percepo, em um
dado momento, da materialidade produzida pela aco criminosa,
e que constitui o evento material permanente, evento que se
chama tambm corpo de delito; se a tstemunha afirma ter per-
cebido em um dado momento o corpo de delito, mas ste corpo
de delito j se no encontra, sem que se possa explicar o seu
desaparecimento; a ausncia do corpo de delito, que, pela sua
natureza, deveria ainda subsistir, faz lgicamente duvidar da
exactido da percepo tstemunhal. Nste caso, os testemunhos,
tanto de terceiro, como do argido ou do ofendido, em qualquer
nmero, no devem ser considerados como prova completa do
corpo de delito. Na falta dste, para haver uma prova tstemu-
nhal suficiente, seria necessrio no s que se afirmasse a per-
cepo em um dado momento, mas tambm que se tivsse pro-
vado a sua destruio ou a sua ocultao consecutivas, explicando
assim o seu desaparecimento. A fra probatria, portanto, do
testemunho, que afirma a existncia do corpo de delito ssencial
1
Veja-se, em seguida a esta Seco, o cap. vii: Limite probatrio
derivado da singularidade.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 415
em um dado momento, no vale para produzir a certeza a seu
respeito, que se acha assente, e no contestvel nem contestada
judiciriamente ou qusi judiciriamente. I Eis aqui uma segunda
limitao, do ponto de vista da coisa provada: o limite probatrio
do testemunho em quanto ao corpo-de delito
1
.
3. Os direitos civis dos cidados so regulados pelas leis
civis: les s existem emquanto so regulados pelas leis civis, e
dentro das condies das leis civis preestabelecidas. Tda a vez|
que, portanto, necessrio provar a existncia de um direito civil,
tem de recorrer-se aos critrios das leis civis de que le deriva.
Ora, quando se quer imputar a um homem a violao de um
direito civil, necessrio, em primeiro lugar, ter-se a certeza da
existncia dle; se a sua existncia no fsse certa, poder--se-ia
falar de violao de um direito natural, mas nunca de um direito
civil.
Portanto, direito civil que se no prove civilmente, no se
compreende. Do momento em que um direito se no pode pro-
var,- segundo as regras da lei civil, no existe para ela, e deixa de
ser um direito civil. E por isso, quando em juzo criminal se
imputa a violao de um direito civil, ste tem que se provar
segundo as normas da lei civil; e se assim se no prova, no pode
dizer-se que existe.
Conseguintemente, como as leis civis limitam a prova tste-
munhal a uma certa esfera de direitos, entende-se que esta limi-
tao deve valer tambm em matria penal: os direitos civis que
no podem ser provados pela prova tstemunhal no juzo civil,
no podero provar-se assim, mesmo em juzo penal.
Eis aqui uma terceira limitao fra probatria do tes-
temunho: a limitao proveniente das leis civis
2
.
1
Veja-se, em seguida a esta Seco, o cap. viii: Limite probatrio
derivado do corpo de delito.
* Veja-se, em seguida a esta Seco, o cap. ix: Limites probatrios
derivados das regras probatrias civis.
416 A Lgica das Provas em Matria Criminal
CAPTULO IV
Tstemunho de terceiro
Ao determinarmos as varias espcies de testemunho, no prin-
cpio desta Seco, falamos de testemunho adventcio in facto,
e de testemunho escolhido post factum. Chamamos ao primeiro,
testemunho comum, por isso que prestado por um homem
qualquer que se encontrava eventualmente presente ao facto, que
se quer verificar; chamamos ao seguudo, testemunho pericial,
por isso que prestado por pessoas determinadas que pela sua
especial percia so escolhidas para fazerem f de condies par-
ticulares de facto, no perceptveis para o comum dos homens.
Como pois, relativamente a qualquer facto, o testemunho
pode ser feito por pessoas estranhas ao proprio facto, ou por
pessoas que tomaram nle parte activa ou passiva, assim, relati-
vamente quele facto particular que se chama delito, temos o
testemunho subdividido ainda em testemunho de terceiro, que
a pessoa estranha ao delito, testemunho do ofendido, que a
pessoa passiva do delito, testemunho do argido, que a suposta
pessoa activa do delito. Torna-se-nos agora obrigatrio fazer uma
referncia a cada uma destas espcies do testemunho comum.
Principiemos, aqui, pelo testemunho de terceiro. Aquele que
cometeu o delito, e quem o sofreu, no so tstemunhas
imparciais; e por isso a crtica criminal d maior importncia ao
testemunho de terceiro, como sendo a fonte mais rica e pura da
certeza em matria criminal.
O terceiro, que vem tstemunhar sbre o delito, pode ser
uma pessoa qualquer, e tem-se um testemunho que eu chamo
ordinrio; pode ser tambm, ao contrrio, uma pessoa revestida
de uma qualidade pblica, que lhe confere uma competncia
especial para a verificao dos factos que atesta, e tem-se um
testemunho que chamo oficial, para o distinguir do primeiro.
O testemunho do terceiro, portanto, pode ser testemunho ordi-
nrio oficial.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 417
Emquanto ao testemunho ordinrio, no nos parece til
tratar dle em particular: bastam a sse respeito as noes e os
critrios que temos exposto at aqui. do testemunho oficial que
julgamos, ao contrrio, oportuno fazer um estudo particular, para
fazermos ideia da sua natureza especial e da f especial que inspira.
A presuno de que a tstemunha se no engana e que no
quer enganar, presuno que chamamos de veracidade, o fun-
damento da credibilidade do testemunho. Esta f na veracidade
tstemunhal adquire, pois, um valor determinado, segundo os
requisitos subjectivos, formais e objectivos do testemunho con-
creto: requisitos directamente percebidos, ou requisitos presu-
midos.
Emquanto aos requisitos formais e objectivos, os primeiros
so qusi sempre, e os segundos sempre, directamente percept-
veis era juzo; e digo qusi sempre para os requisitos formais, na
hiptese de provas produzidas anteriormente ao julgamento
pblico, com formalidades que poderiam tambm no resultar
suficientemente verificadas pelo juiz do debate. Da considerao,
portanto, do testemunho particular, resulta sempre quanto aos
requisitos objectivos, e qusi sempre quanto aos formais, se les
existem ou no existem: se resulta que existem, admitem-se no
por suposio, mas por verificao directa; se resulta, ao contr-
rio, que no existem, no podem supr-se, por isso que no h
suposio que possa vencer a realidade.
Emquanto aos requisitos subjectivos, stes, ao contrrio, no
so muitas vezes perceptveis: muitas vezes no se tem conhe-
cimento exacto da sua existncia ou no existncia na tstemunha
particular. Ora sendo certo que precisamente quando falta o
conhecimento positivo ou negativo dos requisitos da credibilidade,
que a presuno de veracidade se afirma fazendo-os supr; e
visto que ste conhecimento falta principalmente tratando-se de
requisitos subjectivos; compreende-se, assim, como a presuno de
veracidade tenha a sua maior eficcia relativamente credi-
bilidade subjectiva da tstemunha. Posto isto, e sob ste ponto de
vista, a presuno da veracidade mais forte para a tste-
87
418 A Lgica das Provas em Matria Criminal
munha oficial que para a ordinria. Qual o motivo? Procuremos
examinar racionalmente esta maior f que se deposita no
testemunho oficial.
A presuno de veracidade, j o sabemos, uma presuno
complexa: encerra em si a presuno de que a tstemunha se
no engana, e a outra de que ela no quer enganar. Conside-
remos cada uma destas presunes que a compem, relativamente
ao testemunho oficial, para determinar o valor da resultante pre-
suno de veracidade que lhe respeita.
Quem se acha revestido da qualidade de oficial pblico, no
sempre uma tstemunha oficial para todos os factos que caem
sob a sua observao; tstemunha oficial smente em relao
aos factos que a sua qualidade de oficial pblico lhe d compe
tncia para atestar. Compreendido assim, dentro dstes limites,
o testemunho oficial, fcil compreender a sua superioridade.
O Estado, sabendo que a qualidade de oficial pblico invste de
uma competncia particular para atestar certos factos, no pode
lgicamente revestir com aquela qualidade quem no apresenta
a capacidade intelectual e sensria para a percepo daqules
factos, que chamado a atestar. A qualidade de oficial pblico,
depondo em matria de competncia prpria, prcsupe, portanto,
os requisitos subjectivos de capacidade intelectual e sensria,
requisitos que no h igual razo de supr na tstemunha ordi
nria. Acresce a isto que a tstemunha oficial, que sabe ter a
obrigao de atestar certos factos, aplica, na observao dsses
factos, maior ateno que qualquer outra tstemunha; no des
preza nenhuma daquelas particularidades importantes, que podem
mais fcilmente escapar a uma tstemunha chamada ao acaso; e-
empregar, sabendo a gravidade do depoimento que fr chamada
a fazer, todos os seus esforos para no car em rro. claro,
pois, o motivo por que a presuno de capacidade intelectual e
sensria mais forte para a tstemunha oficial, do que para a
ordinria.
Passemos capacidade moral. Poder-se-ia, em primeiro
lugar, observar que o Estado tem intersse em possuir oficiais
pblicos que cumpram o seu dever; e como no por certo
A Lgica das Provas em Matria Criminal 419
a improbidade que os torna escrupulosos no desempenho dos seus
deveres, assim o critrio moral que, lgica e geralmente falando,
dirige o Estado na nomeao dos oficiais, o da probidade.
Segue-se daqui que a qualidade de oficial pblico confe-rida a um
cidado, faz supr nle, em regra geral, a probidade pessoal. Mas
deixemos de parte ste argumento que, comquanto verdadeiro em
regra geral, poderia ter muitas excepes em um regime
particular, e que poderia alm disso nunca ser reputado bom por
quem, em qualquer regime, por paixo poltica, v negro tudo
quanto vem do alto, parecendo-lhe rosado tudo o que vem de
baixo.
Deixando, pois, de parte o argumento precedente, outro h
lgicamente irrefutvel, a que ns temos de atender. Porque que
se presume, em regra geral, que a tstemunha no quer enganar?
Por aquele senso moral que, mais ou menos eficazmente, vive em
tdas as conscincias; senso moral que se ope mentira e
favorvel verdade. ste senso moral existe em tdas as
conscincias, tanto na das tstemunhas ordinrias, como nas das
tstemunhas oficiais, e fornece argumento para presumir que no
querem enganar, nem umas, nem as outras. Mas para as tste-
munhas oficiais h mais alguma coisa. Ao sentimento genrico,
inspirador da verdade para tdas as tstemunhas, acresce o sen-
timento particular de um dever particular, que deriva da prpria
qualidade; ao sentimento de responsabilidade comum a tdas as
tstemunhas, acresce o sentimento particular de uma responsabi-
lidade particular e mais grave proveniente do prprio oficio. Como,
portanto, os impulsos para a verdade so maiores na conscincia
da tstemunha oficial que na da tstemunha ordinria, a presun-
o de que se no quer enganar deve ser mais forte para a pri-
meira que para a segunda.
Concluindo, a maior fra de cada uma das presunes com-
ponentes leva concluso da maior fra da resultante, presuno
complexa de veracidade, a favor do testemunho oficial, em face
do testemunho ordinrio.
Esta presuno de que a tstemunha oficial se no engana e
no quer enganar; esta presuno dos requisitos subjectivos na
420 A Lgica das Provas em Matria Criminal
tstemunha oficial, pela sua prpria fra, reflecte-se, dentro de
certas condies, sbre os critrios formais do testemunho; e
precisamente sbre aqules, que nascem da considerao de cer-
tas formas que so aconselhadas pela arte criminal como protec-
toras da verdade, contra o rro ou a vontade de enganar da
tstemunha.
Sabemos que a forma especfica do testemunho o ser oral, 0
que se explica e aperfeioa na produo judicial e no intrro-
gatrio: o testemunho, em suma, sob o ponto de vista da forma,
deve ser feito oralmente em juzo, e ser integrado pelo intrro-
gatrio. A primeira conseqncia, como vimos em outro lugar,
dste preceito da natureza oral do testemunho em juzo que
no possa ler-se em juzo o testemunho escrito. Ora, esta proibi-
o formal, que imprescindvel para o testemunho ordinrio,
tem, ao contrrio, excepes relativamente ao testemunho oficial.
Os relatrios, os autos, os certificados do oficial pblico, emquanto
no saem da sua competncia, so admitidos leitura por tdas
as razes de convenincia expostas era outra parte, juntamente
com as razes da maior f que nos inspira o oficial pblico
1
.
A segunda conseqncia do preceito, segundo o qual o
testemunho para ter o seu valor deve apresentar-se oralmente no
julgamento pblico, que o testemunho, e principalmente a con-
fisso extra-judicial, formalmente defectiva. Ora, esta conse-
qnc
ia no tem o mesmo valor relativamente confisso extra-judicial,
quer quando prestada pela tstemunha ordinria, quer pela
tstemunha oficial competente: nste segundo caso, no tem lugar
a depreciao que se d no primeiro; nste segundo caso, a
confisso prestada pelo oficial pblico competente, se bera que
extra-judicial em sentido relativo por ser recebida fora do juzo
prpriamente dito, que o juzo pblico e contraditrio, tem um
valor probatrio, que se no deve desprezar, como no caso de ter
sido prestada por uma tstemunha ordinria. E isto no s por-
1
Veja-se nesta mesma Seco da Parte quinta, o cap. ii: Carcter
especifico do testemunho: Natureza oral: n. 3.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 421
que, comquanto faltem as frmulas solenes da produo judicial,,
h sempre formalidades que o oficial pblico deve observar ao
recolher os testemunhos; no s porque em face do oficial publico
competente no h que temer, por parte da primeira tstemunha,
aquela falta de ateno nas afirmaes; que seria de temer em face
de um particular com quem se conversa; no smente por estas
consideraes que a confisso tem maior valor quando prestada
pelo oficial pblico competente, que quando por uma tstemunha
ordinria; mas tambm pela maior f que inspira subjectivamente
o oficial pblico como tstemunha de segundo grau. Supe-se que
desempenhando um dever de ofcio, o oficial pblico deve ter
querido sempre prestar mais ateno que um particular, que no
tinha mais que o estmulo da curiosidade; conseguintemente
menor facilidade de engano na tstemunha oficial. Sabe-se que,
alm do sentimento moral que ordena a verdade a tdas, existe no
esprito da tstemunha oficial o sentimento de um dever particular
e de uma responsabilidade parti-cular, que se opem mentira;
conseguintemente, menor facilidade de vontade de enganar no
oficial pblico. A confisso colhida fora do juzo pelo oficial
pblico competente, se no judicial em sentido prprio,
justamente por ser colhida fora do juzo, tambm no extra-
judicial em sentido absoluto, porquanto recolhida para o futuro
juzo pelo oficial pblico competente: uma confisso qusi-
judicial
1
.
Mas necessrio no esquecer, sempre que se fale da pre-
suno mais forte de veracidade que respeita, em regra geral, ao
oficial pblico, que ste s tem direito a ela no que se refere sua
competncia, e dentro dos limites desta; fora da sua competncia, o
oficial pblico deve ser considerado igualmente a uma tstemunha
ordinria, e submeter-se aos mesmos critrios.
E, portanto, atendendo a isto, quando se trate de verificao
de grave importncia para o julgamento criminal, a lei deve
1
Veja-se, nesta Seco, o Titulo ii do cap. III : Avaliao o teste-
munho relativamente forma.
422 A Lgica das Provas em Matria Criminal
confi-la competncia determinada e particular de oficiais supe-
riores, e no a subalternos, por isso que os primeiros, melhor que
os segundos, sabendo compreender a importncia das investiga-
es a que procedem, e tendo um mais alto senso dos prprios
deveres, lgico que inspirem maior confiana.
Trata-se, por exemplo, de uma verificao do corpo de delito.
E, natural, no falamos aqui daquela verificao judiciria,
que se tem de fazer no decurso do julgamento: nesta hiptese,
procedendo a ela o prprio juiz do debate e em presena das
partes, o caso prpriamente de uma prova material em sentido
restricto. Falamos aqui da verificao a que se procede antes de
aberto o julgamento pblico, verificao que chamarei prejudi-
ciria, e que prefiro chamar qusi-judiciria, de harmonia com
as denominaes estabelecidas a propsito da natureza judicial
da prova; entendemos falar da verificao a que se procede no
perodo instrutrio, para verificar o corpo de delito, por meio de
um oficial de justia que deve reduzir as verificaes feitas a
um auto apropriado, que em seguida encorporado no processo:
nesta hiptese que examinamos, o juiz do debate no assiste
prova material, mas recebe sbre ela o testemunho do oficial de
justia, que procedeu verificao.
Ora, todos compreendem que a competncia para tais veri-
ficaes judicirias, pela sua grande importncia, no pode con-
fiar-se a oficiais subalternos, mas deve, ao contrrio, confiar-se
pessoalmente ao juiz instrutor. Trata-se de provas reais impor-
tantssimas que nem sempre podem ser sucessiva e directamente
colhidas pelo magistrado, que tem de julgar, na sua forma
material, e que, por isso, podem no chegar ao juiz seno por
meio do testemunho oficial: necessrio, por isso, que o
testemunho oficial seja o melhor que possa haver para essas
verificaes, devendo concorrer com le tambm a observao do
perito, quando a matria a verificar no seja de percepo comum,
mas requeira uma capacidade especial.
No basta que para as verificaes de grave importncia se
deposite a confiana em oficiais superiores; necessrio tambm
que a lei prescreva formalidades por meio das quais se devam
A Lgica das Provas em Matria Criminai 423
efectuar essas verificaes. arte criminal aconselha por isso a
interveno de tstemunhas nas verificaes mais importantes.
Aconselha tambm que se crie, para o escrivo que redige os
autos, uma posio independente e livre, de modo a tornar-lhe
possvel recusar-se a escrever nos autos dizeres infieis e falsos
que o juiz pretendsse impr-lhe: todo o auto seria assim acre-
ditado sob a dupla f do escrivo e do juiz, alm da de outras
tstemunhas que se entendsse fazer intervir em casos especiais.
Na prtica judiciria, ao contrrio, o escrivo no passa de um
instrumento humilde e passivo nas mos do instrutor, uma espcie
de mquina de escrever.
simplesmente com a garantia proveniente de se confiar a
competncia a oficiais superiores, e com a garantia de formali-
dades protectoras da verdade, impostas tambm a les, que as
verificaes qusi-judiciais atingem o valor das judiciais.
conveniente fazer aqui uma observao de ndole geral
relativamente presuno de veracidade, que assiste tste-
munha oficial. Temos tratado at aqui de indagar a natureza
destas presunes, e verificamos que ela superior, em geral,
presuno de veracidade respeitante tstemunha ordinria. Mas
necessrio ter sempre presente que, comquanto se pretenda
superior, ela nunca passar de uma presuno, uma simples
presuno, que perde tda a eficcia em face da realidade con-
trria, ou que perde grande parte da sua eficcia em face de factos
verificados, que sejam fundamento de poderosas presunes
contrrias.
Podem, tambm contra o testemunho oficial, aparecer mo-
tivos tais de descrdito, que lhe tirem tda a f, ou pelo menos,
uma grande parte. O testemunho oficial, em que se demonstre ter
havido corrupo, poder acaso merecer ainda f? A tstemunha
oficial que, comquanto proba, se verifica ser amigo ntimo e qusi
irmo do argido, ou seu inimigo desapiedado, poder vencer tda
a razo de suspeita com a sua qualidade de oficial pblico? O
oficial pblico que fsse o ofendido no delito, o oficial pblico
em cujo favor podsse reverter um crdito, em cujo prejuzo
podsse reverter um dbito, como conseqncia do
424 A Lgica das Provas em Matria Criminal
julgamento, poder acaso considerar-se, no obstante, seguramente
mparcial pela sua vste de oficial pblico? Ai de mim! o oficiai
pblico tambm um homem e no pode manter-se completa-
mente alheio s fraquezas e s paixes humanas.
O testemunho oficial, seja mesmo o mais alto possvel, nunca
ter em seu favor mais que uma simples presuno juris tantum
de veracidade, contra a qual ser sempre lcito dar prova, da
parte dos interessados. Suponhamos uma verificao qusi-judi-
cial, da parte do juiz instrutor em pessoa. Que se conclui daqui ?
Poder provar-se sempre que a identidade dos objectos a verifi-
car no foi bem apreciada; poder provar-se sempre ter o juiz
inserido nos autos, como prprias, observaes colhidas, ao con-
trrio por outrem; poder sempre provar-se no ter o escrivo
observado coisa alguma pessoalmente; e no ter feito mais do
que escrever passivamente o que o juiz lhe ditou, afirmando
assim como prprias as observaes, que eram nicamente do
juiz. Todos veem que em todos stes casos, seria absurdo querer
prestar f ao auto de verificao. Falando do auto em geral
1
,
indicamos como a sua fra probatria particular est na ime-
diata redaco, feita no local da observao: ora, poder tambm
provar-se sempre que um dado auto foi redigido em tempo e em
lugar diversos do das observaes; o que diminuiria sempre a
sua f, mais ou menos, segundo a distncia entre o tempo da
redaco e o da observao, e segundo os diversos critrios que
prevalecem nas legislaes particulares.
Suponhamos, porm, que o testemunho oficial tenha todo o
seu valor, sem motivo algum srio de descrdito; suponhamos
um testemunho oficial clssico; qual ser a sua eficcia probatria?
Falamos j do valor do testemunho clssico em geral; o
sse valor deve, com maioria de razo, reconhecer-se no testemu-
nho
clsico oficial. Mas ao falarmos do testemunho clssico, marcamos
trs limitaes sua eficcia probatria: um limite deri-
1
Veja-se cap, ii: Carcter especfico da prova tstemunhal: Natu-
reza oral: n. 3.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 425
vado da singularidade da tstemunha, outro proveniente das regras
civis da prova, e outro derivado da natureza especial do corpo de
delito naquilo que se quer provar. Ora, considerando que o
testemunho oficial tem em regra geral, maior eficcia que o
testemunho ordinrio, necessrio indagar, se stes trs limites
teem fra tambm para o testemunho oficial, clssico,.
Analisemos.
Emquanto ao limite da singularidade da tstemunha, h uma
considerao jurdica que prevalece sbre as consideraes
probatrias para resolver a questo. O fim supremo da pena
reestabelecer aquela tranquilidade social que foi perturbada pelo
delito. Ora, a possibilidade de ser condenado sob a palavra de uma
s tstemunha, ainda mesmo oficial que fsse, em vez de
tranqilizar, perturbaria profundamente a conscincia social.
Todos experimentariam a possibilidade de ser vitima de um
inimigo desleal que, aproveitando-se da sua qualidade, que o
acredita, de oficial pblico, aparecsse a acusar de factos crimi-
nosos no cometidos. Nem se diga que a mesma perturbao
nasceria da possvel condenao sbre a palavra de duas tste-
munhas; porquanto em primeiro lugar no fcil ter dois inimigos
to ferozes, e que assim desprezem a grave responsabilidade
pessoal, at ao ponto de no hesitarem em vir a juzo caluniar um
inocente; e mesmo existindo stes dois ferozes inimigos, ser
necessrio que se acordassem para urdir a teia caluniosa que teria
de ser apresentada em juzo. E necessrio conhecer pouco o
corao do homem para ignorar que certas infmias grosseiras s se
cometem quando, cometendo-as, no h necessidade de se mostrar
claramente infame aos olhos de pessoa alguma; quando para as
cometer necessrio pr a n, quer mesmo a outro infame, tda a
torpeza do seu esprito; ento a coragem malfazeja desaparece;
repugnncia de se mostrar trpe, vem renir-se a ideia de poder
ser, mais cedo ou mais tarde, trado-pelo cumplice da infmia.
O limite da singularidade, como para todo o testemunho
clssico, tem de ter por isso tambm fra para o testemunho
clssico oficial.
426 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Emquanto ao limite derivado das regras civis de prova,
tambm aqui a questo resolvida antes pelas consideraes da
natureza gentica do direito de prova, que por consideraes
probatrias. No pode dizer-se violado um direito civil que no
possa provar-se pelas normas das leis civis. E por isso quando
um suposto direito civil se no pode provar pelas regras civis,
seja qual fr a fra probatria que queira atribuir-se ao teste-
mun
ho clssico oficial, le nunca poder chegar a provar como
existente o que na realidade no existe.
O limite das regras civis de prova, como relativamente a
qualquer outro testemunho, tem por isso tambm fra para o
testemunho clssico oficial.
Passemos terceira limitao, que derivada da natu-
reza especial do corpo de delito naquilo que se quer provar.
Dissemos j que havia delitos chamados de Jacto permanente;
denominados assim porque, devido sua natureza, deixam sempre
atrs de si a permanncia de um facto material; e ste facto
material sbrevivente aco criminosa, dissemos chamar-se
corpo de delito: no se concebe, dissemos ns, a existncia
dstes delitos sem um tal corpo de delito, sbrevivente aco
criminosa. Conclumos da que o testemunho a propsito de
um delito de facto permanente vem afirmar a percepo, em
um dado momento, daquela materialidade permanente sem a
qual o delito no existiria, e que constitui o corpo de delito; se
o testemunho afirma isto, mas no entanto ste corpo de delito j
se no encontra, a ausncia dste corpo de delito, que pela sua
natureza deveria subsistir ainda, faz lgicamente duvidar da
exactido da percepo tstemunhal. E por isso, nste caso,
qualquer que seja o seu nmero, os testemunhos no devem con-
siderar-se como prova completa do corpo de delito. Na falta
dste, para que haja uma prova tstemunhal suficiente, seria
necessrio no s que se afirmasse a sua percepo em um dado
momento, mas que se provasse tambm a sua destruio ou a
sua ocultao, explicando assim o seu desaparecimento. Afirma-
mos tudo isto em relao ao testemunho clssico em geral.
Ora, tudo isto que continuamos a julgar como verdadeiro
Lgica das Provas em Matria Criminal 427
relativamente ao testemunho clssico ordinrio, no o julgamos
assim pelo que respeita ao testemunho clssico oficial. Se lgico
recear que tstemunhas ordinrias, por incapacidade, por falta de
ateno, por leviandade, tenham tomado por corpo de delito o
que o no era, tais dvidas j se no justificam em face de um
acto oficial da polcia judiciria, que procede verificao como
a um grave dever de ofcio. E compreende-se fcilmente por que
falamos de acto oficial; porque sempre ao mais alto oficial da
polcia judiciria que deve confiar-se a competncia determinada e
particular da verificao do corpo de delito, pelo queanteriormente
dissemos.
O juiz instrutor que, pelos poderes que lhe so conferidos mela
lei, procede a uma verificao de tamanha importncia, pro-cede a
ela com a mxima ponderao possvel. capacidade jurdica
especial, pressuposta pelo seu ofcio, rene todos os esforos e
todos os cuidados de uma tstemunha que sabe dever
necessriamente dar conta do que diz ter verificado. le sabe tda
a importncia jurdica da verificao do corpo de delito, e por isso
no despreza nenhuma daquelas importantes particularidades que.
podem escapar a uma tstemunha ordinria. Juntese a isto que ele
no vero referir a matria das suas observaes passados meses e
anos, de modo a tornar possvel o esquecimento ou a interveno
da imaginao no que refere; no, le redige o auto imediatamente,
no prprio local das observaes. Acrescente-se ainda, que a f
nle se adiciona f no escrivo, que, ao redigir e assinar o auto,
atesta, juntamente com o juiz, a verdade do seu contedo.
Ajunte-se tambm a interveno dos peritos, tratando-se de
matrias que requerem uma capacidade especial de observao.
Ajuntem-se, finalmente, tdas as garantias ulteriores que a arte
criminal pode aconselhar, e a lei adoptar, para tais verificaes;
como a necessidade da interveno de um certo nmero de tes-
te
munhas estranhas. Atendendo a tudo isto, parecer-noa h claro
por que que o testemunho clssico oficial deve considerar-se
como suficiente para produzir a certeza sbre o corpo de delito
em geral, ainda mesmo quando le na poca do julgamento pblico
428 A Lgica das Provas em Matria Criminal
tenha desaparecido. No razovel, pela ausncia posterior do
corpo de delito, pr em dvida a sua existncia devida e com-
petentemente verificada, em um perodo anterior, por uma auto-
ridade judicial. A verificao prejudiciria, devidamente efetuada
pela autoridade instrutora, considera-se, pela fra da verifica-
o, valer qusi tanto como a verificao judicial do prprio juiz
do debate: uma verificao qusi-judicial; e a certeza do corpo
de delito, clssicamente afirmada pelo juiz instrutor, reputa-se
como adquirida tambm pelo juiz do debate.
Concluindo, o limite probatrio que deriva do corpo de
delito, se tem fra contra qualquer testemunho ordinrio, no
tem razo de subsistir contra o testemunho clssico oficial, isto
, contra o testemunho oficial que no apresenta motivo algum
de descrdito, quer no sujeito, quer na forma, quer no contedo.
CAPITULO V
Tstemunho do ofendido
Ao desenvolver os critrios de avaliao do testemunho rela-
tivamente ao sujeito, j nos referimos ao testemunho do ofendido
como sendo subjectivamente deficiente, devido suspeita prove-
niente da qualidade de ofendido da tstemunha.
Agora, sempre debaixo da luz dos princpios gerais por ns
expostos, passaremos a tratar em particular do testemunho do
ofendido, tomando para objecto de anlise esta suspeita que lhe
inerente, para determinar melhor a sua natureza e o seu valor.
Passamos a considerar o testemunho do ofendido sob ste
aspecto limitado, porque le no se especializa, distingundo-se
dos outros testemunhos, seno sob o ponto de vista do sujeito,
e, mais particularmente, da suspeita derivada da qualidade de
ofendido no sujeito: sob ste ponto de vista, portanto, que
deve considerar-se o testemunho do ofendido, quando se queira
falar dle como testemunho especial.
Vimos j, que todos os defeitos subjectivos do testemunho
A Lgica das Provas em Matria Criminal 429
s fazem suspeitar da veracidade da tstemunha, ou fazendo supr
facilmente que ela se engana, ou fazendo supr fcilmente que ela
quer enganar.
Duas so, pois, as espcies a que se reduzem tdas as sus-
peitas derivadas da pessoa da tstemunha: suspeitas de engano, e
suspeitas de vontade de enganar. Para formar, portanto, um
conceito exacto e completo dos defeitos do testemunho do ofen-
dido, conveuinte atender a ste testemunho relativamente a cada
uma das duas espcies de suspeitas supracitadas.
Emquanto a facilidade de engano, indubitvel que o pr-
prio direito ofendido perturba grandemente a conscincia humana,
fazendo-lhe perder aquela serenidade e aquela calma necessrias
para a exacta percepo das coisas. Todo o crime provoca, pois,
no esprito do ofendido uma perturbao que, tornando-lhe difcil
a percepo exacta das coisas, torna possveis os rros. E isto
principalmente, quando se trata de um crime que consiste na
violncia contra as pessoas, ou acompanhado desta. Na pessoa
que recebe um ferimento, ou ainda mesmo uma pancada, na
pessoa que sofre uma violncia, ainda que simplesmente moral, o
esprito levanta-se em tempestade; e no por certo em um tal
estado de esprito que pode ter-se a percepo exacta dos detalhes
das coisas.
Se a perturbao do esprito a mxima relativamente aos
crimes contra as pessoas, ela, se bem que em grau inferior, ver-
fica-se tambm, dentro de certos limites, relativamente aos crimes
contra a propriedade, em relao a tudo o que se refere
percepo simultnea ou sucessiva da consumao do crime.
Quem despojado de uma coisa sua, se pode ter exactas e
serenas percepes para referir sbre materialidades particulares
do objecto roubado, por isso que foram anteriormente percebidas
em um perodo de calma, j no pode, ao contrrio, apresentar
percepes igualmente serenas e exactas relativamente ao valor
do objecto roubado, porquanto, consumado o furto, sabido que
o objecto de que fmos despojados, pelo amor que temos pelas
coisas que nos pertencem, nos parece sempre de valor superior ao
real. Coisas que avaliamos em muito pouco emquanto as pos-
430 A Lgica das Provas em Matria Criminal
sumos, apreciamo-las muitssimo se as perdemos; e isto ver-
dade no s em relao s coisas materiais: sabido que se
exagera sempre o mrito dos mortos queridos, mesmo daqules
a quem le no foi reconhecido em vida. uma fraqueza do
corao humano que tende para apreciar, mais do que o que se
tem, exageradamente o que se perdeu.
Nem as observaes do ofendido apresentam grande garantia
de exactido emquanto ao modo da consumao do crime contra
a propriedade: mistura-se sempre com le o sentimento da viola-
o do prprio direito; sentimento que tira a calma, e a conse-
quente percepo exacta dos detalhes das coisas.
Nem, finalmente, se deve dar um valor ilimitado s pala-
vras de quem foi ofendido nos bens, emquanto designao do
delinqente. O grande desejo, natural em quem foi vtima de
um crime, de alcanar a descoberta do ru, preocupando o seu
esprito j perturbado pela ofensa sofrida, torna-o propenso para
as suposies, fazendo aceitar como probabilidades simples dvi-
das, e como certeza as probabilidades.
A perturbao natural do esprito ofendido perante qualquer
crime, se bem que em diversa medida, segundo se trata de crimes
contra a pessoa ou contra a propriedade, torna por vezes suscep-
tveis de rro aqules reconhecimentos a que se costuma pro-
ceder quando o ofendido no conhece o delinqente, seno por o
ter visto cometer o delito. Nstes casos, o ofendido no tem
outro critrio para a determinao do delinqente, que no sejam
as suas exterioridades materiais, percebidas no momento do delito,
a sua fisionomia, a sua idade aparente, a sua estatura, a sua
corpulncia e o seu traje. Todos compreendem que todos stes
detalhes, por falta de sangue frio na observao, no podem ser
percebidos com exactido no momento do crime, e por isso as
semelhanas podem facilmente converter-se em identidades aos
olhos do ofendido, e o seu engano nos reconhecimentos pode
arrastar a deplorveis rros a justia penal. B menos difcil do
que se julga car-se em rro, julgando sbre as semelhanas de
pessoa e de traje; caem nle tambm pessoas estranhas ao crime,
mesmo terceiras pessoas. Quem se no lembra do clebre facto
A Lgica das Provas em Matria Criminal 431
do correio de Lio? O pobre e inocente Lesurque foi reconhecido
como sendo um dos assassinos, com asseverao positiva, pela
tstemunha Lecroy de Mongeron, e morreu sbre o patbulo,
vtima de uma fatal semelhana.
Igual sorte teve o padre Causac. Uma noite, quando um certo
Bellot se estava para deitar com sua mulher, agredido e ferido
por um homem, que fugiu imediatamente, deixando nas mos dos
agredidos um molho de cabelos arrancados da sua cabea. O
quarto achava-se tnuemente iluminado, mas os agredidos
declararam ter, pela pessoa e pelo facto, reconhecido, no agressor,
Causac, com quem dias antes tinham tido uma acerba contenda.
Causac capturado, e os seus cabelos, desgraadamente,
acharam-se ser semelhantes aos do fatal punhado: foi julgado, e
morreu no patbulo. Seis meses depois descobre-se a sua
inocncia, pela confisso do verdadeiro delinqente
1
.
At onde pode extraordinriamente chegar a semelhana
pessoal, arrastando a rros que parecem incrveis, demonstra-o
bem a clebre causa do falso Martin Guerra.
O verdadeiro Martin Guerra, casado em Antigues em 1539
com Bertranda de Bols, um belo dia desapareceu, e no deu mais
notcias suas. Girando pelo mundo, encontrou-se com um certo
Arnaldo de Til, a quem contou todos os detalhes da sua vida e da
sua famlia. Arnaldo querendo tirar partido da sua semelhana
com Martin, e do profundo conhecimento que tinha adquirido da
vida e das relaes dste, pensou em ir substitu-lo na famlia
abandonada; e assim fz. Correu-lhe tudo maravilhosamente.
Bertranda acolheu-o durante trs anos no seu tlamo; e teve trs
filhos. Os parentes e os amigos tomaram-no todos les por Martin
Guerra, cujo papel, necessrio pens-lo, le representou como
artista insupervel. Mas eis que, passados trs anos, Bertranda
descobre a impostura, e denuncia-o justia de Rieux. Abrem-se
os debates. Pois bem, quarenta tstemunhas, enganadas pela
semelhana, juraram ser aquele o verdadeiro
1 BRUGNOLI Delia prova criminale, 547.
432 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Martin; e, vejam isto, entre as tstemunhas achavam-se quatro
irmos do verdadeiro Martin, criados com le, e os maridos de
outras duas irms! No entretanto, eis que o verdadeiro, o pobre
e errante Martin, volta para casa, e encontra o seu psto j
tomado. Pois bem, o malfadado, conquanto autntico, Martin,
devido sua timidez em face da desenvoltura e da energia do
outro, tomado por sua vez como um impostor. E no foi sem
dificuldades que se chegou a assentar a verdade dos factos, reco-
nhecendo-se a autenticidade do verdadeiro Martin, e condenan-
do-se o impostor, que, de resto, o havia substitudo na perfeio.
ste por fim, condenado morte, confessou a sua impostura
1
.
Compreendo, que ste ltimo facto to extraordinrio,
que no pode fcilmente reproduzir-se no mundo; mas foi bom
cit-lo para mostrar at que ponto pode extraordinriamente -
chegar o rro, pela semelhana pessoal. E basta sbre o assunto.
Depois de trmos considerado o testemunho do ofendido
relativamente possibilidade de rro,' passemos agora a consi-
der-lo em relao possvel vontade de enganar.
Sob o ponto de vista da vontade de enganar, princpio geral
que torna suspeito o testemunho, sucede que em proveito pr-
prio, ou em prejuzo de quem se odeia, fcil mentir-se.
Ora, emquanto vantagem do ofendido, como tal, no pode
ela concretizar-se, na hiptese afirmativa do crime, seno de dois
modos: ou porque, admitido o crime, o ofendido exonerado de
uma obrigao, ou porque, admitido o crime, o ofendido pode fazer
valer um direito, hiptese, esta ltima, que se resolve, em todos os
processos, na esperada reparao pecuniria. Eis os dois casos em
que o ofendido impelido a mentir em proveito prprio, e eis
conseqentemente os dois primeiros casos de legtima suspeita
contra o seu testemunho.
Exemplifiquemos o primeiro caso, isto , o caso, em que a
vantagem prpria induz mentira, para se exonerar de uma
obrigao.
1
PITAVAL Cause celebri, tomo x.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 433
A afirmao de ter sido despojado da coisa depositada, esta
afirmao apresentada pelo depositrio, inclui suspeita contra le,
porque em seu proveito. Admitida a verdade do furto, mesmo
sem determinao do delinqente, o depositrio, de quem se
patenteia no ter culpa alguma, ficaria exonerado da obrigao
civil de responder de prprio pela ausncia do depsito; e na
hiptese de se ter verificado a culpa do depositrio, le, admitida
a veracidade do furto, ficaria sempre exonerado, se le prprio
abusou do depsito, da obrigao social de sofrer a pena adequada
ao seu facto. Do mesmo modo, seria suspeito o pretenso ofendido
que, em face de um titulo creditrio apresentado contra le, se
queixasse da falsidade do documento, ou da violncia, ou da
fraude, com que lhe fra captado. Geralmente, portanto, sob o
aspecto da vantagem de se libertar de uma obrigao proveniente
de um julgamento penal, quem se apresenta como ofendido, tem
intersse, depois de ter afirmado um crime, em faz-lo aparecer
como verdadeiro, no s para se livrar de possveis condenaes
consequentes ao pagamento das custas e dos prejuzos, mas tam-
bm para se eximir da eventual acusao de calnia ou de simu-
lao de crime.
Em geral, pois, era quanto o ofendido, pela verificao do
crime, ficaria exonerado de uma obrigao civil ou penal, esta
vantagem consequente do crime torna suspeito o seu testemunho
por possvel vontade de enganar.
Mas a vantagem consequente do crime, como causa de sus-
peita, pode tambm, conforme dissemos, consistir no direito, que
se poder ter, reparao pecuniria. Se a primeira forma de
vantagem, isto , a exonerao de uma obrigao, pode ser causa
de suspeita at na simples afirmao do crime, abstraindo do
possvel delinqente, a segunda forma, isto , a consequente
reparao pecuniria, no se compreende sem uma relao do
crime com um determinado delinqente; ste que deve a repa-
rao pecuniria, e por isso, conservando-se desconhecido, com-
quanto se torne certo o crime, nunca h lugar a reparao alguma.
E no basta que exista um pretendido delinqente, para que a
vantagem da reparao pecuniria, a que teria direito o ofen-
28
434 A Lgica das Provas em Matria Criminal
dido, torne suspeita a sua palavra; necessario tambm que o
suposto delinqente apresente a possibilidade da efectiva repa-
rao, ou pelo menos as aparncias dessa possibilidade. Poder,
acaso, dizer-se suspeita, por causa de reparao pecuniria a con-
seguir, a palavra do ofendido designando, como autor do crime,
uma pessoa cuja indigncia absoluta lhe conhecida?
Para a legitimidade da suspeita , pois, necessrio que a
reparao pecuniria se apresente ao esprito do ofendido como
possvel de conseguir. A medida desta suspeita resultar, por-
tanto, do valor que dever ter a reparao, posta em confronto
com o ofendido.
Emquanto ao valor da reparao, ser le determinado no
s pela natureza do crime, mas tambm pela fortuna do preten-
dido delinqente.
ste valor da reparao justificar, pois, mais ou menos a
suspeita de mentira, segundo a fortuna do ofendido: no cer-
tamente pela misria de uma centena de liras a que se teria
direito, que pode dizer-se suspeita a palavra de um ofendido em
cujo rico patrimnio cem liras representam o capricho de um
momento. Em tal caso, a reparao esperada no suficiente
para explicar uma falsa acusao, que expe ao risco de uma
condenao por calnia.
Mas eu disse em princpio que a medida da suspeita vem
do valor que deveria ter a reparao, posta em confronto com o
ofendido; no disse simplesmente com o patrimnio do ofendido,
E com razo, porquanto no s o estado de fortuna do ofen-
dido que determina a fra do impulso para a mentira, que pode
provir da esperana de uma reparao pecuniria; necessrio
tambm atender ao carcter particular do ofendido. H riquezas
desonestas, avaramente acumuladas, para que o ganho de cem
liras uma formidvel tentao; h pobrezas honestas e no
avaras, que nem mesmo por milhares de liras consentiriam em
se desviar do caminho traado pela lei moral.
So stes os critrios gerais, por meio dos quais se deve
avaliar a suspeita de mentira contra o ofendido, por esperana
de reparao pecuniria.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 435
Por esta esperana de reparao pecuniria pode, portanto,
ser o ofendido arrastado mentira por diversas formas.
Em primeiro lugar, pode o suposto ofendido inventar com-
pletamente o crime, como no caso em que um pobre diabo,
afirmando e justificando, melhor ou peor, a posse de uma impor-
tante quantia, visse afirmar ter sido roubado por um proprietrio,
para poder, como reparao, lucrar a pretendida quantia roubada.
Pode tambm o ofendido no inventar prpriamente o crime,
mas inventar o delinqente. o caso de muitas querelas por
estupro. A estuprada que sabe no poder obter coisa alguma do
verdadeiro estuprador, que um miservel, decide-se, por vezes,
a fazer uma especulao sbre a prpria desonra, atri-buindo-a a
um rico senhor, na esperana de uma grossa maquia para
reparao.
Pode, finalmente, o ofendido inventar, no prpriamente o
crime nem o ru, mas mentir smente quanto ao modo, medida,
ou s conseqncias do crime, a fim de aumentar proporcional-
mente a reparao pecuniria a que tem direito.
E terminemos aqui, quanto suspeita de vontade de enganar
contra o testemunho do ofendido, pela vantagem, em geral, que
lhe advem da verificao da existncia do crime.
Mas dissemos a princpio que se mente com facilidade no
s em proveito prprio, mas tambm em prejuzo de quem se
odeia. Consideremos estoutra razo de suspeita, estoutro impulso
para mentir que pode actuar sbre o esprito do ofendido; ste
impulso determina-se, quanto ao ofendido, pela animosidade con-
tra o ofensor.
necessrio determinar ste ltimo motivo de suspeita, para
que no seja mal entendido.
animosidade para com o ofensor no pode considerar-se
como motivo de suspeita contra o ofendido, emquanto designa-
o do delinqente O ofendido, nessa sua qualidade, no pode ter
animosidade seno contra o ofensor; e por isso dizer ao ofen-
dido:no acreditamos na tua palavra indicadora do delinqente,
por isso que tu, como ofendido, tens-lhe dio , uma
436 A Lgica das Provas em Matria Criminal
verdadeira e flagrante antinomia; um reconhecimento da ver-
dade da indicao, querendo tirar-lhe f. Quando, portanto, a
adverso contra o ofensor derive de causas estranhas ao crime,
ento a razo de suspeita deixaria de existir na qualidade de
ofendido, mas na qualidade de inimigo, qualidade, esta, que,
como vimos expondo os critrios gerais em lugar prprio, depre-
cia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e no tem que ver
com os motivos de snspeita particularmente inerentes qualidade
de ofendido, de que nos ocupamos.
Mas se a animosidade natural de ofendido contra o ofensor
no legitima a suspeita emquanto designao do delinqente,
ela legitima-a, ao contrrio, emquanto natureza do crime, na
sua medida e nas suas conseqncias. Quem por um simples
gesto foi, simplesmente, ameaado de uma bofetada ou de uma
cacetada, poder, pela animosidade contra o ofensor, ser levado
a afirmar ter sido mesmo esbofeteado e contundido para agravar
as conseqncias penais contra le. Aquele que foi simplesmente
ameaado por palavras por algum, poder, por animosidade con-
tra ste ser levado a afirmar ter sido tambm ameaado com
armas, ou, por vezes at, agredido com pancadas que lhe no
acertaram; e isto, para peorar a condio do ofensor. Aquele que
foi realmente ferido, por animosidade contra o agressor, ser
levado a afirmar a incapacidade da proveniente para o trabalho,
ou a exager-la, se ela existe realmente; e isto sempre, parte
a esperana de uma maior indemnizao pecuniria, para peorar
a sorte judicial do agressor, como tal odiado.
Entendida assim, portanto, justifica-se como razo de sus-
peita do testemunho do ofendido, a animosidade dste contra o
ofensor.
Agora, que tratamos das vrias e particulares razes de
suspeita que derivam da qualidade de ofendido na tstemunha,
no intil repetir uma observao complementar, por ns j
feita em geral, relativamente a tda a suspeita que derive de
uma qualidade pessoal da tstemunha.
Dissemos j que qualquer que seja o motivo subjectivo de
que inferma o testemunho, qualquer que seja o motivo prove-
A Lgica das Provas em Matria Criminal
437
niente de uma qualidade pessoal da tstemunha, pode ser para
lisado por outra condio pessoal, que numa dada poca se
encontra na mesma pessoa da tstemunha. Ora, isto verdade
tambm relativamente aos motivos de suspeita que nascem da
qualidade de ofendido.
Com efeito, emquanto facilidade de engano na observao,
a suspeita de engano proveniente da qualidade de ofendido pela
perturbao natural em quem se sente violado no seu direito, pode
ser modificada por uma extraordinria capacidade de observao
no prprio ofendido, ligada a uma tal serenidade, de carcter, que
no seja grandemente perturbada nem mesmo pela agresso do
prprio direito.
A capacidade no ordinria de observao torna possvel
colher exactamente a percepo das coisas em um instante,
mesmo durante um certo estado de perturbao do esprito; per-
turbao que tornaria impossvel a exactido da percepo a quem
possusse uma menor capacidade de observao. A serenidade de
carcter, pois, excluindo mais ou menos aquelas agitaes de
esprito que fazem car em rro, torna mais difceis os rros. Esta
alma pode basear-se no s na ndole natural de um indivduo,
como tambm nas suas convices morais e religiosas; h,
comquanto bem raros, espritos bons e capazes de perdoar, que,
em face de uma ofensa, em vez de serem agitados por aquelas
correntes de dio que perturbam o esprito, se encontram
dispostos a seguir, ao contrrio, o grande exemplo de Aquele, que
morrendo na cruz, e dirigindo-se a seu pai nos Cus, prgava aos
seus ofensores: Pater, ignosce illis quia nesciunt quid faciunt!
E emquanto vontade de enganar, todos os motivos de
suspeita, que nascem da qualidade de ofendido na tstemunha,
ficaro paralisados pela sua grande e verificada probidade. Quem
verdadeiramente probo, tem, na sua alma, tda a fra neces-
sria para resistir tentao da mentira, que pode provir do
intersse prprio, ou do dio contra o inimigo: a probidade do
ofendido garantia de que le no mente, nem para obter uma
vantagem pessoal, nem para prejudicar o seu ofensor.
438 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Vimos, assim, quais so os motivos de suspeita provenientes
da qualidade de ofendido na tstemunha, e como stes motivos
podem ser paralisados por outra qualidade pessoal do mesmo
ofendido. Ora quando stes motivos de suspeita no teem razo
de ser contra o ofendido, Ou so nle paralisados por uma sua
particular condio pessoal, tem-se um testemunho do ofendido
subjectivamente clssico, na sua espcie. Assim, emquanto
facilidade de engano baseada na perturbao natural do ofendido,
pode ela no existir por falta de perturbao no caso especial,
ou por uma falta de perturbao tal que indusa a rro, como
quando, por exemplo, se trata do furto de poucas liras subtra-
das a um rico patrimnio de uma pessoa. Por isso, emquanto
facilidade de vontade de enganar por vantagem pessoal do ofen-
dido, pode ela no existir no caso especial, no resultando
vantagem alguma como razo impulsiva de uma falsa afirmao
de crime, quer porque o crime no eximiria de obrigao alguma
civil ou pessoal, quer porque no banco dos rus se encontre sen-
tado um miservel, de quem no possvel esperar qualquer
indemnizao pecuniria. A suspeita de vontade de enganar por
animosidade contra o ofensor, pode, por isso, ser paralisada pela
grande probidade do ofendido, que nunca lhe permitiria mentir.
Quando, portanto, os motivos de suspeita no existam contra o
ofendido, ou tenham sido nle paralisados, o testemunho do ofen-
dido, sob o ponto de vista subjectivo, um testemunho clssico
na sua espcie, e tem, portanto, o valor de testemunho clssico,
tendo, pelas razes por ns apresentadas, tambm os seus limites
probatrios: o limite probatrio deribado do corpo de delito, o
derivado das regras civis de prova, e o derivado do ser singular.
Uma ltima observao e tenho terminado. A arte judici-
ria, procurando um obstculo contrata possibilidade da vontade
de enganar da parte de quem chamado a depr em juzo, jul-
gou encontr-lo no juramento: julgou que a formalidade do
juramento podsse exercer uma tal coaco moral sbre o esp-
rito da testumunha, que a obrigasse a revelar a verdade; e por
isso prescreveu-se o juramento, como uma formalidade que deve
acompanhar necessriamente todo o testemunho, considerando-se
A Lgica das Provas em Matria Criminal 439
como ssencialmente no clssico o testemunho no jurado. Ora,
admitindo-se que o juramento exerce uma eficaz coaco sbre o
esprito da tstemunha em favor da verdade, dever a formalidade
do juramento impr-se a tda a espcie de testemunho, e em
particalar ao do ofendido?
O problema examinado relativamente ao testemunho do
argido, foi resolvido negativamente: o argido no deve jurar. E
est bem. Mas a premissa de que se partiu para a soluo do
problema, no s no exacta, mas to ampla que conduz a uma
anloga concluso tambm relativamente ao testemunho do
ofendido. O que, segundo nos parece, um rro que deve absolu-
tamente repelir-se.
Para resolver o problema recorreu-se sentena romana:
inhumanum est per leges quce perjuria puniunt viam perjurii
aperire; e, portanto, considerando que o argido, como parte em
juzo, se ru, tinha um forte intersse era mentir, pen-sou-se que
obrig-lo ao juramento era abrir-lhe o caminho ao perjrio, e por
isso cohcluiu-se que o argido no devia jurar. fcil
compreender que, admitindo-se a verdade dste raciocnio, nem
mesmo o ofendido deve jurar. le parte em juzo, mais que no
fsse, pelos intersses pecunirios; le especialmente quando
queixoso, tem um forte intersse em manter as suas queixas ainda
que no verdadeiras; portanto, tambm le no deve jurar;
tambm para le o juramento seria um caminho aberto para o
perjrio. Aceitando-se um semelhante raciocnio, em rigor, poder-
se-ia com le ir muito mais alm: sempre que existisse,
racionalmente, a suspeita de que a tstemunha tivsse intersse em
mentir, seria necessrio no a obrigar ao juramento.
Na verdade, no se compreende como certos argumentos de
retrica tenham tido aceitao na scincia; mas se fsse necessrio
um exemplo dessa m aceitao no merecida, le nos seria dado
precisamente pelo raciocnio anterior. Suponhamos que eu tenho o
direito de perguntar a verdade a uma tstemunha, e| tenho tambm
o direito de empregar meios de coaco sbre o seu esprito para
que ff diga; pois bem, se emprego stes meios para obrigar
verdade, e a tstemunha, em seu intersse, mente
440 A Lgica das Provas em Matria Criminal
a despeito de todos os meus esforos, pretende-se considerar-me
como a causa da sua mentira. Quando eu, atendei bem, tendo
sse direito, obrigo uma tstemunha a jurar, no fao seno pr
um obstculo a mais sua vontade de enganar; se ela, no
obstante isto, mente, no sou eu j que lhe abri as portas sua
mentira sob juramento, ela ao contrrio que forou as portas
fechadas, e fez passar a sua mentira. Quem exerce legitimamente
uma aco, conducente por si ao bem, no pode ser considerado
como responsvel da reaco contrria conducente ao mal: dizer
que, obrigando a jurar em dados casos, se abre a porta ao per-
jrio, como se se disssse que fazendo benefcios ao prximo,
se abrem as portas ingratido! De resto, se se aceita como
exacto que quando a tstemunha tem um poderoso intersse em
mentir no deve ser obrigada a jurar, por isso que a lei que
pune o perjrio no deve abrir as portas ao perjrio; a nica
conseqncia verdadeiramente lgica seria a abolio completa do
juramento. Com efeito, o juramento, como formalidade proces-
sual, no tem valor seno quando se julga capaz de vencer a
possvel tendncia para mentir que existisse na tstemunha; e
no entanto, quando haja maior razo para crr que essa tendn-
cia exista na tstemunha, ento, precisamente ento, que se
no quer aplicar o juramento. Quereis servir-vos do juramento
s quando verificais que no necessitais dle; quando ao contrrio
esta necessidade se verifica, vs suprimis o juramento. Que
espcie de lgica esta? Melhor nunca mais falar do juramento
como obstculo mentira, quando le se no queira empregar
onde haja necessidade dste obstculo, empregando-a ao contrrio
sempre que se pode passar sem le. Que direis vs de ura enge-
nheiro que deixasse sem guardas as margens de um rio na parte
onde le tende constantemente a trasbordar e elevasse e refr-
as
se, ao contrrio, as suas margens onde as guas nunca tentaram
sar do seu leito apto para as conter?
O critrio, portanto, do grande intersse em mentir, ex-
cluindo o juramento para evitar o perjrio, um critrio falso,
que levaria abolio total do juramento.
Mas procedeu-se ao exame da questo tambm com outro
A Lgica das Provas em Matria Criminal 441
critrio, que nos parece menos falso que o precedente. Conside-
rando que a formalidade do juramento aperfeioa o testemunho,
fazendo realar a f nle, os jurisconsultos teem sustentado que,
quando existe um grande intersse em mentir na tstemunha,
necessrio no a obrigar a jurar para no dar maior pso ao sen
testemunho no esprito do juiz. O ponto de vista diverso do
precedente, mas a conseqncia a mesma: as tstemunhas tendo
um grande intersse em mentir no devem jurar, j no pela
considerao do perjrio, mas pela possibilidade de que os seus
testemunhos, com e pelo juramento, no inspirem maior f que a
que merecem. Ora, emquanto a esta segunda teoria, eu entendo
que ela se possa afirmar e sustentar em um sistema de provas
legais; eu compreendo que a lei, depois de ter afirmado que o
testemunho jurado deve inspirar f plena, venha em seguida
excluir o juramento do testemunho do argido, e, at mesmo, do
do ofendido; um meio, como qualquer outro, para estabelecer a
inferioridade probatria dsses testemunhos. Mas o que se no
compreende como se continui a sustentar semelhante teoria em
um sistema de provas destinadas ao ntimo convencimento; nste
sistema, por um particular concurso de razes subjectivas, formais
e objectivas, um testemunho no jurado pode sempre inspirar mais
f que um testemunho solenemente jurado. conseguintemente
uma fantasia inspirada pela recordao das provas legais, crr que,
harmonizando o juramento com um testemunho defectivo, se
realce no s a sua justa medida, mas tambm o seu valor
probatrio. E para evitar ste perigo fantstico, vai-se, ao
contrrio, de encontro, suprimindo o juramento, a um perigo real:
ao perigo de fazer com que minta uma tstemunha, que, talvez,
jurando, no teria mentido. Tdas as observaes precedentemente
feitas encontram aplicao mesmo aqui: tambm com ste critrio,
o juramento um freio mentira, que deve empregar-se mesmo
quando para isso no haja razo especial.
Parece-nos que se deve recorrer a um critrio diverso dos
precedentes, para resolver lgicamente a questo das espcies de
tstemunhas a quem deve impr-se o juramento; e ste critrio
442 A Lgica das Provas em Matria Criminal
apresenta-se fcil e natural. dmitindo-ae que o juramento exerce
sbre o esprito da tstemunha uma coaco moral em favor da
verdade, sem o que o juramento no teria razo alguma de ser, o
ncleo da questo est todo em ver quais as tstemunhas a quem se
tem o direito de obrigar a dizer a verdade: a essas dever sempre
impr-se o juramento. No lhes parece claro? Ora, a tstemunha,
em geral, desde o momento em que admitida a tstemunhar em
juzo, pode ser obrigada por todos os meios legtimos a dizer a
verdade, porquanto a tstemunha, em-quanto se apresenta como tal,
tem a obrigao positiva de dizer a verdade, donde resulta o direito
correlativo de a induzir por todos os meios ao cumprimento dessa
sua obrigao. No h seno uma nica excepo a esta regra, e a
favor da tstemunha, que ao mesmo tempo o argido. O argido,
como em seguida veremos, tem perante a aco penal uma
obrigao negativa; isto , a obrigao de a sofrer, e no j de
cooperar com ela na prpria condenao. Ora, declarar a verdade, e
confess-la, sendo, por parte do argido, fornecer as provas para se
fazer condenar, segue-se que le uma tstemunha incoercvel; no
h o direito de obrigar a dizer a verdade, porque se no tem o
direito de pretender que le coopere na prpria condenao; e no
havendo o direito de obrigar o argido a declarar a verdade, no se
deve obrig-lo ao juramento, por isso que o juramento uma
coaco moral. Eis aqui, se me no engano, o ponto de vista sob
que se deve encarar a questo. E dste ponto de vista, todos
compreendem que no h razo alguma para que o ofendido no
deva jurar. O ofendido tem obrigao positiva, como qualquer outra
tstemunha, de dizer a verdade; h direito para exigir dle essa
verdade; ser por isso legtimo aplicarem--se-lhe todos aqules
meios de coaco, que so aplicveis a tda a outra tstemunha; e
quando se entenda que o juramento uma coaco moral capaz de
impedir a mentira, tambm o ofendido dever jurar, com tanta
maior razo, quanto maior se julgue ser o impulso que nle existe
para a mentira. Se se julga o juramento capaz de impelir verdade,
o seu emprgo ser tanto mais precioso, quanto maior fr na
tstemunha a sua repugnn-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 443
cia em dizer a verdade. B necessrio, portanto, submeter ao
juramento o testemunho do ofendido, quer queixoso, quer no. O
facto de ser queixoso no muda a questo, porquanto no quer
dizer seno, que o ofendido manifestou claramente o seu intersse
pessoal na condenao do suposto delinqente. E isto porque?
Quanto mais provveis so os impulsos para a mentira, tanto mais,
repitamo-lo, precioso o emprgo do juramento. Quando, pois, o
ofendido tenha jurado, nem por isso o seu testemunho dever ser
tomado como um testemunho insuspeito. conscincia dos
julgadores saber, nos casos concretos, apreci-lo no seu justo
valor, no obstante a solenidade do juramento que o acompanhou.
Mesmo sem essa formalidade, no sistema do ntimo convencimento,
o testemunho do ofendido pode em determinadas circunstncias
ter outro valor: haveria smente, em todo o caso, uma garantia a
menos contra o engano, dispensando-o do juramento.
CAPTULO VI Tstemunho do argido.
Sua natureza e espcies
Depois de falarmos do testemunho de terceiro e do ofendido,
cabe-nos falar do testemunho do argido. E preferimos falar
genricamente do testemunho do argido, antes de passar a
estudar em particular a confisso, porquanto esta no mais do
que uma das espcies em que aquele pode determinar-se. O facto
de ter despresado a considerao geral do testemunho do argido,
atendendo nicamente ao seu testemunho especfico constitutivo
da confisso, no s contrrio ordem lgica das ideias, como
tambm, julgo eu, tem arrastado a muitos rros.
Com efeito, tem sido o facto de no se falar seno exclu-
sivamente de confisso do argido, que tem feito com que ela
seja considerada qusi como que uma prova suis generis, uma
prova particular e privilegiada. Como primeira conseqncia disto,
444 A Lgica das Provas em Matria Criminal
considerando esta prova sui generis como a rainha das provas,
muitos e por muito tempo julgaram legtimo todo o meio de a
obter, a principiar pela abominao da tortura, e a acabar pela
injustia das penas de desobedincia. So rros passados, e no
convm por isso ocuparmo-nos dles. Mas pela reaco, em seguida,
passou-se a uma conseqncia oposta; se, por um lado, considerar
a confisso como prova sui generis conduziu a exagerar o seu
valor probatrio e ao emprgo da violncia para a obter, por outro,
por razes humanitrias, conduziu, ao contrrio, a negar--se-lhe
tda a fra e tda a legitimidade de prova, estigmatizando
como imoral e cruel o intrrogatrio do argido.
Os defensores desta ltima opinio, os crticos que negam
todo o valor probatrio confisso, por isso que ela se funda,
como dizem, em uma impossibilidade moral, qual a vontade
de se inculpar, coisa que repugna natureza humana; os defen-
sores desta opinio no repararam que prejudicavam o prprio
argido, que pretendiam favorecer. Tdavia claro: tirando-se
o valor confisso, deixa de ter valor a desculpa; se a palavra
do argido que se acusa no tem valor, a palavra do argido
que se desculpa tambm no deve ter valor; porquanto, do
momento em que se sustenta que a confisso no pode ter
valor, visto que repugna natureza humana acusar-se, tda a
desculpa aparecer tambm, no como uma manifestao da
verdade, mas como uma evasiva necessria para no confessar:
e se a palavra do argido no deve ter valor algum, nem pr,
nem contra le, melhor obrig-lo ao silncio, no podendo a
sua palavra servir seno para enganar, ou fazer perder tempo.
Eis aqui a triste condio, em que, com esta teoria filantrpica,
se coloca o pobre inocente que, achando-se sob o pso de uma
acusao, precisa desculpar-se. Negar o valor probatrio con-
fisso equivale, portanto, a negar o valor probatrio a todo o
testemunho do argido. Ter-se h acaso razo? E lgico negar
todo o valor probatrio ao testemunho do argido? Parece-nos
que no.
O testemunho do argido uma das espcies da prova ts-
temunhal. Ningum, de boa f, poder negar que a palavra do
A Lgica das Provas em Matria Criminal 445
argido tambm tem legitimamente o seu pso na conscincia do
juiz, para a formao do convencimento. E sendo assim, a sua
palavra portanto uma prova; e se uma prova, no pode ser
seno uma prova pessoal, e conseguintemente, dentro dos limites
da sua produo oral por ns determinados, um testemunho:
claro como a luz do sol. As suspeitas que nascem da qualidade do
argido no testemunho, no bastam para anular o valor probatrio
da sua palavra. isto verdade; em primeiro lugar porque esta
qualidade de argido nem sempre gera suspeitas em face do teor
de qualquer depoimento que le faa, e depois, porque tambm no
caso de que o teor do depoimento, confrontando com a qualidade
de argido no depoente, justifique a suspeita, mesmo euto no
lgico concluir que o testemunho do argido no tem valor algum
probatrio. Nste caso, tem-se um testemunho em cuja avaliao
se leva em conta um motivo de suspeita: eis tudo. Nunca se
afirmou, nem podia afirmar, que o testemunho suspeito no
prova tstemunhal. O testemunho do argido , portanto, para ns,
um testemunho como qualquer outro, com uma qualidade
particular na tstemunha, que, nem sempre, mas em determinados
casos, d lugar a suspeitas que devem ser levadas em conta, como
qualquer outra suspeita do testemunho.
Da qualidade de argido na tstemunha no deriva seno
uma peculiaridade constantemente caracterstica do seu
testemunho: emquanto que tda a outra tstemunha pode ser
obrigada ao cumprimento do dever civil de depr, o argido, ao
contrrio, como tal, uma tstemunha incoercvel. Vejamos
porque, considerando a medida das obrigaes que o argido tem
em face da justia penal.
Do mesmo modo que a pessoa materialmente ofendida pelo
crime tem direito a uma reparao civil, que consiste na indemni-
zao imposta ao ru, assim tambm a sociedade ofendida moral-
mente pelo crime tem direito a uma reparao social, que con-
siste na pena infligida ao ru. ste direito, que tem a sociedade,
de infligir a pena ao delinqente, um direito exigvel, a que,
como a todo o direito exigvel, deve corresponder uma obrigao.
446 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Se a sociedade tem direito de infligir a pena, o delinquente deve,
em consequncia, ter a obrigao de a sofrer. Mas qual a natu-
reza desta obrigao?
A um direito exigirei podem corresponder duas espcies de
obrigaes: pode ficar-se obrigado a empregar as prprias fras
para a satisfao do direito, ou pode ficar-se simplesmente obri-
gado a no opr as prprias fras satisfao de um direito:
obrigao positiva, a primeira; obrigao negativa, a segunda.
Ora, desta ltima espcie a obrigao do delinqente: no
le obrigado a actos seus para ser atingido pela pena; isso
contra a natureza humana; le simplesmente obrigado a sofr-la.
Esclarecida, assim, a natureza das obrigaes que tem o
argido em face da justia penal, deduz-se lgicamente e clara-
mente, que o arguido no pode ser obrigado a confessar, por isso
que obrig-lo a confessar seria obrig-lo a usar de um acto seu
para ser atingido pela pena. E se o arguido no pode ser cons-
trangido a confessar, segue-se tambm que no pode ser obri-
gado a testemunhar de modo algum; em primeiro lugar porque
s le juiz competente de si e de como a sua palavra possa ser
uma arma contra si, e depois porque, se se obrigasse o arguido
a testemunhar, reconhecendo, ao mesmo tempo, nle, o direito
de no afirmar a verdade eventual do prprio delito, no se faria
mais do que constrang-lo eventualmente a mentir: a coao para
atestar a verdade resolver-se-ia quanto ao arguido em coaco
para a mentira, cujo direito se lhe reconheceria, desde que se
lhe reconhece o direito de no afirmar a verdade do prprio
delito. O arguido, portanto, em geral, diferentemente de qualquer
outra testemunha, uma testemunha incoercvel.
E aqui, se me no engano, aparece sob a sua verdadeira luz a
inanidade dos argumentos lgicos, recrutados para negar o valor
de prova confisso; argumentos que, se fssem verdadeiros,
tirariam, como vimos, o valor a todo o testemunho do arguido.
Disse-se: repugna natureza humana acusar-se a si mesmo. Pois
bem, senhores, agora que demonstramos como deve entender-se e
respeitar-se esta repugncia, no pode deduzir-se dela
lgicamente seno o que anteriormente afirmamos: isto ,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 447
que o argido no pqde ser obrigado a tstemunhar. Mas do
momento em que um seu testemunho, incriminatrio ou diri-
mente, existe, no h razo alguma para que le se no deva
considerar como qualquer outro testemunho, levando sempre em
conta igualmente aquelas suspeitas particulares que nascem da sua
particular qualidade de argido no juzo especial.
Mas acrescenta-se: se natureza humana repugna algum
acusar-se, tda a confisso efectuada deve ser considerada como
falsa. Devagar! a premissa indeterminada, e a conseqncia
mais ampla do que a verdade. Se repugnasse natureza humana
algum inculpar-se invencvel e inexcepcionalmente, teriam razo
os adversrios. Mas isso no verdade. No verdade sob o
ponto de vista do facto, porquanto mil confisses, a verdade de
cujo contedo foi verificada em mil juzos, so a prova do
contrrio. No verdade sob o ponto de vista das consideraes
psquicas, porquanto se na conscincia humana h um motivo
genrico que se ope confisso da prpria criminalidade,
motivos h tambm especficos, que nos casos especiais-impelem
confisso, vencendo aquele motivo genrico que se lhe ope,
como veremos ao falarmos em particular da confisso.
No h, portanto, razo para retratar a nossa primeira afir-
mao: o depoimento do argido, seja qual fr o seu teor,
sempre tambm le uma prova tstemunhal.
Mas ste testemunho do argido sendo importantssimo
entre os testemunhos, e tendo subespcies, julgamos conveniente,
em virtude da importncia do assunto, distinguir essas
subespcies, para clareza de mtodo e para exactido de consi-
deraes.
Antes de mais o testemunho do argido pode ter por objecto
o facto prprio, ou o facto alheio. Temos, portanto, uma primeira
distino:
1. Tstemunho do argido, sbre facto prprio;
2. Tstemunho do argido, sbre facto alheio.
O Tstemunho do argido, sbre facto prprio, pode ter
natureza diversa, segundo conduz afirmao dos factos mate-
riais e morais da acusao, e neg-los, ou ento afirmao de
448 A Lgica das Provas em Matria Criminal
alguns e negao de outros. 0 testemunho do argido sbre
facto prprio subdivide-se, portanto, assim:
1. Justificao;
2. Confisso;
3. Confisso justificativa, ou qualificada.
Emquanto ao testemunho do argido, sbre facto alheio,
devendo avaliar-se segundo diversos critrios, conforme o argido
confessou, no todo ou em parte, o facto prprio, ou dle se jus-
tifica, subdivide-se assim:
1. Tstemunho, sbre facto alheio, ao argido que con-
fessa no todo ou em parte;
2. Tstemunho, sbre facto alheio, do argiiido que se
justifica.
So estas as vrias sub-espcies a que teremos de atender
rpida e sucessivamente nste nosso tratado.
Comearemos por considerar o valor concreto do
testemunho do argido, porquanto at agora no afirmamos seno
o seu valor genrico de prova tstemunhal; e passaremos em
seguida ao exame particular das subespcies que acima
designamos.
TITULO I DO CAPTULO VI
Avaliao concreta do testemunho do argido
Falando do testemunho em geral, examinamos separada-
mente os critrios dirigentes que devem conduzir sua avaliao
concreta. Ora sses mesmos critrios servem tambm para avaliar
concretamente o testemunho do argiiido.
Conquanto no seja necessrio repetir aqui a exposio
daqules critrios, ser conveniente contudo cham-los rpida-
mente memria, referindo-os ao testemunho particular de que
aqui nos ocupamos.
Como para qualquer testemunho, tambm para o testemu-
nho do
argido, os motivos corroboradores e infirmativos da
credibilidade concreta podem derivar de uma trplice fonte: da
A Lgica das Provas em Matria Criminal 4499
considerao do sujeito, da forma, ou do contedo do testemu-
nho.
Com o mesmo mtodo j empregado, record-las hemos em seguida
rpidamente, e emquanto interessam particularmente ao
testemunho do argido, de que nos ocuparemos agora em espe-
cial. Para os desenvolvimentos mais amplos remetemos para a
nossa primeira exposio.
I Avaliao subjectiva do testemunho do argido
Dissemos j que da tstemunha podem derivar razes de
falta de idoneidade e razes de simples suspeita.
Comeando por considerar as razes de falta de idoneidade
em relao tstemunha argido, necessrio observar que nem
tdas as razes' gerais de carncia de idoneidade lhe so, como
tais, aplicveis.
Dissemos que as razes de falta de idoneidade so de duas
espcies: ou a tstemunha incapaz por deficiente percepo da
verdade, ou a tstemunha incapaz por deficiente vontade de
dizer a verdade.
Emquanto primeira espcie de incapacidade, incapacidade
intelectiva ou sensria, entende-se que ela tem o efeito de depre-
ciar o testemunho do argido, como o de qualquer outra tste-
munha. Quer sejam prprios ou alheios os factos que formam
objecto do. testemunho do argido, sempre do mesmo modo
claro que a privao da mente, na poca da percepo ou naquela
em que se narram os factos, tira todo o valor probatrio sua
palavra. Assim, a privao de um sentido, relativamente a sen-
saes que nle se referem. Tudo isto clarssimo. A propsito da
privao de mente do argido, observemos simplesmente, de
fugida, que se essa privao de mente relativa precisamente ao
tempo da execuo do crime, desaparece a legitimidade da
arguio, e se relativa ao tempo do julgamento, desaparece a
legitimidade da actual aplicao da pena; mas so estas consi-
deraes estranhas ao nosso ponto de vista, que o do valor
probatrio da palavra do argido.
Emquanto, pois, segunda espcie da incapacidade, inca-
29
450 A Lgica das Provas em Matria Criminal
pacidade moral, no deve ela ser atendida em relao ao argido
do mesmo modo que para qualquer outra tstemunha. Dissemos
j em lugar prprio que no idneas por deficiente vontade d
dizer a verdade so as que devido a um dever moral so impe-
lidas a ocult-la. Agora necessrio observar que a grande impor-
tncia desta espcie de carncia de idoneidade consiste nisto
que em face do dever moral que obriga a ocultar a verdade,
vem a faltar o direito de a obrigar a diz-la, e por isso a tste-
munha deve ser excluda do julgamento. No entanto, estas duas
dedues, em que assenta a grande importncia dessas razes de
no idoneidade, no teem valor algum para o argido. Por um
lado sendo le, como demonstramos, tstemunha incoercvel,
nunca pode ser obrigado a tstemunhar; por outro, sendo le
parte em juzo nunca pode ser excludo. Conclui-se daqui que
esta espcie de no idoneidade no tem, como tal, valor relati-
vamente ao argido.
I Falando desta espcie de falta de idoneidade a propsito de
testemunho em geral, vimos j que ela se concretiza na hiptese
do segrdo confidencial de ofcio e na do ntimo parentesco, por
isso que aconselham a no trair o confidente nem o parente. Ora,
se considerarmos em particular o motivo de falta de idoneidade
moral consistente no segrdo confidencial de ofcio, v-se clara-
mente que le no tem aplicao alguma, seno emquanto serve
para subtrair legitimamente a tstemunha obrigao de tste-
munhar; segue-se daqui que sse motivo no tem importncia
alguma relativamente ao argido, porquanto ste no tem tal
obrigao; tem sempre o direito de se calar. Por ste motivo no
ser justificvel, contra o depoimento do argido seno a simples
suspeita; e se o argido se servir da afirmao de um tal motivo
como obrigando-o a calar- se, f-lo h no intuito de justificar mais
ou menos o seu silncio, para que no seja interpretado em seu
prejuzo. Se considerarmos em particular o motivo da falta de
idoneidade moral consistente no ntimo parentesco, claro tam-
bm que o ntimo parentesco no tem fra para tirar a idonei-
dade tstemunha seno quando ela se considera como sendo
obrigada a falar: a tstemunha que, sendo obrigada a depr sob
A Lgica das Provas em Matria Criminal 451
o facto de seu parente, se tivsse ao mesmo tempo o sentimento
da solidariedade domstica, que impele a mtua defesa, no pode-
ria ceder ao impulso dste sentimento, seno mentindo, para
esconder o que eventualmente conhecsse a respeito da verdadeira
criminalidade do seu parente argido. Quanto ao argido, ao
contrrio, o caso diverso; para le h sempre um meio de fugir:
pode calar-se. Suponhamos, porm, que o caso de le preferir
falar sbre o facto do seu parente; poder-se h, nste caso, encon-
trar no ntimo parentesco uma razo de suspeita contra a palavra
do argido, mas no j orna razo de falta de idoneidade como em
qualquer outra tstemunha. As razes de falta de ido-neidade, por
deficiente vontade de dizer a verdade, no podem, portanto, como
tais, ter valor para o argido: em primeiro lugar, porque podendo
le manter-se calado, no se encontra, como se encontraria
qualquer outra tstemunha, no bco sem sada, de trair um dever
moral ou de mentir; e em segundo lugar porque no esprito do
argido, o intersse prprio fala mais alto qne o alheio, e o
intersse prprio aconselha-o a no trair a verdade por respeito a
outrem: trair a verdade por respeito de outrem, com quanto no
prejudique directamente o argido, prejudica-o sempre
indirectamente, dispondo mal o esprito dos julgadores para com
le. O intersse alheio nunca pode ter uma fra decisivamente
impulsiva sbre o espirito, quando se ache em jgo o intersse
prprio,, na gravidade de um julgamento penal, que pode levar a
conseqncias material e moralmente desastrosas para o argido.
O intersse alheio no pode conseguintemente ser, para o argido,
uma razo suficiente de ausncia de idoneidade: no pode ser mais
que uma razo de suspeita.
E passemos a falar das suspeitas contra o testemunho do
argido.
So tstemunhas supeitas, dissemos ns, as que teem razes
pessoais, que induzem dvida sbre a sua credibilidade. A cre-
dibilidade da tstemunha subjectivamente pode ser infirmada
quer por qualidades pessoais que incluam a facilidade em se
enganar, quer por qualidades pessoais que incluam a fcil von-
tade de enganar: no primeiro caso, a tstemunha perde a f pela
452 A Lgica das Provas em Matria Criminal
suspeita de incapacidade intelectual ou sensria; no segundo caso,
a tstemunha perde a f pela suspeita de incapacidade moral.
Emquanto ao primeiro caso, como para qualquer outra
tstemunha, claro, tambm para o argido, que a sua fraqueza,
permanente ou transitria, de inteligncia, quer se refira ao tempo
da observao, qner ao da sua narrao, inclui sempre a facili-
dade de que le se engane. E na suspeita por fraqueza intelec-
tual do argido entra, como para qualquer outra tstemunha, a
suspeita derivada da sua pouca idade.
claro tambm que, alm da fraqueza intelectual, fraqueza
de um dado sentido da mesma sorte deve originar a suspeita de
que o argido se engana nas suas afirmaes relativas ao sentido
que tem enfraquecido.
Falando de fraqueza da inteligncia e dos sentidos, sabe-
mos que necessrio compreender nela tambm a que consiste
no enfraquecimento da sua funo, relativamente ao objecto obser-
vado ao tempo da observao. E necessrio, em suma, levar em
conta, sempre que seja necessrio, o estado de esprito e do corpo
da tstemunha em presena do facto que ela refere como tendo-o
presenceado; para se obter um conceito da fra com que as suas
faculdades devem ter podido funcionar. Um estado de sbreex-
citao ou de abatimento de esprito, proveniente de uma causa
qualquer, como uma perturbao fsica de momento, pode des-
truir ou diminuir o funcionamento normal dos sentidos e da
inteligncia, no deixando perceber serena e exatamente os factos
particulares que, em seguida, so objecto do seu testemunho;
tambm por isso nste caso existir um motivo legtimo de sus-
peita contra a tstemunha. Ora, ste motivo tem uma grands-
sima importncia emquanto se refere ao argido, por isso que
respeita no tanto percepo da sua aco criminosa, quanto
s percepes acessrias, simultneas ou imediatas, sucessivas
execuo do crime. Conquanto o delinqente se queira conservar
calmo e imperturbvel, no momento da aco criminosa acha-se
dominado por uma sbreexcitao, caindo logo em seguida em
um abatimento, que lhe tornam difcil a exacta percepo dos
detalhes das coisas circunstantes; e isto principalmente quando
A Lgica das Provas em Matria Criminal 453
se trata de um crime de mpeto, ou mesmo de crimes, que,
conquanto no nascidos do mpeto, consistem em violncias contra
as pessoas, ou so acompanhados delas.
Isto relativamente ao argido suspeito por facilidade de se
enganar. Passemos agora ao argido suspeito por vontade de
enganar.
Na conscincia humana existe uma fra viva que se ope
mentira: o sentimento moral. Ora, tdas as vezes que de uma
condio particular do argido, abstraindo do facto que se lhe
imputa, se deduz a ausncia ou o enfraquecimento desta fra
interior, que um obstculo mentira, a palavra do argido perde
a f. O argido que se verifique ter j sido condenado por crimes
torpes, o argido, que se prova ter uma vida de torpezas e
inconcilivel com o sentimento moral, tem em si prprio, contra a
sua palavra, uma causa de descrdito que a enfraquece, e torna
suspeita a sua credibilidade.
Mas mesmo no se achando enfraquecido o sentimento
moral na conscincia, h por vezes motivos contrrios, subjecti-
vamente mais fortes, que triunfam dle, e arrastam mentira.
stes motivos que impelem a combater e por vezes a vencer a
natural repugnncia que a tstemunha tem a mentir, no con-
sistem seno nas suas paixes. Ora, tdas as paixes reduzem-se
a duas origens: o amor e o dio.
No amor e no dio encontrar-se ho, por isso, relativamente
ao argido, como a qualquer outra tstemunha, duas origens de
suspeita contra a sua credibilidade moral.
Comeando pelo amor, pode le ter por objecto a prpria
pessoa, ou outrem.
O amor de si prprio, como motivo de suspeita contra o
argido, afirmando-se como intersse pessoal na causa, tem uma
grandssima importncia no depoimento que le faz em proveito
prprio, sbre o facto prprio, ou sbre facto alheio excluindo o I
prprio. ste o motivo de suspeita que surge contra tdas as
desculpas, directas ou indirectas, do argido.
Mas o amor de si mesmo no s pode impelir o argido
mentira para alcanar a vantagem judicial de uma sentena do
454 A Lgica das Provas em Matria Criminai
magistrado em harmonia com os seus intersses, mas tambm,
para alcanar, hiptese mais rara, uma vantagem extra-judicial.
possvel fazer-se nm depoimento falso mesmo em desvan-
tagem prpria, acusando-se de um crime cometido, para salvar o
verdadeiro criminoso, que tenha prometido uma compensao
adequada. Esta suspeita, em determinadas condies, pode ter tda
a sua legitimidade. Suponhamos que um sujeito rico se encontra
envolvido em um processo por nm crime que se lhe imputa, e que
de repente se apresenta perante o juiz um pobre diabo, de quem
ningum suspeitara, e vem acusar-se de ter sido le, e no outra
pessoa, o autor do crime em questo: no ser ento legtima a
suspeita de que le est fazendo uma falsa confisso, por motivo de
uma compensao pecuniria prometida? E no esta a nica
hiptese de uma vantagem que, apresen-tando-se como derivada da
prpria condenao, possa impelir o argido a mentir contra si
prprio: v-lo hemos ao falarmos de confisso em particular.
O amor pelos outros, como causa de suspeita contra a palavra
do argido, concretiza-se no parentesco ou na amizade do argido
para com aquelas pessoas sbre cujo facto e em cuja vantagem
depe. Suponhamos que um pai argido e um marido argido,
comquanto confessos relativamente a si prprios, negam' a
cumplicidade do filho e da mulher, ou ento que no confessando a
criminalidade prpria, negam tambm a daqules; todos
compreendem que em tais casos legtima a suspeita de que o
argido minta em proveito do filho e da mulher, pelo amor que
lhes tem.
O dio pelos outros, como causa de suspeita contra o ar-
g
ido, manifesta-se nos casos de depoimentos feitos por le em
prejuzo de uma pessoa que odeia, acusando-a de criminalidade,
ou de cumplicidade, no crime que est sub-judice.
Desde que se prove a inimizade que o argido tem a uma
dada pessoa, torna-se lgicamente suspeita a sua palavra acusa-
dora contra ela.
O dio, como causa de suspeita, s pode em regra afirmar-se
relativamente a outrem. O caso excepcional de dio a si pr-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 456
prio s se poderia imaginar na hiptese de um argido preso por
monamania suicida, que sob uma legislao que admite a pena de
morte, depozsse contra si prprio numa causa capital. Hiptese,
de resto, difciilmente verificvel, porque mesmo para a
determinao do suicdio, se apresentaria sempre, mente do
argido, como prefervel uma morte no seguida de infmia,
preferivelmente que teria lugar pela mo do carrasco. Mesmo
havendo o desejo de morrer, natural que se prefira no deixar
uma memria infame, ou desprezvel.
Eis aqui resumidos rpidamente os motivos de suspeita que,
do mesmo modo que em relao a qualquer outra tstemunha,
podem apresentar-se como ligados pessoa do argido, desacre-
ditando a sua credibilidade, sb o ponto de vista subjectivo.
IIAvaliao formal do testemunho do argido
Para avaliar exactamente o testemunho do argido, igual-
mente ao que sucede quanto a qualquer outro testemunho, no
basta atender s condies pessoais que, abstraindo do depoi-
mento concreto, aumentam ou diminuem a sua f. necessrio
atender tambm s exterioridades formais em que o depoimento
se realiza.
H- exterioridades que aumentam ou diminuem o valor do
testemunho, por isso que servem directa ou indirectamente para
manifestar qual o esprito da tstemunha. H outras exterioridades
que aumentam ou diminuem o valor do testemunho, por isso que,
verificando-se, consideram-se como formas protectoras da
verdade, e no se verificando, a sua falta considerada como um
perigo de rro para o juiz, perigo que, naturalmente, diminui o
valor do depoimento. Isto to verdadeiro quanto ao testemunho
em geral, como quanto ao testemunho do argido em especial.
Vejamo-lo em primeiro lugar relativamente s exteriori-
dades que servem directamente para manifestar o esprito da
tstemunha.
O pensamento humano exterioriza-se na palavra, para se
456 A Lgica das Provas em Matria Criminal
transmitir de homem a homem. Ora, a linguagem, por isso que
a directa manifestao do pensamento do argido, no seu
depoimento, o primeiro critrio formal para a avaliao dste.
Para que o testemunho do argido revele a verdade no basta
que le se no engane e no queira enganar, mister tambm
que a verdade seja expressa por le de um modo que lhe corres-
ponda, manifestando-o tal qual se lhe apresenta ao espirito. A
linguagem, portanto, sendo a expresso directa do pensamento,
conforme, para o exprimir, mostra maior ou menor clareza e
preciso, ela por isso reala ou abaixa o valor probatrio do tes-
temunho do argido, assim como o de qualquer outra pessoa.
Mas h ainda outras exterioridades formais do testemunho,
que, para a sua avaliao, so levadas em conta como manifes-
taes indirectas do esprito da tstemunha. Estas exteriori-
dades podem consistir no prprio depoimento, ou na pessoa da
tstemunha.
Emquanto aos critrios formais derivados do depoimento
prprio, compreende-se como o discurso tstemunhal do argido,
reflectindo as secretas disposies do seu esprito, esclarea indi-
rectamente sbre a sua veracidade, e faa aumentar ou diminuir
a sua f. Assim, a animosidade com que o argido depe sbre
o facto alheio, diminuir a f na sua palavra, fazendo supr nle
a existncia de paixes que podem ser um impulso para a men-
tira. Assim, a afectao do seu discurso, em geral, ser outra
causa de descrdito, fazendo supr um estudo e um esfro do
esprito, que paream mais conciliveis com a mentira que com
a verdade, por isso que esta ltima dificilmente se desliga da
naturalidade. Assim, finalmente, a identidade de discorrer, que
parece premeditada, entre o depoimento do argido e o de outras
tstemunhas, tirar a f a um e aos outros, fazendo supr um
acrdo anterior e comum, concrto a que no costumam recorrer
seno as tstemunhas que querem mentir. E vice-versa, a equani-
midade, a naturalidade, a falta de premeditao na expresso,
so consideradas como trs causas formais de aumento de f no
testemunho do argido.
Emquanto aos critrios formais deduzidos da pessoa da tes-
Lgica das Provas em Matria Criminal 457
temunha como revelaes indirectas do seu esprito, so de uma
grandssima importncia para o testemunho do argido em espe-
cial. Quem se acha sob o pso de uma acusao no pode ser
indiferente, nunca pode conservar completamente a sua calma;
est ordinriamente num estado de sbreexcitao interior; se
inocente, porque se sente injustamente acusado; se culpado, pela
recordao do crime cometido, e pelo pensamento da justa pena
que tem de sofrer. Nestas condies, compreende-se como o estado
de esprito do argido deva, mais facilmente que o de qualquer
entra tstemunha, revelar-se na sua conduta, dando muitas vezes
uma importante acumulao de indcios, em favor, ou contra a f
da sua afirmao. A maneira como o argido se comporta ao
depor deve, portanto, ser levada em conta, para avaliar o seu
depoimento: bastar, por vezes, uma exclamao imprevista, uma
palidez inesperada ou uma imprevista iluminao do seu rosto,
bastar um gesto, e por vezes at um simples olhar, para revelar a
veracidade ou a falsidade da palavra do argido.
Mas, alm das exterioridades formais que acreditam ou desa-
creditam o testemunho revelando o estado de esprito da tste-
munha, ser necessrio, alm disso, para a completa avaliao do
testemunho do argido, atender a tdas as formalidades pro-
tectoras da veracidade, que a arte criminal aconselha.
A respeito da produo judicial da prova, forma primria e
geral de todo o testemunho, j nos ocupamos suficientemente para
no sentirmos necessidade de tornar aqui a tratar dela. Remetemos
por isso ao que escrevemos a propsito de avaliao formal do
testemunho em geral. Aqui observaremos simplesmente, que para a
maior importncia que apresenta o testemunho do argido
relativamente aos outros testemunhos, podendo le ter maia
facilmente um pso decisivo sbre o convencimento do magistrado,
tdas as razes que desenvolvemos ao expormos o aumento de
valor que deriva da produo judicial da prova, e a diminuio de
valor que deriva da produo extra-judicial devem ser mais
escrupulosamente levadas em conta a propsito de tes-
temunho do argido. O testemunho do argido s tem todo o
seu valor quando feito no debate pblico, e o caso do tstemu-
468 A Lgica das Provas em Matria Criminal
nho judicial prpriamente dito; ou quando feito fora do debate
pblico, mas perante o juiz competente, com tdas as formalida-
des prescritas, e o caso do testemunho qusi-judicial. O teste-
mun
ho, ao contrrio, prpriamente extra-judicial do argido, tem
apenas um valor mnimo, no s pela qualidade da tstemunha
de segundo grau a que se refere, e que poderia fcilmente ter-se
enganado ao ouvir, ou querer enganar ao referir, mas prin-
cipalmente pela ligeireza inconsiderada, ou mentirosa, das afir-
maes a que o argido podia ter-se entregado nas suas conversas
particulares.
Emquanto ao intrrogatrio, a principal de entre as for-
malidades secundrias aconselhadas pela arte criminal como
protectoras da verdade, tambm falamos suficientemente dle,
mostrando como serve no s para descobrir e corrigir os rros
possveis do juiz, mas tambm para descobrir e corrigir os rros da
tstemunha, e para descobrir e paralisar a sua possvel vontade de
enganar. Tudo quanto dissemos em geral deve repetir-se aqui rela-
tivamente ao testemunho do argido, mesmo quanto proibio
da sugesto ilcita na intrrogao. Acrescentaremos aqui nica-
mente
, que se a sugesto ilcita simplesmente uma violncia contra a
verdade em relao a qualquer outra tstemunha, ao contrrio, em
relao ao argido em especial, tambm uma violncia contra
a justia. O argido inocente que se v trado ou violentado
pelo modo de intrrogar do juiz, perde tda a f na justia
humana, e perde at por vezes tda a fra para exercer o
sagrado direito da sua defesa. A sugesto, odiosa em face de
tda a tstemunha, odiosssima em face do argido, tentando
arrast-lo pela fra, ou enganando-o, a entregar as armas contra
si prprio.
Ns, reconhecendo, pelo que dissemos em outro lugar, ao
argido o direito de no responder, reconhecemos tambm no
magistrado o direito de o intrrogar; mas para que ste ltimo
direito no entre em conflito com o primeiro, necessrio que
o intrrogatrio proceda sem insdias e sem violncias. O intr-
ro
gatrio to til para a descoberta da verdade, que no
lcito desprez-lo principalmente quanto ao argido, e no s
A Lgica das Provas em Matria Criminal 459
no intuito de alcanar a descoberta da sua eventual criminalidade,
como tambm, e principalmente, no intuito de alcanar a
descoberta da sua eventual inocncia; mas o intrrogatrio, repito,
s ser legtimo emquanto respeite conscincia do argido, a
quem se reconhece o direito do silncio. Para a completa
avaliao formal do testemunho do argido, como a produo
judicial, como o intrrogatrio, assim tambm devem ser levadas
em conta tdas as outras formalidades consideradas pela arte
criminal como protectoras da verdade.
H comtudo, uma formalidade que, comquanto tenha sido
julgada como favorvel verdade para qualquer outro testemu-
nho,
deve sempre excluir-so do testemunho do argido: o juramento.
J rimos qual a razo.
Procurando determinar qual a natureza do testemunho do
argido, partindo da premissa de que a obrigao do delinqente
em face da justia social apenas negativa, deduzimos lgica-
mente
que o argido, diferentemente de qualquer outra, uma
tstemunha incoercvel. O argido, dissemos, no s no pode ser
constrangido a confessar, como no pode tambm ser obrigado a
tstemunhar de qualquer modo. Ora, o juramento no se considera
como formalidade protectora da verdade seno quando se julga
capaz de exercer uma coaco interior, obrigando a tstemunha a
dizer a verdade. O juramento est conseguintemente em
contradio com o direito do argido a no tstemunhar, ou
simplesmente a no confessar a sua criminalidade; por isso que o
juramento uma coaco sbre o seu esprito, e tda a coaco,
interna ou externa, obrigando o argido a confessar, sempre
ilegtima, e deve regeitar-se. Por isso nas legislaes positivas no
existem penas de falso testemunho para o argido, e tambm no
h conseguintemente a formalidade da indicao das penas que
ameaam a tstemunha falsa, indicao que, relativamente a
qualquer outra tstemunha, uma formalidade importante, obser-
vada pelo juiz, para servir de obstculo possvel vontade de
enganar da tstemunha.
E basta sbre a avaliao formal, em relao com o
testemunho do argido.
460 A Lgica das Provas em Matria Criminal
III Avaliao objectiva do testemunho do argido
Como em relao a qualquer outro testemunho, tambm
quanto ao testemunho do argido no basta atender ao sujeito e
Jorma; necessrio atender tambm ao seu contedo, para
que se possa avaliar completamente. Recordemos rpidamente os
critrios objectivos da avaliao.
l. O argido que afirma factos incrveis, seja mesmo a
seu cargo, no merece f alguma; e se afirma factos inveros-
meis, inspirar uma f mais ou menos limitada, segundo o grau
da inverosimilhana.
2. O testemunho do argido, relativamente aos factos
cuja percepo normalmente enganadora, no poder inspirar
a mesma f que inspira relativamente aos factos cuja percepo]
no se acha ordinriamente sujeita a rros. natureza, normal-
mente enganadora ou no enganadora dos factos afirmados, um
critrio objectivo de avaliao que no deve desprezar-se.
3. O testemunho do argido, comquanto tenha os maiores
requisitos de credibilidade, nunca poder inspirar ao juiz maior
f, que a que o prprio argido tem nos factos afirmados. E por
isso o contedo do seu testemunho, quanto mais dubitativo, se
apresenta, tanto menos valor probatrio possui; e vice-versa.
4. Porm, se o contedo dubitativo do testemunho excluindo
a certeza da tstemunha, no pode inspirar f ao juiz, muito
menos a pode inspirar o contedo contraditrio. O argido que
cai em contradies no contexto do seu depoimento, no s no
deixa ver uma certeza em sentido determinado no seu esprito,
mas revela tambm uma possvel vontade de enganar.
O testemunho do argido, quando em si mesmo contradi-
trio, perder por isso mais ou menos f, segundo a natureza dos
factos sbre que recai a contradio, e em relao qules mes-
mos critrios que expozemos a propsito da avaliao objectiva
do testemunho em geral.
5. O testemunho do argido tambm, como qualquer
outro, tem tanto maior valor, quanto melhor reproduzir a reali-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 461
dade concreta dos factos. Ora, sendo os factos concretos todos
determinados, tanto maior valor ter o testemunho do argido,
quanto maior determinao apresentar na afirmao dos factos; e
o seu valor diminuir at reduzir-se a nada, medida que se
apresentam mais indeterminados.
ste critrio exerce maior influncia a propsito do teste-
mun
ho do argido sbre um facto prprio. Do facto alheio possvel
lgicamente ignorar algumas determinaes, cuja ignorncia seria
inexplicvel relativamente ao facto prprio, e traria, como
conseqncia, graves suspeitas de mentira.
6. Para inspirar f no testemunho no basta determinar os
factos afirmados, necessrio determinar tambm como que les
fram percebidos pelo afirmante, por outros trmos, necessrio,
como dizem os prticos, dar a razo da scineia prpria.
O testemunho do argido, como qualquer outro, tem tanto
valor probatrio, quanto de exacto tem a percepo dos factos
afirmados; e se se no sabe como a percepo teve lugar, no
pode haver f na sua exactido.
7. Relativamente realidade de um facto, natural que,
afirmar t-lo percebido com os prprios sentidos, deve inspirar
sempre mais f, que afirm-lo por ter ouvido dizer. O testemu-
nho do
argido, como o de qualquer outro, se por scineia prpria tem
por isso um valor probatrio muito superior ao que teria, se fsse
por ouvir dizer, no sentido e pelas razes por ns determinadas.
8. Temos at aqui falado de critrios objectivos de ava-
liao que derivam da avaliao do depoimento em si mesmo.
Mas no s da considerao do depoimento em si mesmo
que podem derivar razes de descrdito para o testemunho; elas
podem derivar tambm da relao entre o contedo de um
testemunho e o de outro, proveniente da mesma ou de outra tste-
munha. Sob ste aspecto extrnseco, portanto, pode tambm o
testemunho do argido perder ou adquirir valor: perd-lo, pela
sua contradio com outros do prprio argido ou de outra
tstemunha, adquiri-lo, pela conformidade dle com outro depoi-
mento, quer do prprio argido, quer de outra tstemunha.
462 A Lgica doa Provas em Matria Criminal
Emquanto contradio entre um depoimento e outro do
mesmo argido, compreende-se que ela seja uma gravssima razo
de descrdito. E lgico supr que quem se encontra sob uma
acusao penal use de maior seriedade e de maior ateno ao
depor, especialmente nos seus depoimentos judiciais ou quasi-ju-
diciais, que um terceiro, alheio ao julgamento; e por isso as
contradies do argido so menos fcilmente justificveis que
as de um terceiro, e induzem maior descrdito. Em todo o caso,
apresentando-se um depoimento em contradio com outro pre-
cedente do mesmo argido, a medida do seu verdadeiro valor
probatrio ser determinada pela maior ou menor seriedade de
razes que apresenta o mesmo argido, para explicar a alterao
superveniente nas suas afirmaes.
Emquanto contradio entre o testemunho do argido e
o de outra tstemunha, compreende-se tambm como ela seja
uma grave razo de descrdito. O testemunho do argido, nste
caso, perde valor em razo da natureza dos factos sbre que
recai a contradio, coisa que esclarecemos anteriormente, e pro-
porcionalmente ao valor probatrio que se atribui ao testemunho
contrrio. Se ste tem um valor igual ao do testemunho do
argdo, e se se contradizem de um modo injustificvel, um e
outro perdem todo o valor probatrio, ilidindo-se reciprocamente.
Gomo a contradio tira o valor ao testemunho do argido, com-
preende-se fcilmente que o facto de le no ser contraditado
mantem-lhe aquele valor probatrio a que tem direito em conse-
qnc
ia de tdas as outras consideraes subjectivas, formais e
objectivas: a sua conformidade, pois, com outros, aumenta o seu
valor em razo directa do nmero e do valor dos testemunhos
contstes que existam.
Eis aqui rpidamente percorrido o campo dos critrios sub-
jectivos, formais e objectivos de avaliao, que como para qual-
quer outro testemunho, teem valor para o testemunho do argido.
Para desenvolvimentos mais amplos, remetemos para o nosso
primeiro exame.
Aqui, era-nos necessrio mostrar, smente, que avaliao
do testemunho do argido presidem aqules mesmos critrios
A Lgica das Provas em Matria Criminal 463
que consideramos como dirigentes na avaliao do tstemunha em
geral, critrios que, como veremos, teem tambm a sua aplicao
nos devidos limites a propsito daquele testemunho especfico do
argido, que se denomina confisso.
IV Valor do testemunho clssico do argido
Mencionamos de um modo geral todos os motivos de des-
crdito qae, como em qualquer outro testemunho, depreciam o-
testemunho do argido. Sempre que um dsses motivos tenha
valor relativamente ao testemunho concreto do argido, ste
dejectivo. Sempre que, ao contrrio, o testemunho do argido se
apresenta sem algum dstes motivos de descrdito, le deno-mina-
se clssico.
Ora, se um testemunho do argido se apresenta como cls-
sico, ter le um valor probatrio ilimitado? Deixemos de parte o
testemunho do argido sbre facto alheio, que se entende que no
pode ter, em geral, valor superior ao do testemunho de terceiro, e
suponhamos uma confisso, isto , um testemunho que, sendo
desvantajoso para quem o faz, no apresenta o motivo de suspeita
de intersse na causa. Suponhamos que essa confisso parea,
quanto ao seu contedo, um espelho da verdade, e quanto sua
forma, tenha sido feito pela melhor possvel. Semelhante confisso
ter fra para provar completamente tudo quanto afirma, e o
confsso, pelo menos nste caso de legtima credibilidade, dever
ter-se por convencido?
o que teem sustentado alguns que consideram a confisso
como uma prova sui generis, e privilegiada. Mas para ns a
confisso no seno uma subespcie do testemunho do argido,
do mesmo modo que ste no seno uma subespcie do
testemunho em geral. Os limites probatrios do testemunho em
geral so por isso determinados em relao ao argido, e mais
particularmente tambm em relao confisso.
No h razo suficiente que justifique a ilimitao probatria
da confisso do argido. O argido, como qualquer outra
tstemunha, um homem que, no obstante tdas as aparncias
464 A Lgica das Provas em Matria Criminal
de credibilidade, pode enganar-se e enganar. Os limites de todo o
testemunho subsistem tambm para le: mencionemo-los novamente:
1. Se a simples palavra do argido, sem auxlio de outras
provas, a que afirma a sua criminalidade, ste testemunho do
argido, esta confisso que no refrada por qualquer outra
prova, no poder, por si s, produzir a certeza no esprito dos
julgadores.
Mas poder dizer-se: em face do prprio argido, que afirma
a justia da condenao, a condenao legtima ? No, respon-
demos; no se trata de direitos particulares alienveis, para que
o reconhecimento da parte seja s por si criador de direitos.
Em matria penal entram em jgo direitos sagrados, que devem
ser respeitados mesmo na pessoa que no sabe o que fazer dles,
-e a les renuncia por uma ou outra razo. Para justificar o
direito de punir no basta o reconhecimento do ru: necessria
a certeza da criminalidade. E esta certeza no pode derivar da
simples palavra do argido, como prova nica da criminalidade.
Na ausncia de qualquer prova incriminatria, a prpria espon-
taneidade da acusao contra si mesmo ser uma fonte de
legtimas suspeitas contra a credibilidade do argido, e estas
suspeitas tornaro defectivo aquele seu testemunho que sob
qualquer outro aspecto se apresenta como clssico. No caso de
uma confisso que seja nica prova contra quem a faz, todos os
motivos de descrdito da confisso, motivos que examinaremos
em seguida, tornam-se gigantescos, e fazem com que na confis-
so do argido se receie um suicdio legal.
A esta considerao probatria, veem juntar-se, tambm em
relao ao testemunho do argido, consideraes jurdicas, que
se opem ao reconhecimento afirmativo da sua criminalidade,
sob a sua simples palavra.
O fim e a legitimao da pena consistem no restabeleci-
mento da tranquilidade social que foi perturbada pelo crime. Ora,
quando o crime no deixa vestgios na sociedade, quando o crime,
tanto no seu elemento subjectivo, como no objectivo, afirmado
unicamente pelo seu pretendido autor, ento no h perturbao
social a reparar, e o direito de punir deve sustar-se.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 465
Quando mesmo, portanto, o crime objectivamente se dedu-
zisse por outras vias, mas subjectivamente, isto , emquanto
determinao da pessoa do delinqente, no tivsse sido afirmado
seno pela simples e nica palavra do prprio pretendido delinqente,
ento a sociedade, acreditando embora nessa sua palavra, achando-
se em face, sempre do mesmo modo, de um indivduo que
espontaneamente, sem ser acusado por outrem, vem acusar-se
pessoalmente, e dobrar a cabea perante a magestade da justia, a
sociedade, digo, em face de semelhante espectculo, sente que a
reparao teve j lugar na conscincia do delin-
qente
, sem necessidade da pena reparadora; ou sente, mais geralmente,
que a pena, era tal caso, intil.
A palavra, portanto, do argido, como prova nica da sua
criminalidade, no s no fonte suficiente de certeza, mas tam-
bm, a ser julgada suficiente, deixa de ser base legtima de con-
denao porquanto sempre que a pena se inflige sem uma neces-
sidade social preponderante, inflige-se injustamente.
Eis o primeiro limite probatrio, o limite da singularidade em
relao ao testemunho do argido
1
.
2. Dissemos que quando um crime de natureza a dei-xar
atrs de si um facto material, permanente, que se denomina corpo
de delito, se ste corpo de delito no se encontra, a sua ausncia
inexplicada faz duvidar da existncia do prprio crime. No basta
que mais de uma tstemunha venha afirmar ter tido a percepo em
um dado momento do corpo de delito, para se dizer legitimamente
verificado. Para esta verificao no suficiente o testemunho
ordinrio, seno quando, juntamente com a existncia precedente
do corpo de delito, se prove tambm a sucessiva ocultao ou a sua
sucessiva destruio, explicando assim o seu desaparecimento.
Suponhamos, agora, que aos testemunhos ordinrios de terceiros, se
vem jantar tambm o testemunho, tambm ele a realiadade dequele
facto material, que constitui o corpo de delito, etc.
1
Veja-se, nesta mesma Seco da Parta v, o cap. vii: Limite pro-
batrio derivado ia singularidade.
466 A Lgica das Provas em Matria Criminal
sem o qual no se entende o delito ou uma determinao ssen-
cial dle: dever dizer-se, nste caso, suficientemente provado o
corpo de delito?
Sou de opinio, que no. Desde que na prova dste corpo
de delito, se no obteve a prova da sua destruio ou da sua
ocultao para explicar o seu sucessivo desaparecimento, no
pode dizer-se suficiente a sua verificao. Mas a prova da des-
truio do corpo de delito, ser naturalmente tambm vlida,
quando consista nas conseqncias tiradas da prpria natureza
do corpo de delito em relao ao tempo e ao modo do delito,
porquanto o tempo e o modo do delito podem, por ai mesmos,
explicar o sucessivo desaparecimento do corpo de delito, sem
necessidade de prova especial.
ausncia de corpo de delito, que pela sua natureza deveria
ainda subsistir, quando no justificada, faz lgicamente duvi-
dar no s da exactido da percepo de terceiros, mas tambm
da exactido da percepo do prprio argido. dvida de um
rro de percepo, veem reunir-se tambm depois relativamente
ao argido, todos os motivos infirmativos do testemunho contra
si mesmo, motivos que mencionaremos em seguida, falando da
confisso.
No seria o primeiro o caso em que o argido afirmasse
um facto material que nunca existiu.
Antnio Pin acusou-se de ter assassinado Jos Sevos, cujo
cadver no pde ser verificado pela justia; sob a f da sua
prpria palavra, foi condenado morte, e sofreu a condenao.
Pouco tempo depois reaparece vivo e so aquele que se julgava
morto, e de que nunca mais houvera notcias. Pin, tendo real-
mente agredido e ferido Sevos, julgara, de boa f, t-lo morto,
emquanto que ao contrrio Sevos, em seguida a ter sofrido a
agresso, fugira sem mais dar notcia de si
1
.
Outro exemplo: em maio de 1844, Zo Mabille, rapariga
de dezanove anos, entrou como criada em casa de Nicola Dela-
1
PITAVAL Cause celebri.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 467
lande, na comuna de Moon, distrito de Saint-Lo. O patro ena-
morou-se dela, e esta resistiu-lhe. Um dia, a rapariga desapareceu.
Foram suspeitos da sua morte o patro e um seu tio, um certo
Grilles; e foram capturados. Gilles enlouqueceu; Delalande, tambm
le talvez enfraquecido da mente, confessou t-la morto, porque,
dizia, a amava e ela queria ir-se embora. Eraquanto esta
confisso, no obstante no se haver verificado a existncia do
cadver, arrastava ao patbulo o pobre Delalande, eis que aparece
a notcia de que a rapariga se achava, s e alegre, em casa de sua
ama, para onde se havia refugiado, saindo da casa do seu patro
1
.
Poder-se-iam recordar mil outros exemplos; mas ser fcil
ao leitor encontr-los por si, percorrendo a histria dos crimes.
Concluindo, nem mesmo a fra probatria do testemunho
do argido, afirmando o corpo ssencial de delito, basta para o
atestar, quando no se explique o seu desaparecimento necessrio
: o segundo limite probatrio, derivado do corpo de delito
2
.
3. Emquanto ao limite derivado das regras civis de prova,
necessrio no esquecer que le baseia-se mais em consideraes
da natureza gentica do direito de provar, que em consideraes
probatrias. S pode dizer-se violado um direito civil, quando se
admite a sua existncia. Ora qualquer que seja o direito civil, le
s existe emquanto pode ser provado civilmente. E por isso,
quando em um juzo penal se discute sbre a violao de um pre-
tendido direito civil, le, se se no pode provar com as regras
civis, no existe; e no h testemunho algum que sirva para fazer
passar como existente o que na realidade no existe. Ainda mesmo
que o prprio argido venha afirmar que aquele direito civil, que
se diz por le violado, existia; se a lei civil prescreve formalidades
probatrias especiais para a verificao da existncia daquele
direito, e essas formalidades faltam, a prpria palavra do argido
no ter valor para fazer admitir como direito civil o que as leis
civis no reconhecem como tal; a assero do
1
BRUGNOLI Certeza e prova criminale, 143.
2
Veja-se, nesta
mesma Seco da Parte v, o cap. viii: Limite probatrio derivado do
corpo de delito.
468 A Lgica das Provas em Matria. Criminal
argido ser, nsse caso, uma afirmao errnea, e o seu rro
no pode ser origem de direitos, nem de deveres jurdicos.
Repito, um direito civil, isto , um daqules direitos cuja veri-
ficao e cuja proteco se confiam lei civil, s existe quando
possa ser provado segundo as regras das leis civis; e por isso
no pode em juzo criminal imputar-se a sua violao, seno
quando le possa provar-se civilmente, condio sine qua non
da sua existncia reconhecida pelas leis. Contrriamente, poder-se
h falar de violao de um direito natural, mas nunca de um
direito civil.
Concluamos: tendo as leis civis limitado a eficcia da prova
tstemunhal a uma certa esfera de direitos, esta limitao, em-
quanto prova de direitos civis, que se dizem violados pelo
delito, deve valer tambm em matria penal relativamente a
todo o testemunho, compreendendo o do argido: o terceiro
limite probatrio, derivado das regras civis de prova
1
.
E com isto temos completado o exame do valor concreto do
testemunho do argido. Se fsse necessria uma prova para de-
monstrar que le no mais do que uma espcie do testemunho
em geral, como a confisso uma subespcie sua, a prova lumi-
nosa estaria nste captulo, em que vimos como so os mesmos
princpios reguladores do testemunho em geral, os que teem fra
tambm para o testemunho do argido, e para a sua confisso
em particular.
TTULO II DO CAPTULO VI
Tstemunho do argiido sbre facto prprio
Falando do testemunho do agido em geral, distinguimo-lo
em testemunho sbre facto prprio, e testemunho sbre facto
alheio. Ora conveniente considerar particularmente cada uma
destas espcies, com maior ou menor largueza, segundo a sua
1
Yeja-se, nesta Seco da Parte v, o cap. ix: Limite probatrio
derivado das regras civis de prova.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 469
maior ou menor importncia. A nossa tarefa tornou-se mais fcil
pelo desenvolvimento anteriormente dado ao testemunho do
argido em geral: nsse desenvolvimento indicamos todos os
princpios que regulam a matria; e por isso passando ao exame
das espcies particulares, e das subespcies, em que se concretiza
o testemunho do argido, basta-nos simplesmente relembrar
aqules princpios j expostos, considerando a sua particular
aplicao.
Das duas espcies em que se distingue o testemunho do
argido, a sbre facto prpria, que tomamos aqui para examinar,
a mais importante. O argido est melhor, que qualquer outro,
em condies de conhecer o facto prprio, pelo qual submetido
a juzo. Se tdas as outras tstemunhas s podem conhecer o facto
por o terem visto, o argido conhece-o, no s por o ter visto
como facto exterior, mas tambm por o ter pensado e querido no
ntimo da sua conscincia, e por o ter em seguida produzido
exteriormente. E isto emquanto ao delito considerado no seu
elemento material externo.
Mas todo o delito se compe de facto externo e de facto
interno: o facto externo da aco material violadora do direito, e o
facto interno da inteno. Ora, emquanto a ste segundo elemento
de direito, s o argido o pode conhecer por viso imediata. S
le conhece directamente o que se desenvolveu no ntimo da sua
conscincia, e s dle se pode por isso esperar uma prova directa
da inteno.
B isto na hiptese de criminalidade do argido.
O mesmo sucede na hiptese da sua inocncia: ningum
melhor que le est em condies de a conhecer e de a tornar
conhecida, revelando factos e coisas que sirvam para a provar.
O argido, por isso, querendo, est sempre, melhor que qual-
quer outro, no caso de ilucidar a justia sbre o facto a julgar:
sob ste ponto de vista que aparece legtima a grande importncia
probatria atribuda ao tstemuuho do argido, em frente do de
qualquer outra tstemunha.
O testemunho que o argido presta sbre facto prprio pode
ter diverso teor: pode ser em prpria desvantagem; pode ser em
470 A Lgica das Provas em Matria Criminal
vantagem prpria; e pode, finalmente, ser parte em prpria vantagem
e parte em desvantagem, considerando as vrias partes em si
mesmas, separadamente, abstraindo uma da outra. O
testemunho em vantagem prpria, como uma palavra, cha-ma-se
desculpa; o testemunho em desvantagem prpria chama-se confisso;
o testemunho, parte em vantagem e parte em desvantagem prpria,
chama-se confisso qualificada. Falemos delas em pargrafos
separados.
Pargrafo 1. de Titulo 2. DESCULPA
O testemunho apresentado pelo argido em sua desculpa
tem contra si uma suspeita de mentira, que o desacredita: pre-
sume-se que em vantagem prpria seja fcil mentir-se. Esta pre-
suno de mentira no destituda de fundamento.
O homem por uma necessidade ingnita aspira, no s a
no peorar a sua condio, mas a melhor-la; aspira a afastar os
males e a atrair os bens; e por isso, quando do diverso teor das
suas palavras pode derivar um mal ou um bem para le,
compreende-se fcilmente que le, mesmo a despeito da verdade,
ser fcilmente induzido a dizer o que lhe convm, de prefern-cia
ao que lhe nocivo. Admitindo por isso mesmo como verda-
deira a criminalidade do argido, ste, para fugir ao mal da
pena, ser arrastado, no seu testemunho, desculpa, de preferncia
confisso. Mas no pode concluir-se disto a negao de todo o
valor probatrio no testemunho em desculpa prpria. No tem
havido acaso inocentes que por suspeitas enganadoras foram
arrastados ao banco dos rus, a responder por crimes que no
cometeram P Para stes inocentes, submetidos a juzo, a vantagem
prpria coincide com o respeito da verdade: dever acaso pela
vantagem, que lhes provm da sua desculpa, desprezar-se a
verdade dela? necessrio no esquecer que o argido nem
sempre um delinqente, e que um gravssimo rro lgico na
avaliao das provas pressupr como provado o que se quer provar:
a delinqncia a coisa que se procura provar no julgamento
penal, e no pode ela admitir-se antes que as provas
A Lgica das Provas em Matria Criminal 471
tenham autorizado a sua admisso. Para que a presuno de
mentira, sempre nos limites relativos de simples suspeitas, possa
opr-se desculpa do argido, necessrio que le tenha sido
indiciado como provvelmente ru por meio de provas capazes de
destruir aqueloutra slida presuno, que a presuno da ino-
cncia, que coincide com a desculpa do argido. A presuno de
inocncia, como vimos em outro lugar, assiste a todo o cidado
cuja criminalidade ainda no se verificou, realando, assim, a f
nas palavras do argido; aquela f que a presuno de falsidade,
deduzida do intersse na causa, tenta rebaixar.
E no basta dizer que, para opr legitimamente ao argido a
suspeita de mentira, necessrio que le steja j suficientemente
indiciado como ru pelas provas; necessrio acrescentar tambm
que esta suspeita de mentira no pode fazer-se valer relativamente
quela prova que seja a nica a indicar a delinqncia, para
realar o seu valor probatrio em face do teste-
munho do argido que o desculpa.
Suponhamos que se apresenta um nico testemunho contra o
argido, nico como prova que o designa como ru; pois bem,
no se pode, para julgar o valor relativo que tem o teste-
munh
o do argido em sua desculpa perante o nico testemunho
acusatrio, no pode, dizia, opr-se desculpa do argido a sus-
peita de falsidade, desprezando-o, por isso, e dando mais valor
probatrio ao testemunho contrrio. Nste caso, a suspeita que se
quer opr ao argido para desacreditar a sua credibilidade, no h
direito de lha opr, derivando ela daquele mesmo teste-
munh
o nico, cujo valor em face da afirmao contrria do argido se
procura verificar. Quando o testemunho o nico a designar a
criminalidade, le prprio que determina sbre o ru a acusao,
de que se quer extrair a suspeita de mentira contra le. Um nico
testemunho indicativo do delinqente, e da acusao, so uma e a
mesma coisa, e por isso, para provar a superioridade, e
conseguintemente a verdade da acusao, ou do testemunho
nico, se assim se quer dizer, no se pode alegar o facto da
prpria imputao, ou do prprio testemunho nico, sem uma
vergonhosa petio de princpio.
472 A Lgica das Provas em Matria Criminal
E isto, considerando a legitimidade de opr a suspeita de
mentira, como razo de inferioridade probatria, ao testemunho
do argido, em face de outra prova pessoal. Que se diria, se o
nico indicio, da criminalidade do argido fsse uma prova
real?
Sabemos que a prova real, por sua natureza, superior
pessoal, e por isso parece que a desculpa do argido deveria
em geral, sucumbir na contradio com ama prova real que o
acuse como ru. Mas no assim; e clara a razo, quando se
considere a espcie de que pode ser a prova real que indica o
argido como ru. A aco criminosa constitutiva da criminali-
dade, se pode ter alguma coisa de permanente no facto que a
produz, sempre, ao contrrio, fugaz em si mesma, como exte-
riorizao da actividade pessoal. Ora, a verificao da aco cri-
minosa nesta sua natureza passageira, o que determina preci-
samente a criminalidade tanto de Ticio como de Caio, pois que
essa aco se refere, como ao ageute de que deriva, tanto a Ticio
como a Caio. a ligao da aco com o agente que determina
a responsabilidade dle, e esta ligao de sua natureza fugaz.
Segue-se daqui que para indicar Ticio como delinqente, nunca
pode haver uma prova real directa, porquanto a realidade do
seu facto, que o torna imputvel, sempre passageira, j no
subsiste em si mesma, na sua materialidade extrnseca; pode
nicamente subsistir como recordao nas pessoas que a perce-
beram emquanto se exteriorizava; e tem-se assim uma prova
directa, mas pessoal. Uma prova real directa da criminalidade
de Ticio, , portanto, claro que se no pode obter: no pode
obter-se uma prova real indicativa da pessoa do delinqente, que
no seja indirecta. O casaco e a faca ensanguentadas, encontra-
das em casa de Ticio, em seguida ao homicdio de Caio; a fuga
de Ticio em seguida verificao do crime: eis as nicas esp-
cies de provas reais que podem indicar a criminalidade de Ticio:
provas indirectas, e mais nada. desculpa do argido, ao con-
trrio, resolve-se em uma prova directa da prpria inocncia:
le desculpa-se como tstemunha que teve a directa percepo
do seu facto. Ora, se a prova directa real inferior prova
A Lgica das Provas em Matria Criminal 473
directa pessoal, por outro lado a prova indirecta, conquanto real,
sempre inferior prova directa, conquanto pessoal. Portanto,
considerando a desculpa do argido mesmo perante uma nica
prova real que o indique como ru, no poder conside-rar-se
inferior a esta, porquanto a primeira prova directa, e a segunda
indirecta.
ste problema do valor do tstemumho do argido, em con-
tradio com um nico testemunho que o designa como delin-
qent
e; ste problema que aqui desenvolvemos, considerando o
testemunho do argido mesmo em contradio com uma prova
real, um problema que foi anteriormente referido, e que ser
largamente desenvolvido a propsito do testemunho nico. Aqui
era necessrio mencion-lo de novo, para determinar em parti-
cular os limites daquela suspeita de mentira que se ope ao valor
probatrio da desculpa do argido, e para determinar, em geral, o
valor probatrio da desculpa.
Passemos agora a mencionar os modos por que a desculpa
pode ter lugar.
No h delito sem a acumulao de dois elementos: ele-
mento material e elemento moral. O argido pode conseguinte-
mente desculpar-se, quer negando um, quer outro dstes elemen-
tos. Comecemos pela negao do elemento material.
O elemento material concretiza-se na aco material pra-
ticada, condio imprescindvel em todo o delito, e no Jacto-
material produzido, condio nem sempre imprescindvel figura
completa do argido.
O argido negando a aco material que lhe imputada,
nega no s o facto como conseqncia dela, mas tambm a
inteno que se lhe imputa, porquanto a inteno no imputvel
como criminosa seno quando se exterioriza na aco material. O
argido, portanto, que nega a aco criminosa que lhe imputada,
nega todo o crime. Esta negao da aco criminosa pode
determinar-se de diversos modos.
Em primeiro lugar, pode o argido opr, afirmao da sua
aco criminosa, uma negao substancial, isto , uma negao
que no se resolve na afirmao de facto algum positivo :
474 A Lgica das Provas em Matria Criminal
pode, em desculpa prpria, dizer simplesmente: no pratiquei o
que me imputam. a espcie mais fraca da desculpa, que assenta
apenas na pura e simples autoridade tstemunhal do argido, auto-
ridade tstemunhal j desacreditada por aquele intersse na causa
que pode qnsi sempre opr-se-lhe legitimamente, por isso que le
se encontra qusi sempre indicado como ru por mais provas.
A aco material criminosa pode tambm ser negada pelo
argido por meio de uma negao simplesmente formal, isto ,
com uma negao que inclui a afirmao de um facto positivo;
como quando o argido apresenta antes de tudo, em sua des-
culpa, a impossibilidade material, quer subjectiva quer objectiva,
da aco.
E aqui um parentesis: chamo impossibilidade subjectiva, a -
que deriva da sua condio pessoal de argido; como chamo im-
possibilidade objectiva, a que deriva de uma condio comum a
todos os homens ou a tdas as coisas em geral. Esclarecido,
assim, o conceito do que entendemos por impossibilidade
subjectiva e ojectiva, v-se imediatamente como a negao da
prpria aco criminosa, colocando em frente uma ou outra, se
resolve em uma afirmao de facto positivo. Com efeito,
negando ter praticado a aco material criminosa, negando-a
pelo alibi, ou pela falta de meios, casos de impossibilidade
subjectiva, a que que se reduz esta negao? Com o alibi, no
se faz seno afirmar uma condio positiva: a condio de tempo e
de espao quanto ao argido, em relao hora e ao local do
crime, condio positiva que se prova directamente, e incompatvel,
pelas leis do tempo e do espao, com a criminalidade
determinada. E emquanto falta de meios, o mesmo: aquele
que, para excluir a possibilidade de ter assassinado com uma
punhalada, alega a sua falta de braos, no faz mais do que
afirmar uma sua condio positiva, que se prova directamente e
incompatvel com a determinada criminalidade que se lhe
imputa.
Nem de modo diverso se procede quando o argido nega a
aco material que lhe imputada, por motivo de impossibilidade
objectiva. Aquele que, para repelir a acusao que se lhe faz de
A Lgica das Provas em Matria Criminal 475
ter roubado numa casa passando atravs do buraco da fechadura,
alega a impossibilidade objectiva dessa passagem, por motivo da
constituio do seu corpo em relao com as leis do espao; no
faz seno afirmar uma condio positiva inerente ao corpo de
todos 08 homens.
O testemunho do argido, negando a aco criminosa, quando
assenta em uma razo de impossibilidade, quer subjectiva quer
objectiva, adquire, sob o ponto de vista do seu contedo, uma
fra probatria invencvel. Existe, smente, uma grande dife-
rena de eficcia entre a simples assero da impossibilidade
subjectiva e a simples assero da impossibilidade objectiva.
Quando se alega um motivo de impossibilidade subjectiva,
consistente em uma condio particular do argido, que podia ser
ou no verdadeira, necessrio prov-la em particular, sem o que
a impossibilidade subjectiva, no seno uma afirmativa que
oscila aos sopros da dvida. Assim, do facto de o argido se achar
em Npoles, ao tempo em que o furto se consumava em Londres,
resulta apoditicamente que o autor material do furto no pode ter
sido le. Mas, para que esta razo de impossibilidade subjectiva
tenha fra decisiva, necessrio provar que na realidade ao
tempo do farto em Londres o argido se achava em Npoles; a sua
simples afirmativa no basta para produzir a certeza. , porm,
claro como a luz do sol que, tendo o argido uma paralisia
completa nos braos, no pode ter despedido um murro tal que
derrubasse por terra um homem. Mas, para que esta outra razo de
impossibilidade subjectiva tenha uma fra decisiva, necessrio
provar de um modo seguro a existncia da paralisia alegada ao tempo
da aco que se afirma, condio particular do argido, que pode
no ser verdadeira.
Quando, ao contrrio, se nega a aco criminosa, apoiando-se
em uma razo de impossibilidade objectiva, no precisa prova
alguma particular. Consistindo a impossibilidade objectiva em
uma condio comum a todos os homens, compreende-se porque
no so necessrias provas particulares para a estabelecer: todo o
homem, a comear pelo juiz, tem em si a prova da existncia da
condio positiva asseverada; basta por isso simplesmente
476 A Lgica das Provas em Matria Criminal
enunci-la, para que ela se admita, e para que o valor probatrio
do testemunho do argido, que contm essa enunciao, se torne
invencvel por motivo do contedo. Para dar a certeza de que o
acusado no tem musculos to vigorosos que com um simples
murro possa derrubar uma slida porta de frro para penetrar
em uma casa, no so necessrias provas particulares; todos
sabem que isso tambm lhe seria impossvel. E por isso o teste-
mun
ho do argido negando, como coisa impossvel, ter com um morro
derrubado uma slida porta de frro, torna-se, por razo do seu
contedo, um testemunho de um valor superior a qualquer
prova em contrrio.
A negao da aco material nos trmos aqui supracitados,
constitui uma desculpa em sentido absoluto. Mas, pela negao
da aco, pode tambm verificar-se uma desculpa relativa, como
no caso de se afirmarem os factos principais, negando ao mesmo
tempo um facto acessrio constitutivo de uma circunstncia agra-
vante. A desculpa relativa constitui prpriamente o que, princi-
palmente sob o ponto de vista da forma, se chama confisso
qualificada, de que em seguida falaremos.
At aqui temos considerado o testemunho do acusado em
sua defesa emquanto aos modos por que se pode negar a aco
material criminosa, condio imprescindvel de todo o delito,
que contudo no muitas vezes seno uma das partes componen-
tes do que se chama elemento material do delito. A outra parte
componente, que nem sempre necessria, o evento material
que dle deriva. Ora, o acusado pode negar o elemento material
do delito, no emquanto aco, mas simplesmente emquanto
ao facto que se lhe imputa.
Mesmo afirmando ter praticado a aco material imputada,
pode o argido negar que dle se tenha seguido ura dado evento,.
quer porque se no tenha dado evento algum, quer porque se
tenha dado um evento menor.
A negao de todo o evento pode conduzir tanto no
imputabilidade, quanto menor imputabilidade; assim, tratan-
do-se de uma aco culposa imputada, a ausncia do evento anu-
laria tda a responsabilidade; tratando-se, ao contrrio, de aces
A Lgica das Provas em Matria Criminal 477
dolosas, a falta de evento ser, nos casos adequados, concilivel
com a menor responsabilidade do delito tentado ou frustrado.
A afirmao de um menor evento no conduz seno a uma
diminuio da responsabilidade.
Segue-se daqui que, nos crimes para cuja medida no
indiferente verificar-se o facto, o testemunho do argido afirmando
a prpria aco e negando, de qualquer forma, o facto, pode ser
desculpa em sentido absoluto ou em sentido relativo. Emquanto
descnlpa relativa, por negao ou reduo do facto, ela, como
tda a desculpa relativa, constitui prpriamente algum dos casos
da confisso qualificada. Emquanto, pois, desculpa absoluta por
negao do facto juntamente com a afirmao da aco,
comquanto essa desculpa substncialmente no seja desculpa
seno em sentido absoluto, coratudo sob o ponto de vista da
forma, consistindo na afirmao de alguns elementos e na nega-
o de outros da acusao, considera-se tambm como caso de
confisso qualificada.
Passemos agora ao testemunho em desculpa do acusado, que
tenha por contedo a negao do elemento moral do delito.
A negao do elemento moral, ligada afirmao do ele-
mento material do delito, pode conduzir tanto a uma discrimina-
o completa, como a uma reduo de imputabilidade, consti-
tuindo, portanto, uma desculpa absoluta ou relativa. Com respeito
aos casos de desculpa relativa, dissemos j que les se resolviam
prpriamente em casos de confisso qualificada. Quanto aos casos
de desculpa absoluta, diremos tambm que, comquanto sob o
ponto de vista da substncia no sejam prpria e exclusivamente
uma descnlpa, comtudo sob o ponto de vista da forma, achan-do-
se a negao do elemento moral ligada afirmao do elemento
material, consideram-se tambm como casos de confisso qualifi-
cada, como veremos em particular no seu lugar prprio. Agora
consideramos a negao do elemento moral emquanto substancial-
mente desculpa, quer absoluta, quer relativa.
necessrio principiar por observar que. o elemento moral
do delito , le tambm, o complexo de dois componentes, um
subjectivo e o outro objectivo. O primeiro consiste na inteno
478 A Lgica das Provas em Matria Criminal
criminosa, isto , na inteno de violar o direito; o segundo no
direito violado ou que se tentou violar.
Emquanto inteno criminosa, pode negar-se a sua exis-
tncia, tanto como simples facto, como por falta de liberdade
de escolha, ou por jalta de conscincia, no sujeito da aco.
Relativamente primeira hiptese, esta verifica-se tanto ale-
gando a ausncia de tda a inteno criminosa, como por exemplo
afirmando que a arma se disparou involuntriamente, quanto ale-
gando uma inteno menos criminosa, como, por exemplo, afir-
mando ter querido ferir, e no matar. Tanto em um como noutro
caso, nesta primeira hiptese nega-se ter-se querido fazer o que
se fz, nega-se a existncia da inteno como facto.
A segunda hiptese, que a da negao da liberdade de
escolha, verifica-se quando se afirma a aco potente de um motivo
que exerceu violncia sbre o esprito humano, a aco de um
motivo que vinculou a liberdade, aquela liberdade de escolha sem
a qual no existe inteno criminosa. Segundo a diversa fra
do motivo, assim pode le excluir tda a inteno criminosa, ou
reduzi-la, constituindo, assim, uma desculpa absoluta ou rela-
tiva. ste motivo externo, que exclui ou reduz a fra da inten-
o imputvel, 6 um facto positivo que smente a sua enunciao
por parte do argido no basta para o tornar certo aos juzes.
Bastar simplesmente a sua verosimilhana, na falta de valiosas
provas em contrrio, para o fazer admitir; mas, em face de pro-
vas contrrias, no basta que o argido se limite a afirmar a
existncia do motivo, para que le se admita.
Mas, quanto inteno criminosa, alm de se poder negar
a sua existncia de facto, alm de se poder negar a sua natureza
criminosa por falta de liberdade de escolha, defeito da vontade,
pode negar-se tambm a sua natureza criminosa por falta de
conscincia, defeito da inteligncia: e eis aqui a terceira hiptese
da negao da inteno criminosa.
O defeito da inteligncia, resolvendo-se em falta de cons-
cincia, pode ter lugar devido a uma causa fisiolgica, isto ,
por defeito ou alterao do organismo fsico, como pelo sonam-
bulismo ou pela loucura; e pode ter lugar por uma causa ideo-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 479
lgica, isto , por uma falsa noo do esprito, por um rro de
percepo, noutros trmos, sbre a natureza do facto a respeito do
qual se foi chamado a responder.
O acusado pode dizer: no tive conscincia do facto que me'
imputara, como tendo sido cometido por mim naquela dada noite,
visto ter bebido demasiadamente. E afirma, assim, uma causa
fisiolgica que exclui a inteno. O acusado pode tambm dizer:
no nego o facto que me imputam, mas no tive conscincia da
sua criminalidade, porque me achava em rro ssencial, isto ,
possua uma falsa noo do facto, de natureza tal que se fsse
verdadeira, desapareceria a sua criminalidade. E affirma, assim,
uma causa ideolgica, exclusiva da criminalidade da inteno.
O defeito de inteligncia, assim afirmado, pode resolver-se-
no na falta, mas no enfraquecimento da conscincia, constituindo
assim, no uma desculpa absoluta, mas uma desculpa relativa,
como quando se tratasse, no de verdadeira embriaguez, mas de
sbreexcitao produzida pelo vinho, ou se tratasse de um rro de
facto ssencial sim, mas vencvel, pelo qual no destruda tda a
imputao, mas em que imputao de dolo se substitui a
desculpa
1
.
Mas a inteno de negar a existncia de que temos falado at
aqui, no , como dissemos, seno um dos dois componentes do
que constitui o elemento moral do crime; o outro componente
consiste no direito violado ou ameaado. Ora, o acusado pode
negar o elemento moral criminoso tanto nste segundo componente,
como no primeiro.
Sem um direito violvel pela aco, no pode haver delito.
Uma aco s imputvel, quando viola ou ameaa violar um
direito que deve respeitar-se. Abstra da contradio com um
direito a respeitar, e a aco humana, seja qual fr, sempre
juridicamente lcita, por isso que apoiada pelo prprio direito de
obrar pela forma por que se obrou. O testemunho do argido
1
A respeito da teoria do rro em relao imputao, veja-se
260, Programa, Carrara.
480 A Lgica das Provas em Matria Criminal
desculpando-se pode tambm, conseguintemente, consistir na afir-
mao do prprio direito a praticar aquela aco que se imputa
como criminosa; pode o acusado, comquauto afirmando a prpria
aco, afirmar ao mesmo tempo o prprio direito; pode declarar:
feci, sed jure feci.
Ticio acusado de homicdio. No nega ter morto, mas diz
ter morto porque fra agredido e em legtima defesa da sua
vida: afirma a prevalncia do seu direito sbre o direito que se
diz violado; e isto, por motivo de um facto positivo externo que
torna legtima a sua reaco. Caio acusado de furto. No nega
o facto de se ter apoderado da coisa, mas afirma faltar a condi-
o de a coisa ser alheia: afirma, por outros trmos, a ausncia
de direito violvel pela sua aco, e conseguintemente o direito
prprio de fazer o que se fz. Semprnio acusado de bigamia.
No nega o matrimnio, que matria da acusao, mas afirma
a nulidade do primeiro casamento, e conseguintemente afirma a
ausncia de direito violvel, e o seu consequente direito em
fazer o que fz. Em todos stes casos o argido, embora admita
a aco material que lhe imputada, desculpa-se afirmando ao
mesmo tempo o seu direito a obrar, pela inexistncia ou pela
subordinao do direito violvel; diz: feci, sed jure feci. E a
existncia de um direito, violvel pela aco material, to
ssencial sua imputao, que mesmo quando, obrando, existisse
tda a inteno de violar um direito, que se julgava existente;
nem por isso, se o direito realmente no existia, a aco fica
sempre sem imputao. Pode, conseguintemente o acusado des-
culpar-se, negando a existncia real dsse direito, que le pr-
prio julgava existente no momento da sua aco; pode, admi-
tindo mesmo a prpria aco material, admitindo at mesmo a
prpria inteno, conservar-se sem imputao pela ausncia real
de direito violvel. Ticio, passeando, encontra stendido, sbre
uma rocha a pique sbre o mar, Caio, seu inimigo figadal; julga-o
dormindo, e com inteno homicida, aproxima-se dle sorratei-
ramente, e, atirando-lhe um violento e sbito empurro, preci-
pita-o ao mar. Caio, ao contrrio, no estava dormindo; estava
morto; admitamos tambm, porque j havia sido morto por
A Lgica das Provas em Matria Criminal 481
outros, quando foi lanado ao mar. Ticio deu por isso, ou soube-o
depois, e afirma-o no seu testemunho, afirmando, contudo, a sua
aco homicida. Pois bem, ste testemunho uma desculpa para
a substncia, se bem que, contudo, quanto forma, entre na
noo de confisso qualificada.
At aqui temos considerado o testemunho do argido como
desculpa destinada, como a um fim imediato, a negar o delito no
seu elemento material ou moral: por outros trmos, consideramos
o testemunho desculpaute do acusado emquanto descri-minante
1
;
isto , emquanto uma desculpa directa.
Mas o testemunho do argido pode ser desculpante tambm
indirectamente, no se dirigindo, como a um fim imediato, a
negar o delito, mas dirigindo-se mediatamente a desacreditar as
provas da acusao. O testemunho do argido no , nste caso,
uma prova discriminatria, mas sim uma prova infirma-tiva da
acusao: uma desculpa indirecta. Para os fins da defesa, basta,
para vencer, a deficincia de provas de acusao, no podendo
condenar-se seno quando exista a certeza plena da criminalidade; e
por isso a desculpa, conquanto indirecta, tem tda a sua eficcia
jurdica.
intil entrar em maiores detalhes. Depois de considerada a
natureza especfica do testemunho em desculpa do acusado, e de
mencionados os seus vrios contedos possveis, concluiremos
fazendo uma observao de ndole geral.
O testemunho do acusado, conquanto seja uma desculpa
directa ou indirecta, tem sempre direito mxima ateno e ao
respeito do magistrado. necessrio no esquecer que na pessoa
do acusado que fala, alm de uma tstemunha, encontra-se nle
um cidado cuja liberdade sagrada, um acusado cuja inocncia
se deve presumir, emquanto as provas o no demonstrem com
certeza ru. necessrio no esquecer que, em juzo penal, o
intersse da sociedade no o de fazer com que a pena do crime
sucedido recaia sbre uma cabea qualquer, o
1
Veja-se o eap. iii da Parte ii: Classificao da provas derivada dos
seus fins especiais. 31
482 A Lgica das Provas em Matria Criminal
intersse da sociedade que se puna o verdadeiro delinqente.
E necessrio no esquecer que mil vezes prefervel a absolvi-
o do ru, condenao de um inocente. Seria bastante uma
s condenao de um inocente para perturbar a tranquilidade
social: s pela condenao de um inocente, todo o cidado
honesto se sentiria ameaado, em vez de protegido, pelas leia
sociais. O magistrado dever portanto ouvir as desculpas do
acusado com o esprito livre de qualquer preocupao, e de qual-
quer juzo antecipado: dever ouvi-las com a mais escrupulosa
ateno, sem se deixar arrastar a intrrogaes precipitadas, ligei-
ras, ou hostis, que revelem nle uma convico preestabelecida
contra o acusado. O magistrado no deve deixar transparecer
imprudentemente o seu juzo, por meio de sorrisos desdenhosos e
irnicos, com movimentos de cabea, com atitudes da sua pessoa;
coisas tdas elas que perturbam o esprito do acusado que se
desculpa, fazendo-lbe ver na pessoa de quem intrroga, no um
juiz imparcial, mas um inimigo que o quer perder. O juiz deve
conservar-se calmo e sereno, como a prpria justia; o seu pri-
meiro dever a pacincia, porque como dizia Plnio, para magna
justitiae est. Quando, com calma e ateno, o magistrado tenha
ouvido as desculpas do argido; quando, com serenidade e sem
perturbao lhe tenham sido dirigidas tdas as intrrogaes
aconselhadas em intersse da verdade; ento, passar a avaliar
ponderadamente a sua palavra tstemunhal, recorrendo a todos
os critrios de avaliao aplicveis espcie; critrios subjecti-
vos, critrios formais e critrios objectivos, por ns j anterior-
mente desenvolvidos, e que servem para apreciar com rectido
qualquer testemunho.
Pargrafo 2. do Titulo 3. CONFISSO
O facto de trmos falado anteriormente com uma certa lar-
gueza a respeito do testemunho do argido em geral, torna-nos
agora mais fcil o estudo daquele testemunho particular do
argido, que se denomina confisso: bastar-nos h a ste respeito
um rpido esbo, sob a luz das teorias j expostas.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 483
No se haver considerado a confisso sob o sen verdadeiro
ponto de vista, isto , como uma subespcie do testemunho do
acusado, levou, j o dissemos, a fazer com que ela fsse conside-
rada como uma prova sui generis e privilegiada. Considerada,
pois, como uma prova sui generis e privilegiada, segue-se natu-
ralmente tambm, que emquanto alguns teem exagerado o valor
probatrio da confisso, outros, ao contrrio, teem-lhe negado
todo o valor de prova. Isto demonstra como as questes de m-
todo scientfico no so questes acadmicas, no so superflui-
dades de tratados e insignificncias desprezveis. A ordem das
ideias, reflectida no mtodo do estudo, o que coloca os proble-
mas scientficos sob a sua verdadeira luz, guiando sua resoluo
por uma forma exacta e perspicaz.
Aqules que, por considerarem a confisso como prova pri-
vilegiada, foram arrastados a exagerar o seu valor, chegando
mesmo a declar-la necessriamente decisiva em juzo penal,
apoiaram-se em critrios de provas civis, sem pensarem em que a
matria do juzo substancialmente diversa no cvel e no crime.
Que em juzo civil o que confessado se tenha por jul-gado,
lgico e natural, no tanto por razes probatrias, quanto por
razes jurdicas, inerentes matria das controvrsias. Tra-ta-se
de direitos privados e alienveis, de que o cidado pode sempre
dispor; e uma sua confisso judicial, mesmo que no tenha o
valor de testemunho conducente certeza, tem sempre valor
como declarao de vontade, capaz de atribuir direitos parte
contrria, ou de a eximir de obrigaes; e portanto tem sempre
valor para terminar a controvrsia, e o juzo relativo. O cidado
senhor dos seus intersses pecunirios, e pode por isso, mesmo
com uma confisso no verdadeira, reconhecer as pretenses da
parte contrria, renunciando a direitos prprios, ainda que sejam
evidentes. Compreende-se portanto claramente porque que em
matria civil seja verdadeira a mxima de que o confessado deve
ser tido como julgado.
Mas j assim no no juzo criminal, onde entram em jogo
direitos sagrados tambm na pessoa daquele que, despresando-os,
quissse deit-los fora com uma falsa confisso. A justia penal
484 A Lgica das Provas em Matria Criminal
no atinge o seu fim, ferindo um bode expiatrio qualquer; -lhe
necessrio o verdadeiro delinqente, para que a sua aco seja
legtima. Sem a certeza da criminalidade, ainda que haja o acrdo
do acusado, a condenao seria sempre monstruosa, e perturbaria a
conscincia social mais que qualquer delito. Ora, no inspirando
tda a confisso a certeza da criminalidade, segue-se que a
mxima confessus pro judicato hatetur, sempre boa em matria
civil, rejeitada em matria criminal.
Mas se no teem razo os que quiseram atribuir em matria
penal um valor infalivelmente decisivo confisso, tambm a no
teem os que lhe quiseram negar todo o valor de prova em juzo
penal. O argumento apresentado por stes ltimos a falta de
naturalidade da confisso; argumento cuja inanidade j vimos.
verdade que, geralmente falando, conscincia humana repugna
acusar-se; mas para que esta repugnncia possa levar a concluir pela
negao de todo o valor probatrio da confisso, necessrio que
seja absoluta e invencvel. S ento, dada uma confisso, poder ela
atrbuir-se lgicamente demncia, e conseguinte-mente julgar-se
falsa; s ento haver razo para rejeitar a con- fisso do campo
das provas; s ento poder passar por argumento lgico a tirada
oratria de Quintiliano: ea natura est omnis confessionis, ut possit
videri demens qui de se confitetur. Mas isto no assim. Ao
mesmo tempo que admitimos que em geral repugna acusar-se a si
prprio, negamos que repugna absoluta e invenclvelmente, de forma
a autorizar que se julgue falsa tda a confisso. Negamo-lo em
primeiro lugar por consideraes psicolgicas; porquanto se na
conscincia humana existe um motivo genrico que se ope
confisso, motivos h tambm especficos contrrios, que, em casos
particulares, impelem a confessar, vencendo aquele motivo genrico
que se lhe ope, como melhor veremos em seguida. E estas
consideraes psicolgicas so alm disso larga e brilhantemente
confirmadas pelos factos: em face da afirmao de que tda a
confisso se deve considerar falsa, existe o facto contrrio de
mil confisses, em que a verdade do seu contedo tem sido
verificada em mil julgamentos. O argumento, portanto extrado da
repugnncia do esprito humano a
A Lgica das Provas em Matria Criminal 485
acusar-se, no tem valor para repelir a confisso do campo das
provas.
Muito menor valor teem, pois, os outros argumentos que
com o mesmo fim teem sido apresentados, derivando-os de uma
filantrpica retrica e de um cavalheirismo mal entendido, que
no teem direito a tomar lugar entre as questes scientficas. Se
me no engano, o suco de tdas as dissertaes retricas em
favor da tese por ns combatida, reduz-se, mais ou menos, a isto:
o juzo penal um duelo judicirio entre acusador e acusado;
ora, o acusado que confessa, um combatente desarmado, contra
que no permitido investir, abusando da sua fraqueza; a pala
vra do acusado destinada a aparar os golpes da acusao, e
no pode, sem que se cometa uma barbaridade, voltar-se contra
o seu peito a sua prpria arma: le acba-se em juzo para se
defender, e no para se acusar, e por isso a sua confisso, quando
tem lugar, no deve pesar sbre le.
Como se v, tudo isto uma retrica armada no ar. Con-
sidere-se embora o juzo penal como um duelo entre acusador e
acusado; mas no se esquea que les no esto a a bater-se por
uma sua questo particular, para que seja conveniente e belo, no
s no aproveitar a fraqueza do adversrio, mas at o perdo sem
o temor da ofensa recebida. O caso bem diferente. Aqui
encontram-se em jgo intersses pblicos superiores s pessoas
dos combatentes, e que se lhes impem. Se o acusado est
inocente, o intersse supremo da sociedade que le seja
absolvido; e ste intersse social da absolvio do inocente no
s se no subordina vontade do acusador, como tambm no ,
que, suponhamos, contrria, do prprio acusado. Se o acusado
culpado, intersse supremo da sociedade que le seja conde-
nado, e ste intersse social da condenao do ru no s se no
pode subordinar vontade do acusado, como tambm no , que,
suponhamos, contrria, do prprio acusador. O juzo penal ,
conseguintemente, dominado e legitimado por um intersse social
supremo, e insubordinvel a qualquer outro; intersse supremo
que se concretiza na absolvio do inocente e na condenao do
culpado. Conseguintemente, o fim supremo e no derogvel de
486 A Lgica das Provas em Matria Criminal
todo o juzo penal a descoberta e a verificao da verdade
emquanto acusao. E por isso esta verdade, venha de onde
vier, venha mesmo de provas reais, ou da voz de terceiro, do ofen-
dido, ou do prprio acusado, deve sempre impr-se ao esprito doa
julgadores, por um intersse pblico supremo, a que les se no
podem escusar, sem ofender a justia, de que so representantes.
Do momento em que se reconhece ser fim supremo do juzo
penal a descoberta da verdade no intersse da sociedade, no
pode negar-se j o valor de prova confisso. E isto explica
como que as diferenas do sistema processual, conforme se
dirige mais ou menos ao fim da descoberta da verdade no inte-
rss
e social, tenham o seu influxo na diversa resoluo do problema
que examinamos. No sistema acusatrio puro tem-se sido mais
fcilmente conduzido a negar o valor de prova confisso, por
isso que, nste sistema, acusador e acusado se acham em face
um do outro, cada um para apresentar provas contrrias
afirmao do adversrio: tomando o debate o aspecto de uma
luta entre os dois indivduos, de um duelo judicirio entre acusa-
dor e acusado, repugna tirar argumento de condenao das pr-
prias palavras do acusado. J assim no no sistema inquisitrio,
que baseado no j na ideia de um duelo entre acusador e
acusado, mas, por um modo mais determinado, na ideia superior
da investigao da verdade, seja qual fr o intersse da sociedade.
De resto, a diferena de sistema processual explica, como um
facto, a diferena de valor dado confisso, mas no a justifica;
porque em qualquer sistema, por um princpio superior a todo o
processo positivo, o fim supremo de todo o juzo peual deve ser
sempre a verificao da verdade objectiva.
Concluindo, se no h razo para se exagerar o valor da
confisso com a mxima confessus pro judicato habetur, tambm
a no h para no querer reconhecer-lhe valor algum de prova.
A confisso, como qualquer outro testemunho, presume-se
verdica em abstracto; e avalia-se em concreto, segundo as con-
dies particulares subjectivas, formais e objectivas, em que se
realiza.
Julgo conveniente principiar por demonstrar o fundamento
A Lgica das Provas em Matria Criminal 487
lgico da presuno de veracidade, presuno que dissemos res-
peitar confisso em geral, para passar em seguida a mencionar
os critrios da sua avaliao concreta.
Para ver se a confisso respeita lgicamente presuno
de veracidade, como afirmamos, on presuno de falsidade,
como afirmaram aqules que pretendem rejeit-la do campo das
provas, necessrio verificar quais so e de que natureza Po os
impulsos que impelem falsa confisso, e quais so e de que
natureza so os impulsos que impelem confisso verdadeira..
Procedamos a ste exame.
O que que decide um acusado a mentir contra si prprio?
a prestar uma confisso falsa, sabendo mesmo que esta sua con-
fisso o levar a sofrer uma pena no merecida? Examinai as
hipteses, e vereis que nunca vos encontrais perante uma razo
ordinria, que leve a confessar-se culpado de um crime no come-
tido. falsa confisso s poder explicar-se por motivos parti
culares extraordinrios, que actuam sbre o esprito do acusado
com maior fra do que a sua repugnncia pela pena.
Deixemos de parte os casos de falsa confisso, referentes
hiptese da prpria pessoa que confessa se enganar, como seria o
caso de um monomanaco que se acuse de um crime, que nas
alucinaes do seu esprito cr ter cometido; como seria tambm
o caso de uma me que, tendo julgado vivo o seu filho, e tendo-o
lanado ao mar, vem depois acusar-se de ter morto o seu filho, e
isto rroneamente, porquanto a criana, na realidade, j estava
morta, e a me nos espasmos e na perturbao do parto se enga-
nara julgando-a viva. Deixemos de parte stes rros subjectivos,
extraordinrios, da pessoa que faz a confisso, que podem veri-
ficar-se da parte de qualquer outra tstemunha: no sob ste
ponto de vista que pode sustentar-se dever presumir-se falsa a
confisso. Consideremos, antes, os possveis casos de vontade de
enganar da parte do acusado, procedendo com exemplos.
Ticio trado e desonrado por sua mulher. Exposto ao escr-
neo de todos, sente profundamente o seu aviltamento, e arde em
vingar-se; mas no se acha com coragem nem com fras para
isso. O acaso quis que o adltero fsse encontrado morto. Ticio
488 A Lgica das Provas em Matria Criminal
recolhe no seu blso a bala, e, no desejo de se reabilitar na
estima dos seus escarnecedores, acusa-se falsamente como autor
do homicdio; julga melhor sofrer uma pena judicial, que ser o
ludbrio da sociedade. Como se v, o motivo que impelia a esta
falsa confisso, um motivo que no ordinrio.
Outro exemplo: Ticio, um grande senhor, odeia Caio; e uma
noite fere-o pelas costa e foge sem ser reconhecido. Temendo ser
descoberto pela sua conhecida inimizade com o ferido, chama
Semprnio, que um pobre diabo, e promete-lhe uma importante
quantia, suficiente para viver descanado o resto de seus dias,
caso le se acuse daquele ferimento. Semprnio aceita, e apre-
senta-se em juzo, com uma falsa confisso. Esta confisso tam-
bm devida a um motivo extraordinrio.
Outro exemplo ainda: Ticio, tendo cometido em tal dia,
a tal hora, em tal stio, um grave crime, apresenta-se em juzo
acusando-se de um pequeno delito, cometido quela hora e naquele
dia em um local diverso, afim de procurar com a condenao um
documento justificativo do seu alibi, que o salve da possvel
acusao do crime grave. Esta falsa confisso, como qualquer
outra, determinada por um motivo extraordinrio.
Um ltimo exemplo: O inverno spero, e Ticio to mise-
rvel que no tem um telhado em que se abrigar, fato para se
cobrir, nem po para matar a fome. Que fazer? Apresenta-se
perante os juzes e acusa-se de um leve crime, que no cometeu,
pensando que a condenao, a alguns meses de crcere, lhe dar
abrigo, fato e po. Confisso falsa, determinada por um motivo
extraordinrio, como sempre.
E poderamos continuar; mas julgamos que os exemplos pre-
cedentes bastam para demonstrar qual a natureza dos motivos
que podem levar a uma confisso falsa: so motivos que se con-
cretizam sempre em condies particulares e anormais de quem
confessa. Ainda que se multipliquem tanto quanto se queira as
hipteses das falsas confisses; encontrar-se ho sempre, como
causa e razo delas, motivos extraordinrios.
Vejamos agora qual a natureza dos impulsos que levam
confisso verdica.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 489
Em primeiro lugar, do mesmo modo que para o testemunho
falso, assim tambm, conquanto em maior proporo, existem
impulsos extraordinrios que podem arrastar ao testemunho ver-
dico. Para se reabilitar perante os escarnecedores, o marido atrai-
oado no s poder ser levado a fingir-se autor do assassinato do
adltero, mas, no caso de ter sido realmente o homicida, ser
tambm impelido a confessar a verdade do seu crime. Por isso,
em todos os casos em que o crime se apresenta conscincia do
acusado como uma aco mais para louvar, do que criminosa, le
poder ser arrastado a fazer a verdadeira confisso do crime, na
convico de que, a despeito da pena legal em que incorre,
ganhar a aprovao da sociedade. Pode dar-se tambm o caso de
que um esprito nobre seja levado a confessar o prprio crime, para
salvar um inocente que corre o risco de ser condenado. Pode
suceder mesmo que um esprito profundamente perverso seja levado
a confessar o prprio crime por vaidade, direi assim, de ofcio,
para ganhar a estima dos seus bons companheiros no crime. E
assim por diante.
Mas examinar os impulsos extraordinrios que podem con-
duzir confisso verdadeira, um trabalho vo, que no traz
conseqncia alguma em favor da presuno de veracidade da
confisso: a existncia de motivos extraordinrios tanto para a
confisso falsa como para a verdadeira, no faz mais do que
estabelecer a igual credibilidade de uma e de outra hiptese.
O que resolve a questo em favor da presuno de veraci-
dade, a existncia de motivos ordinrios, que impilam con-
fisso verdica. E na realidade, o maior nmero de confisses ver-
dicas devido precisamente aos motivos ordinrios, que actuam
sbre o esprito humano, impelindo-o a no ocultar o prprio
crime. Mencionemos dentre stes motivos os que nos parecem ser
mais importantes:
1. No esprito humano existe sempre um instinto de vera-
cidade que se ope mentira; e muitas vezes ste instinto, coad-
juvado pelo remorso do delito cometido, torna-se irresistvel,
vencendo a fra do intersse contrrio que arrastaria mentira; e
teem-se ento confisses verdadeiras.
490 A Lgica das Provas em Matria Criminal
2. No esprito do delinqente tem lugar qusi sempre uma
espcie de perturbao psicolgica, ao recordar o prprio crime;
e esta perturbao aumentada com a perseguio de um intr-
ro
gatrio bem encaminhado, tira muitssimas vezes ao acusado a
calma necessria para atender ao prprio intersse, mentindo. E
necessrio no esquecer que a mentira 6 filha da reflexo, e
que ela s funciona bem no estado de calma: o acusado comea
muita vez por se trair, e termina por confessar o seu crime.
3. No esprito de todo o acusado existe sempre o receio
de, com o desesenrolar-se do julgamento, ser atingido por provas
aliunde, e conseguintemente a esperana de melhorar a sua con-
dio principiando por confessar le prprio.
4. E ste impulso para a verdadeira confisso do prprio
delito, por isso maior, quando o acusado no teme smente as
provas futuras, mas se sente j perseguido por provas presentes
tais, que tornem intil tda a mentira. le sente ento que lhe
no resta outro caminho a seguir seno o de dispor bem o esprito
dos julgadores, que o da confisso verdadeira; e confessa. Eis
aqui, se me no engano, os principais impulsos ordinrios, que
impelam confisso verdica do crime prprio.
Concluamos: dste rpido exame dos impulsos que podem
conduzir a uma confisso falsa, e dos impulsos que podem con-
duzir a uma confisso verdica, resulta que para determinar a
primeira no entram em aco seno os impulsos extraordin-
rios, e para determinar a segunda, alm dos impulsos extraordi-
nrios, existem impulsos ordinrios, que actuam sbre o esprito
do acusado. Ora como, entre uma hiptese extraordinria e uma
hiptese ordinria, sempre esta que se presume, torna-se por
isso claro porque que em geral se atribui a presuno de vera-
cidade confisso.
Esta nossa afirmao, de que ordinriamente os impulsos do
esprito no levam seno verdadeira confisso, , por isso, lumi-
nosa e incontestvelmente provada tambm pelos factos: perante
as mil confisses cuja veracidade foi judicialmente comprovada,
s se encontraro pouqussimas confisses, cuja falsidade, ao con-
trrio, se verifica.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
491
Isto emquanto presuno de veracidade, presuno que
serve apenas para dar o baptismo de prova confisso, fazendo-a
aceitar, como fonte ordinria de verdade e de certeza, no juzo
penal. Mas esta presuno j no serve para determinar a f
devida em concreto a uma confisso particular. Para a determinar
necessrio avali-la em concreto, com todos os critrios
subjectivos, formais e objectivos, que desenvolvemos a propsito
de testemunho em geral, e que resumimos a propsito, do teste
munh
o do acusado em especial. Quanto a stes critrios de avaliao,
relativamente em particular confisso, que simplesmente uma
subespcie do testemunho do acusado, basta agora fazer-lhes uma
rpida referncia, podendo para o seu desenvolvimento recorrer-se
ao que escrevemos anteriormente.
Emquanto aos critrios subjectivos de avaliao da confis-
so, compreende-se fcilmente que tda a vez que na pessoa que
confessa se encontra uma condio que faa pensar que ela se
engana, ou que queira enganar, a sua confisso perde o valor,
mais ou menos segundo os casos.
Poder-se b acaso depositar alguma f no mentecapto, que
confessa um delito? Poder-se b acaso dar alguma f confisso
de um cego ou de um surdo, que refiram coisas vistas e ouvidas?
E como a privao da inteligncia e dos sentidos destri tda a f
na confisso, assim a sua fraqueza diminui-lhe tambm a f. Isto
emquanto hiptese do rro da parte de quem confessa.
Emquanto, pois, hiptese de possvel vontade de enganar,
sempre que se verifique a concretizao de uma daquelas cir-
cunstncias particulares que revelam na pessoa qu confessa uma
possvel razo de prestar uma confisso falsa, compreende-se que
fique infirmada a f nessa confisso. Assim, se, no exemplo j
apresentado, um marido trado pela mulher, alvo do escrneo de
todos, e incapaz de se vingar por fraqueza fsica, achando-se um
dia assassinado o adltero, se apresenta espontneamente em
juzo confessando-se autor do homicdio, nascer naturalmente a
suspeita de que le possa mentir por vaidade; suspeita que deve
ser avaliada, atendendo ndole de quem confessa e s
492 A Lgica das Provas em Matria Criminal
suas particulares condies de esprito. Assim tambm, se, achan-
do-se um rico senhor envolvido em um processo por um leve
delito, se apresenta de sbito em juzo acusando-se espontnea-
mente autor nico daquele delito um pobre diabo, nascer natu-
ralmente a suspeita de que essa confisso tenha sido motivada
por promessas pecunirias, e que por isso seja falsa. E assim por
diante. Mas necessrio observar que as circunstncias anterior-
mente expostas e as anlogas, que tornam suspeita a confisso
revelando na pessoa que confessa a possvel vontade de ser tomado
como culpado ainda que inocente, assume uma grande eficcia
infirmativa devido espontaneidade de quem confessa; a simples
espontaneidade, faz pensar, s por si, em um intersse particular
qualquer, que levou aquele que confessa a acusar-se, no tendo
sido chamado a juzo.
Os exemplos que apresentamos referem-se a uma possvel
razo que leva mentira por vantagem prpria; mas pode
haver casos, em que a suspeita contra a veracidade da confisso
surja tambm da ideia da vantagem alheia. Assim, se uma me
que se encontra no banco dos rus, no podesse, pelas circuns-
tncias particulares do facto, desculpar-se sem acusar seu filho,
ou, vice-versa, se um filho no podesse desculpar-se sem acusar
sua me, a confisso da primeira, e a do segundo, perdero parte
do seu valor probatrio
Concluindo, sempre que na pessoa que confessa se encontra
uma condio, que leve a crr que ela se engana, ou que quer
enganar, a sua confisso perde o seu valor, por razes subjectivas.
Emquanto aos critrios formais de avaliao, tambm les
se aplicam confisso, como a qualquer outro testemunho. Tdas
as exteriorizaes formais que directa ou indirectamente servem
para revelar o esprito de quem confessa, servem por isso para
fazer acreditar ou desacreditar a confisso. Assim a linguagem
em que se faz a confisso, a linguagem como manifestao directa
do pensamento de quem confessa, aumentar tanto mais o valor
confisso, quanto mais precisa fr; a falta de preciso diminuir--
lhe h o valor: a preciso de linguagem resolve-se em uma
univocidade do contedo da confisso, dando confisso uma
A Lgica das Provas em Matria Criminal 493
eficcia probatria. Assim, pois, o mesmo discurso da confisso,
quando reflecte, ao contrrio, as secretas disposies do esprito
de quem confessa, esclarecer indirectamente sbre a sua vera-
cidade, fazendo crescer ou diminuir a f nle. Assim, finalmente,
a atitude pessoal de quem confessa, ser outra exterioridade for-
mal, que indirectamente acreditar ou desacreditar a sua con-
fisso. Veem em seguida as formalidades a que se atende para a
avaliao da confisso, visto serem consideradas como protecto-
ras da verdade. E relativamente a estas formalidades, compreen-
de-se como se deva ser mais escrupuloso em exigi-las e avali-las
em matria de confisso, pela sua particular importncia pro-
batria.
Assim, comquanto possa atribuir-se uma grande importncia
probatria confisso judicial, isto , feita em debate pblico, e
quasi-judicial, isto , feita perante o juiz instrutor competente,
no poder contudo atribuir-se seno um valor mnimo
confisso prpriamente extrajudicial. Expuzemos em outro lugar
as razes disto: no necessrio repeti-las aqui. Ser, por isso,
importante atender natureza do intrrogatrio, para a prpria
avaliao da confisso. Uma confisso que parece derivar de uma
sugesto ilcita do inquirente perderia todo o seu valor: a con-
fisso deve ser espontnea, e no extorquida insidiosamente ou
por meio de violncia.
Em geral, a f na confisso ser aumentada pela observncia
de tdas aquelas formalidades que se consideram como protectoras
da verdade, e ser enfraquecida pela sua inobservncia.
Finalmente, os critrios objectivos de avaliao tambm so
os mesmos que, como em qualquer outro testemunho, se aplicam
em particular confisso. Basta record-los, visto j terem sido
expostos e aconselhados em outro lugar:
1. A incredibilidade das coisas narradas tira tda a f
confisso, e a sua inverosimilhana diminui-lhe grandemente a
f. Para que a confisso tenha eficcia probatria, alm de ser
crvel em sentido genrico, necessrio tambm que seja
verosmil.
2. A natureza normalmente enganadora, ou no engana-
494 A Lgica das Provas em Matria Criminal
dora, dos factos afirmados na confisso, outro critrio objectivo
que reala ou abaixa a sua f.
3. A confisso s pode ter eficcia de prova quando tenha
contedo afirmativo. Qnanto mais dubitativo se apresenta o
o contedo da confisso, tanto menos valor probatrio ter.
4. A confisso no deve ser contraditria em si mesma;
tendo um contedo contraditrio, perde mais ou menos f,
segundo a natureza dos factos sbre que recai a contradio, e
em relao a sses mesmos critrios que expuzemos a propsito
da avaliao objectiva do testemunho em geral.
5. A confisso ter tanto mais valor, quanto maior fr a
sua preciso na afirmao dos factos; e tanto menor, quanto
menos determinada fr. A confisso, por outros trmos, tanto
mais eficaz, quanto mais detalhada fr.
6. A confisso no tem eficcia probatria, seno quanto
aos factos relativamente aos quais o que confessa d, como se
diz, a causa da prpria scincia.
7. A confisso tem maior eficcia probatria relativa-
mente aos factos afirmados por scincia prpria, que relativa-
mente aos afirmados por ouvir dizer.
8. Os critrios precedentes referem-se confisso consi
derada em si mesma; mas a confisso pode adquirir ou perder
valor mesmo pela considerao do seu contedo em relao ao
contedo de outro testemunho, quer do prprio acusado quer de
outra testemunho.
Emquanto considerao da confisso em relao a outras
declaraes da prpria pessoa que confessa, compreende-se
que a contradio entre as vrias afirmaes do acusado, diminua
grandemente o valor da confisso. A confisso tem tanto mais
eficcia probatria, quanto mais constante se apresenta.
Quando precedida ou seguida de uma declarao total ou
parcialmente contraditria, a sua f grandemente diminuda;
e a medida desta diminuio determinada pela maior ou
menor seriedade de razes que alega o prprio acusado, para
explicar a alterao posteriormente introduzida nas suas
afirmaes.
Eelativamente, pois, s declaraes, de outras tstemuhas,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 495
claro portanto que a confisso ter tanto mais valor quanto mais
se acordar com elas. No caso de contradio com outras
tstemunhas, a confisso perde parte do seu valor proporcional-
mente natureza dos factos sbre que recai a contradio ena ,
medida do valor probatrio concedido aos testemunhos contrrios,
conforme esclarecemos ao falar da avaliao do testemunho em
geral.
Concluindo, repitamos que para a avaliao concreta da
confisso, devem aplicar-se os mesmos critrios, subjectivos, for-
mais e objectivos, que expozemos a propsito de testemunho em
geral, e resumimos a propsito de testemunho do acusado em
especial.
Resulta de tudo isto que a medida da f merecida pela
confisso, como em qualquer outra prova, determinada pela
considerao dela prpria em concreto. A confisso s pode ter
legitimamente eficcia probatria no juzo penal, quando se tenha
acordado em que ela seja avaliada assim nas suas condies par-
ticulares, reais, e positivas, em que, concretamente, nasceu e se
desenvolveu. E por isso, sempre que se fala de confisso, como
prova de culpa, no pode tratar-se seno de uma confisso real,
explcita.
Querer considerar como confisses reais, confisses presu-
midas, desprezar todo o critrio da lgica criminal. No pode
falar-se de uma prova determinada sem a certeza da sua subjec-
tividade probatria; e por subjectividade probatria entendemos a
pessoa ou a coisa que atesta e a relativa afirmao; a prova pode
no ser certa emquanto ao seu sujeito, isto , emquanto realidade
da coisa provada, mas deve ser sempre inelutvelmente certa
emquanto realidade do sujeito e da sua afirmao; sem o que
absurdo falar de prova. Ora, quando se fala de provas presumidas
em geral, e de confisso presumida em especial, fala-se
precisamente de um sujeito probatrio no existente na realidade, e
que se pretende fazer actuar como prova, como se existisse; isto ,
fala-se de uma prova que no prova.
natureza de confisso presumida pertence aquela a que a
prtica chamou confisso tcita. Ticio transige com o ofendido :
496 A Lgica das Provas em Matria Criminal
a sua transaco uma confisso tcita, diro os tratadistas.
Oh, meu Deus! que tem a confisso com isto ? Que se queira, da
transaco com o ofendido a que o acusado desce, deduzir um
indicio de criminalidade, mais ou menos vlido segundo os casos,
contra le, compreende-se fcilmente; e ns falamos a respeito
dste indcio entre os indcios de efeito dos vestgios morais do
delito. Mas falar de confisso, onde ela no existe, um absurdo.
Vimos que o indcio deduzido da transaco com o ofendido,
um indcio derivado de um-facto do acusado, e concluiu-se, com
uma forma retrica inexacta, que a transaco uma confisso
tcita: mas a scincia tem obrigao de rejeitar desdenhosamente
tdas as inexactides que a retrica palavrosa procura introduzir
na sua linguagem. A confisso tcita uma confisso que no
existe: no uma confisso.
Outra presumida confisso aquela a que a prtica chama
fictcia. Tem-se querido ver uma confisso fictcia na contumcia
e no silncio do acusado; e chamando fictcia uma tal preten-
dida confisso, mostrou-se que se tratava de uma confisso que
no uma confisso, de uma confisso inexistente, que se consi-
derava como existente; e isto sempre em conseqncia de figuras
retricas, tomadas a srio, e transportadas despropositadamente
para a linguagem scientfica. Que o silncio do acusado, em
geral, e a sua contumcia em especial, podem constituir indcios
de criminalidade contra le, j o admitimos, e falamos dle a
propsito dos indcios de efeito dos vestgios morais do delito.
Mas que stes indcios, s porque derivam de facto do prprio
acusado, devam haver-se por confisso, uma inexactido ret-
rica, que se no desculpa na scincia. A confisso fictcia uma
confisso que realmente no existe; e portanto no confisso.
Repitamo-lo, para que a confisso seja reconhecida legitima-
mente como tal, deve ser verdadeira e no suposta, e esta ver-
dade da confisso concretiza-se na sua existncia real e expli-
cita: e portanto a que se chama confisso fictcia e a que se
denomina confisso tcita no so de modo algum confisses.
Concluindo, a confisso que genricamente considerada esta-
beleceu a presuno de veracidade, presuno que o seu ttulo
A Lgica das Provas em Matria Criminal 497
de admisso entre as provas; considerada individualmente, em
concreto, no pode ter valor seno quando se apresente por uma
forma real e explcita, e s pode ser exactamente avaliada levando
em conta as suas condies subjectivas, formais e objectivas.
Qualquer que seja o defeito de credibilidade da confisso,
ela s pode derivar de uma destas fontes: do sujeito, da forma, ou
do seu contedo. A confisso que apresenta um defeito de
credibilidade, seja qual for a sua natureza, uma prova defectiva;
como a confisso que no apresenta defeito algum, uma prova
clssica na sua espcie.
Ora, supondo que se apresenta em concreto uma confisso
clssica, isto , uma confisso sem defeito algum de credibilidade,
ter ela um valor probatrio ilimitado? No; tanto para a
confisso, como para qualquer outro testemunho, devem valer os
trs limites probatrios, da singularidade, do corpo de delito, e
das regras civis da prova.
Falando do testemunho do argido em geral, consideramos
j a racionalidade dstes trs limites, em relao confisso em
particular, e no por isso necessrio voltar novamente sbre esta
matria. Basta, agora, uma simples observao.
Emquanto ao limite da singularidade relativamente confis-
so, julgamos til observar que ste limite probatrio, conquanto
nenhum tratadista se tenha referido a le em especial, tem con-
tudo, sido expressamente admitido por todos, e at por uma forma
mais largamente compreensiva que a que nos parece exacta. Com
o limite da singularidade, relativamente confisso, no afirma-
mos seno isto: afirmamos que a confisso do acusado, como nica
prova indicadora dle como ru, no deve ser julgada como sufi-
ciente para produzir a legtima certeza. Ora, falando de confisso,
todos os tratadistas teem afirmado como imprescindvel, para poder
gerar a certeza, a condio de que ela se apresente revestida, e
no nua.
Por confisso revestida, no pode entender-se seno que uma
confisso deve encontrar a sua contraprova na circunstncia de
facto, e ser confirmada por esta. No entanto, as circunstncias
32
498 A Lgica das Provas em Matria Criminal
de facto que veem confirmar a confisso no so mais do que
provas que veem juntar-se confisso para aumentar o seu valor.
Dizendo, portanto, que a confisso, para produzir legtima cer-
teza, deve ser revestida, quer dizer-se, por outros termos, que a
confisso carece do auxlio de outras provas. Dizer que a confis-
so, simples, faz f plena qnando tem os requisitos da legitimi-
dade, e colocar ao mesmo tempo, entre as condies da sua legi-
timidade, a condio de que a confisso seja revestida, , nem
mais nem menos, do que jogar com palavras, confundindo as
ideias. Afirmar, genricamente, para a credibilidade da confisso,
que ela deve ser revestida, afirmar mais do que o que ns
afirmamos.
Achamos excessivo exigir-se que tda a confisso seja con-
firmada, em todo o seu contedo, pelas circunstncias de facto:
julgamos ser necessrio smente que, na falta de outras provas,
ao menos as circunstncias de facto venham confirmar a confis-
so do acusado, emquanto ela se apresenta como nica prova
indicativa dle como culpado, de preferncia a qualquer outro;
para tudo o mais basta-nos, para a credibilidade da confisso,"
que esta no seja contraditada pelas circunstncias de facto. Do
momento que se admite que o acusado confesso culpado, no
necessrio que a confisso em todo o seu ulterior contedo,
seja tambm confirmada pelas circunstncias de facto; basta que
estas a no contradigam, para que a sua credibilidade fique legi-
timada.
Portanto, quando se afirma, para a credibilidade da confis-
so, a condio de que esta se apresente revestida, afirma-se
implicitamente o nosso limite da singularidade, com uma fr-
mula mais lata que a verdade.
s circunstncias de facto, consideradas em si mesmas,
quando veem confirmar aquela confisso do acusado, que se con-
sidera como a nica prova da sua criminalidade, so provas
reais indirectas dessa prpria criminalidade; provas reais indi-
rectas, que, juutando-se confisso, fazem com que esta deixe
de ser uma prova nica. E estas provas indirectas podem por
vezes, consideradas 9m si mesmas, atingir maior fra probat-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 499
ria, como quando derivam do conhecimento de circunstncias,
confirmadas por factos, que o acusado s podia conhecer sendo
culpado.
Por exemplo: suponhamos que o acusado descreve exacta-
mente as feridas produzidas sbre a vitima; e que elas silo com-
provadas pelo exame do cadaver; on descreve o frro homicida, e
isso confirmado exactamente pelo exame das dimenses e da
forma das feridas. Estas circunstncias de facto, confirmadas
pelas palavras do acusado, so uma prova real que vem juntar-se
sua afirmao pessoal, realando grandemente a sua f.
Assim, suponhamos tambm que Ticio tenha morrido, e que
foi sepultado, Bem suspeita alguma de envenenamento, e que Caio,
que no era suspeitado de coisa alguma e por ningum, se apre-
senta em juzo, acusando-se de ter envenenado Ticio com ars-
nico ; e suponhamos que em seguida a tal confisso, procedendo-se
a verificaes, se descobre precisamente que Ticio morrera enve-
nenado com arsnico. Esta circunstncia de facto, que vem con-
firmar a confisso, esta circunstncia de facto, que s podia ser
conhecida pelo verdadeiro delinqente, ser uma prova indirecta
fortssima da sua culpabilidade, prova indirecta que, juntando-se
sua confisso, produzir no espirito do juiz uma legitima certeza
da criminalidade de Caio.
Nstes casos, no simplesmente a confisso que produz a
certeza da criminalidade do acusado; a confisso reunida a
outras provas indirectas, derivadas das circunstncias de facto,
quando sejam conhecidas do acusado.
Em relao ao limite do corpo de delito, recordaremos que
quando o corpo de delito de tal natureza que sem le o delito
no se compreende, e devendo sempre por sua prpria natureza
subsistir, ste ao contrrio no so encontra, a afirmao de ter-
ceiro, ou do prprio acusado, que dizem t-lo percebido, no
basta para dar a certeza da sua realidade; por quanto o seu
desaparecimento no justificado faz duvidar de que seja exacta a
percepo de quem o afirma: no desaparecimento no justificado
do corpo de delito existe uma prova real, que o nega, que paralisa
a prova pessoal afirmativa, consistente na palavra do prprio
600 A Lgica das Provas em Matria Criminal
acusado. Segue-se daqui que a palavra do acusado seria, ao con-
trrio, suficiente para provar o corpo de delito quando juntamente
com a sua afirmao, se iucluisse a explicao do seu desapa-
recimento; ou ento quando esta explicao do desaparecimento,
mesmo quando no provenha da palavra do acusado, derive de
qualquer outra origem, como da simples considerao da natureza
do corpo de delito, em relao ao modo e ao tempo do crime: nste
caso, justificado o seu sucessivo desaparecimento, no h mais
prova alguma real em contradio com a prova pessoal afirmativa
do corpo de delito, e por isso a prova pessoal, ainda mesmo que
consista na palavra de terceiro ou do acusado, conserva tda a sua
eficcia probatria: j no h razo alguma para opr o limite que
ns denominamos do corpo de delito.
Emquanto, finalmente, ao limite derivado das regras civis da
prova, basta recordar que, apesar de j trmos falado a seu
respeito, voltaremos em seguida a consider-lo em particular,
como objecto principal: o que deve observar-se tambm em rela-
o aos outros dois limites precedentemente mencionados. Reme-
temos, por isso, o leitor, no s para o que dissemos, como
tambm para o que diremos.
Pargrafo 3. do Titulo 2. CONFISSO QUALIFICADA
E DIVISO DA CONFISSO
Confisso em sentido prprio no existe, seno quando existe
a afirmao da prpria responsabilidade penal, ainda que seja por
um modo parcial e limitado. Ora, posto isto, para haver um
conceito exacto do que se chama confisso qualificada, 6 neces-
srio observar que esta no se limita aos casos em que no prprio
testemunho do acusado se encontra uma confisso em sentido
prprio, juntamente com uma desculpa; isto , no se limita aos
casos em que, ao mesmo tempo que se afirma a pr-pria
responsabilidade penal com uma confisso, ela se limita, em
seguida, com uma desculpa. O conceito da confisso qualificada
mais lata. Estende-se tambm a casos, em que no h absolu-
tamente nada de confisso em sentido prprio no testemunho do
A Lgica das Provas em Matria Criminal 501
argido; aos casos em que, depois de se terem afirmado os ele-
mentos do delito imputado, o acusado, negando outros elementos
ssenciais imputao, tira tda a imputabilidade aos primeiros
elementos afirmados, excluindo, assim, de um modo absoluto
tda a responsabilidade penal. Em tais casos, compreende-se que,
sob o ponto de vista da substncia, no h seno desculpa pura e
simples, no testemunho do acusado. O mesmo se d, sob o ponto
de vista da forma, considerando separadamente as partes dste
testemunho, e verificando que nle, ao mesmo tempo, se afirmam
alguns elementos da imputao, e se negam outros, aqules
elementos afirmados se consideram, em si mesmos, como uma
confisso, e o todo do testemunho caracteriza-se como confisso
qualificada. Assim, aquele que, afirmando embora a materialidade
da sua aco homicida, nega a criminalidade da sua aco alegando
a legitima defesa, no faz seno desculpar-se de um modo absoluto,
sob o ponto de vista da substncia; mas costume considerar
separadamente as duas partes dste testemunho, isto ,
materialidade de aco, e legitima defesa, e, com um critrio for-
mal prevalente, ela considerada como confisso qualificada.
H, conseguintemente, uma confisso qualificada que con-
siste na confisso em sentido prprio, janta com a desculpa: e esta
espcie poderia distinguir-se com o nome de confisso qualificada
em sentido prprio, e corresponde quela categoria de desculpas
que denominamos relativas. H ainda uma confisso qualificada,
em que, alm da desculpa, no h seno uma confisso em
sentido imprprio; consistente na afirmao de factos no
imputveis emquanto se consideram no conjunto do depoimento,
mas que considerados em si mesmos representam um elemento de
imputao; e esta outra espcie poder distinguir-se com a
designao de confisso qualificada em sentido prprio,
subordinando-se quela outra categoria de desculpas que deno-
minamos absolutas.
Emquanto a esta ltima espcie, isto , confisso qualifi-
cada, imprpriamente dita, a prevalncia do critrio formal, que a
faz considerar tambm como uma confisso qualificada, ao passo
que em substncia no h seno desculpa completa; esta preva-
602 A Lgica das Provas em Matria Criminal
lncia do critrio formal, no arbitrria. Existe conformidade
formal entre a confisso qualificada em sentido prprio e em sen-
tido imprprio; conformidade pela qual ama e outra se apresentam
em parte como negao e em parte como afirmao dos factos
imputados. Ora, esta conformidade formal f-las considerar lgi-
cam
ente como uma s coisa em face da grave questo da diviso, de
que falaremos dentro em pouco, e que consiste em verificar se, e
quando, havendo partes diversas no testemunho do acusado, se
pode aceitar uma parte e rejeitar outra. Esta questo importante, e
que d importncia ao estado da confisso qualificada, derivando,
principalmente, da considerao formal do testemunho nas diversas
partes em que se desenvolve, respeita ao mesmo tempo, e por um
critrio comum, tanto confisso qualificada em sentido prprio,
como em sentido imprprio. Eis pois o motivo porque, ao
determinar o que confisso qualificada, se achou mais oportuno
fazer prevalecer o critrio formal, fazendo incluir nas confisses
qualificadas tambm as imprprias. Por outros trmos, a confisso
qualificada no tendo, principalmente, importncia em crtica
criminal seno relativamente grave questo da diviso; e a
questo da diviso derivando de se considerar a afirmao sob o
seu aspecto formal intrnseco (porquanto se compe de partes que,
individualmente, se apresentam uma como afirmativa, e a outra
como negativa de elementos da imputao), ste critrio formal
que deve prevalecer para determinar ultimamente a noo do que
confisso qualificada, pois que assim se renem ao mesmo tempo
todos os testemunhos do acusado, para o que importante o
problema da diviso.
Agora que fixamos a noo da confisso qualificada, parece-
nos conveniente lanar em seguida uma vista de olhos analtica
sbre os casos concretos, em que ela pode veriticar-se.
Por isso que em tda a confisso qualificada se encontra uma
desculpa, ligada afirmao de qualquer elemento da imputao;
para prosseguir com ordem na nossa anlise, bastar-nos h
examinar as vrias formas por que se pode verificar a desculpa em
uma tal conjuno.
Sabemos que todo o delito consta do concurso de dois ele-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 503
mentos, elemento material e elemento moral: o acusado pode,
conseguintemente, desculpar-se, quer negando um, quer outro
dstes elementos.
Emquanto ao elemento material, dissemos j que le se
concretiza, por sua vez, na aco material, condio imprescind-
vel de todo o delito, e no facto material, condio nem sempre
imprescindvel para a figura completa do delito.
Relativamente negao da aco material, a desculpa pode
encontrar-se ligada confisso, afirmando os factos principais do
delito, e negando um facto acessrio constitutivo de uma circuns-
tncia agravante. Assim, ao mesmo tempo que se afirma o furto,
pode negar-se ter empregado violncia sbre a pessoa roubada. E
esta uma primeira categoria das confisses qualificadas, por
negao de uma parte da aco material criminosa.
Relativamente negao do facto material, nos delitos para
cuja existncia ou para cuja medida o facto no indiferente, a
desculpa pode ter lugar mesmo afirmando-se a aco material. E a
desculpa por negao do facto, pode verificar se tanto porque se
sustenta no ter havido facto algum, e nesta hiptese a desculpa,
conforme os casos, pode ser absoluta ou relativa; como porque se
sustenta ter-se verificado um facto menor, e a desculpa nesta
hiptese sempre relativa. Mas entre estas duas hipteses,
verificando-se a negao do facto, ligada afirmao da aco,
tem-se sempre uma confisso qualificada. Assim, em relao
negao de todo o facto, aquele que acusado de ter feito explodir
involuntriamente uma arma, ferindo algum, pode, admitindo
mesmo o facto da exploso, negar qualquer facto, incluindo o do
ferimento; e nste caso, pela natureza dos factos culposos, le
nega tda a responsabilidade: a sua confisso uma daquelas
confisses qualificadas em sentido prprio. Aquele que, ao con-
trrio, sempre em relao negao de todo o evento, acusado
de factos dolosos, afirmando a sua aco e negando o evento que
se lhe segue, no faz seno tomar de frente a menor responsa-
bilidade do delito no consumado: uma confisso qualificada em
sentido prprio. Emquanto outra espcie de confisso qua-
lificada por negao do facto, isto , quela que consiste no ua
504 A Lgica das Provas em Matria Criminal
negao de todo o evento criminoso, mas na afirmao de um
facto menor que o imputado, entende-se fcilmente que seja sem
pre uma confisso qualificada em sentido prprio: juntamente
com a sua desculpa, o acusado afirma a sua responsabilidade,
conquanto reduzida; como quando, sendo acusado de ter assassi
nado, afirma ter simplesmente ferido. Eis aqui, pois, a segunda
categoria de confisses qualificadas: por negao de facto mate
rial criminoso.
Terminamos aqui o que respeita s confisses qualificadas,
coordenveis com a desculpa por negao do elemento material
do delito. Passemos agora s confisses qualificadas, coordenveis
com a desculpa por negao do elemento moral criminoso.
O elemento moral do delito, tambm o vimos, concretiza-se
em um componente subjectivo, que a inteno criminosa, e em
um componente objectivo, que o direito violado ou que se
tentou violar.
Emquanto desculpa por negao da inteno criminosa
no todo ou em parte, achando-se ela reunida com a afirmao
do elemento material, d tambm lugar a diversos casos de
confisso qualificada, ora em sentido prprio, ora em sentido
imprprio. Assim, na hiptese de que Ticio, sendo acusado de
ter assassinado dolosamente Caio, afirmasse a materialidade do
assassinato, negando ao mesmo tempo a existncia de facto de
qualquer inteno, afirmando ter-se a arma disparado involunt-
riament
e ; ou ento, afirmando sempre a materialidade do assassinato,
negasse, ao mesmo tempo, a existncia de facto da inteno de
matar, afirmando, ao contrrio, a inteno menor de ferir. Assim,
pois, se, na hiptese de acusao de um facto criminoso,
Ticio, embora admitindo o facto material, ope a falta de
criminalidade da inteno por falta ou reduo da liberdade
da eleio.- como se, sendo acusado de ter feito com que um
naufrago se afogasse, respondsse afirmando ter-lhe arrebatado
a tbua de salvao, e t-lo deixado afogar, mas sob o motivo
irresistvel de querer salvar-se, tambm em perigo de naufrgio;
ou ento se, acusado de ferimentos, admitindo sempre o facto
material, respondsse afirmando uma inteno menos criminosa,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 505
declarando, suponhamos, achar-se sob o impulso de uma grave
provocao. Assim, finalmente, na hiptese de que, sendo acusado
de algum crime, Ticio respondsse, no negando o facto material,
mas negando no todo ou em parte a criminalidade da inteno por
falta ou reduo de conscincia, declarando-se, por exemplo, no
estado de privao ou de defeito mental, ao tempo da aco. Eis
aqui outras tantas confisses que se agrupam em uma terceira
categoria, que caracterizada pela negao da inteno
criminosa, quer por falta ou reduo de liberdade, quer por falta
ou reduo de conscincia.
Mas dissemos que a inteno no seno uma das duas
compouentes do que constitui o elemento moral do delito; a outra
componente consiste na violao, ou na ameaa de violao, de
um direito que devia respeitar-se. Se no houver a contradio da
aco humana com um direito que deve respeitar-se, no h delito
por deficincia do elemento moral. A desculpa por inocuidade
intrnseca da prpria aco, ou por negao do direito a respeitar,
reunida afirmao do elemento material imputado, d tambm
lugar a outros casos de confisso qualificada, todos em sentido
imprprio, por isso que tais desculpas so sempre substancialmente
exclusivas de tda a responsabilidade. Assim, no caso da pessoa
que, afirmando a prpria aco, a declare em si prpria incua, e
incapaz de ameaar um direito. Assim, no caso em que aquele que,
afirmando embora ter morto Ticio, negue ter violado um direito
que devia respeitar, afirmando ter morto em legtima defesa; ou,
igualmente, no caso de que quem, admitindo sempre a apropriao
material da coisa, negue o direito de outrem sbre essa coisa; ou
tambm, finalmente, e sempre do mesmo modo, no caso de que a
pessoa que, admitindo, contudo, no s a aco material, mas a
inteno homicida, negue o direito violado, porque, admitamos, se
trata de um homem j morto que le erradamente julgava vivo no
momento da aco. esta a quarta e ltima categoria de
confisses qualificadas, caracterizadas pela negao do facto
moral criminoso, quer por inocuidade natural da prpria aco,
quer pela negao do direito a respeitar.
506 A Lgica das Provas em Matria Criminal
E parece-nos, assim, ter mencionado as possveis hipteses
em que pode realizar-se uma confisso qualificada. Pareceu-nos
fazer esta anlise para maior determinao da matria.
Agora que falamos da natureza do testemunho qualificado,
e dos casos concretos em que se pode verificar, parece-nos ser
tempo de passar ao problema da divisibilidade ou indivisibili-
dade da confisso.
Visto que o testemunho qualificado resulta de duas partes,
de uma parte em que se afirma algum elemento da imputao,
e de outra em que se nega algum outro elemento da imputa-
o, entende-se como seja a tal propsito, importante o problema
da divisibilidade ou sciso se assim se lhe quer chamar. E da
mxima importncia saber se legitimamente, para completar a
prova, pode utilizar-se uma parte da confisso qualificada, rejei-
tar a outra, e em particular se pode utilizar-se a parte que
desfavorvel, desprezando a parte favorvel.
A importncia do problema, entende-se fcilmente, deixa de
existir no caso em que o delito se ache completamente verificado,
subjectiva e objectivamente, por outras provas: nste caso, uma
questo acadmica, verificar se, a provas j de per si completas,
se pode ou no juntar tambm o valor probatrio de um fragmento
da confisso. O problema s se torna vital quando, sem aquela
parte da confisso que se pretende aceitar como fazendo legiti-
mamente prova, no haveria prova suficiente da criminalidade;
ento smente que importa saber se, e quando, na realidade se
pode legitimamente aproveitar uma parte da confisso, e rejeitar
a outra. sob ste ponto de vista que deve ser encarado o pro-
blema da diviso. Examinemo-lo.
Entre os escritores de crtica criminal, Ellero quem melhor
se aproximou da verdadeira soluo do problema; mas com todo
o devido respeito ao perspicaz pensador, tambm nos parece no
ter atingido completamente a verdade. Partindo do princpio de
que as provas contraditadas se tornam ineficazes, e na reali-
dade deixam mesmo de ser provas, chega concluso de que, se
uma parte da confisso contraditada por outras provas, pode
desprezar-se, e aceitar-se ao mesmo tempo a parte dela que
A Lgica das Provas em Matria Criminal 507
se apresenta como no contestada. No nos parece isto comple-
tamente exacto. Para legitimar a deviso da confisso em duas
partes, uma das quais se rejeita e outra se aceita, no nos parece
suficiente que a parte rejeitada seja contestada pelas provas, e a
parte aceita seja simplesmente no contestada. Alm de ser no
contestada a parte aceita, parece-nos ao mesmo tempo necessrio
que ela seja confirmada pelas demais provas, ainda que sejam
simplesmente indirectas. Por outros trmos, a frmula de Ellero
seria esta: a confisso pode legitimamente dividir-se, quando uma
das suas partes contestada pelas provas, e a outra o no ;
rejeita-se, ento, a parte contestada, e aceita-se a parte no con-
testada. A nossa frmula, ao contrrio, seria estoutra: a confisso
pode legitimamente dividir-se quando uma parte contestada pelas
provas, ou, em uma palavra, reprovada, e outra confirmada
pelas provas, ou, em uma palavra, comprovada. Como se v, h
diferena; e cumpre-nos por isso apresentar as razes da nossa
opinio.
Do momento em que um testemunho em geral, ou uma
confisso em especial, se verifica ser falsa em uma parte, pode
acaso depositar-se lgicamente tanta f na outra, a ponto de servir
de base a um julgamento? Do momento que se verifica, ainda que
seja parcialmente, a falsidade de uma afirmao de pessoa, tda a
razo quer que aquela afirmao deixe de ser tomada a srio, por
isso que se trata do depoimento de uma pessoa que certamente se
engana ou quer enganar; se no todo, se em parte, s as provas o
podero dizer. Mas a falsidade provada de uma parte no leva
verdade da outra; antes verdadeiro o inverso; a falsidade
presumida em um todo conseqn-
cia lgica
da falsidade verificada na parte; mendax in uno, mendax in toto.
A falsidade, antes de se exteriorizar na declarao, existe no
esprito do que a declara, no prprio esprito de que deriva tda a
declarao que, por isso, se acha totalmente viciada. Para rejeitar
como falsa uma parte da confisso, aceitando a outra parte como
verdadeira, necessrio que a primeira seja combatida pelas
provas, e a segunda seja sustentada; ento so as provas, ainda
que simplesmente indirectas, que dizem:
508 A Lgica doa Provas em Matria Criminal
esta afirmao tem a primeira parta verdadeira, e a segunda falsa: a
ento lgico aceitar-se a primeira, e rejeitar-se ai segunda.
Mas necessrio atender a que por vezes, na sciso a que se
procede, as provas que confirmam a parte da afirmao que se quer
aceitar, se no apresentem como coisa distinta da prpria afirmao,
e parece ento de aceitar aquela dada parte sob a simples li da
prpria afirmao; maa no assim.
Ticio morreu, supe-se, de morte natural; 6 enterrado, sem mais
nada. Apresenta-se Caio declarando: Ticio morreu envenenado por
mira com estricnina; mas casualmente. Procede-se a exumao e
ao exame do cadver, e verifi-cara-se, na realidade, vestgios do
envenenamento por estricnina. Tendo-se prosseguido
cautelosamente na investigao, verifi-ca-se ser impossvel a
casualidade.
Emquanto pessoa do delinqente, essa no se determina
por outra forma.
Despreza-se o testemunho do acusado eraquauto casuali-
dade, como sendo contestada por outras provas; e aceita-se a sua
declarao emquanto ao facto do delito e determinao do
delinqente. Eis aqui uma sciso: e ela legtima segundo os nos-
sos critrios ?
Emquanto ao facto do envenenamento, compreende-se por que
se aceite, quando se mostre claramente confirmado pelas verificaes
materiais. Mas emquanto determinao do delin-
qent
e, parece que ela se apoia nicamente nas declaraes do prprio
delinqente, e, pelo que sustentamos, visto que se pre-tende rejeitar
uma parte da confisso, isto a casualidade, como sendo contestada
pelas provas, no se poderia aceitar legitimamente ao mesmo tempo
a outra parte, sem que esta fsse, por sua vez, confirmada por
outras provas.
Ora, no exemplo supracitado, a determinao da pessoa do
delinqente ou no confirmada por outras provas, alm da confisso?
primeira vista, parece que a pessoa do delinqente s se determina
pela sua confisso, pois que sem esta, ela nunca se descobriria; mas
atendendo um pouco, v-se que da confisso
t
A Lgica das Provas em Matria Criminal 509
prestada se destaca, a determinar a pessoa do delinqente, uma
prova que uma coisa completamente distinta da prpria con-
fisso : o indcio necessrio, derivado do conhecimento do facto
em geral, e da estricaina em especial. Enquanto ningum falava
de envenenamento, Caio no podia ter conhecimento do veneno
propinado a Ticio, no tendo sido le o seu envenenador. ste
um argumento probatrio que nasce da confisso, mas no a
confisso. Na diviso, portanto, a determinao do delinqente
no se aceita nicamente porque um contedo simplesmente
no contestado pela confisso; mas por que esta parte da confis-
so comprovada por um indcio necessrio: est nisto a legiti-
midade da diviso.
Admitamos, ao contrrio, a hiptese de Ticio ter morrido, e
de ter sido verificado judicialmente o envenenamento, sem que se
tenha podido determinar o envenenador. Suponhamos que num
dado momento Caio se apresenta em juzo e declara: Fui eu que
envenei Ticio; mas casualmente. Suponhamos mesmo que do
conjunto das provas resulta a inadmissibilidade da casualidade.
Suponhamos que ao mesmo tempo se no pode obter o concurso
de prova alguma indicativa do delinqente: no houve quem visse
Ticio junto de Caio ao tempo em que teve lugar o envenenamento;
no -possvel investigar quais as pessoas a quem Caio diz ter
comprado o veneno; no possvel, em suma, por meio algum
externo confisso determinar a pessoa do delinqente. Ser
lcito, nste caso, rejeitar a confisso, emquanto casualidade por
ser contestada por outras provas 1, e aceitar a determinao do
delinqente nicamente sbre a f do acusado, por isso que esta
determinao se acha em uma parte no contestada, mas nem por
isso confirmada, pela confisso? No, mil vezes no: ou rejeitai a
confisso totalmente, ou aceitai-a tda ela. Dizeis, naturalmente,
no ser possvel aceit-la na sua totalidade, por isso que uma parte
contestada por outras provas:
1
Suponhamos que o moribundo tinha proferido estas palavras, que a
princpio no se sabia a quem atribuir: tinha-o dito e f-lo: envenenou-me.
510 A Lgica das Provas em Matria Criminal
pois bem, senhores, no sendo a outra parte, vice-versa, confir-
mada por outras provas, ficar tambm viciada na sua credibili-
dade, e no poder ser lgicamente fonte de certeza jurdica,
daquela certeza jurdica que decide da vida e da liberdade das
pessoas. Do momento que rejeitais como falsa seja mesmo uma
parte da confisso, por ser claramente contestada pelos factos,
vs tirais a f a tda a confisso, por isso que tda ela, pela
unidade do esprito humano, tem o pecado original do falso teste-
mun
ho. Se portanto existe uma parte de verdade nela, necessrio
absolutamente que se tenha provado aliunde: sem o que, uma
condenao seria odiosa. Em juzo penal, no nos cansaremos
de o repetir, esto em questo direitos naturais inalienveis,
direitos sagrados mesmo quanto qules que no sabem que fazer
dles; e no licito subvert-los com o triste jgo de tomar
pela sua palavra um acusado.
Convm fazer aqui uma observao. Os exemplos por ns a
princpio expostos referem-se hiptese de que a parte da con-
fisso, que se pretende aceitar, seja a nica indicadora da pessoa
do delinqente. Esta hiptese subordina-se outra teoria, j por
ns exposta, do limite tstemunhal da singularidade, limite que
serve tambm para a confisso; mas aqui, apesar de ser idntica
a hiptese, ela deve ser considerada por outros critrios e sob
outro ponto de vista, levando mesma concluso. Em vez desta
hiptese, pode supr-se at uma hiptese contrria; pode supr-se
que a parte da -confisso contraditada, que se pretende rejeitar,
seja a nica indicadora do delinqente, e que a parte que se
pretenderia aceitar, nicamente por no ser contestada, tenha
um contedo diverso, como, por exemplo, a descrio do delito:
nesta segunda hiptese parece sempre mais natural tambm, que
a segunda parte, que se quer aceitar, pela confisso, deve, ao
contrrio, rejeitar-se como no tendo valor tstemunhal, se alm
de no ser contestada, no tambm comprovada. A descrio
do delito no pode merecer crdito, desde que quem a narra
apresentando-se como sendo o delinqente, se verifica que o no .
Concluindo, dada uma confisso qualificada, no possvel,
segundo nos parece, legitimamente dividi-la, rejeitando uma parte
A Lgica das Provas em Matria Criminal 511
dela e aceitando outra, se a parte rejeitada no se apresenta como
reprovada, e a parte aceita se no apresenta como comprovada. A
simples reprovao de uma parte no autoriza a rejeitar esta,
aceitando a outra, que simplesmente no contestada. por isso
bom concluir com uma observao explicativa e complementar
desta teoria.
Quando falamos da reprovao de uma parte da confisso
qualificada, e dizemos que no basta para legitimar a sciso, sem
a comprovao da outra parte, entendemos referir-nos hiptese
de a parte reprovada se apresentar como falsa por uma possibi-
lidade de mentira ou de rro geral, no acnsado: coisa que se
verifica ordinriamente. Nesta hiptese o nico facto de ser con-
testada uma parte da confisso pelas provas, inferma legitima-
mente tambm as partes no contestadas.
Mas pode dar-se tambm o caso de a parte, que se apresenta
como manifestamente falsa pelas provas contrrias, se apresentar
tal no por possibilidade de mentira, ou de rro geral, mas por
uma inadvertncia, por dio, ou mesmo por um rro de apreciao,
particularmente naturais ao seu contedo. E o rro de apreciao
sucede freqentemente quando a desculpa consiste no tanto na
afirmao de um facto, como em uma opinio de direito, como na
ltima categoria de confisses qualificadas, em que a desculpa
consiste na negao do evento moral. Ora, nstes casos, desde que
o rro de juzo, a inadvertncia ou o esquecimento ocorridos,
particularmente, em uma parte da declarao, no incluem o rro,
a inadvertncia e o esquecimento em tda a sua parte,
compreende-se fcilmente que se tenha o direito de rejeitar a parte
que se demonstra particularmente errnea, aceitando a outra parte,
ainda que se no apresente como comprovada, e s porque se
apresenta como no contestada; a no ser que esta parte que se
quer aceitar seja a nica prova indicadora do delinqente, caso
em que, por uma outra teoria, pelo limite da singularidade por ns
anteriormente afirmado, ela s pode ter valor probatrio, e s pode
por isso ser aceita, quando se apresente, emquanto designao
do delinqente, apoiada, segundo a regra geral, sbre outras
provas.
512 A Lgica das Provas em Matria Criminal
TTULO III DO CAPTULO VI
Tstemunho do acusado, sbre o facto de outrem
Alm de depr sbre o facto prprio, sempre em relao a
matria da acusao, pode o acusado depr tambm sbre facto
alheio. A integridade metdica dste estado obriga conseguinte-
mente a atender tambm a ste contedo especial do testemunho
do acusado.
Os escritores de crtica criminal no atenderam seno a
uma espcie particular do testemunho sbre facto alheio, prestado
pelo acusado; s levaram em conta aquela espcie particular,
que indicada sob o ttulo de testemunho do cmplice, e que
se refere hiptese do acusado que confessa, espont-
neamente ou vencido pelas provas, e que depe contra o seu
cmplice.
Parece-me que, considerando mesmo o seu estudo restricta-
mente espcie particular supracitada, deve ter havido em geral,
uma certa indeterminao na matria tratada, e uma certa con-
fuso nos critrios escolhidos para o seu estudo, quando no tenha
at havido realmente falsidade de critrios.
Que, falaudo do testemunho do acusado confesso contra o
cmplice, se no determinou bem a sua natureza, deduz-se, no s
de no ter le sido designado como uma espcie do testemunho do
acusado, designando-se ao mesmo tempo as suas espcies con-
gneres, mas tambm, e principalmente, do facto de, geralmente, s
se ter tratado dle entre os indcios, caindo-se na costumada
confuso entre o que valor e o que contedo da prova, ten-do-
se julgado o testemunho do cmplice como uma prova de valor
deficiente, foi le caraterizado como indcio. Mas a distino das
provas em directas e indirectas, nunca demais repeti-lo, uma
distino que se refere ao contedo das provas; e sob ste ponto
de vista, todo o testemunho, incluindo o do cmplice, pode ter tanto
um contedo de prova directa como de prova indirecta; assim o
testemunho do cmplice em particular no tem ordin-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 613
riamente seno um contedo de prova directa, referindo-se prin-
cipalmente percepo directa, por parte do acusado, da aco
criminosa do cmplice.
A indeterminao da matria revela-se igualmente ao facto -
de no se distinguirem nitidamente hipteses bem diferentes entre
si. Falou-se de testemunho do cmplice, referindo-se muitas vezes,
indiferentemente, tanto hiptese de quem afirma ser um simples
acusado, como hiptese de le j ter sido condenado; referindo-se
indiferentemente tanto hiptese de a palavra do acusador ser a
primeira que indica o pretendido cmplice, como hiptese
contrria. Isto quanto determinao da matria que se procurava
tratar.
Que diremos, pois, dos critrios a que se recorreu para ava-
liar o valor probatrio relativo ao testemunho que o acusado con-
fesso presta contra o seu cmplice?
Em primeiro lugar, houve escritores de crtica criminal que
inspirando-se na jurisprudncia romana, e querendo afastar com-
pletamente ste testemunho, apresentaram argumentos que eram
verdadeiros sofismas; e stes sofismas foram aceitos, apesar de
tudo, e teem continuado a ser repetidos da mesma forma, pelos
escritores que se lhes seguiram. Disse-se e tem-se repetido, por
exemplo, que o acusado que confessou espontneamente o pr-
prio facto criminoso, no merece f no seu testemunho relati-
vamente ao facto do cmplice, porque deve recear-se que no
acuse os outros com tanta facilidade, quanta a prontido com que
se acusou a si prprio
1
. E os, que disseram isto, no reflectiram
que a facilidade em dizer a verdade sbre o prprio facto no
pode conduzir lgicamente seno facilidade em dizer a verdade
sbre o facto alheio. Se no se ocultou a verdade sbre o facto
prprio criminoso, mesmo quando houvsse intersse em ocult-lo,
de supr com maioria de razo que se diga a verdade sbre o facto
alheio, no havendo intersse em ocultar. Partamos, pois, da
hiptese de se ter dito a verdade sbre o facto
MRIO PAGANO : Lgica dei Probabili. 33
514 A Lgica das Provas em Matria Criminal
prprio, pois que, se se supossse ama confisso que se verifica ser
falsa, ento o testemunho sbre o facto do cmplice ficaria viciado,
no pela espontaneidade, tuas pela falsidade da confisso.
Disse-se e repete-se ainda, como motivo especial de descr-
dito do testemunho do acusado sbre o facto alheio, que o argido
pode falsamente acusar, como cmplice, um individuo poderoso,
na esperana de se salvar com le. E quem disse isto, no reflectia
que do mesmo modo conveniente ter por companheiro, sub
judice, uma pessoa poderosa, quando esta tenha realmente
participado na aco criminosa. Nste caso, a unidade real do
delito, torna um s o destino judicirio das vrias pessoas que nle
participam, interessando-os igualmente a negar ou a atenuar o
crime; e compreende-se, por isso, como til ter um aliado
poderoso. Mas quando o indivduo poderoso, acusado de
cumplicidade, um inocente, ento, por um lado, le no
cointeressado no destino do acusado devido natureza singular do
crime, porque no tomou parte nle; por outro, no cointe-
ressado quanto aco judiciria comum, porque esta divisvel
relativamente aos indivduos submetidos ao mesmo juzo, podendo
resolver-se na condenao de um, e ua absolvio do outro. Con-
seguintemente, o indivduo poderoso, injustamente acusado de
cumplicidade pelo argido, no se acha de modo algum ligado ao
destino dste: no se acha em harmonia, mas em coliso de
intersses com le, e o seu poder resolve-se lgicamente, para o
acusado, no em esperana de auxlio, mas no receio de uma
resistncia superior aos seus meios de defesa. Caluniando como
cmplice um indivduo poderoso, o acusado sabe que convida para
o certamen judicirio, no um aliado, mas um inimigo, tanto mais
terrvel, quanto maior o seu poder.
Mas pondo de parte os critrios do avaliao intrinsecamente
falsos, tem-se recorrido tambm a critrios verdadeiros em si
mesmos, falseando-se a sua natureza, pela forma por que so
considerados. Tomaram-se critrios genricos, motivos de
descrdito que teem valor para qualquer testemunho, e teem sido
expostos como critrios especficos, como motivos especiais
A Lgica das Provas em Matria Criminal 515
de descrdito para o testemunho do acusado contra o seu cm-
plice. Que no parea uma subtileza o que acabamos de notar.
Trata-se de um rro que induz mesmo a uma falsa avaliao; e
compreende-se porque. Se, quer estudar em particular o valor de
uma espcie de testemunho, necessrio examinar os motivos
verdadeiramente especiais de descrdito, que o acompanham:
achando-se, assim, que para uma espcie de testemunho existem,
em particular, motivos de descrdito no existentes para outros,
pode lgicamente concluir-se que le deve inspirar menos f que
os outros, pois que contm em si uma soma maior de motivos
para se no crr; tem motivos de descrdito particulares, alm dos
comuns a cada testemunho. Posto isto, quando, em conse-
qnc
ia, se apresentam como motivos especficos, motivos genricos de
descrdito vlidos para todos os testemunhos, apresenta-se uma
premissa falsa, que, conduzindo a rro, conduz a uma concluso
falsa. No conseguintemente por amor de subtileza que fomos
levados nossa observao.
Os critrios genricos de avaliao no devera ser conside-
rados seno como tais; e nunca como critrios especficos, como
se fz na matria que examinamos. assim, que tem sido apre-
sentada por muitos, como razo do pouco valor que deve ter o
testemunho do acusado contra o seu cmplice, a possibilidade de
inimizade do primeiro com respeito ao segundo. Mas, meu Deus!
no esta uma possibilidade de mentira, inerente nica-
mente
ao testemunho do acusado; trata-se de um motivo de descrdito
comum a todos e quaisquer testemunhos; e no se compreende
porque deva expor-se como uma razo particular de depreciao
para o. testemunho do acusado, o que pode verifi-car-se
igualmente no que respeita ao depoimento de qualquer outra
tstemunha. Apresentou-se tambm como razo particular de
descrdito, a possibilidade de que o acusado levante uma calnia
para servir intersses alheios: mas no sucede o mesmo quanto a
qualquer outro testemunho?
Concluindo, ao tratar do testemunho do acusado sbre o
facto alheio, necessrio determinar mais claramente, e de um
modo mais completo a matria que se trata, e conservar-se assim
516 A Lgica das Provas em Matria Criminal
distante dos critrios de avaliao intrinsecamente falsos, como
daqules que so mal aplicados.
Para maior determinao da matria, o testemunho do
acusado sbre facto alheio, deve ser atendido em tda a sua
extenso, relativamente a tdas as subespcies que nela se com-
preendem. O acusado que depe sbre o facto de outrem pode
ter confessado o facto prprio, ou ter-se escusado dle; o teste-
mun
ho pode ser tanto contra, como a favor do cmplice. Cada uma
destas hipteses uma variedade que no pode ser desprezada
pela espcie, e a exactido e a integridade do seu estudo
robigam a defini-las e a consider-las a tdas, particularmente.
Para exactido dos critrios de avaliao, pois, antes de
passar ao exame dos critrios especiais referentes ao testemunho do
acusado sbre o facto de outrem, convm notar que a stes, como a
todos os outros testemunhos, devem sempre, em primeiro lugar,
aplicar-se os critrios genricos. Aqules critrios genricos de
avaliao, que chamamos subjectivos formais e objectivos, so
critrios comuns que necessrio nunca esquecer para a justa
avaliao de qualquer testemunho, compreendendo o do acusado. O
facto de ser ou no, o acusado, um homem propenso mentira,
uma coisa que deve ser sempre levada em conta, como um critrio
subjectivo de avaliao, comum a todos os testemunhos. Ser ou no,
o testemunho do acusado, prestado por uma forma sria, precisa,
judicial, uma coisa a que deve sempre atender-se, como critrio
formal que serve para a avaliao de qualquer testemunho. Ser ou
no verosmil o contedo do depoimento do acusado, uma coisa
que deve ser levada sempre em conta, como um critrio
objectivo, que serve para avaliar exactamente tanto o
testemunho do acusado, como o de qualquer outro testemunho.
Conseguintemente, quando falamos de critrios especficos para a
avaliao do testemunho do acusado sbre o facto de outrem, no
exclumos a aplicao dos critrios genricos. stes critrios, que
servem para todo o testemunho, incluindo o do acusado, foram j
expostos, e no necessrio repeti-los aqui: digamos, por isso,
nicamente que, se fsse necessrio repeti-los, seria necessrio
precavermo-nos para se
A Lgica das Provas em Matria Criminal 517
no falsear a sua natureza, apresentando-os como critrios espe
cficos.
A propsito de critrios especficos de avaliao para uma
dada espcie de testemunho necessrio, pois, em primeiro lugar
observar, que les no so, e no podem ser, seno modalidades
particulares pelas quais os motivos genricos se determinam,
mais freqentemente que em qualquer outra espcie, naquela
espcie particular de testemunho que se considera. Posto isto,
parece-nos que os motivos especficos de descrdito do testemu-
nho do
acusado sbre o facto de outrem, se reduzem a um s: ao
intersse em mentir derivado da qualidade de acusado na
tstemunha; intersse em mentir, que se revela na relao entre
o contedo do testemunho e a qualidade de acusado da pessoa
que afirma. E por isso que ste intersse em mentir sbre o
facto de outrem se determina diversamente conforme o acusado
confessa ou nega o facto prprio, julgamos por isso conveniente
proceder por meio dste critrio diviso metdica e funda
mental da matria, subordinando-a a duas categorias: testemu-
nho
sbre o facto alheio, do acusado que confessa, e testemunho sbre
o facto alheio, do acusado que se desculpa. Procuremos apresentar
ste esquisso.
I Tstemunho sbre facto alheio, do acusado que confessa
em todo ou em parte
ste o campo das maiores investigaes. contra o
acusado confesso que se insurgiu especialmente a crtica, para
tirar todo o valor ao seu testemunho sbre o facto do cmplice.
Examinamos j anteriormente alguns dos argumentos intrinse-
camente falsos reunidos para defesa desta tese.
Observaremos aqui que todos os argumentos recrutados se
reduzem substancialmente a ste: veracidade e delito no podem
achar-se reunidos. Na verdade, ste argumento mais lato que o
que se pretende: coloca fora do campo das provas tambm a
confisso. Se a veracidade e o delito no podem encontrar-se
juntos, qual a razo porque se d valor probatrio s palavras do |
518 A Lgica das Provas em Matria Criminal
acusado, quando afirma o facto prprio, e se lho nega quando
afirma o facto alheio?
Que veracidade e delito no se podem conjugar, no se
querer por certo afirmar em um sentido absoluto; mas tambm
no verdade no sentido do maior nmero dos casos: sob o ponto
de vista do facto, se consultais a histria dos processos, encon-
trareis mais freqentemente que o acusado confesso disse a ver-
dade sbre o facto dos cmplices, e encontrareis mais raramente
que le os tenha caluniado. Afirma-se que veracidade e delito se
no coadunam, partindo da convico de que o delito cometido
revela sempre uma baixeza de esprito, que origina a propenso
mais para a mentira, que para a verdade. Mas no se atende a
que nem todos os crimes revelam baixeza de esprito, como, por
exemplo, a no revelam, falando de um modo geral, os crimes
de mpeto; e h mesmo crimes que nascem da excitabilidade
indmita de um esprito elevado, como os crimes cometidos para
vingar a honra ultrajada. Junte-se a isto que o homem no faz
coisa alguma sem um motivo, e por isso a prpria baixeza de
esprito no seno antes um obstculo a menos, do que um
estmulo para a mentira. No queremos dizer com isto que no
seja necessrio levar em conta esta eventual baixeza de esprito;
quando mesmo ela resultasse no acusado pela natureza do delito
confessado, ela deve ser atentida, mas j no como uma razo
para tirar todo o valor sua palavra sbre o facto do cmplice,
mas como uma simples razo de suspeita, que poder ser corro-
borada ou paralisada pelo conjunto dos critrios que servem para
a avaliao daquela palavra.
Mas disse-se tambm a propsito do ru confesso, apoian-do-
se em um argumento sofstico por ns j combatido, que, visto
no ter havido repugnncia em confessar o prprio delito, isso
que faz recear que o acusado fcilmente acuse tambm os outros
injustamente; necessrio, por isso, para a justa avaliao
probatria, distinguir entre acusado que confessou espontnea-
mente e acusado que confessou coagido pelas provas; e denomi-
nando tstemunha confessa, por antonomasia, a primeira, e tes-
temunha convencida a segunda, concluiu-se que, se justo,
Lgica das Provas em Matria Criminal 519
emquanto inculpabilidade do cmplice, no conceder f pala-
vra do acusado quando confesso, necessrio, ao contrrio, con-
ceder-lha quando convencido. Admitida a premissa, a conse-
qnc
ia lgica. Mas ns j demonstramos a falsidade da premissa,
observando que a facilidade em dizer a verdade sbre o facto
prprio, no pode lgicamente conduzir seno & facilidade em
dizer a verdade sbre o facto de outrem, quer esta verdade seja
favorvel ou desfavorvel quele a quem se refere; e isto tanto
mais, que o grande intersse que se tem em ocultar o facto prprio,
no o mesmo que existe em ocultar o facto alheio. A distino
de confesso e de convencido, inspirando-se, conseguintemente, em
uma premissa, falsa, no legitima a conseqncia probatria que
se lhe quer atribuir relativamente inculpao do cmplice.
Se se quer distinguir entre confesso e convencido, esta dife-
rena, inspirando-se em um critrio mais verdadeiro, afirmada
antes em favor do confesso, que se mostrou fcil verdade, que
do convencido, que se obstinou em mentir emquanto ponde; e
esta diferena de credibilidade valeria tanto para o testemunho do
acusado que acusa o cmplice, como para aquele que o desculpa.
Mas, se bem que esta diferena, como ns a entendemos,
seja verdadeira, necessrio, contudo, notar que ela nem por isso
tem grande importncia, sendo o seu valor grandemente
enfraquecido pela considerao de que o acusado tem um
intersse poderosssimo em ocultar o facto prprio, e no tem
interesse algum em ocultar o facto alheio; e, por isso, da
repugnncia em confessar a verdade do prprio crime, no pode
deduzir-se lgicamente a repugnncia em dizer a verdade sbre o
facto alheio. Se da admisso do prprio crime vem para o acusado
o mal da pena, da admisso eventual do crime alheio no lhe
advem, ao contrrio, mal algum. No pode, portanto, afirmar-se
que, por no ter fcilmente confessado o prprio crime, o acusado
convencido seja uma tstemunha a quem repugna, em geral, dizer
a verdade. Mas verdade, no entanto, que, se no pode dizer-se
que lhe repugna a verdade, tambm no pode conside-rar-se
propenso a ela. Mantem-se, por isso, sempre como verdade que
le no revelou propenso alguma em dizer a verdade,
520 A Lgica das Provas em Matria Criminal
emquanto essa propenso, pela espontaneidade das suas declara-
es, revelada, ao contrrio, pelo facto de ser confesso; e fica,
por isso, tambm, sempre verdade que, se se pretender estabelecer
diferena entre o acusado confesso e o acusado convencido
emquanto fra probatria das suas declaraes sob o facto do
cmplice, essa diferena lgicamente estabelecida em favor do-
confesso, de preferncia ao convencido, e tanto pelo que respeita
ao testemunho que acusa, como quanto ao que desculpa o cm-
plice: poder ser, nste sentido, pouco importante esta diferena
probatria, mas ao menos ser verdadeira. E basta a ste res-
peito. Resta-nos apenas observar que, em conseqncia do que
temos dito, no reconhecendo a importncia da distino entre
confesso e convencido, ns quando falamos de acusado confesso,
compreendemos nesta designao tanto o que confessou espont-
neamente, como o que confessou coagido pelas provas. Prosigamos.
O testemunho, sbre o facto do cmplice, do acusado confesso,
considerado genricamente at aqui, compreende em si subespcies
que conveniente estudar separadamente. O acusado, mesmo
confessando o facto prprio, pode tanto desculpar, como acusar o
prprio cmplice; a acusao pode referir-se tanto a um cmplice
indicado j como tal pelo processo, como a um cmplice que se
no acha anteriormente declarado como tal seno pela palavra
do acusado. Atendendo a stes critrios, o testemunho do acusado
confesso, sbre o facto do cmplice, deve conse-guintemente
distinguir-se assim:
a) Desculpa do cmplice.
b) Acusao em sentido genrico do cmplice: esta acusa-
o do cmplice subdistingue-se, em seguida, por sua vez, em
acusao em sentido especfico do cmplice, e em chamamento
do cmplice.
Digamos uma palavra a respeito de cada uma destas sub-
espcies. A) Desculpa do cumplice, por parte do acusado
confesso.
Desde que o acusado confessou o prprio delito, o seu testemunho
em favor do cmplice tem pelo menos valor igual ao de qualquer
outro testemunho. Depois da confisso do facto pr-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 521
prio, no pode haver razo alguma que nasa da qualidade de
acusado, para o aconselhar a mentir em favor do cmplice.
Isto absolutamente verdadeiro na hiptese de confisso
completa, porquanto a quem confessou tudo no pode de modo
algum aproveitar a extino ou a atenuao da criminalidade do
seu cmplice; ao contrrio, o que pode ser-lhe nociva.
Quando se trata, pois, de confisso parcial: consistindo esta
em uma confisso mixta de desculpa, nste caso, o testemunho do
acusado em favor do cmplice ter ainda um valor igual ao de
qualquer outra tstemunha, sempre que a desculpa do cmplice
no coincida com a desculpa parcial prpria, quer identificando-se
com esta, quer harmonizando-se simplesmente com ela, es empre
que se no apresenta como verosmil que a desculpa do cmplice
seja destinada a procurar obter do prprio cmplice um auxilio, de
palavras, ou de silncio, para a parcial desculpa prpria. O
acusado que, tendo confessado o furto, negou ter procedido
arrombando a porta, quando nega ao mesmo tempo que a porta
tenha sido arrombada por Caio seu cmplice, claro que tem um
intersse poderoso para desculpar Caio, pois que a desculpa de
Caio se resolve em desculpa prpria. Assim, pois, quando Ticio,
acusado juntamente com Caio de ter em um tumulto popular
apunhalado Semprnio; quando Ticio, depois de ter declarado que
le no feriu seno com um pau, declara tambm que Caio s feriu
com um pau, todos compreendem que provvelmente le desculpa o
cmplice para ser, pela sua vez, por le desculpado.
Haver quem, a propsito de desculpa do cmplice, pense
talvez como motivo particular de descredito, na possibilidade de
uma grande amizade de acusado para com o seu cmplice no
delito. Podem existir laos do corao e de sangue, capazes por si
ss, de induzirem o acusado a desculpar, mentindo, o seu
cmplice, sem estmulo algum de intersse prprio directo. Uma
me que tenha cometido um crime conjuntamente com seu filho,
afirmando mesmo tda a sua criminalidade, gostar muitas veze8
de negar a cumplicidade de seu filho, embora desta desculpa
mentirosa do cmplice, no lhe advenha vantagem alguma judi-
ciria, e mesmo por vezes lhe provenha prejuzo. Admitimos isto,
522 A Lgica das Provas em Matria Criminal
mas repetimos o que se disse anteriormente: o que pertence ao
geral no deve desnaturar-se como peculiar da espcie. Que a
amizade pode levar mentira em favor do amigo, uma verdade
comum s declaraes de tdas as tstemunhas; funda-se nisto
um motivo de descrdito que pode, com igual razo, enfraquecer
a credibilidade de qualquer testemunho, quer de terceiro, quer
do acusado, quer mesmo do prprio ofendido. Expor ste motivo
genrico de descrdito, ou outro anlogo, como um motivo par-
ticular ao testemunho do acusado, seria falsear-lhe a natureza
dando origem a confuses e a conseqncias errneas. A amizade
a propsito de desculpa do cmplice, no pode apresentar-se
como motivo especfico de descrdito, seno emquanto se considera
aquela amizade que costuma existir ordinriamente entre
cmplices, como tais. Mas ste motivo no me parece de grande
importncia, pelos graves intersses pessoais que a tstemunha
tem em jgo e pela natureza ordinriamente pouco generosa,
dos delinqentes.
B) Acusao em sentido genrico do cmplice, por parte
do acusado confesso.
Se contra o testemunho sbre facto alheio do acusado con-
fesso se insurgiu, como vimos, a critica crimiual para o banir do
campo das provas, stes esfros teem-se dirigido particularmente
contra o testemunho do acusado, que tem lugar a cargo do cm-
plice; testemunho especifico de que smente, como dissemos, a
crtica criminal se ocupa a ttulo de testemunho do cmplice, e
de que aqui nos limitamos a falar como de uma subespcie do
testemunho do acusado. A denominao de testemunho do cm-
plice, usada, como se tem feito, no sentido restrito de
testemunho do acusado contra o cmplice, uma denominao
inexacta que se refere a uma matria mais am la que aquela a
que se atribui: para maior preciso preferimos agora indicar esta
subespcie tstemunhal sob a designao de acusao do
cmplice.
No exrdio, falando da forma como os escritores de critica
criminal, genricamente falando, trataram esta matria, comba-
temos de entre os seus argumentos falsos aqules que nos pare-
ceram os mais especiosos para tirar todo o valor acusao do
A Lgica das Provas em Matria Criminal 523
cmplice. No necessrio repeti-los. Vimos tambm como muitas
vezes se falseia o valor desta subespcie tstemunhal, apresentando,
como motivos especiais de descrdito dela, motivos genricos,
comuns a todos os testemunhos. Estas prvias demonstraes
tornar-nos ho agora mais rpida a exposio do assunto. A
propsito os motivos genricos de descrdito, expostos como
motivos particulares da acusao do cmplice, julgamos, no ser
intil observar tambm aqui, que, para desacreditar ste
testemunho particular, no se exposeram como razes especiais de
descrdito smente motivos que conteem uma igual possibilidade
de rro tanto para ste como para qualquer outro testemunho, mas
fizeram-se valer tambm como razes particulares de descrdito
relativamente acusao do cmplice, motivos que eram uma
fonte menos fcil de rro para sse, do que para qualquer outro
testemunho. Assim, quando para desacreditar a acusao do
cmplice se alega a possibilidade de uma inimizade que leve o
acusado a caluniar o seu pretendido cmplice, no se atendeu a que
isto uma razo de maior facilidade de rro para o testemunho de
um terceiro do que para o do acusado. Desde que um terceiro, cuja
inimizade com o acusado se conhece, vem depor contra le, no
existir, em geral, considerando o depoimento em ai mesmo, uma
razo suficiente para verificar se o seu depoimento se inspira na
verdade, se no dio: eis aqui a fonte dos maiores rros. J assim
no quanto acusao do cmplice. Se o acusado, cuja
inimizade para com uma dada pessoa se conhece, se apresenta, no
obstante a sua absoluta inocncia, a denunci-la como cmplice, no
dar isso, ao contrrio, lugar seno a pequenssimos equvocos;
contra a verdade da assero do acusado, simultneamente com a
razo subjectiva de descrdito, baseada na inimizade, existir
tambm uma razo objectiva de descr-dito, baseada na
incredibilidade moral de uma sociedade criminosa entre inimigos:
com o motivo subjectivo comum de descrdito, que consiste na
inimizade, cumula-se um motivo igualmente comum, que consiste
na incredibilidade, ou pelo menos na-inve-rosimilhana da
afirmao. A cumplicidade requer uma mutual confiana, e no ,
portanto, crvel que o acusado se tenha asso-
524 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ciado, para cometer um crime, como aquele que, como
inimigo,
devia inspirar-lhe adverso e desconfiana. Como se v, pois, a
inimizade pode ser fonte de maiores rros no testemunho de
terceiro, que DO do acusado.
Nestas consideraes que fizemos relativamente inimizade,
que arrasta o acusado a mentir contra o seu cmplice, no aten-
demos seno hiptese de o acusado caluniar um inocente.
Quanto hiptese, pois, de le, por inimizade anterior ao crime,
agravar a sorte do verdadeiro cmplice, esta hiptese inverosmil,
porquanto, como dissemos, a sociedade criminosa no tem lugar
entre inimigos. Finalmente, no caso de a razo da inimizade ser
posterior consumao do crime, ento admissvel a hiptese de
se agravar por meio da mentira a situao do verdadeiro
cmplice, mas, de todo o modo, nesta hiptese, a possibilidade de
rros derivados da inimizade posterior ao crime no se apresenta ao
esprito do juz seno, como igual, tanto para o caso de testemunho
de terceiro, como para o de testemunho do acusado.
Passemos ao exame do outro motivo comum, que se exps
tambm como motivo especial de descrdito quanto acusao do
cmplice. Sempre no intuito de desacreditar de um moda
particular a acusao do cmplice, tem-se alegado tambm a
possibilidade de o acusado caluniar o seu cmplice para favore-
cer o dio alheio. Ora, no se atendeu a que um tal motivo de
descrdito, considerado em relao ao testemunho de terceiro,
deve produzir maior alarme, do que considerado relativamente
ao do acusado. E, contudo, assim. Desde que um cidado
indiciado numa investigao criminal, nunca mais perdido de
vista pela justia; o poder investigatrio segue-o passo a passo,
vigia a sua vida e as suas relaes, para poder colher as provas da
sua suspeitada criminalidade; e por isso, na hiptese de algum
querer induzi-lo a caluniar como cmplice um inocente, devendo
necessriamente ter havido encontros, acrdos, pactos, entre o
acusado por um lado, e o corruptor ou o seu representante por
outro, fcil - justia chegar ao conhecimento dstes encontros e
destas assiduidades. E, como a justia no despreza coisa alguma,.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 525
colhendo informaes a respeito das pessoas que estiveram em
contacto com o acusado, poder pelo conhecimento destas pessoas
ilucidar-se sbre o motivo que levou a mentir, que actuou sbre o
esprito do acusado. Admitindo-se que o acusado calunia como
cmplice um inocente, a notcia dos acrdos celebrados entre le
e um inimigo feroz do pretendido cmplice, poder levar a justia
suspeita da mentira nas acusaes do argido: investigao
difcil, no o negamos, mas menos difcil que a necessria para
descobrir a corrupo exercida sbre o esprito de qualquer outra
tstemunha. O terceiro, que chamado como tstemunha, no se
encontra submetido a vigilncia por parte da justia. Quando, por
isso, depois de ter pactuado com um inimigo do acusado o preo
de um falso testemunho, o terceiro se apresenta a depor, a justia,
no tendo conhecimento das relaes pessoais da tstemunha,,
tem um indcio a menos para a suspeitar de mentira. Mas basta a
ste respeito.
Dissemos j que a acusao do cmplice em sentido gen-
rico se subdivide para maior exactido em duas variedades: em
acusao em sentido especifico, e em chamamento do cmplice.
A acusao em sentido especfico do cmplice refere-se hiptese
de que o cmplice, contra quem o acusado depe, tenha j sido
indicado como tal pelo que consta dos autos; o chamamento do
cmplice refere-se, ao contrrio hiptese de que, pelo que consta
dos autos, o cmplice contra quem o acusado depe s tenha sido
indicado como tal pela palavra do acusado. Estas duas variedades
tstemunhais no se encontram submetidas a critrios diferentes;
tanto uma como outra so apreciadas pelos mesmos critrios de
avaliao. Mas o chamamento do cmplice tem um motivo de
inferioridade, que consiste na espontaneidade do tes-
temunho do acusado; e esta espontaneidade tem uma influncia
que agrava todos os motivos de descrdito possveis, fazeudo com
que les se tornem pelo chamamento do cmplice, de uma fra
superior que teem para a acusao em sentido especfico.
Abra-se aqui um parentesis: Pode, por acaso, observar-se
que a espontaneidade do testemunho do acusado se verifica no
s quando o cmplice, contra quem se depe, no indicado
526 A Lgica das Provas em Matria Criminal
como tal pelo que consta dos autos, mas tambm quando, sendo
mesmo indicado como tal, o acusado no tenba disso conheci-
mento. Isto rigorosamente verdadeiro: mas proceder-se b mal
querendo tirar destas consideraes a conseqncia de que a noo
anteriormente apresentada muito restrita e inexacta. Ns s
consideramos a espontaneidade emquanto constitui uma razo de
inferioridade probatria da indicao do cmplice, relativamente
acusao em sentido especfico. Ora, no caso, em que o cm-
plice contra quem o acusado depe indicado como tal pelo que
consta dos autos, embora o acusado no tenha disso conhecimento, a
espontaneidade do seu testemunho no constitui lgicamente
uma razo de inferioridade probatria; por isso que esta espon-
taneidade uma fraqueza do testemunho, que contrabalanada
pelo valor tstemunhal da convergncia das provas: o acrdo
entre as palavras do acusado e as afirmaes do processo que
le no conhece, reala a f na sua credibilidade, aquela f que
a espontaneidade aconselharia a reduzir. E portanto, sob o ponto
de vista da fra probatria, essa hiptese no deve confundir-se
com o que indicamos sob o ttulo de chamamento do cmplice.
Posto isto, mantendo as noes j apresentadas, e voltando ao
que estavamos dizendo, a espontaneidade, nos limites por ns
estabelecidos, [faz com que, tanto os motivos comuns como os
motivos especficos de descrdito, se tornem mais fortes no caso
de chamamento do cmplice. Quando, no havendo coisa alguma
que indique a criminalidade de Ticio, o acusado se apresenta a
acus-lo de cumplicidade, tdas as hipteses possveis de mentira,
encontram mais fcil acesso no esprito do juiz; crr-se h com
maior facilidade no influxo de uma inimizade; crr-se h mais
fcilmente no influxo de uma corrupo; e assim por diante.
Bis aqui em que consiste a diferena probatria que ns
encontramos entre chamamento do cmplice e acusao, em sen-
tido especfico, do cmplice; em tudo o mais, estas duas varieda-
des unificam-se na subespcie tstemunhal, a que pertencem, e
na subordinao aos critrios especficos de avaliao que lhe so
superiores. Mas quais so os critrios de avaliao que se
referem
A Lgica das Provas em Matria Criminal 527
acusao, em sentido genrico, do cmplice ? Falando sob o ponto
de vista mais lato do testemunho do acusado sbre facto alheio,
dissemos j que os seus motivos especficos de descrdito se redu-
zem a um s: ao intersse em mentir derivado da qualidade de
acusado na tstemunha, intersse em mentir que se revela na
relao que existe entre o contedo que tem o depoimento, e a
qualidade de acusado que tem a tstemunha. Ora, considerando
ste motivo de descrdito particularmente em relao acusao
do cmplice, v-se que a suspeita da mentira recai sbre a
acusao do cmplice, como motivo especfico de descrdito, em-
quanto de natureza tal que leve suposio de que se tenha
apresentado ao espirito do acusado como um desagravo da pr-
pria responsabilidade. Do momento em que o acusado julga que,
atribuindo certos factos ao cmplice, diminui a prpria responsa-
bilidade, o seu depoimento contra o cmplice supe-se lgicamente
ter sido ditado no segundo a verdade, mas pelo intersse pessoal
na causa; ste um motivo de descrdito que deriva precisamente
da relao entre a qualidade de acusado confesso na tstemunha, e
o contedo, acusatrio do cmplice, do sen testemunho; ste por
isso um motivo especfico de descrdito da acusao do cmplice.
No so necessrios comentrios, para se compreender como
o acusado, que confessa ter tomado parte de um modo acessrio
no crime, quando atribui a parte principal ao seu cmplice, deva
legitimamente ser suspeitado de mentira. E compreende-se. por-
tanto, que se aquele contra quem se dirige esta maior acusao
estranho ao processo, a espontaneidade do chamamento tornar
mais viva ainda a suspeita sbre as palavras acusadoras do
argido.
No necessrio comentrios, para se compreender que,
achando-se o acusado sob a acusao de um crime como nico
autor, se le vem atribuir, em seu desagravo, parte da aco
criminosa a um pretendido cmplice, ste chamamento do cm-
plice deva originar grandes e legtimas suspeitas. Em tais hip-
teses, no , pois, intil notar que as suspeitas aumentaro ou
diminuiro segundo a natureza do crime; as suspeitas sero
528 A Lgica das Provas em Matria Criminal
menores em um crime cuja execuo requeira ordinriamente o
concurso de mais pessoas, e maiores em um crime cuja exe-
cuo no necessita multiplicidade de agentes: a influncia do
critrio comum objectivo da verosimilhana ou da inverosimi-
lhana das afirmaes tstemunhais.
Sempre que, repitamo-lo, a acusao em sentido genrico
do cmplice se apresenta como um desagravo do argido qne
acusa, a suspeita sbre a sua veracidade legtima. Deriva daqui
tornar-se esta suspeita gigantesca, quando se prometeu a impu-
nidade revelao dos cmplices; o impulso para a mentira
to forte, que a lgica se recusa a prestar ateno a uma tal
designao de cmplice, que tem como prmio a impunidade do
seu revelador. Mas, felizmente, estas hipteses da impunidade,
como prmio das revelaes, tem perdido hoje a sua importn-
cia, tendo-se verificado os seus grandes prejuzos. A promessa
de impunidade, em vez de ser um freio ao crime pela descon-
fiana que gera entre os cmplices, antes um incitamento ao
crime, devido segurana que d a cada um de ter sempre um
caminho aberto para se esquivar justia penal. A promessa de
impunidade, pacto imoral entre a lei e o delinqente, alm de
ser um rro judicirio, um rro probatrio: por um lado incita
ao crime, e corrompe e perturba a sociedade com o espectculo
de deixar livre e impune um criminoso, que qusi sempre no
s o maior ru, mas o mais perverso; por outro, confunde todo
o critrio probatrio, originando, por obra da lei, na conscincia
do acusado, um impulso poderosssimo para as falsas revelaes.
Concluindo, julgamos conveniente repetir qne o critrio espe-
cfico de avaliao, que expozemos anteriormente, no pode s
por si determinar o valor respeitante acusao do cmplice.
Dissemos tambm j, que todo o critrio especfico de avaliao
da afirmao de uma pessoa no substancialmente seno o
modo particular, por que um motivo genrico se determina mais
freqentemente, do que em qualquer outra, em uma dada espcie
tstemunhal: assim, o intersse na causa, critrio geral de
avaliao para todo o testemunho, qne se converte no critrio
especfico de avaliao para ns exposto a propsito da acusao
A Lgica das Provas em Matria Criminal 529
do cmplice. Ora, alm dste critrio genrico, que se converte,
pelas suas particulares determinaes, em um critrio especfico
da acusao do scio; alm dste critrio genrico, para se obter a
medida exacta da credibilidade da acusao do cmplice,
necessrio atender tambm a todos os outros critrios genricos,
quer se fundem em consideraes do sujeito, quer da forma, quer
do contedo do testemunho.
No nos chamem enfadonhos se insistimos em certas consi-
deraes; mas parece-nos, por vezes, que no as ter presentes
causa de muitos e graves equvocos.
Observemos, finalmente, que falando da acusao do cm-
plice, nos temos referido sempre hiptese de um acusado con-
fesso que se encontra sub judice para ser processado e julgado.
Que diremos ns no caso em que o acusado em seguida ao jul-
gamento se encontra j condenado, e se apresenta acusando um
cmplice ?
E necessrio distinguir: se, emquanto ao condenado, essa
acusao, uma vez aceita, podsse dar lugar a uma revogao da
sentena, ou a um perdo da pena, a suspeita surgiria poderosa
contra a sua veracidade; se, pois, no pode provir dela alguma
vantagem para o condenado, necessrio distinguir, relativamente
ao influxo que essas revelaes poderiam ter sbre o destino do
cmplice. Se o cmplice se encontra definitivamente Julgado de
modo a no poder car de novo sub judice, as palavras do acusado
so sem efeito, e no necessrio atender a elas; se se trata, pois,
de um cmplice, que pode car de novo sub judice, ou sob a
acusao de um indivduo que no foi chamado a juzo, e que pela
natureza da acusao pode ser sempre chamado a prestar contas
judicialmente, ento no pode pro-curar-se seno entre os critrios
comuns do testemunho o impulso possvel para a mentira que tenha
arrastado o condenado a tais revelaes, tendo sempre presente que
a espontaneidade das revelaes do condenado, e a sua
inoportunidade, acreditam as razes de suspeita.
24
530 A Lgica das Provas em Matria Criminal
II Tstemunho sbre facto alheio, do acusado que
se desculpa em tudo'
No nos referiremos aqui hiptese do acusado que depe
sbre o facto de outrem desculpando-se em parte em quanto ao facto
prprio; porquanto a hiptese da desculpa parcial se confunde com
a da confisso parcial j por ns anteriormente examinada. Exami-
naremos aqui o caso em que o acusado depe sbre o facto de-
outrem, desculpando-se totalmente quanto ao facto prprio.
Esta hiptese do depoimento sbre o facto de ontrem, por
parte de um acusado que se desculpa em tudo, no tem dado lugar,
como a hiptese do depoimento do acusado confesso, a problemas
e discusses: ela nem mesmo tem sido tomada em considerao.
Mas a menor importncia, que reconhecemos nesta hiptese, parece-
nos no dever dispensar o seu exame, ainda quando mais no fsse,
para a integridade do estudo. Mas qual a razo da menor
importncia desta hiptese? No caso do acusado confesso, supondo
mesmo verdadeira a confisso, o seu depoimento- um testemunho
prestado por um delinqente no seu prprio julgamento; daqui o
grave problema do valor tstemunhal da sua palavra sbre o facto
do cmplice; da sua palavra, emitida no prprio julgamento do
delinqente que se reconhece como tal. No caso do acusado que se
desculpa em tudo, ao contrrio, se se reconhece como verdadeira a
desculpa, o seu depoimento sbre o facto alheio, considera-se to
valioso como o de qualquer outra tstemunha; se, portanto, a sua
desculpa se considera como falsa, ento a sua palavra perde tda a
importncia probatria, como palavra de tstemunha mentirosa.
Posto isto, passemos a referir as variedades em que pode
determinar-se o depoimento sbre o facto de outrem, do acusado
que se desculpa em tudo.
O acusado mesmo desculpando-se em tudo quanto a si, pode
tanto desculpar como acusar outrem: o seu testemunho, que des-
culpa quem se encontra tambm em juzo com le, chamamo-lo-
desculpa do co-ru; o seu testemunho acusando quem se acha
A Lgica das Provas em Matria Criminal 531
em juzo com le, ou mesmo uma pessoa estranha ao juzo, cha-
mamo-lo designao de ru. Digamos uma palavra sbre cada
uma destas subespcies.
Emquanto desculpa de outrem por parte de quem se des-
culpou tambm, denominamo-la desculpa do co-acusado, porque
ela s pode ter lugar a favor de quem se encontra sob a acusao;
a desculpa s se entende em favor do acusado; preferimos
portanto falar de co-acusado, e no de cmplice, porquanto do
momento em que o acusado se desculpa em tudo, , relativamente
a le, em qualquer caso, uma antinomia falar de cmplice do
crime. O motivo especial de descrdito dste, como de qualquer
outro testemunho do acusado sbre o facto alheio, assenta no
intersse em mentir, que nasce da qualidade de acusado na
tstemunha; e ste intersse em mentir determina-se, a propsito
de desculpa do co-acusado, na hiptese de que a desculpa do co-
acusado se unifique com a desculpa prpria, e na hiptese de que
o co-acusado que desculpado possa desculpar-se por sua vez, ou
simplesmente no acusar o argido, retribuindo-lhe o servio dle
obtido. Assim, se um acusado, que sabe ter sido visto, antes e em
seguida ao crime, em companhia de Gaio, vem afirmar, que le e
Caio se achavam em lugar diverso daquele do crime, ao tempo da
sua consumao; compreende-se que ste alibi afirmado tambm
por Caio, uma conseqncia do alibi por le afirmado; verificada
a companhia de Ticio e de Caio em momentos precedentes e
subsequentes ao crime, o alibi ganha credibilidade sendo afirmado
por um e por outro, e perde credibilidade sendo afirmado por um
s. E, portanto, afirmando-se o alibi tambm por parte do co-
acusado Caio, ste tem um intersse comum em no revelar a sua
falsidade. medida, pois, que a desculpa do co-acusado se
destaca da do acusado, tornan-do-se independente dela, e no
apresentando possibilidade de auxlios tstemunhais
correspectivos por parte do co-acusado, o testemunho do acusado
desculpando-se ganha em credibilidade, por isso que o motivo
especfico de descrdito torna-se sempre menos aplicvel. Assim,
se Ticio, acusado de ferimentos numa rixa, afirma achar-se
presente na desordem, mas no ter ferido,
632 A Lgica das Provas em Matria Criminal
e afirma ao mesmo tempo que Caio, co-acusado, nem sequer se
achava presente na desordem, esta desculpa do co-acusado tem
tda a sua fra probatria. Poder esta fra ser impugnada
por motivos comuns de descrdito; mas no h motivo algum
que tire a credibilidade a semelhante testemunho do acusado.
Passemos designao de ru. O acusado que se desculpa
a si prprio em tudo, pode com as suas palavras dirigir, ao con-
trrio, a acusao, quer contra quem se encontra em juzo, co-
acusado, como cmplice do mesmo crime, quer contra outrem,
estranho ao julgamento do delito em questo. Esta espcie de
testemunho sbre o facto de outrem tem na sua natureza espe-
cial um motivo constante de descrdito. evidente que quem
tenta afastar de si tda a responsabilidade, designando outrem
como ru, impelido sempre pelo grande intersse de desviar
de si tda a acusao, colocando-se fora da causa.
Tanto quanto designao de ru, como quanto desculpa
do co-acusado, no intil, portanto, observar que os critrios
especficos de avaliao se acham, nsse caso sbretudo, subordi-
nados ao critrio comum de veracidade ou falsidade do depoimento,
por isso que se deduzem da veracidade ou da falsidade do depoi-
mento que o acusado faz sbre o facto prprio. A veracidade veri-
ficada pela desculpa prpria reala a f na palavra do acusado,
emquanto desculpa ou acusao de outrem; vice-versa, a fal-
sidade da desculpa prpria diminui a f na palavra do acusado,
tanto quanto desculpa como quanto acusao de outrem.
Uma ltima considerao, e conclumos. Tambm a prop-
sito de acusado que se desculpa em tudo, falando do seu
testemunho acusando outrem, referimo-nos hiptese de que le
se encontre sub judice para ser processado ou julgado. Que
diremos se le j foi condenado? Do momento em que o
acusado foi condenado, a distino entre acusado que confessou,
e acusado que se desculpou em juzo, perde tda a importncia;
e por isso o problema do valor probatrio da sua palavra um
problema nico, tanto para um caso como para outro, e deve
por isso resolver-se sempre segundo os mesmos critrios j por ns
mencionados relativamente ao ru confesso. Basta smente
observar
A Lgica das Provas em Matria Criminal 533
que, quando o condenado passa a declarar-se inocente, o facto de
acusar outrem, quando mesmo no possa ter em vista sub-trair-se
no todo ou em parte ao sofrimento da pena, pode sempre fcilmente
ter em vista acreditar de qualquer modo as suas palavras, para ao
menos se fazer lastimar como vtima de rros judicirios.
CAPITULO VII Limite probatrio
derivado de ser nico o depoimento
Temos j, anteriormente, feito por diversas vezes referncia
ao facto de ser singular, como limite probatrio, o testemunho.
Mas, tratando-se de uma grave questo, que deu lugar a acalo-
radas discusses e a concluses opostas, julgamos necessrio exa-
min-la, aqui, de um modo particular e mais desenvolvidamente.
O problema do depoimento singular, que se tem debatido smente
emquanto ao testemunho de terceiro, deve considerar-se tambm
emquanto ao do ofendido e do acusado. Procedamos a ste exame.
Comeando por considerar a qualidade de ser nico em-
quanto ao testemunho de terceiro, para no car em equvocos
bom determinar em primeiro lugar a natureza do problema que se
trata de examinar.
O problema ste: A palavra da tstemunha nica, con-
quanto possua tda a credibilidade, mas sem mais auxlio algum
de provas directas ou indirectas, em face do dizer contrrio do
acusado, pode, relativamente existncia de um facto qualquer,
ter fra prevalente de modo a produzir aquela certeza que a
nica base legtima da sentena condenatria?
Dissemos que no problema atenderamos palavra da
testemunha sem auxlio de outras provas, quer directas, quer indi-
rectas, comprovantes do facto atestado; porquanto se, para provar
o facto atestado pela nica tstemunha, concorrem, admitamos,
indcios graves, todos veem que a acumulao do testemunho
com outras provas, se bem que indirectas, pode naturalmente
produzir uma certeza legtima; e o testemunho j no seria nico
534 A Lgica das Provas em Matria Criminal
como prova. Muitos dos que se declaram a favor da possibilidade
do valor prevalente do testemunho singular, so guiados precisa-
mente pela hiptese no expressa desta sua acumulao com
outras provas.
Quando falamos do problema do testemunho nico, enten-
demos falar de um testemunho nico como testemunho e como
prova, relativamente a um dado objecto.
Disse eu tambm na enunciao do problema qne examino
o valor do testemunho relativamente existncia de um facto
qualquer; por isso que no necessrio atender nicamente
hiptese do testemunho nico em processo, isto , hiptese
extraordinria do testemunho como nica prova de todo aquele
facto complexo que se denomina delito: considerar assim o pro-
blema limit-lo. Pode dar-se o caso de cem tstemunhas afir-
marem sem discrepncia o delito e delinqente, mas relativa-
mente a uma circunstncia haver nicamente uma tstemunha
afirmando por um lado, e o acusado negando por outro: nste
caso, como no primeiro, subsiste sempre o problema do valor do
testemunho nico. Um problema pode examinar-se nas suas par-
tes, mas no lcito tomar uma parte pelo todo. Dar a um
problema maior ou menor compreenso que a que lhe respeita,
falsear a sua natureza. O problema, portanto, da singularidade
do testemunho de terceiro deve ser examinado dentro dos limites
que acima marcamos.
Determinada, assim, a natureza do problema, do mximo
intersse, para evitar outros equvocos, declarar qual o campo e
qual o ponto de vista dentro do qual se entende trat-lo.
necessrio ter sempre presente que, em matria de provas,
os jurisconsultos no se deixam guiar exclusivamente pelas leis
racionais da certeza. Atendendo a que a certeza judiciria nunca
apodctica, e pode sempre insinuar-se nela o rro, a sapincia
dos jurisconsultos e dos legisladores tem procurado determinar
frmulas e estabelecer garantias que tornem, se no impossvel,
pelo menos difcil o rro: a disciplina que se ocupa dste assunto
arte judiciria, como a que se ocupa das leis racionais da cer-
teza a lgica judiciria. stes dois pontos de vista podem
A Lgica das Provas em Matria Criminal 535
levar a conseqncias diversas; e no distingu-los; origina uma
infinidade de equvocos, e leva amigos e adversrios a no se
entenderem. A lgica judiciria pode dizer, a propsito de uma
prova: ela racionalmente capaz de produzir a certeza; e a arte
judiciria pode acrescentar: no entanto melhor rejeit-la sempre,
por isso que contm a possibilidade de muitos rros.
Posto isto, conveniente notar que ns passamos a consi-
derar o problema sob o nosso ponto de vista, que o da lgica
judicia], notando igualmente que a arte judicial pode aplicar, na
soluo do problema, critrios mais restritos e nunca mais largos.
Tendo determinado a natureza do problema, e o ponto de
vista sob que o consideramos, passemos a examin-lo.
No exame dste problema, necessrio comear, segundo
nos parece, por estabelecer uma distino fundamental, que leva a
uma dupla ordem de critrios na sua soluo. O testemunho nico
pode ser o que determina a acusao contra um determi-nado
indivduo; ou existe j um acusado, e ento o testemunho nico
no faz seno ajuntar alguma coisa acusao.
A primeira hiptese pode verificar-se tanto no caso de o
testemunho nico ser a exclusiva afirmao, ao mesmo tempo, do
delinqente e do delito, que o caso do testemunho nico no
processo, como no caso de smente o testemunho nico denunciar
o delinqente, emquauto que o delito deriva de outros meios.
Comecemos por examinar separadamente stes dois casos da pri-
meira hiptese, e passemos em seguida a examinar, em terceiro
lugar, a segunda hiptese.
I O testemunho pode ser prova nica da subjectividade e
da objectividade do crime. Pouco depois da morte de Caia,
casada, espalha-se o boato de que Ticio, poncos dias antes da sua
morte, a fizera sucumbir aos seus desejos, por meio de violncia
moral, com ameaas de morte, mo armada. Procede se a uma
investigao, e verifica-se que ste boato foi espalhado por
Semprnio, que, morando num quarto contguo ao da violentada,
pretende ter sido espectador da scena, espreitando pelo buraco de
uma fechadura. Ticio nega.
Desculpem apresentar um exemplo um pouco complicado;
536 A Lgica das Provas em Matria Criminal
mas era necessrio para fazer encarar a questo em si mesma de
modo que a mente do leitor no se preocupasse com outro
critrios. Se tivesse escolhido o exemplo de um crime de facto
permanente, como o homicdio ou outro, teria sempre, na exem-
plificao, de fazer com que faltasse o cadver ou qualquer outro-
corpo de delito, para evitar o concurso de provas com o nico
testemunho; e ento o leitor podia deixar-se prender por crit-rios
que regem a outra questo gravssima da verificao do corpo de
delito. Se se tivesse suposto virgem a pessoa violentada, encontrar-
nos-amos em face de outras verificaes materiais que se teriam
acumulado com o testemunho, ou com a declarao do acusado. Se
a tivssemos suposto viva, encontrar--nos-amos em face da sua
declarao como ofendida, declarao-que se acumularia tambm
com a da testemunha ou com a do acusado, perturbando, assim,
sempre a hiptese simples do testemunho Como prova nica em
processo. No , portanto, o amor de investigar que sugeriu o
exemplo um pouco complicado. Entro de novo no caminho direito.
O testemunho, como se v no exemplo apresentado, a nica
prova da subjectividade e da objectividade do crime; poder le
prevalecer sbre a afirmao contrria do acusado ? No, senhores,
cem vezes no.
Em primeiro lugar, nesta hiptese extraordinria e especial
que examinamos, poderemos, sem mais nada, declarar-nos contra o
valor prevalente do testemunho nico, pela considerao superior
do fim da pena. sociedade pune, por isso que o crime criou, e
mantem, uma desordem social, intimidando os bons e-animando os
malvados: nesta perturbao social, como conseqncia do crime,
que assenta o direito, que sociedade pertence, de punir. Mas que
espcie de perturbao social poderia atribuir-se a um crime que
existe nicamente na simples palavra de uma nica testemunha?
Se, depois de desenrolado todo um processo, no se encontrasse
mais coisa alguma na acusao de um homem do que as palavras
acusatrias de outro homem, que so no s as nicas afirmativas
de quem o delinquente, mas tambm do delito, ainda que ste
testemunho seja da mxima
A Lgica das Provas em Matria Criminal
537
credibilidade, acreditareis vs, qno a sociedade pudsse punir? A
pena, em vez de reestabelecer a tranquilidade perturbada, pro-
vocaria ela mesma uma grave perturbao na conscincia social:
todos julgariam, por sua vez, poder vir a ser vtimas de um ini-
migo astucioso que se apresentasse a acusar. J no questo de
veracidade da tstemunha, e de certeza do juiz; questo do
direito da sociedade em punir, direito que tem o seu fundamento
de justia, e os seus limites racionais na eficcia reesta-belecedora
da tranqilidade social: quando no exista esta eficcia, no h
direito de punir.
Mas voltemos nossa ordem de ideias, que a da fra de
verificao que teem as provas em si. E o testemunho nico capaz
de produzir a certeza judicial?
Se a um sbio que tem de praticar um acto importante se
apresenta uma pessoa, ainda que seja digna da mxima credibi-
lidade, e lhe afirma um facto que tem uma influncia decisiva
sbre a prpria aco, o sbio no fixa com segurana, imediata-
mente, as suas determinaes, tomando por evangelho as afirma-
es obtidas; mas tendo intersse em chegar verdade a fim de
regular a sua conduta, o sbio julga-se no dever de procurar
verificar o facto por outros meios; dirige-se ao prprio afirmante e
diz-lhe: apresentai-me as provas do que afirmais; e, dizendo isto,
mostra que as palavras puras e simples daquela nica tstemunha
teem sbre a sua conscincia antes o valor da enunciao de um
facto, que o da sua prova: e isto parece natural,. e aprovado por
qualquer outro sbio.
Mas no se pretende que deva assim ser em crtica criminal.
No jurista, jurisconsulto ou juiz, o hbito contnuo das subtilezas e
das fices, acaba por criar uma lgica artificial, uma lgica de
ocasio que se tem sempre mo para as salas de justia e para as
academias, como se tem pronta a toga para envergar e a gravata
branca para atar. E quando o magistrado e o letrado, entrando de
novo na sua vida ordinria, pem de parte o hbito de ocasio,
pem juntamente com le a lgica de ocasio, que no serve bem
para as necessidades da vida. Ento, de sob o homem artificial,
surge o homem da natureza, e de sob a
538 A Lgica das Provas em Matria Criminal
lgica artificial desponta felizmente o bom senso. E bom, por
isso, em muitas questes jurdicas ouvir as vozes do bom senso:
reconduzir o magistrado e o letrado ao ambiente da vida ordi-
nria, para ouvir dles as respostas da lgica modesta, insepa-
rvel do bom senso.
O magistrado, deixando o Tribunal social, quando torna a
entrar no seio da sua famlia e se torna chefe do tribunal doms-
tico, como que se comporta em caso de desavenas? Um de
seus filhos afirma um facto ignominioso contra seu irmo, e ste
nega-o; um bom chefe de famlia julga-se em vista disso no
direito de recorrer com consciencia segura ao castigo ? De modo
algum! o pai de famlia consciencioso acha que, entre um que
acusa e o outro que nega, existe igual credibilidade, e portanto
procura outras provas, para obter a certeza 9 punir: e quando
no encontra outras provas, fica na dvida e no castiga. Porque
, pois, que esta lgica da vida no tem aplicao nem valor na
sala de justia? Quanto a mim, tanto nesta como em tantas outras
questes, uma fico jurdica que por vezes preocupa o homem
de scincia sem que ste d por tal, arrastando-o a concluses
diversas. No julgamento criminal, h a interveno de uma pessoa
que concretiza uma fico jurdica: o Ministrio Pblico, em
quem se finge encarnada a aco penal. Ora, vendo-se nesta ter-
ceira pessoa que intervem, vendo-se no Ministrio Pblico a enun-
ciao da acusao, como coisa distinta do testemunho nico,
julga-se ver neste uma prova que pode ser convincente. O Minis-
trio Pblico enuncia a acusao, que, assim, fica j lanada
sbre a cabea do acusado; o testemunho, se bem que nico, jun-ta-
se acusao e prova verdadeira, que pode gerar a certeza
jurdica: eis aqui um exemplo da lgica de ocasio. Mas, senhores,
o que a acusao pblica seno o co daquela prova nica? [Tanto
valor tem a palavra do acusador pblico, quanto o que deriva da
palavra da nica testemunha. Conseguintemente, na realidade,
pondo de parte a fico, estamos sempre perante duas nicas
afirmaes: a da testemunha por um lado, a do acusado por
outro; e, portanto, o testemunho nico antes a enunciao da
criminalidade, do que uma prova. necessrio, que a le se
A Lgica das Provas em Matria Criminal 539
jantem outras provas, se se quer obter a certeza; a declarao de
criminalidade por parte da tstemunha nica, destruda pela
declarao da inocncia por parte do acusado. Em lgica judiciria,
necessrio, nas questes, no se deixar influenciar pelas
formalidades mais ou menos acidentais do processo positivo.
Mas, admitindo-se que no temos perante ns seno o acusado
e a tstemunha, dizer-nos h, contado, Ellero, e dizer-nos ho
outros, que a palavra do acusado oferece menor credibilidade, pois
que, sendo interessado, suspeito.
Antes de mais nada, h uma primeira resposta a dar a esta
objeco. Se por um lado a palavra do acusado parece menos
crivei por le ser o interessado, por outro parece mais crvel por
que refrada pela presuno de inocncia que lhe assiste. O
intersse, fazendo presumir a facilidade da mentira, diminui a f
no acusado; a presuno da inocncia, coincidindo com as suas
palavras de desculpa, aumenta-a; so duas presunes que se
combatem e se elidem.
Mas, a par da presuno de inocncia, vejamos a origem
desta suspeita, que se quer opr ao acusado: tem a sociedade o
direito de lha opr, para desacreditar as suas palavras? Creio que
no.
Levantais contra mim uma acusao, e depois no quereis
dar valor s palavras que apresento em minha defesa, porque a
acusao me diz respeito. Suspeitais da minha palavra, porque
em meu proveito. Eu que suspeito da vossa acusao e da vossa
afirmao contra mim, que me leva, como conseqncia natural,
querendo afirmar a verdade, defesa da minha inocncia.
Primeiro acusais-me, e em seguida suspeitais da minha palavra
porque me defendo. Que espcie de lgica de prepotentes a
vossa? Esta suspeita, de que vos servis de arma contra a minha
credibilidade de acusado, deriva nicamente do facto vosso, do
prprio facto da acusao: e um crculo vicioso sob o ponto de
vista da lgica, uma violncia sob o ponto de vista da justia,
querendo estabelecer se a acnsao merece ou no merece f,
dizer ao acusado: Tu, cidado, talvez digno de respeito para
qualquer outro; no me mereces f na tua defesa, porque eu te
540 A Lgica das Provas em Matria Criminal
declaro suspeito acusando-te. A minha acusao torna suspeitas
as palavras que apresentares em tua defesa; tornando-se suspeita
a tua palavra, prevalece a contrria da testemunha; prevalecendo
a palavra da testemunha, a minha acusao verdadeira, e tu
s ru. Mas no vdes em que se funda ste sofisma ? Naquela
distino enganadora, que desnorteia os promotores dos processos,
entre a imputao i a acusao de um lado, e o testemunho
nico da outra. Mas a acusao, no intil repeti-lo, na hip-
tese de um nico testemunho acusatrio, no extrai o seu con-
tedo seno do prprio testemunho que nico a acusar, e cujo
valor se estuda; e contudo a acusao e o testemunho nico so,
emquanto origem do seu contedo, uma s e idntica coisa,
em presena da razo; e o paralogismo precedente reduz se a
ste mais simples: acusao torna suspeita a tua palavra, logo
a acusao verdadeira; ou a ste outro: O testemunho contra
ti, conquanto nico, torna suspeita a tua palavra, logo o teste-
munho verdadeiro. Isto no seno provar a verdade da acusa-
o ou do testemunho com o facto da prpria acusao ou do
prprio testemunho: o mesmo pelo mesmo. Precavei-vos, senho-
res, contra o sofisma! ste tem sob a sua conscincia mais vti-
mas que as que pode ter tido o mais afamado criminoso. Se le
podesse ser arrastado ao banco dos rus, sbre quantos crimes
no teria le que responder, cometidos sombra da lei, e sob a
mascara da justia!
II O testemunho nico pode ter por objecto a subjecti-
vidade do crime. O crime objectivamente verificado; a teste-
munha diz: ste o ru. Suponhamos que a testemunha no
acrescenta nenhuma outra determinao objectividade j veri-
ficada do crime; mas se lha tivesse acrescentado, no mudaria,
para ns, o fundo da questo, que est na exclusiva indicao
do ru.
Tanto neste segundo caso, como no primeiro que exami-
namos precedentemente, apresentam-se sempre duas nicas asser-
es, a da testemunha de um lado, e a do acusado de outro, e
elidem-se pelas razes expostas a propsito da primeira hiptese.
O testemunho, nico a designar o delinquente, no pode pro-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 541
luzir aquela certeza que a base legtima da condenao, em
vista de todos os argumentos anteriormente expostos, e que 6
conveniente recapitular aqui:
1. porque o testemunho nico, sendo a primeira e a nica
voz que se levanta contra o acusado, le, perante a conscincia
esclarecida do magistrado judicante, apresenta-se antes como
enunciao, do que como prova da criminalidade;
2. porque esta primeira e nica voz que se levanta contra o
acusado, sendo aquela em que na realidade se funda a aco
judicial para atacar o acusado, segue-se que a enunciao de
criminalidade, contida no testemunho nico constitui prpriamente
a acusao real contra o acusado; pondo de parte a acusao
oficial, que no seno a aceitao e a proclamao formal e
social daquela acusao real e individual, que o verdadeiro
contedo do testemunho nico.
Ora, sendo a tstemunha nica, na realidade, tambm um
acusador, estranho e contrrio a todo o princpio de justia
conceder fra prevalente de prova sua palavra;
3. porque o acusado est protegido pela presuno de
inocncia que refra a f na sua palavra, e a resguarda dos golpes
do testemunho acusatrio, emquanto no concorrem com le
outras provas;
4. porque a suspeita que se pretende opr ao acusado para
desacreditar a sua credibilidade, no b direito de lha opr,
derivando ela daquele mesmo testemunho nico de que se pre-
tende julgar o valor em face da afirmao contrria do acusado:
para provar a verdade da acusao no pode alegar-se o facto da
acusao, sem se cometer uma vergonhosa petio de princpios.
Finalmente, por uma considerao estranha lgica das
provas, e relativa lgica do direito punitivo, mesmo admitin-
do-se uma certeza legtima fundada na palavra da nica tste-
munha, esta certeza no poderia levar condenao, sem con-
trariar os fins da pena. A pena deve sbretudo tranquilizar a
sociedade; e a pena imposta sob a f de uma nica tstemunha
perturbaria, ao contrrio, profundamente a conscincia
542 A Lgica das Provas em Matria Criminal
social: no haveria quem no se julgasse poder ser, por sua
vez, vtima de um malvado e astuto inimigo que se apresen-
tasse a acus-lo.
Resta-nos smente observar emquanto a esta segunda hip-
tese, isto , hiptese de que o delito tenha sido objectivamente
verificado, e de que o testemunho se conserve prova nica rela-
tivamente designao do ru, resta-nos, dizia, observar que,
do momento em que o crime se acha objectivamente verificado,
se aquele que designado pelo testemunho nico o verdadeiro
ru, se apresentam qusi sempre, pelas mesmas condies de
tempo, de lugar e de modo de ser do crime verificado, provas
indirectas contra le, que, renindo-se ao testemunho acusatrio,
podem torn-lo superior palavra negativa do acusado. Mas,
nste caso, querendo fazer valer estas provas indirectas para
estabelecer a superioridade do testemunho nico de terceiro
contra o do acusado, necessrio, no s ser-se exigentssimo
sbre as provas da objectividade criminosa, de modo que se
desvaneam as possibilidades de simnlao e de casualidade do
facto, mas necessrio tambm que as provas indirectas sejam
de um certo valor, e avaliadas escrupulosamente, com tdas as
precaues.
Sempre que, portanto, a designao do acusado deriva do
testemunho nico, ainda que ste seja, sob o ponto de vista da
lgica criminal, da maior credibilidade, no pode prevalecer sbre
a palavra contrria do acusado, de modo a produzir aquela cer-
teza que base legtima da condenao; no pode prevalecer se
no deixa de ser nico como prova; isto , se no tem o auxlio
de outras provas indirectas. E falo nicamente do concurso de
provas indirectas, por isso que na hiptese de testemunho nico,
determinativo do delinqente, emquanto ao mesmo objecto no
pode haver, com le, o concurso de outras provas que no sejam
reais; e as provas reais, emquanto so indicativas da pessoa do
delinqente, no podem ser seno indirectas.
Repitamos, um testemunho de terceiro, nico designativo
do ru, no pode prevalecer, sbre a palavra contrria do acusado,
sem o auxlio de outras provas indirectas; e estas outras provas
A Lgica das Provas em Matria Criminal 543
indirectas, naturalmente, devem ser graves e avaliadas com tda a
circunspeco.
IIITudo o que temos dito nos dois nmeros precedentes,
refere-se hiptese de a designao do argido derivar do tes-
temunho nico. Tratemos agora da segunda hiptese: existe j
um argido por outras provas, e o testemunho nico j no tem
portanto por objecto, como prova nica, a pessoa do acusado,]
mas sim qualquer facto da acusao.
Nesta hiptese, tdas as razes que apresentamos contra a
prevalncia do testemunho nico, j no teera valor. Esta j no
a primeira voz que se ergue contra o acusado; no le que pe
em movimento a aco judicial; no le, portanto, o acusador. O
acusado, por outro lado, j no se encontra protegido pela
presuno de inocncia, a qual j se acha, pelo menos, paralisada.
Nem mesmo pode invocar em seu favor a presuno de menor
criminalidade, pois que esta presuno, sob o ponto de vista da
verdade do facto, tem um fundamento oscilante aos sopros da
dvida; contrriamente primeira que assenta sbre uma base de
granito.
Com efeito, quem h que pretenda pr em dvida que o
estado ordinrio dos homens a inocncia no sentido de no
delinquirem, e que conseguintemente a maioria dos homens no
delinqente ? Os delinqentes felizmente so apenas uma
excepo na humanidade; uma excepo um pouco vasta, se
quereis, mas sempre uma excepo: a regra a no delinquncia.
Em tudo isto no h nada de filantropia, nem de retrica: h
apenas exactido ontolgica na observao do estado ordinrio
dos homens, como exactido lgica existe tambm na deduo da
presuno de inocncia, que se funda no conhecimento daquele
estado ordinrio.
Ao contrrio, ser o estado ordinrio dos rus a menor cri-
minalidade, pelo menos contestvel, pois por tal forma as fortes
e irracionais paixes que acompanham a criminalidade se
manifestam inimigas da virtude dos espritos tranqilos, que sej
chama moderao. Fundar teorias probatrias sbre a presuno
de menor criminalidade, edificar sbre fundamentos perigosos:
644 A Lgica das Provas em Matria Criminal
no pode, portanto, recorrer-se a ela, para fortalecer a credibili-
dade do acusado.
A presuno de inocncia uma verdade probatria, alm
de ser uma verdade jurdica; porquanto se funda na observa-
o exacta dos factos. A presuno de menor criminalidade ,
ao contrrio, uma verdade jurdica, mas no j uma verdade
probatria: uma verdade jurdica, no sentido de que, no se
verificando a maior criminalidade, no pode judicialmente reco-
nhecer-se seno a menor criminalidade; no uma verdade pro-
batria, porquanto no verdade, de facto, que o delinqente
cometa ordinriamente o crime do modo menos criminoso possvel.
No h, pois, presuno alguma que faa realar a f na
palavra do acusado.
E no tudo: no smente o acusado no tem presuno
alguma a favor da sua credibilidade, mas mesmo quando se
suponha, como fizemos h pouco, que o acusado tenha j sido
designado por outras provas, e que o testemunho nico no faa
mais do que juntar alguma coisa acusao, a palavra do
acusado, como tal, tem na realidade menos valor que a da
tstemunha, como tal; e isto porque o acusado interessado
na questo, e pelo seu intersse pode ser arrastado mentira.
E nste caso, achamos legtimo suspeitar-se da palavra do acusado,
suspeita que anteriormente temos combatido; e todos veem a
razo. Nste caso, se se ope ao acusado o seu intersse na afir-
mao, e conseguintemente a suspeita de mentira, h direito para
isso, porque aquela suspeita no deriva do prprio facto do tes-
temunho nico que se quer fazer valer contra le, mas sim de
outras provas que j o designaram como ru. Portanto, de um
lado, h direito para suspeitar das palavras do acusado, que se
encontra atingido por outras provas, e por outro, no h uma
presuno poderosa para combater esta suspeita. Deriva daqui,
portanto, a inferioridade da palavra do acusado, em face da pala-
vra da tstemenha nica; o juiz por isso pode legitimamente
fundar a sua certeza sbre as palavras da tstemunha nica.
At aqui, atendemos ao limite probatrio derivado da sin-
gularidade, nicamente em relao ao testemunho de terceiro;
A Lgica das Provas em Matria Criminal 545
mas dissemos j que ste limite se fixa tambm tanto pelo que
respeita ao testemunho do ofendido, como ao do acusado. Diga-
mos ainda uma palavra sbre o assunto.
Relativamente ao testemunho do ofendido, compreende-se
fcilmente que a lgica criminal, pelas mesmas razes expostas a
propsito do testemunho de terceiro, no pode levar seno a
concluses idnticas: o testemunho do ofendido, emquanto o
nico indicativo do delinqente, no pode prevalecer sbre a
afirmao contrria do acusado.
ste preceito probatrio aplicado ao testemunho do ofen-
dido, se bem que tenha como razes justificativas aquelas mes-
mas que exposemos a propsito do testemunho de terceiro, pode,
contudo, encontrar-se em dificuldades prticas, e em objeces,
que necessrio prevenir. Dissemos j que uma tstemunba pode
ser a nica prova indicativa do delinqente, tanto na hiptese de
ela ser a nica prova do delinqente e do delito, como na hiptese
de ela ser a prova nica do delinqente, sendo o delito verificado
por outras provas.
Ora quanto primeira hiptese, no h dificuldades: quando
um pretendido ofendido se apresenta em juzo a acusar um pre-
tendido delinqente de um pretendido crime, sem o auxlio de
prova alguma, compreende-se fcilmente que no possa dar-se um
valor prevalente s suas palavras, sem pr em perigo a tran-
qilidade de todo o cidado honesto. Mas na segunda hiptese
que pode surgir dificuldade em admitir a nossa regra probatria;
isto , quando o testemunho do ofendido s prova nica rela-
tivamente determinao do delinqente, ao passo que o delito,
objectivamente, verificado por outros meios. Admitido o crime,
dir-se h, o intersse do ofendido ser sempre designar o verda-
deiro delinqente: porque, pois, duvidar da sua palavra? Quereis,
dir-se h, assegurar a impunidade ao delinqente, s porque le
no foi visto seno pelo ofendido? Ticio passeia por um bosque
solitrio; encontra-se com Caio, que o agride e fere: Ticio
apresenta-se imediatamente a uma autoridade judiciria, e, mos-
trando os seus ferimentos ainda escorrendo sangue, diz: foi Caio
que me feriu, em tal stio, a tal hora, com tal arma. Pois bem,
35
546 A Lgica das Provas em Matria Criminal
as palavras do ofendido no valero de nada para fazer com
que o agressor seja punido, s porque no h outras vozes que
se unam sua ? O delinqente conservar-se h impune ? Porque
no deve acreditar-se em Ticio, em le ter visto o que viu e
sofreu? No isto uma deplorvel negao de justia?
Estas objeces, que, ao primeiro aspecto, parecem formid-
veis, desfazem-se fcilmente perante uma dupla ordem de consi-
deraes.
Em primeiro lugar, estas objeces tiram a sua fra de
uma presuno que nem sempre verdadeira. Partem da presun-
o de que a pessoa designada como delinqente pelo ofendido,
seja o verdadeiro delinqente, quando isso pode perfeitamente
no ser assim, e precisamente isto que ns dizemos que se no
acha suficientemente provado que seja assim, smente pela auto-
ridade nica da afirmao do ofendido.
Mas, dir-nos ho, vs supondes verificado por outros meios
o delito; e por isso, admitido o delito, sempre intersse do
ofendido dirigir a acusao contra o verdadeiro delinqente.
Vamos de vagar: quando falamos de delito verificado objectiva-
mente, isto no deve ser tomado em um sentido absoluto. Muitas
vezes a objectividade, que se tem como verificada, do crime no
seno a materialidade verificada de um crime possvel; ma-
terialidade verificada, que pode at ser obra da simulao ou
do acaso.
Ticio, de noite, deposita na presena de algumas pessoas,
valores e um cofre; depois, dolosamente, rouba stes valores,.
fra a fechadura do cofre, e vai, de manh, apresentar a sua
queixa de roubo contra Caio, dizendo t-lo visto quando, de
noite, tendo-se introduzido em sua casa, frava aquele cofre, e
roubava aqules valores, e ter fingido estar dormindo, por mdo,
tendo-o visto armado. Vai-se a casa do pretendido roubado, e
encontra-se o cofre arrombado; as tstemunhas afirmam a ver-
dade dos valores a depositados, e verifica-se ao mesmo tempo
o seu posterior desaparecimento. O roubo materialmente veri-
ficado, mas esta materialidade obra da simulao do ofendido;
quer na esperana de lucrar com uma reparao dos prejuzo
A Lgica das Provas em Matria Criminal 547
sofridos; quer para se eximir a uma obrigao, tratando-se,
suponhamos, de uma soma recebida em depsito; quer por dio contra
Caio, ou seja por qualquer outra razo.
Mas, parte o caso da simulao, a materialidade verificada, que
se supe criminosa, pode tambm ser obra do acaso, ou de um
dilinqiiente desconhecido; e Ticio, parte de boa f, e parte
dolorosamente, acusa dle Gaio. Suponhamos que Ticio, dormindo no
quarto de uma hospedaria com Gaio, no encontra de manh uma
moeda de ouro que deixara em um certo lugar. Convencido de que o
ladro no pode ter sido seno Caio, apre-senta-se em juzo a-acus-lo; e
para dar maior pso s suas palavras, diz t-lo visto furtando a moeda, e
ter fingido dormir, por mdo, conhecendo-o capaz de tudo, e muito
mais forte que le. A moeda foi, na verdade, furtada por um criado que
penetrou no quarto emquanto ambos dormiam; ou ento foi uma pga
que penetrou naquele quarto e furtou a moeda: o facto da pga ladra,
pela qual uma pobre criada morreu sbre o patbulo, to clebre que
no necessrio record-lo.
Passemos a um outro aspecto do crime. Ticio, manejando uma
arma, fere-se casualmente; pensa em aproveitar-se dste acontecimento
para desabafar o seu dio contra Caio, ou para especular com le; faz
verificar a sua ferida, e acusa como seu autor o pobre Caio inocente.
Ou ento hiptese mais difcil, mas nem por isso impossvel; Ticio
fere-se levemente de propsito afim de desafogar o seu dio ferrado
contra Caio, com quem bulhou, acusando-o de agresso e de
ferimentos.
Mas, dizer-se h tambm, a materialidade criminosa verificada
nem sempre pode dar lugar a equvocos, nem sempre pode ser obra da
simulao ou do acaso; e nesta hiptese, a voz do ofendido deveria
bastar para determinar a pessoa do delinqente. Assim, suponhamos que
no momento em qne Ticio se feria com a exploso de uma arma de fogo,
esta exploso tivsse sido observada tambm por uma terceira
tstemunha, que no entanto diz no ter distinguido a pessoa do agressor,
pessoa que no , portanto, determinada seno pela palavra do ferido,
que diz t-la perfeitamente reconhecido como sendo a de Caio. Nesta
hiptese, o
548 A Lgica das Provas em Matria Criminal
crime acha-se materialmente verificado por ama forma incontes-
tvel; o ferimento de Ticio, verificado directamente nle, afir-
mado como proveniente de uma aco criminosa, no s pelo
testemunho do ofendido, mas tambm pela declarao de um
terceiro: no j possvel haver simulao ou casualidade.
Sim, mas emquanto determinao do delinqente man-
tem-se o rro, que sempre possvel insinuar-se no esprito do
ofendido. No momento da aco criminosa, ou imediatamente
depois, sob a perturbao natural produzida por uma violncia
contra a pessoa, ou em geral por orna agresso aos seus direitos,
o ofendido nem sempre tem a ocasio e a calma suficientes para
observar bem a pessoa do delinqente: uma semelhana de figura
ou de vesturio pode faz-lo car fcilmente em rro.
Resumindo, estas nossas primeiras consideraes miram a
uma s coisa: a concluir que, atendendo mesmo a que a admisso
da nossa regra pode conduzir absolvio de um culpado, o facto
de a no admitir conduz tambm evidentemente possibilidade
de condenar um inocente. Ora do mesmo modo que, quando
no possvel o bem absoluto necessrio que nos contentemos com o
mal menor, e do mesmo modo que o mal, que se encontra na
absolvio do ru muito menor que o que deriva da
condenao de um inocente, o que demonstramos em outra
parte, segue-se daqui, portanto, que necessrio admitir a nossa
regra para evitar o mal maior da condenao de um inocente,
admitindo mesmo que se v de encontro ao possvel mal menor
da absolvio de um culpado
1
.
E agora, passemos nossa segunda ordem de consideraes,
que reduzem qusi a nada tambm esta possibilidade de que o
l
Absolvendo um culpado no se produz seno um perigo para a
sociedade; ao passo que condenando um inocente produz-se no s um mal
certo e positivo para o individuo: o sofrimento injusto da pena; mas pro-
duzem-se ainda dois perigos para a sociedade: o perigo de animar o verdadeiro
culpado que ficou impune, e o perigo que cai sbre cada um de ser, por sua vez,
vtima de ura rro judicirio. Veja-se Carrara, Programa, 817, nota.
549 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ofendido, quando determina a pessoa do delinqente, no deve ter
eficcia prevalente em juzo penal, supomos, j o dissemos, que
ste testemunho nico como prova, considerando entre as provas
tambm as provas indirectas; por outros trmos, supomos que o
testemunho do ofendido no tem o apoio sequer de uma prova
indirecta. Basta, portanto, o concurso de um simples indcio para
fazer com que o testemunho do ofendido no deva j considerar-se
nico, e possa por isso prevalecer. Ora, psto isto, se se considerar
a hiptese de um crime real, de que se indicou como autor o
verdadeiro delinqente, persuadir--vos heis logo de que
dificilmente pode faltar o concurso acusador de indcios graves.
Suponhamos o caso que pusemos na bca dos nossos adversrios:
suponhamos que Ticio agredido e ferido por Gaio, no canto
solitrio de um bosque. Pois bem, haver sempre uma infinidade de
indcios que surgiro do verdadeiro delinqente em relao a um
crime efectivo. Haver sempre algum que tenha visto Ticio tomar
o caminho do bosque, ou algum que o tenha visto voltar, e
provvelmente com ares de perturbao. Se o ferimento foi
produzido por um tiro, esta arma deve ter-se visto em poder dle
antes do crime; e em seguida ao crime, por meio das investigaes
imediatas, poder-se h verificar a recente exploso. Se o ferimento
teve lugar com arma branca, encontrar-se h junto dle ou em sua
casa esta arma, correspondente ao ferimento; ou ento, se le a
arremessou para longe apenas consumado o crime, poder-se h
talvez ach-la, e verificar que lhe pertencia. Dirigindo-se a
investigao contra o verdadeiro delinqente, poder-se h talvez
verificar a fuga dste, ou a sua perturbao na presena dos guardas.
Portanto, admitida a verdade d,o delito e do delinqente,
surgindo, da relao entre ste e aquele, a possibilidade de mil
indcios, haver sempre na realidade indcios graves que, asso-
ciando-se ao testemunho do ofendido, concorrero para lhe dar
capacidade de prevalncia sbre a escusa contrria. A hiptese,
portanto, de que, negando eficcia prevalente ao testemunho do
550 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ofendido, como nico meio designador do delinqente, se possa
vir a car na impunidade do culpado, uma hiptese mais te-
rica que pratica, e no nos deve alarmar.
Mantenhamos, por isso, a regra probatria acima exposta,
considerando-a como fundada em critrios exactos de lgica cri-
minal: esta regra no tem seno uma justificao a mais quanto
ao ofendido, sendo ste uma tstemunha interessada na causa.
Emquanto ao testemunho do acusado, necessrio princi-
piar por observar que a ineficcia probatria, derivada de ser sin-
gular, se afirma tambm quanto a ela, mas em condies diversas
das dos dois testemunhos precedentes. Quanto ao testemunho de
terceiro e quanto ao do ofendido, para negar a sua eficcia pro-
batria, parte-se da hiptese da sua contradio com o teste-
munho do acusado; ao passo que, ao contrrio, quanto ao tes-
temunho do acusado, se lhe nega a eficcia probatria,
mesmo no a supondo contraditada por qualquer outro
testemunho. Relativamente ao acusado, o problema o seguinte:
dada uma confisso que seja a nica prova da criminalidade do
acusado, poder ela produzir certeza legtima no esprito do juiz,
autorizando-o a proferir uma condenao? Tambm quanto a ste
problema tem importncia, se bem que por razes diversas, a
distino estabelecida por ns anteriormente a propsito do
testemunho de terceiro: necessrio distinguir o caso de a
confisso ser a nica prova designadora da imputabilidade pessoal
do que confessa, do caso de se ter provado por outros meios ser
culpado, aquele que confessa, e a confisso no fazer mais do que
juntar alguma coisa mais sua imputao.
No primeiro caso, quando no existe seno a confisso que
determina o procedimento e a possibilidade da pena contra o que
confessa, a espontaneidade, o facto de ser espontnea a prova
nica desta acusao contra si mesmo, torna gigantescas tdas
as suspeitas de mentira que se acham nicamente inerentes
confisso. Quem se encontra sub judice simplesmente pela sua
prpria palavra, quem podendo mesmo destruir o valor decisivo
desta sua palavra por meio de uma retratao no o tenta, e con-
tinua a afirmar-se culpado, se por um lado faz supr um pode-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 551
roso intersse pessoal em fazer-se passar como culpado, originando
uma legtima suspeita de mentira, por outro, correndo volunt-
riament
e ao encontro da pena, mostra achar-se reassegurada a ordem
moral no seu esprito, ou mostra pelo menos a inutilidade da
pena, atenuando a necessidade de exercer aquele direito de punir,
que se inspira na necessidade social de restabelecer a tran-
quilidade perturbada pelo delito. Sempre que, portanto, a con-
fisso a nica prova da criminalidade do acusado, no pode ela,
em caso algum, inspirar a certeza no espirito do juiz.
No segundo caso, pois, desde que quem confessa j se acha
designado como ru por outras provas, e a sua confisso no vem
seno juntar alguma coisa acusao, afirmando, suponhamos, a
mais, uma circunstncia agravante, nste segundo caso no teem
razo de ser tdas as suspeitas de mentira, que surgem no pri-
meiro; a veracidade de quem confessa, verificada por meio de
outras provas, far realai a sua f, mesmo quanto quela parte da
confisso que constitui a nica prova da criminalidade.
CAPTULO VIII Limite probatrio
derivado do corpo de delito
Para se obter um conceito exacto de como o testemunho,
quando serve para provar o corpo de delito, tem um limite par-
ticular de fra probatria, necessrio principiar por obter uma
noo exacta do que se entende por corpo de delito. Desta noo
ocupar-nos hemos em particular quando falarmos da prova mate-
rial; e por isso remeto para essa parte do livro para maiores
desenvolvimentos, contentando-nos aqui em mencionar esta noo
como premissa necessria soluo do problema que queremos
examinar.
Em primeiro lugar, falando de corpo de delito, entendemos
falar-se dle no sentido em que geralmente tomado pela escola
do fro; isto , entende-se falar de corpo de delito, emquanto
consiste em factos materais permanentes. E, portanto, falando
552 A Lgica das Provas em Matria Criminal
aqui do limite probatrio derivado, quanto tstemunha, do
corpo de delito, entendemos referirmos aos factos permanentes,
e no j aos factos transitrios. Emquanto a stes ltimos, enten-
de-se que sendo les passageiros, no pode em regra obter-se a
sua certeza, seno pela recordao que dles ficou na conscincia
das tstemunhas que por acaso os perceberam. O testemunho
ordinrio conseguintemente a espcie natural de prova dos
factos de natureza transitria; e por isso o testemunho, emquanto
a ste respeito, no pode ter limite probatrio algum.
Mas dizer que falando ns aqui de corpo de delito entende-
mos falar nicamente das materialidades permanentes em que o
delito se exterioriza, no basta para a clara determinao do
assunto. Nem tdas as materialidades extrnsecas e permanentes
que se relacionam com o delito constituem corpo de delito;
constituem corpo de delito nicamente as materialidades, que figu-
ram como meios imediatos, ou como efeitos imediatos, da consu-
mao do crime. Portanto, para determinar exacta e claramente
o que corpo de delito em sentido prprio, necessrio dizer que
le consiste nos meios materiais imediatos e nos efeitos materias
imediatos da consumao do delito, quando so permanentes.
Assente esta noo determinada, cujo desenvolvimento se
poder ler em lugar prprio, conveniente em seguida referir
rpidamente as vrias espcies em que pode concretizar-se o corpo
de delito, para se ver relativamente a qual destas espcies se pe
lgicamente em dvida a suficincia probatria do testemunho.
AS espcies em que pode classificar-se o corpo de delito,
so quatro: trs derivadas da considerao dos efeitos imediatos
do delito, e uma da dos seus meios imediatos.
Eis aqui as trs espcies constitutivas do corpo de delito,
como efeito material imediato:
1. O Jacto material, permanente, em que objectivamente
se concretiza a prpria consumao do crime. Por exemplo: a
moeda falsificada e as notas falsificadas, no crime de moeda
falsa; o escrito falsificado, no crime de falsificao de documento
pblico; o escrito injurioso, no libelo difamatrio; o cadver, nos
homicdios; as feridas nas leses fsicas;
A Lgica das Provas em Matria Criminal 553
2. Os vestgios acidentais e permanentes do crime, no
constitutivos de elemento criminoso, mas que so conseqncia
imediata, ainda que simplesmente ocasional, da consumao do
crime ou do crime consumado. Assim, os vestgios deixados sbre
as coisas circunvizinhas, na consumao do crime, como mveis
quebrados durante a luta, como as pgadas dos passos na luta, ou
na perpetrao do roubo e de outros crimes, como roupas do ru
no local da consumao, e roupas da vtima sbre o ru ou era sua
casa;
3. Os factos materiais permanentes que encarnem o pros-
seguimento do Jacto criminoso; prosseguimento criminoso que
consiste em conservar vivos os efeitos do crime j consumado,,
prosseguindo a aco sbre o sujeito passivo do crime. Assim, a
pessoa ainda prsa, no crcere privado em geral; assim, a coisa
roubada, no furto prprio ou imprprio.
A estas trs espcies que expozemos, constitutivas, como
efeito, do corpo de delito, reune-se uma quarta espcie constitu-
tiva do corpo de delito como meio:
4. E meio constitutivo do corpo de delito, tda a mate-
rialidade permanente e criminosa que serviu imediata e efectiva-
mente consumao do crime.
Esta materialidade que serviu de meio ao crime, pode ser de
duas espcies: activa, ou passiva. Pode a materialidade con-
siderar-se como meio do delito, emquanto serviu como instru-
mento activo nas mos do delinqente, como o punhal que servia
para o assassnio ou para o ferimento, como a corda que serviu
para o estrangulamento, e como a escada ou a chave falsa que
serviram para o roubo; e pode tambm uma dada materialidade
considerar-se como meio criminoso,- no emquanto foi sujeito da
aco criminosa, mas emquanto foi seu objecto, isto , emquanto
sofreu modificaes conducentes ao crime, como no caso de
arrombamento no roubo, como no caso de vestgios pessoais da
violncia exercida para alcanar a consumao do crime
r
e como,
em geral, no caso de circunstncias agravantes que consistem em
raaterialidades permanentes, que no so conseqn-
cia do crime.
554 Lgica das Provas em Matria Criminal
Em parntesis, os factos materiais que no so conseqncia
do crime (e que por isso no constituem o facto mais ou menos
parcial) no podem agrav-lo seno quando se lhe refiram como
o meio ao fim; e entram, por isso, todos, sob a categoria dos
meios imediatos, activos ou passivos, sob que se compreende todo
o elemento criminoso precursor da consumao; pois que no
delito no h como meta seno a consumao, e tudo o mais
como caminho para chegar a ela; ou o delito se consuma, ou
trabalha-se para tornar possvel a sua consumao.
Eis, pois, mencionadas as quatro espcies em que se classi-
fica o corpo de delito. Ora, relativamente a quais destas espcies
surge o problema da limitao probatria do testemunho? Come-
cemos pelo exame da ltima, subindo da para a primeira.
Relativamente quarta espcie, materialidade permanente,
constitutiva do corpo de delito como meio, necessrio que ela
seja apreciada com dois critrios diversos, segundo constitui meio
activo ou passivo do crime.
Principiando pela materialidade constitutiva do meio activo
necessrio observar que ela no aparece como meio de delito,
seno emquanto percebida juntamente com a aco criminosa,
que a dirigia ao delito. Esta materialidade, do momento em que
se destaca da aco criminosa, perde o seu cunho individual
de meio, e entra de novo na grande multido das outras mate-
rialidades congneres, inofensivas, casuais, ou simuladas, quando
no seja imediatamente suprimida, quer ocultando-a, quer des-
truindo-a. Esta materialidade activa conserva a sua significao
unvoca individual de meio criminoso, smente emquanto se acha
ligada aco. Ora, sendo a aco humana transitria, segue-se
que da funo de meio exercida por uma materialidade particular,
no pode ficar vestgio permanente e unvoco, seno na memria
das pessoas, que eventualmente foram espectadoras do seu
emprgo criminoso em particular; as mesmas modificaes
permanentes, que eventualmente se conservaram sbre as coisas,
devido ao uso particular de um dado meio, no so sempre un-
vocas, nem o so absolutamente, quando o indicam individual-
mente. O testemunho ordinrio , portanto, a prova natural e
A Lgica das Provas em Matria Criminal
555
normal, destinada pela natureza das coisas a verificar a materia-
lidade activa permanente, quando esta servia de meio ao crime,
coisa em que est a sua importncia. Conseguintemente, o teste-
munh
o sendo a prova normal e natural desta subespcie de corpo de
delito, relativamente sua verificao, no pode ter limitao
alguma probatria: o testemunho tem, relativamente verifica-o
da materialidade activa constitutiva do corpo de delito como meio,
tda a sua eficcia, de que normalmente capaz em relao a
qualquer outro objecto a provar.
J assim no quanto materialidademeio, que objecto
da aco criminosa. s modificaes permanentes das coisas so,
normalmente, sempre perceptveis em si mesmas, na sua natureza
de alteraes materiais produzidas; e por isso para a materialidade
passiva, quando se queiram avaliar as suas passividades
permanentes, pondo-as a cargo do acusado, no basta o testemu-
nho
ordinrio; necessrio que as modificaes materiais e permanentes
que se dizem ter sido produzidas sbre as coisas, sejam, quando a
sua natureza o permita, e isto normalmente possvel, verificadas
judicialmente, ou qusi-judicialmente, por tdas as razes que
teremos melhor ocasio de tratar dentro em pouco. Se a Ticio se
imputa um furto com a agravante de arrombamento de uma
fechadura, no basta que o arrombamento seja afirmado por
tstemunhas ordinrias; necessrio, quando isso seja
normalmente possvel, que tenha sido verificado por tstemunhas
oficiais competentes, quando o no tenha sido pelo prprio juiz
que deve proferir a sentena. Mas desenvolveremos melhor ste
assunto dentro em pouco.
Se, continuando, atendermos terceira espcie de corpo de
delito, isto , aos factos permanentes em que se encarna a exe-
cuo criminosa, v-se claramente que les consistem no pros-
seguimento da aco do ru sbre o sujeito passivo do crime,
quando ste sujeito passivo caiu sob a sua livre e secreta dispo-
sio. Ora, entende-se por isso fcilmente, que no ser por certo
o ru que submeter a sequncia de seus actos criminosos s veri-
ficaes judicirias ou qusi-judicirias; no ser por certo o ru
que participar autoridade judiciria a posse subseqente da
556 A Lgica das Provas em Matria Criminal
coisa roubada no furto, a posse subsequente da pessoa seques-
trada no crcere privado. Ele, em seu intersse, procurar por
todos os meios possveis ocultar os vestgios do crime, o que lhe
ser fcil, pois que tratando-se da sua aco sbre uma coisa ou
sbre uma pessoa, que, nesta espcie de crimes que foram deno-
minados sucessivos, se supem j ter eutrado na sua posse par-
ticular e livre. mnima suspeita judicial, le intrromper desde
logo a continuao da sua posse. nica e excepcionalmente, por
surprsa, que stes factos podem car sob as verificaes oficiais;
les s so moralmente colhidos pela percepo de testemunhs
particulares, que eventualmente os perceberam. O tstemunha
ordinrio conquanto seja a prova natural dstes factos, no con-
tudo prova suficiente. Emquanto, pois, aos crimes que admitem
sob o seu sujeito passivo a sequncia da aco criminosa, e que
foram chamados pelos antigos sucessivos, para os distinguir dos
outros que chamaram instantneos, quanto a sses o tstemunha
no tem limite na prova do corpo de delito.
Se, continuando ainda, passarmos a considerar a segunda
espcie de corpo de delito, que designamos com a denominao
de vestgios eventuais e permanentes, mesmo quanto a sua veri-
ficao, no h razo alguma para que o testemunho ordinrio
seja julgado como prova insuficiente. Trata-se de vestgios even-
tuais, de vestgios que podem existir ou no, sem que com isso
mude a essncia do facto e a gravidade do crime: stes vestgio
eventuais no representam mais do que argumentos probat-
rios extrados das coisas, e no h razo para que o testemunho
ordinrio no seja prova suficiente para os demonstrar. Nem
mesmo a esta espcie de corpo de delito se refere, pois, a limi-
tao provatria do testemunho.
S nos resta agora estudar a primeira espcie de corpo de
delito. Mas antes de passarmos a ste estudo, julgamos oportuno
fazer uma observao explicativa, necessria para que no sur-
jam rros do que temos dito. Sempre que afirmamos a suficin-
cia probatria do testemunho ordinrio, no entendemos contudo
afirmar, na espcie, a inutilidade do testemunho oficial, ou do
exame judicirio. Entendemos nicamente dizer que, no havendo,.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 557
na espcie, melhor modo de verificar, o testemunho ordinrio
deve considerar-se como prova suficiente. Entendemos dizer que
no necessrio explicar como e porque, no caso concreto, a
verificao superior no pode obter-se, no necessrio explicar
como e porque, no caso particular, as materialidades permanentes
desapareceram, tornando-se, assim, impossveis de verificar
oficialmente: basta simplesmente que no possa obter-se a veri-
ficao oficial, para que se deva considerar como suficiente o
testemunho ordinrio. Isto, contudo, no impede que, sempre que
se trate de verificaes importantes num determinado julgamento,
e que possa obter-se uma verificao mais perfeita, seja bom
contentar-nos com uma verificao menos perfeita.
E necessrio no esquecer um princpio probatrio exposto
por ns ao falarmos da prova em geral; necessrio no esquecer
o princpio da melhor prova, segundo o qual, sempre que no caso
particular e concreto se pode obter uma prova superior
relativamente a um facto importante para o julgamento penal,
necessrio recorrer a ela, e no se contentar com a prova inferior.
Psto isto, passemos ao exame da primeira espcie de corpo
de delito.
O facto material e permanente, em que se concretiza objec-
tivamente o corpo de delito, no 6 uma materialidade indiferente
ao delito, que pode existir ou no; uma materialidade sem a qual
no pode haver o delito: sem o cadver, no pode haver o crime
de homicdio; sem a moeda ou nota falsa no pode haver o crime
de falsificao de moeda. Ora, para esta espcie de corpo de
delito, que, constituindo a essncia de facto do crime, pode
especificar-se com a designao de corpo ssencial de delito, a
lgica das coisas obriga-nos a afirmar a insuficincia do teste-
munho ordinrio.
Diz-se ter-se morto um homem; vrias tstemunhas afirmam
t-lo visto car morto; mas o cadver, sem que se tenha explicado
o seu desaparecimento, no se encontra, e no por isso
oficialmente constatado. Poder-se h admitir a sua existncia, sob
a simples f das tstemunhas ordinrias? Somos de parecer que
no.
558 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Pelo princpio, anteriormente recordado, da melhor prova,'
todo o facto, que tenha importncia para o julgamento penal,
deve ser provado com a melhor prova de que, por sua natureza,
normalmente capaz. Ora, o facto material e permanente de que
falamos, pode normalmente provar-se por meio de verificaes
oficiais; e conseguintemente a prova natural dste corpo de
delito, emquanto se no explique o como e o porque do desapa
recimento, deve ser tomada como sendo a verificao oficial,
judiciria ou qusi-judiciria, conforme os casos.
H factos materiais apresentveis em juzo, como a
moeda falsa, como a letra falsificada. Pois bem, nunca poder
dizer-se suficientemente verificado ste corpo de delito, se a
materialidade em que le se concretiza se no apresenta em juzo:
o caso da verificao judicial. No basta que se apresentem
tstemunhas ordinrias, ou mesmo oficiais, a atestar a existncia
precedente da letra falsificada, para se poder admitir a sua
existncia, sem que possa explicar-se o seu posterior
desaparecimento. H factos materiais que se no podem
apresentar no julgamento pblico, por motivos materiais, ou
por razes morais, como a causa de incndio, ou o corpo da
rapariga estuprada. Pois bem, nstes casos, podendo estas
materialidades ser verificadas qusi-judiciriamente por meio de
tstemunhas oficiais, e por peritos, segundo as exigncias dos
casos, nunca podero considerar-se como suficientemente
verificados sem a sua interveno. Para tais verificaes, nunca
bastaro os simples teste-
munh
os ordinrios, a no ser que se tenha demonstrado a razo do
desaparecimento, e portanto da consequente impossibilidade da
verificao oficial do corpo de delito. Dissemos j em
outro lugar porque que, para a verificao do corpo de
delito, a prova qusi-judiciria, isto , a que resulta de
testemunhos oficiais competentes, se considera como equivalente
prova judiciria . Ora, isto d-se precisameute no que respeita ao
corpo de delito que se no pode apresentar em
1
Cap. iv: Tstemunho de terceiro.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
559
juzo. Emquanto ao corpo de delito que pode apresentar-se em
juzo, enteude-se que, do momento em que um oficial pblico
chega sua verificao, le deve acautel-lo, para poder ser
apresentado directa percepo do juiz dos debates, provendo
assim melhor produo das provas, que uma obrigao que no
pode de modo algum desprezar-se em uma matria to importante:
eis porque relativamente ao corpo de delito susceptvel de ser
apresentado em juzo, nem mesmo o testemunho oficial, sem uma
razo particular que explique o seu desaparecimento, considerado
como prova suficiente. Quando o corpo do delito afirmado,
apresentvel em juzo e confirmado pelo julgamento, sem que se
saiba o porque, no se encontra na realidade, esta sua falta
constitui uma prova real contra as provas pessoais, ainda mesmo
sendo oficiais, que eventualmente afirmam a sua existncia.
A verificao qusi-judicial deve, pois, reputar-se, em geral,
como equivalente judicial smente emquanto ao corpo de delito-
que se no pode apresentar em juzo. Mas tambm, quanto a esta
ltima hiptese, no intil observar que no caso de surgirem
dvidas, ou de ser necessrio esclarecimentos, conveniente no
nos contentarmos com o testemunho oficial e recorrer, quando
possvel e oportuno, percepo directa dos prprios juzos
determinantes, recorrendo, quando seja caso disso, ao exame do
Tribunal no local do crime; como no caso de um edifcio
incendiado, quando surja dvida sbre o estado do edifcio e sbre
o modo como o fogo se ateou.
Voltando primeira afirmao, o testemunho ordinrio no
prova suficiente da materialidade permanente em que se con-
cretiza a consumao do crime, ainda quando se trate de mate-
rialidade susceptvel de ser ou no apresentvel em juzo, sempre
que se no tenha justificado o seu desaparecimento e a conse-
quente impossibilidade de obter melhor prova. Ainda que sejam
muitas as tstemunhas ordinrias que venham afirmar ter per-
cebido em um dado momento aquela materialidade sem a qual o
delito no existiria, e que constitui o corpo ssencial do delito;
sejam embora muitas, mas se no entanto ste corpo de delito j
560 A Lgica das Provas em Matria Criminal
se Do encontra, a falta dste corpo de delito, que por sua natu-
reza deveria ainda subsistir, faz lgicamente duvidar da veraci-
dade ou da exacta percepo das tstemunhas. Sejam mesmo
moitas as tstemunhas que afirmam ter visto car morto Ticio;
pois bem, se o cadver se no encontra, e se se no explica o
seu desaparecimento, mais alto que a voz das pessoas soar a
voz das coisas; a ausncia do cadver uma prova real que tira
a f prova em contrrio das tstemunhas. E esta voz das coisas
tem tido por mais de uma vez razo contra a voz dos homens,
em processos crimes; e tem-se visto ressuscitar os indivduos
que se julgavam mortos, para mostrar o rro das tstemunhas
e dos juizes. Mas, infelizmente, ento havia j um morto que
no mais ressuscitava: o pobre condenado, morto legalmente, e
em seguida a tdas as verificaes oficiais possveis!
No pretendo fazer pompa de fcil erudio; mas seria fcil
impressionar o leitor, com a histria dos rros judicirios em que
se tem incorrido, por se terem contentado com o simples teste-
munho ordinrio para a verificao do corpo ssencial do delito.
No convm, pois, como faz um valioso escritor de crtica
criminal, fazer a objeco de que, se o testemunho ordinrio tem
valor sem restries para dar a certeza em crimes de facto tran-
sitrio, deve valer tambm em crimes de facto permanente.
No quer isto dizer que num caso como no outro se atribua
valor diverso ao testemunho ordinrio, por razes a le subjecti-
vamente inerentes, ora julgando-o valioso s por si sem restri-
es para dar a certeza, e ora no. A diferena nos dois casos
no deriva da considerao da prova, mas da considerao
daquilo que se prova. O testemunho tem sempre, tambm para
ns, o mesmo valor, considerado em si mesmo: mas relativa-
mente aos crimes de facto transitrio, le a prova natural que
legitimamente pode atender-se, e, ao contrrio, relativamente ao
facto material, ssencial nos crimes de facto permanente, deve
legitimamente considerar-se uma prova melhor ; relativamente aos
crimes de facto transitrio, o valor do testemunho ordinrio no
tem motivos infirmativos derivados da considerao da coisa pro-
vada, ao passo que relativamente ao facto material, ssencial nos
A Lgica das Provas em Matria Criminal 561
rimes de facto permanente, o seu valor combatido por um
motivo infirmativo gravssimo, isto , pela ausncia daquela ma-
terialidade permanente, que pela sua natureza deveria ainda sub-
sistir. Em vista destas consideraes objectivas conclui-se, por-
tanto, que no primeiro caso o testemunho ordinrio pode levar
certeza, no havendo contradio; no segundo, no, havendo sem-
pre um motivo gravssimo em contrrio: e isto tem valor tanto
para o testemunho de terceiro como para o do ofendido e do pr-
prio argido, como afirmamos ao tratar respectivamente dstes
assuntos. E necessrio no esquecer, que, conquanto a certeza seja
humana, devido nossa imperfeio, nunca se acha absolutamente
isenta da possibilidade de rros, mas que a limitao da esfera
dstes rros precisamente o objecto da scincia e da prtica
criminal.
Nos crimes de facto transente no pode obter-se normal-
mente seno um testemunho ordinrio, e para ste no h motivos
contrrios sua credibilidade, provenientes da considerao do
que se prova: a lgica das coisas obriga-nos a contentar-nos com
le. Mas nos crimes de facto permanente no podemos contentar-nos
com le, quando a lgica nos diz que normalmente deve existir
nles alguma coisa melhor que o testemunho ordinrio; quando a
lgica nos diz que deve a existir um facto material permanente,
que pode ser normalmente verificado em si mesmo, e em que se
objectivou o crime. Quando falta ste facto, pela sua natureza
permanente, o esprito do juiz, no obstante a afirmao das
tstemunhas, deve deter-se receoso. Por que os condenaria le?
Pela hiptese da ocultao, ou da destruio. E parecer-vos h uma
boa e slida base para a certeza, e conse-guintemente para a
condenao, uma simples hiptese ? Dever--se-ia pelo menos
provar o facto da ocultao ou da destruio, para se ter legtima
certeza. Quando falta o corpo de delito, em que se concretiza a
objectividade do crime, para pronunciar uma condenao sob
simples testemunhos ordinrios que afirmam a sua existncia
anterior, necessrio, portanto, que se explique tambm o seu
posterior desaparecimento; necessrio que se tenha verificado
tambm a ocultao ou a destruio do corpo
36
562 A Lgica das Provas em Matria Criminal
de delito por parte do delinqente ou de outrem, ou ento a
sua destruio ou o seu desaparecimento por motivos inerentes
sua natureza, ou natureza do ambiente em que le se encon-
trava. S nste caso, se justificar a certeza sbre que se baseie
a condenao. E se ainda, em seguida a tudo isto, se car em
rro, ste rro no poder atribuir-se falta de ateno dos ju-
zes, mas nossa imperfeio comum.
O que temos dito relalivamente primeira espcie do corpo-
de delito, que consiste no facto material, aplica-se tambm
materialidade passiva e permanente que serve de meio ao crime;
e a cujo respeito j falamos, como sendo uma subespcie da
materialidade destinada a servir de meio ao crime. Quando em
uma imputao se quer tomar em conta uma materialidade
passiva e permanente, quando, suponhamos, se quer atribuir a
um indivduo acusado de roubo o facto do arrombamento,
necessrio que esta materialidade em geral, ou ste arromba-
mento em especial, que normalmente verificado por um meio
oficial, tenha sido realmente verificado por esta forma. No
basta terem vindo tstemunhas ordinrias afirmar a materiali-
dade agravante de um arrombamento, para que ela seja legiti-
mamente admitida.
Mas se o arrombamento desapareceu, e no pode por con-
seguinte verificar-se oficialmente?
necessrio, ento, antes de prestar plena f s tstemu-
nhas que o afirmam, tomar conhecimento do desaparecimento
de uma tal materialidade passiva, que deveria, por sua natureza,
subsistir: o testemunho ordinrio no pode ser reputado como
prova suficiente do arrombamento j insusceptvel de se verifi-
car, quando no se prove a causa razovel do seu desapareci-
mento.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
563
CAPTULO IX Limite probatrio
derivado das regras civis de prova
Falando de prova em geral, vimos como e porque que o
sistema probatrio civil difere do sistema probatrio penal, pela
diferena dos fins: as provas civis miram a estabelecer a verdade
formal, ao passo que as provas penais miram determinao da
verdade substancial. Vimos tambm, como primeira conseqncia
de tudo isto, que em matria de prova se mais exigente em
matria criminal que em matria cvel, e por isso o campo das
provas penais mais limitado que o das civis. Muitas provas
artificiais, que, sob o ponto de vista da verdade formal a que se
atende, so admissveis em matria civil, no podem admitir-se
em matria penal, visto se atender ao contrrio verdade
substancial.
Agora necessrio acrescentar, que, se as provas penais so
menos numerosas que as civis, deve contudo deixar-se-lhes mais
livre o exerccio da sua eficcia sbre o esprito do juiz. s
determinaes e as limitaes de valor, justificveis em matria
civil, j no se justificam, em geral, em matria penal, onde as
provas so consideradas na sua eficcia natural, em face do livre
convencimento do juiz.
Em matria civil trata-se de direitos particulares e determi-
nados, livremente adquiridos ou livremente possudos; e podendo
cada um precaver-se como quiser contra os possveis ataques ao
seu direito, lgico que a lei declare: para que te seja reco-
nhecido um tal direito, necessrio que o acompanhes de tais e
tais provas.
Em matria penal, ao contrrio, trata-se sempre de um facto
passado entre duas pessoas, das quais uma no pode livremente
criar a sua prova, e a outra no o quer: a pessoa, cujo direito
violado, no tem naturalmente a escolha das provas, para fazer
constar a violao; e a pessoa que viola o direito, tem
naturalmente intersse em que no existam provas da sua
564 A Lgica das Provas em Matria Criminal
violao. Uma lei, portanto, que em matria penal visse decla-
rar: no se reconhecem para a verificao de um dado crime
seno tais e tais provas, atingiria o mximo do absurdo, fazendo
triunfar a impunidade; por isso que o ofendido no poderia
escolher as provas prescritas, e o delinqente empregaria todos
os meios para que se no verificasse. O crime deve ser legal-
mente susceptvel de poder provar-se com qualquer prova, que
seja naturalmente capaz de o provar. s restries legais impos-
tas eficcia das provas, se so admissveis em matria civil,
j o no so em matria penal. E2m matria penal no podem
admitir-se seno limitaes naturais, isto , as que nascem da
prova em relao coisa provada; isto , as que consistem na
incapacidade natural da prova para verificar um dado facto.
Aparte, pois, estas restries naturais, de que conveniente
que, em geral, se ocupe a lgica das provas de preferncia lei
positiva, restries legais de prova no podem admitir-se em
juzo penal; e as restries legais estabelecidas em matria civil
no devem ter valor em matria penal. O crime, repito, deve
poder provar-se por todos os meios que so naturalmente capazes
de o provar; e como, em particular, o testemunho a principal
fonte de certeza em matria criminal, le deve por isso, sem
restrio alguma probatria legal, ser considerado como prova
suficiente e legtima de tudo o que naturalmente capaz de
provar.
Sob o ponto de vista puramente probatrio, a lgica no
permite excepes; e os tratadistas em matria do processo,
que julgaram, dste mesmo ponto de vista, poder justificar em
matria penal as restries probatrias impostas em matria civil
ao testemunho, no tiveram, se me no engano, razo alguma.
Colocando-se sob um falso ponto de vista no encontraram,
natural, argumentos directos em que apoiar a sua tese, e tive-
ram que se apoiar nicamente em argumentos indirectos.
Se os limites probatrios, disseram les, estabelecidos em
matria civil para o testemunho, se no fizssem valer em ma-
tria penal, seria fcil iludir as leis civis, tomando a via penal;
e a observao justa. Mas quando, em resposta, se diz que em
A Lgica das Provas em Matria Criminal 565
matria penal no devem existir obstculos descoberta da ver-
dade, a observao justssima. De sorte que, admitindo mesmo o
inconveniente de que os tratadistas se queixam, no le uma
razo suficiente para que em matria penal se admitam as restries
admitidas em matria civil: o perigo de serem iludidas as leis
probatrias civis, no pode autorizar a calcar em matria penal o
sacrossanto princpio da livre investigao da verdade. Se no
existisse, como nica razo do problema, mais do que o
inconveniente apontado pelos tratadistas, quer-me parecer que a
lgica deveria sugerir a esta questo uma soluo diversa da que
se lhe tem dado. Para que as leis probatrias civis no sejam
iludidas e no seja ao mesmo tempo calcado o princpio da livre
investigao da verdade, seria necessrio admitir em matria penal
a prova tstemunhal ilimitada, aos nicos fins penais: assim, se
malefcio houvsse, seria sempre punido, sem perigo de que se
procurem iludir pela via penal as leis civis. E quando mesmo, se
fsse esbarrar em uma oposio de julgados, entre a jurisdio
civil e a penal, esta oposio seria explicvel e justificvel.
Compreende-se que o intersse particular, de que se ocupa o juzo
civil, possa ser submetido a limites probatrios impostos pela lei,
ao passo que o intersse pblico da punio do ru, de que se
ocupa o juzo penal, deve achar-se livre de todo o vnculo legal na
investigao da verdade: os dois fins diversos que presidem ao
julgamento civil e ao penal, explicariam a diversidade dos dois
julgados.
Repito, em vez de concluir sem mais que necessrio admitir
em matria penal os limites probatrios estabelecidos em matria
civil para o testemunho, parece-nos mil vezes mais lgica a nossa
concluso, ainda quando no se devsse atender questo seno
sob o ponto de vista extrnseco do inconveniente derivado em
matria civil de se no admitirem em matria penal aqules
mesmos limites probatrios, que vigoram em matria civil. Mas,
torno a repetir, parece-nos que a questo deve ser atendida
diversamente: procuraremos coloc-la sbre a verdadeira luz.
No podendo existir crime sem que o facto externo do
homem seja violador de um direito, segue-se que, falando de
566 A Lgica das Provas em Matria Criminal
crime, necessrio, alm do seu objecto material, atender ao
seu objecto ideal, consistente no direito violado. Nunca existir
crime emquanto no fr certa a violao, ou a ameaa de viola-
o de um direito. Ora o homem tem diversas espcies de direi-
tos, que podem ser objecto de violao criminosa; e estas diversas
espcies de direito, sob o ponto de vista probatrio, so diversa-
mente verificveis: falamos delas em outro lugar, e convm tor-
nar aqui a falar nelas.
O homem tem, em primeiro lugar, direitos que lhe so
congnitos, direitos que lhe so atribudos, como gzo actual e
pessoal, simplesmente pela sua qualidade de homem ou de cida-
do: direitos congnito-humanos, ou direitos congnito-soeiais.
Compreende-se facilmente que, quando se fala de prova parti-
cular da existncia do direito violado, necessria para a prova
do crime, j no se fala desta espcie de direitos; nunca se fala
de direitos congnitos, quer humanos quer sociais. A sua exis-
tncia no oferece campo a controvrsias; a prova da existncia
dstes direitos encontra-se tda ela na qualidade verificada de
homem ou cidado.
O homem tambm tem direitos no congnitos, mas cujo
gzo actual e pessoal resulta de relaes particulares estabeleci-
das entre uma pessoa e outra, ou entre uma pessoa e uma coisa:
direitos adquiridos. Tambm fcil compreender que falando-se
de prova particular da existncia do direito violado, necessria
para provar o crime, tem-se precisamente em vista esta espcie
de direitos .
Esta ltima espcie de direitos, isto , os direitos adqui-
ridos, derivando do desenvolvimento da actividade humana no
mundo exterior, e a actividade de um homem,, emquanto 6 capaz
de originar um direito, podendo entrar em conflito com a acti-
vidade de outro homem, emquanto esta capaz, por sua vez, no
s de extinguir simplesmente aquele direito, mas de produzir
tambm um direito contrrio; segue-se que, quando se trata da
Veja Parte terceira, cap. ii: Prova directa em especial.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 567
atribuio de um direito adquirido, pode sempre deparar-se com
um conflito, e com a consequente incerteza de atribuies. por
isso que a lei civil, tendo como mira suprema evitar conflitos e
oscilaes entre os respectivos direitos, atendendo sua natureza,
regula e prescreve a forma por que a actividade humana deve
desenvolver-se para a sua adquisio.
Quando a lei civil prescreve formalidades sem as quais
impossvel adquirir-se um direito, estas formalidades so sbre-
tudo, a parte qualquer outra considerao, elementos geradores do
direito, elementos formais, sem os quais o direito civilmente
valido no pode nascer: sem aquelas formalidades, no pode falar-
se daquele direito em presena da lei civil. Ora, como a
formalidade prescrita pertence famlia das provas, a determi-
nao gentica do direito resolve-se em limitao probatria.
Assim, a lei civil, querendo estabelecer que a conveno sbre um
objecto de valor superior a quinhentas liras, no pode ser origem de
direitos civilmente exigveis, quando se no acha revestido de
forma escrita, estabelece ao mesmo tempo uma restrico
probatria: se uma tal conveno no tem valor civilmente sem a
forma escrita, segue-se que ela no pode provar-se por tste-
munhas ou de outro modo. Examinando-as sob ste ponto de vista,
apresenta-se-nos como natural que estas restries probatrias,
existindo em matria civil, devem tambm ter valor em matria
penal, emquanto prova da existncia controversa do direito que
se diz violado pelo crime. Se um direito civil, e entendo dizer um
direito cuja verificao e cuja proteco se confiam lei civil, se
um direito civil se diz violado pelo crime, ste direito poder assim
dizer-se existente, e conseguintemente considerar-se como objecto
da violao criminosa, emquanto existe em presena da lei civil.
Ora, no existindo em presenca da lei civil mais do que o direito
civilmente provvel, segue-se que, quando o crime consiste na
violao de um direito civil, se le no susceptvel de se provar
civilmente, no existe, e por-tanto nem mesmo se pode provar em
matria penal; e conseqentemente, em relao a ste objecto, as
limitaes, probatrias civis tero tambm valor em matria penal.
568 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Desamos aos limites concretos da questo.
A actividade de uma pessoa na adquisio dos direitos pode
desenvolver-se em concorrncia com a actividade alheia, e pode
desenvolver-se isoladamente.
Para a adquisio dos direiros pode servir tanto a actividade
combinada de mais de uma pessoa, isto , o acrdo em via prin-
cipal, exteriorizado, de mais de uma vontade: e o que se denomina
conveno; quanto actividade singular da pessoa, isto ,
exteriorizao da sua vontade singular, seja sem necessidade do
concurso de outra vontade que se lhe associa, como na prescrio,
direito constitudo a favor do prprio agente, seja como
necessidade do concurso em via mais ou menos acessria da
vontade da pessoa em favor de quem o agente constitui o direito,
como no testamento: o que se denomina simplesmente facto
jurdico.
Lancemos uma vista de olhos s convenes e aos factos
jurdicos, por isso que sendo objecto de violao criminosa,
necessrio prov-los em matria penal. Comecemos pelas con-
venes.
Dissemo-lo j, no h crime sem que exista um facto ideal ou
jurdico, se assim se lhe quer chamar, consistente na violao
consumada, ou tentada, de um direito. Ora quando o direito que se
diz violado ou ameaado por uma aco criminosa, se concretiza
em uma conveno, quando o facto ideal do crime imputado
consiste na violao de uma conveno, todos entendem que
necessrio partir da admisso da existncia anterior da conveno,
para se admitir conseguintemente o crime subseqente.
No entanto, orna conveno civil, isto , uma conveno cuja
proteco e verificao se acha confiada s leis civis, no pode
dizer-se que- existe seno emquanto pode produzir direitos civis, e
s pode produzir efeitos civis, quando pode ser provada segundo as
regras das leis probatrias civis: uma conveno civil
r
que se no
pode provar civilmente, uma conveno inexistente civilmente,
que como no pode originar direitos, tambm no pode ser objecto
de violao criminosa. Quando, pois, um crime se apresenta como
violador de uma conveno existente por si
A Lgica das Provas em Matria Criminal 569
mesma e independente dle, necessrio que a conveno se
verifique existir em matria civil, para que possa ser admitida em
matria penal; e se existem limites probatrios em matria civil,
stes limites tero tambm lgicamente valor em matria penal.
Esta afirmao, a que chegamos por um caminho diverso do
seguido at aqui, tem sido objecto de graves disputas entre os
escritores de matria de processo, e tem dado lugar a oscilaes
legislativas.
Desde que em matria civil se faz sentir geralmente a
necessidade de impor restries probatrias ao testemunho, resul-
tou que, para no falar de diplomas legislativos precedentes, o
artigo 1341 do Cdigo Civil italiano prescreve que no admis-
svel a prova por meio de tstemunhas de uma conveno sbre
um objecto, cujo valor excede a quinhentas liras; teve natural-
mente importncia o problema sbre se esta restrio probatria
devia ou no valer em matria penal; problema no s lgico mas
legislativo.
Deixando sempre de parte os precedentes da legislao, que
nos afastariam muito do nosso campo, bastar-nos h observar que
o artigo 825 do Cdigo de Processo Penal, da Sardenha, que
depois se tornou italiano, afirmava no dever ter valor em matria
penal uma tal limitao probatria civil; e que, ao contrrio, no
posterior Cdigo de Processo Penal italiano, ainda vigente, o
artigo 848 afirmou o contrrio.
O leitor que nos acompanhou nste captulo, sabe que ns
damos razo ao artigo 848, se bem que, confessamo-lo, redigido
com infelicidade. Uma conveno que se no pode provar segundo
as regras das leis civis, no pode considerar-se existente, e no
pode, conseguintemente, considerar-se objecto de violao crimi-
nosa : as restries probatrias civis, stendem-se assim, emquanto
prova das convenes que se dizem violadas, tambm matria
penal. O Cdigo Penal poderia muito bem, se o entendsse justo e
conveniente, dizer: Ainda quando o objecto da aco criminosa seja
uma conveno civil, cuja existncia contestada se no pode provar
segundo as regras das leis civis, existir contudo sempre
570 A Lgica das Provas em Matria Criminal
crime pela simples violao da conveno natural, que poder, para
os fins penais, ser provada segundo as regras das leis penais; e a
pena a aplicar ao crime ser, nste caso, a mesma que se aplicaria
se a conveno podsse provar-se civilmente, com a reduo. E
suponhamos na hiptese uma diminuio de pena, por isso que um
direito que no exigvel civilmente, sempre menos importante
que quando o , e portanto a aco criminosa que o viola menos
grave. Poder, pois, o Cdigo prever a hiptese de um crime que
viola uma conveno que no se pode provar civilmente, a
estabelecer a pena correspondente. Mas desde que o Cdigo Penal
o no faz, o processo penal tem razo para manter, quanto prova
da conveno civil que se diz violada pelo crime, as restries
probatrias que vigoram em matria civil.
Isto, necessrio atender bem, entende-se sempre relativa-
mente existncia contestada de uma conveno, que, emquanto
existe por si s independentemente do crime, se afirma violada
pelo crime.
J assim no , no caso em que o crime se confunde com a
conveno, que , assim, a forma por que se manifesta, como no
crime de falsificao de escrito, como no abuso de uma assinatura
em branco. Nesta hiptese, no se trata de uma conveno que, na
sua legitimidade, deve existir independentemente do crime, para
que possa dizer-se por le violada; trata-se, ao contrrio, de um
facto criminoso, que se exteriorizou pela forma de uma conveno;
e prova do facto criminoso, no podem impor-se restries
probatrias. Quando o prprio crime que se apresenta como
conveno simulada, alterada, ou mesmo inutilizada, a lgica das
coisas diz-nos que no h que provar conveno alguma existente
na sua genuinidade, Independentemente do crime: h
simplesmente a provar o facto criminoso, exteriorizado na forma
de uma conveno, ou em factos destruidores da conveno
existente; e, relativamente a ste objecto, tda a restrio
probatria seria um absurdo.
E as restries probatrias civis no s no teem razo de ser
quando o crime se confunde com a conveno, mu tambm quando
a conveno ou o facto que deveria ter tomado a forma
A Lgica das Provas em Matria Criminal 571
de conveno legitima, so o resultado do crime, como sucede nas
burlas. Nesta hiptese, como na precedente, j no h que provar
conveno legtima alguma, existente por si s, independentemente
do crime. Est-se logo desde o principio em face de uma aco
criminosa, que a que, como conseqncia, conduz a um dado
facto civil, realizado ou no pela forma de uma conveno. A
conveno on o facto civil que deveria ter tomado a forma legal de
conveno, so um produto do crime, e por isso, emquanto se
apresentam como tais, no podem ser sujeitos a restrio civil
alguma de prova. Quando Ticio, para ae apropriar de mil liras, por
meio de ardis criminosamente fraudulentos, faz com que Caio lhas
entregue sem mais nada, a ttulo de depsito pretender-se a prova
por meio de escrito desta entrega seria um absurdo, pois que
precisamente o crime que produziu a espoliao pura e simples; e
esta conseqncia do crime, como tal, no pode ser sujeita a
restries civis de prova. Se, pois, Ticio, sempre dolosamente e por
meios ardilosos, criminosamente fraudulentos, conseguiu que lhe
fssem entregues as mil liras, mediante a celebrao de uma
escritura, evadindo-se com as mil liras, e deixando a escritura nas
mos de Caio, todos entendem tambm que a prova, contra o
prprio acto escrito, do dolo de Ticio e dos meios ardilosos por le
fraudulentamente empregados, no pode igualmente ser sujeita a
restrio alguma; e isto tambm verdadeiro em matria civil.
Observarei aqui, em parntesis, e sob um ponto de vista
genrico, que a restrio probatria civil, consistente em no
poder provar-se por tstemunhas pr ou contra o contedo de
actos escritos, j no tem razo de ser em matria penal; por-
quanto em matria penal no se quer provar contra ou a favor de
actos escritos, ou para provar contra o argido o seu dolo dans
causam contractui, como no exemplo precedente, e o dolo como
elemento criminoso sempre provado como se pode, sem restrio
alguma probatria; ou para provar a ausncia de dolo da parte do
argido, ainda menos que tudo sofre restries esta prova
defensiva, sendo sagrado para a defesa o direito de provar
ilimitadamente a prpria inocncia.
572 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Entrando de novo no assunto principal e concluindo, a
limitatao probatria civil tem razo de ser, em matria penal,
smente quando necessrio provar a existncia contestada de
uma conveno existente por si, independentemente do crime, e
que se diz por ste violada; sempre que, ao contrrio, mesmo
em matria de convenes, se est em face do crime, ou de uma
conseqncia do crime, as restries legais de prova j no teem
razo de ser.
O que temos dito relativamente conveno, verdadeiro
tambm, sob um ponto de vista mais geral, quanto ao simples
facto jurdico, que, emquanto existe de per si independente-
mente do crime, se afirmasse por ste violado. Com respeito ao
facto jurdico no se fez questo de limites probatrios civis vali-
dos em matria penal, por isso que em matria civil, pelo facto
jurdico, no se estabeleceu explcita e formalmente um limite
probatrio geral, como se estabeleceu para a conveno. Mas isto
no tem valor algum para excluir o facto jurdico do problema
que examinamos.
H factos jurdicos, para os quais, especialmente considera-
dos, a lei civil prescreve formalidades, sem as quais les no
podem originar direitos civilmente validos. Ora, quando estas
formalidades se resolvem em uma restrio probatria, deve esta
limitao valer tambm em matria penal ? Eu sou de parecer
que sim, como quanto ao caso precedente, relativo conveno
E sabido que, em substncia, o que transmite a propriedade
nas sucesses testamentrias, a livre vontade do de cujus,
devidamente comprovada. Mas a lei civil prescreveu as formali-
dades segundo as quais esta vontade se deve manifestar para ter
eficcia jurdica. A formalidade ssencial e imprescindvel para a
transmisso testamentria dos bens, o escrito, quer se trate de
testamento olgrafo, quer por acto do notrio. simples palavra
no pode ter fra para originar direitos de sucesso: a formali-
dade da escrita um elemento formal, sem o qual no nasce o
direito hereditrio com valor civil. Ora, claro que esta for-
malidade ssencial se resolve em limitaes probatrias. Ainda
mesmo que se apresentem mil tstemunhas a dizer que Ticio
A Lgica das Provas em Matria Criminal 673
expressou a vontade determinada de ter por seu herdeiro Caio, ,
admitamos, de ter-lhe at ouvido ler, emquanto vivo, um tes-
tamento seu olgrafo nsse sentido; pois bem, mil tstesmunhas
no ser viro de coisa alguma no que respeita comprovao da
vontade testamentria de Ticio em favor de Caio. E uma tal
restrio probatria do facto jurdico que se denomina testamento,
dentro dos limites racionais, tem fra, dizemos ns, mesmo em
matria penal. Apresentemos um exemplo.
Ticio morre; Caio, seu herdeiro legtimo, apodera-se de tda
a herana, incluindo um objecto determinado, que por testamento
Semprnio pretende ter-lhe sido legado. Semprnio, depois de ter
em vo reclamado sse seu objecto, tendo conhecimento de que
Caio o consumira em proveito prprio, apresenta contra le a sua
querela de apropriao indevida. O crime de Caio s subsiste
admitindo-se o legado testamentrio a favor de Semprnio;
surgem dvidas sbre a verdade de um tal legado, e necessrio
prov-lo. Poder Semprnio vir provar a sua existncia por meio
de tstemunhas? De modo algum; necessrio que apresente o
testamento escrito que representa e concretiza o seu direito
violado. Eis o sentido em que, mesmo a propsito de facto
jurdico, a limitao probatria civil passa tambm para a matria
penal.
Isto, de resto, deve entender-se sempre dentro dos prprios
limites racionais, estabelecidos para a conveno; isto entende-se
relativamente existncia contestada de um facto jurdico, que,
emquanto existe de per si e independente do crime, se diz por ste
violado.
J assim no no caso em que o facto jurdico e o crime se
confundam entre si, como sucede tambm relativamente ao crime
de falsificao. Quando o prprio crime que se exterioriza em
forma de facto jurdico, ou em actos destruidores do facto
jurdico, as restries probatrias que existissem em matria civil
j no teriam razo de ser em matria penal. Nste caso, j se no
trata de provar um facto jurdico, existente por si s,
independentemente do crime; trata-se, ao contrrio, de provar o
prprio crime que se apresenta como facto jurdico masca-
574 A Lgica das Provas em Matria Criminal
rado, alterado, ou inutilizado, e relativamente a tal objecto a
lgica penal no pode admitir limitao probatria alguma.
E limitaes probatrias tambm se no admitem, quando o
facto jurdico uma consequncia do crime. Se o dolo de um
que d cansa ao facto jurdico de outro, e ste crime imputvel
penalmente, le pode ser provado por todos os meios que so
naturalmente capazes de o provar.
CAPTULO X
Testemunho pericial
At aqui temos tratado do testemunho comum, que o
prestado por testemunhas adventcias in Jacto, isto , por tes-
temunhas designadas pelo acaso, que tendo-as colocado em pre-
sena do facto, as pe em condies de o poderem referir; e ste
testemunho, denominamo-lo comum em considerao da matria
da afirmao, visto ter ela por objecto as coisas que caem sob os
sentidos comuns, as coisas perceptveis pelo comum dos homens.
Agora, compete-nos falar do testemunho pericial, que o
prestado por testemunhas escolhidas post factum; testemunhas
que vamos buscar para deporem sbre certas condies e cer-
tas relaes particulares do facto, no perceptveis pelo comum
dos homens, mas perceptveis smente a quem tem uma percia
especial.
Mas temos ns razo em considerar como prova testemunhal
esta espcie probatria particular, que como prova sui generis,
geralmente estudada sob o nome de exame por peritos ? Sbre
a natureza probatria do exame por peritos no se est de acrdo
na scincia; conveniente mencionar as vrias e diversas opi-
nies, antes de justificar a nossa.
H, em primeiro lugar, quem tenha tentado negar que o
exame por peritos seja prpriamente uma prova, no vendo nela
mais que um reconhecimento de prova. Disse-se: se o perito, a
propsito de envenenamento, afirma o veneno; se, a propsito de
A Lgica ias Provas em Matria Criminal 575
falsificao do documento, afirma a alterao do escrito; se, a
propsito de exame psiquitrico do argido, afirma a sua lou-cura,
a prova no consiste prpriamente na afirmao do perito, mas
sim no veneno, na alterao do escrito, e nos caracteres manacos
que o argido apresenta. Como se v, com ste argumento chegar-
se-ia conseqncia de que tdas as provas pessoais j no so
provas. Sabe-se que as pessoas no atestam mais do que a sua
percepo das coisas, e que por isso o que prova pessoal
emquanto ao juiz, prova real emquanto tstemunha; mas no
deve esquecer-se que quando se trata de determinar a natureza
especial de uma prova, necessrio consider-la relativamente
conscincia do juiz, em quem destinada a induzir o
convencimento. Ora relativamente conscincia do juiz, quando o
perito afirma a existncia do veneno, da alterao do escrito, ou
dos caracteres manacos, o que funciona como prova no so j o
veneno, a alterao do escrito, nem o carcter manaco, em si
mesmos, mas sim a afirmao do perito que declara t-los percebido
em si mesmos. O exame por peritos, portanto, 6, como qualquer
outro testemunho, uma prova, e uma prova pessoal. Muitos
outros indivduos no teem sabido ver nos peritos" mais do que
simples consultores do juiz. Desde que disseram, o juiz no deve
recorrer ao exame por peritos, seno quando fr incapaz de julgar
por si prprio, evidente que o perito no mais do que um
consultor do juiz. E uma premissa errnea, que conduz a uma falsa
concluso. E como prova clarssima de que a premissa errnea
basta recordar o princpio, exposto em outra parte, da sociabilidade
do convencimento judicial. O juiz deve recorrer aos peritos no
tda a vez que incapaz de julgar a propsito de uma determinada
coisa, mas sempre que se trata de coisa que no cai sob a percepo
comum. necessrio nunca esquecer, que no basta que as provas
indusam uma certeza individual no juiz; devem alm disso ser de
tal natureza que indusam a certeza em todo e qualquer homem
capaz de raciocnio : nesta sociabilidade da certeza que est o
correctivo do arbtrio judicial. necessrio, portanto, recorrer ao
exame por peritos, sempre que qualquer homem no uso da razo,
nas condies de
576 A Lgica dag Provas em Matria Criminal
cultura ordinria, seja incapaz de julgar. Quando mesmo aciden-
talmente se encontre no juiz uma cultura especial, que o habilite a
julgar por sua conta, isto no basta para o dispensar de recorrer aos
peritos. A justia, para ser til sociedade, no basta que seja
justia; deve sbretudo manifestar-se como tal; e no pode
apresentar-se como tal, uma injustia primitiva que se funde em
uma certeza exclusivamente individual.
Concluindo, rejeitada a regra que afirma dever o juiz recorrer
ao exame por peritos nicamente quando incapaz de julgar, cai
tambm por terra a conseqncia que afirma no ser o per-ceito
mais do que um consultor do juiz.
Muitos outros h tambm que teem considerado a prova por
peritos como a mesma coisa que a inspeco judicial: esta
tambm uma opinio errnea. Mesmo quando, procedendo o juiz
inspeco judicial, os peritos procedem simultneamente sua
observao, as verificaes do juiz e as do perito se manteem
substancialmente separadas entre si.
O perito, mesmo quando procede simultneamente com o
juiz, deve apresentar sempre um relatrio particular em seu prprio
nome; o que mostra que o exame dos peritos uma coisa distinta
da inspeco judicial, e no pode, como prova, confun-dir-se com
ela. Podem contudo eventualmente, o exame por peritos e a
inspeco judicial, coincidir emquanto matria de observao:
tratando-se, em particular, de coisas exteriormente observveis
pelos sentidos comuns, podero estas constituir ao mesmo tempo
objecto da afirmao do perito e da verificao judicial. Mas que
se conclui daqui? Ser isto razo suficiente para considerar como
uma s coisa o exame por peritos e a inspeco do juiz? De modo
algum! Mas conservam-se sempre duas coisas distintas: a
identidade parcial da matria, sbre que recai a observao, no
pode identificar as afirmaes distintas das pessoas que afirmam.
Admitamos que ao mesmo tempo o juiz e o perito veem dizer-nos
que os ferimentos verificados sbre o cadver so em nmero de
cinco. Que se conclui daqui? Haver convergncia das duas provas
emquanto a ste ponto particular do seu contedo; mas a
convergncia de provas no autoriza a
A Lgica das Provas em Matria Criminal 577
confundi-las. De resto, ste nmero de ferimentos, que supoze-
mos ser igualmente afirmado pelo juiz e pelo perito, no para o
exame por peritos mais do que um simples ponto de partida, para
passar em seguida determinao da sua natureza e da sua
conseqncia: isto , para passar afirmao de coisas, que o juiz
no pode perceber directamente, e cuja verdade fica por isso
confiada exclusiva autoridade do perito.
Concluindo: comquanto divulgada, contudo evidentemente
errnea a opinio dos que confundem o exame por peritos com a
inspeco judicial.
Outros h, finalmente, que teem julgado ver no exame por
peritos uma dupla natureza: o perito, dizem, tstemunha e juiz.
Comquanto o perito no faa mais do que atestar um facto
material, embora no caia sob os sentidos comuns, tem-se con-
vencionado caracteriz-lo como uma tstemunha. Quando, porm,
le passa a fazer afirmaes scientficas e dedues, relativamente
ao facto em questo, j se no tem querido admitir a natureza
tstemunhal da sua palavra, e julgou-se ver nela uma funo
judicial; e esta funo judicial, tem-se achado ser anloga do
jurado, por isso que, tanto ao jurado como ao perito, se submete
uma questo de facto prejudicial, cuja soluo necessria para
julgar. Mas no se atendeu a que o perito, emquanto aos prprios
factos scientficos, no faz mais do que tstemunhar sbre a
scincia, e emquanto s dedues que le tira no faz mais do que
atestar as relaes que percebe, ou cr perceber,: a sua palavra
sempre uma palavra tstemunhal que no tem fra alguma
decisria emquanto ao julgamento definitivo. E precisamente
nesta faculdade decisria que o jurado tem, mas que no tem o
perito, que est a raz de tda a funo judicial: suprimi esta
faculdade decisria, e encontrar-vos heis nicamente em face de
uma afirmao de factos materiais ou imateriais, em que livre ao
juiz, acreditar ou no. Desde que o parecer do perito no seja
obrigatrio para o juiz, le no ser mais do que um testemunho
de matria especial. Quando se organizasse um juri pericial, para
emitir decises obrigatrias, coisa que sob o ponto de vista da arte
criminal eu creio prefervel, ento que
37
578 A Lgica das Provas em Matria Criminal
o perito, deixando de ser testemunha, se tornaria, por sua vez,
como o jurado, juiz de matria especial; mas at ento, falar de-
funo judicial do perito, absurdo.
Esta rpida exposio das vrias opinies conduz-nos nova-
mente nossa, sbre a natureza probatria do exame por peri-
tos: o exame por peritos no mais do que um testemunho.
Mesmo quando, repetimos, o perito emite um parecer scientfico,
no faz mais do que atestar, como facto, a sua convico racio-
cinada de homem de scincia; mesmo quando da tira dedu-
es, no faz seno atestar, como facto, as relaes que le, na
sua capacidade especial, percebe ou julga perceber entre uma
coisa conhecida e uma desconhecida. A sua palavra sempre
uma palavra testemunhal; palavra de uma pessoa que atesta
sbre coisas. Tda a fra probatria do exame por peritos fun-
da-se naquelas mesmas duas pressuposies, em que se funda a
fra probatria de todo o outro testemunho: que o perito se no
engana e que le no queira enganar. O convencimento do ma-
gistrado livre era face do parecer dos peritos, como o perante
qualquer outro testemunho. Para que, pois, negar a natureza
testemunhal do exame por peritos? Mas, diz Mitteamayer, se os
peritos se tomam como testemunhas, aplicando os princpios
reguladores destas queles, chega-se s mais errneas conseqn-
cias. No, dizemos ns; pois que, se afirmamos serem os peritos
testemunhas, acrescentamos que les so testemunhas de uma
ordem especial, e portanto subordinveis a regras especiais. O tes-
temunho o gnero prximo, a que se acham subordinadas duas
espcies, consistentes no testemunho comum e no testemunho
pericial. Estas duas espcies tero conseguintemente regras
comuns, derivadas da identidade do gnero a que pertencem, e
tero regras particulares, derivadas das diferenas especficas que
apresentam. Procuremos determinar a natureza especfica do tes-
temunho pericial.
J o dissemos, o testemunho comum tem por objecto coisas
perceptveis pela capacidade comum, e o testemunho pericial tem
por objecto coisas, que, para serem percebidas, requerem uma
capacidade especial. Mas no basta: para determinar melhor e
A Lgica das Provas em Matria Criminal 579
de um modo mais explcito a natureza do exame por peritos, direi
que ste um testemunho de Jactos scientficos e tcnicos, das
suas relaes e das suas conseqncias. Aclaremos um pouco
esta noo.
Falo de facto scientfico, e no de verdade /cientifica, por-
quanto ao perito nunca se exige uma verdade ideal, mas sim uma
verdade de facto. As cincias periciais, como scincias
experimentais, teem sempre uma raz nos factos. As verdades
pertencentes a estas scincias, nunca so verdades ideais: so
verdades experimentais, a que pelo exame dos vrios factos par-
ticulares se chega por induo. EU porque indico as verdades
genricas das scincias periciais com o nome de factos scientfi-
cos, tomando em conta tambm que o perito afirmando essas
verdades no faz mais do que afirmar como facto as sitas con-
vics de homem de scincia relativamente a elas. Entendo por
factos tcnicos os factos concretos, que no so bem perceptveis
pelo comum dos homens, mas simplesmente pelos que teem uma
capacidade especial, que costuma encontrar-se em quem pratica
uma determinada arte, uma dada profisso, ou tem um hbito de
vida especial. As relaes entre factos scientficos e factos
tcnicos, e as conseqncias que da se tiram, so ordinriamente
a matria 'mais importante do exame por peritos.
Consideremos prticamente a nossa noo. Eis aqui: encon-
tramo-nos em face de um estado de facto material; por exemplo,
de um cadver. Chamemos o perito, e preguntemos-lhe quais as
leses externas e internas que apresenta. Que pedimos ns ao
perito? A declarao de um facto tcnico, de um facto que no
bem perceptvel pelos sentidos comuns: nunca preguntaremos ao
perito, se o cadver tem ou no casaco, e se o seu casaco desta
ou daquela cr. Admitamos que o perito afirma a existncia de
uma leso nos pulmes; e preguntemos ainda: A leso nos
pulmes sempre mortal? Com isto, o que que lhe pedimos? A
declarao de um facto scientfico, de um facto genrico, que se
deduz da observao de vrios factos particulares. Admitamos que
le responde, que s determinadas leses produzem a morte;
580 A Lgica das Provas em Matria Criminal
e ns preguntamos finalmente: Mas foi esta leso que produziu a
morte ? E desta forma exigimos-lhe a aplicao do facto scien-
tfico ao facto tcnico, a relao por le percebida entre um e outro,
e a conseqncia que da deriva.
Concluindo, o exame por peritos, um testemunho, mas de
ordem especial. Destingue-se do testemunho comum sbretudo
porque, contrriamente a ste, le tem por objecto a percepo de
coisas no perceptveis pelo comum dos homens: eis a primeira e
fundamental diferena entre o exame por peritos e o testemunho
comum. Mas, por isso que o exame por peritos tem por objecto
coisas que no so perceptveis pelo comum dos homens, segue-se
tambm que no um testemunho, que possa ser prestado por
qualquer pessoa que eventualmente presenciasse o facto;
necessrio pessoas do capacidade especial, e para haver estas
pessoas particulares necessrio convid-las. Eis uma segunda
diferena: o perito uma tstemunha escolhida post factum: a
tstemunha comum uma tstemunha adventcia in facto: e
conseguintemente o perito -nma tstemunha substituvel, e a
tstemunha comum no o . Mas se o perito uma tstemunha que
se escolhe post factum, compreende-se tambm que ela no possa
ser chamada para depor seno sbre aquilo que subsiste
relativamente ao facto, sbre factos presentes supervenientes ao
facto criminoso j passado. E eis aqui uma terceira diferena: o
testemunho pericial tem por objecto factos presentes, ao passo que
o testemunho comum principalmente destinado a fazer reviver
factos passados.
Uma vez que os peritos so tstemunhas escolhidas post
factum, parece natural preguntar-se quem que os deve escolher,
qual o seu nmero, e quando devem ser escolhidos.
Sendo, no processo instrutrio, o juiz encarregado de escla-
recer todos os factos teis descoberta da verdade, a le, em
primeiro lugar, pertence o direito de escolher e chamar peritos,
sempre que o julgue oportuno. Se, portanto, no decurso da causa,
o juiz dos debates que sente a necessidade do exame por peritos
para completar a instruo no intersse da verdade, compreende-
se tambm que seja a le a quem deva competir a esco-
A Lgica das Provas em Matria Criminal
581
lha e a nomeao dos peritos. Quando, pois, a requerimento do
argido ou do seu defensor que se recorre ao exame por peritos;
se o perito por les indicado no tem contra si motivo algum srio
de recusa, comquanto seja lgico que essa escolha no seja
obrigatria, bom contudo, que o juiz a confirme com a
nomeao, no contrariando a confiana particular da defesa,
reservando-se sempre ao juiz a faculdade de ouvir ontro perito
sbre o mesmo facto.
Emquanto ao nmero de peritos, do mesmo modo que para
o testemunho comum, considera-se que um s perito pode, mais
fcilmente que dois, enganar-se ou induzir em rro: pode mais
fcilmente enganar-se, por isso que duas pessoas observam me-
lhor que uma s; pode mais fcilmente enganar, pois que menos
fcil que dois peritos queiram ao mesmo tempo mentir e mentir de
acrdo. E, portanto, sob um tal ponto de vista, tem-se como regra
racional que os peritos no devera ser menos de dois; a
possibilidade de falta de acrdo entre os dois aconselha, pois, que
o seu nmero seja elevado pelo menos a trs.
Mas quando que deve recorrer-se ao exame por peritos? J
o dissemos, o juiz deve recorrer aos peritos, no tda a vez que
le prprio se julgue incapaz de julgar, mas sim tda a vez que,
mesmo sendo le, pessoalmente, capaz de julgar, se trata de coisa
que no pode ser bem percebida peio comum dos homens.
Segundo o princpio da sociabilidade do convencimento, a
sociedade deve encontrar-se era condies de verificar com o seu
juzo o parecer do magistrado sbre a existncia e sbre a
natureza doa factos. A justia ounitiva no pode ter por nica
base a certeza, exclusivamente individual, do magistrado. Ainda
quando, por ventura, o juiz fsse um habilssimo perito na ma-
tria a julgar, mesmo se se trata de afirmaes pertencentes a
uma scincia, ou arte, especial, isto , se se trata de afirmaes
que requerem uma capacidade especial, le deve recorrer sempre
ao perito, a fim de que o seu julgado no parea o resultado de
uma convico sua, solitria e individual. A justia punitiva
tambm mais legtima, quanto mais se afirma como justia
intrnseca e extrnseca; por outros trmos, para que a justia
582 A Lgica das Provas em Matria Criminal
seja til sociedade, no basta que seja justia; deve sbretudo
manifestar-se como tal.
Desde que, pois, necessrio recorrer ao exame por peritos
sempre que se trata da verificao de coisas que no so bem
perceptveis pelo comum dos homens, segue-se que a necessidade
dsse exame mais ou menos frequente, no s segundo a maior
ou menor popularidade dos conhecimentos, mas tambm segundo
a natureza particular dos crimes a julgar. H crimes em que se
procede sempre ao exame por peritos, como no homicdio em
geral, nos ferimentos, no estupro, nas falsificaes de moeda ou de
escrito; h crimes em que a le se procede freqentemente, como
no crime de fogo psto; h, finalmente, crimes em que s
excepcionalmente se procede a ste exame, como no furto. E seja
qual fr o crime, por vezes necessrio recorrer-se ao exame por
peritos mesmo relativamente verificao do estado mental do
argido.
Passemos agora avaliao do testemunho pericial.
J expozemos os critrios da avaliao do testemunho em
geral, e vimos que les se distinguem em critrios subjectivos, cri-
trios objectivos e critrios formais. Agora, convm fazer aqui uma
observao. Tanto os critrios subjectivos, como os critrios objec-
tivos, so critrios genricos, que se referem ao testemunho concreto
emquanto uma afirmao de pessoa; e por isso todo o
testemunho, smente porque prova pessoal, deve subordinar-se
qules critrios. Do momento que sob a palavra de uma pessoa,
que percebeu o facto, que se cr nas coisas percebidas,
compreende-se que a existncia dessas coisas ser tanto mais certa,
quanto mais se cr que a pessoa que as afirma se no engana, e
que no pretende enganar: e nestas consideraes que encontram
fundamento os critrios subjectivos de avaliao. E assim por-
tanto, desde que se no tem conhecimento das coisas seno por
afirmaes da pessoa, compreende-se tambm que o contedo
desta afirmao servir para inspirar maior ou menor f sbre a
existncia das coisas: e nesta outra considerao do contedo
tstemunhal encontram fundamento os critrios objectivos de
avaliao. Tanto os critrios objectivos como os subjectivos ser-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 583
vem, tanto para o testemunho paricial, como para o testemunho
comum, com uma importncia maior ou menor, derivada, como
veremos, da natureza especial do testemunho pericial. Relativa-
mente aos critrios formais necessrio pois observar que les
nascem geralmente da considerao do testemunho emquanto ao
modo particular por que se exterioriza, e so critrios que se no
referem a prova alguma pessoal: so critrios especficos
referentes, principalmente, ao testemunho comum. E, portanto, os
critrios formais por ns j expostos, so os que apresentam,
falando de um modo geral, as maiores anomalias, na sua aplica-
o ao testemunho pericial. Vejamos a verdade destas nossas
observaes, por meio de uma rpida resenha dos critrios de
avaliao, no que respeita ao exame por peritos.
Comecemos pelos critrios subjectivos. Da considerao da
pessoa do perito, como da da tstemunha comum, deduzem-se razes
para crr que o perito se engana ou no, e quer ou no enganar;
razes que, naturalmente, do ou tiram f ao exame por peritos, do
mesmo modo que ao testemunho comum. Mas b uma diferena
proveniente da natureza especfica dos dois testemunhos. O
testemunho pericial tem por contedo coisas que no so bem
perceptveis para a capacidade comum, coisas que requerem uma
capacidade especial e mais levada para a sua percepo. Segue-se
daqui que o critrio da capacidade intelectual e sensria, que tem
um valor limitado emquanto ao testemunho comum, tem o mximo
valor emquanto ao testemunho pericial: para o testemunho comum,
basta uma inteligncia normal, comquanto limitada, e uma fra
sensria no superior ordinria; para o testemunho pericial, ao
contrrio, quanto maior a inteligncia e a habilidade de
observao do perito, tanto maior a f que le merece. Vice-
versa: o critrio da capacidade moral, que tem grandssima
importncia para o testemunho comum, tem uma importncia
limitada quanto ao testemunho pericial. A tstemunha comum no
faz mais do que afirmar, pura e simplesmente, factos passados,
que diz ter percebito, factos que ordinriamente j no podem ser
mais verificados era si mesmos, directamente; e por isso, quando
ela queira enganar, -lhe, de certo modo,
584 A Lgica das Provas em Matria Criminal
mais fcil o caminho. O perito, ao contrrio, se afirma factos
materiais perceptveis a todos, como por exemplo, o nmero das
leses externas de um cadver, nestas suas percepes costuma
ser acompanhado pela inspeco judicial, que , assim, um obst-
culo possvel vontade de enganar. Se afirma, pois, facto
tcnicos, que no so bem perceptveis ao prprio juiz, podendo
recorrer-se sempre a outros exames por peritos sbre os mesmos
factos, a possibilidade no perito da vontade de enganar encontra
um obstculo na facilidade com que pode ser desmentido. Se,
finalmente, o perito emite pareceres scientricos e deduces,
stes pareceres e estas dedues no so simples afirmaes;
devem ser fundamentadas, e, portanto, as falsas afirmaes do
perito correm fcilmente o risco de se revelarem na falsidade
dos seus fundamentos, fundamentos, cuja falsidade pode ser veri-
ficada por outros peritos, pelos juzes, ou por pessoas estranhas
ao processo e que dle tomassem conhecimento. A vontade do
enganar encontra, conseguintemente para o perito, maiores obs-
tculos que para a tstemunha comum. Concluindo: os critrios
subjectivos da capacidade intelectual e moral teem tanto valor
para o perito como para a tstemunha comum; mas o critrio
da capacidade intelectual tem maior importncia para o
testemunho pericial que para o comum; e o critrio da
capacidade moral tem maior importncia para o testemunho
comum que para o pericial.
E passemos aos critrios objectivos.
Admitido que o exame por peritos, devido ao seu contedo
especial, um tstemunho, direi assim, racional, compreeude-se
como, para o avaliar bem, teem grandssima importncia os cri-
trios objectivos de avaliao: o testemunho pericial , sbre-
tudo, acreditado ou desacreditado pela prpria natureza do seu
contedo, considerado em si mesmo.
Lancemos uma rpida vista de olhos aos vrios critrios
objectivos de avaliao j expostos noutro lugar.
1. A incredibilidade das afirmaes tira a f ao
testemunho pericial, do mesmo modo que ao testemunho
comum; e a inverosimilhana diminui a sua f. A
irracionalidade absoluta
A Lgica das Provas em Matria Criminal 585
ou relativa dos pareceres cientficos, emitidos pelos peritos,
equivale sua incredibilidade, e sua inverosimilhana.
2. O testemunho pericial ter tanto maior valor, quanto
menos a matria da sua afirmao se prste a enganos. Os factos
cuja observao no d lugar, normalmente, a engano, sero mais
acreditados que os outros, que, pela sua natureza, costumam por
vezes enganar at a habilidade especial do homem perito.
3. O perito no pode com as suas afirmaes inspirar, nas
coisas afirmadas, mais f que a que le prprio possui. E por isso
o contedo do exame por peritos tem tanto mais valor quanto
menos dubitativo se apresenta; e vice-versa.
4. Se a certeza de quem afirma que se transforma em
certeza das coisas afirmadas, segue-se que, se um perito cai em
contradio no contesto do seu parecer, demonstrando com isso,
no ter le prprio certeza num determinado sentido, no pode
inspirar aos outros a certeza das coisas afirmadas. O testemunho
pericial, emquanto em si mesmo contraditrio, perder por isso
mais ou menos f segundo a natureza das afirmaes entre as
quais se d a contradio.
5. O testemunho pericial ter tanto maior valor quanto
maior determinao apresentar nas suas afirmaes; e o seu valor
diminuir at reduzir-se a nada, medida que se apresente mais
indeterminado.
6. O testemunho do perito, como o da tstemunha comum,
tem tanto valor probatrio quanto de exactido tiveram as suas
percepes. Convm conseguintemente saber como tiveram lugar
as suas percepes, para poder haver f na sua exactido; isto ,
necessrio que o perito apresente a razo da sua scineia, como
dizem os prticos a propsito de testemunho comum. Isto deve
entender-se no mesmo sentido que o para o testemunho comum,
emquanto percepo de coisas perceptveis pelo comum dos
homens. Emquanto, pois, percepo de factos tcnicos, apresentar
a razo da scincia prpria consiste na exposio dos meios
tcnicos empregados para a observao: se, para os exames por
peritos, se no empregaram os meios roais apropriados, ou se no
fez convenientemente uso dles, natural que deva
586 A Lgica das Provas em Matria Criminal
diminuir a f no exame. Emquanto aos pareceres scientticos,
finalmente, a exposio da razo de scincia resolve-se, para o
perito, na exposio dos motivos racionais das suas afirmaes.
7. Dissemos a propsito de tstemunha comum que tudo
quanto ela afirma por scincia prpria inspira mais f que o
que afirma por ouvir dizer. A natureza especfica do exame por
peritos conduz-nos, a ste propsito, a observaes particulares.
Emquanto verificao dos factos, quer sejam comuns quer
tcnicos, no teem sentido para o perito a distino de
testemunho de scincia prpria e de ouvir dizer, o perito, como
tal, chamado sempre para afirmar por scincia prpria. Quando,
portanto, se trata de pareceres scientficos, pede-se sempre ao
perito a sua opinio pessoal, e o ouvir dizer que, nesta matria,
consiste na autoridade alegada de outros homens da scincia,
no faz seno vir acumular-se com a scincia pessoal do perito,
tomando-a mais digna de f. Portanto, quando mesmo o perito
no apoiasse o seu parecer scientfico, seno sbre a autoridade
scientfica de outros, ste seu ouvir dizer nem sempre inspiraria
menos f, porquanto o valor scientfico e o poder de observao
do homem de scincia cuja opinio se alega, podem estar a uma
altura tal de inspirarem maior f que a simples autoridade do
perito.
8. Para uma exacta avaliao objectiva do testemunho do
perito, no basta atender ao contedo em si mesmo; necessrio
consider-lo tambm, em relao ao contedo dos outros
testemunhos periciais do mesmo ou de outros peritos, e pelo que
respeita ao contedo dos testemunhos comuns. Em geral, pode
afirmar-se tambm quanto ao testemunho do perito, que o seu
acrdo com as outras afirmaes aumenta a sua f, e a contradi-
o com elas diminui-a. Lancemos uma rpida vista de olhos aos
vrios casos.
Em primeiro lugar, o perito pode com um segundo parecer
contradizer o primeiro, que le prprio apresentou. Se a contra-
dio recai sbre factos materiais, e as alteraes do segando
parecer se no justificam por uma nova ou mais cuidadosa obser-
vao, todos entendem que a contradio tira a f palavra do
A Lgica das Provas em Matria Criminal 587
perito, do mesmo modo e pelos meamos critrios que a tira
palavra da tstemunha comum. Se, portanto, a contradio diz
respeito s concluses e ao parecer emitidos pelo perito, todos
compreendem que a mudana de opinio, em vez de falta de
observao, ou vontade de enganar, revela no perito um zlo
consciencioso da verdade, a que, custa da sua contradio, quis
chegar por meio de um exame mais cuidadoso, com novas
experincias, e com dedues mais racionais.
Em segundo lugar, a afirmao de um perito pode estar em
contradio com a afirmao de outro perito. E tambm aqui
necessrio distinguir. Se a contradio recai sbre factos per-
ceptveis a todos, ela deve ser julgada cora os critrios expostos a
propsito de testemunho comum. Se a contradio recai sbre
factos tcnicos, necessrio atender especialmente aos meios
tcnicos empregados, na observao, pelos peritos que se contra-
dizem, e a sua habilidade pessoal: aquele que empregou o melhor
mtodo de observao, e que teve maior habilidade inspirar sempre
mais f do que aquele que empregou um mtodo menos perfeito e
possui menor habilidade. Finalmente, se a contradio recai em
concluses e em pareceres scientficos, necessrio atender maior
ou menor racionalidade das afirmaes opostas, e ao valor
intelectual de quem faz a afirmao: aquele que possui mais valor
scintfico e que apresenta motivos mais racionais, inspirar sempre
mais f que o outro. Em todos os casos, poder-se h recorrer a
novos peritos, a fim de procederem a novo exame, e de se
pronunciarem de novo sbre a questo.
Em terceiro e ltimo lugar, a contradio pode verificar-se
entre o exame dos peritos e os testemunhos comuns. Os peritos,
por exemplo, afirmam ter resultado a morte de um tiro de arma
de fogo, ao passo que o argido confessa t-la produzido por
meio de uma faca sem ponta. Os peritos, admitamos, afirmam
que o recem-nascido no pode ter sado vivo do ventre da me,
ao passo que as tstemunhas afirmam ter ouvido os gritos,
quando a me o enterrava. Todos veem que em casos tais a
autoridade do exame por peritos perde de valor proporcionalmente
ao nmero e ao valor dos testemunhos em contrrio, especial-
588 A Lgica das Provas em Matria Criminal
mente quando se atenda a que aquilo que os peritos afirmam
por induo, as tstemunhas afirmam-no, ao contrrio, por per-
cepo directa. Admitindo que no existem razes de descrdito
contra os testemunhos comuns, os exames por peritos perdem
completamente a sua autoridade; e nstes casos sempre con-
veniente consultar novos peritos, estudando e apreciando cuida-
dosamente as confisses e os depoimentos.
E passemos, por fim, aos critrios formais de avaliao.
Vimos que o carcter especfico do testemunho consiste na sua
natureza oral. Ora, necessrio antes de mais nada observar, a
propsito de exame por peritos, que emquanto necessrio que
le seja capaz de ser reproduzido oralmente, sem o que no
seria um testemunho pericial, mas sim um documento, o prin-
cpio da natureza oral efectiva -lhee aplicvel de um modo limi-
tado. Sabemos que o princpio da natureza oral efectiva importa
no s dever apresentar-se oralmente todo o testemunho capaz
de tal forma, mas tambm no dever conceder-se a permisso de
apresentar o testemunho por forma escrita nos debates pblicos,
e conseguintemente, se existem depoimentos escritos no processo,
deve probir-se a sua leitura. Ora, tudo isto encontra excepo
na natureza especial do testemunho pericial. A matria no fcil
dste testemunho, referindo-se a detalhes complicados e a impres-
ses analticas, que necessrio fixar imediatamente por escrito,
se se querem depois referir exactamente, faz com que o escrito
seja o melhor ponto de partida para testemunhos desta natureza,
servindo melhor para garantir a sua exactido e verdade. Eis
porque se admite a leitura dos depoimentos escritos dos peritos.
O perigo da fragilidade da memria considera-se maior, em ma-
tria de exame pericial, que o perigo das afirmaes preparadas
e artificiosas que acompanham todo o depoimento; e isto tam-
bm pela natureza especial do testemunho do perito, que no
um homem qualquer dado ao acaso, mas sim um homem no
comum, que se escolhe post factum. E por isso o depoimento
escrito do perito, apresentado em juzo, no defectivo pela sua
forma: a sua leitura admitida, recorrendo-se sua reproduo
oral sucessiva Unicamente quando a sua necessidade se faa sen-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 589
tir. E esta necessidade manifesta-se legitimamente com o pedido
de inquirir oralmente os peritos, no se podendo em matria cri-
minal recusar a discusso oral, em matrias to importantes, em
que as explicaes e os aditamentos orais podem servir gran-
demente para demonstrar a verdade.
Psto isto, faamos uma rpida exposio dos critrios de
avaliao derivados da frmula, que apresentamos a propsito de
testemunho comum.
A clareza e a preciso da linguagem, como manifestao
directa do pensamento, um critrio de avaliao que por um
lado pertence forma, e por outro, ao contedo; e em quanto ste
critrio se refere intimamente ao contedo tstemunhal, tem valor
tanto para o testemunho pericial, como para qualquer ontra
afirmao pessoal. Compreende-se que a afirmao pessoal, seja
de que espcie fr, tenha sempre tanto maior valor, quanto maior
preciso e clareza apresentar na sua forma.
Relativamente, pois, aos critrios formais, que acreditam o
testemunho emquanto revelam indirectamente a alma da tste-
munha, compreende-se que les no podem ter importncia rela-
tivamente ao testemunho do perito, sendo ste, pela sua natureza
especial, um testemunho meditado.
Poder talvez apresentar-se em primeiro lugar como razo
de suspeita, a animosidade de linguagem do perito? Em primeiro
lugar, se animosidade houvsse, o perito tem tda a vantagem de
ocult-la, tendo legitimamente todo o intersse em meditar o seu
tstemonho; e depois, a matria do testemunho do perito presta-se
pouco a manifestaes de animosidade pessoal. A linguagem
estudada, que no sendo natural para o testemunho comum, o
torna suspeito, ao contrrio linguagem natural nos pareceres dos
peritos. E por isso, a identidade permeditada de linguagem, que,
como forma no natural, torna suspeito o testemunho comum,
forma natural para o parecer dos peritos, desde que, quando stes
so mais de um, discutindo e estabelecendo conjuntamente as
suas opinies, que servem melhor ao triunfo da verdade. Com
efeito, havendo mais de um perito, tem-se achado lgico e natural
que subscrevam conjuntamente o mesmo pare-
690 A Lgica das Provas cm Matria Criminal
cer; ao passo que se acha absurdo que mais de uma tstemunha
comum faam um testemunho colectivo.
E o mesmo se diz quanto aos indcios que so deduzem da
pessoa da tstemunha, e que servem para revelar o seu esprito.
O perito, mesmo quando se apresenta nos debates pblicos para
ser examinado oralmente, uma tstemunha longa e estudiosa-
mente preparada para o depoimento que tem de fazer, e o seu
depoimento tem por objecto conhecimentos que lhe so peculia-
res; nestas condies, que indicio pode tirar-se da sua pessoa
sbre a verdade das suas opinies?
Finalmente, tambm as formalidades protectoras da ver-
dade, aconselhadas pela arte criminal quanto ao testemunho
comum, no teem geralmente a mesma importncia quanto ao
testemunho pericial; e por isso relativamente a ste, no teem o
mesmo valor como critrios de avaliao.
Se considerarmos a produo judicial, forma primria do
testemunho comum, vemos que ela no tem o mesmo valor em-
quanto ao testemunho pericial. Sabemos j, que o testemunho
pericial tem todo o seu valor mesmo quando apresentado cumu-
lativamente num escrito, isto , mesmo quando se tenha exterio-
rizado em forma de prova fora da presena do juiz, redigindo um
s, no escrito, o que os outros afirmaram.
Mesmo no caso em que os peritos procedam a um exame
sob os olhos do juiz, poder-se h requerer que reduzam imedia-
tamente a auto as suas verificaes materiais; mas no se lhes
poder exigir que redijam imediatamente o seu parecer funda-
mentado, quando necessrio deix-lo amadurecer pela reflexo.
E por isso os peritos podero redigir o seu parecer cumulativa-
mente sua vontade, fora da presena do juiz.
E aqui bom acrescentar, que para a validade probatria
do exame dos peritos, nem mesmo necessrio que os peritos
tenham procedido ao seu exame na presena do juiz. Ser til,
no caso de a masma coisa ser objecto da inspeco judiciria e
do exame dos peritos, ser til, digo, que os peritos e o juiz.
procedam conjuntamente s suas observaes, a fim de que a
coisa a examinar se apresente intacta, nas suas condies natu-
A Lgiea das Provas em Matria Criminal 591
Tais, observao de um e dos outros; mas no se poder, por
isto, concluir que a declarao dos peritos, s pelo facto de referir
factos observados fora da presena do juiz, perca o seu valor
probatrio. necessrio, portanto, atender a que b verificaes
especiais e exames, que por sua natureza no podem efectuar-se
perante o juiz; como quando necessrio proceder a experincias
qumicas, ou a longas investigaes scientficas. Em tal hiptese
lgico que os objectos a examinar sejam entregues aos peritos, a
fim de procederem ao seu exame socegada e reflectidamente.
Emquanto pois ao intrrogatrio, principal entre as forma-
lidades secundrias aconselhadas pela arte criminal, 3te, quando
o perito comparece nos debates orais, presta valiosos servios
mesmo relativamente ao exame pericial, no tanto como obstculo
possvel vontade de enganar da parte do intrrogado, quanto
como meio de esclarecer as dvidas e desfazer os rros da parte
de quem intrroga. E necessrio por isso atender a que, se o
exame dos peritos adquire um valor probatrio mais elevado
quando esclarecido e confirmado pelo seu intrrogatrio, ele
contudo conserva todo o seu valor, mesmo sem intrrogatrio,
quando no se faa sentir a necessidade dste.
Emquanto, finalmente, ao juramento, admitindo que le
um obstculo eficaz contra a possvel vontade de enganar da
tstemunha, lgico proceder a le, como garantia formal, tanto
com o perito como com a tstemunha comum. O exame por
peritos ajuramentados d, sob ste aspecto, maior segurana que
a lealdade conscienciosa das afirmaes do perito.
E eis aqui, de novo expostos, por esta forma, relativamente
ao exame pericial, todos os critrios de avaliao por ns apre-
sentados a propsito de testemunho comum.
Besta apenas fazer uma ltima considerao sbre o exame
por perito; e concluo.
Emitido um parecer, ainda que concordemente, pelos peri-
tos, ser le obrigatrio para a conscincia do juiz? De modo
algum; as provas, sem excepo, impem-se tanto conscincia
do juiz, quanto criam nela o ntimo convencimento da verdade
das coisas atestadas. Enquanto permanecer na conscincia do
592 A Lgica das Provas em Matria Criminal
juiz uma s dvida que seja, ste tem sempre o direito de no
acreditar nas provas. Se, depois de ter avaliado cuidadosamente
o testemunho dos peritos, sob o ponto de vista do sujeito, da
forma, e especialmente do contedo, o juiz no se sente tdavia
convencido, seria absurdo pretender que le se pronuncie de har-
monia com 'o parecer dos peritos, e em contradio com a prpria
conscincia. Poder o juiz, logo que disso sinta a necessidade, e
uma vez que a lei lho permita, recorrer a exames por peritos
posteriores, para alcanar um convencimento qualquer; mas,
se, apesar de os exames ulteriores dos peritos, as suas dvidas
no desaparecem, no lhe resta seno pronunciar-se em favor do
argido.
Tudo isto considerando sempre o perito como tstemunha.
Quando, ao contrrio, se tivsse organizado um juri pericial para
se pronunciar sbre as questes, ento o perito j no seria uma
tstemunha, mas sim juiz de matria especial; os seus exames
periciais seriam outras tantas inspeces judiciais; e os seus
pareceres mudar-se-iam em decises, obrigatrias para todos.
SECO SEGUNDA DA QUINTA PARTE
Prova documental
CAPTULO I Documento,
sua natureza e espcies
Falando da diviso formal das provas, determinamos j a
natureza especfica do documento: documento a afirmao
pessoal consciente, escrita e irreproduzvel oralmente, destinada a
fazer f da verdade dos factos atestados.
Vimos tambm como esta nossa definio serve para dis-
tinguir nitidamente o documento, que uma das duas espcies em
que sob o ponto de vista da forma se concretiza a afirmao
pessoal, da outra espcie que o testemunho; e serve tambm
para a distinguir da prova material, que a espcie nica em que
sempre, sob o ponto de vista da forma, se concretiza a afirmao da
coisa. conveniente tratar novamente destas distines, para que
tambm aqui se apresente determinada a noo do documento.
Comecemos no entanto por uma observao preliminar.
Nesta nossa definio do documento, no falamos seno da sim-
ples forma escrita; mas conveniente observar que, em sentido
lato, poderia incluir-se no documento qualquer outra forma
permanente, em que se suponha exteriorizada a afirmao pes-
soal. Nste sentido lato, o documento compreenderia tambm
aquelas formas de afirmao pessoal, que foram designadas pela
escola com o nome de monumenta; formas permanentes, desti-
nadas a perpetuar a memria de um facto, como os tmulos,
38
594 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ou a proclamar um direito, como os. limites e os confins, ou a
traduzi-lo por meio de sinais simblicos, como os brazes de armas
l
. Ns, com quanto admitamos que, sob um ponto de vista muito
geral, o documento possa considerar-se nste sentido lato,
preferimos contudo, sob o ponto de vista de prova penal, consider-
lo em sentido restrito, tomando em considerao smente a forma
escrita, como sua forma ordinria, principal e mais perfeita, e como
nica forma importante em matria de prova penal. A propsito,
pois, das vrias formas permanentes que podem assumir a
afirmao pessoal, deve observar-se, alm disso, que entre todos,
no h seno o escrito que tenha um significado profcuo e
determinado; sendo qualquer outra forma, mais ou menos, obscura
e indeterminada. Psto isto, passemos a considerar o documento
sob a sua natureza especfica, pela qual se distingue das outras
espcies formais de prova.
J dissemos que no existe documento em sentido restrito
sem o escrito; necessrio, contudo, acrescentar que nem todo o
escrito um documento em sentido restrito, se bem que vul-
garmente, sob o ttulo de documento, se costume compreender tda
a espcie de escrito. Considerando exactamente a natureza
especfica das provas, escritos h que no constituem seno uma
prova material, e h escritos que no so mais do que uma prova
tstemunhal. Vejamo-lo.
O escrito constitui prova material em dois casos: quando
acompanhado da inconscincia de quem o escreve, e quando no
maia do que um objecto da aco criminosa, e no por isso
considerado como simples afirmao pessoal, destinada a fazer f
das coisas atestadas.
Para ns, o documento 6 ssencialmente uma prova pessoal;
e no pode haver prova pessoal, sem a conscincia da prpria
afirmao, da parte de quem atesta. Se um acusado, em um
momento, suponhamos, de sonambulismo, reduz a escrito a sua
1
Quanto natureza pessoal destas provas, veja-se o que escrevi no
Captulo II, da Quarta parta.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 595
confisso, ste seu escrito s pode ser considerado como uma
prova real, porquanto a natureza especfica da afirmao pessoal
assenta na conscincia do que se afirma. Se se suprimir a cons-
cincia das afirmaes escritas, o que resta? Nada mais do que a
exteriorizao material de um estado de esprito que pode ser
simplesmente uma aberrao e uma enfermidade. Na generali-
dade das provas reais, trata-se de modificaes materiais perce-
bidas sbre as coisas; aqui trata-se de modificaes espirituais
percebidas, atravs da materialidade do escrito, na pessoa. Mas
que entender-se daqui ? Tanto em um como em outro caso, as
modificaes espirituais, do mesmo modo que as corpreas, reve-
lam-se pela mesma forma em uma materialidade concreta incons-
ciente, submetida percepo do juiz. Suprimam-se as diferenas
acessrias de manifestao, derivadas da diversa natureza dos
sujeitos, pela qual o sujeito espiritual tem necessidade de
exteriorizar as suas modificaes para as tornar perceptveis, e o
sujeito material apresent-las h logo perfeitas e exteriorizadas; e,
parte esta diferena, dada a manifestao inconsciente das
modificaes espirituais, tereis sempre, tanto para estas, como
para as modificaes corpreas, a mesma natureza da prova
material: modificaes, tdas elas, material e inconscientemente
oferecidas pelo seu sujeito percepo, e que entram por isso na
classe das provas materiais. Para existir, pois, a prova pessoal em
geral, e o documento em especial, necessrio absolutamente, em
primeiro lugar, a conscincia de quem faz a afirmao; e eis
porque, definindo o documento, falamos de afirmao consciente.
Mas, para se ter a prova pessoal era geral, e o documente em
especial, no basta que o escrito tenba sido conscientemente
redigido; necessria, alm disso, que le se apresente como uma
afirmao destinada a fazer f dos factos atestados. Ora, ste
facto de ser destinada a inspirar f no seu contedo, no existe
nos escritos que se apresentam como objecto da aco criminosa,
nos escritos que se apresentam em juzo como exteriorizao
material do crime. O libelo difamatrio, o documento falsificado, a
carta ameaadora, a denncia falsa ou a querela falsa por escrito,
quando se produzem em juzo como factos
596 A Lgica das Provas em Matria Criminal
imputveis a um homem, no so j documentos, mas provas
materiais, por isso que, no juzo em que se produzem, represen-
tam a concretizao material do crime, e no a simples afirmao
pessoal de um facto, destinada a fazer a sua f. A palavra
escrita, em tais casos, no seno um meio de concretizao
material do prprio crime, como o punhal que fere e a mecha
que incendeia: estamos sempre em face da materialidade do
corpo de delito, e no j de um simples documento. E eis por-
que, definindo o documento como uma afirmao pessoal cons-
ciente, acrescentamos: destinada a fazer f da verdade dos factos
atestados. A conscincia e o fim de jazer f dos factos ates-
tados, eis as duas caractersticas que distinguem o escrito docu-
mento do escrito que constitui prova material. Mas
dissemos tambm que o escrito pode ser uma simples prova
tstemunhal. necessrio portanto um critrio para distinguir
tambm exactamente o escrito que prpriamente documental
do que tstemunhal. Qual ste critrio? Parece-nos t-lo
encontrado na irreprodutibilidade oral: os escritos repro-
duzveis oralmente no so mais que testemunhos escritos: so,
ao contrrio, prpriamente documentos os escritos irreproduzveis
oralmente. No parea fantstico e arbitrrio ste nosso critrio;
le provem-nos da considerao da natureza ntima do docu-
mento; e no nos parece difcil convencer da sua exactido.
Intrrogando, pouco que seja, as nossas conscincias jurdicas,
achamos que tda a vez que se fala de documento escrito,
como de prova especfica, apresenta-se como natural ao esprito
o conceito de uma prova pessoal destacada da pessoa fsica de
quem o escreveu, de uma prova que, comquanto pessoal, tem,
direi assim, uma vida prpria, que deve ser considerada e ava-
liada independentemente da presena fsica, real ou possvel de
quem o escrevo: o escrito, por outros trmos, apresenta-se como
documental smente quando, tendo em si mesmo natureza de
prova completa (mais ou menos perfeita, mas sempre completa
em si mesma), no deve reproduzir-se oralmente. Continuando
ainda a intrrogar as nossas conscincias jurdicas, vemos, vice--
versa, que tda a vez que se fala de testemunho, como de prova
A Lgica das Provas em Matria Criminal 597
especfica, se apresenta como natural ao esprito o conceito de uma
afirmao pessoal inseparvel da pessoa que afirma, de uma afirmao
pessoal, cuja natureza especfica de prova determinada pela
presena real ou possvel da tstemunha em juzo. Se supozermos
um escrito contendo uma afirmao pessoal, e supozermos que a
pessoa que fz a afirmao no pode vir a juzo reproduzir oralmente
o contedo, repugnar-nos h falar de teste-
munho
escrito em sentido restrito, e parecer-nos h mais natural falar de
documento. OO escrito, no entanto, deve ser considerado como
tstemunhal, por isso que a sua natureza probatria completada
pela presena possvel da tstemunha em juzo: testemunho escrito,
por outros trmos, smente o que pode ser reproduzido oralmente
pela tstemunha, perante o juiz do debate.
E, diga-se em parntesis, falamos do juiz do debate, por
quanto, como temos observado mais de uma vez, as provas no
podem classificar-se de uma forma estvel no as referindo a um
ponto fixo, e o ponto fixo para a classificao relativa forma,
como para a relativa ao sujeito, a conscincia do magistrado que
julga em julgamento pblico. Se ao classificar uma emquanto
forma, no tivermos presente ste ponto fixo, ora nos parecer que
ela pertence a uma classe formal, ora a outra: o que, segundo os
nossos conceitos, documento relativamente ao juiz do debate, por ter
morrido a pessoa cujo depoimento oral foi reduzido a escrito pelo
juiz instrutor, um verdadeiro testemunho relativamente a ste
ltimo. B fecho o parntesis.
A irreprodutibilidade oral, como critrio de distino entre o
documento e o testemunho escrito no portanto um critrio
arbitrrio, mas um critrio que surge espontnea e naturalmente da
considerao da natureza ntima, deduzida pelas nossas
conscincias, do que se chama documento em sentido especfico.
Ora, se o escrito contendo uma afirmao pessoal, contudo um
documento quando impossvel reproduzi-lo oralmente, segue-se que
estudando as vrias razes segundo as quais um escrito no pode
reproduzir-se oralmente, encontram-se as vrias espcies em que deve
classificar-se o documento. Procedamos rpidamente ao exame das
razes que impedem a sua reproduo oral.
598 A Lgica das Provas em Matria Criminal
A impossibilidade de reproduo oral de um escrito pode
derivar em primeiro lugar de um critrio legal, que atribua uma
tal f a determinados escritos, que no possa permitir a prova
oral sbre o seu contedo, por parte de pessoa alguma, a no ser
que se recorra a um processo especial, com a arguio de falsi-
dade. E o caso da irreprodutibilidade legal, que determina uma
primeira classe de documentos: escritos autnticos.
A impossibilidade da reproduo oral pode derivar tambm
de um critrio lgico, que se oponha reproduo. o caso da
irreprodutibilidade lgica que determina, como desenvolveremos
em lugar prprio, duas outras classes de documentos: escritos
por ns denominados anti-litigiosos, isto , escritos redigidos de
modo a prevenir a possibilidade de controvrsias entre as partes;
e escritos casuais dos interessados na causa.
A impossibilidade da reproduo oral pode, finalmente, deri-
var de condies, fsicas ou morais, em que se encontra actual-
mente a pessoa que faz a afirmao; assim, nas hipteses de
morte, de ausncia, ou de impossibilidade de ser encontrada a
pessoa que faz a afirmao; assim, na hiptese de incapacidade
que lhe sbrevenha. o caso de irreprodutibilidade material ou
psquica, que determina uma ltima classe de documentos:
testemunhos escritos por pessoas que j no podem reproduzi-los
oralmente devido a condies supervenientes tstemunha.
Recapitulando, temos conseguintemente quatro espcies de
documentos:
1. Escritos autnticos; I
2. Escritos anti-litigiosos;
3. Escritos casuais dos interessados na causa;
4. Tstemunhos escritos por pessoas que j no podem
reproduzi-los oralmente.
O estudo particular de cada uma destas classes, constituti-
vas dos escritos documentais, tornar-se-nos h fcil pelo estudo
preliminar dos escritos em geral, considerados emquanto ao seu
valor, abstraindo dos critrios particulares por virtude dos quais
constituem documento.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
599
CAPITULO II Escritos em geral,
sua classificao e valor
0 pensamento humano, encerrado na solido da conscincia
individual, torna-se estril, e, perdendo os seus esplendores ofus-
ca-se at confundir-se com o instinto, fra inconsciente dos
espritos, que os homens possuem de comum com os animais. O
pensamento do indivduo no tem esplendores prprios, se se no
deixa ao mesmo tempo iluminar pelos esplendores do pensamento
alheio; le afina-se, aperfeioa-se e resplandece pela sociabilidade: a
humanidade desagregada no d mais do que o estado selvagem: o
homem civilizado sai da humanidade socialmente organizada.
A esta necessidade que teem os espritos de comunicar entre
si para se aperfeioar, responde a palavra; a palavra, que, tirando
o pensamento da solido da consincia individual, o exterioriza
com ordem e clareza, comunicando-o de homem para homem, e
estabelecendo, assim, a sociedade dos espritos.
Mas a palavra fnica, expresso fugaz do pensamento, a
qual nasce e morre com o som da voz humana, no pode servir
seno entre as pessoas presentes; necessria a coincidncia de
lugar e de tempo entre uma pessoa e outra, para a troca dos seus
pensamentos. Para alargar a sociedade dos espritos, era
necessrio por isso uma forma estvel de manifestao do pensa-
mento, uma forma estvel que, destacando-se da pessoa que fala,
no tivsse j necessidade da sua presena fsica para transmitir a
outrem o sou pensamento com igual segurana, lucidez e
determinao; esta forma portentosa o escrito. Pelo escrito
possvel, direi assim, o contacto dos espritos, tem a proximidade
dos corpos; pelo escrito, o pensamento do indivduo, vencendo o
tempo e o espao, pode iluminar tda a humanidade; pelo escrito,
qualquer espirito humilde dos nossos tempos pode conversar com a
grande alma de Plato.
Existindo no escrito uma forma permanente e perfeita da
600 A Lgica das Provas em Matria Criminal
manisfestao do pensamento humano, compreende-se fcilmente
como le tenha sido lgica e naturalmente utilizado desde os
primitivos tempos a tornar estvel a posse dos direitos mesmo
em face de pessoas afastadas e futuras, salvando-se das incerte-
zas, dos rros e das tradies orais; compreende-se fcilmente
como o escrito tenha sido lgica e naturalmente empregado pela
sociedade na verificao dos factos e dos direitos humanos.
Mas a sociedade civil, considerando e utilizando a misso
naturalmente probatria que teem os escritos, "atendeu tambm
possibilidade de rros que da mesma sorte inerente a esta
espcie de prova, e tem conseguintemente excogitado e tomado
em considerao garantias formais, destinadas a fortalecer a f;
A omisso, ou a existncia em geral, destas garantias, e a natu-
reza especial das que interveem concretamente, teem, por isso,
feito com que os escritos tenham sido classificados em classes
particulares, tendo um particular valor; teem assim os escritos
sido classificados em pblicos e particulares, subdividindo-se os
primeiros em autnticos e no autnticos.
Consideremos rpidamente estas classes em que se distin-
guem os escritos, considerados geralmente, abstraindo dos crit-
rios particulares para que constituem documento em sentido
prprio. Sob ste segundo aspecto, sob o aspecto documental em
especial, que as consideraremos, e ser-nos h isso ento meto-
dicamente mais fcil, no captulo seguinte.
Dissemos que os escritos teem sido divididos em duas gran-
des categorias: escritos pblicos em geral, e escritos particula-
res. Ora de mxima importncia comear por considerar em
que consiste a natureza pblica dos escritos, e qual o critrio
que a determina.
Tem sucedido por vezes, querer algum estabelecer como
critrio racional, determinativo da natureza pblica de um escrito,
a natureza do intersse que le tem por objecto; por outros tr-
mo
s, tem sucedido por vezes ter-se querido considerar como
pblico um escrito, smente por ter como objecto um intersse
pblico. Todos veem fcilmente quanto falaz semelhante crit-
rio. Um escrito, tenha ou no por objecto o intersse de todos o
A Lgica das Provas em Matria Criminal 601
cidados, ser sempre um escrito particular, se foi redigido por
uma forma particular; e tice-versa, ainda que tenha por objecto
um intersse completamente particular, ser pblico quando tenha
sido redigido por uma forma pblica. O critrio objectivo do
intersse pblico, conseguintemente, no tem absolutamente valor
algum para a determinao da qualidade de pblico no escrito.
Outros teem exagerado a importncia do critrio objectivo,
fazendo derivar a natureza pblica dos escritos da qualidade de
oficial pblico em quem os escreve. rro ste tambm. O oficial
pblico pode dar lugar a escritos particulares, no s no que
escreve como particular, como tambm na sua qualidade de ofi-
cial pblico. A carta que o oficial superior, sem solenidade de
forma, e como faria nm particular, escreve ao oficial seu subor-
dinado, para lhe confiar um encargo, para o repreender, para lhe
pedir uma informao, sempre um escrito particular, no obs-
tante quem o escreveu o ter feito na qualidade de oficial pblico-
Nem mesmo o critrio subjectivo conseguintemente um crit-rio
exacto.
Para encontrar o critrio exacto necessrio comear por
observar que um escrito no pode considerar-se pblico, seno
quando faz f perante todos; isto , no s perante as partes mas
perante qualquer terceiro. Ora, atendendo-se a isto, e atendendo-
se a que s pode fazer f perante todos os cidados, o escrito que
tem uma forma qne se julga capaz de inspirar esta f pblica, e
destinada a ste fim pela lei; atendendo-se a tudo isto, v-se
claramente qne o critrio exacto determinativo da natureza
pblica do escrito o critrio formal. pblico nicamente o
escrito que o oficial pblico exara segundo uma forma destinada
pela lei a inspirar a f pblica; todo o outro escrito particular. E
necessrio acrescentar qne a forma legal s d carcter de
pblico a nm escrito, quando destinado a inspirar a f pblica.
Explico-me: suponhamos o caso em que nm indivduo, tendo
prviamente redigido um escrito, faz autenticar pelo notrio a
assinatura que pe nle; a autenticao do notrio no desti-
602 A Lgica das Provas em Matria Criminal
nada a inspirar a f pblica seno quanto a verdade da assina-
tura: a autenticao, como acto pblico, deve portanto enten-
der-se dentro dstes estreitos limites, e no de outro modo.
Repetindo: o critrio objectivo do intersse pblico, a que
o escrito se refere, no tem valor algum para determinar a publi-
cidade do escrito; o critrio subjectivo da qualidade de oficial
pblico na pessoa que o escreve, no critrio bastante; o nico
critrio exacto o formal, isto , o critrio da forma legal em
que o escrito redigido.
Mas ste critrio formal, por um lado considerado subor-
dinadamente ao critrio objectivo do destino a fazer f perante
todos, pois que nem tda a forma legal determina a natureza
pblica do escrito, mas aquela forma legal que destinada a
inspirar a f pblica; e por outro lado, arrasta, como subordi-
nado a si, o critrio subjectivo da qualidade de oficial pblico
em quem o escreve, por isso que a lei no poderia confiar a
cidados particulares o uso de formalidades destinadas a inspi-
rar a f pblica; o emprego destas formalidades no pode ser
deixado ao dispor da primeira pessoa que se apresenta, e por
isso sempre confiado a um oficial pblico; e escrito pblico,
conseguintemente, s o pode baver com interveno do oficial
pblico.
Sob o ponto de vista desta noo, exposta rpidamente,
mas com a maior clareza que soubemos, se se quissse formular
uma definio de acto pblico em geral, defini-lo-iamos assim:
acto pblico o acto em forma legal, quando esta se destina a
fazer f perante todos, passado pelo oficial pblico no exerccio
das suas funes.
esta a noo de escrito pblico em geral. Mas dissemos
que os escritos pblicos se especializam em duas subclasses.
Todos os escritos pblicos s so tais emquanto fazem f perante
todos; e est nisto a identidade genrica dos escritos pblicos.
Mas h escritos pblicos que, pelas garantias de credibilidade
que apresentam, teem uma tal eficcia probatria, que no podem
ser impugnados livremente; para os impugnar necessrio um
processo especial, o incidente da falsidade: so stes os escritos
A Lgica das Provas em Matria Criminal 603
autnticos. Escritos h, ao contrrio, que no fazem mais que
inspirar simplesmente a f pblica, e podem ser impugnados
livremente, com qualquer prova: stes outros so os escritos
pblicos no autnticos. Para exprimir o conceito diferencial por
meio de uma frmula breve, pode dizer-se que h escritos que
impem a f pblica, e chamam-se autnticos, e h escritos que
no fazem mais do que inspirar a f pblica, e denomi-nam-se
no autnticos. Um oficial que impe a f pblica por meio de
qualquer acto seu, praticado segundo formalidades legais, o
notrio: os seus escritos, exarados segundo uma frmula legal, so
todos autnticos; pelo que sob o ponto de vista da sua eficcia
probatria, le pode ser considerado como o oficial pblico por
excelncia. Os outros oficiais pblicos s impem a f pblica
quanto a alguns actos determinados, que ficam, assim, sendo os
seus nicos actos autnticos. Como por exemplo, o oficial de
diligncias quanto notificao de actos judiciais e extra--
judiciais; o escrivo quanto acta de um julgamento; o oficial do
registo civil quanto aos actos do estado civil; e assim por diante.
Exceptuando os casos determinados, todos os actos praticados pela
generalidade dos oficiais pblicos segundo uma frmula legal e no
exerccio das suas funes, so actos pblicos, sim, mas no
autnticos.
No obstante a distino tericamente clara entre actos
pblicos autnticos e no autnticos, na prtica encontram-se
freqentemente graves dificuldades para definir em concreto se
um acto deve, ou no, considerar-se como autntico; e isto, por-
que falta um critrio positivo nesta matria. Na verdade, pare-ce-
nos que competiria lei determinar concretamente quais as
solenidades formais que devem tomar-se como caractersticas da
autenticidade dos escritos. As legislaes, porm, no s no teem
feito isto, como antes teem tornado mais obscura a matria por
meio de definies inexactas. Assim, no me parece certamente
ser para louvar o art. 1315. do nosso Cdigo Civil, que, querendo
definir acto autntico, isto , o acto que no pode ser impugnado
sem arguio de falsidade, chama-o simplesmente acto pblico,
com manifesta falta de preciso, que levaria suposio
604 A Lgica das Provas em Matria Criminal
de que s devem considerar-se como actos pblicos os autnti-
cos. Recapitulando, h trs espcies de escritos: escritos pbli-
cos autnticos, que fazem f perante todos at serem argidos
de falsos; escritos pblicos no autnticos, que fazem f perante
todos at livre prova em contrrio; e escritos particulares, que
s fazem f perante as partes.
Os Romanos tinham uma anloga classificao dos escritos,
inspirada tambm na sua diversa eficcia probatria. Chamavam
instrumentos pblicos, os exarados perante os scribi ou tbelioni,
e depositados nos arquivos (insinuati); e faziam f plena. Cha-
mavam quasi publici, os instrumentos exarados pelos prprios
8cribi ou tabelioni, mas no insinuati; e no faziam f plena.
por fim os instrumentos privati.
Mas, no podemos abandonar ste assunto sem ulteriores
consideraes.
No obstante o que temos dito anteriormente, em relao
classificao dos escritos, as noes das vrias classes no nos
parecem ainda scientficamente determinadas. Falamos de actos
pblicos autnticos, que impem a f pblica, de actos pblicos
no autnticos, que a inspiram smente, e de actos particulares
que nem a impem, nem a inspiram; mas no determinamos
relativamente a que se refere esta maior ou menor f que se
atribui aos actos. E necessrio determin-lo, e para isso ocorre
em primeiro lugar ver em que consiste a verdade dos escritos.
A verdade, em geral, de um escrito consiste em trs con-
dies :
1. Correspondncia entre o que aparece escrito e o que
se escreveu;
2. Correspondncia entre a pessoa que aparece a assinar,
quer intervindo simplesmente no acto, quer escrevendo-o, e a
pessoa que na realidade o assinou smente, ou o assinou e
escreveu;
3. Correspondncia entre o que se acha escrito e o que
do escrito resulta como existente, ter sucedido ou ter sido dito.
Examine-se, pois, sob todos os aspectos a verdade do escrito,
e ver-se h que ela se concretiza sempre na verificao das trs
A Lgica das Provas em Matria Criminal 605
condies por ns expostas, como, ao contrrio, a falsidade do
escrito se concretiza em elas se no verificarem, quer singular
quer cumulativamente.
As duas primeiras condies, isto , a correspondncia entre
o que aparece escrito e o que se escreveu, e a correspondncia
entre a pessoa que aparece como tendo-o assinado e a que real-
mente o assinou, constituem, cumulativamente reunidas, a ver-
dade extrnseca do escritor; verdade extrnseca em que assenta
prpriamente o que se denomina genuinidade.
A genuinidade no mais do que, para ns, a verdade
externa do escrito: genuinidade o estado de conformidade real
entre o escrito e o modo como saiu das mos do autor a quem se
atribui, e a sua pertinncia a ste; genuno o escrito que foi feito,
tal qual se apresenta, pelo autor a quem se atribui. Mesmo quando
o escrito tenha por contedo afirmaes que no so verdadeiras,
ste defeito de verdade intrnseca no destri a sua genuinidade;
no obstante as afirmaes no verdadeiras, o escrito ser sempre
genuno, se corresponde verdade externa. ste, segundo nos
parece, o sentido lgicamente determinado, que deve dar-se
palavra genuinidade; e sentamos necessidade de determinar o
que entendamos por genuinidade, por isso que nos parece ter a
scincia a obrigao de determinar, tanto quanto possvel, o
sentido das palavras que emprega, especialmente quando se
encontra em face de uma palavra que, como a de genuinidade,
costuma geralmente empregar-se com um significado
indeterminado, incerto, e muitas vezes falso. No determinando o
sentido das palavras que emprega, a scincia cai em dissertaes
vs: as faltas de determinao geram a confuso, e esta, rros.
As duas primeiras condies, portanto, juntamente cumu-
ladas, constituem a verdade extrnseca do escrito, e conseguin-
temente a sua genuinidade.
A primeira condio, singularmente considerada, isto , a
correspondncia entre o que aparece escrito e o que se escreveu,
constitui em particular a verdade grfica do texto, entendendo
por texto tda a parte do escrito que no seja a assinatura.
606 A Lgica ds Provas em Matria Criminal
E vice-versa, a falta desta primeira condio constitui a falsi-
dade grfica do texto.
A segunda condio, singularmente tomada, isto , a corres-
pondncia entre quem aparece assinando o escrito e quem o
assinou realmente, constitui a verdade de quem o escreve;
quer por ste o ter assinado indicando a sua verdadeira e pr-
pria pessoa de firmante, quer por a sua verdadeira assinatura
no se mostrar falsificada por outros. Vice-versa, a falta desta
segunda condio constitui a flsidade da pessoa; quer porque
quem o escreveu lhe ps uma firma que no indica a sua ver-
dadeira pessoa, quer porque a assinatura, originriamente verda-
deira, tenha sido posteriormente falsificada por outrem. A pro-
psito desta condio falamos, pois, de pessoas que assinaram,
porque quando a pessoa que compareceu no tenha sido deter-
minada pela firma, mas pela simples meno do oficial pblico,
esta determinao no respeita verdade extrnseca, mas ver-
dade intrnseca, a que se refere a terceira condio que passa-
mos a examinar.
Dissemos que a terceira condio em que se concretiza a
verdade do escrito, a correspondncia entre o que se acha
escrito e o que do escrito resulta como existente, ou como tendo
sucedido, ou tendo sido dito. Ora, a verificao desta condio,
que constitui a verdade intrnseca do escrito em tdas as suas
formas. Esta verdade intrnseca pode referir-se a factos que se
mostrem verificados na sua materialidade por quem o escrever
e ento tem-se especialmente a verdade intrnseca material,
isto , relativa a uma materialidade verificada; ou pode referir-
se a ideias no verificadas por quem o escreve na materialidade
de factos reais, e ento tem-se em especial a verdade intrnseca
ideolgica, isto , referente a ideias no verificadas na
materialidade de factos reais. Conseguintemente, na feita de
verdade intrnseca material ou ideolgica, d-se naturalmente a
falsidade material ou ideolgica. Esta distino da mxima
importncia.
No acto autntico verdade material, o que aparece verifi-
cado na sua forma de ser material pelo oficial pblico, como o
A Lgica dou Provas em Matria Criminal 607
desemblso de uma soma, ou a doao a favor de uma pessoa,
que se declara terem-se realizado peranto le, e data era que se
afirma ter-se lavrado o acto. Assim, pois, quando o oficial
pblico, tendo tido sob os olhos o original de um documento,
afirma t-lo reproduzido fielmente em cpia autntica, a verdade
da cpia como tal, isto , a sna conformidade com o original,
uma verdade material; e sem razo, conforme muito bem
observa Garrara, que alguns teem querido encontrar na infideli-
dade da cpia uma falsidade ideolgica. A cpia verdadeira
uma coisa material que tem conformidade com outra coisa mate-
rial, e materialmente verificada, qual o original; a sua verdade,
portanto, s pode ser material. A cpia falsa, ao contrrio, consiste
na disformidade entre uma coisa material e outra coisa material; a
sua falsidade conseguintemente no pode ser, do mesmo modo,
seno material. O que entendemos pois por verdade ou por
falsidade ideolgica a propsito de cpia? Em geral, tudo o que se
afirma como verificado pelos sentidos do oficial pblico,
verdade material.
Nos actos autnticos verdade ideolgica a que se no
mostra verificada pelo oficial pblico, como a declarao de um
dbito ou de um crdito, que o notrio pe em um testamento,,
confiando na palavra do testador; como, em geral, tdas as
declaraes das partes emquanto ao seu contedo. ste contedo
das declaraes, emquanto no verificado como facto real pelo
oficial pblico, no para le mais do que uma ideia: , por isso,
na falta desta verdade imaterial, que deve fazer-se consistir
prpriamente a falsidade ideolgica, como afirma lgicamente
Car-rara. E para completar esta noo, parece-nos dever acrescen-
tar-se ainda, que deve considerar-se como ideolgica no s a
verdade ou falsidade das declaraes das partes, emquanto ao seu
contedo, mas tambm a verdade ou falsidade das declaraes do
prprio oficial pblico, por isso que enunciam, no um facto por
le verificado, mas uma opinio sua, mais ou menos deduzida dos
factos.
Do que temos vindo a dizer para determinar quando a ver-
dade e a falsidade intrnseca do escrito devem ser consideradas
608 A Lgica das Provas em Matria Criminal
como materiais, e quando devem ser consideradas, ao contrrio,
ideolgicas, resulta claramente que a considerao das espcies
em que se divide a verdade intrnseca, se da mxima impor-
tncia, sob o ponto de vista do crime especial de falsidade, para
os escritos pblicos em geral, e mais especialmente para os
escritos autnticos, perde, ao contrrio, importncia relativa-
mente aos escritos particulares. falsidade do escrito particular
no atende seno forma externa, no havendo no particular a
obrigao jurdica de dizer coisas verdadeiras; juridicamente,
s lhe incumbe a obrigao de no assumir formalidades exter-
nas faltas de verdade. A falsidade do escrito particular, como
crime especial, apenas externa. A falsidade do escrito pblico
pode, ao contrrio, ser tanto interna como externa. E, sempre
pelas noes anteriormente expostas, a falsidade interna dos
escritos pblicos no pode ser seno material, porquanto no
pode atribuir-se como crime ao oficial pblico ter reproduzido
fielmente as declaraes reais das partes, embora estas declara-
es sejam falsas no seu contedo, ou ter emitido sinceramente
uma opinio prpria, comquanto errnea e inoportuna. No faze-
mos mais do que declarar: no aqui o lugar prprio para nos
difundirmos em consideraes sbre a verdade do escrito relati-
vamente ao que constitui crime de falsidade. Queramos apenas
mostrar por que que a considerao da verdade intrnseca nas
suas duas espcies, a material e a ideolgica, s possui tda a
sua importncia relativamente aos escritos pblicos, perdendo-a,
ao contrrio, relativamente aos escritos particulares. voltemos
ao nosso ponto de vista, que o da verdade do escrito, conside-
rada em relao com a diversa eficcia com que provada pelos
escritos.
Dissemos que nos escritos autnticos verdade intrnseca
material a que se refere a uma materialidade verificada pelo
prprio oficial pblico, e verdade intrnseca ideolgica a
que se refere a ideias no verificadas na materialidade de factos
reais. Ora lgico que o oficial pblico tenha autoridade
privilegiada para atestar emquanto verdade intrnseca
materialmente verificada; mas absurdo que a tenha
emquanto verdade intrn-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 609
-seca, que se no verifica materialmente. Por outro lado, no pode
admitir-se a f privilegiada relativamente a uma qualquer verdade
intrnseca de um escrito, no se admitindo prviamente a f
privilegiada na sua verdade extrnseca: seria absurdo pretender
conceder f privilegiada ao contedo de acto, quando se
considerasse como lcito duvidar da sua legitimidade intrnseca.
Por estas consideraes fica determinado aquilo a que deve refe-
rir-se a f privilegiada do acto autntico; o acto autntico faz f
plena, at se dar argio de falsidade, emquanto verdade
externa, e emquanto verdade interno-material; no emquanto
verdade intrnseco-ideolgica.
Gomo a genuinidade, sob o ponto de vista probatrio, a
crena na verdade extrnseca do escrito, assim tambm a
autenticidade a crena na verdade extrnseca e intrnseca--
material do escrito.
Passemos agora a falar do objecto a que deve lgicamente
referir-se a f atribuda aos actos pblicos no autnticos, e da
fra com que deve referir-se-lhe. Dissemos anteriormente, que
os actos pblicos autnticos diferem dos no autnticos, em-
quanto os primeiros impem a f pblica, e os segundos simples-
mente a inspiram, e vimos tambm agora qual o objecto, a que o
acto autntico impe a f pblica. Ser relativamente o objecto
idntico que o acto pblico no autntico inspirar simplesmente
a f pblica? Vejamo-la.
Parece-nos, em primeiro lugar, fora de dvida que a dife-
rena de f deve referir-se verdade intrnseco-material. O que
aparece verificado materialmente pelo oficial pblico em um acto
autntico no pode ser impugnado, se no se recorre ao incidente
de falsidade; o que se mostra verificado, ainda que seja
materialmente, pelo oficial pblico, em um acto pblico no
autntico pode ser impugnado livremente, por qualquer meio de
prova, sem ser necessrio recorrer argio e ao processo da
falsidade: at aqui no h dvidas. Mas esta diferena de f atri-
buda ao acto pblico, conforme se apresenta autntico ou no,
dever stender-se tambm sua verdade extrnseca? No nos
parece isto lgico. Vimos que um acto no pode de modo algum
39
610 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ser caracterizado como pblico, quando no fr acompanhado de
formalidades legais, destinadas a atribuir-lhe mais ou menos f*
pblica. O acto pblico no autntico tambm se apresenta por
isso com formalidades legais destinadas a inspirar f a todos os
cidados. Ora, eu sei compreender que, emquanto as maiores
garantias de credibilidade, que acompanham o acto autntico, se
consideram de natureza a no deixarem abalar a f no seu con-
tedo material seno por meio de processo de falsidade, as meno-
res garantias de credibilidade, que acompanham o acto pblico
no autntico, consideram-se, ao contrrio, de natureza a permi-
tir que se combata a f no seu contedo material por meio de
simples provas em contrrio. Esta diferena parece-me lgica e
natural relativamente diversa eficcia segundo a qual o acto,
conforme autntico ou no, inspira f na sua verdade interna;
mas no me parece igualmente lgica e natural relativamente -
verdade externa.
Se o acto pblico no autntico no impe a f pblica, de
todo o modo, pela sua simples qualidade de pblico, inspira-a.
Ora, como pode dizer-se que um acto deva, por si mesmo, pela
sua natureza formal, inspirar f a todos os cidados, quando dste
acto lcito impugnar livremente at a legitimidade extrnseca?
Qual a base sbre que deve assentar a f pblica atribuda a um.
acto, quando se tira a certeza da sua verdade extrnseca, ou genui-
nidade, se assim se lhe quer chamar? As formalidades legais que
acompanham o acto pblico no autntico, podem ser lgicamente
julgadas no suficientes para imporem a f pblica emquanto ao
contedo material, mas devem ao menos ser consideradas sufi-
cientes para imporem a f emquanto verdade extrnseca do
acto; de outra forma perdem todo o seu valor. Compreendo que
se possa impugnar livremente o contedo de um certificado pas-
sado por um sndico, acto pblico no autntico, por qualquer
meio de prova, mostrando a sua inexactido, mas no me parece
igualmente lgico que se possa com igual liberdade combater a
sua verdade extrnseca. Quando se vem alegar que aquele certi-
ficado passado por pessoa diversa, quando se vem dizer que o
slo municipal falso, quando se vem dizer que a assinatura 6
A Lgica das Provas em Matria Criminal 611
uma imitao bem conseguida por um falario, ento parece-me
um excesso a liberdade da prova; e julgo mais lgico a obrigao
de o argir de falso. Admitindo-se isto, ter-se-ia conseguin-temente
esta graduao de f entre acto pblico autntico e no autntico:
o acto pblico autntico, como j dissemos, faz f at arguio
de falsidade, emquanto verdade extrnseca e em-quanto
verdade intrnseco-material; o acto pblico no autntico, em vez
de fazer f at livre prova em contrrio tanto para a verdade
extrnseca como para a intrnseca, faz f at argio de
falsidade emquanto verdade extrnseca, e at livre prova em
contrrio relativamente verdade intrnseco-material.
Parece-me lgico, smente, admitindo-se que o acto pblico
no autntico deve fazer f at argio de falsidade emquanto
sua genuinidade, parece-me lgico, dizia, no nos contentarmos
com a simples assinatura do oficial pblico, como sendo forma-
lidade legal suficiente para servir de base natureza pblica do
acto. Seria necessrio exigir como indispensvel qualquer outra
formalidade, taxativamente prescrita pela lei, e sem a qual, no se
considerando bem estabelecida a qualidade do acto pblico e do
seu fim de fazer f, se podsse impugnar livremente mesmo a
verdade extrnseca. E na verdade, desde que um acto se deve
considerar como pblico, desde que le deve inspirar f a todos
os cidados, contentar-se com a simples assinatura, muito pouco.
Para que um acto funcione como pblico, a razo das coisas faz
sentir a necessidade duma formalidade qualquer, que no seja
comum aos actos particulares, e que num golpe de vista a distinga
dstes.
Relativamente aos escritos particulares, que, como tais, no
apresentam razo alguma formal para inspirar, e muito menos
para impor, a f pblica, necessrio fazer uma considerao. A
um escrito particular pode por vezes acumular-se um acto
pblico; ora, ste acto considerado como pblico restritamente
ao objecto a cuja prova se destina, mantendo-se, todo o resto,
objecto do escrito particular, que no impe nem inspira f pblica.
Assim, a um escrito particular pode juntar-se e ligar-se o reco-
nhecimento de assinatura por parte do notrio, ou o registo na
612 A Lgica das Pravas em Matria Criminal
repartio para isso destinada. Ora, tanto o reconhecimento da
assinatura, como o registo, so actos autnticos, passados pelo
oficial pblico competente a fim de se impor a f pblica, um
limitadamente verdade da firma, o outro restritamente ver-
dade da data. O escrito, emquanto ao resto, continua a no ins-
pirar f pblica, ficando confiado f particular, e podendo ser
reconhecido ou impugnado, livremente por aquele, contra quem
produzido.
CAPTULO III
Documentos escritos em especial
No primeiro captulo desta Seco, apresentando a noo de
documento, vimos que nem todo o escrito documental, e que os
escritos que so tomados como documentais, pela sua qualidade
de no poderem ser reproduzidos oralmente, reduzem-se a quatro
classes: escritos autnticos, escritos anti-litigiosos, escritos casuais
dos interessados na causa, e testemunhos escritos de pessoas que
j no podem reproduzi-los oralmente devido a condies super-
venientes. Agora convm fazer uma referncia particular a cada
uma destas classes, afim de esclarecer e precisar a sua natu-
reza, para concluir pela determinao do seu valor particular em
matria probatria penal. Vamos proceder a ste estudo o mais
rpidamente possvel.
I Escritos autnticos
Sabemos j o que so os escritos autnticos. Sob o ponto de
vista probatrio, so provas que no permitido impugnar livre-
mente por provas em contrrio; so provas destinadas a impor
a tdas as conscincias, compreendendo a dos magistrados, a f
no seu contedo, f que s pode ser abalada por meio do inci-
dente de falsidade.
Atribuindo a lei a stes escritos uma eficcia probatria tal,
que no permite prova oral sbre o seu contedo por parte de
A Lgica das Provas em Matria Criminal
613
algum, compreendendo os sinatrios, a no ser que se recorra ao
processo de falsidade; segue-se daqui que stes escritos so
verdadeiros documentos, por quanto o critrio legal se ope sua
reproduo oral. Resta-nos agora ver, se esta espcie de documen-
tos tem razo de ser, e que razo de ser tem, em matria de prova
penal.
Falando da prova em geral, em matria penal, afirmamos e
justificamos a regra da liberdade objectiva das provas: de prova
alguma, dissemos ns, deve a lei predeterminar de modo fixo a
eficcia probatria; a tda a prova deve poder-se livremente opr
outra prova, a livre investigao da verdade no deve ter obst-
culos. Em jnzo penal tem-se era vista alcanar a certeza subs-
tncial, isto , correspondente realidade das coisas, e no a
formal, que fictcia; deve estar-se convencido naturalmente da
criminalidade, isto , pela eficcia natural das provas, para se
proferir uma sentena condenatria; e no pode esta basear-se
sbre uma fico da lei. Tudo isto foi por ns afirmado, apresen-
tando as suas razes, desde o princpio desta obra, e tem sido em
seguida, no seu curso, continuadamente afirmado e desenvolvido; e
tudo isto leva a rejeitar do campo das provas em matria penal as
provas legais em geral, e os escritos autnticos em especial. Mas
se a regra da liberdade objectiva das provas conduz lgicamente
excluso dos documentos autnticos, emqnanto verificao do
facto criminoso, tanto intencional como material, no tem, ao
contrrio, razo para os excluir, quando se trate da verificao de
meras relaes civis, que ocorrem tambm em juzo penal.
Sabemos que no h crime sem que o facto externo do
homem tenba violado um direito. Segue-se daqui que falando de
crime necessrio, alm do seu objecto material, atender ao teu
objecto ideal, consistente no direito violado .
ste direito violado , muitas vezes, um direito civil, isto ,
um direito cuja existncia e cuja proteco se acham confiadas
Veja-se Parte iii, cap. ii: Prova directa em especial.
614 A Lgica das Provas em Matria Criminal
s leis civis. Ora um direito civil s existe quando se pode pro-
var civilmente: e, por isso, desde que a existncia do direito
civil, que se diz violado pelo crime, posta em dvida, neces-
srio verific-la; para essa verificao tero aplicao as regras
civis , e os documentos autnticos tero em matria penal
tda a fra que teem em matria civil, e s podero ser
impugnados por meio da arguio de falsidade. Assim, se em um
processo por bigamia se quissse impugnar a verdade do acto
autntico comprovativo do primeiro matrimnio, seria necessrio
recorrer ao incidente de falsidade; e seria necessrio recorrer
tambm a le, se em um processo por furto se quissse impugnar
a verdade do acto autntico comprovativo da alienabilidade de
coisa.
Quando se trata, pois, da verificao de relaes meramente
civis, os documentos autnticos tero em matria penal tda a
fra que teem em matria civil. Perdero esta fra, e pode-
ro ser impugnados por qualquer prova em contrrio, quando se
trate da verificao de inteno e do facto material do crime:
em matria estritamente penal, no deve haver obstculos
descoberta da verdade, como tambm no deve haver vnculos
para o livre convencimento do juiz. e conseguintemente as pro-
vas autnticas no teem razo de ser.
No vrtice da escala das provas, existe, mesmo em juzo
penal, um acto autntico que as rene a tdas: o auto dos
debates. E lgico que assim seja, para que as provas no fiquem
continuamente expostas aos sopros da dvida. O auto representa
o fastgio do cmulo probatrio, sbre o qual assenta a certeza
livre e substancial do juiz: da certeza do juiz aparece como
base o auto do debate pblico; auto, que no tanto a prova
do delito, quanto a prova, final e cumulativa, do desenvolver
pblico e judicial das provas do delito. a ltima meta das
provas, e necessrio subtra-la a dvidas, se se quer obter a
respeitabilidade e a incontestabilidade da coisa julgada.
1
Veja-se, para o completo desenvolvimento desta teoria, na Seco
i da Parte v, o cap. ix: Limite probatrio derivado das regras civis de prova.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 615
Mas o auto que tem fra de acto autntico, como afirmao
do que se passou quanto produo das provas em juzo, ter
a mesma fra como a prova original do crime cometido em
audincia?
ste problema, que no tem importncia alguma prtica
quando o magistrado perante quem o crime cometido julga sem
recurso, torna-se importantssimo quando o magistrado no
chamado para o seu julgamento, ou dle julga em primeira
instncia. Nstes casos, perante o magistrado superior que dever
julgar em primeira ou em segunda instncia, dever prestar-se f
absoluta ao auto que atesta o crime? No poder o acusado provar
contra o auto, sem o arguir de falso? No h quem no veja a
importncia do problema.
Parece-me que o auto dos debates, acto autntico emquanto
verificao das provas colhidas ou das formalidades observadas
em juzo, j no tem razo para valer como acto autntico para
tudo o mais. Forque deveria o auto dos debates ter uma fra
probatria privilegiada de autenticidade, mesmo quanto veri-
ficao do crime, se no fsse por ter sido redigido por um oficial
pblico? Mas ento qualquer outro auto passado por um oficial
pblico deveria ser um auto autntico, smente impugnvel pelo
incidente de falsidade; ento no falamos maia da certeza moral
abrimos os braos s fices da certeza legal.
A verdade do que dizemos mostra-se mais claramente quando
>o crime cometido em audincia, e de que se trata, se acha com-
pletamente fora da esfera do juzo em cujo auto se suponha veri-
ficado. Mas reduz-se a isto mesmo tambm a hiptese de um
crime que, ligando-se por relao de causalidade ao julgamento
que se est realizando, se vem incluir, direi assim, nsse julga-
mento, e exarado no auto dstes. O advogado ou o acusado no
decurso do julgamento procedem, suponhamos, a vias de facto
contra as tstemunhas da causa, por motivo desta. No difcil
ver tambm que nesta hiptese o auto dos debates, na parte em
que atesta o novo crime, sempre estranho ao julgamento par-
ticular, que se realiza, porquanto o que determina e individualiza
o julgamento a acusao; e a acusao do crime cometido em
616 A Lgica das Provas em Matria Criminal
audincia to alheia ao julgamento durante o qual o supomos
cometido, que forma o objecto de um outro julgamento.
Mas pode supr-se prpriamente o caso de o auto atestando
o novo crime ser precisamente o destinado ao seu julgamento
particular em primeira instncia. Pode supr-se, por outros tr-
mo
s, que, emquanto os magistrados e o escrivo se acham no seu
posto na sala de audincia se cometa na prpria sala, na sua
presena, um crime, e que dste crime a lei autoriza a julgar
imediatamente em primeira instncia, e as investigaes relativas
ao novo crime fiquem, assim, inseridas no prprio auto que se
destina ao seu julgamento particular. Ora, mesmo nste caso,
incontestvel que o auto do escrivo no pode ter fra de acto
autntico seno emquanto auto do debate, isto , emquanto
no faz mais do que atestar a parte formal do novo julgamento,
os actos nle sucedidos, e as provas nle produzidas.
Tudo quanto em sua substncia observao directa dos
factos criminosos por parte do escrivo, ainda que se encontre
consagrado em um acto autntico, qual o auto dos debates,.
ainda mesmo de um delito diverso dste, no pode contudo con-
siderar-se de modo algum como afirmado autenticamente por le;
nesta parte, a sua afirmao uma afirmao oficial, que pode
ser livremente contestada como qualquer outra afirmao oficial-
O facfo criminoso, repetimo-lo, nunca pode, nem poder,
ser provado por meio de actos autnticos. Suponhamos, porm,
que um delito foi cometido no cartrio de um notrio perante o
notrio e tstemunhas, e que o notrio, oficial pblico por exce-
lncia, cujos actos redigidos em devida forma so autnticos,
teve a fantasia de constatar aquele delito por meio de uma escrita
autenticamente redigida, assinada pelas tstemunhas que se acha-
vam presentes; ter acaso o acusado necessidade de propor o
incidente de falsidade contra ste acto, para combater o seu con-
tedo, e provar a sua inocncia? De modo algum! no tem
necessidade disso; actos autnticos nste sentido, no os h nem
os pode haver: no podem ser nunca autorizados pela lei, porque-
o no so pela razo, a dar fra autntica a um escrito desti-
nado a provar o facto criminoso.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 617
IIEscritos anti-litigiosos
O homem duvidando da memria alheia e por vezes tambm
da sua, e, principalmente, duvidando da boa f alheia, gosta muitas
vezes de reduzir a escrito, para que no sejam postos era dvida, os
factos civis passados entre le e outrem: quem fz um pagamento,
pede que se lhe passe um recibo; quem mutuou, uma soma, quer
que seja reduzido a escrito, particular que seja,. o facto contratual
da soma mutuada e das condies do mtuo; e nas administraes
pblicas, como nas comerciais, regstam-se todos os actos cuja
memria necessrio conservar. Todos stes escritos so lavrados
para estabelecer a verdade, garantindo as partes, ou uma s delas,
da possibilidade de futuras controvr-sias; e por isso parece-me
exacto denomin-los anti-litigiosos. stes escritos, comquanto no
sejam autnticos, constituem uma classe de documentos, cuja
impossibilidade de reproduo oral deriva, no de um critrio
legal, mas de um critrio lgico.
Aquele que, fazendo um pagamento, pede que a pessoa a
quem pagou lhe passe um recibo; aquele que, emprestando uma
soma exige do muturio um escrito atestando ste facto; no faz
mais do que prevenir-se contra a possibilidade de rros de me-
mria ou de m f alheia. Nstes casos, o escrito surge como uma
prova, completa em si, que se pretende substituir palavra
mentirosa do homem; a sua razo de ser est precisamente em
que receando confiar na f alheia, e na prpria memria, ou na de
outrem, contrape-se aos possveis desvios da verdade e da preciso
desta memria e daquela f, a prova escrita, como prova
permanente, completa em ai mesma, e no sujeita aos perigos
receados da memria enganadora e da sua f. Psto isto, pela
prpia gnese dstes escritos, mostra-se claramente que seria
absurdo, no caso de se apresentar um recibo para provar a ver-
dade da soma paga, ou de se apresentar o contracto escrito para
provar a verdade da soma emprestada, seria absurdo, digo,
mesmo quando tais escritos fssem apresentados em juzo penal,
dizer qules que os apresentam: no sabemos que fazer dos
618 A Lgica das Provas em Matria Criminal
vossos escritos; para a recta formao do nosso convencimento
precisamos do testemunho oral daquele a quem pagastes, ou a
quem mutuastes. Seria bem absurdo, repito, dizer isto, pois que,
quando se trata de escritos anti-litigiosos, de escritos redigidos
para evitar os enganos da palavra, o prprio escrito que se
apresenta lgicamente como uma prova natural, como prova em
si completa e independente da produo oral da prova.
Existindo um testemunho escrito e Ticio afirmando, supo-
nhamos, o facto criminoso de que foi espectador, lgico, em
vista do que dissemos a propsito do testemunho, que no se
permita a sua leitura nos debates pblicos, e que le seja inti-
mado a apresentar-se a a fim de prestar o seu depoimento oral;
e se, pelo que tambm dissemos ao falar de produo oral, fsse
necessrio, para esclarecer as divergncias que o depoimento oral
tem do depoimento escrito, ler ste, o escrito, que se l, fun-
ciona apenas como um acessrio, destinado a avaliar o
testemunho oral, que a prova principal e natural. Mas se, ao
contrrio, se apresenta em juzo um escrito anti-litigioso, como o
recibo de um pagamento, como o contracto de mtuo, como o
registo pblico de uma administrao, seria ilgico despresar a
sua lei' tura. Um tal escrito, pela sua natureza, prova completa
em si mesmo; e tendo lugar mesmo em juzo penal a interveno
oral de quem o escreveu, esta interveno oral que acessria
da prova escrita, e no vice-versa. Sempre que se trate de escritos
anti-litigiosos, a prova principal, natural e lgica da verdade dos
factos, o prprio escrito; e a palavra de quem o escreve s
acessriamente se rene a le para avaliar a verdade do escrito,
e no para o substituir como prova natural dos factos. Por outros
trmos, apresentada uma prova escrita anti-litigiosa para com-
provar um facto, a palavra de quem a escreveu no deve consi-
derar-se seno subordinadamente ao escrito, funcionando como
prova natural da prova, e no como prova natural do facto
provado.
O escrito anti-litigioso, conseguintemente, s por si, mesmo
em matria penal, uma prova legtima pessoal; e a sua forma
escrita forma natural, que se no pode substituir pela pro-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 619
duo oral: com razo pertence, pois, aos documentos, consti-
tuindo uma classe especial dles.
Nesta classe especial compreendem-se tambm duas espcies
particulares, que convm distinguir.
H escritos anti-litigiosos que so passados por uma parte
parte contrria, em garantia desta: a esta espcie pertence o recibo
que, quem recebe, passa a quem paga; a esta classe pertence
tambm o contracto de mtuo, que, quando em um s exemplar,
entregue pelo muturio ao mutuante, e se em duplicado pelo
mutuante entregue ao muturio e dste quele, em garantia dos
seus direitos recprocos. stes escritos que se passam parte
contrria, so os escritos anti-litigiosos por excelncia, e teem,
comquanto no autnticos, uma eficcia probatria dificilmente
contestvel.
H tambm uma outra espcie de escritos anti-litigiosos: so
os escritos que a parte redige e conserva em seu poder, a fim de
se precaver contra a possibilidade de dvidas e controvrsias; e a
esta espcie de escritos pertencem os registos de administraes,
e por disposies especiais de lei, inspiradas pelas necessidades do
comrcio, tambm os registos das administraes comerciais. stes
registos, pondo de parte os fins administrativos, teem tambm o
fim probatrio de produzir a verdade, prevenindo dvidas e
controvrsias: devem conseguintemente e so, portanto,
equiparados aos escritos anti-litigiosos prpriamente ditos.
Emquanto aos registos pblicos de administraes, se bem
que no autnticos, contudo, atendendo ao oficial pblico que os
redige, e s formalidades e s verificaes administrativas, que os
acompanham, compreende-se que devam apresentar uma grande
fra probatria; fra probatria mxima, quando stes registos
so destinados a fazer prova contra a prpria administrao
pblica a que pertencem.
Emquanto aos registos comerciais, compreende-se que les,
parte as disposies das leis comerciais, sob o simples ponto de
vista da lgica, teem a mxima fra quanto prova contra o
comerciante a quem pertencem, a fra mnima quanto prova a
seu favor.
620 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Os registos possudos eventualmente por um particular, no
podem ter fra para prevenir as controvrsias. E se os registos,
os apontamentos e as contas do particular, so por vezes chama-
dos a figurar, ainda que com fra mnima, entre as provas,
les figuram no como escritos anti-litigiosos, pois que no pos-
suem uma tal fra, mas sim, qualquer que seja o caso, como
escritos casuais, a que se atribui um simples valor de indcio, e
de que passamos agora a falar.
III - Escritos casuais das interessados na causa
So escritos casuais, os que nem foram redigidos para pre-
venir controvrsias, nem destinados ao fim do julgamento que se
debate, tendo a razo da sua existncia fora disso. casuali-
dade dos escritos deve conseguintemente ser considerada relati-
vamente ao julgamento: os escritos so casuais, emquanto no se
mostram redigidos para servir no julgamento.
O acusado em uma carta dirigida a um amigo confessa o
seu delito, ou revela um indcio: eis ura escrito no dirigido ao
fim da causa, um escrito casual. ste escrito casual, que even-
tualmente se apresenta acusao, lgico ser lido em juzo,
confrontando-o com o intrrogatrio do acusado: trata-se de uma
confisso escrita e extra-jndicial, com tdas as suspeitas ineren-
tes a esta espcie de confisses, e de que falamos em outro lugar.
O acusado, mesmo quando culpado, pode ao contrrio, naquela
carta, declarar-se inocente, ou afirmar eventualmente um indcio
da inocncia.
Estamos sempre em face de um escrito casual: e se a defesa
reclama a sua apresentao em juzo, deve lgicamente admitir-se
tambm a sua leitura, confrontando-a e esclarecendo-a sempre
com o intrrogatrio do acusado. Mas, dizer-se h, nste caso,
tratando-se de um escrito em prprio favor, le deve suspeitar-se
de mentira. Mas que se conclui da? Sob o mesmo ponto do
vista, no so acaso, ainda mais suspeitas as palavras que o
acusado profere no julgamento pblico ? E como no uma razo
suficiente para se impedir que o acusado fale, a suspeita que se
A Lgica das Provas em Matria Criminal 621
tem na sua palavra; assim tambm no ser uma razo suficiente e
suspeita que se tem quanto ao que le escreve, para no deixar que
se leia o escrito em que le expe a sua vida fora do juzo. Ter-se
h presente a hiptese de que o escrito aparentemente casual
tenha, ao contrrio, sido destinado ao fim da causa, levar-se h em
conta esta suspeita, que, geralmente falando, mais ou menos
grave segundo a ndole do escrito de desculpa e a ocasio em que
foi feito; atender-se h, repito, a esta suspeita, como tdas as
suspeitas inerentes s provas imperfeitas; mas ser levado em
conta para dar o justo valor ao escrito causal, e no j para o
excluir do campo das provas.
Dste escrito, feito pela mo do acusado, pode tirar-se van-
tagem para a descoberta da verdade, no s a favor do prprio
acusado, como tambm contra le; mais uma porta aberta
verdade.
Para ns, nem todo o escrito casual constitui documento: s
constituem documento os escritos casuais dos interessados na
causa. Porque assim? Porque s ento os escritos casuais so, por
uma raso de lgica, oralmente irreproduzveis. Vejamo-lo.
O escrito casual do interessado na causa pode ser ou em sua
vantagem ou em sua desvantagem. Se o escrito pelo seu contedo
se apresenta como prova em desvantagem de quem o escreveu,
na sua casualidade determinante est a origem exclusiva do
escrito, e no lgico aspirar sua reproduo oral. Se o escrito
pelo seu contedo se apresenta como prova em desfavor de quem
o escreve, tda a sua fra provatria assente em ter sido
determinado pela casualidade; e compreende-se ainda, que,
fazendo-o reproduzir oralmente em juzo e com destino ao jul-
gamento, a fra probatria do contedo j no a mesma.
claro, conseguintemente, que o escrito casual, quando pertencente
ao interessado na causa, j no pode lgicamente, ser substitudo
pela produo oral. Consideremos assim mais particularmente a
palavra do acusado que a do ofendido, relativamente ao
julgamento penal.
Se o contedo da declarao escrita casual do acusado lhe
contrria, compreende-se fcilmente que le, sob a ameaa de
622 A Lgica das Provas em Matria Criminal
uma pena iminente, ter uma repugnncia natural em repeti-lo
oralmente: o acaso tinha-o determinado a uma declarao que s
para aqnle caso teve vida; mas, em vista do julgamento e em face
dste, natural que o acusado no queira reproduzi-la. No
portanto lgico, por isso que no natural, aspirar nesta hiptese
reproduo oral. Pode, contado, dar-se o caso de o acusado,
extraordinriamente, em conformidade com o escrito, querer depor
oralmente contra si mesmo. Mas que se conclui disto ? Estamos
sempre em face de um facto excepcional que no destri a regra:
sempre verdade que, tanto nste como nos outros casos, no
lgico, atendendo aos impulsos ordinrios, esperar-se a reproduo
oral, e con seguintemente tambm no lgico fechar as portas ao
escrito como prova. Se a reproduo oral, se bera que no
lgicamente atendida, teve realmente lugar, tanto melhor. A
apresentao da confisso escrita em juzo no ser nociva:
cumular-se h com a confisso oral, e esta lucrar com aquela,
como meio de contra-prova; e haver sempre grande necessidade de
contra-provas em uma matria to exposta a dvidas e com tanta
falta de apoio, como a confisso.
Se, pois, o contedo da declarao casual escrita pelo acusado
lhe favorvel, compreende-se que reproduzindo-a le oralmente,
essa declarao oral feita por motivo de julgamento considerada
como um meio de defesa, inspirado pela sua posio. E, por isso. a
declarao do acusado em seu favor, que tem uma certa fra
probatria quando determinada pelo acaso, perde essa sua fra
quando determinada pela necessidade da defesa judicial; e,
portanto, como se v, tambm nesta hiptese a reproduo oral
ilgica.
assim que, tanto em prpria vantagem, como em sua
desvantagem, o escrito casual do acusado no pode lgicamente
ser substitudo pela reproduo oral, e por isso documento.
Passemos agora aos escritos casuais do ofendido. Se uma
declarao casualmente escrita pelo ofendido favorvel ao
acusado, le no estar, em regra, naturalmente disposto a repro-
duzi-la oralmente tal e qual. O acaso tinha-o levado a fazer aquela
declarao; mas em face de uma luta judiciria em que
A Lgica das Provas em Matria Criminal 625
o acusado o seu adversrio le ser tambm levado inconscien-
temente a alter-la, ou pelo menos, a alterar-lhe a significao.
Se pois a declarao escrita casual do ofendido contrria
ao acusado, a sua reproduo oral j no ter o mesmo valor
probatrio, porquanto mostrar-se h mais fcilmente inspirada
por aquele estado de luta que natural entre quem foi vtima de
um crime, e quem se acha acusado como autor dle; estado de
luta, que tem a sua forma mais aguda quando les se encontrarem
em face um do outro, no julgamento pblico. Poder dizer-se que
quando o ofendido, mesmo anteriormente ao julgamento, conhece
o seu ofensor, mesmo antes disso o dio fala nle, tornando,
assim, sempre suspeita a sua declarao contrria, escrita.
Admitimo-lo, e necessrio atender a isto; mas no pode negar-
se que o dio j existente desde o momento do crime aguado e
refrado pela luta judiciria, e pela esperana duma prxima
vingana, e que por isso so sempre maiores as suspeitas da
animosidade do ofendido contra o acusado no julgamento oral.
Os escritos casuais do ofendido, quer a cargo, quer a favor
do acusado, no podem, pois, lgicamente ser substitudos pela
sua produo oral, e por isso so tambm documentos.
No pois intil observar que, se quanto aos escritos casuais
do acusado e do ofendido, os declaramos irreproduzveis oral-
mente por razes lgicas, e conseguintemente dizemos dever
admitir-se a sua produo em juzo em forma escrita, isso no
impede que devam avaliar-se, confrontar-se e integrar-se por meio
da forma oral do intrrogatrio.
Emquanto aos escritos casuais de terceiro, no h pois razo
alguma que se oponha sua reproduo oral: teem a sua fra
probatria na casualidade, acham-se ligados de tal forma ao caso,
que lgicamente no pode esperar-se a sua reproduo oral desin-
teressada no julgamento pblico. Conseguintemente sendo sempre
lgicamente possvel a reproduo oral dstes escritos, no podem,
considerar-se como documentos, capazes s por si de serem apre-
sentados em juzo.
E digo: s por si, porquanto dentro dos limites racionais,
624 A Lgica das Provas em Matria Criminal
estabelecidos a propsito da produo oral, pode ser autorizada, por
quem disso tenha direito, a apresentao em juzo de notas,
apontamentos, registos dum terceiro, mas sempre acessoriamente
ao seu depoimento oral; como quando, sendo difcil reter na
memria o contedo dsses escritos, les se produzem para des-
pertar as recordaes da tstemunha, sendo assim produzidos em
auxlio do testemunho oral, e acessriamente a le
1
.
IV Tstemunhos escritos
de quem j os no pode reproduzir oralmente por condies
materiais ou psquicas a les inerentes
esta, j o dissemos, a ltima classe de documentos: h
testemunhos escritos que no podem reproduzir-se oralmente por
impossibilidades relativas pessoa fsica ou moral da tstemunha.
Quando a tstemunha, de quem existe o depoimento escrito,
morreu, desapareceu ou enlouqueceu, a sua declarao escrita no
pode ser reproduzida oralmente por uma impossibilidade material ou
psquica, e torna-se um verdadeiro documento, cuja leitura se
admite, como a de qualquer outro escrito probatrio no susceptvel
de ser reproduzido oralmente. I Relativamente a stes testemunhos,
que j no podem repro-duzir-se oralmente, apreseutam-se duas
hipteses: podem achar-se reproduzidos em um escrito pblico, ou
em um escrito particular.Emquanto aos escritos particulares
contendo um testemunho, emquauto hiptese, no fcilmente
realizvel, de a tstemunha, que j no pode ser intrrogada, ter
anteriormente escrito, sem mais nada, sbre uma flha de papel o
seu depoimento, que agora se apresenta em juzo; emquanto a stes
escritos compreen-de-se fcilmente que no possam ter importncia
probatria. Tais escritos, quer provenham de uma tstemunha de
primeiro grau, quer de segundo, no apresentam, s por si, garantia
alguma de autenticidade; e querendo proceder-se sua verificao
falta o
1 Veja-se o Captulo a da Seco precedente: Produo oral da prova.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
625
principal meio para o fazer, faltando na hiptese que apresenta-
mos, a possibilidade moral ou material de intrrogar a pessoa que
os escreveu. Atendendo a isto, compreende-se como a importncia
desta quarta classe de documentos s existe relativamente
hiptese do testemunho se achar* reduzido a um escrito pblico.
Um oficial pblico reduz a auto as verificaes a que proce-
deu pessoalmente: aquele auto um testemunho oficial, escrito,
de primeiro grau, e tem uma grandssima importncia probatria,
como vimos, falando de testemunho de terceiro. Ora, se ste oficial
vem a morrer, ou se se torna impossvel intrrog-lo, o seu
testemunho reduzido a auto um verdadeiro documento em sen-
tido prprio.
Outra hiptese. Instaura-se uma instruo: o juiz instrutor
inquire as tstemunhas, e colhe os seus depoimentos orais, que so
reduzidos a auto; e stes autos ficam no processo, como escritos
pblicos no autnticos. Se a tstemunha intrrogada vem a
morrer, eis que no resta mais do seu depoimento seno um escrito
pblico, insusceptvel de ser reproduzido oralmente, e por
conseguinte documental. Mas necessrio fazer aqui uma distin-
o. A tstemunha inquirida pelo juiz instrutor pode ter assinado,
ou no, o auto da sua inquirio. No primeiro caso, quando ela o
tenha assinado, o auto apresenta-se como um depoimento original
escrito pela prpria tstemunha em presena do juiz instrutor e do
escrivo, que, juntando a sua assinatura, do quele depoimento
escrito a forma de auto pblico, cuja autnticidade se presume.
Nste primeiro caso, parece natural, que, tendo-se finado a
tstemunha, no h mais a fazer do que recorrer ao seu depoimento
escrito. Mas, no segundo caso, quando a tstemunha no assina,
porque no sabe ou no pode, ento, na realidade, o auto que fica
no processo no passa de um testemunho de segundo grau, um
testemunho oficial escrito, que refere o depoimento oral prestado.
Com o auto do intrrogatrio, o juiz instrutor e o escrivo no
fazem mais do que referir simplesmente, comquanto com exactido,
uma coisa que ouviram dizer. Parece, pois, que, sendo 0 juiz
instrutor uma tstemunha imediata, le poderia
40
626 A Lgica das Provas em Matria Criminal
citar-se para depor oralmente, devido impossibilidade de inqui-
rir a tstemunha originria. Mas, se se atender a que tanto o
juiz instrutor, como o escrivo, no podem recordar-se do con-
tedo de todos os depoimentos orais prestados perante les, e
considerando-se era que o auto da inquirio, tendo sido escrito
imediatamente, oferece maior segurana de ser o espelho fiel do
depoimento oral; se se atende, a que, tanto o juiz instrutor como
o escrivo, na sua qualidade de oficiais pblicos, destinados a
recolher os testemunhos, oferecem os maiores requisitos de cre-
dibilidade relativamente ao que referem; atendendo-se a tudo
isto, parece lgica e natural aquela espcie de fico jurdica,
segundo a qual o auto de investigao, no assinado pela tste-
munha, deve considerar-se como tendo sido assinado por ela; e
parece lgico e natural que, finando-se esta, j se no chame para
depor o oficial pblico que colheu o seu depoimento oral, mas se
recorra antes leitura do auto escrito, como a uma afirmao
pessoal que j no pode ser reproduzida oralmente.
Aos autos de inquirio em geral acha-se por isso ligado
um motivo infirmativo a que deve sempre atender-se. Quem no
sabe assinar, e quem sabe apenas assinar, costuma usar, e com-
preende-se, uma linguagem diversa da daquele que inquire;
daqui a origem de equvocos que falseiam a verdade intrnseca
dos autos de inquirio.
Muitas vezes a uma pregunta, no entendida no seu verda-
deiro sentido, o intrrogado d uma resposta bem diversa da que
teria dado tendo-o compreendido. Muitas vezes tambm o inter-
rogante que entende e traduz mal na linguagem escrita as res-
postas em dialecto do intrrogado. Tanto no primeiro como no
segundo caso o auto infiel e o depoimento falseado. Isto
explica como por vezes tstemunhas de boa f, no julgamento
pblico, negam ter afirmado o que resulta do auto do seu intr-
ro
gatrio. O juiz instrutor dever por isso empregar tda a dili-
gncia, para que a tstemunha entenda o que se lhe pregunta,
e exprima claramente o que depe. E para sse fim dever evitar
os intrrogatrios feitos pressa, e no se deixar vencer pelo
amor da linguagem elevada. s frases no dialecto da tstemu-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 627
nha, que no podem ser bem traduzidas, devem ser escritas tal e
qual nos autos do intrrogatrio; a verdade ter sempre que lucrar
com isso.
CAPTULO IV Avaliao
concreta dos documentos
Falando do testemunho em geral, vimos que para a sua
avaliao necessrio ter presentes trs espcies de critrios:
critrios subjectivos, critrios objectivos e critrios formais. Con-
vm repetir aqui uma observao j feita noutro lugar. Tanto os
critrios subjectivos como os critrios objectivos so critrios
genricos, relativos ao testemunho emquanto afirmao pes-
soal; e por isso teem valor no s para o testemunho, mas tam-
bm para tda a prova pessoal e conseguintemente tambm para
o documento.
Desde o momento em que se cr nas causas pela f na pes-
soa, compreende-se que se deve ter tanto mais razo para crr nas
coisas, quanto maior a crena de que a pessoa que atesta no se
engana, e no quer enganar. Esta considerao tem igual eficcia
tanto para a afirmao oral, como para a afirmao escrita das
pessoas; e nesta considerao que se fundam os critrios
subjectivos de avaliao.
Assim, pois, desde que pelas afirmaes da pessoa que se cr
nas coisas afirmadas, compreende-se tambm fcilmente, que o di-
verso contedo, mais ou menos crvel por si mesmo, destas afirma-
es servir para nos inspirar maior ou menos f nas coisas afir-
madas. Esta considerao tem igual fra tanto para a afirmao
oral, como para a afimao escrita das pessoas; e nesta outra
considerao que consistem prpriamente os critrios objectivos de
avaliao.
Tanto os critrios subjectivos como os objectivos, por ns
expostos a propsito do testemunho, teem, conseguintemente, a
sua aplicao tambm a propsito do documento. No o repetire-
mos ; mas remetemos o leitor para o que dissemos a sse respeito.
628 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Mas, se os critrios subjectivos e objectivos de avaliao,
referindo-se a tda a afirmao pessoal, servem tanto para o teste-
mun
ho como para o documento, j assim no relativamente aos
critrios formais. Os critrios formais de avaliao do testemu-
nho no
so critrios genricos, relativos a tda a afirmao pessoal; so
critrios especficos, relativos ao testemunho emquanto
testemunho; e por isso no podem valer para o documento. O
carcter formal especfico do testemunho est na possibilidade da
sua produo oral; o carcter formal especfico do documento
o escrito: com esta diferena fundamental de forma, como seria
possvel haver identidade de critrios formais para a sua ava-
liao ?
S podem ser comuns os critrios de avaliao, que com-
quanto referindo-se forma, por um lado, se referem, por outro,
ao contedo. Assim, a clareza e preciso da linguagem, seudo
um critrio de avaliao, que por um lado se refere forma e
pelo outro ao contedo, emquanto se refere intimamente ao con-
tedo da afirmao pessoal, entende-se que um critrio que
tem tambm eficcia quanto ao documento. Seja de que espcie
fr a afirmao pessoal, ela ter sempre tanto mais valor quanto
maior fr a preciso e a clareza que apresentar nas suas afirma-
es. Mas parte stes critrios mixtos, os critrios puramente
formais no podem ser os mesmos para os testemunhos e para o
documento: no os critrios que se referem prpriamente forma
da afirmao tstemunhal, porque a forma do testemunho oral,
e a do documento escrita; no os critrios que se referem ao
modo de se comportar da pessoa que faz a afirmao, porquanto
no podem les ter igual aplicao ao autor do documento, por
isso que a tstemunha deve, em regra geral, comparecer pessoal-
mente, e o documento, em regra geral, exclui a presena do seu
autor em juzo. Os critrios de avaliao puramente formais, por
ns expostos a propsito de testemunho, no teem, conseguinte-
mente, igual aplicao avaliao do documento.
Para avaliar o documento quanto forma necessrio
atender a outros critrios, que se fundam na considerao da sua
forma especfica, que a forma oscrita.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 629
Em primeiro lugar, sob o ponto de vista da forma, impor-
tante para a avaliao do escrito documental, que ste seja um
original e no uma cpia. Na cpia podem intervir variaes, que
mudem o significado do documento; e essas variaes podem
verificar-se, no obstante a boa f do copista, quer pela pressa,
quer pela falta de ateno ao copi-lo; especialmente quando a
cpia foi escrita era uma poca em que se no previa a impor-
tncia futura que ela viria a adquirir posteriormente. Em matria
penal, no pode pois aplicar-se, de um modo absoluto, a regra
civil que equipara o valor probatrio das cpias autnticas ao dos
originais. Mesmo quando em juzo penal legtima a fra
probatria do documento autntico, mesmo ento, do momento
em que nascem dvidas sbre a cpia, deve sempre, sem mais
nada, admitir-se a exibio do original; pois que em matria de
prova penal absoluta e incontestvel a regra de que o juiz no
deve basear-se em uma prova inferior e controvertida, quando lhe
possvel obter uma prova superior e mais perfeita. Em juzo
penal nunca devem opr-se obstculos produo da melhor
prova, porquanto se deve ter sempre em vista, como a um fim
supremo, fazer com que a certeza subjectiva corresponda o mais
possvel verdade objectiva.
Sob o mesmo ponto de vista da forma, tambm importante
para a avaliao do escrito documental a sua integridade. Um
escrito ntegro ter sempre uma eficcia probatria maior que a
de um escrito truncado; porquanto o escrito, a que falta uma
parte, d lugar a convices errneas que conduziriam a juzos
errados.
Em terceiro lugar, todo o escrito documental, para ter a sua
eficcia probatria, deve ser apresentado sem viciao alguma
aparente. As razuras, as entrelinhas, os aditamentos, mostrando o
escrito viciado, tiram-lhe todo o seu valor probatrio.
Finalmente, ter importncia, como critrio formal da ava-
liao do escrito, a semelhana ou dissimilhana do seu carcter,
com o do pretenso autor. Conforme o carcter de um escrito
parea ser, ou no, o do pretenso autor, o escrito ser tomado
como genuno ou no genuno.
630 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Mas dste critrio da semelhana de carcter teremos oca-
sio de tornar a falar dentro em pouco.
A consideraes precedentes referem-se aos escritos do-
cumentais em geral.
Emquanto, pois, aos documentos pblicos em particular,
necessrio atender qules sinais materiais que lhes atribuem a
publicidade; e a lei faria uma obra muito til determinando, por
forma a no originar equvocos, quais as determinaes formais
segundo as quais o domento deve ser tomado como autntico, ou
segundo as quais o deve ser como simplesmente pblico.
A propsito de actos pblicos no autnticos, repetirei aqui,
em parntesis, que no me parece lgico contentarmo-nos
nicamente com a assinatura do oficial pblico, como
formalidade legal suficiente para servir de base publicidade do
acto. Seria necessrio prescrever taxativamente, como
indispensvel, uma qualquer solenidade formal, sem a qual
nunca se deveria falar de publicidade. Pode ser que me engane,
mas no posso compreender como que um acto deve por razes
formais funcionar como acto pblico, inspiraudo, assim, f a todos
os cidados, sem ter o cunho de qualquer formalidade no comum
aos actos particulares, que num golpe de vista, e ordinriamente
com segurana, o distinga dstes. E fecho o parntesis.
Sempre que se trata de actos pblicos, autnticos ou no,
provenientes de oficiais estrangeiros, ser sempre, por isso, neces-
srio um exame prvio, para verificar se les possuem ou no
as formalidades exigidas pela lei do pais em que foram escritos,
podendo em cada pas variar as formalidades exigidas para atri-
buir a publicidade ao acto.
Anteriormente, falando de escritos em geral, dividimo-los
em escritos autnticos, escritos pblicos no autnticos, e escri-
tos particulares, e determinamos o diverso valor probatrio de
cada uma destas classes. Ora, devendo o escrito documental per-
tencer necessriamente a uma destas trs classes, le assumir,
sob o ponto de vista especfico, o seu valor probatrio respec-
tivo, apresentando maior ou menor valor relativamente classe
a que pertence.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 631
MM, qualquer que seja a classe a que o escrito documental
pertena, le poder ser sempre impugnado, se bem que (e j o
vimos bem precedentemente), segundo a sua diversa espcie for-
ma), poder por vezes ser livremente impugnado, e por vezes,
para a sua impugnao poder ser necessrio o incidente de
falsidade. Diferena esta que se resolve nesta outra: emquanto ao
documento livremente impugnado, bastar tornar duvidosa a sua
veracidade, para que perca eficcia probatria; emquanto ao
documento nicamente impugnvel por meio de arguio de fal-
sidade, no basta a dvida para lhe tirar eficcia probatria;
indispensvel a certeza da sua falsidade.
Levantando-se dvidas sbre a verdade de um documento,
quais so em geral os caminhos principais e ordinrios que con-
duzem sua verificao?
Em primeiro lugar, apresenta-se-nos o intrrogatrio da pes-
soa que o escreveu. ste intrrogatrio o primeiro caminho
aberto para a descoberta da verdade, e da mxima importn-
cia; porquanto o presumido escritor sendo intrrogado, no s
impugnar ou reconhecer o escrito como prprio, o que
lgicamente o ponto de partida para a verificao do escrito, mas
estar muitas vezes altura de tornar conhecidos os meios que
podem conduzir verificao da verdade: le poder muitas vezes
indicar as fontes a que pode recorrer-se para obter outras provas
que confirmem a sua assero. Em matria de escritos particula-
res, o reconhecimento expresso e judicial, por parte do seu autor
[contra quem produzido, ter, dentro de certos limites, um valor
decisivo para a verdade do escrito. E digo: dentro de certos
limites, por isso que em matria penal, o reconhecimento da firma
posta sbre um escrito no pode equivaler ao reconhecimento do
seu contedo. Mesmo quando verdadeira, a assinatura pode ter
sido captada, confundindo o escrito de que se trata com outro
escrito que o sinatrio firmou pressa; mesmo quando verda-
deira, a assinatura pode ter sido feita para fim diverso, sob uma
flha em branco, que dolosamente se aproveitou para o escrito
apresentado; mesmo quando verdadeira, a firma podia achar-se
casualmente sbre uma flha de papel, de que outrem se pode
632
A Lgica das Provas em Matria Criminal
ter apossado, enchendo-a em seguida com a escrita que se apre-
senta. Em matria penal, o reconhecimento da firma no inclui
conseguintemente o reconhecimento do contedo. E necessria
acrescentar ainda, que mesmo o reconhecimento da autografia de
todo o escrito no tem tda a sua fra corroborante, se le no
est completo: necessrio no s reconhecer se a escrita do
prprio punho, mas recordar-se tambm de t-la feito.
Reconhecer como letra prpria, a de um escrito de que se
no tem memria, substancialmente no mais do que afirmar
a semelhana de letra: um argumento de probabilidade, e no
de certeza.
A verdade do escrito pode, em segundo lugar, ser estabe-
lecida por meio do testemunho das pessoas que ouviram falar
dle, ou que se achavam presentes sua feitura, ou que nle
participaram, ou conhecem a letra do presumido autor; e stes
testemunhos, segundo o seu diverso contedo, tero naturalmente
maior ou menor eficcia probatria. Assim, as tstemunhas podem
afirmar ter ouvido o presumido autor declarar ser o verdadeiro
autor; e nste caso as tstemunhas tero por contedo uma con-
fisso extra-judicial, com todos os defeitos de credibilidade que
lhe so inerentes. As tstemunhas podem tambm afirmar que,
tendo conhecimento da letra do pretendido autor do documento,
reconhecem, ou no, aquela letra no escrito em questo; e nste
caso os testemunhos no podem ter grande valor probatrio, sendo
coisa dificlima julgar com segurana relativamente a quem per-
tence uma dada letra; coisa dificlima no s para as tstemu-
nhas comuns, como tambm por vezes para os peritos. As tste-
nhas podem, alm disso, afirmar terem assistido feitura do
escrito, comquanto o no tenham subscrito; e um tal depoimento-
tem geralmente grande eficcia probatria, a favor da verdade
do escrito.
Podem, finalmente, afirmar a verdade do escrito as mesmas
tstemunhas, que o subscreveram; e o seu depoimento tem efic-
cia probatria mxima ou mnima, segundo a natureza da impu-
gnao da verdade do escrito. Quando se tenha deduzido arguio*
de falsidade contra um escrito, afirmando-se que o notrio e a
A Lgica das Provas em Matria Criminal
633
tstemunhas, de acrdo, o redigiram simulando a interveno do
queixoso, e imitando a sua assinatura, compreende-se que a afir-
mao das tstemunhas que o subscreveram, s por si, no pode
ter importncia probatria a favor da verdade do escrito que se
impugna.
O terceiro meio, para verificar a verdade de um escrito que
controvertido, a comparao das letras, por parte dos peritos,
juntamente com a observao directa dos prprios juzes. Sempre
que o documento impugnado radicalmente, na sua vida externa;
sempre que se impugna no s a verdade intrnseca, mas at a
verdade externa, ou seja a autenticidade do escrito,
indispensvel recorrer-se ao confronto da letra. Mas esta matria
acha-se fcilmente sujeita a rros no s da parte dos juzes, que
no teem competncia alguma especial, mas at da parte dos
peritos.
A arte da verificao da escrita no tem regras fixas e infa-
lveis ; e at o perito mais hbil pode car em rro. Se, por um
lado no fcil duas letras assemelharem-se, por acaso, perfei-
tamente ; por outro, a habilidade de um falsificador pode atingir
um tal grau de perfeio, que induza em rro qualquer indivduo,
mesmo os mais hbeis. O parecer dos peritos sbre a verificao
da escrita no tem conseguintemente mais do que uma eficcia
probatria limitada, no excluindo a possibilidade do contrrio;
um parecer de probabilidade, no de certeza; uma opinio
pessoal dos peritos, que pode corresponder mais ou menos
verdade, mas que no tem o direito de se impor conscincia do
juiz, de modo que ste tenha absolutamente de o seguir. Nunca
sero de mais, nesta matria, as precaues, afim de no car em
rro. necessrio atender especialmente aos escrito para
confronto que se submetem ao exame dos peritos. E necessrio,
no s, estar-se bem certo da sua autenticidade, mas procurar
obt-los, tanto quanto possvel, contemporneos do escrito que se
verifica, no esquecendo que a letra, com o decorrer do-tempo,
sofre variaes. E quando se no tenham stes escritos, deve
recorrer-se, para obter um, ao processo de ditar ao presumido
autor do escrito em questo; ser sempre melhor que le
634 A Lgica das Provas em Matria Criminal
escreva sem suspeitar o fim a que se destina a sua escrita, afim
de no procurar alter-la; e ser sempre melhor fazer com
que le escreva as palavras a que se atribui maior importn
cia no escrito a examinar. Mas basta a ste respeito, porquanto
estas consideraes pertencem mais prpriamente arte das
provas.
SECO TERCEIRA DA QUINTA PARTE
Prova material
CAPTULO I
Prova material, sua natureza, sua credibilidade abstracta e suas
espcies
Sabemos que o sujeito da prova no pode ser seno uma
pessoa ou uma coisa. Sempre que se fala de prova, ou se fala de
uma pessoa que afirma ou de uma coisa que atesta: a prova ou
uma afirmao de pessoa ou de coisa, por outros trmos, ou
pessoal, ou real.
Estudando as formas por que pode exteriorizar-se a atesta-
o de uma pessoa, vimos que elas se reduzem a duas, forma
tstemunhal, e forma documental; e do testemunho e documento,
espcies formais da atestao pessoal, j tratamos nas duas Seces
precedentes dste livro.
Cabe-nos agora falar das formas por que pode exteriorizar-
se a afirmao de coisas.
Antes de mais nada necessrio recordar que, se a afirma-
o pessoal pode ser prova original ou no original, conforme
refere as percepes de quem afirma, ou os dizeres de outrem, a
afirmao real, ao contrrio, no pode considerar-se seno como
uma prova original, a no ser que se queira desconhecer a sua
verdadeira natureza. Com efeito, aa coisas s podem, como tais,
fazer afirmaes submetendo-se na sua inconscincia observa-
o imediata do juiz; e ento, a prova real original. Se, no
supondo as coisas observadas imediatamente pelo juiz, elas se
636 A Lgica das Provas em Matria Criminal
supem observadas por outra pessoa que vem depois atestar ao
juiz, ento, emquanto conscincia dste, a que devem referir-se
tdas as provas cuja natureza judicial se quer determinar, j no
se tem uma prova real, mas sim uma prova pessoal, porquanto o
juiz, nesta hiptese, se acha em face de uma pessoa que afirma,
e no de uma coisa que atesta. Ora, desde que a no originali-
dade da prova real se no poderia verificar seno na hiptese
supracitada, isto , quando a afirmao real um contedo da
afirmao pessoal; e desde que na hiptese supracitada no se
tem mais do que uma prova pessoal, segue-se portanto que pro-
vas reais no originais no as h, e que tda a vez que se fala
de prova real em sentido especfico, se entende sempre falar de
prova real original.
Psto isto, a prova real, emquanto original, no
admite seno uma nica forma de exteriorizao possvel: a
apresentao da prpria coisa que atesta na materialidade das
suas formas. Eis, pois, a nica espcie formal probatria, em que
se exterioriza a afirmao real, espcie que nos parece bem
indicar com a denominao de prova material, com referncia
materialidade directamente percebida pela coisa que afirma, e em
que assenta prpriamente a prova. quela mesma prova, conseguin-
temente, que em outra parte denominamos real, considerando-a
sob o ponto de vista do sujeito de que emana, por ns aqui
chamada material, considerando-a sob o ponto de vista das for-
mas em que se concretiza a sua funo de prova.
A prova material consiste, portanto, em uma materialidade
que, apresentando-se percepo directa do juiz, lhe serve de
prova. Mas esta noo no por si completa; no serve para dis-
tinguir nitidamente a prova material, espcie nica formal da
afirmao de coisa, do testemunho e do documento, que so as
duas espcies formais da afirmao pessoal.
Na prova documental, no h acaso a materialidade do
escrito que, apresentando-se directa percepo do juiz, lhe
serve de prova? E no prprio testemunho, no existe porventura
a materialidade oral, que percebida directamente pelos senti-
dos do juiz, servindo-lhe de prova? , pois, necessrio um cri-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 637
trio distintivo que sirva para determinar quanto a materialidade,
que directamente submetida ao juiz, constitui prova material, e
quando no mais do que um modo de apreciao da prova
pessoal.
Emquanto s materialidades no directamente produzidas
pela pessoa, no se levantam dvidas: elas, funcionando como
prova, no so e no podem ser seno prova material. A incerteza
comea quando se trata de uma materialidade que directamente
produzida por uma pessoa, e que chamada a funcionar como
prova: uma tal materialidade pode ser material, como pode ser
uma das espcies da prova pessoal. Qual o modo de distinguir a
sua natureza probatria?
H dois critrios de distino. O primeiro critrio que
determina a prova material a inconscincia da materialidade
produzida pela pessoa. A prpria manifestao do pensamento
exteriorizada em uma materialidade externa, se inconsciente, d
lugar a uma prova material, e no pessoal. Sem conscincia no
h seno uma coisa, mesmo na parte espiritual da pessoa, e por
isso a manifestao material 4o prprio fenmeno espiritual por
parte da pessoa, quando inconsciente, no se reduz seno a uma
exteriorizao fatal do prprio fenmeno; e esta exteriorizao
material e fatal nunca pode ser uma afirmao de pessoa, por isso
que a natureza especfica da afirmao pessoal assenta na
conscincia da prpria manifestao. Conseguintemente sempre que
uma pessoa revela inconsciente e materialmente o seu estado de
esprito e os seus pensamentos, esta manifestao material e
inconsciente, sendo chamada a funcionar como prova, no constitui
seno uma prova material. A palidez, o tremor, at o gesto que
escapa ao acusado na inconscincia do mpeto, no so mais do
que provas reais emquanto ao sujeito, e materiais emquanto
forma. A prpria palavra que, em regra, destinada s
manifestaes conscientes do esprito, quando excepcionalmente
inconsciente, no pode constituir seno uma prova material. As
palavras proferidas em estado de delrio, o escrito redigido em
estado de sonambulismo, no so formas de afirmao de pessoa,
porquanto a pessoa no
638 A Lgica das Provas em Matria Criminal
pode, como tal, fazer afirmaes sem a conscincia do que diz e
escreve: aquelas palavras inconscientes, aquele escrito incons-
ciente no so seno a exteriorizao material de um estado de
esprito, que pode ser nada menos que uma aberrao e uma
enfermidade; aquelas palavras inconscientes e aquele escrito
inconsciente, quando, como manifestaes materiais de fenme-
nos espirituais, so chamadas a servir de prova, no constituem
mais do que provas materiais. Na generalidade das provas mate-
riais trata-se das modificaes materiais percebidas sbre as coi-
sas; nesta espcie trata-se de modificaes espirituais percebidas,
atravs da materialidade de uma palavra articulada ou escrita,
na pessoa. Mas que se conclui disto? Tanto em um, como em
outro caso, as modificaes espirituais, como as corporais, reve-
lam-se do mesmo modo em uma materialidade concreta incons-
ciente, submetida percepo do juiz. Suprimam-se as diferenas
acessrias de manifestaes derivadas da diversa natureza doa
sujeitos, pelas quais o sujeito espiritual tem necesidade de exte-
riorizar as suas modificaes para as tornar patentes, e o sujeito
material apresent-las h j clara e nitidamente; e, parte esta
diferena, dada a inconscincia da manifestao das modificaes
espirituais, tereis sempre para estas, como para as modificaes
corpreas, a mesma natureza de prova material: manifestaes
tdas elas material e inconscientemente oferecidas pelos seus
sujeitos percepo, e que entram, por isso, na classe das pro-
vas materiais.
A inconscincia, eis, pois, o primeiro critrio que distingue
a prova material do testemunho e do documento. Mas no basta;
outro critrio distintivo h tambm.
No obstante a conscincia, a palavra e o escrito devem
tambm caracterizar-se quanto prova material, sempre que so
levados em conta, no emquanto podem fazer f da verdade dos
factos afirmados pela pessoa que fala ou que escreve, mas em-
quanto fazem f da prpria existncia como materialidade cons-
titutiva do crime, ou a le conducente. Sempre que a palavra
articulada e a palavra escrita so uma exteriorizao da aco
criminosa, e so consideradas como tais, no podem constituir
A Lgica das Provas em Matria Criminal
639
seno prova material. Nos crimes que consistem na palavra arti-
culada ou escrita, esta no se apresenta j em juzo como uma
afirmao pessoal destinada a fazer f da verdade dos factos
afirmado; e por isso no pode considerar-se como prova pes-
soal, tstemunhal ou documental. A palavra injuriosa e a palavra
ameaadora, quando pronunciadas em audincia e consideradas
como imputveis, o libelo difamatrio, o documento falsificado,
a carta de ameaa, a queixa e a denncia escrita falsas, quando se
produzem em juzo como factos imputveis, no so mais d que
provas materiais, por isso que representam a concretizao
material do crime, e no a simples afirmao pessoal de nin facto,
destinada a fazer f dle. A palavra como som ou como escrito,
no em tal caso seno o meio de concretizao material do
crime.
Mas a palavra uma prova material no s no caso em que
representa a consumao material do crime, mas tambm quando
ela no representa seno um acto anterior sua consumao e
conducente, univocamente ou no, a ela. Sabe-se que a prova
material, como tdas a espcies formais de prova, pode ter o
contedo de prova directa ou indirecta. Os casos anteriormente
mencionados, de palavra constitutiva do crime, so casos de prova
material directa. Mas casos h tambm de prova material
indirecta, consistente na palavra. A propsito de escrito de ameaa,
por exemplo, o que significa o seu rascunho encontrado em poder
de algum? Sob o ponto de vista do contedo uma coisa diversa
do delinqente e do delito, que serve para indicar o delinqente:
um indcio que se apresenta na sua materialidade sob os olhos do
juiz. Ora ste indcio ser porventura um documento sob o ponto de
vista da espcie formal? O documento, no deve esquecer-se, uma
prova pessoal; ora, o rascunho no se apresenta em juzo como
sendo destinado a fazer f da verdade do que nle se acha escrito;
e, sem o intuito de fazer f dos factos afirmados pela pessoa, no h
afirmao pessoal, roas afirmao real. A fra probatria daquele
rascunho, apresentado em juzo, no est nas ideias que exprime
mas na sua conformidade formal com o escrito de ameaa, e na
posse dste:
640 A Lgica das Provas em Matria Criminal
aquele rascunho apresenta-se, no como afirmao pessoal, mas
como a primeira exteriorizao do propsito criminoso, e a sua
conformidade com o escrito de ameaa e a sua posse, consti-
tuem um facto material que indica no seu possuidor o delin-
qent
e; um vestgio material permanente da aco que se dirige
ao delito, e que indica o delinqente: em concluso, uma
prova material indirecta.
E eis aqui, pois, o segundo critrio que determina quando, -a
prpria manifestao material do pensamento de uma pessoa,
deve ser havido como prova material: a materialidade reveladora
do esprito interno ser prova material, sempre que no seja des-
tinada a fazer j da verdade dos factos nela afirmados.
E agora completando esta noo, pode dizer-se que prova
material tda a materialidade que, apresentando-se percepo
directa do juiz, lhe serve de prova, sempre que esta materiali-
dade, quando produzida por uma pessoa, seja inconscientemente
produzida, ou mesmo quando conscientemente produzida no
destinada a fazer f da verdade dos factos por ela afirmados.
E esta a noo que corresponde natureza ntima da prova
material, e que nos d as diferenas intrnsecas pelas quais ela
se distingue nitidamente do testemunho e do documento. Mas
no ser intil atender tambm a uma diferena extrnseca, que
nos parece importante, e que se refere ao modo como a prova
material, diferentemente das outras espcies formais de prova,
se apresenta percepo do juiz.
J vimos em outro lugar que na percepo da prova, como
tal, tomam parte tanto a razo como os sentidos dos juiz.
Observamos alm disso que, sob o ponto de vista do con-
tedo da prova, a razo desenvolve diversamente a sua activi-
dade, conforme se trata de prova directa ou de indirecta. Na
prova directa a actividade da razo exerce-se smente no momento
anterior apreciao da prova. Quando a razo do juiz fixou por
meio de argumentos lgicos a credibilidade subjectiva da prova
directa, ento o seu contedo, isto , o elemento criminoso,
afirmado espontaneamente, directamente, naturalmente, sem es-
fro algum do raciocnio: dada a veracidade da afirmao directa,
A Lgica das Provas em Matria Criminal
641
afirma-se naturalmente a verdade do que se atesta. Na prova
indirecta, ao contrrio, a actividade da razo manifesta-se tam-
bm, e, principalmente, em um segundo momento. Em seguida a
ter fixado a credibilidade da prova, a razo deve passar, por um
trabalho do raciocnio, a afirmar a verdade do que provado : no
basta ter-se a convico da verdade objectiva do facto indicativo,
necessrio tambm, por argumentos lgicos, con-vencer-se da sua
concordncia objectiva com o facto indicado.
Ora, como emquanto ao contedo da prova a razo do juiz
desenvolve sempre a sua actividade, mas por diversa forma,
segundo se trata de prova directa ou indirecta, assim, emquanto
forma da prova e sua percepo, h sempre necessidade dos
sentidos do juiz, mas os sentidos teem um objecto diverso segundo
se trata de prova material ou do testemunho ou do documento. No
testemunho e no documento, que so as duas espcies formais da
afirmao pessoal, os sentidos do juiz no percebem seno as
manifestaes exteriores da prova, a voz e o escrito, e no o
elemento criminoso, nem o facto indicativo, em si mesmos; na
prova material, espcie nica da afirmao real, os sentidos do
juiz percebem, ao contrrio, a manifestao externa do que
provado: o elemento criminoso em si ou o facto indicativo em si.
E, em vez de comprovante, considero como provado o ind-
cio material, por mim chamado facto indicativo, encarando o
indcio naquilo em que pode ser objecto da prova pessoal.
O indcio, com efeito, no pode ser objecto probatrio da
afirmao pessoal seno emquanto sua materialidade, constitu-
tiva do facto indicativo. O trabalho do raciocnio, para concluir
do facto indicativo ao facto indicado, sempre exclusivo do juiz,
e no pode ser de modo algum objecto da afirmao pessoal. Do
indcio, s por isso o facto indicativo pode ser directamente pro-
vado pela afirmao indiciria de uma pessoa, quer seja
testemunho quer documento. Quis conseguintemente dizer em
relao ao indcio, que, emquanto ao testemunho e ao documento
indicirios, os sentidos do juiz no percebem mais do que a parte
externa da prova, a voz ou o escrito que afirmam o fecto indica-
tivo, e no o facto indicativo em si; na prova material indiciria,
41
642 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ao contrrio, os sentidos do juiz percebem a prpria materiali-
dade do facto indicativo, a exterioridade daquele facto indicativo
que o que provado pela afirmao indiciria da pessoa.
Recapitulemos e concluamos: no caso de prova tstemu-
nhal e documental os sentidos do juiz no percebem a exteriori-
dade do que provado directamente por essas provas, isto , a
exterioridade do elemento criminoso ou do facto indicativo, mas
sim, nicamente, a exterioridade da prova, isto , a voz ou o
escrito afirmativos do elemento criminoso ou do facto indicativo;
na prova material, ao contrrio, os sentidos do juiz percebem
directamente a exterioridade do que provado pelo testemunho
ou pelo documento. Esta considerao d a medida e a razo da
superioridade que a prova material tem sbre a prova tstemu-
nhal e sbre a documental.
At aqui temos procurado determinar a natureza da prova
material e as diferenas substanciais intrnsecas e extrnsecas, que
a distinguem do testemunho e do documento. Agora parece-nos
tempo de dizer umas palavras sbre as razes que nos levam a
crr que as coisas, em geral, so capazes de nos conduzir des-
coberta da verdade, isto , de mostrar qual o fundamento
genrico de credibilidade sbre que se baseia, como meio leg-
timo de certeza, a prova material.
Como a presuno da veracidade humana, inspirando f na
afirmao de pessoa, a vai procurar e colher como prova pessoal,
nas duas espcies formais do testemunho e do documento; assim
tambm a presuno da veracidade das coisas, inspirando f na
afirmao de coisa, a vai procurar e colher como prova real,
exteriorizada na nica espcie formal constitutiva de prova ma-
terial. O fundamento, portanto, da credibilidade genrica da
prova material a presuno de veracidade das coisas.
A presuno de veracidade das coisas uma presuno
complexa, resultante da acumulao daquelas duas presunes,
que em outro lugar chamei de identidade intrnseca e extrn-
seca das coisas.
Chamei presuno de identidade intrnseca, aquela pela
qual se cr com probabilidade, antes de qualquer outra prova,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 643
que uma coisa seja actualmente, em si mesma, precisamente a
que parece ser, pois que ordinriamente as coisas so aquilo que
parecem ser; e isto sob a f da experincia comum. O que se nos
apresenta como um pau, presume-se no ser outra coisa que um
pau, e no uma arma explosiva.
A presuno, que chamei de identidade extrnseca ou de
genuinidade das coisas, tem pois, como determinei, um duplo
contedo.
Em primeiro lugar, segundo esta presuno de genuinidade,
a coisa, que pelas suas determinaes distintivas individuais
parece ser a que em certo dia era possuda por Ticio, presume-se
ser precisamente essa e no outra; e, em trmos gerais, a coisa
que pelas suas aparncias distintivas mostra ter uma dada relao
de pertinncia com uma pessoa, com uma poca e com um lugar,
presume-se ter tido realmente aquela dada relao.
Em segundo lugar, sempre que por esta mesma presuno
de genuinidade, se cr, antes de qualquer outra prova, que uma
coisa, no tenha, emquauto ao seu modo de ser, emquanto ao
local e emquanto ao tempo, sido falsificada maliciosamente pela
mo do homem; pois que, geral e ordinriamente, as coisas se
apresentam sem estar maliciosamente falsificadas; e isto, tambm
sob a f na experincia comum. Assim, o punhal que se apresenta
manchado de sangue, presume-se estar assim por condies par-
ticulares em que naturalmente se encontrou, quer pelo uso que
dle fz o proprietrio, quer por um evento casual; e no ter sido
assim maldosamente adulterado pela mo do homem, com o fim
de enganar com aquela aparncia. Assim, pois, o veneno
encontrado no armrio de um indivduo que dle possui a chave,
presume-se ter sido por le colocado a, e no dolosamente a
introduzido por obra maliciosa de outrem.
Estas duas presunes das coisas, que denominamos identi-
dade intrnseca e extrnseca, so da mxima importncia. Sem
elas o esprito humano sentir-se-ia condenado a vaguear em um
grande vcuo de sombras e fices. O mundo externo no se nos
revela seno pelas suas aparncias; e se o pensamento humano
644 A Lgica das Provas em Matria Criminal
de tudo o que aparece fisicamente no tivsse, primeira vista,
seno a resolver uma iluso, um lgro, ou uma insdia, ento
desalentado, sentindo-se repelido pelo mundo exterior, no pode-
ria seno duvidar das suas percepes. Perdida tda a f na
maneira como as coisas se nos mostram, o homem j nem mes-
mo poderia conservar a f nas afirmaes pessoais; porquanto, a
que so chamadas as pessoas a fazer f seno relativamente
percepo que elas teem das coisas? Nada mais restaria, pois,
ao pensamento humano, do que enclausurar-se na solido da sua
conscincia, para duvidar de tudo e de todos.
Concluindo, as duas presunes, que chamamos de identidade
intrnseca e extrnseca, so os dois elementos de que se compe
a presuno de veracidade das coisas, em que assenta o funda-
mento genrico e legtimo de credibilidade da prova material.
E basta sbre ste assunto.
Pela noo que apresentamos de prova material v-se que
esta consiste na percepo directa da coisa que faz prova, na
materialidade das suas formas. Ora esta percepo directa da
coisa que faz prova pode verificar-se em duas hipteses :
l. A coisa que funciona como prova transitria, mas
tendo ela vida prpriamente em juzo, directamente percebida
pelo juiz nas suas formas materiais; como no caso de delito
cometido em audincia, como no caso de indcio cujo facto
material indicativo se produz na audincia, e pertencem a
esta ltima espcie os indcios derivados da conduta material
do acusado: palidez, tremor, desmaio, vista do corpo de delito,
etc.
E esta a hiptese de uma prova material transitria;
2. A coisa que funciona como prova, e emquanto funciona
como prova, permanente, e comquanto as modificaes que, a
causa do delito, tenha sofrido, ou tenha feito sofrer, se tenham
produzido fora do juzo, no entanto pela permanncia da coisa pro-
batria, ela apresenta-so assim, como modificada ou como modi-
ficadora, na materialidade permanente das suas formas, per-
cepo directa do juiz.
esta a hiptese de uma prova material permanente.
Lgica das Provas em Matria Criminal 645
A prova material , pois, de duas espcies: transitria ou
permanente. A prova material transitria, como se v primeira
vista, tem uma aplicao e uma importncia mais limitadas que a
prova material permanente, a que em particular, como em
seguida veremos, se referem graves problemas de crtica criminal.
CAPITULO II
Corpo de delito, sua natureza e suas espcies, emquanto
podo ou deve ser objecto de prova material
No captulo anterior, falando da natureza da prova mate-
rial, vimos como ela pode consistir tanto em uma materialidade
transitria, como em uma materialidade permanente, que se sub-
mete percepo directa do juiz. Ora, tda a materialidade per-
manente constituir por ventura, emquanto se refere ao delito, o
que se denomina, com a designao escolstica, corpo de delito?
Vejamo-lo.
Corpo de delito, prpriamente, no pode designar seno tudo
o que representa a exteriorizao material e a aparncia fsica do
[delito. Mas a exteriorizao material, e aparncia fsica do delito
s podem consistir no que, achando-se imediatamente ligado
consumao do prprio delito, representa, podemos dizer, a sua
figura fsica. Nem tdas as materialidadea constituem, portanto.
o como de delito, mas unicamente as materialidades que se acham
imediatamente ligadas consumao do crime. S nestas consite
a exteriorizao e a individualizao material do delito, e s estas
representam a sua figura fsica; aquela figura fsica, usando de
uma linguagem arrojada, denomina-se o corpo da entidade jur-
dica que se chama delito.
Podendo, sob ste ponto de vista, a figura fsica do delito
ser representada tanto em factos permanentes como transitrios,
poder-se-ia ter a tentao de distinguir o corpo de delito em
permanente e transitrio. Mas no tendo, aquele que se chamaria
corpo de delito transitrio, uma particular importncia, atender
646 A Lgica das Provas em Matria Criminal
a le s serviria para originar confuso. Eis porque a scincia e
a prtica, concordemente, falando de corpo de delito, s entendem
falar do permanente; e precisamente dste que tambm ns
nos ocupamos.
Voltando ao que estavamos dizendo, a figura fsica do delito,
o que representa o seu corpo, constituda pelas materialidades
permanentes que se acham imediatamente ligadas consumao
criminosa. Ora, esta ligao imediata podendo ter lugar pela rela-
o entre causa e efeito, segue-se que corpo de delito tudo o
que consiste na materialidade do meio imediato, ou do efeito
imediato do delito. E daqui por diante passamos de uma vez a
falar de meio e de efeito em lugar de causa e efeito, por isso
que a verdadeira causa do delito, a sua causa moral, est no
nimo do delinqente, e ns, falando naturalmente de corpo de
delito, no entendemos falar desta causa moral. Quando se olha
ao delito, como ns o olhamos aqui, no que tem de material, a
sua causa material no se encontra seno no que se chama meio,
emquanto se destina finalidade da inteno: a linguagem ofe-
rece-nos esta palavra mais precisa para exprimir o nosso pensa-
mento, e ns adaptamo-la. Dizendo, pois, meio ou efeito do delito,
entendemos dizer: causa material e efeito material do delito.
Concluindo, o corpo de delito assenta, segundo a nossa opi-
nio, nos meios materiais imediatos e nos efeitos materiais ime-
diatos da consumao do delito, emquanto so permanentes, quer
acidentalmente, quer por razes inerentes essncia de facto
do delito.
Tudo o que, quer como causa, quer como efeito, no tem
ligaes imediatas com a consumao do delito, ser, quando direc-
tamente percebido, uma prova material; mas no corpo de delito.
Tomemos para exemplo um meio no imediatamente ligado
consumao do delito; tomemos um facto puramente preparatrio.
Ticio, querendo lanar-se inesperadamente sbre o seu ini-migo e
feri-lo, tendo-se postado de vigia sbre o patamar de uma escada,
ou em um ngulo de uma rua, receando a luz de um candieiro,
quebra-o afim de o apagar: o inimigo passa, e Ticio fere-o na
escurido. quele candieiro quebrado, que foi um meio
A Lgica das Provas em Matria Criminal 647
material para a consumao do crime, quando submetido per-
cepo directa do juiz, ser, nos devidos casos, uma prova mate-
rial de indcio: mas no lhe ocorrer por certo mente consider-
la como corpo de delito, pois que um tal meio no causalidade
imediata da consumao do crime.
Tomemos agora um efeito material, no imediatamente li-
gado consumao do delito. Ticio, em seguida a ter cometido
um crime, ao afastar-se do local da consumao, sente-se perse-
guido: foge e cai-lhe o chapu, que fica, assim, nas mos do
perseguidor. Ser sse chapu, que caiu e foi apanhado, um corpo
de delito? De modo algum; le no um efeito imediato da con-
sumao do crime: le s pode, nos casos adequados, ser uma
prova material de indcio, e nada mais.
A prova material permanente, como qualquer outra espcie
formal de prova, pode ser directa ou de indcio: a directa sempre
corpo de delito, porquanto consiste sempre em uma materialidade
que apresenta a figura fsica do delito; a indiciria, ao contrrio,
compreende muitos outros factos no compreendidos pelo corpo
de delito.
Fixada assim a noo do que o corpo de delito, esta mesma
noo conduz-nos determinao das espcies em que le pode
classificar-se. Estas espcies so quatro: trs derivados da con-
siderao dos efeitos imediatos do delito, e uma da dos seus
meios imediatos. Antes de procedermos sua anlise, para maior
preciso, convm observar tambm que, comquanto o corpo de
delito consista sempre em uma materialidade permanente, le
contudo no se restringe nicamente s materialidades perma-
nentes que o delito deve deixar atrs de si pela sua essncia de
facto, mas compreende tambm as materialidades que so uma
permanncia acidental do delito.
Posto isto comecemos a nossa anlise considerando quais
so as trs espcies que constituem o corpo de delito como efeito
material imediato.
1. O evento material permanente, em que se concretiza
objectivamente a prpria consumao do delito: a materiali-
dade, pela sua natureza, permanente produzida pelo delito, que
648 A Lgica das Provas em Matria Criminal
forma parte da essncia de facto do prprio delito, de forma que|
ste no existe, ou pelo menos no existe na sua gravidade espe-
cfica, quando aquela no exista.
esta espcie de corpo de delito pertencem: a moeda fal-
sificada e a nota falsificada, no crime de moeda falsa; o escrito
falso, na falsificao de documento pblico; o escrito injurioso,
no libelo difamatrio; o cadver, nos homicdios; os ferimentos,
nas leses fsicas; assim como tda a materialidade que con-
seq
ncia do crime e sem a qual o respectivo delito no pode
existir.
Pertencem tambm a esta espcie de corpo de delito a
deformao permanente e a perda de um rgo, derivadas do
ferimento: isto , tda a materialidade produzida pelo delito
sem a qual le nunca pode existir na sua gravidade especfica.
2. Os vestgios eventuais e permanentes do delito, que
no constituem elemento criminoso, mas que so conseqncia
imediata, ainda mesmo quando simplesmente ocasional, da con-
sumao do delito ou do delito consumado.
Assim, os sinais que ficam sbre as coisas circunstantes na
consumao do delito, tais como mveis partidos durante a luta,
pgadas durante a luta ou durante a perpetrao do furto ou de-
outros crimes, como roupas do ru no local do crime, e roupas-
da vtima junto do ru ou em sua casa.
3. Os Jactos materiais permanentes que encarnam o
prosseguimento do facto criminoso.
ste prosseguimento do crime no consiste na repetio de
vrios actos, cada um dos quais represente uma perfeita violao
da lei, coisa que, dada a unidade da inteno criminosa, corres-
ponderia noo do delito continuado; mas consiste, antes, em
manter vivos os efeitos do delito j consumado, prosseguindo,
ainda mesmo quando de um modo negativo, a aco sbre aquela
mesma coisa ou pessoa que foi o sujeito passivo da consumao
do crime, o que corresponde noo do delito que permanece.
So, pois, materialidades permanentes, que encarnam o prosse-
guimento do facto criminoso, a pessoa ainda presa no crceres
privado em geral, e a coisa roubada no roubo prpria ou impr-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 649
priamente dito. Aqui, a propsito de farto, julgo conveniente
umas consideraes explicativas.
Sucede muitas vezes ver-se considerar o furto como delito
de facto transente; e eu julgo ser sem razo. Comecemos por
expor a distino entre delito de facto permanente e de facto
transeunte, para vermos como o furto, em rigor, deve conside-rar-
se como delito de facto permanente. Diremos, finalmente, por que
que consideramos o facto da apropriao da coisa como corpo de
delito desta terceira espcie.
Sob um ponto de vista muito largo, so delitos de facto
permanente os que deixam, acidentalmente ou por sua prpria
essncia, vestgios materiais e permanentes atrs de si; so de
facto transitrio, os que no os deixam. Sob ste ponto de vista
entende-se fcilmente que nem todos os delitos se podem classi-
ficar absolutamente entre os primeiros, ou entre os segundos.
Nste sentido, h, pois, delitos que individualmente ora so de
facto permanente e ora de facto transitrio, conforme o modo aci-
dental da sua exteriorizao individual. Nste sentido lato e
indeterminado, v-se fcilmente, a distino perde a importncia
lgica.
Mas b um sentido mais restrito e determinado, que o
sentido que deve justamente dar-se distino: so delitos de
facto permanente, aqules em cuja essncia de facto entra como
condio uma materialidade permanente, sem a qual o delito
especificamente no subsiste: stes delitos so sempre de facto
permanente. Assim, se no existe um homem morto, no h
homicdio; e o homicdio sempre um delito de facto perma-
nente. So delitos que no se compreendem sem um dado facto
material permanente, que se distingue da aco humana: a aco
criminosa, passageira por sua natureza, desaparece, o facto exte-
rior fica. nesta materialidade exterior, que no desaparece, que
est a permanncia do delito: fica o cadver, como permanncia
do homicdio; fica a casa queimada, como permanncia do incn-
dio; fica a letra falsificada, como permanncia da falsificao. E
sempre no mesmo sentido mais ou menos restrito e determinado,
quando pois a figura fsica do delito, pela prpria essn-
650 A Lgica das Provas em Matria Criminal
cia do Jacto, se restringe nicamente materialidade da aco
humana, de modo que aparece e desaparece com ela, tem-se ento
o verdadeiro delito de facto transente: a materialidade da inj-
ria verbal est tda nas palavras injuriosas. O verdadeiro delito
de facto transente , pois, aquele cuja materialidade consiste
tda na aco humana passageira
1
.
Psto isto, delito de facto transitrio o furto? A
materialidade do furto consiste acaso nicamente na aco
criminosa passageira? Na figura fsica dste crime no existir,
acaso, ssencialmente, alguma materialidade externa
sbrevivente aco? Se o furto s consiste em tocar a coisa
alheia, ento o delito seria sem dvida de facto transitrio, por
isso que a mate-
1
Alguns juristas, ao darem a noo do que delito material e do que
delito formal, dizem que ste um delito que se consuma com a simples
aco do homem, ao passo que o outro para se consumar necessita de um
dado facto exterior. Desta forma, a distino entre delito material e formal
confunde-se fcilmente com a de delito de facto permanente e transitrio.
Nem tudo isto exacto.
A noo exacta esta: d delito material, o que se no consnma quando
no tenha atingido o dano efectivo de direito concreto; 6 delito formal, o que
se consumou mesmo sem o dano efectivo do direito concreto.
Quando se determina assim a distino entre delito material e delito
formal, v-se a sua diferena da distino de delito de facto permanente e de
facto transitrio.
Por haver delito de facto permanente, se bem que se requeira um facto
exterior distinto da aco, no contudo necessrio que ste facto consista
no dano efectivo do direito concreto; conseguintemente um mesmo delito
pode ser ao mesmo tempo formal o de facto permanente. Assim, na falsifica-
o de documento pblico, para a sua consumao, necessrio, falando com
exactido, um facto exterior, que na realidade distintivo da aco; neces-
srio o escrito falsificado; e por isso ste sempre, pela sua essncia de facto,
um delito de facto permanente. Mas no necessrio, para ste delito se con-
sumar, que se tenha infligido um dano efectivo ao direito concreto, e por isso
um delito formal. Eis,.pois, que a falsificao de documento um delito
formal o de facto permanente.
Portanto, concluindo, nem todo o delito de facto permanente mate-
rial; nem todo o delito formal 6 de facto transitrio; e as duas distines
teem diverso valor, e no devem confundir-se.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
651
rialidade consumadora de tal delito extinguir-se-ia com a aco
criminosa passageira. Mas nunca ningum pensou em semelhante
noo a propsito de furto, e tda a teoria sob a consumao
dste crime supe sempre a realizao de uma materialidade
exterior que sbreviva aco.
Quer se siga a teoria da ablao, que prevaleceu entre as
antigas prticas, que faz consistir a consumao do furto no facto
de se ter psto a salvo a coisa; quer se siga a teoria da remoo,
que exige, para a consumao, que a coisa tenha sido retirada do
local do furto, se no pondo-a a salvo, subtraindo-a pelo menos
guarda do que foi roubado; quer se siga a teoria romana que
considera como consumado o furto com a simples mudana de
um local para outro; qualquer que seja a teoria que se siga, o
furto s poder ter-se como consumado, quando se tenha dado a
posse da coisa por parte do ladro, posse que se exterioriza, pelo
menos, mas indispensvel mente, na materialidade da remoo da
coisa de um lugar para outro. A remoo da coisa fartada j, de
per si, uma materialidade externa distinta da aco: a aco de
furtar acaba, mas fica a coisa retirada do seu lugar, e esta
permanncia material tem, ao mesmo tempo, uma forma negativa
e uma forma positiva: negativa, a ausncia da coisa de um local;
positiva, a sua presena em outro. Pela sua essncia de facto, no
existindo, pois, furto sem a materialidade, permanente por si, da
deslocao da coisa, segue-se que o delito de furto, deve considerar-
se, no como facto transitrio, mas como facto permanente.
necessrio, porm, observar que o furto, comquanto seja
em sua essncia um delito de facto permanente, tem por isso,
como tal, um carcter especial que o distingue da generalidade
dos delitos que so de facto permanente por uma sua condio
ssencial. No furto, a materialidade permanente produzida pela
aco extrnseca, consistindo na simples modificao de local
das coisas; na generalidade dos delitos de facto permanente, ao
contrrio, ela intrnseca, consistindo no modo de ser das coisas.
Alm disso, no furto, a coisa no se supe materialmente
modificada seno emquanto se considera como tendo passado
652 A Lgica das Provas em Matria Criminal
para a posse do delinqente; nos outros delitos de facto perma-
nente, a coisa modificada snpe-se, ao contrrio, normalmente
fora da posse do delinqente. Ora, posto isto, e considerando
que, sob o ponto de vista probatrio, a permanncia de uma
materialidade no tem importncia seno emquanto ela se apre-
senta s verificaes oficiais, segue-se que o furto no pode,
sempre sob o mesmo ponto de vista probatrio, ser equiparado
aos outros delitos, em cuja existncia de facto entra como con-
dio uma materialidade permanente. Com efeito, ns temos
dito que a materialidade da coisa removida, tem uma manifes-
tao negativa, e uma manifestao positiva. Atendendo mani-
festao negativa, consistindo ela na ausncia de uma coisa de
um dado lugar, v-se que ela uma materialidade directamente
verificvel pelo proprietrio ou por outrem, mas no j pelo ofi-
cial pblico. ste no pode, em regra geral, verificar a ausncia
de uma coisa de um dado lugar, seno sob a f de outra pessoa
que afirme a sua precedente existncia naquele local; e nesta
relao externa, no verificvel pelo oficial pblico que percebe
a coisa, que consiste substancial e prpriamente a verificao da
ausncia da coisa do seu lugar. Se considerarmos a manifestao
positiva da deslocao material da coisa, manifestao positiva que
consiste na presena da coisa em um lugar diverso, v-se tambm
fcilmente que ela nem mesmo se oferece normalmente verifi-
cao directa do oficial pblico. E, na verdade, ns j dissemos
que, emquanto na generalidade dos delitos de facto permanente
a materialidade da coisa modificada se considera normalmente
fora da posse do delinqente, no furto, ao contrrio, ela consi-
dera-se como tendo passado para a sua posse. Ora, a coisa remo-
vida, do momento em que se supe na posse do delinqente,
compreende-se que possa fcilmente ser ocultada ou destruda:
normalmente essa materialidade , portanto, subtrada s poss-
veis verificaes oficiais. No possvel verificar a existncia da
coisa furtada no novo lugar que tomou seno excepcionalmente,
e emquanto a aco criminosa exercendo o seu influxo sbre a
coisa, esta, no sendo bem ocultada, cai por surprsa sob as veri-
ficaes oficiais; isto , emquanto o furto se apresenta como
A Lgica das Provas em Matria Criminal 653
delito sucessivo, importando um prosseguimento da aco crimi-
nosa sbre o sujeito passivo do crime. Eia o motivo porque fala-
mos da coisa tirada, objecto do furto, se bem que constitua uma
materialidade permanente ssencial ao delito de furto, nesta ter-
ceira espcie de corpo de delito, de preferncia primeira.
Temos at aqui falado das trs espcies que constituem o
corpo de delito como efeito: a estas vem juntar-se uma quarta
espcie que constitui o corpo de delito como meio:
4. meio constitutivo do corpo de delito tda a mate-
rialidade criminosa permanente, que se destina imediata e efecti-
vamente consumao do delito.
Esta materialidade, que serve de meio ao delito, pode ser de
duas espcies: activa ou passiva. Pode a materialidade conside-
rar-se como meio do delito, quando servir como instrumento
activo nas mos do delinqente, como o punhal que serviu para
matar ou para ferir, como a corda que serviu para enforcar, e
como a escada ou a chave falsa que serviram para o roubo; e
pode tambm uma dada materialidade considerar-se como meio
criminoso, no emquanto foi sujeito da aco criminosa, mas
emquanto foi o seu objecto, isto , emquanto sofreu modificaes
conducentes ao delito, como o arrombamento no roubo, e como
em geral os vestgios, na pessoa, das violncias que se fizeram
sofrer para se atingir a consumao do crime.
As circunstncias agravantes, que consistem em materiali-
dades no puramente derivadas do delito, entram na categoria
dos meios criminosos, porquanto os factos materiais, que no so
meras conseqncias do delito, s podem agrav-lo quando se
refiram a le como meio a fim; e entram por isso tdas elas sob a
categoria dos meios imediatos, activos ou passivos, em que se
inclna todo o elemento criminoso precedente consumao, sendo
que no delito nada mais h do que a consumao como fim, e
tudo o mais como meio: quer se consuma o delito, quer se tra-
balhe por tornar possvel a sua consumao.
Concluindo: as espcies em que se classifica o corpo de
delito so quatro: trs derivadas da considerao dos efeitos
imediatos do delito, e uma da dos seus meios imediatos.
654 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Quando a materialidade constitutiva do corpo de delito se
submete directa percepo do juiz, a sua verificao tem lugar
por meio de prova material, e a espcie mais importante entre
as provas materiais; quando ao contrrio a materialidade consti
tutiva do corpo de delito no directamente percebida pelo juiz,
mas lhe afirmada pelas pessoas, ento a sua verificao tem
lugar pela prova pessoal. O corpo de delito no sempre por
tanto sujeito de prova material; muitas vezes no seno con
tedo de uma prova pessoal. Mas casos h em que a prova pes
soal ordinria no se considera como suficiente para a verificao
do corpo de delito; h casos em que o corpo de delito se deve
verificar directamente como sujeito de prova material, para se
obter a legtima certeza. Quais so stes casos ?
I E um problema que j examinamos relativamente aos casos
de incapacidade probatria do testemunho, e que agora de novo
se apresenta relativamente aos casos em que no se pode dispen-
sar a prova material. O problema sempre o mesmo, e podera-
mos remeter para o que a sse respeito escrevemos; mas prefe-
rimos repetir o que j dissemos, para no obrigar o leitor a
andar procura na outra parte do livro do desenvolvimento de
teorias que pertencem tambm a esta.
Qual das espcies, pois, do corpo de delito se dever ter
por mal verificada, quando se no apresente como sujeito de
prova material?
Examinemos cada uma das espcies anteriormente determi-
nadas, comeando pela ltima, e subindo at primeira.
Relativamente quarta espcie, isto , materialidade per
manente, constitutiva do corpo de delito como meio, necessrio
que ela seja julgada segundo dois critrios diversos, conforme
constitui meio activo ou passivo do crime.
I Principiando pela materialidade constitutiva do meio activo,
necessrio observar que ela s aparece como meio do delito
emquanto percebida juntamente com a aco criminosa, que a
dirigia ao delito. Esta materialidade, do momento em que se
destaca da aco criminosa, perde a sua importncia de meio, e
entra na grande multido das outras materialidades congneres,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 655
inofensivas, casuais ou simuladas; quando no desde logo supri-
mida por meio do segrdo, ou por destruio, o que sempre
possvel, sendo o meio activo uma coisa que pode sempre ficar na
posse do delinqente, que tem intersse em faz-la desaparecer.
Esta materialidade activa conserva a sua especialidade de
meio criminoso smente emquanto se acha ligada aco. Ora, a
aco humana sendo transitria, segue-se que da funo de meio
prestada por uma materialidade no pode ficar vestgio permanente
e unvoco, a no ser na memria das pessoas que eventualmente
frem espectadoras do seu emprgo criminoso. Ora, uma vez que
a importncia probatria da materialidade activa assenta na sua
funo de meio prestada ao delito, e uma vez que desta funo s
pode obter-se uma prova pessoal; uma vez que finalmente o meio
activo, podendo normalmente ficar na posse do delinqente, ste
pode, e tem nisso intersse, ocult-lo ou destru-lo, segue-se que
relativamente a esta sub-espcie de corpo de delito seria absurdo
pretender que seja indispensvel a prova material.
J assim no quanto materialidade meio que objecto
da aco criminosa. s modificaes permanentes das coisas so
normalmente sempre perceptveis em si mesmas, na sua natureza
de alteraes materiais produzidas; e por isso nas materialida-des
passivas, quando se querem fazer constar as suas passivida-des
permanentes, pondo-as a cargo do acusado, no suficiente o
testemunho ordinrio; necessrio que as modificaes materiais
e permanentes, que se dizem feitas s coisas, sejam, tanto quanto
possvel pela sua natureza, e isto normalmente possvel,
verificadas por meio de prova material, prpria ou imprpria, por
tdas as razes que teremos ocasio de desenvolver dentro em
pouco.
Parntesis: antecipo uma noo indispensvel para ste de-
senvolvimento: prova material prpria, a directa percepo da
coisa por parte do juiz no julgamento pblico, isto , a verifica-
o prpriamente judiciria; prova material imprpria, a directa
percepo da coisa por parte de tstemunhas oficiais competen-
tes, isto , a verificao qusi judicial.
656 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Prto irto, entro de novo no assunto. Se a Ticio se
imputa
um furto com a agravante do arrombamento de uma fechadura,
no basta que o arrombamento seja afirmado por meio de teste-
munhas ordinrias; necessrio, quando normalmente possvel,
que le tenha sido verificado por meio da prora material prpria
ou imprpria; qne ele tenha sido verificado por tstemunhas ofi
cialmente competentes que o afirmem, quando o no seja pelo
prprio juiz dos debates. Mas voltaremos a tratar dste assunto
dentro em pouco. '
Se, continuando, considerarmos a terceira espcie de corpo de
delito, isto , os factos permanentes em qae se encarna o
desenvolvimento da aco criminosa, v-se claramente que les
consistem no desenvolver-se da aco do ru, sbre o sujeito
passivo do crime, emquanto ste sujeito passivo foi colocado livre
secretamente sua disposio. Ora, compreende-se por isso
fcilmente, que no ser certamente o ru que ir oferecer a
prova material dos actos de sua aco criminosa; no ser por
certo o ru que submeter verificao judiciria ou qusi-judi-
ciria a sucesso dos factos que o levaram posse da coisa rou-
bada no furto, posse da pessoa sequestrada no crcere privado.
Em seu intersse procur por todos os meios possveis ocultar
sses factos; e isso ser-lhe h fcil, pois que se trata da sua
aco sbre uma coisa ou sbre uma pessoa, que nesta espcie
de delitos que foram chamados sucessivos ou contnuos, se supe
j terem entrado na sua posse particular e livre.
mnima suspeita judicial, le intrromper desde ento a
continuao da sua posse. nica e excepcionalmente, por sur-
prsa, stes factos podem car sob a percepo oficial directa;
normalmente les s so colhidos pela percepo de tstemunhas
particulares, que eventualmente os percebem. Nos delitos, pois,
que compreendem no seu sujeito passivo o prosseguimento da
aco criminosa, no pode pretender-se, como indispensvel, a
prova material do corpo de delito.
Se, contiuuando ainda, passamos a considerar a segunda
espcie de corpo de delito, que designamos com a denominao
de vestgios eventuais e permanentes, mesmo emquanto sua
A Lgica das Provas em Matria Criminal 657
verificao no h razo para que se deva pretender absoluta-
mente a prova material. Trata-se de vestgios que podem existir
ou no, sem que com isso mude a existncia de facto e a gravidade
do delito; trata-se de vestgios eventuais que representam
argumentos probatrios extrados das coisas: para que se deveria
exigir a sua prova material? Qualquer que seja o facto indicativo,
que serve de base ao indicio, no preciso que seja neces-
sria
mente verificado pela percepo directa, por meio de prova
material; poder ser bem verificado mesmo por meio da simples
afirmao das tstemunhas.
Por agora resta-nos apenas considerar a primeira espcie.
Mas, antes de passarmos a esta considerao, no julgamos intil
fazer uma observao explicativa sbre o que temos vindo a
dizer.
Sempre que afirmamos como desnecessria a prova material
para a verificao de uma dada espcie de corpo de delito, no
afirmamos j ao mesmo tempo, relativamente a esta espcie, a
inutilidade desta forma de prova. Queremos apenas dizer que, no
existindo na espcie a prova material, o testemunho ordinrio
deve considerar-se como prova suficiente. Entendemos dizer que
no necessrio explicar-se como e porque, no caso particular,
tenham desaparecido as materialidades permanentes, tor-nando-se
insusceptveis de serem verificadas oficialmente: basta
simplesmente que de facto no possa obter-se a verificao ofi-
cial, para que deva considerar-se suficiente o testemunho ordin-
rio. Isto contudo no impede, que, sempre que se trate de uma
verificao importante no juzo especial, e possa obter-se uma
prova material, que a prova mais perfeita, seja bom xig-la, no
nos contentando com uma prova menos perfeita.
necessrio no esquecer um princpio probatrio por ns
desenvolvido ao falarmos da prova em geral; necessrio no
esquecer o princpio da melhor prova, pelo qual sempre que, no
caso particular e concreto, possvel obter uma prova superior
relativamente a um facto importante para o julgamento penal,
necessrio recorrer a ela no nos contentando com a prova
inferior.
658 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Posto isto, passemos ao exame da primeira espcie de corpoi
de delito.
O facto material e permanente, em que se concretiza objec-
tivamente o corpo de delito, no uma materialidade indiferente
ao delito, que pode existir ou no; uma materialidade sem a
qual o delito no pode existir, ou pelo menos no pode existir
com a sua gravidade especial: sem o cadver, no pode haver o
delito de homicdio; sem a moeda falsa ou a nota falsa no pode
existir o delito de falsificao de moeda; sem a deformao per-
manente, o crime de ferimento que deixa leses permanentes no
pode existir com a sua gravidade especfica. Ora, para esta espcie
de corpo de delito, que, constituindo a essncia de Jacto do delito,
pode especificar-se com o nome de corpo ssencial do delito, a
lgica das coisas obriga-nos a exigir necessriamente a prova
material.
Diz-se que um homem foi assassinado; vrias tstemunhas
afirmam t-lo visto car morto; mas o cadver, sem que se expli-
que o seu desaparecimento, no se encontra; e no pode ser
assim verificado oficialmente. Poder-se h admitir a sua existn-
cia sob a simples f das tstemunhas ordinrias ? Somos de pare-
cer que no.
Segundo o princpio, anteriormente recordado, da melhor
prova todo o facto, que importa ao julgamento penal, deve ser
provado com a melhor prova, de que, por sua natureza, nor-
malmente capaz. Ora, o facto material e permanente de que fala-
mos, normalmente susceptvel de ser provado por meio do
verificaes oficiais: e portanto como prova natural desta espcie
de corpo de delito, sem que se explique o modo como e porque
le desapareceu, deve ser considerada a verificao oficial, judi-
ciria ou quasi-judiciria, segundo os casos, isto , a prova ma-
terial prpria ou imprpria.
H factos materiais susceptveis de serem apresentados no
julgamento, como a moeda falsificada, como a letra falsificada.
Pois bem, nunca poder dizer-se suficientemente verificado ste
corpo de delito, se a materialidade em que le se concretiza se
no apresenta em juzo: necessrio, por outros trmos, a prova
A Lgica das Provas em Matria Criminal 659
material prpriamente dita, para a verificao judiciria. No
basta que se apresentem as tstemunhas ordinrias, e at as ofi-
ciais, a atestarem a existncia anterior da letra falsificada, para
que possa admitir-se a sua existncia, sem se explicar o seu
subseqente desaparecimento.
H factos materiais que se no podem apresentar no julga-
mento pblico por razes materiais ou por razes morais, como a
casa incendiada ou o corpo da mulher estuprada POB bem,
nstes casos, estas materialidades, podendo verificar-se qusi-judi-
cialmente por meio de testemunhos oficiais (a que se veem juntar
os testemunhos dos peritos, segundo a eventual exigncia dos
casos), nunca podero dizer-se suficientemente verificadas sem estas
investigaes qusi-judiciais, isto , sem uma prova material
imprpria. Para esta espcie de verificaes nunca bastaro
simples testemunhos ordinrios; a no ser que se verifique o como
e o porque do seu desaparecimento; e portanto da consequente
impossibilidade da verificao oficial dste corpo de delito.
Em geral, o testemunho ordinrio no prova suficiente da
materialidade permanente em que se concretiza a consumao do
delito, ainda quando se trate de materialidades susceptveis de
serem ou no apresentadas em juzo, sempre que se no explica o
seu desaparecimento e a sua consequente impossibilidade de
melhor prova: para esta materialidade, necessria a verificao
oficial judiciria ou pelo menos qusi-judiciria, segundo os casos.
Ainda que sejam muitas as tstemunhas ordinrias que veem afir-
mar ter em um dado momento tido a percepo daquela mate-
rialidade constitutiva do corpo de delito, sem a qual o delito no
existiria; ainda que sejam em grande nmero; mas se no entanto
ste corpo de delito j se no encontra, e no pode conseguinte-
mente obter-se a sua prova material; a ausncia dste corpo de
delito, que por sua natureza devia ainda subsistir, faz
lgicamente duvidar da veracidade ou da exacta percepo das
tstemunhas. Sejam embora muitas as tstemunhas a afirmar ter
visto Ticio car morto; pois bem, se o cadver se no encontra, e
se se no explica o seu desaparecimento, cora mais fra, que a
voz das pessoas, soar a voz das coisas: a ausncia do cadver
uma
660 A Lgica das Provas em Matria Criminal
prova real que tira tda a f voz em contrrio das tstemu-
nhas. E esta voz das coisas tem tido por mais de uma vez razo
contra a voz das pessoas, em processos criminais; e tem-se visto
ressuscitar pessoas que se julgavam mortas, mostrando assim o
rro das tstemunhas e dos juzes. Mas, infelizmente, por vezes
acontecia existir um morto que j no podia ressuscitar: o pobre
condenado, legalmente morto, e com tdas as verificaes oficiais
possveis! Seria muito fcil, querendo, impressionar os leitores
com a histria dos rros judicirios em que se tem cado, por se
no ter considerado como indispensvel a prova material daquele
corpo de delito, sem o qual no h delito, contentando-se com
simples testemunhos ordinrios.
Quando a lgica nos diz que normalmente deve existir uma
prova melhor que o simples testemunho ordinrio; quando a lgica
nos diz que deve haver um facto material permanente, ssencial
ao delito e normalmente susceptvel de ser verificado em si mesmo,
se ste facto falta, o esprito do juiz, no obstante a afirmao das
tstemunhas deve deter-se hesitante. Porque razo condenaria le?
Pela hiptese da ocultao ou da destruo. E parece-lhes uma
boa e slida base, para a certeza e para a condenao, uma sim-
ples hiptese? Dever-se h pelo menos provar o facto da oculta-
o ou da destruio, para se obter uma legtima certeza.
Concluindo: emquanto ao facto material permanente em que
se concretiza a consumao do delito, isto , emquanto ao corpo
de delito da primeira espcie, indispensvel a prova material
prpria ou imprpria, segundo os casos. No deve lgicamente
dispensar-se essa prova, e autorizar-se a confiar em simples tes-
temunhos ordinrios, seno quando se explique o
desaparecimento do corpo de delito a provar, e a conseqente
impossibilidade de o provar por meio da prova material prpria ou
imprpria. Quando se prova a ocultao ou a destruio do corpo
de delito por parte do delinqente ou de outrem, ou ento a sua
destruio e o seu desaparecimento por razes inerentes sua
natureza ou natureza do ambiente em que se achava, continuar a
pretender a prova material seria um absurdo: bastaro para
induzir certeza e legitimar a condenao os simples
testemunhos ordinrios. E se,
A Lgica das Provas em Matria Criminal 661
mesmo depois de tudo isto, se visse a car em rro, ste rro no
poderia atribuir-se inconsiderao dos juzes, mas nossa
imperfeio comum.
O que temos estado a dizer relativamente ao facto material,
constitutivo da primeira espcie de corpo de delito, vale tambm
quanto ao que respeita materialidade passiva e permanente que
serve de meio ao delito, de que j falamos como de uma
subespcie da materialidade em geral que serve de meio ao delito.
Quando na imputao se leva em conta uma materialidade pas-
siva e permanente; quando, suponhamos, se quer atribuir a um
indivduo acusado de furto o arrombamento, necessrio que
ste arrombamento, que pode ser normalmente verificado pelos
meios oficiais, tenha sido na realidade assim verificado. No basta
que se apresentem tstemunhas ordinrias a afirmar o arromba-
mento.
Mas, se, tendo desaparecido os vestgios do arrombamento,
se no pode, em matria de facto, obter uma prova material quer
prpria, quer imprpria?
necessrio ento, antes de prestar f plena aos testemunhos que
o afirmam, dar-se a razo do desaparecimento de uma tal
materialidade passiva, que deveria ainda subsistir: smente sob
esta condio que lgicamente se pode dispensar a prova
material, e se est autorizado a confiar no testemunho ordinrio.
CAPTULO III
Prova material prpria e imprpria
Vimos j como a prova material aquela que na materiali-
dade das suas formas se apresenta directa percepo do juiz; e
como esta prova pode ter por base tanto uma materialidade
transitria produzida em juzo, como uma materialidade perma-
nente produzida fora do juzo; e dividimos por isso a prova mate-
rial em transitria e permanente, observando como esta deve ser
mais importante que aquela.
662 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Agora, a propsito destas mesmas materialidades permanen-
tes, produzidas fora do juzo, e que, ao primeiro aspecto, poderia
parecer serem sempre objecto da percepo directa do juiz dos
debates, necessrio fazer algumas consideraes.
Em primeiro lugar, a sua permanncia no sempre de
natureza a poder durar at poca do julgamento; e nem sem-
pre, por isso, estas materialidades se apresentam directa per-
cepo do juiz dos debates. Por exemplo, os vestgios pouco acen-
tuados de violncia, que ficaram na pessoa, so por natureza
destinados a desaparecer passado um certo prazo mais ou menos
curto, no podendo, assim, continuar a ser objecto da verificao
directa em juzo.
Em segundo lugar, as mesmas materialidades permanentes,
que se conservam inalterveis at data do julgamento, nem
sempre so de natureza a poderem submeter-se directa per-
cepo do juiz nos debates pblicos. H razes fsicas, ou morais,
que a isso se opem: poder acaso transportar-se para juzo o
palcio incendiado? Poder acaso, nos debates, submeter-se
directa e pblica verificao do juiz o corpo de uma mulher estu-
prada?
Em terceiro lagar, estas mesmas materialidades que persis-
tem, e que pela sua natureza so apresentveis em juzo, no
tiram a sua importncia probatria seno das condies do tempo,
do lugar e do modo como se encontram; o ambiente, direi
assim, em que se colhe a materialidade, que d importncia e
especialidade probatria; e ste ambiente, estas condies de
tempo, de lugar e de modo, so destinadas a desaparecer, sub-
traindo-se, assim, percepo directa do juiz dos debates.
Por tdas estas razes, considerou-se em primeiro lugar que,
se por prova material se devsse entender simplesmente a que
submetida a percepo directa do juiz que julga tda a causa em
julgamento pblico, seriam bem poucas as provas materiais que
se apresentariam em juzo penal, e essas poucas perderiam a sua
importncia, quando as condies do tempo, do lugar e do modo
como se encontram, no fssem igualmente percebidas directa-
mente pelo juiz dos debates, constituindo antes objecto da obser-
A Lgica das Provas em Matria Criminal
663
vaao directa de outro oficial de justia, que pode proceder s -
verificaes em tempo mais prximo do crime. Considerou-se, por
outro lado, que o oficial de justia, encarregado pela lei da ins-
truo, quer pelos grandes requisitos subjectivos da credibilidade
a le inerentes, quer pelas formalidades protectoras da verdade
com que obrigado a proceder s suas investigaes, oferece uma
garantia de veracidade que coloca o seu testemunho oficial acima
de todos os outros, chegando mesmo a fazer que le deixe de ser
considerado como um testemunho. Estas consideraes levaram
por isso a uma fico jurdica: as afirmaes tstemunhais do juiz
instrutor consideram-se como equivalentes s verificaes
judicirias do prprio juiz dos debates; os protocolos de investi-
gao do primeiro, tomam o valor de provas materiais quanto ao
segundo.
Atendendo a esta fico jurdica, a noo da prova material
alargar-se naturalmente: prova material tanto a que se submete
realmente directa percepo do juiz dos debates, como a que
verificada pelo juiz instrutor nos seus autos de inspeco.
Temos, assim, duas espcies de prova material: prova mate-
rial prpria, a que tem lugar pelo exame judicial; prova material
por fico jurdica, a que tem lugar pela constatao qusi--
judicial
1
.
Para clareza de mtodo, daremos uma vista de olhos em
particular sbre cada uma destas espcies.
1
Constatar: eis uma palavra que temos empregado freqentemente,
que no recebeu o baptismo dos sacerdotes da lngua. Os dicionrios, que
existem, na sua maioria, no se dignaram designar ste vocbulo, nem sequer
para o reprovarem-; todo o pequeno dicionrio, mesmo o mais humilde, con-
tem-no, acusando-o de falta de elegncia, em seguida a ter, quanto a mim,
falseado a sua significao: atribui-se ao verbo constatar o sentido de veri-
ficar; e isto inexactssimo.
Constatar no , quanto a mim, seno verificar a coisa no estado que
ela apresenta, uma verificao da coisa por meio da sua inspeco, em um
J sentido largussimo. Nste sentido, constatar e constatao so
palavras necessrias nossa linguagem, no havendo nela coisa alguma
equivalnte-Mesmo a palavra inspeco tem prpriamente um sentido
mais limitado.
664 A Lgica das Provas em Matria Criminal
TTULO I DO CAPTULO III
Prova material prpriamente dita: exame judicial
Sempre que se trate de determinar a espcie formal a que
uma prova pertence, necessrio, j o dissemos mais de uma
vez, consider-la relativamente conscincia do juiz que julga
plenamente nos debates pblicos. Ora, sob ste ponto de vista,
no h outra prova material seno a que na materialidade das
suas formas directamente percebida em juzo pelo dito juiz;
no h outra prova material seno a que submetida directa
verificao judicial. Tudo o que materialmente percebido fora
do juzo, ser prova material para quem o percebe, mas no j
para o juiz dos debates, a quem simplesmente afirmado pelas
pessoas. Ainda que seja o prprio juiz instrutor da causa quem
teve a percepo directa da coisa material, e a tenha verificado
com tdas as garantias e solenidades possveis, nem por isso deixar
de ser verdade que as suas verificaes, consagradas em um auto,
no sero para o juiz dos debates mais do que uma prova pessoa],
prova pessoal superior se assim o querem, mas sempre prova
pessoal. Era necessria uma fico jurdica afim de que o que
prova material, quanto ao juiz instrutor, se considerasse como tal
tambm quanto ao juiz dos debates, e a verificao qusi-judicial se
tomasse assim como equivalente da constatao judicial.
Mas, qualquer que seja a fra desta fico jurdica, ela
nunca chegar a destruir a superioridade probatria da prova
material prpriamente dita, sbre a prova material imprpria-
mente dita. Tem sempre mais valor e melhor perceber directa-
no podendo significar prpriamente mais do que aquela constatao qne-
tem lugar pela viso das coisas. J o disse mais vezes, no tenho escrpulos
no uso das palavras, quando aproveitam clareza e preciso das ideias, e
por isso tenho empregado mais de uma vez no curso dste livro, e continuo
a empregar, as palavras constatar e constatao.
A Lgica das Provas em Matria Criminal
665
ITULO II DO CAPITULO III
Prova material por fico jurdica: verificao quasi-judicial
As frequentes dificuldades a par vezes a
impossibilidade de obtar a prova material prpriamente
dita, tem feito, j a disse-mos anteriormente, aoeitar como
prova material a que realmente o no ; tem feita considerar
como constataes do juiz dos deba-tes, ai varificaes do
juiz instrutor, que se encontram consagradas em um auto
especial. Esta fico jurdica, que alarga a noo da prova
material, encontra a sua legitimidade na superioridade
probatria que tem o testemunho oficiai, e, sbre qualquer
outra, testemunho oficial do juiz instrutor, sbre o
testemunho ordinrio.
666 A Lgica das Provas em Matria Criminal
A superioridade do testemunho oficial, como vimos em outra
parte, depende da maior fra de presuno de verdade que assiste
tstemunha oficia], e das solenidades protectoras da verdade
que acompanham a sua afirmao. necessrio repetir aqui estas
razes de superioridade do testemunho oficial.
A presuno de veracidade, como sabemos, uma presuno
complexa: encerra em si a presuno de que a tstemunha se no
engana, e a outra de que no quer enganar. Examinemos cada
ma destas presunes particulares relativamente ao testemunho
oficial.
A pessoa revestida da qualidade de oficial pblico no
sempre uma tstemunha oficial para todos os factos que caem
sob a sua observao; uma tstemunha oficial nicamente
quanto aos factos que a sua qualidade de oficial pblico lhe d
competncia para constatar. Entendido assim, dentro dstes limi-
tes, o testemunho oficial, compreende-se fcilmente a sua supe-
rioridade. O Estado sabendo que a qualidade de oficial pblico
invste uma pessoa de uma competncia particular para a cons-
tatao de certos factos, no pode lgicamente revestir dessa
qualidade quem no apresenta capacidade intelectual e sensria
suficiente para a percepo dos factos que chamado a consta-
tar. A qualidade de oficial pblico, em quem depe sbre matria
da sua competncia, pressupe, pois, os requisitos subjectivos da
capacidade intelectual e sensria, requisitos que no h igual
razo para se supr existirem na tstemunha Ordinria. Acresce
a isto que a tstemunha oficial que sabe ter a obrigao de veri-
ficar certos factos, aplica na sua observao maior ateno que
qualquer outra tstemunha; no deixa passar particularidade
alguma daquelas que podem fcilmente escapar a uma tstemunha
chamada ao acaso; e, sabendo a gravidade dos depoimentos que
ser chamada a fazer, empregar todos os seus esfros para no
car em rro. claro, portanto, o motivo por que a presuno de
capacidade intelectual e sensria mais forte quanto tstemunha
oficial que quanto ordinria.
A Lgica das Provas em Matria Criminal 667
Examinemos agora a capacidade moral. Poder-se-ia, em
primeiro lugar, observar que o Estado tem intersse em possuir
oficiais pblicos que cumpram o seu dever; e como no por
certo a improbidade que torna o individuo escrupuloso no cum-
primento dos seus deveres, por isso o critrio moral que falando
lgica e geralmente, guia o Estado na nomeao dos oficiais
pblicos o da probidade, Segue-se daqui que a qualidade de
oficial pblico, conferida a um cidado, faz pressupr nle, em
regra geral, a probidade pessoal. Mas ponhamos de parte ste
argumento, que, comquauto geralmente verdadeiro, poderia ter
muitas excepes em um regime particular, e que poderia, alm
disso, s ser considerado bom por quem, em qualquer regime, por
paixo poltica, v negro tudo quanto provm do alto, parecendo-
lhe rosado tudo o que vem de baixo.
Deixando, pois, de parte o argumento precedente, outro h
lgicamente irrefutvel, a que nos convem atender. Porque que
se pensa que em regra geral a tstemunha no quer enganar?
Devido quele sentimento moral que, mais ou menos eficazmente,
vive em tdas as conscincias, sentimento moral que se ope
mentira e favorvel verdade. ste sentimento moral existe em
tdas as conscincias, na das tstemunhas ordinrias, como na
das tstemunhas oficiais, e oferece um argumento para presumir
que no querem enganar tanto umas como as outras. Mas quanto
s tstemunhas oficiais h ainda mais alguma coisa. Ao
sentimento moral genrico, que inspira a verdade relativamente a
todos os testemunhos, vem juntar-se o sentimento especial de um
dever particular que deriva da prpria qualidade; ao sentimento de
responsabilidade, comum a tdas as tstemunhas, vem juntar-se o
sentimento particular de uma responsabilidade particular e mais
grave, derivado do prprio ofcio. Ora, como os estmulos para a
verdade so maiores na conscincia da tstemunha oficial, que na
da tstemunha ordinria, a presuno de no querer enganar deve
ser mais forte para a primeira que para a
segunda.
Concluindo, a maior fra de cada uma das presunes
componentes, faz concluir pela maior fra da resultante, presun-
668 A Lgica das Provas em Matria Criminal
o complexa de veracidade a favor do testemunho oficial sbre
o testemunho ordinrio.
Mas necessrio no esquecer, sempre qne se fala da pre-
suno mais forte da veracidade respeitante em regra geral ao
oficial pblico, que ste no tem direito a ela seno pelo que.
respeita sua competncia, e dentro dos limites dela.
S, portanto, atendendo a isto, quando se trata de verifica-
es de grave importncia para o julgamento criminal, a lei deve
confiar a sua competncia determinada e particular a oficiais
superiores, e no a subalternos, pois que os primeiros, melhor
que os segundos, sabendo compreender a importncia das verifi-
caes a que procedem, e tendo em mais alta considerao o
sentimento do prprio dever, lgico que inspirem maior con-
fiana. E smente quanto s verificaes materiais desempe-
nhadas por oficiais superiores, que pode ter fra a fico juri-
dica, que as faz considerar como tendo sido desempenhadas pelo
prprio juiz dos debates.
E para que estas verificaes, qusi-judiciais, sejam eleva-
das at ao valor de verificaes judiciais, no basta que sejam
desempenhadas por oficiais superiores; necessrio, alm disso,
que a lei prescreva formalidades protectoras da verdade, com
qne estas verificaes devem ser efectuadas. arte criminal
aconselha, por isso, a interveno de tstemunhas nas verifica-
es de maior importncia. A arte criminal aconselha tambm,
por isso, que se crie, ao escrivo que redige os autos, uma posi-
o independente e livre, de forma a tornar possvel negar-se a
exercer o seu ministrio qnanto a um depoimento infiel e falso,
que se pretendsse impor por parte do juiz: todo o auto de veri-
ficaes seria, assim, exarado sob a dupla f do escrivo e do
juiz, alm de o ser sob a das outras tstemunhas que se julgasse
conveniente fazer intervir. Na prtica judiciria, ao contrrio, o
escrivo no mais do que um instrumento humilde e passivo
nas mos do instrutor; uma espcie do mquina de escrever.
A arte criminal aconselha tambm, quando j exista um acusado,
que ste assista tambm s verificaes materiais a que se pro-
cede, afim de se obterem informaes sbre o estado das coisas:
A Lgica das Provas em Matria Criminal 669
a interveno do acusado, sempre til quando se procede a
investigaes materiais, , pois, necessria em determinados
casos, como quando os objectos devam ser reconhecidos por le.
smente com a garantia da confiana na competncia de
oficiais superiores, e com a garantia de solenidades protectoras da
verdade, impostas tambm a les, que se justifica a fico
jurdica, segundo a qual as verificaes qusi-judiciais atingem o
valor das judiciais.
Ainda que se trate da verificao de um corpo de delito da
primeira espcie, isto , daquele facto material sem o qual o delito
no poderia existir no todo ou em parte; pois bem, mesmo nste
caso compreende-se como, nas condies supracitadas, a verificao
qusi-judicial possa tomar o lugar da judicial, e como possa
considerar-se adquirida, como uma prova material, pelo juiz dos
debates, a que no prova material seno relativamente ao juiz
instrutor. Se lgico temer que tstemunhas ordinrias, ou
tstemunhas oficiais de ordem subalterna, por incapacidade, por
falta de alterao, por leviandade, tomem por corpo de delito o
que o no era, essas dvidas j se no justificam em face de um
oficial superior da policia judicial, que proceda verificao, como
a um grave dever do oficio. O juiz instrutor que, pelos poderes
que lhe so conferidos pelas leis, procede a uma investigao to
importante, procede a ela com tda a ponderao possvel. A
capacidade jurdica especial, presuposta pelo seu ofcio, rene
todos os esfros e todos os cuidados de uma tstemunha que
sabe dever necessriamente dar conta do que diz ter verificado.
Tem conhecimento de tda a importncia da verificao a que
procede, e por isso no despreza alguma daquelas particularidades
importantes que podem escapar a uma tstemunha ordinria, ou a
um oficial de ordem inferior. Acrescente-se a isto, que ela no
vem depor sbre a matria das suas observaes, passados meses
e anos, de forma a tornar possvel o esquecimento ou a interveno
da imaginao relativamente ao que refere; no, ela redige o auto
imediatamente no prprio local das observaes. Acrescente-se,
tambm, que a f nela se vai
670 A Lgica das Provas em Matria Criminal
juntar f no escrivo, que, ao redigir e assinar os autos, atesta,
juntamente com o juiz, a verdade do seu contedo. Acrescente-se
ainda a interveno de peritos, tratando-se de matrias que
requeiram uma capacidade de observao especial. Acrescen-
tem-se, finalmente, tdas as garantias ulteriores que a arte cri-
minal pode aconselhar e a lei adoptar para estas verificaes;
como a interveno de um certo nmero de tstemunhas estra-
nhas. E atendendo a tudo isto, parecer claro o motivo por que,
mesmo quanto verificao do corpo de delito da primeira esp-
cie, as investigaes materiais por parte do juiz instrutor, que
chamamos qusi-judiciais, se julgam capazes de substituir as
verificaes judiciais prpriamente ditas, que so as que teem
lugar em juzo por parte do juiz dos debates.
Mas emquanto a ste corpo de delito da primeira espcie,
a necessidade da existncia de cuja prova material demonstra-
mos, necessrio contudo observar que a verificao qusi-judi-
cial no pode tomar o lugar da verificao judicial prpriamente
dita, te no quando ste corpo de delito, em particular, no
susceptvel de ser apresentado em juzo. Se le susceptvel de
ser apresentado em juzo, compreende-se, ento, que do momento
em que o juiz instrutor consegue verific-lo, deve acautel-lo afim
de ser apresentado percepo directa do juiz dos debates, pro-
vendo, assim, a melhor produo das provas, que uma obriga-
o que no deve absolutamente esquecer-se em uma matria to
importante. Eis porque afirmamos em outro lugar, e tornamos
aqui a afirmar, que, emquanto ao corpo de delito apresentvel
em juzo, nem mesmo o testemunho oficial do juiz instrutor pode
ser reputado prova suficiente, quando no haja uma razo que
explique o seu desaparecimento.
Mas quais os casos em que o juiz instrutor procede s suas
verificaes materiais? Em todos os casos em que o delito faa
supr a possibilidade da existncia de vestgios materiais sus-
ceptveis de serem observados.
Tomam, por isso, o primeiro lugar as verificaes do cprpo
de delito nas suas vrias espcies.
Emquanto ao facto material, em que se concretiza a con-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 671
sumao do crime, todos compreendem a grandssima importn-
cia da soa verificao.
Dado um caso de homicdio, o juiz instrutor deve, o mais
depressa possvel, proceder ao exame do cadver. E procedendo a
isso juntamente com os peritos, as verificaes dstes no o
dispensaro das suas investigaes pessoais. le, porm, chamando
a ateno dos peritos para tdas aquelas circunstncias materiais
que podem ter importncia para o julgamento, e que requerem a
observao de peritos, deve fix-las, em seguida, distintamente
por conta prpria: a verificao material do juiz concordando
com o exame dos peritos, adquirir um valor probatrio decisivo.
O juiz instrutor verificar as circunstncias de tempo, de lugar e
de modo em que o cadver se encontrou: coisa que da mxima
importncia, quando se trata de verificar a causa da morte, inves-
tigando se esta se pode atribuir a um incidente natural, ou
imprudncia do defunto, ou ento se deve atribuir-se a uma aco
criminosa.
Atendendo, pois, espcie particular a que o homicdio per-
tence, o juiz instrutor dar uma orientao particular s suas
verificaes. Assim, no caso de infanticdio, ser importante veri-
ficar o estado dos lugares em que se deu o parto, os vestgios do
parto recente, assim como as circunstncias que podem ter
determinado ou acelerado a morte do recm-nascido. No caso de
envenenamento, alm da descrio do cadver, necessrio veri-
ficar e assegurar as substncias derramadas pelo defunto, os re-
sduos de comidas, de medicamentos, de bebidas, assim como
todos os recipientes que tenham contido ps medicinais ou outras
substncias. Tdas estas coisas devem conservar-se para as an-
lises subsequentes dos peritos.
Em caso de violncia fsica, ser importante proceder ao
exame do corpo da pessoa ofendida, assim como ao da pessoa do
argido.
No caso de fabrico de moeda falsa, a verificao material do
juiz instrutor dirigir-se h a investigar e certificar-se da existncia
da moeda falsa, assim como dos instrumentos e mate-riais para o
seu fabrico.
672 A Lgica das Provas em Matria Criminal
No caso de incndio voluntrio, o exame da coisa incen-
diada serve para determinar a extenso do dano, o local de onde
o fogo ateou e a matria inflamvel empregada.
E assim por diante.
To importante como a materialidade em que se concretiza
ssencialmente a consumao do delito, ser verificar a materia-
lidade passiva em que se concretiza o meio passivo criminoso,
quando se queira pr a cargo do acusado. Assim, por exemplo,
o arrombamento, que se diz ter acompanhado o furto.
Ainda mesmo quando se trate de um facto criminoso ou de
um meio passivo, no caso do seu eventual desaparecimento, ser
da mxima importncia, em vista do que dissemos falando do
corpo de delito, constatar, ao mesmo tempo, tudo o que ste
desaparecimento pode explicar.
O juiz no desprezar alm disso a verificao, quando pos-
svel, dos vestgios eventuais e permanentes que constituem a
segunda espcie do corpo de delito. Assim, os sinais que ficaram
sbre os vestidos nos atentados contra as pessoas e nos estupros;
assim, os vestgios deixados sbre as coisas circunstantes na
consumao do delito, como mveis partidos nas violncias pes-
soais, como pgadas nas violncias pessoais, no farto e em outros
crimes, como roupas do acusado junto do lugar da consumao,
e roupas da vtima junto do acusado ou em sua casa.
O juiz instrutor apressar-se h, alm disso, a proceder ao
exame daqules factos materiais que encarnam o desenrolar-se
da aco criminosa, factos que s podem ser verificados proce-
dendo-se rpidamente ou de surprsa. Assim, no caso em que o
juiz queira verificar pessoalmente a continuao da deteno da
pessoa, no crcere privado em geral.
E tambm ser importante proceder verificao das mate-
rialidades que foram instrumento activo do delito, como do
punhal que feriu, da corda que estrangulou, da escada ou da
chave falsa que serviram para o furto.
Mas, se da maior importncia verificar tdas aquelas ma-
terialidades que, pela sua imediata ligao com a consumao
criminosa, constituem o corpo de delito, no deixar porm de
A Lgica das Provas em Matria Criminal 673
ter importncia a verificao das materialidades, que, comquanto
no constituam o corpo de delito, teem contado a fra de factos
indicativos qnanto ao delito ou quanto ao acusado. O juiz
instrutor procurar conseguintemente verificar tambm estas ma-
terialidades, quando lhe seja possvel.
As verificaes materiais prestam finalmente os seus servi-
os tambm para a simples avaliao das provas; funcionaro
como provas, corroborantes ou infirmativas. A tstemuha diz ter
visto, pelo buraco de uma fechadura, o que se passava em um
quarto fechado; diz ter ouvido, estando em um dado lugar, o que
se dizia algures: pois bem, a vistoria no local determinar se ser
possvel ver ou ouvir naquelas condies. O acusado afirma ter
ferido, saindo de um esconderijo; o acusado afirma no ser
possvel o seu tiro ter morto Ticio, porquanto, do local em que se
achava, devido a obstculos que se interpunham, no podia
atingir Ticio: pois bem, as investigaes materiais, feitas no
prprio local, demonstraro se aquela confisso e esta desculpa
merecem f.
E basta quanto aos objectos da verificao.
Do exame da natureza e do fim da verificao judicial deri-
vam, pois, as regras para o modo como deve seguir-se nelas.
conveniente mencionar as mais importantes.
Em primeiro lugar, em vista do que dissemos anteriormente,
para que as verificaes qusi-judiciais se considerem equivalentes
s judiciais, necessrio que tenham sido efectuadas
pessoalmente pelo juiz instrutor competente. Se, ao contrrio,
um oficial auxiliar, de ordem inferior, que procedeu s investi-
gaes, ento elas no podem chamar-se qusi-judiciais, e teem
nicamente o valor de simples testemunhos, ainda quando oficiais.
Em segando lugar o juiz instrutor deve proceder s verifi-
caes o mais depressa possvel, para poder observar as coisas
antes de sofrerem alteraes. E sendo necessrio o exame de
peritos, se stes no procedem simultneamente com o juiz, ste
far guardar os lugares e as coisas que teem de ser examinadas,
afim de se no produzirem alteraes, que faam com que as coi-
sas se apresentem aos peritos de modo diverso.
674 A Lgica das Provas em Matria Criminal
Em terceiro lugar, sendo importante verificar no s as ma-
terialidades constitutivas do corpo de delito, mas tambm qual-
quer outra coisa que mesmo de longe possa esclarecer sbre o
delito e sbre o delinqente, o juiz instrutor apurar a vista
para no desprezar coisa alguma daquelas que podem ser teis-
descoberta da verdade.
Em quarto lugar, depois de proceder s suas investigaes,.
devem elas ser reduzidas imediatamente a auto, sbre o prprio
lugar da observao, afim de que a imaginao no trabalhe em
preencher as lacunas deixadas pela infidelidade da memria.
Finalmente, devendo o auto de investigao funcionar como-
prova material relativamente as coisas que se no podem verifi-
car directamente pelo juiz dos debates, deve le ser da mxima
clareza e preciso. Ele deve, tanto quanto possvel reproduzir,
como uma fotografia, as coisas verificadas, com as suas respecti-
vas designaes de lugar, de modo e de tempo; e por isso ser
conveniente que as plantas e os desenhos, que se julguem teis
para esclarecer o estado do modo e do lugar das coisas, ser
bom serem traadas por mo de perito.
observaudo estas regras, e tdas aquelas que a arte cri-
minal aconselha e que a lei pode adoptar, como a interveno
de tstemunhas estranhas, como a interveno do acusado, quando
j existe um acusado ao tempo das verificaes; observando
tudo isto que a presuno de veracidade das investigaes qusi--
judiciais, as eleva altura de judiciais.
Mas, comquauto seja elevada a presuno de veracidade das
verificaes qusi-judiciais, necessrio, contudo, no esquecer
que ela no deixa de ser nada mais do que uma simples presun-
o, que perde tda a sua eficcia em face da verificao de
realidade contrria, e que perde grande parte da sua eficcia em
face dos factos verificados que so o fundamento de poderosas
presunes em contrrio.
Podem tambm resultar contra o juiz motivos tais de descr-
dito que lhe tirem tda a f, ou pelo menos, grande parte dela.
O juiz instrutor que se mostrasse corrompido, poderia acaso
merecer f? O juiz instrutor que, comquanto probo, se mostasse
A Lgica das Provas em Matria Criminal 675
amigo ntimo, e qusi irmo do acusado, ou um seu inimigo
desapiedado, poderia vencer tda a razo da suspeita? O juiz
instrutor, em favor de quem podsse reverter um crdito, ou em
cujo prejuzo podsse reverter um dbito, como conseqncia da
sua sentena, poder acaso tomar-se, no obstante isso, como
seguramente imparcial?
Repetimos, a presuno de veracidade das verificaes qusi--
judiciais, comquanto elevada, no ser mais do que uma pre-
suno juris tantum, contra a qual ser sempre lcito provar s
partes interessadas. Poder sempre provar-se que a identidade
dos objectos a verificar no foi bem determinada; poder sempre
provar-se ter o juiz inserido no auto, como prprias, observaes
colhidas por outrem; poder sempre provar-se no ter o escrivo
observado coisa alguma pessoalmente, e no ter feito seno escre-
ver passivamente o que o juiz lhe ditava, afirmando, assim, como
prprias, as observaes nicas do juiz. Todos veem que em todos
stes casos seria absurdo pretender prestar f ao auto de investi-
gao. Poder, alm disso, sempre provar-se que um auto foi
redigido em tempo e lugar diverso do das observaes; coisa que
diminuiria sempre a sua f, mais ou menos, segundo a distncia
do tempo da redaco, ao da observao, e segundo os diversos
critrios adoptados pelas legislaes especiais.
CAPTULO IV Avaliao
concreta da prova material
Para a avaliao concreta do testemunho e do documento,
deixamo-nos guiar por trs espcies de critrios: critrios objec-ti
vos, critrios subjectivos e critrios formais. E vimos que stes
critrios so bem distintos entre ai, porquanto em tda a afirma-
o pessoal se distinguem perfeitamente a pessoa que afirma, a
forma por que afirma e coisa que afirma. Dar-se h o mesmo
quanto prova material?
Se na prova material atendemos em particular ao contedo,
676 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ste apresenta-se em geral distinto do que constitui o seu sujeito
e a sua forma: Tambm quanto prova material, em suma, o
que se prova no a mesma coisa do que a prova. Isto evi-
dente quanto prova material indirecta: consistindo esta em
uma coisa diversa do delito, a qual serve para provar o delito,
segue-se que prova e coisa provada so duas coisas material-
mente distintas entre si. Relativamente, pois, prova material
directa, se verdade que, emquanto esta prpriamente directa,
prova e coisa provada se coufundem na evidncia da verdade
directamente percebida, necessrio muitas vezes uma observa-
o cuidada e raciocinada, que, excluindo tdas as hipteses no
criminosas, a faa tomar como tal. necessrio alm disso,
observar que a verdade que se procura no julgamento penal, no
se revelando, na materialidade directamente percebida, se no
em parte,' se esta parte, emquanto a si mesma, a prpria evi-
dncia da verdade, e oonseguintemente ao mesmo tempo prova
e coisa provada; emquanto, pois, s outras partes da verdade,
no percebidas em si mesmas, funciona como prova de uma coisa
provada realmente distinta. quela mesma parte da verdade, em
snma, que se apresenta imediatamente percepo emquanto a
si mesma, serve para provar outras partes, no perceptveis
directamente, da verdade que se procura verificar, e estas outras
partes so, assim, uma coisa provada que diversa da coisa que
a prova: recai-se na prova indirecta, e na conseqente distino
entre prova e coisa provada.
Conclumos de tudo isto, que na avaliao da prova mate-
rial, para apresentar o seu contedo, so necessrios critrios
particulares, diversos dos que respeitam ao sujeito e forma; e
stes critrios particulares so os mesmos que expozemos na ter-
ceira parte dste livro, falando de prova directa e indirecta. No
necessrio repeti-los.
Se do contedo passamos a examinar o sujeito e a forma da
afirmao, vemos, ao contrrio, que na prova material o primeiro
no se distingue da segunda, como se distingue no testemunho e
no documento. E claro, no testemunho e no documento, que
so provas pessoais, a pessoa que afirma sempre coisa diversa
Lgica das Provas em Matria Criminal 677
da sua afirmao formal Mas na prova material o sujeito e a
forma confundem-se, porquanto a coisa material s se individua-
liza nas mesmas formas materiais com que aparece: a vida da
coisa material est tda nas formas materiais da sua existncia. E
por isso, ao avaliar a prova material, o sujeito e a forma da
afirmao no devem ser considerados por meio de critrios par-
ticulares, mas sim com critrios comuns.
Na investigao, pois, dstes critrios comuns que servem
ao mesmo tempo para avaliar o sujeito e a forma da prova ma-
terial, necessrio partir dos motivos genricos de credibilidade
que apresenta em si o que chamarei, pois que sujeito e forma no
so mais do que uma o mesma coisa, sujeito formal da prova
material.
Dissemos que como a veracidade humana, inspirando f na
afirmao pessoal, a vai procurar e recolher como prova pessoal,
nas duas espcies formais do testemunho e do documento, assim
tambm a presuno da veracidade das coisas, inspirando f na
afirmao de coisa, a vai procurar e recolher como prova real,
exteriorizando se na nica espcie formal de que 4 capaz, e que
constitui a prova material. Vemos conseguintemente que o fun-
damento da credibilidade genrica da prova material a presuno
da veracidade das coisas.
Esta presuno de veracidade das coisas, como ainda o vamos
ver, uma presuno complexa, derivada da reunio de duas
presunes menores: presuno de identidade intrnseca, pela
qual se supe que a coisa realmente em si mesma o que parece
ser; presuno de identidade extrnseca, pela qual se supe em
primeiro lugar que a coisa que pelas suas manifestaes parece
ser pertencente a uma dada pessoa, em um dado tempo e lugar,
justamente essa, e no outra que se lhe assemelha; e supe-se em
segundo lugar que as modificaes que as coisas apresentam foram
produzidas naturalmente, e no introduzidas por obra maliciosa
do homem, destinada a enganar.
Ora, para avaliar subjectivamente a prova material, neces-
srio examinar se estas presunes menores, que somadas cons-
tituem a presuno genrica maior da veracidade da* coisas, sio
678 A Lgica das Provas em Matria Criminal
ou no contestadas pelas condies concretas da coisa material,
que chamada a funcionar como prova: necessrio, por outros
trmos, estabelecer em concreto a identidade externa, e a identi-
dade interna da coisa probatria, para se poder afirmar em con-
creto a veracidade.
Emquanto identidade interna o trabalho torna-se mais fcil;
determina-se por meio da observao directa, recorrendo ins-
peco de peritos sempre que a percepo comum no possa emitir
pareceres seguros. Quando um p, que parece venenoso,
apresentado como tal em juzo, bastar o seu exame cuidado e
por meio de peritos para se verificar se existe ou no em reali-
dade um p venenoso ou inofensivo. quilo que tem tdas as
aparncias de uma bengala, supe-se ser uma bengala; e em
concreto bastar o seu exame atento, para demonstrar que
prpria e realmente uma bengala, e no uma arma explosiva,
com a aparncia de bengala.
No , ao contrrio, igualmente fcil, quando necessrio,
estabelecer o que chamamos identidade extrnseca, ou genuini-
dade das coisas.
A genuinidade das coisas tem, repetimo-lo, um duplo con-
tedo. Consiste, em primeiro lugar, na certeza de que a coisa,
que se julga ter tido uma dada relao de pertinncia com uma
dada pessoa, um dado lugar e um dado tempo, seja prpriamente
a que na realidade teve essa relao. Consiste em segando lugar
na certeza de que a coisa no foi falsificada.
Todos veem as dificuldades, quando necessria, da primeira
investigao, isto , da investigao da pertinncia de uma coisa
a uma dada pessoa, em um dado tempo e em um dado lugar.
Uma coisa, que pelas suas determinaes distintivas parece ser
a de Ticio, nem sempre a mesma, sendo difcil existirem em
uma dada coisa determinaes individuais que a distingam clara
e seguramente das outras coisas congneres. E depois, mesmo
para existirem estas determinaes capazes de assegurarem que
a coisa que se percebe prpriamente a de Ticio, difcil sem-
pre obter informaes seguras destas determinaes, relativamente
ao tempo em que a coisa era possuda por Ticio: a simples per-
A Lgica das Provas em Matria Criminal 679
cepo directa servir para estabelecer como a coisa se apresenta
em juzo mas ser necessrio proceder a investigaes, nem
sempre fceis para estabelecer como era prpriamente a coisa
possuda por Ticio; e para isso teremos que recorrer s afirma-
es das pessoas que perceberam a coisa quando se achava em
poder de Ticio.
Emquanto, pois, investigao sbre se as modificaes
inerentes a coisa material foram on no produzidas por obra
maldosa do homem destinada a enganar, quando seja necessria
uma tal investigao todos compreendem tambm as suas gran-
des dificuldades.
As coisas materiais, devido sua natureza passiva, acham-se
normalmente sujeitas s modificaes que lhe so impressas por
outras coisas ou pelas pessoas, e precisamente por issso que as
coisas podem funcionar como prova. Tdas estas modificaes
normais, que no so produzidas no intuito de uma falsa afirma-
o, no alteram a genuinidade da coisa, e no devem ser, por-
tanto, examinadas pela avaliao subjectiva. Elas entram no
estudo objectivo da prova material, porque com o estudo objec-
tivo da prova material, com o estudo do seu contedo, que deve
examinar-se se as modificaes aparentes das coisas se acham ou
no ligadas ao delito, e podem on no servir para a sua verifi-
cao. s coisas, subjectivamente, por si mesmas, nunca mentem
; a voz das coisas, que se concretiza nas determinaes formais de
modo, de lugar e de tempo, nunca pode ser falsa por si mesma.
Smente, pelo facto das coisas serem polvocas, que nem
sempre se compreende qual a voz que, emanando da
genuinidade das coisas, corresponde verdade: e a determinao
disto, confiada justamente avaliao objectiva da prova
material.
Mas se as coisas no podem ser falsas s por si, podem
contudo ser falsificadas por obra do homem, que pode malicio-
samente imprimir-lhes uma alterao enganadora, naquelas deter-
minaes de lugar, de tempo ou de modo, que constituem a
subjectividade formal da prova material; e investigar se a coisa
foi on no falsificada pertence avaliao subjectiva, emquanto
680 A Lgica das Provas em Matria Criminal
tende a estabelecer a credibilidade subjectiva da coisa probatria,
isto , a estabelecer se a coisa material se apresenta com a mis-
so subjectiva de provar a verdade que deriva da natureza, oa
se foi, ao contrrio disso, modificada por maldade do homem de
modo a produzir uma falsa afirmao com o fim de enganar.
Antes de se examinar se a mancha de sangue, verificada sbre
um casaco encontrado em casa de Ticio, se relaciona com o delito
cometido por Ticio ou se com outra causa no criminosa, cuja
investigao consiste na avaliao objectiva dessa prova; antes
disto necessrio investigar se aquela mancha foi ou produzida
por maldade de um inimigo, ou se por precauo do verdadeiro
culpado, para induzir em rro a justia. Asssim tambm, se um
objecto furtado, ou um instrumento criminoso, se encontra em
casa de Ticio, necessrio antes de mais nada examinar se le
pode ter sido a introduzido por malvadez de um inimigo, se por
precauo do verdadeiro culpado. Estas investigaes destinadas
a esclarecer em primeiro lugar se a prova material foi ou no
falsificada, embora, pelo que temos dito, pertenam prpriamente
sua avaliao subjectiva, contudo, pela sua ndole, so tambm
emquanto servem para estabelecer a sua credibilidade subjectiva,
completamente anlogas s investigaes que se dirigem ava-
liao objectiva da prova material, apresentando iguais dificul-
dades, e tendo necessidade de iguais mtodos, para se chegar
descoberta da verdade. Da mesma forma que com a avaliao
objectiva se procura investigar-se a materialidade, que atesta, da
coisa deve referir-se ao delito, ou se deve explicar-se por meio
de hipteses naturalmente no criminosas; assim tambm, nesta
avaliao subjectiva especial deve investigar-se se a materialidade
que atesta, da coisa, deve explicar-se por meio de falsificao do
homem: investigao, esta ltima, que, quando necessria, no
menos rdua que a primeira.
Mas em geral pode dizer-se, que as investigaes difceis
para a avaliao subjectiva da prova material so necessrias
bem raras vezes; e que tem maior importncia para a prova
material a sua avaliao objectiva, que leva constantemente a
investigaes difceis. A menor importncia da avaliao subjectiva
A Lgica das Provas em Matria Criminal 681
explica-se, pois, claramente, quando se atenda a que a posse
judicial das coisas, para se fazer servir de prova, tem lagar, qusi
sempre, imediatamente em seguida ao delito, e que, pela posse
judicial imediata das coisas, se por um lado, a sua pertinncia
assegurada a uma dada pessoa, ou a um dado lugar e tempo, por outro
lado so elas subtradas facilidade de possveis falsificaes, com
as mil garantias de que costume rode--las, quando caem em
poder da justia.
CONCLUSO
0 alpinista que cubiou pr os ps sbre uma certa altura,
quando por caminho fatigante a alcanou, gosta de volver da
altura j conquistada os seus olhos para baixo, e repousar-se
contemplando o caminho percorrido: pode le ento apreciar se
aquele era o bom caminho. Ns, por isso, tendo alcanado o
trmo do nosso caminho, gostamos de nos voltar para trs, afim
de contemplar o caminho que percorremos.
Partindo do axioma jurdico, de que no h pena legtima
sem a certeza sbre o facto da delinqncia, empreendemos o
estado dessa certeza.
Consistindo a certeza em geral na posse que se cr ter
adquirido da verdade, e chegando essa posse ao esprito humano
por meio de eficcia reveladora das provas, julgamos necessrio
considerar a certeza tanto na sua natureza lgica interna, quanto
na sua fonte ontolgica. Comeamos, por isso, por estudar o que
a certeza como um estado lgico interno, analisando os varia-
dos e possveis estados de esprito relativamente ao conhecimento
da realidade; e passamos em seguida ao estudo das provas, como
geradoras daqules estados psicolgicos. Das cinco partes em que
se desdobra o livro, s a primeira se ocupa do estudo dos vrios
estudos de esprito relativamente ao conhecimento da realidade, e
em particular ao estudo da certeza; tdas as outras Fartes
referem-se, ao contrrio ao estudo da prova como fonte daqules
atados psicolgicos em geral, e da certeza em particular.
Estudando, pois, a prova, julgamos conveniente, em pri-
meiro lugar, consider-la em geral, determinando e esclarecendo
684 Concluso
aquelas verdades probatrias que se referem sua natureza
genrica.
Passamos, em seguida, ao estudo da prova nas suas espcies,
que determinamos por meio de trs critrios ssenciais sua
natureza: o critrio do objecto, o do sujeito e o da forma. Sob o
aspecto objectivo, determinamos e estudamos a prova como di-
recta e indirecta: sob o aspecto subjectivo, determinamo-la e
estudamo-la como prova real e pessoal; sob o aspecto formal,
finalmente, determinamo-la e estudamo-la como prova tstemu-
nhal, prova documental e prova material.
Eis aqui as linhas simples do nosso tratado, dentro das
quais, se nos no enganamos, tda a matria das provas encontra
a sua organizao scientfica e seu desenvolvimento lgico.
Voltando-me, pois, para trs a examinar o espao percorrido,
parece-me no ter perdido o caminho. Engano-me talvez? Seja
como fr, tendo alcanado o trmo da minha viagem, -me
agradvel pensar que te tive por companheiro, oh leitor bom e
inteligente que me seguiste at aqui: escrevendo, pareceu-me por
vexes consultar te, e ouvir as tuas opinies, os teus conselhos, e
at as tuas palavras animadoras. Como doce esta confraterni-
zao dos homens no mundo das ideias, esta troca de colquios
ntimos entre conscincias distantes, ste convvio e, direi qusi,
ste tocar-se dos espritos, sem a proximidade dos corpos!
E agora, caro leitor, em seguida a uma convivncia espiri-
tual contigo, escrevendo a ltima pgina dste livro, sinto a im-
presso de me separar de um amigo, e surge-me inesperadamente
no esprito a melancolia das despedidas.
Oh caro leitor, ser possvel no nos voltarmos a encontrar?
Permite, se te no desagrada, que em vez de nos dizermos adeus,
digamos antes: at nos tornar a encontrar.
FIM
NDICE
PAG.
DEDICATRIA...................................................................... ..........
....................................................................................5
PREFACIO ......................................................................................
.................................................................................... 7
INTRODUO................................... .. ............................................
13
PRIMEIRA PARTE
Estados de esprito relativamente ao conhecimento
da realidade
PREMBULO................................................................................... 19
CAPTULO I Certeza, sua natureza e espcies ........................... 21
CAPTULO II Certeza emquanto ao sujeita, e convencimento judi
cial ..........................................................................................
.....................................................
..................................................... 45
CAPTULO III A probabilidade em relao com a certeza ............
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................57
CAPTULO IV A credibilidade em relao certeza e probabili
dade ............................................................................................. 67
SEGUNDA PARTE
Da prova em geral
CAPTULO I Prova e regras genricas probatrias. ........................
84 CAPTULO II Classificao fundamental das
provas deduzida da
sua natureza............................................. ...................................
................................................................ ..............................
................................................................ 115
CAPTULO IHClassificao acessria das provas derivada dos seus
fins especiais................................................................................
123
CAPTULO IV O onus da prova......................................................
131
686 ndice
PG.
TERCEIRA PARTE
Diviso objectiva das provas
CAPTULO I Prova directa e indirecta ......................................... 147
CAPTULO II Prova directa em especial ....................................... 159
CAPTULO UE Prova indirecta em especial, sua natureza e classifi
cao ....................................................................................... 179
Ttulo 1.Presuno........................... ....................................... 196
Ttulo 2. Indcio........................................................................... 205
1. Indcio em geral............................................................ 205
2. Indcios particulares . . ."-T ' # . . . . . 231
Artigo 1.Indcio causal da capacidade intelectual e fsica para
delinquir......................... ..... ..................... ................................
...................................... ..........................
...................................... 232
Artigo 2.Indcio causal da capacidade moral para delinqir pela
disposio geral do esprito da pessoa ......................................... 239
Artigo 3.Indcio causal da capacidade moral para delinqir por
um impulso particular para o crime........................................... 246
Artigo 4. Indcio de efeito dos vestgios materiais do delito . . 261
Artigo 5. Indcio de efeito dos vestgios morais do delito . . . 266
CAPTULO IVProvas indirectas juris et de jure. , . 277
QUARTA PARTE
Diviso subjectiva das provas-Prova real Prova pessoal
PREMBULO............................... ... ................................................... 292
CAPTULO I Diviso subjectiva da prova em real e pessoal . . 293
CAPTULO II Presena em juzo do sujeito intrnseco da prova:
Originalidade............................................................................. 309
QUINTA PARTE
Diviso formal das provas: Prova
tstemunhalProva documentalProva material Prembulo
prospectivo da diviso formal das provas .....
326
ndice
687
PAG
. SECO PRIMEIRA
Prova tstemunhal
CAPTULO I Prova tstemunhal, sua credibilidade abstracta e
suas espcie ................................................................................ 335
CAPTULO IICarcter especfico da prova tstemunhal: Produ
o oral, sua natureza e seus limites ........ 841
CAPTULO IH Credibilidade concreta da prova tstemunhal ...... 855
Ttulo 1. Avaliao do testemunho relativamente ao sujeito...... 358
Ttulo 2. Avaliao do testemunho relativamente forma . . . 379
Ttulo 3. Avaliao do testemunho relativamente ao contedo. . 395
Ttulo 4. Valor do testemunho clssico............................................. 411
CAPTULO IV Tstemunho de terceiro............................................. 416
CAPTULO V Tstemunho do ofendido............................................. 428
CAPTULO VI Tstemunho do argido. Sua natureza e suas esp
cies. ................................................................................................. 443
Ttulo 1. Avaliao concreta do testemunho do argido .................... 448
Ttulo 2. Tstemunho do argido sbre facto prprio ..................... 468
1. Desculpa ............................................................................. 470
2. Confisso. ........ ............................................................... 482
3. Confisso qualificada e diviso.......................................... 500
Ttulo 3. Tstemunho do acusado sbre facto de outrem . . . 512
CAPTULO VIILimite probatrio derivado da qualidade de ser
nico o depoimento .................................................. ..................... 533
CAPTULO VIIILimite probatrio derivado do corpo de delito. . 551
CAPTUTO IX Limite probatrio derivado das regras civis de
prova................................................................................................ 563
CAPTULO X Tstemunho pericial. ................................................... 574
SECO SEGUNDA
Prova documental
CAPTULO I Documento: sua natureza e espcies .............................. 593
CAPTULO LTEscritos em geral, sua classificao e seu valor............. 599
CAPTULO IIIDocumentos escritos em especial ................................... . 612
CAPTULO IV Avaliao concreta dos documentos .............................. . 627
688 ndice
PAG.
SECO TERCEIRA
Prova material
CAPTULO I Prova material: saa natareza, saa credibilidade abs
tracta, e suas espcies ................................................................... 635
CAPTULO II O corpo de delito, sua natareza e suas espcies em-
quanto pode ou dere ser objecto de prova material . 645
CAPTULO III Prova material prpriamente dita e imprpriamente
dita ................................................................................... 661
Titulo I Prova material prpriamente dita: verificao judicial . 664
Titulo II Prova material por fico jurdica: verificao qusi-judi-
cial............................................................................. ................. 665
CAPLULO IVAvaliao concreta da prova material .................. 675
Concluso............................................................................................. 683
Você também pode gostar
- Argumentacao Juridica 2001Documento91 páginasArgumentacao Juridica 2001Edson100% (1)
- Sentença Goleiro BrunoDocumento5 páginasSentença Goleiro BrunoRônaldy HanzellAinda não há avaliações
- Aula 02 - Teoria Do Crime IDocumento8 páginasAula 02 - Teoria Do Crime IEmerson FernandesAinda não há avaliações
- A fabricação do direito: Um estudo de etnologia jurídicaNo EverandA fabricação do direito: Um estudo de etnologia jurídicaAinda não há avaliações
- Calabouços da miséria: uma análise crítica sobre a criminalização da pobreza no BrasilNo EverandCalabouços da miséria: uma análise crítica sobre a criminalização da pobreza no BrasilAinda não há avaliações
- Vinicius Bittencourt O CriminalistaDocumento95 páginasVinicius Bittencourt O CriminalistaKleusa Ribeiro100% (1)
- O Agente Infiltrado. O Problema Da Legitimidade No Processo Penal Do Estado de Direito e Na Experiência BrasileiraDocumento399 páginasO Agente Infiltrado. O Problema Da Legitimidade No Processo Penal Do Estado de Direito e Na Experiência BrasileiraHenriqueSantiago100% (1)
- Direito (TCC)Documento25 páginasDireito (TCC)marcieLAinda não há avaliações
- Livre Convencimento Motivado o Imperio DDocumento27 páginasLivre Convencimento Motivado o Imperio DSalah H. Khaled Jr.Ainda não há avaliações
- Limites Livre Apreciação Da Prova - Depoimento Indirecto Declaração de Co-ArguidoDocumento56 páginasLimites Livre Apreciação Da Prova - Depoimento Indirecto Declaração de Co-ArguidoeurochengAinda não há avaliações
- Perícias e Investigação CriminalDocumento85 páginasPerícias e Investigação CriminalVídeo Aulas Pmmg100% (1)
- Conceito de Prova - Leonardo GrecoDocumento57 páginasConceito de Prova - Leonardo GrecojacknitAinda não há avaliações
- Cao98131 PDFDocumento222 páginasCao98131 PDFEmanuel LopesAinda não há avaliações
- Hespanha, O Caleidoscopio Do DireitoDocumento29 páginasHespanha, O Caleidoscopio Do DireitoJoana VitorinoAinda não há avaliações
- O Caso Dos Exploradores de CavernaDocumento26 páginasO Caso Dos Exploradores de CavernaJOSIVALDO PINHEIRO CABRALAinda não há avaliações
- Edital Esquematizado para Agente Polícia FederalDocumento17 páginasEdital Esquematizado para Agente Polícia FederalRonne MacedoAinda não há avaliações
- Inadmissibilidade das provas obtidas mediante ofensa à integridade física e moral da pessoa: uma visão luso-brasileira sobre provas ilícitasNo EverandInadmissibilidade das provas obtidas mediante ofensa à integridade física e moral da pessoa: uma visão luso-brasileira sobre provas ilícitasAinda não há avaliações
- O Princípio Dispositivo em Sentido Formal e MaterialDocumento19 páginasO Princípio Dispositivo em Sentido Formal e MaterialRenato OliveiraAinda não há avaliações
- José Carlos Barbosa Moreira - Provas AtípicasDocumento10 páginasJosé Carlos Barbosa Moreira - Provas Atípicasenunes1987Ainda não há avaliações
- O Crime e A Sanção PenalDocumento23 páginasO Crime e A Sanção PenalCarlos BiasottiAinda não há avaliações
- O Tribunal Do Santo Oficio Da InquisicaoDocumento5 páginasO Tribunal Do Santo Oficio Da InquisicaoSuane SoaresAinda não há avaliações
- O Tribunal Do Santo Ofício Da Inquisição - o Suspeito É o CulpadoDocumento5 páginasO Tribunal Do Santo Ofício Da Inquisição - o Suspeito É o Culpadomaxwell246Ainda não há avaliações
- Conceito - Prova - Leonardo GrecoDocumento57 páginasConceito - Prova - Leonardo GrecoAnna Carolina Illesca de Almeida MoralesAinda não há avaliações
- OconceitodeprovaDocumento58 páginasOconceitodeprovaWanderson Freitas de CastroAinda não há avaliações
- REZENDE FILHO, Gabriel. A Reforma Processual e o Anteprojeto Do Código de Processo Civil e ComercialDocumento9 páginasREZENDE FILHO, Gabriel. A Reforma Processual e o Anteprojeto Do Código de Processo Civil e ComercialVictor SouzaAinda não há avaliações
- Processo Penal e Discriminação Da Mulher - Sec. XVI e XVIIIDocumento36 páginasProcesso Penal e Discriminação Da Mulher - Sec. XVI e XVIIIVanessa MeirelesAinda não há avaliações
- Modelo de Projeto DireitoDocumento9 páginasModelo de Projeto DireitoKarina NovaesAinda não há avaliações
- Vinicius Bittencourt O CriminalistaDocumento95 páginasVinicius Bittencourt O CriminalistaMatheus BittencourtAinda não há avaliações
- Sistemas Processuais PenaisDocumento23 páginasSistemas Processuais PenaisArsenio Augusto MachaiaAinda não há avaliações
- Artigo Crítico - Júlia Faria SoaresDocumento8 páginasArtigo Crítico - Júlia Faria SoaresJulia Faria SoaresAinda não há avaliações
- Prova Indiciária - Euclides DâmasoDocumento13 páginasProva Indiciária - Euclides DâmasoPedro G SAinda não há avaliações
- Ma Simples Verdade O Juiz E A Construção Dos Fatos Por Ichele AruffoDocumento19 páginasMa Simples Verdade O Juiz E A Construção Dos Fatos Por Ichele AruffoPaulo Henrique DamascenoAinda não há avaliações
- Modelo PetiçãoDocumento17 páginasModelo Petiçãofranjinha5Ainda não há avaliações
- Reflexões Epistêmicas Sobre o Testemunho Das Pessoas Dispensadas de Depor No Processo Penal BrasileiroDocumento18 páginasReflexões Epistêmicas Sobre o Testemunho Das Pessoas Dispensadas de Depor No Processo Penal BrasileiroLopa MLPAinda não há avaliações
- A Análise Hermenêutica No Filme Doze Homens e Uma SentençaDocumento4 páginasA Análise Hermenêutica No Filme Doze Homens e Uma SentençapaulabenagliaAinda não há avaliações
- O Criminalista Vinicius - Bittencourt - RemovedDocumento94 páginasO Criminalista Vinicius - Bittencourt - Removedpolicaro.thiagoAinda não há avaliações
- GUIMARÃES, Luiz. O Processo Oral e Seus Criticos.Documento5 páginasGUIMARÃES, Luiz. O Processo Oral e Seus Criticos.Victor SouzaAinda não há avaliações
- CP1 2023 - 2º SemestreDocumento203 páginasCP1 2023 - 2º Semestremlv.juridicoAinda não há avaliações
- Introducao TeseDocumento7 páginasIntroducao TeseCharles MartinsAinda não há avaliações
- Verdade, Certeza, Prova IiiDocumento10 páginasVerdade, Certeza, Prova IiiRafael RuizAinda não há avaliações
- A Base Argumentativa Da Decisão JudicialDocumento8 páginasA Base Argumentativa Da Decisão JudicialTiago BaptistaAinda não há avaliações
- Equidade e Justiça AjdDocumento6 páginasEquidade e Justiça AjdRafael RuizAinda não há avaliações
- COUTINHO - Jacinto-Introdução Aos Princípios Gerais Do DPPDocumento45 páginasCOUTINHO - Jacinto-Introdução Aos Princípios Gerais Do DPPGiovanni Guimarães100% (1)
- O Processo Justo o Juiz e Seus Poderes Instrutórios Na Busca Da Verdade RealDocumento22 páginasO Processo Justo o Juiz e Seus Poderes Instrutórios Na Busca Da Verdade Realdasbrandao100% (1)
- História e DireitoDocumento16 páginasHistória e DireitoAyawo NoletoAinda não há avaliações
- Texto 1Documento7 páginasTexto 1matheusphilipe.555Ainda não há avaliações
- Artigo4 - Caio Cezar de Figueiredo Paiva - CompressedDocumento18 páginasArtigo4 - Caio Cezar de Figueiredo Paiva - CompressedVanessa CerezerAinda não há avaliações
- 229645259-Defesa-Previa-falta de Justa CausaDocumento8 páginas229645259-Defesa-Previa-falta de Justa CausaFelipe AssunçãoAinda não há avaliações
- Evolução Historica Da Prova (1) - 1Documento12 páginasEvolução Historica Da Prova (1) - 1josezunguza22Ainda não há avaliações
- Recusa de DepoimentotextoDocumento184 páginasRecusa de DepoimentotextoMiguel ValeAinda não há avaliações
- Resenha - As Miserias Do Processo PenalDocumento2 páginasResenha - As Miserias Do Processo Penaljolibar100% (1)
- ARTIGO - Juiz Inquisidor Com Desejos Moralistas - ANDRE NICOLITTDocumento6 páginasARTIGO - Juiz Inquisidor Com Desejos Moralistas - ANDRE NICOLITTGersonpqdAinda não há avaliações
- Av 141023 01 Argumentar-na-DecisãoDocumento8 páginasAv 141023 01 Argumentar-na-DecisãoFernando Galvao AndreaAinda não há avaliações
- Kirchmann, A Ciência Do Direito - Traduzida e Revisada Por Lucas Da CruzDocumento42 páginasKirchmann, A Ciência Do Direito - Traduzida e Revisada Por Lucas Da CruzArthur SantosAinda não há avaliações
- CRUZ Plea Bargaining e Delacao Premiada PDFDocumento75 páginasCRUZ Plea Bargaining e Delacao Premiada PDFJaumFilipe MarquezAinda não há avaliações
- Antecedentes Criminais - Heleno FragosoDocumento0 páginaAntecedentes Criminais - Heleno Fragosojc_direitoAinda não há avaliações
- A Busca Da Verdade No Processo Penal - Uma Finalidade Inabdicável, Embora Não Única Nem Preponderante PDFDocumento126 páginasA Busca Da Verdade No Processo Penal - Uma Finalidade Inabdicável, Embora Não Única Nem Preponderante PDFCarolina FreitasAinda não há avaliações
- GINZBURG - Provas e Possibilidades - A Micro Historia e Outros EnsaiosDocumento13 páginasGINZBURG - Provas e Possibilidades - A Micro Historia e Outros EnsaiosNei FreitasAinda não há avaliações
- TCC Ii Amanda Lima Definitivo - Pós GraduaçãoDocumento33 páginasTCC Ii Amanda Lima Definitivo - Pós GraduaçãoAmanda LimaAinda não há avaliações
- OJUIZEOHISTORIADORDocumento20 páginasOJUIZEOHISTORIADORelias pereiraAinda não há avaliações
- Resenha - Misérias Do Processo PenalDocumento5 páginasResenha - Misérias Do Processo PenalRodrigoAinda não há avaliações
- HARTMANN, Érica de Oliveira. Os Sistemas de Avaliação Da Prova e o Processo Penal BrasileiroDocumento15 páginasHARTMANN, Érica de Oliveira. Os Sistemas de Avaliação Da Prova e o Processo Penal BrasileiroHenrique AtticusAinda não há avaliações
- Thomé Sabbag Neto - Juízes Criam Normas - Objeções À Tese de Que Não Há Normas Antes Da Interpretaçãi (Judicial) Da LeiDocumento277 páginasThomé Sabbag Neto - Juízes Criam Normas - Objeções À Tese de Que Não Há Normas Antes Da Interpretaçãi (Judicial) Da LeiSamuel Rodrigues BritoAinda não há avaliações
- Direito Fraterno HumanistaDocumento24 páginasDireito Fraterno HumanistaRenata AnatólioAinda não há avaliações
- Material+de+Apoio+ +Lei+de+Tortura+ +Hd+CursosDocumento22 páginasMaterial+de+Apoio+ +Lei+de+Tortura+ +Hd+CursosalexiafgeovanaAinda não há avaliações
- O Problema Da Indemonstrabilidade Do Livre-Arbítrio: A Culpabilidade Jurídico-Penal Diante Da Nova Concepção de Homem Da NeurociênciaDocumento16 páginasO Problema Da Indemonstrabilidade Do Livre-Arbítrio: A Culpabilidade Jurídico-Penal Diante Da Nova Concepção de Homem Da NeurociênciaAna LuizaAinda não há avaliações
- Contracheque 1-3-2019Documento52 páginasContracheque 1-3-2019mil 123Ainda não há avaliações
- Direito Penal Processo Penal Processo Coletivo Difusos Eca Constitucional Direito Administrativo Direito Civil e Processo Civil 21621Documento348 páginasDireito Penal Processo Penal Processo Coletivo Difusos Eca Constitucional Direito Administrativo Direito Civil e Processo Civil 21621Vivian LopesAinda não há avaliações
- A Justiça Penal Negocial Como Horizonte para Um Novo Processo Penal André Machado MayaDocumento8 páginasA Justiça Penal Negocial Como Horizonte para Um Novo Processo Penal André Machado MayaThayane Pereira AngnesAinda não há avaliações
- Direito PenalDocumento2 páginasDireito PenalRayssa LacerdaAinda não há avaliações
- 2 PBDocumento25 páginas2 PBAlcianodaGraçaAinda não há avaliações
- Peça 02 - Alegações FinaisDocumento7 páginasPeça 02 - Alegações FinaisE. NazaroAinda não há avaliações
- Subtração Ou Inutilização de Livro Ou DocumentoDocumento2 páginasSubtração Ou Inutilização de Livro Ou DocumentoAmanda DurizzoAinda não há avaliações
- Mapa Mental - Aula 1Documento3 páginasMapa Mental - Aula 1ThaissaAinda não há avaliações
- Caderno Exercicio CPIVDocumento22 páginasCaderno Exercicio CPIVAnnie Akil PedersenAinda não há avaliações
- DJ7272 - 2021 DISPONIBILIZADO Parte2Documento5 páginasDJ7272 - 2021 DISPONIBILIZADO Parte2pedro caxiadoAinda não há avaliações
- Peças PenalDocumento12 páginasPeças PenalGleicyaneAinda não há avaliações
- 4 Responsabilidade Civil Ambiental 25Documento26 páginas4 Responsabilidade Civil Ambiental 25Emilly SakuraiAinda não há avaliações
- Petição 05 - EnunciadoDocumento1 páginaPetição 05 - EnunciadoManoelLuizSilvaAinda não há avaliações
- Investigação PreliminarDocumento17 páginasInvestigação PreliminarJorge Eduardo Arruda MedeirosAinda não há avaliações
- CriminologiaDocumento4 páginasCriminologiakeilamoreiradireitoAinda não há avaliações
- 2 - Pmpi - 120 - Questões - PortuguêsDocumento67 páginas2 - Pmpi - 120 - Questões - Portuguêsfernandoribeiror_555Ainda não há avaliações
- Estado Do Rio de Janeiro Poder Judici?io Tribunal de Justi? Processo: 0035482-42.2021.8.19.0204Documento205 páginasEstado Do Rio de Janeiro Poder Judici?io Tribunal de Justi? Processo: 0035482-42.2021.8.19.0204Alexandro NascimentoAinda não há avaliações
- Diario 2926 4 3 2020Documento610 páginasDiario 2926 4 3 2020Luiz Augusto SilvaAinda não há avaliações
- 27 MPF. Direito Penal - OdtDocumento338 páginas27 MPF. Direito Penal - OdtLucas Eduardo100% (1)
- Decisão Roberto JeffersonDocumento6 páginasDecisão Roberto JeffersonDaniela SantosAinda não há avaliações
- Perdão+JuDocumento1 páginaPerdão+JuThainá Estevão FalcãoAinda não há avaliações
- SAM e FEBEMDocumento33 páginasSAM e FEBEMJuninhoAngelimAinda não há avaliações