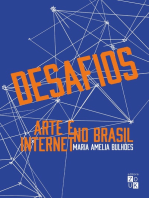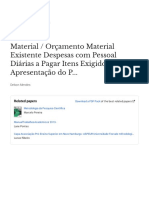Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Visualidades Hoje Livro Compos 2013
Visualidades Hoje Livro Compos 2013
Enviado por
ratborgesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Visualidades Hoje Livro Compos 2013
Visualidades Hoje Livro Compos 2013
Enviado por
ratborgesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
REITORA
Dora Leal Rosa
VICE-REITOR
Luiz Rogrio Bastos Leal
EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA
DIRETORA
Flvia Goullart Mota Garcia Rosa
CONSELHO EDITORIAL
Alberto Brum Novaes
Angelo Szaniecki Perret Serpa
Caiuby lves da Costa
Charbel Nio El Hani
Cleise Furtado Mendes
Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti
Evelina de Carvalho S Hoisel
Jos Teixeira Cavalcante Filho
Maria Vidal de Negreiros Camargo
EDUFBA
Rua Baro de Jeremoabo, s/n
Campus de Ondina
40.170-115 Salvador Bahia Brasil
Telefax: 0055 (71) 3283-6160/6164
eduf ba@uf ba.br
www.eduf ba.uf ba.br
ASSOCIAO NACIONAL DOS PROGRAMAS
DE PS-GRADUAO EM COMUNICAO
PRESIDENTE
Prof. Dr. Julio Pinto
VICE-PRESIDENTE
Profa. Dra. Itania Maria Mota Gomes
SECRETRIA-GERAL
Profa. Dra. Ines Silvia Vitorino Sampaio
PROGRAMA DE PS-GRADUAO
EM COMUNICAO DA UNIVERSIDADE
DE BRASLIA
Campus Darcy Ribeiro,
ICC Norte -Subsolo, Sala ASS 633,
70910-900 Asa Norte - DF.
http://www.compos.org.br/
2013, autores.
Direitos para esta edio cedidos Eduf ba.
Feito o depsito legal.
PROJETO GRFICO, CAPA E EDITORAO ELETRNICA
Alana Gonalves de Carvalho Martins
NORMALIZAO
Flvia Rosa e Susane Barros
REVISO
Cida Ferraz
SISTEMA DE BIBLIOTECAS UFBA
EDITORA FILIADA A
Sumrio
7
ANDR BRASIL, EDUARDO MORETTIN E MAURCIO LISSOVSKY
Apresentao
RENOVADOS EFEITOS DE REAL
15
BENJAMIM PICADO
Os regimes do acontecimento na imagem fotogrca
do estilo documentrio imerso testemunhal,
no fotojornalismo e na fotograa documental
41
ESTHER HAMBURGER
Visibilidade, visualidade e performance em 11 de setembro de 2001
59
ILANA FELDMAN
O trabalho do amador
79
LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
Fantasmagorias das imagens cotidianas
o estranho e a emulao do registro videogrco domstico
no cinema de horror contemporneo
101
NGELA PRYSTHON
Efeitos de real no cinema do mundo
dois cineastas europeus
NOVOS ESPAOS DE FRUIO E CONSUMO
119
PAULA SIBILIA
Os corpos visveis na contemporaneidade
da puricao miditica explicitao artstica
137
MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
Viver conectado
excesso e transmidialidade no youtube e nas vidas on-line
157
BRUNO COSTA
Nova visibilidade em cena
mapeando a cultura de estadia prolongada nos universos ccionais
173
FELIPE MUANIS
O tempo morto na hiperteleviso
191
VANDER CASAQUI
Publicizao da felicidade, entre a produo e o consumo
estratgias comunicacionais da marca Coca-Cola
213
ANA GRUSZYNSKI
O design (in)forma
um olhar sobre a visualidade dos jornais impressos na contemporaneidade
A POLTICA DAS IMAGENS
243
NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
Cenas de dissenso e a poltica das rupturas e fraturas
na evidncia do visvel
263
SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
Imagens que pensam, gestos que libertam
apontamentos sobre esttica e poltica na fotograa
283
CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
O lugar olhado das coisas
305
PABLO GONALO MARTINS
Olhar entre semibreves
Escrita e silncio em Samuel Beckett e Peter Handke
327
Sobre os autores
7
ANDR BRASIL, EDUARDO MORETTIN E MAURCIO LISSOVSKY
Apresentao
O diagnstico frequente: vivemos sob um novo regime do visvel. Porm,
no h consenso em torno dos traos e motivaes estticos, sociocultu-
rais, polticos e tecnolgicos que o constituem. Dessa constatao surgiu
a proposta do presente livro da Comps, organizado em torno do tema
Visualidades hoje. O plural, nesse caso, no fortuito e indica o carter he-
terogneo e diverso das transformaes em curso, assim como das pers-
pectivas e modos de abordagem.
Como escreve Jonathan Crary (Techniques of the observer, 1992), para
compreender uma transformao na natureza da visualidade preciso
identificar quais formas esto sendo deixadas para trs e quais linhas de
continuidade e descontinuidade permitem relacionar a visualidade con-
tempornea aos modos anteriores de organizao do visvel. Colocar-se
esta questo significa, para o autor, em primeiro lugar, articular os proble-
mas da representao visual s prticas sociais e discursivas, s mutaes
dos saberes e aos dispositivos engendrados por estes saberes. Nesse sen-
tido, a visualidade diz respeito no apenas imagem (a seus elementos
formais e expressivos), mas tambm a um olhar (historicamente constitu-
do e singularmente situado). Ressalta-se assim uma concepo pragm-
tica da imagem que, jusante, observa o modo como construda (assim
como, sua gnese e os efeitos de real que produz); e montante, os modos
de fruio e consumo.
As reflexes de Crary ocorrem no bojo de um crescente interesse pelo
tema da visualidade que o iconlogo norte-americano J T W Mitchell (Picture
Theory, 1994) caracterizou como virada pictrica, pois foram precedidas
8APRESENTAO
por noes como a de espetculo (Guy Debord), vigilncia (Michel Foucault)
e simulacro (Jean Baudrillard). A estas vieram somar-se os estudos sobre
olhar (nas pesquisas de gnero, particularmente os inspirados pela psica-
nlise lacaniana); a chamada nova histria da arte, inicialmente de matriz
marxista e, mais recentemente, de inspirao warburgiana, a antropologia
da imagem e a retomada de Walter Benjamin e da tradio frankfurtiana
no contexto dos estudos visuais. Todos estes movimentos contriburam
para construir uma concepo alargada da visualidade que fez da Comu-
nicao um campo privilegiado para mapear e pensar criticamente este
novo regime do visvel.
Provocados por estas questes, cada captulo do livro enfrenta-as a seu
modo, conformando um rico panorama que expressa tanto a diversidade
de abordagens quanto a convergncia de problemticas que caracterizam
as pesquisas em Comunicao no Brasil. Dominantemente, voltam-se para
objetos e experincias contemporneos, retomando esta ou aquela perspec-
tiva terica, este ou aquele diagnstico, para lev-los adiante, at seu limite;
at a exigncia, quem sabe, de sua redefinio. Objetos e experincias que,
em larga medida, poderiam ser ditos liminares, ou transitivos, pois surpre-
endem aspectos desta visualidade em vias de transformao.
Com o objetivo de melhor refletir as convergncias entre as contribui-
es que recebemos, optamos por organizar o livro em trs partes. A primei-
ra, intitulada Renovados efeitos de real, trata justamente de explorar a hiptese
de que, no acirramento e mesmo no esgotamento de certas estratgias de
efeito de real, outras so criadas e ganham fora, sendo incorporadas de
maneira mais ou menos problemtica ao domnio do cinema. Merecem
ateno, nesse caso, as prticas ditas amadoras: de um lado, as imagens
so produzidas no interior dos acontecimentos, que nelas inscrevem sua
emergncia. De outro, aqueles que as produzem participam eles prprios do
acontecimento, preservando-se na imagem como inscrio do real e como
efeito a instabilidade e precariedade de sua feitura.
O percurso aqui se inicia com a crtica de Benjamim Picado ao pa-
radigma indicirio. Contrastando as funes documentais da fotografia
oitocentista s matrizes de uma estilstica da fotografia documental dos
anos 30 do sculo XX, o texto sugere que os regimes por meio dos quais a
imagem serve produo de sentido de acontecimento so mais prprios
APRESENTAO9
aos elementos internos desta imagem do que a sua suposta indexicalida-
de. Em outra chave terica, Esther Hamburger retoma o dilogo, ainda
atual, com Guy Debord, para voltar aos atentados de 11 de setembro de
2001, problematizando a apropriao de convenes narrativas e imagti-
cas do espetculo cinematogrfico, que teria sequestrado a mdia televisi-
va em uma terrvel demonstrao de fora. Considerando a pertinncia e
complexidade do conceito de Debord, abre-se, por fim, a hiptese: o reco-
nhecimento de que as regras do espetculo audiovisual esto em domnio
pblico, deixaram de ser prerrogativa da indstria, convidam ao esforo
criativo poltico e potico de superao. Com Ilana Feldman, passa-
mos ento s estratgias renovadas de produo de efeito de real, nesse
caso, quelas observadas em prticas amadoras, performativas e inclusi-
vas. O artigo se dedica a Pacific, documentrio de Marcelo Pedroso (2009),
inteiramente montado com imagens cedidas por turistas de um cruzeiro
a Fernando de Noronha. O filme permite investigar uma questo mais
ampla, relativa ao estatuto das imagens amadoras na constituio da sub-
jetividade contempornea: o que est mesmo em jogo quando as empre-
sas de comunicao, os telejornais, os shows de realidade e variedades na
televiso, o cinema, a arte contempornea e a publicidade disputam essas
mesmas imagens? No artigo de Rogrio Ferraraz e Laura Cnepa, essa
questo se desdobra, agora no mbito do cinema de horror. Dedicando
especial ateno srie cinematogrfica Atividade Paranormal, os autores
discutem o found-footage ficcional, em filmes cuja construo narrativa se
d atravs de registros feitos pelos prprios personagens. Trata-se, ento,
de explorar as potncias expressivas em filmes de horror que emulam
imagens caseiras. Interessando-se por outra cinematografia, ngela Prys-
thon discute a reemergncia do realismo, especificamente na obra de
dois cineastas europeus, Jos Lus Guern e Claire Denis. Por meio da
estilstica destes autores, atenta-se ao modo como a noo de efeito de
real (originalmente advinda da teoria da literatura, sobretudo de Roland
Barthes) ser acionada. Nos longos planos de espaos e cenas sem dilo-
go, o gesto ganha centralidade: pequenos gestos, que poderiam anunciar
algum simbolismo, prenunciar algum sentido oculto, mas que raramente
recebem explicao, que quase nunca revelam significado.
10APRESENTAO
Uma hiptese que se insinua na primeira parte do livro ser enfa-
tizada na segunda parte, dedicada aos Novos espaos de fruio e consumo.
A despeito da diversidade de estratgias e de prticas abordadas, uma pre-
ocupao comum as atravessa: o papel ativo da visualidade na reconfigu-
rao da experincia subjetiva, notvel, por exemplo, na crescente convo-
cao dos espectadores a participar da prpria produo das imagens e dos
discursos sobre elas, em flagrante transformao daquilo que costuma-
mos chamar de espetculo. Para alm desta ou daquela mdia especfica,
as estratgias narrativas transmiditicas assumem, como se ver, papel
central nesta transformao.
O artigo de Paula Sibilia focaliza justamente o devir-imagem dos
corpos que atualmente se observa em duas tendncias contraditrias: de
um lado, um processo de purificao, que visa converter o corpo em uma
imagem lisa, polida. De outro, diferentes tratamentos da condio encor-
pada, que se notam sobretudo no campo das artes contemporneas. O arti-
go enfrenta as ambiguidades e entrelaamentos destes dois processos, dois
regimes do visvel aparentemente opostos, que, segundo a autora, tornam
a confluir numa equvoca desativao das potncias encorpadas. O tema da
transmidialidade aparecer com mais nfase nos textos seguintes. Toman-
do por objeto dois vdeos disponibilizados no site YouTube, Mariana Baltar
e Lgia Diogo destacam a transmidialidade como ferramenta narrativa,
analisando como as estratgias do excesso mobilizam engajamentos sen-
srio-sentimentais prprios do cotidiano espetacularizado que caracteriza
determinados aspectos da experincia contempornea. O tema retorna no
artigo de Bruno Costa, que se dedica s interaes dialgicas dos consu-
midores com os produtos culturais em fruns de discusso, particular-
mente, aquele abrigado pelo site Omelete. Esta experincia participa de
uma cultura de prolongada estadia nos universos ficcionais, que, para o
autor, coaduna com a sensvel alterao nos modos de consumo e de en-
gajamento dos espectadores. O autor conclui com a hiptese de que na
medida em que o entretenimento se torna ubquo, mesclado s prticas
de trabalho e sem lugares especficos para a sua atuao, ele no funciona
mais como categoria prpria. Outra importante contribuio nesse senti-
do a de Felipe Muanis, que se volta para a hiperteleviso para repensar
os parmetros que definem o mercado, a imerso, a reality TV, o zapping
APRESENTAO11
miditico, os contedos transmdia e a fico ao vivo. Ao refletir sobre os
reality shows, o autor chama ateno para a recorrncia de planos longos,
tempos mortos, silncios e montagem no acelerada, que fogem tanto das
caractersticas formais da neoteleviso quanto do cinema blockbuster atu-
al, afastando-se do que Gilles Lipovetsky chamou de imagem-excesso do
hipercinema. Vander Casaqui, por sua vez, trata das estratgias da comu-
nicao da marca Coca-Cola, em torno do tema da felicidade, traduzido
para as esferas da produo e do consumo de seus produtos. Para tanto,
o artigo retoma as reflexes sobre o filme Happiness factory (2007), abor-
dando sua continuidade nas aes intituladas Mquinas da felicidade. Em
sua anlise, Casaqui convoca, em chave crtica, o tema do reality show,
este que agora materializa uma espcie de utopia corporativa. Haveria
simultaneamente, uma dimenso pragmtica e outra utpica em conjun-
o: A primeira colocada de forma ntida: as coisas que saem da ven-
ding machine so revestidas pela aura da felicidade, representam formas
concretas, manufaturadas de satisfao particularizada, instantnea. Por
outro lado, a comunicao de Coca-Cola faz a sua edio do mundo, de-
senvolvendo uma ideologia que emerge como utopia planetria. Por fim,
Ana Gruszynski se dedica ao design de jornais impressos atuais tendo em
vista sua articulao com a cultura visual, tomando a visualidade como
eixo de identidade e distino, estratgia central no estabelecimento de
vnculos entre leitores e publicaes, na disputa pelo olhar dispersivo de
leitores-consumidores imersos em informaes on-line e off-line. A autora
constri um amplo e minucioso panorama comparativo de capas de jor-
nais impressos, publicados em vrias regies do mundo, sugerindo a hi-
bridao de formas habitualmente enquadradas em seus extremos como
populares ou tradicionais.
Se estas experincias em torno dos novos modos de visualidade j
apontam, direta ou indiretamente, para a atualidade de uma poltica das
imagens, os artigos da ltima parte do livro tematizam mais explicitamen-
te a articulao entre esttica e poltica, seja em seus aspectos tericos,
seja em seus traos formais e estilsticos. ngela Marques parte da leitura
atenta de Jacques Rancire para desenvolver o pressuposto de que a din-
mica por meio da qual a poltica se constitui tambm comunicacional
e esttica. A autora reflete ento sobre a visibilidade dos grupos sociais
12APRESENTAO
(a parte dos sem-parte, segundo Rancire) em cenas de dissenso e situ-
aes de desigualdade: quais experincias singulares tornam a condio
dos sem-parte intolervel? De que maneira essas experincias se tornam
visveis, enunciveis e audveis? Silas de Paula, rico Oliveira e Leila Lo-
pes pensam a crise da viso e as relaes entre esttica e poltica no campo
da fotografia. Junto a uma primeira articulao entre esttica e poltica,
entendida como abertura de possveis, os autores sugerem uma segunda,
ligada ao gesto de fotografar: enfatiza-se aqui a produo de pensamento,
fotografar como maneira de pensar.
Encerrando a seo, dois textos nos convidam a pensar, de modo su-
til, as relaes poticas e polticas em uma cena expandida. No primeiro,
Carlos Mendona debate implicaes e possibilidades do uso das imagens
no teatro, quando este se abre a materiais expressivos oriundos de ou-
tras manifestaes artsticas. Percorrendo uma rede densa de autores e
conceitos, Mendona investe, como ele mesmo diz, no cotejo entre dois
princpios que tipificam as realizaes cnicas contemporneas: a noo
de ps-dramtico e o conceito de teatro performativo. Em Olhar entre
semibreves, Pablo Martins examina o roteiro de Film, de Samuel Beckett,
e da pea A hora que no sabamos nada um do outro, de Peter Handke, es-
tabelecendo relaes entre o processo de escrita para a cena e suas visu-
alidades quando inspirados no silncio. Trata-se no apenas de afirmar
que o teatro torna-se audiovisual, mas de tentar retomar esse histrico
da dramaturgia na sua lida direta com a imagem; ou seja, nas peas e nos
dramaturgos que silenciaram o verbo para escrever com imagens, lado a
lado.
A presente coletnea nos coloca diante de objetos liminares, experi-
ncias de uma visualidade em transformao. No pretendeu, contudo,
comprovar tendncias ou sugerir qualquer sentido nico para a histria.
Mas luz do debate sobre a cena contempornea que a reunio destes
estudos certamente propicia, ressaltemos, mais uma vez, que em toda
visualidade, em toda novidade, permanecem, incontornveis, silncios e
contratempos.
RENOVADOS EFEITOS DE REAL
15
BENJAMIM PICADO
Os regimes do acontecimento
na imagem fotogrca
do estilo documentrio imerso testemunhal,
no fotojornalismo e na fotograa documental
UMA RESPOSTA QUESTO: EM QUE SENTIDO PRECISO,
A FOTOGRAFIA INSTAURA UMA NOVA VISUALIDADE?
No que respeita ao universo terico da especulao sobre os novos regi-
mes de visualidade fotogrfica, notvel como o carter adventcio das no-
vas tecnologias e dos suportes que a internet propicia para a circulao das
imagens assume um lugar de destaque na reflexosobre seus respectivos
padres de sentido: com muito maior presena do que qualquer outra
varivel da discusso sobre a experincia da fotografia predomina, nestas
falas, aquilo a que j designamos alhures como o argumento do disposi-
tivo (PICADO, 2011), e que demarca a histria das teorias da fotografia,
praticamente desde sua origem at nossos dias.
Em que consiste tal dominncia da valorizao dos aparatos da foto-
grafia? As metforas que encontramos to frequentemente associadas
discusso sobre a fotografia nos oferecem uma pista deste ethos intelec-
tual, que transpira nestas teorias: termos como mquinas de esperar,
engenhos de visualizao, imagens de gnese automtica atravessam
as teorias da fotografia, de modo quase invariavelmente associado ideia
de que o carter de extenso tcnica da viso esteja, de algum modo, as-
sociado natureza mesma de tudo aquilo que se vincula s imagens que
16BENJAMIM PICADO
derivam destes processos (inclusive o tipo de experincia do tempo e das
aes que elas propiciam ao espectador).
No que se deva negar fotografia um lugar decerto privilegiado
na fixao de certo sentido de modernidade, associado experincia das
imagens, em seus vrios aspectos: pois h ainda uma densa linhagem de
discursos que, ao colocarem a fotografia no centro de certa caracterizao
da modernidade, parecem-nos falar menos daquilo que define a origem
da imagem, como o resultado de um processo mecnico de fixao, va-
lorizando na fotografia um tipo de relao nascente da imagem a certos
gneros da experincia visual de vrios aspectos do mundo e da histria.
Nestes termos, a importncia da fotografia para a definio da mo-
dernidade no identifica seu advento aos aspectos automticos da assim
chamada arch da imagem (o que nos poria de frente com seus dispositi-
vos), mas com a noo de que a imagem fotogrfica tem uma dimenso
acontecimental prpria. Esta reivindicao de um acontecimento mais
prprio imagem fotogrfica traz consigo outra maneira de se enxergar a
relao entre sua gnese histrica e o sentido atribudo modernidadede
seu advento: o que h de novo aqui no se localiza na condio oferecida
por um dispositivo de visualizao, mas no modo como sua ocorrncia
reflete o movimento, mais profundo, das transformaes histricas nos
modos de sentir e de perceber, em variveis de interpretao que escapam,
assim, suposio de que tais mudanas so condicionadas pelo mero
advento e a contnua transformao das tcnicas fotogrficas.
Nos escritos de Jonathan Crary, por exemplo, encontraremos no
apenas a fonte de tal concepo acerca da modernidade e dos regimes da
imagem, mas tambm uma espcie de panorama das fontes tericas mais
importantes de tal programa de pesquisa sobre a experincia visual dos
ltimos dois sculos. Neste contexto terico, no apenas fica relativizada
a posio adventcia da fotografia na caracterizao da modernidade da
experincia visual do Ottocento: tambm passam a contar esta histria,
certos espaos institucionais, saberes disciplinares, crenas sedimentadas
socialmente e prticas discursivas, que consolidam e legitimam o lugar da
fotografia em certo sentido de objetividade, realismo e novidade.
Obviamente, meu ponto de vista vai de encontro a numerosas an-
lises da histria da fotografia e do cinema que continuam em voga:
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA17
estas se caracterizam por um determinismo tecnolgico mais ou
menos professado e postulam uma dinmica autnoma de inven-
o, modificao e aperfeioamento mecnicos que pressionam um
campo social e o transformam, a partir de seu exterior. Entretanto, a
tecnologia sempre acompanha, numa relao de simultaneidade ou
de subordinao, outras foras que a englobam []. assim ilegti-
mo tanto reduzir uma histria do observador s modificaes das
prticas tcnicas e mecnicas, quanto tambm faz-lo nas relaes
com as mudanas formais das obras de arte e da representao vi-
sual. (CRARY, 1994, p. 29)
O projeto de reconstituio histrica do lugar do espectador moderno
possui, em Crary, fontes que so dspares e que, por vezes, suscitam al-
gum questionamento quanto a sua organicidade argumentativa. De nossa
parte, entretanto, interessa destacar a o modo como ele identifica correta-
mente, nos escritos de Walter Benjamin, aquele acento posto sobre a de-
vida relao entre a modernidade e as transformaes da percepo: este
destaque feito perspectiva benjaminiana, nos parece isolar, na discusso
sobre o advento fotogrfico, a ordem precisa de questes nas quais a dis-
cusso sobre as mudanas tecnolgicas so constitudas, a partir de uma
reflexo sobre a reconstituio da espectatorialidade, definida enquanto
lugar privilegiado da experincia do histrico.
No fundamento destes problemas, entretanto, h questes impor-
tantes que precisam ser esclarecidas, antes de entrarmos no estatuto his-
trico do espectador moderno. H um aspecto desta ateno dimenso
tecnicamente determinada de certos fenmenos mediticos que nos cha-
ma a ateno, naquilo que respeita ao sotaque peculiar a muitas destas in-
terrogaes, sendo este um elemento subjacente a certas caracterizaes
da modernidade, atravs da fotografia: o fato de que o carter esttico dos
processos comunicacionais frequentemente confundido com a determi-
nao artstica dos mesmos.
No casualmente, este sintoma dos discursos tericos sobre a moder-
nidade reflete uma m-compreenso da prpria localizao das disciplinas
estticas, com respeito ao universo das artes: por isto mesmo, na avaliao
dos impactos de teses como aquelas de Benjamin, sobre o destino da arte
na poca das tcnicas de reproduo, muitos pensadores vislumbram ali
uma espcie de salvo-conduto para a admisso dos modernos meios de
18BENJAMIM PICADO
comunicao rubrica das obras de arte o que no poderia estar mais
distante do esprito das ideias benjaminianas. Para tanto, basta que retor-
nemos a esta pequena passagem, no incio da terceira parte de seu famoso
ensaio sobre as tcnicas de reproduo e a definio da obra de arte, para
nos darmos conta do que est em jogo nesta discusso:
Ao curso dos grandes perodos histricos, juntamente com o modo
de existncia das comunidades humanas, modifica-se tambm seu
modo de sentir e perceber. A forma orgnica que a sensibilidade
assume o meio no qual ela se realiza no depende da nature-
za, mas tambm da histria. Na poca das grandes invases, nos
artistas do Baixo Imprio, nos autores da Gnese de Viena, no se
encontrava apenas uma arte diversa da dos antigos, mas tambm
uma nova forma de perceber. Os eruditos da escola vienense, Riegl
e Wieckhoff, opondo-se a todo peso da tradio clssica, que havia
banido esta arte, foram os primeiros a ter a idia de extrair dela
inferncias no que diz respeito ao modo de percepo prprio da
poca em que era honorificada []. Hoje, estamos melhor situados
do que eles para as compreender. E, se verdade que as modifica-
es a que hoje assistimos no meio onde se organiza a percepo
podem ser entendidas como um declnio da aura, estamos em con-
dies de indicar as causas sociais que motivaram este declnio.
(BENJAMIN, 1982, p. 214-215)
Preferimos aqui abordar as tradicionais relaes entre esttica e
artisticidade, atravs de um fundamento dos fenmenos artsticos, a
que poderamos designar como um aspecto determinado de sua origem
mais prpria: em certa tradio da reflexo sobre os fundamentos estticos
das obras de arte, no a realidade das mesmas que interessa (seja aquela
de sua manifestao material para os sentidos, seja a que nos reporta a sua
origem produtiva ou artstica, ou ainda aquela que compromete o prprio
conceito de artisticidade com a institucionalidade de certas prticas), mas
aquilo que certa arqueologia de seu aparecer poderia revelar ao pensamen-
to sobre a ordem de determinaes destes objetos.
Assim sendo, o que nos concerne uma interrogao sobre a estru-
tura na qual as obras expressivas se apresentam materialmente prefigu-
radas para o horizonte da recepo e da sensibilidade: pois bem, nesta
ordem plasticamente vinculante do artstico e na sua relao com um
espectador possvel que se parece constituir em muitos pensamentos
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA19
sobre o domnio da expresso aquilo que neles se define como o ncleo
de uma interrogao sobre a experincia histrica, por sua vez coligada
dimenso propriamente esttica de sua apario.
Voltemo-nos, entretanto, ao ponto de incio de nossa interrogao:
h, decerto, um aspecto da vigncia cultural da fotografia que nos coli-
ga de tal modo ao sentido de uma experincia moderna, que acaba por
nos tornar praticamente cmplices desta valorizao de seus dispositivos
tcnicos; pode-se dizer que a fotografia oitocentista representa a predomi-
nncia deste ethos moderno, tanto pelo fato de se originar de uma conflu-
ncia entre cincia e arte, quanto de modo mais decisivo por se encon-
trar frequentemente empregada na condio de parte dos protocolos de
diversos ramos da atividade cientfica.
Neste contexto, a fotografia, pela prpria natureza de seu dispositivo
(supostamente imune s variaes do temperamento que orientam sua
operao), manifestaria uma espcie de encarnao mais evidente de todo
um programa condutor da cincia positiva moderna, em seus vrios cam-
pos de aplicao: neste sentido preciso que alguns historiadores caracte-
rizam as funes pelas quais o documento visual, de origem fotogrfica,
um instrumento da modernizao dos saberes cientficos:
A fotografia que reproduz mais rapidamente, mais economica-
mente, mais fielmente do que o desenho, que registra sem omitir
nada, que dissimula as imprecises da mo, que, em resumo, troca
o homem pela mquina impe-se imediatamente como a ferra-
menta por excelncia, aquela que a cincia moderna necessita [].
Funcionando ela prpria conforme princpios cientficos, a fotogra-
fia vai contribuir para modernizar o conhecimento; em particular,
o saber cientfico. Modernizar , essencialmente, abolir qualquer
subjetividade dos documentos; registrar, sem esquecimento nem
interpretao, para autenticar, ou para substituir, o prprio objeto.
Isto, durante muito tempo, a fotografia ser a nica a assumi-lo.
(ROUILL, 2009, p. 109)
Neste patamar da modernizao dos saberes propiciada pela fotogra-
fia, estamos no mbito de um imaginrio que associa a noo do ndice
de uma prova cuja inscrio mais importante a da autenticidade que
transfere aos documentos visuais. Dois campos da utilizao de imagens
na cincia so especialmente devedores desta relao da fotografia com a
20BENJAMIM PICADO
modernidade cientfica do Ottocento, a saber, a medicina e o direito: deten-
do-se sobre o primeiro destes campos, Rouill nos exibe a ttulo do caso da
associao entre a clnica de Charcot sobre a histeria e a prtica iconogrfica
de Albert Londe a complexa rede de instituies e de discursos/enuncia-
dos do campo da cincia que vo buscar no apoio da fotografia uma espcie
de fundamentao emprica das descobertas da nascente psicologia.
No caso das pesquisas sobre as manifestaes somticas dos quadros
histricos, interessante notar como se conjuminam a tcnica da foto-
grafia instantnea (originria das duas ltimas dcadas do sculo XIX) e
a natureza dos fenmenos que justificam o lugar da fotografia como au-
xiliar das prticas cientficas: o carter mais discreto das manifestaes
dos sintomas corporais e sua durao mais curta (e, portanto, resistente s
condies de captura dos dispositivos fotogrficos anteriores) consolidam
o papel da fotografia instantnea oitocentista como elemento definidor de
todo um ethos da representao dos corpos e dos movimentos intensos,
que perdurar at nossos dias, como uma marca estilstica da fotografia
de acontecimentos, por exemplo. No domnio estritamente mdico, esta
dimenso da indexicalidade est associada a uma determinada crena na
capacidade do mecanismo de interrupo das duraes da fotografia.
Figura 1 Albert Londe Mulher histrica (1892).
Por outro lado, Rouill destaca as tenses que atravessaram a relao
entre a prtica fotogrfica e os discursos da cincia mdica, em especial
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA21
manifestadas no modo como os esforos de Londe, em dignificar a parte
do fotgrafo, resultavam, no mais das vezes, da fora da ordem enuncia-
tiva da cincia (em especial, no modo como Charcot mobilizava, em sua
prtica clnica, aquilo que Carlo Guinzburg designar como sendo um
paradigma indicirio das cincias do sculo XIX) do que da suposio
de que a cientificidade fosse moldada pelas capacidades do dispositivo fo-
togrfico. Sintomtica desta tenso entre fotografia e cincia, a constata-
o melanclica que o prprio Londe faz de sua colaborao com Charcot,
vinte anos passados de seu trabalho no hospital de Salptrire:
A experincia de Londe [] sublinha, acima de tudo, que a maneira
de ver (e de mostrar) estreitamente combinada com a maneira
de dizer. Multiplicada pelas obras, revistas, alunos, sesses teatrais
e mundanas, a prtica discursiva de Charcot gera enunciados to
fortes sobre a histeria que eles se impem prtica fotogrfica de
Londe, a ponto de influenciar a forma de suas imagens e a consti-
tuio de seus aparelhos. A experincia fotogrfica de Salptrire
vem confirmar a primazia da enunciao sobre o visvel, o papel
determinante dos enunciados nos processos de ver e de mos-
trar.(ROUILL, 2009, p. 119)
As relaes que caracterizam o processo de consolidao da posio
da fotografia oitocentista, no contexto de prticas sociais diversas (cientfi-
cas, artsticas, documentais) foram um evidente deslocamento da reflexo
histrica sobre a fotografia: este desvio afeta tudo aquilo que poderamos
supor na histria da fotografia (e nas requisies de sua modernidade),
como derivado de uma crena originria nos poderes inerentemente au-
tenticadores do dispositivo fotogrfico.
No lugar de tal subscrio aos poderes dos aparatos tcnicos, emer-
ge a percepo de que a imagem fotogrfica est colocada numa comple-
xa rede de disputas (com agentes variados, alguns deles inclusive sendo
os prprios historiadores e crticos da fotografia, no incio do sculo XX),
nas quais o destaque que ela experimentar, a partir de um determinado
momento, ter menos relaes com as variveis tcnicas de sua evoluo
do que se poderia supor: em seu lugar, emergem as condicionantes da
consolidao de um discurso sobre seus produtos que conferiro a estas
imagens um circuito da legitimao social, na passagem dos dois ltimos
sculos, de alguma maneira comparvel queles que definiram para a
22BENJAMIM PICADO
pintura e o desenho suas vigncias respectivas no territrio da experincia
esttica.
O domnio destas disputas, que conferem um sentido todo outro
noo de modernidade na histria da fotografia, se manifesta especial-
mente na sedimentao de uma arte documental de suas imagens, algo
que caracteriza fortemente o gnero que se desenvolve, na Europa e nos
Estados Unidos, a partir dos anos 20 do Novecento, fenmeno sobre o qual
discorreremos a seguir.
DA FUNO AO ESTILO DO DOCUMENTO FOTOGRFICO
Nos confrontamos aqui com dois aspectos fundamentais da tarefa que nos
cabe, ao examinarmos o modo como a fotografia se inscreve em um ethos
de modernidade: em uma perspectiva mais histrica, trata-se de nos des-
viarmos um pouco mais do suposto naturalismo da fotografia do sculo
XIX, de modo a nos ajustarmos melhor aos problemas que caracterizam
a definio da significao documental da fotografia, relativamente aos
contextos de sua aplicao, para alm do carter acessrio de seu recurso
em protocolos de prticas variadas como no caso das cincias e das artes.
Neste sentido, abandonamos a perspectiva de que o carter docu-
mental da fotografia se defina a partir de suas funes, no modo como
esta relao se definiu para a imagem oitocentista, de um modo geral: em
seu lugar, identificamos a questo do documento e do testemunho visual
como elementos de uma estilstica documental, no modo como o fot-
grafo norte-americano Walker Evans elaborou esta questo, a partir dos
anos 30 do sculo passado.
Historicamente falando, este deslocamento das conotaes do docu-
mento fotogrfico representa do ponto de vista das discusses sobre o
meio um importante aspecto do processo pelo qual a fotografia alcanou
certo grau de autonomia e que vai consolidar aquilo que certos autores de-
signam como sendo sua modernidade propriamente dita: na passagem
da funo para o estilo, que o problema das relaes entre imagem fo-
togrfica e documento se complexifica, a ponto de fazer evadir da discus-
so sobre a significao destes cones quaisquer aspectos de um liminar
compromisso ontolgico da imagem fotogrfica, sobretudo quando este
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA23
aspecto da indexicalidade fotogrfica evocar, a este ttulo, o lugar determi-
nante dos engenhos de visualizao.
Neste ponto, comeamos a entrar no segundo aspecto da mudana
de nossas tarefas, no exame das relaes entre fotografia e modernidade:
no incio do sculo XX, a requisio do estilo para a definio dos re-
gistros documentais da fotografia exige, do exame histrico, uma maior
ateno aos aspectos discursivos que se acumulam, a partir de uma srie
de indicadores atravs dos quais a fotografia principia esta autonomiza-
o de sua existncia, em relao aos protocolos de certas prticas sociais
(como as da cincia positiva); neste contexto, a discursividade que vai se
consolidar como trao caracterstico da requisio que as imagens faro
sobre a ordem da realidade histrica e social ser devedora, numa enorme
escala, dos modos nos quais a fotografia se sedimentar como elemento
protagonista das relaes entre discurso e acontecimento.
Para nosso interesse, em especial, estas questes nos conduzem a
dois tipos de estratgia fundamentais destes regimes discursivos que a
fotografia do Novecento consagrar, a partir dos anos 30, no interior de
certa variao das intensidades passionais da imagem fotogrfica: de um
lado, a austeridade e o distanciamento da fotografia de Walker Evans e de
August Sander; do outro lado do arco, os princpios isotpicos da seriao
dos cones visuais, em formatos como o da reportagem de revistas e dos
lbuns e exposies em galerias.
Certos historiadores da cultura destacam esta diferena existente en-
tre o que a fotografia indica e o que ela representa (ou seja, entre aquilo de
que ela prova, em relao ao que ela exprime), a partir da constatao
de que estas imagens no so apenas documentos, mas tambm aconteci-
mentos: no caso do fotografia documental, as imagens podem se consti-
tuir em fontes da histria de outras pocas (registrando seus costumes e
valores), mas tambm esto coligadas a uma determinada dimenso da
presentidade dos eventos, corpos e objetos representados, de uma forma
muito especial, ao menos para uma subjetividade moderna como a
nossa.
Em um texto sobre a questo do assunto na estilstica da fotografia
documental, Jean-Franois Chevrier destaca a necessidade de que se di-
ferencie a marca documental da fotografia, com respeito aos imperativos
24BENJAMIM PICADO
de atualidade que definem a relao entre imagem e acontecimento no
caso do fotojornalismo, por exemplo: neste ltimo, com os imperativos
de uma absoluta imediaticidade, que demarcam uma espcie de princpio
constitutivo de sua discursividade acerca dos acontecimentos, a noo de
que a imagem fotojornalstica se constitua como elemento do testemu-
nho que enraza o gnero dos relatos que singularizam esta prtica
impe necessariamente s formas visuais e s abordagens do ataque aos
motivos da cobertura uma modalidade do destaque feito sua apario,
que no pode ser confundida com aquilo que se designa como um estilo
da fotografia documental.
A seduo do acidente, ativa e eficaz no imaginrio meditico,
uma das fontes de uma esttica do sensacional que oferece de
bom grado o libi moral da compaixo. Isto no novidade. Re-
conhecemos aqui um dos procedimentos de justificao corren-
temente avanados pelos marchands de emoes mediticas [...].
O que novo o acordo cada dia mais estreito entre a esttica da
sensao compassional e uma ideologia-libi dos direitos do ho-
mem, que curto-circuita o trabalho da informao, favorecendo o
testemunho sentimental sobre a preciso documentria, ao sepul-
tar os debates polticos fundados sobre a informao, ocultando
todo pensamento crtico refratrio ordem moral. (CHEVRIER,
2006, p. 81)
No que respeita a esta passagem da funo ao estilo documental
na histria da fotografia, destacamos o papel especfico cumprido por cer-
tas vertentes da chamada fotografia documentria, especialmente aque-
la que se caracteriza pelo vnculo com os temas scio-histricos, exem-
plificada cristalinamente pela produo do grupo de artistas associados
Farm Security Administration (FSA), agncia do governo americano que
produziu uma extensa documentao iconogrfica sobre os efeitos da de-
presso econmica nos Estados Unidos, a partir da crise da Bolsa de Va-
lores, em 1929.
No estudo da obra de Walker Evans, vrios historiadores destacam os as-
pectos que consolidam a fotografia documental dos anos 30 do ltimo sculo,
como uma questo de estilo, mais do que um resultado do contexto social
e econmico que motivaria os temas mais proeminentes destes trabalhos:
este elemento estilstico do trabalho de Evans deve ser compreendido
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA25
luz de exigncias que esto associadas ao desenvolvimento do sentido da
modernidade na histria da fotografia, mais do que aos imperativos do
contexto da crise econmica nos Estados Unidos, a partir do final dos anos
de 1920; o que se prope, ao invs disto, entender as variveis histricas
do desenvolvimento da fotografia documental, em dois contextos cultu-
rais, de tal modo distintos entre si (o da fotografia social americana, no
contexto da depresso econmica, e o do projeto de uma tipologia social,
por August Sander), a partir da compreenso de que as duas manifesta-
es de uma estilstica documental esto enraizadas em uma recepo
algo prxima do significado da modernidade fotogrfica, enquanto poss-
vel assunto de uma histria da arte moderna.
Em suma, no h equivalncia entre o estilo documentrio, no m-
ximo proximidades ou cruzamentos, assim como no h relao
causal estrita entre a crise econmica e o desenvolvimento desta
forma. De um modo geral, sob um plano metodolgico, arbitr-
rio estabelecer um fechamento estanque entre o formalismo dos
anos 20 e o realismo dos anos 30 e, ao faz-lo, operar uma ruptura
epistemolgica entre um decnio que abrangeria apenas a histria
da arte e outro que retornaria subitamente ao domnio exclusivo da
sociologia ou da histria cultural.(LUGON, 2001, p. 34-36)
Neste sentido, so vrios os fatores que conspiram, como elementos
de uma histria da fotografia do incio do sculo XX, para a consolida-
o de uma estilstica documental: por exemplo, o confronto respeito-
so entre Walker Evans e Alfred Stieglitz, no sentido do abandono de um
projeto de arte fotogrfica, indicando o vis da straight photography,
como elemento de uma vocao documental da fotografia (ainda que ma-
nifesta como trao estilstico); o impacto exercido pela obra de Eugene
Atget, especialmente em seu modo de abordar os espaos urbanos como
paisagens de um tipo peculiar, com ruas vazias, vitrines e interiores (as-
pecto igualmente observado nas notas de Walter Benjamin sobre a hist-
ria da fotografia); finalmente, as sries de fotografias de Evans dedicadas
arquitetura neoclssica dos arredores de Boston (em 1931), nas quais se
pode entrever a secura e a elegncia do tratamento do espao e das formas
arquitetnicas, que transpiraro nos trabalhos realizados sob a gide da
FSA, poucos anos depois.
26BENJAMIM PICADO
Figura 2 Walker Evans Greek Revival Houses (1931-1935).
O que se destaca no modo como este trabalho fotogrfico ganha luz
precisamente revelador das travessias entre os limites entre arte e docu-
mento, sobretudo manifestos pelo carter originrio do corpus iconogrfi-
co (expressamente concebido e dirigido como trabalho de documentao
arquitetnica) e os regimes da circulao desta produo (que privilegia
os espaos das galerias e museus de arte moderna, nos quais a fotografia
comea a ter uma maior acolhida crtica, entre os anos 20 e 30 do sculo
passado). Na perspectiva em que Evans enxerga seu trabalho, estas duas
dimenses da imagem (a de pea de arquivo e a de obra de arte) no se
contradizem, no modo como a fotografia realiza sua dimenso precpua
de documento visual.
A qualidade das imagens ser efetivamente bastante boa para que
uma seleo de trinta e nove vistas formem em novembro de 1933
a primeira exposio monogrfica consagrada a um fotgrafo no
MoMA: Photographs of Nineteenth Century American Houses by Walker
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA27
Evans []. Nesta funo de modelo e de disparador, a documentao
arquitetnica uma reminiscncia do papel exercido pela documen-
tao botnica na Alemanha, que tambm espalhou nos crculos ar-
tsticos e fotogrficos a nitidez dos aparelhos chambre e a lgica do
arquivo. (LUGON, 2001, p. 85-86)
Podemos examinar, a seguir, cada um destes elementos mais gerais
da estilstica documental em Evans, a partir de um olhar sobre algumas
imagens de American Photographs: como j observado logo acima, elas se
recusam a liberar sua significao mais proeminente, a partir de chaves
como a da atualidade dos acontecimentos ou da singularidade scio-hist-
rica de seus motivos (como corpos e paisagens).
At mesmo a designao de imagens americanas indica menos um
assunto do que um modo de vida ou um trao de carter das imagens:
sob este aspecto, por exemplo, Chevrier nota que h uma inspirao do
ethos do arquivista ou do colecionador (ou mesmo da experincia do docu-
mentrio arquitetnico do prprio Evans), no modo como a americani-
dade atravessa este corpus iconogrfico. O esprito do colecionador, ento,
fala mais alto aqui do que o do comentarista social, sendo este, de sada,
um aspecto que o destaca do trabalho do fotodocumentarismo americano
dos anos 30 do ltimo sculo.
American Photographs no trata de um assunto predefinido, mas
organiza um material, uma coleo de imagens fotogrficas, e afir-
ma um estilo. Esta coleo se forma atravs de diferentes enquetes,
que se reportam a assuntos heterogneos [...]. a unidade do estilo
dito documentrio que permite finalmente reunir e condensar es-
tes assuntos. Evans distingue o estilo documentario da funo de
documentao garantida pelo registro de fatos atuais, constituindo
uma informao []. Evans no pensa em arquivos, mas em cole-
o. (CHEVRIER, 2001, p. 66-67)
Estes aspectos so mais definidores do carter que impregna sua obra
fotogrfica do que o histrico de sua relao com o trabalho social da FSA,
ainda que este seja enormemente influenciado do ponto de vista das
escolhas de abordagem plstica e de correo dos temas pelas primeiras
incurses de Evans, a servio da agncia (fato este destacado por Lugon,
por exemplo). Mas, para alm dos aspectos que definem os critrios de
pertinencia do corpus inteiro de sua obra fotogrfica, ainda h aqueles que
28BENJAMIM PICADO
perpassam a unidade de segmentos mais especficos da fotografia, como
sendo critrios simultaneamente temticos e de abordagem formal.
Esta dimenso das marcas estilsticas da fotografia documental apa-
recem, por exemplo, na sobriedade j manifestada previamente em seu
tratamento dos motivos arquitetnicos, no incio dos anos 30 do sculo
XX. Mas ela tambm transparece em outras funes que os temas paisa-
gsticos de um contexto urbano e moderno sugerem para a fotografia, a
ponto desta se destacar como o meio apropriado abordagem destas ques-
tes: a relao entre a paisagem urbana e um senso de dcor documental
um dos elementos mais reconhecveis daquele lao que Chevrier e Lugon
identificam entre Evans e Atget.
Figura 3 Walker Evans Penny Picture Display, Savannah (1936).
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA29
Figura 4 Eugene Atget Le Cabaret dEnfer (1898).
A valorizao dos corpos, no contexto mesmo do destaque feito
qualidade mais prpria das paisagens urbanas, um dos traos que ma-
nifesta a linha de tendncias em que o fotojornalismo se depurou para
alm dos limites de uma estilstica documentria: o gnero da street pho-
tography, que se encarna como uma das marcas da fotografia documen-
tria do Novecento, um elemento igualmente manifesto nas estratgias
discursivas do fotojornalismo moderno; em seu contexto, a presena dos
corpos numa geografia presta-se gerao de efeitos mais dramticos e
sensacionais do que aquilo que identificamos na fotografia de Evans.
Em certa medida, mesmo que possamos reconhecer as variantes
mais crticas desta apropriao que o fotojornalismo fez historicamente
das marcas de uma estilstica documentria, devemos nos engajar um
pouco mais na descrio dos elementos desta linguagem documental, em
seu aspecto de sugesto de uma espcie de imaginrio acontecimental da
fotografia, em especial, no modo como isto serviu ao fotojornalismo, no
30BENJAMIM PICADO
exerccio de suas evidentes pretenses de historicidade, na relao com os
acontecimentos da cobertura cotidiana e com os princpios de sua media-
tizao visual.
O IMAGINRIO DO ACONTECIMENTO NA ICONOGRAFIA
FOTOJORNALSTICA DAS AES
Para alm das consideraes crticas que possamos fazer ao modo como
a apropriao do estilo documental pelo fotojornalismo desloca deter-
minados efeitos da imagem fotogrfica que estavam associados ao seu
programa modernista do incio do sculo XX, ainda assim deve-se re-
conhecer que no fotojornalismo que a circulao cultural da fotografia
assume a dimenso na qual seu estudo alcana as propores sociolgicas
nas quais a maior parte das teorias da fotografia se encontra engajada.
Com isto, pretendemos estabelecer que a validade de um projeto de mo-
dernidade, derivada da relao entre a fotografia e o universo das artes
claramente expressa no programa de crtica histrica de um Beaumont
Newhall, por exemplo tem alcance claramente limitado, uma vez con-
trastado com a fora pela qual a historia do fotojornalismo imprimiu uma
significao acontecimental prpria imagem fotogrfica.
Ainda assim, no se pode descartar a noo de que este processo de
legitimao cultural de uma iconografia dos acontecimentos (guiada por
pretenses de uma discursividade histrica mediatizada pela imagem) no
se d sem que certos aspectos desta estilstica migrem para o imaginrio
acontecimental, prprio aos gneros jornalsticos: nestes termos, h que
se considerar que, dentre os elementos que do matiz aos imperativos de
atualidade e de imediaticidade do discurso jornalstico, se encontrem
aqueles operadores da austeridade e da frontalidade da abordagem foto-
grfica que fizeram a glria de uma iconografia como a de Walker Evans,
ainda que estes sirvam a um propsito bem distinto daquele que movera
o ethos da fotografia documental dos anos de 1930.
Quando examinamos imagens do fotojornalismo, nos difcil esca-
par sensao de que esta iconografia se estrutura sobre a produo de
uma sensao de participao sinestsica com os eventos, numa tal or-
dem de constries impostas pela forma visual, que podemos admitir que
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA31
este efeito que os cones nos propem j parte de um sistema simblico
precisoe historicamente datado: o historiador da arte E. H. Gombrich o
define como um padro de verdade da representao visual, associando-
-o a um princpio do testemunho ocular, cuja origem antecede de muito
quilo que se pode dizer sobre as vocaes documentais mais estritas ao
meio fotogrfico; em verdade, as condicionantes deste discurso, em que a
imagem evoca (ou at mesmo instaura) acontecimentos, devem ser expli-
cadas no tanto por variveis associadas a critrios empricos de sua sig-
nificao, mas a aspectos mais ligados dramaticidade da representao
pictrica.
Os operadores iconolgicos mais notveis deste fenmeno (pelo qual
a matria da representao ascende condio de um testemunho vic-
rio) so, ao menos numa perspectiva mais clssica, os valores comuni-
cacionais que atribumos aos gestos, postura corporal, aparncia dos
elementos da cena e expresso fisionmica momentnea dos agentes,
assim como a relao que estes elementos podem manter entre si e com o
espao restante (o que manifestamente ilustrado pelo exame de inme-
ros exemplos de motivos visuais mais dinmicos, na arte grega do sculo
IV a.C.). Os pontos de contato mais cristalinos entre a poisis dramtica da
pintura e da escultura de aes e o registro testemunhal do fotojornalismo
que pretendemos formular se pode intuir nestas observaes do prprio
Gombrich sobre um painel pompeano do sculo I a.C., comemorativo
vitria do monarca macednio Alexandre sobre seu adversrio persa Dario:
O propsito para o qual eles (os gregos) desenvolveram o princpio
do testemunho ocular eram [...] essencialmente dramticos. A arte
era concernida com seres humanos em ao. Ela servia para render
eventos mitolgicos ou atuais. O testemunho ocular imaginrio da
batalha de Isso [...] nos faz assim participantes vicrios da refrega;
os recursos da pintura helenstica do sculo III a.C. permitiam ao
artista usar o escoro, sobreposio, luz, sombra e reflexo; vemos
os guerreiros caindo, os cavalos se empinando e tomamos parte do
momento em que a mar da histria se revolta e o rei persa em sua
carruagem tenta, em vo, evadir-se para escapar ao conquistador
[...]. Compreendemos, sem necessidade de muita reflexo, onde
que se supe que devamos estar na relao com o evento repre-
sentado e qual o momento que somos guiados a partilhar vica-
riamente com a testemunha ocular. No h nenhuma diferena de
32BENJAMIM PICADO
princpio entre a imagem e aquele instantneo nico com o qual o
fotgrafo de guerra pode sonhar. (GOMBRICH, 1982, p. 253-254).
O que significativo ainda que no suficiente em exemplos como
o de uma linguagem pictrica do acontecimento (como a do fotojorna-
lismo moderno) a noo de que a objetividade que se exprime atravs de
sua iconografia deve menos tributos natureza intrnseca de sua relao
com os assuntos representados do que com os tais padres de verdade
que sustentam o modo de apresentao visual do assunto, privilegiado
pela fotografia (e de longussima tradio, quando pensamos nos fun-
damentos iconolgicos de sua origem): apenas para nos determos sobre
um dos aspectos deste esquema da representao pictrica, pensemos na
questo do arranjo das coordenadas espaciais da profundidade e da dis-
tncia relativa dos corpos em cena, que nos parecem to naturalmente
pregnantes da prpria fotografia.
No que nos concerne de momento, o ponto importante a se ressaltar,
na formulao sobre o carter documental das imagens fotojornalsticas
e sua considerao como herana, ainda que perversa, de uma estilstica
da modernidade fotogrfica algo relativo ao modo como o arresto feito
animao originria das aes se consolida em figuras mais ou menos
cannicas da representao do acontecimento, no obstante o aspecto apa-
rentemente instantneo ou mecnico de sua origem concreta: para enten-
dermos o modo como o fotojornalismo consolidou estas figuras, precisa-
ramos especular sobre a funo dramtica desta rendio, que manifesta
uma sobrevivncia das figuras da intensificao passional da represen-
tao das aes na arte clssica dos gregos, ao menos no que respeita
ideia de uma assimilao entre a disposio linear dos actantes da cena e
o sentido de desdobramento que suas posies relativas e expressividade
somtica sugerem de um desdobramento das aes.
Neste contexto especfico, podemos supor que o aspecto documental
da imagem fotojornalstica se deriva, portanto, do modo como pudermos
descrever, na maior extenso possvel desta iconografia, aqueles elemen-
tos do apelo sensacional e passional pelo qual a fotografia capaz de fi-
xar, inclusive, o lugar estrutural da experincia da imagem que assim
funciona como um correlato pictrico do que a esttica da recepo de
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA33
Wolfgang Iser chamaria de estruturas do apelo do texto narrativo (por-
tanto, o modo como o discurso literrio constri a instncia de sua prpria
leitura). Um destes aspectos que concorre para o estabelecimento de uma
posio de testemunho da imagem, j o examinamos, derivado daquilo
que resulta da suspenso feita animao dos temas visuais, sobretudo
quando deste gesto de parada emergem as figuras de uma expressividade
somtica, das posies relativas entre corpos, objetos e espao, todas ser-
vindo produo de um sentido fortemente dramtico da representao
pictrica na fotografia.
No texto de Gombrich, h uma extensa argumentao sobre o modo
como a noo de perspectiva, enquanto mtodo de composio do espao
da representao, se localiza na base daquilo que caracteriza o testemu-
nho que se realiza como um princpio da representao pictrica: no obs-
tante as evidentes diferenas entre tal mtodo e as condicionantes da per-
cepo comum, ainda assim temos que reconhecer que a racionalizao
do espao propiciada pelos princpios geomtricos da construo dos
ambientes de um drama visual no diz respeito apenas consistncia
da relao entre quadro e realidade, mas sobretudo ao estabelecimento de
um especial chamado ao espectador, com respeito ordenao pictrica
do acontecimento e s disposies que ele deve assumir para um melhor
proveito da experincia visual. Gombrich identifica o pice desta encarna-
o de um padro de verdade da imagem pictrica no modo como Rafael
constri o espao das aes por exemplo, na representao do episdio
de So Paulo falando aos atenienses.
No h nenhuma dvida em minha mente de que um trabalho
como So Paulo Pregando em Atenas pode ser melhor compreendi-
do como uma aplicao do princpio do testemunho ocular. Note-
-se uma vez mais como o artista nos torna participantes da cena
momentnea na qual o apostolo de Cristo se endereava elite dos
filsofos pagos. Devemos nos vislumbrar sentados nos degraus
invisveis externos ao quadro, mas a imagem no nos mostra nada
que no possa ser visto de um ponto a uma distncia dada, distn-
cia esta que pode ser trabalhada matematicamente, mas que ns
sentimos instintivamente. esta consistncia que os historiadores
da arte gostavam de descrever como a racionalizao do espao.
(GOMBRICH, 1982, p. 255-256).
34BENJAMIM PICADO
Perguntemo-nos, portanto: como que as imagens de ao, to fre-
quentes na cobertura fotojornalstica, so igualmente capazes de nos im-
plicar enquanto seus potenciais espectadores? A resposta a esta questo
no simples e requer que pensemos com cuidado sobre os princpios
pelos quais o instante subtrado de sua animao original ainda preser-
va, na plasticidade da imagem, a fora pela qual esta rendio capaz de
significar o acontecimento. Uma primeira etapa da explorao dos impe-
rativos comunicacionais do fotojornalismo nos exige, portanto, algumas
consideraes sobre os regimes temporais que esta imagem capaz de
instaurar, a partir mesmo dessa suspenso feita ao movimento originrio
de seus motivos. Pensemos esta ordem de questes, a partir de um exame
cuidadoso de imagens como a que se segue:
Figura 5 Don McCullin Siege of Derry (1971) Sunday Mirror/Don McCullin.
A disposio dos elementos da imagem menos relativa aos aspectos
que nela infundem sua particular historicidade, estando mais implicada
pelo sistema de vetores de imerso, que trabalham fortemente sobre o
modo como a representao se orienta para um testemunho visual pos-
svel: neste modo de implicar o acontecimento reportado pelo fotojor-
nalismo aos modos de construo da posio do espectador em relao
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA35
aos fatos, descortina-se uma relao entre o sentido de atualidade que
prprio a estas imagens e aquilo que as manifesta enquanto parte de um
regime, por assim dizer, mais potico de sua significao.
Com isto, queremos estabelecer que a questo da produo discursi-
va de base do fotojornalismo envolve sua correlao com certos processos
de reativao mimtica prprios economia cognitiva da experincia
ficcional e que certos autores associam aos poderes representacionais
dos dispositivos fotogrficos, em especial na instaurao de um mundo
visual quase natural.
A anlisecorreta dos vetores de imerso ficcional utilizados pelas
artes mimticas que exploram as representaes analgicas colo-
cam um problema particular, na medida em que, precedendo a
questo de seu carter ficcional ou no, as imagens grficas e as
fotografias so sempre e desde j mimemas e, assim, so sempre
j interiorizadas por um processo de imerso mimtica [...]. O ve-
tor de imerso que utilizado pelas fices que se servem do su-
porte grfico ou fotogrfico o fingimento de uma representao
visual homologa [...]. Por outro lado, e esta uma das razes da
dificuldade que h em separar as situaes de fico das situaes
de mimese homloga na pintura e na fotografia a postura da
imerso ficcional exatamente da mesma ordem que no caso de
um mimema visual homlogo: trata-se de uma imerso perceptiva.
(SCHAEFFER, 1999, p. 247).
Assim sendo, esta imagem no apenas nos exibe os caracteres de
uma ao, mas igualmente capaz de nos restituir s condies mais pri-
vilegiadas de sua visualizao, tanto no espao quanto no tempo, tanto
em perspectiva quanto num instante: uma vez mais, isto manifesta uma
enunciao de princpios da representao visual (e do testemunho ocular
nela comprometido) com os quais se caracterizou, em certos ramos da
histria da arte, a economia ficcional na qual o realismo visual foi histori-
camente gestado na pintura e no desenho. Em suma, esta relao entre re-
presentao e atualidade ecoa o princpio gombricheano do testemunho
ocular, do qual j tratamos abundantemente em vrias ocasies.
H nestas imagens uma predileo pela frontalidade da apresenta-
o dos motivos da cobertura, o que caracteriza em ambas um aspecto de
prototeatralidade, qual j fizemos meno alhures (PICADO, 2008): tal
disposio dos elementos da cena nos permite evocar nestas imagens o
36BENJAMIM PICADO
aspecto da chamada em causa do espectador, enquanto parte de sua signi-
ficao; ao impor tal linearidade nas relaes entre os elementos vivos da
imagem, vetorializa-se a integrao entre os mesmos, assim como tam-
bm se implica um modo de ver a cena, que prprio ao testemunho visu-
al que se pretende. Nestes termos, a frontalidade do olhar e a linearizao
de seus elementos internos constituem os princpios pelos quais a ima-
gem, uma vez composta, poder responder aos imperativos discursivos
que se exercem sobre as formas visuais da fotografia de acontecimentos.
Imaginando que a prtica fotojornalstica tenha infundido produ-
o destas imagens uma pretenso de historicidade por sua vez deri-
vada dos valores de testemunho que elas pareceriam possuir enquanto
carga semntica e mesmo esttica h o que se pensar sobre a concepo
mesma deste testemunho ocular, no contexto da produo de um espao
de visualizaes: de um ponto de vista filogentico (relativo s condies
concretas da origem da imagem), diramos que a noo do testemunho
como derivada da contemporaneidade entre o olhar fotogrfico e o acon-
tecimento pode ser contestada, uma vez considerada a concepo espacial
na qual se enraza sua plasticidade mesma: nos referimos aqui ao proble-
ma muito grave da gesto meditica do acontecimento que se manifesta
no fotojornalismo.
Neste contexto, podemos estabelecer relaes muito rentveis entre
este modo de vetorializao da apresentao das aes que demarca com
predominncia as regras de posicionamento do olhar fotogrfico em rela-
o ao acontecimento e o modo como o princpio do testemunho ocular
evoca, em Gombrich, a noo mesma da composio do espao sob as re-
gras da perspectiva: de fato, podemos at mesmo estabelecer que este m-
todo de compor pinturas est na base daquilo a que o historiador designa
como sendo o postulado negativo do mesmo princpio, ou seja, o de que o
quadro no deve incluir nada que o testemunho visual no possa ter apre-
endido de um ponto de vista determinado e em um momento especfico.
Por outro lado, h que se considerar tambm que este testemunho
objetivo, dado pela frontalidade da apresentao da cena e pela correta
explorao dos limites do plano visual da imagem para ofertar o acon-
tecimento, tambm se correlaciona ao modo como os historiadores da
fotografia definiram a austeridade do estilo documentrio da fotografia
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA37
social de Walker Evans e de August Sander, sobre o qual j tratamos ante-
riormente.
H, entretanto, outra ordem de questes que evocada pela noo de
que a imagem pode servir produo de um sentido testemunhal (aspecto
este que a coliga s prticas documentais na cultura visual da modernida-
de), e que so devidas a outros tipos de condicionantes de sua apresenta-
o. O prprio texto de Gombrich menciona a questo, quando evoca este
princpio, a partir de uma formulao a que chamar de positiva: se a
perspectiva nos permite articular a relao entre o testemunho propiciado
pela imagem e os critrios de seletividade dos aspectos que podem ou
no entrar no jogo da representao com o espectador, podemos nos per-
guntar, em seguida, qual a quantidade de informao visual necessria
para que este testemunho se efetive. Em suma, a perspectiva nos auxilia a
pensar a seleo visual; mas a intensidade da apresentao dos aspectos
assunto que escapa jurisdio deste mtodo.
Estamos falando aqui do que ocorre ao testemunho que se preten-
de conferir ao assunto da imagem, quando muitos dos aspectos que nos
ajudariam a defini-lo se perdem, por razes variadas, todas ligadas in-
tensificao de alguma condio de sua apreenso na viso (movimento,
velocidade, distncia, luminosidade, entre outros): em tais condies, o
testemunho que a imagem oferece traduziria a circunstncia especfica na
qual a visualizao pela imagem se coliga ao registro testemunhal, deslo-
cando o eixo de sua compreenso das condies objetivas que se oferece-
riam a um espectador, apenas na medida em que ele se coloque na posio
adequada para experiment-la, para aquilo que designar como um tes-
temunho subjetivo atravs da imagem, na qual as condies especficas
da localizao do olhar no so guiadas pelas regras da racionalizao do
espao, mas pela intensificao de certas variantes da visualizao.
Viso, iluminao, condies atmosfricas, a natureza mesma dos
objetos sua cor, textura, contraste com as redondezas estas e
outras variveis cumprem um papel aqui, mesmo quando no te-
mos culos ou binculos para perturbar o princpio, seja por mag-
nificao ou, se invertermos os binculos, para reduzir as escalas
e incrementar a luminosidade relativa [...]. O pintor no pode fazer
recurso a mtodos similares e, portanto, a observncia perspec-
tiva do desaparecimento o conduz inexoravelmente na direo de
38BENJAMIM PICADO
um caminho de introspeco, para a explorao da experincia vi-
sual subjetiva. (GOMBRICH, 1982, p. 262)
neste ponto que somos conduzidos mais expressamente da questo
do testemunho e de suas condies objetivas para aquela outra da imerso
ou da absoro espectatorial na imagem: certo que a imagem fotojor-
nalstica no se furta a exibir certos ndices desta mesma virada para a
subjetividade dos regimes espectatoriais de sua iconografia. Historiadores
como Michael Fried discutiram abundantemente esta questo dos regi-
mes absortivos, desde a pintura setecentista at a arte contempornea:
em nosso juzo, estas mesmas questes podem afetar as discusses sobre
como o testemunho visual da imagem fotojornalstica e documental expri-
mem certo sentido de modernidade, especialmente no modo como nelas
se manifesta a reflexo sobre o lugar do espectador na experincia visual.
Mas estas so questes para outra oportunidade.
REFERNCIAS
BENJAMIN, Water. A obra de arte na poca de sua reprodutibilidade tcnica.). In:
LIMA, Costa Luiz (Org.). Teoria da Cultura de Massa. Trad. Carlos Nelson Coutinho.
Rio: Paz & Terra, 1982. p. 209-240.
CHEVRIER, J. F. Walker Evans et la question du sujet. Communications, Paris: Seuil.
71 2001, p. 63- 103.
CRARY, Jonathan. La modernit et la question de lobservateur. In: ______. LArt
de lObservateur: vision et modernit au XIXe sicle. Trad. Frdric Maurin. Paris:
Jacqueline Chambon, 1994. p-. 19-51.
FRIED, M. Painting and beholder. In:______. Absortion and Theatricality: painting and
beholder in the age of Diderot. Berkeley: University of Calfornia Press, 1980, p. 107,160.
GOMBRICH, E.H. Standards of Truth: the arrested image and the moving eye. In:
______. The Image and the Eye. London: Phaidon, 1982. p. 244 277.
LUGON, Olivier. Du document au documentaire. In: ______. Le Style
Documentaire: de August Sander Walker Evans. Paris: Macula, 2001.p. 31,118.
PICADO, Benjamim. Le Temps des Gestes et larrt sur limage dans le
Photojournalisme: entre la rhtorique corporelle et le pathos iconique. Image &
Narrative. Leuven: K.U.Leuven v. 9, n. 3 , 2008. Disponvel em: <http://www.
imageandnarrative.be/inarchive/Timeandphotography/picado.html>
OS REGIMES DO ACONTECIMENTO NA IMAGEM FOTOGRFICA39
PICADO, Benjamim. Sobre/pelo/contra o dispositivo: revisitando a arch da fotografia.
Matrizes. So Paulo: ECA/PPGCOM/USP, v. 4, n. 2. jan./jun., p. 165-181. 2011,
ROUILL, A. As funes do documento. In: A Fotografia, entre o Documento e a Arte
Contempornea. So Paulo: SENAC, 2010. p. 97- 134.
SCHAEFFER, Jean-Marie. De quelques dispositifs fictionels. In: ______. Pourquoi la
Fiction. Paris: Seuil: 1999, p. 231-315.
41
ESTHER HAMBURGER
Visibilidade, visualidade e performance
em 11 de setembro de 2001
Uma sequncia de movimentos inusitados articula elementos cnicos ca-
ractersticos das utopias futuristas do incio do sculo XX: o avio, o arranha-
-cu, o cinema, a metrpole. (SCHWARTZ; CHARNEY, 2001) A sequncia
realiza com preciso preceitos do cinema industrial, de ao, de acordo com
uma marcao de tempo que atrai e se abre a outro meio, caracterstico j
do final do sculo passado: a cobertura televisiva. O meio eletrnico registra
e transmite ao vivo e em tempo real os desdobramentos do primeiro ato. O
resultado um espetculo cinematogrfico feito para a televiso, que incor-
pora eventos inesperados e vozes imprevistas em um percurso que admite
alguma dose de indeterminao e mistrio.
Os atos que se seguem ao primeiro movimento (esse, o ltimo a ga-
nhar visibilidade), foram vistos ao redor do globo. A ao coordenada e
planejada, realizada ao ar livre, em uma manh luminosa, logo aps o
anncio da expectativa de dia calmo por um dos homens do tempo, desen-
cadeia uma sequncia sem fim de reverberaes. O espetculo inequvoco
provoca a interrupo da programao regular das emissoras de televiso
por uma durao longa, indita e difcil de ser plenamente mapeada. Em
apenas alguns minutos reverbera, estimulando a formao de ampla rede
de transmisso via satlite que conectou emissoras de rdio e televiso a
cabo, internacionais, nacionais, locais e abertas, alm de provedores de
notcias na internet. A partir desses instantes iniciais, durante pelo menos
24 horas, de maneira ininterrupta, os olhares do mundo convergiram,
atravs de intrincados caminhos de rede, para um mesmo alvo no Globo.
42ESTHER HAMBURGER
Essa disposio de olhares configura uma espcie de panptico inverti-
do (COMAROFF; COMAROFF, 2004) que paradigmtico do jogo de
disciplinas e indisciplinas dos tempos que correm, onde a disputa pelo
controle do universo do que visvel, como, aonde, e de acordo com que
arranjos visuais, mobiliza as mais diversas foras sociais e ganha dimen-
so estratgica na vida cotidiana.
Embora, os primeiros depoimentos mencionem a lembrana do som
estridente de avio a jato voando estranhamente baixo, seguido por um
estrondo de enormes propores, como o alarme que teria despertado a
ateno de pessoas que viviam e/ou trabalhavam em um raio de distncia
relativamente grande do local do choque, as imagens transmitidas ao vivo
eram estranhamente mudas. A estridncia sonora caracterstica do cine-
ma espetculo, compartilhada pela televiso, que frequentemente apela
para o volume como recurso para atrair a ateno muitas vezes distrada
do espectador, esteve ausente.
O ataque foi desenhado de maneira a garantir efetividade e reverbe-
rao ao registro visual. A performance espetacular oferece-se e se impe
ao escrutnio pblico. A especulao sobre a natureza do desastre incorpo-
rou a participao ao vivo de testemunhas oculares que contriburam com
depoimentos para a compreenso e a difuso do que ocorria. Pegas de
surpresa pela exploso, coube s emissoras e mdia em geral especular e
encontrar testemunhas que especulassem sobre os muitos pontos miste-
riosos daquele atentado grandioso e enigmtico, a comear pela natureza
da primeira exploso, da qual no havia inicialmente imagem. As pergun-
tas que orientam a elaborao dramatrgica se apresentaram em aberto
para serem desvendadas pelo pblico e pelas emissoras, ao vivo e a cores.
A imagem parada do prdio em chamas apresenta-se como enigma
inicial. ncoras indagam sobre a natureza do objeto que se chocou com
a primeira torre, provocando a exploso e o fogo, quem o autor da ao,
quem so as vtimas e o por qu do evento. Sabemos aonde, porque a
imagem paradigmtica. As torres construdas na segunda metade do
sculo XX, quando eram as mais altas do mundo, marcaram a silhueta
de Nova York. Inscritas no skyline de Manhattan, elas aparecem em in-
meros filmes e registros visuais. As torres eram um dos pontos tursticos
mais visitados da cidade. A viagem ao topo do mundo, pelo sistema de
VISIBILIDADE, VISUALIDADE E PERFORMANCE EM 11 DE SETEMBRO DE 200143
elevadores que levava ao observatrio Top of the World em uma torre, ou
ao restaurante, sugestivamente chamado Windows on the World, na ou-
tra. De ambas as coberturas se podia admirar a vista se no do mundo,
como a bandeirosa metonmia do ttulo sugere da cidade cenogrfica,
que alm de super-heris como Batman, Super-Homem e Homem Ara-
nha, foi e continua servindo como locao privilegiada a filmes, seriados,
anncios publicitrios.
Sabemos tambm quando, porque as transmisses foram feitas ao
vivo. As imagens das emissoras norte-americanas incluem o registro da
passagem do tempo, minuto a minuto, em algum canto da tela. Essa fun-
o relgio faz parte do dispositivo televisivo de todo dia e os apresenta-
dores dos programas de variedades que ocupam o horrio matinal a ele
se referem entre um quadro e outro. Dez anos depois, a referncia exata
passagem do tempo permanece nos trechos sucessivos da cobertura de
TV daquele dia e dos prximos disponveis no YouTube, com marcao
precisa de data. Entre outras coisas, o imenso arquivo virtual composto de
fragmentos tambm um acervo de histria da imagem em movimento.
No incio da cobertura, informaes vinham de moradores das ime-
diaes que narravam o que haviam visto minutos antes. A maior parte
dessas vozes de narradores improvisados permanece sem rosto. Suas falas
ilustraram as imagens silenciosas, captadas distncia por cmeras pa-
radas durante longos minutos de suspense. Algumas delas pertencem a
pessoas ligadas ao universo da mdia, como o diretor financeiro da CNN,
que morava perto e contribuiu com seu depoimento nos primeiros minu-
tos da cobertura. Outros no possuem relao com o universo da mdia.
Uma moradora de um prdio alto em Chelsea, a meio caminho entre o
extremo sul da ilha e a regio intermediria na qual se encontra o Central
Park, descrevia o que havia visto 15 minutos antes, quando de repente as-
sustada passa a narrar o prximo movimento: o choque do segundo avio
na segunda torre.
Nesse caso coube a uma testemunha, leiga e sem experincia jornals-
tica, incorporada rede mundial que se formou imediatamente, a respon-
sabilidade de reagir a um novo lance na surpreendente evoluo da ao
que em menos de duas horas levou ao colapso, ao vivo, e em tempo real
de dois dos mais altos prdios do mundo, smbolo dos Estados Unidos.
44ESTHER HAMBURGER
O desaparecimento das torres tornou obsoleto os estoques de souvenires
com a imagem do skyline, disponveis nas inmeras lojas especializadas da
ilha, ou em exposio, como trofus que atestam que seus proprietrios,
turistas, especialmente estrangeiros, estiveram l.
O movimento do segundo avio foi rpido e inesperado. O segun-
do choque pode ser visto graas ao estrondo e ao estrago provocado pelo
primeiro, estopim que atraiu a ateno das cmeras de televiso. Talvez o
intervalo de apenas um quarto de hora no fosse suficiente para garantir
a chegada das cmeras em outros lugares. Mas Nova York uma das ca-
pitais da mdia. A CNN, por exemplo, tem escritrio nas proximidades.
A emissora de canal a cabo, especializada em notcias internacionais,
foi a primeira a entrar no ar, apenas dois ou trs minutos aps a primeira
exploso. Ela logo foi seguida pelas emissoras nacionais de TV aberta, NBC,
ABC, CBS e FOX.
1
A comparao entre a cobertura das diversas emissoras
curiosa. Ela revela um alto grau de semelhana de formato e pauta na
programao matinal. Cada uma das emissoras de TV aberta possui um
programa de variedades apresentado por uma mulher e um homem. Em
cada uma delas, assim que o alarme soou, as pautas originais do dia a dia
foram substitudas pelo comentrio coordenado por essas mesmas duplas.
O material de arquivo das emissoras americanas, disponvel na rede mun-
dial de computadores tal como foram ao ar, se inicia vrios minutos antes
da interrupo da programao, permitindo o reviver do momento em que
o choque veio tona.
2
Reconstituir essa narrativa audiovisual sui generis,
construda de acordo com algumas regras da fico clssica, permite a es-
peculao sobre diferentes formas de apropriao das regras de construo
do espetculo. Vale revisitar passo a passo os primeiros lances desse evento
miditico para entender as implicaes dele para a definio do universo
do espetculo, para a definio de visibilidades e visualidades. A ideia
pensar que a sociedade do espetculo pode ser, como foi, atacada a partir de
1 A cobertura aqui mencionada pode ser vista em: <http://www.youtube.com/watch?v=eLN6TtYTQ
Cc>, <http://www.youtube.com/watch?v=xlXSbaAmmC8>, <http://www.youtube.com/watch?v=Y
cvJKrqp07k>, <http://www.youtube.com/watch?v=65_i9MXVqBw,http://www.youtube.com/watch?
v=1Tx0dXsZW2s>. ltimo acesso em: 27 nov. 2012.
2 No h material equivalente disponvel sobre a cobertura das emissoras brasileiras. H registros
de documentrios e trechos de programao, mas as mesmas referncias de data e horrio de
exibio.
VISIBILIDADE, VISUALIDADE E PERFORMANCE EM 11 DE SETEMBRO DE 200145
suas prprias convenes narrativas. O domnio das tcnicas de roteiriza-
o e de cobertura possibilitaria o jogo de foras em torno do controle dos
mecanismos de produo e difuso de contedos miditicos.
O YouTube funciona como um arquivo de material televisivo e o exa-
me comparativo das imagens permite a combinao sugestiva da reme-
morao com o olhar movido pelas inquietaes do presente, marcadas
pela experincia vivida nesse espao de tempo. No passam desapercebi-
dos por exemplo os recorrentes anncios comerciais de emprstimos fi-
nanceiros garantidos por hipotecas imobilirias, ou os anncios de venda
e revenda de carros. Sete anos depois, em 2008, ruiriam as estruturas de
financiamento da casa prpria, um dos pilares da estrutura social norte-
-americana. E pouco tempo depois o governo de um dos pases de estru-
tura liberal quebraria um de seus dogmas investindo recursos pblicos na
recuperao da indstria automobilstica.
De 8:48h 8:51h do dia 11 de setembro de 2001, uma a uma, as emis-
soras foram interrompendo sua programao para dar lugar s notcias
chocantes sobre o que ficaria conhecido como o primeiro ataque de peso
ao territrio americano. s 9:03h, a entrada do segundo avio pode ser vis-
ta, se no ouvida, ao vivo, por milhares e milhares de pessoas no mundo
inteiro. O alvo, a segunda torre. Um dos instrumentos, a mdia. Refns de
um espetculo que seguiu risca, ou talvez, de maneira at mais potente,
as regras da narrativa sensacional, as emissoras perderam o controle de
sua grade de programao. Em certo sentido possvel inferir que, ao
se apropriarem de maneira contundente das convenes narrativas que
regem o espetculo, os idealizadores dos ataques, quem quer que sejam
eles, inventaram um roteiro que teve incio no aeroporto de Boston, de
onde os avies levantaram voo, pilotados por agentes de uma conspirao
performtica suicida. Seguiu-se o sequestro e o desvio de rota, operaes
realizadas na surdina. O primeiro desvio, cerca de 45 minutos depois, an-
tes que o desaparecimento dos avies tivesse chamado a ateno, levou
primeira exploso. O segundo, cerca de 18 minutos depois do primeiro,
foi filmado e visto em tempo real. Esse segundo movimento elucida o pri-
meiro, move a narrativa e levanta novas perguntas.
A imagem do segundo avio entrando em cheio na segunda torre res-
ponde ao questionamento verbalizado pelos apresentadores e testemunhas,
46ESTHER HAMBURGER
o que teria atingido a primeira torre do World Trade Center? Teria sido um
avio? De que tamanho? Seria um acidente ou um atentado? Perguntas b-
sicas em um roteiro clssico, como o qu e o por qu foram respondidas
visualmente. Coube s vozes, que comentavam em over ou em off, verbalizar
as primeiras elucidaes de um enigma sobre o qual at hoje pairam dvi-
das. A partir dessa contundente demonstrao de domnio sobre as con-
venes da linguagem flmica e jornalstica industrial possvel especular
sobre uma relativa desarticulao da potncia do noticirio televisivo e do
cinema espetacular, em tempos em que suas convenes foram apropriadas
em uma enorme demonstrao de fora dramtica para narrar destruio.
Talvez desconfiadas, talvez mais sensveis desgraa quando ela se
d em solo ptrio do que quando se d em outras paragens, provavelmen-
te um pouco de cada, as emissoras norte-americanas ofereceram uma co-
bertura bastante contida. Poucas variaes de enquadramento marcaram
as primeiras imagens. Essas variaes eram dadas em geral pela alterao
do ponto de observao. Ou no mximo por zoom in ou out nas fachadas
dos prdios atingidos. diferena de outras coberturas de guerra (vale
lembrar que a da guerra do Iraque no incio dos anos de 1990 mereceu co-
bertura ao vivo, resultando em imagens que aproximaram o bombardeio
de um show de fogos de artifcio), a cobertura dos atentados se deu sem
som. As imagens repetidas inmeras vezes eram imagens em plano geral.
A cobertura no revelou detalhes do sofrimento das vtimas, como costu-
ma ser a norma na televiso ocidental, acostumada a mostrar cadveres
dilacerados por exploses que cotidianamente ganham a pauta dos princi-
pais rgos da mdia impressa e eletrnica. O choque entre avies e torres
apareceu distncia. No vimos imagens em plano prximo de mortos
ou feridos. como se limitando o sensacionalismo das transmisses
exaustiva repetio dos instantes decisivos, ao choque e ao desabamento
dos edifcios, as emissoras acusassem a agresso e procurassem conter a
reverberao do golpe certeiro. E como para compensar terem funcionado
como uma extenso do ataque, lanaram-se logo a seguir em uma cober-
tura nacionalista e oficial dos acontecimentos que se sucederam, dando
incio a um perodo sombrio da histria americana e mundial.
A agressividade do mpeto blico norte-americano que se seguiu aos
ataques de 11 de setembro de 2001 ofuscou a anlise do ataque propria-
VISIBILIDADE, VISUALIDADE E PERFORMANCE EM 11 DE SETEMBRO DE 200147
mente dito. Nos Estados Unidos, a reao aos atentados confundiu-se com
a crtica ao bombardeio da mdia que legitimava o ultraje nacionalista,
justificando as desastradas incurses blicas do imprio americano no
Afeganisto e no Iraque. A adeso da mdia comercial e teoricamente
livre e pluralista posio governamental gerou um discurso homog-
neo que justificava o esforo de guerra, a censura, e condenava qualquer
dissidncia como traio. A sensibilidade mundial a um ataque esttico
e poltico revelou-se no cancelamento, ainda em setembro de 2001, de
quatro concertos de Karlheinz Stockhausen, que seria homenageado no
Festival de Msica de Hamburgo na Alemanha, depois que o compositor
declarou na coletiva de imprensa s vsperas do Festival que os atentados
seriam The greatest work of art ever.
Os atentados de 11 de setembro entraram no discurso fundamenta-
lista da direita americana, logo apoiada pela Inglaterra e Alemanha, como
evidncia assustadora da ameaa que justificaria o recurso a medidas de
exceo. Ao se contraporem a essa perspectiva conservadora e belicista,
intelectuais e crticos se concentraram em procurar desconstruir os mons-
tros construdos a partir dos medos liberados por ocasio dos ataques.
Crticos daquele pas escreveram sobre o 11 de setembro em busca de de-
sarticular o discurso que identificou o mundo muulmano como inimigo
externo, contra o qual talvez fosse possvel unificar uma potncia mun-
dial em declnio, heterognea e talvez irremediavelmente cindida. Noam
Chomsky (2003) engajou-se no debate poltico internacional. Bill Nicholls
(2005), o mestre na discusso sobre os tipos de documentrio, coloca o
seu instrumental a servio da crtica ao vis oficialista e defensivo da co-
bertura da mdia aos eventos que se seguiram aos ataques.
H textos mais pessoais, que em contraposio reao agressiva
amplificada pela mdia buscam salientar o esprito comunitrio que flo-
resceu na cidade de Nova York na sequncia dos atentados. A tolerncia
como princpio de quem no s convive com, mas valoriza mesmo as di-
ferenas, se expressaria em aes comunitrias e de solidariedade e em
memoriais pelas vtimas, com fotografias, flores e bilhetes, instalados em
lugares pblicos, nas proximidades do que ficou conhecido como marco
zero. Em chave que associa trauma, memria, cinema e psicanlise, por
vezes em tom pessoal, e por vezes em tom analtico, Ann Kaplan (2005)
48ESTHER HAMBURGER
d o depoimento de quem esteve alm da distncia proposta pelas ima-
gens televisivas. Moradora das proximidades do marco zero, durante dias,
semanas e meses, a autora e professora nos campos de Estudos de Trauma
e Estudos de Cinema, vivenciou barulhos, cheiros, sujeiras. Um pouco
como Gerahty (1998) ou Silverstone (1998), em suas descries sobre o fe-
nmeno de mdia em que se transformou o funeral de Diana, Princesa de
Wales, na Londres de 1992, Kaplan reflete sobre sua experincia direta do
evento. O trauma dos atentados do 11 de setembro acende na sua memria
outro trauma de guerra: o trauma dos bombardeios a Londres, sua cidade
natal, durante a Segunda Guerra Mundial. O universo que ela descreve e
fotografa no apareceu nas emissoras norte-americanas, preocupadas em
demonizar os supostos mandantes de um atentado que nunca foi de fato
reivindicado por ningum. Na falta de rostos, a reao truculenta tratou de
invent-los e persegui-los. Kaplan chama a ateno para o contraste entre
o discurso belicista adotado pela mdia e pelo governo americano depois
dos ataques e as experincias de solidariedade comunitria que ela viven-
ciou nas imediaes do local da tragdia. H os que optaram pelo silncio
como estratgia para fazer frente hipervisibilidade dos ataques que pa-
recia reforar o discurso fundamentalista, justificando a retrica belicista.
O cinema se oferece como estratgia legtima diante da dificuldade em
mencionar o tema sem reforar o ataque.
O cinema est implicado nos eventos miditicos daquele dia e dos
dias que se seguiram, de diferentes maneiras. A cobertura ao vivo, via sat-
lite, disseminou imagens do atentado roteirizado por foras que revelaram
o domnio das convenes do espetculo, seja no registro da fico ou da
notcia. Filmes como Nova York sitiada (1998), citados na imprensa brasi-
leira da poca como inspirao para os ataques, parecem tmidos quando
comparados ao resultado visual dos atentados. de um personagem de
Matrix (1999), a frase que deu ttulo primeiro ao ensaio, e depois ao livro
de Slavoj Zizek (2003) sobre o tema: Bem vindo ao deserto do real.
A indstria cinematogrfica viu-se implicada. De imediato, imagens
das torres gmeas foram eliminadas do novo filme do Homem Aranha.
O trailer da verso que entraria em cartaz em maio do ano seguinte come-
ava com um ataque a uma repartio coorporativa cheia de dispositivos
de segurana e terminava com a imagem do helicptero dos bandidos
VISIBILIDADE, VISUALIDADE E PERFORMANCE EM 11 DE SETEMBRO DE 200149
enredado na teia do super-heri, posicionada justamente entre as duas
torres, que lhe serviam de suporte. O recado claro sobre o poder de resis-
tncia de Gotham City, mudava de significado, com o desaparecimento
das torres. O filme agora promoveria uma lembrana indesejada, como
que prolongando o efeito dos atentados, ao chamar a ateno para o vazio.
Mais uma vez aqui a funo arquivo do You Tube preserva um documento
audiovisual relevante para a reconstituio da sucesso de interlocues
audiovisuais que caracterizou o momento.
3
A contundncia dos atentados refora o carter estratgico da busca de
alternativas audiovisuais ao que j nos anos de 1960 Guy Debord (2002),
talvez em uma das primeiras formulaes a reconhecer a substncia das
imagens na vida cotidiana, denominou a sociedade do espetculo. A conceitu-
ao do artista-ativista-filsofo deu-se em forma literria e em forma flmi-
ca. A edio recente de uma caixa contendo os trabalhos flmicos de Debord
repe o pensamento do autor que tanto refletiu sobre o estatuto da imagem
nas sociedades contemporneas em um momento em que a percepo do
carter de construo cultural das imagens se generaliza.
Os filmes de Debord so trabalhos formais, feitos a partir do vazio,
ou do reaproveitamento de imagens, da compilao que na montagem
prope novas tenses. Em comentrio sobre o trabalho flmico de Debord
(2002), Agamben (2007) ope cinema e mdia, poesia e prosa, possibili-
dade e fato. O cinema nos possibilitaria entender o movimento das coisas,
as condies de possibilidade dos processos, em oposio mdia que nos
oprimiria com a apresentao de fatos consumados. O cinema de Debord
seria um cinema de repetio e paragem um cinema que nos possibi-
litaria a inveno, por nos colocar diante da possibilidade de reinterpre-
tar na repetio um cinema que repete, mudando ao cortar e colar.
Essa operao distintiva permite ao autor resgatar a dimenso cineasta do
situacionista que em seu tempo procurou construir chave interpretativa
alternativa ao domnio das imagens, e que nesse esforo muitas vezes se
contraps ao cinema. A formulao de Agamben est em sintonia com
outros esforos ps-estruturalistas, como o de Gilles Deleuze, de resgatar
no cinema a possibilidade de desenvolvimento do pensamento, no sentido
3 O trailer original do lme pode ser visto em <http://www.youtube.com/watch?v=bjtXUULtH4E>.
50ESTHER HAMBURGER
libertrio e libertador, e em oposio s narrativas fechadas, baseadas em
histrias de ao, nos feitos de protagonistas heris, focados em atingir
determinadas metas, que orientam seus movimentos em sequncias line-
ares movidas por relaes de causa e efeito.
Embora o trabalho de Guy Debord tenha de certa forma permanecido
margem dos Estudos de Cinema, sua crtica dialtica sociedade do es-
petculo merece ser retomada, pois possvel que a partir dela se possam
entender os esforos de apropriao dos mecanismos de produo do es-
petculo. No horizonte desse texto est a especulao sobre a ideia de que
a lgica do espetculo, imaginada por Debord como uma fantasmagoria
que fascina o pblico reduzido posio de espectador, se expandiu para
incluir esse pblico, disposto a atuaes performticas no universo mes-
mo do espetculo.
Em 1968, Guy Debord cunhou o conceito de sociedade do espetculo
para descrever sociedades saturadas pela imagem. O trabalho do filsofo-
-ativista francs chama a ateno para a centralidade que o universo cultu-
ral das imagens, embora fantasmagrico, no sentido de imaterial, assume
em sociedades capitalistas avanadas.
O livro de Guy Debord foi originalmente publicado em novembro
de 1967. O texto expressa os termos e as formas de uma postura crtica
sintonizada com palavras de ordem libertrias, as formas fragmentadas,
espontneas, que os movimentos sociais ento emergentes anunciavam.
Situa a opresso contempornea no plano da cultura, onde h espao para
incorporar manifestaes libertrias pela constituio de subjetividades
alternativas, como propostas pelos movimentos estudantis, negro, femi-
nistas, gays, tnicos, ecolgicos. O trabalho expressa de maneira sensvel
diversas expectativas e posicionamentos que estavam na ordem do dia na
dcada de 1960, em plena guerra fria ps-stalinista, e que ainda no se
resolveram. O autor expressa claramente sua crtica ao chamado socialis-
mo real, em especial nos termos da crtica ao regime sovitico. Tal como
os movimentos que sacudiram a Europa e as Amricas nos anos de 1960,
o livro procura definir uma posio que escape das limitadas opes dico-
tmicas instauradas pela Guerra Fria.
O espetculo emerge no pensamento de Debord como noo que
condensa a opresso nas sociedades contemporneas. A noo de espet-
VISIBILIDADE, VISUALIDADE E PERFORMANCE EM 11 DE SETEMBRO DE 200151
culo vem carregada de um tom de denncia pelo que aparece como dom-
nio das imagens (que poderia talvez encontrar paralelo no estatuto maldito
que a imagem tem em culturas orientais), o que rendeu ao autor um certo
desprezo no campo da cinefilia. O espetculo vai se definindo ao longo do
texto quase como um pesadelo. O espetculo expressa a degradao do
mundo real em mera imagem (p. 18). As definies crticas avolumam-se
e adquirem um tom meio fantasmagrico: imagens tornam-se seres re-
ais e motivaes de um comportamento hipntico (p. 18). O espetculo
a reconstruo material da realidade religiosa (p. 20). O espetculo
o sonho mau da sociedade moderna aprisionada, que s expressa afinal o
desejo de dormir. (p. 21) O espetculo bane qualquer outra fala. (p. 23)
Em certo sentido, Debord reporta-se ao referencial marxista, ao vin-
cular o espetculo luta de classes e ao Estado como manifestao poltica
dela: O poder est na raiz do espetculo. O espetculo est associado ao
Estado moderno, entendido como rgo de dominao de classe (p. 24).
Mas o pensamento de Debord no se atm a esses marcos tericos. Sua
maneira de identificar o poder com uma entidade fantasmagrica difusa,
porm onipresente, uma dimenso em que Estado, instituies sociais e
simblicas se confundem em suas prticas e discursos disciplinadores,
coercitivos, cerceadores, est em sintonia com o pensamento tambm
ps-estruturalista de Foucault.
A noo de espetculo, tal como defendida por Debord, estabeleceu-
-se quase como um dado, mas descritivo. Vivemos na sociedade do espe-
tculo, no h como contestar. O conceito vem tona especialmente em
momentos em que temos de dar conta de fenmenos miditicos que hoje,
talvez mais do que nos anos de 1960 e 1970, constituem muitas vezes a
substncia de jogos de poder no espao pblico. De maneira mais genri-
ca, a noo busca dar conta da dimenso cotidiana que a presena do jogo
miditico impe s relaes sociais e polticas.
A noo de sociedade do espetculo eficiente. O rtulo funciona
to bem talvez porque compartilhe um pouco do apelo sensacional que
critica. O termo tem apelo tambm frente crescente insatisfao com
a crise generalizada das instituies polticas e sociais, nas mais diversas
partes do globo. Depois do desmonte dos regimes socialistas, impasses
eleitorais, movimentos blicos ilegtimos, e crises econmicas colocam as
52ESTHER HAMBURGER
democracias ocidentais na berlinda e com elas a suposta independncia
da mdia. Instituies essenciais liberdade de expresso, transparn-
cia poltica e administrativa, os rgos de imprensa escrita e audiovisual,
assim como os meios audiovisuais artsticos, enfrentam questionamentos
crescentes. A crtica s convenes que regem o espetculo, suas conexes
com o consumismo, com repertrios que reforariam discriminaes so-
ciais, ao reproduzirem esteretipos, faz parte da agenda e dos modos de
atuao de movimentos sociais fragmentados, cuja estratgia de ao in-
variavelmente supe uma dimenso performtica.
O texto de Debord complexo. O autor busca definir dialeticamen-
te uma noo com implicaes tericas e prticas, nos planos material
e simblico, econmico e cultural. Sua preocupao em no reproduzir
dicotomias que a dialtica marxista superou imprime ao texto uma bem-
-vinda dose de ambiguidade, que leituras contemporneas mais apressa-
das acabam por desprezar:
A realidade objetiva est dos dois lados. Assim estabelecida, cada
noo s se fundamenta em sua passagem para o oposto: a reali-
dade surge no espetculo, e o espetculo real. Essa alienao rec-
proca a essncia e a base da sociedade existente. (DEBORD, 2002,
p. 15)
A formulao reconhece a promiscuidade entre realidade e espetcu-
lo. O espetculo real e a realidade surge no espetculo. A permeabilidade
parece se abrir para um mundo em que movimentos, lideranas, persona-
gens, pessoas, se dispem a representar; assumem a performance como
linguagem de sociabilidade: do Big Brother ao 11 de setembro. Expresses
contemporneas articulam-se para intervir na prpria lgica do espetcu-
lo. Em outros momentos, o texto parece questionar essa permeabilidade:
No espetculo uma parte do mundo se representa diante do mun-
do que lhe superior. O espetculo nada mais que a linguagem
comum dessa separao. O que liga os espectadores apenas uma
ligao irreversvel com o prprio centro que os mantm isolados.
O espetculo rene o separado, mas o rene como separado. (DE-
BORD, 2002, p. 29)
VISIBILIDADE, VISUALIDADE E PERFORMANCE EM 11 DE SETEMBRO DE 200153
O adjetivo espetacular aparece frequentemente como elemento des-
critivo, que, na falta de explicaes orgnicas fundamentadas, alude ao
excesso de luzes e imagens, profuso de informaes que satura espaos
pblicos dominados por grandes corporaes de mdia, que, muitas vezes
revelia de poderes pblicos, estimulam o consumo e definem as regras
do que ou no notcia, do que merece ou no ganhar visibilidade. De
acordo com esses critrios, merecem se tornar visveis assuntos quen-
tes, ou seja aqueles que provocam os sentidos. Cenas violentas ocupam
lugar privilegiado nessa escala de temas considerados candentes.
Cerca de trinta anos depois da publicao do livro, um fenmeno mi-
ditico como o 11 de setembro expressa os paradoxos de uma sociabilidade
pautada pelas possibilidades de mltiplas reverberaes de aes polticas
performticas, em sucessivas conexes eletrnicas e digitais. A partir de
Debord, possvel pensar que o espetculo tenha se imposto com uma for-
a excludente que, no entanto, tem alimentado desejos e mpetos de inclu-
so no prprio universo do espetculo. O apelo didtico de uma estrutura
narrativa de inspirao aristotlica repetida exausto em superprodues
cinematogrficas, mas tambm na rotina cotidiana dos programas de TV,
teria produzido uma sociedade em que quase todos almejam a realizao
pessoal/profissional no universo do espetculo. Os 15 minutos de fama
a que se referiu Andy Warhol. Transeuntes parecem estar sempre pron-
tos a colaborar com uma produo audiovisual. Moradores esto sempre
a postos, preparados com cmera ou pelo telefone para falar a milhares de
espectadores.
Embora Debord situe a sociedade do espetculo em situaes de
capitalismo avanadas onde o Estado de Bem-Estar Social garantiu um
certo nvel de abundncia e conforto, seu pensamento levanta questes
sobre sociedades altamente desiguais, como a brasileira, onde padres de
capitalismo avanado convivem com ndices altos de desigualdade social e
discriminao. O reforo de esteretipos na sociedade do espetculo acirra
a discriminao e desafia o ressentimento.
Certos eventos, assuntos, cenrios, movimentos e pessoas gozam de
visibilidade pblica em certos veculos e de acordo com certas convenes
que regem a construo de filmes e programas televisivos. Outros even-
tos, espaos e agentes permanecem invisveis na cena pblica. Assim, o
54ESTHER HAMBURGER
jogo entre o visvel e o invisvel vai definindo e redefinindo os contornos
dos assuntos pblicos e privados em ordens sociais que insistem em se
estruturar em torno de discriminaes. Os diversos veculos de mdia, im-
pressa, eletrnica e digital, ocupam posio privilegiada na definio da
ordem do visvel e do invisvel. Esse privilgio muitas vezes interpretado
como uma faculdade de interferir na dinmica de discriminao social,
em geral reforando esteretipos.
A ao social contempornea intrinsecamente performtica. Os
exemplos so inmeros e vo de grandiosas aes de guerrilha miditi-
ca, das quais o atentado de 11 de setembro talvez seja o exemplo mais
pungente, a manifestaes de menor escala e repercusso circunscrita, s
aes do crime organizado brasileiro e s inmeras expresses flmicas
de irrupes violentas entre movimentos armados de desobedincia civil
sem causa programtica, alm da defesa de fluxos transnacionais ilegais
de armas e drogas, e foras policiais e parapoliciais corruptas, desacredi-
tadas e fora de controle.
Fisionomias, pessoas, paisagens especficas ganham notoriedade, de
acordo com critrios diferentes, que definem o que merece e o que no
merece ganhar forma no domnio da expresso visual. O cinema e a televi-
so, com suas semelhanas e diferenas, repercutem aes e criaes em
larga medida inspiradas e at planejadas para repercutir.
A preciso da mise em scne dos ataques s torres gmeas do World
Trade Center demonstram que h inteligncia criativa e terrvel capaz
de se apropriar das convenes narrativas de um cinema hollywoodiano,
que assim sai dos estdios e das telas das salas escuras para ganhar vida
na forma de espetculo miditico realizado em temporalidade prpria da
televiso. O sonho vanguardista da arte que se realiza na vida ganha ex-
presso terrvel.
H no evento uma dimenso de estratgia visual que se confirma
na sequncia repetida exausto nas emissoras de televiso, ao redor do
mundo: o choque entre o avio, meio de transporte carregado de sentido,
cone de modernidade, condensao da utopia de domnio sobre a nature-
za, realizao do sonho milenar de voar, elemento presente, desde o incio,
no cinema, reforando a vocao modernista das imagens em movimento,
se espatifa contra a parede do World Trade Center, outra realizao da
VISIBILIDADE, VISUALIDADE E PERFORMANCE EM 11 DE SETEMBRO DE 200155
engenharia do sculo XX, smbolo que aparecia com destaque na silhueta
da ilha de Manhattan. Como alardearam os primeiros manuais de televi-
so, publicados nos Estados Unidos dos anos de 1950 para difundir o novo
meio, (SPIGEL; MANN 1992), as imagens ao vivo do evento estenderam a
capacidade da viso para alm dos limites do corpo humano. Imagens que
nesse caso apresentaram a destruio de vidas, edifcios e significados,
tantas vezes visvel em paragens longnquas. A televiso realiza a vocao
herdada de outros meios, de janela para o mundo, desta vez permitindo
que o mundo acompanhasse simultaneamente e ao vivo o ataque me-
trpole.
A diversificao, ainda que relativa, dos meios de comunicao au-
menta a expectativa de participao entre segmentos discriminados com a
invisibilidade. Guardadas as devidas despropores, como se os autores
dos atentados repetissem a frase proferida para as cmeras de TV do Bra-
sil e do mundo, por Sandro do Nascimento, em seu malfadado sequestro
do nibus 174 no Jardim Botnico carioca no dia 12 de junho do ano 2000:
Isso aqui no filme no!
4
A discusso sobre quem fala o qu, como e onde polariza a vida coti-
diana, em diferentes verses em diferentes partes do mundo. Cientes de
que a discriminao se d tambm pela invisibilidade, ou por visibilidades
restritas reafirmao de esteretipos, por vezes, como no caso do evento
miditico carioca, o personagem acaba se rendendo carapua. O filme
de Padilha permite acompanhar a dupla interlocuo dos protagonistas,
com suas refns no interior do nibus-palco e com o pblico atravs das
cmeras de TV.
Voltando ao 11 de setembro, os arquivos postados no YouTube e a
distncia do tempo convidam a um reexame dos eventos daquele dia, a
partir justamente da cobertura televisiva. A questo posta para a reflexo
aqui versa principalmente sobre a natureza intrinsecamente visual dos
ataques de 11 de setembro de 2001, uma dimenso que ficou em segundo
plano na repercusso imediata do evento, mas que sugestiva para se
pensar as dimenses estticas e polticas da visualidade contempornea.
4 possvel observar a fala de Sandro do nascimento em nibus 174, lme de 2002 de Jos Padilha.
Sobre o lme, ver ESTHER HAMBURGER, 2005. Ver tambm CECILIA SAYAD, 2006.
56ESTHER HAMBURGER
O documentrio seriado Television, produzido pela britnica Granada Te-
levision nos anos de 1980, contm dois exemplos de eventos que j su-
geriam a manipulao dos recursos que produzem a visibilidade atravs
do domnio da gramtica visual que legitima o que merece e o que no
merece se tornar notcia. Um reprter da ITV, tambm inglesa, relata sua
experincia ao cobrir a libertao de um avio cheio de refns no Oriente
Mdio, em 1970. O jornalista descreve a exploso de um dos avies, vazio,
que se seguiu libertao dos prisioneiros, registrada ao vivo por um cine-
grafista infiltrado justamente para garantir que o evento fosse registrado e
transmitido. Dentre os primeiros comentrios que surgiram na manh do
dia 11 de setembro de 2001, os jornalistas lembraram a tentativa anterior
fracassada de ataque a bomba ao WTC. Os atentados de 11 de setembro
sugerem que o domnio das regras do espetculo j no prerrogativa
dos estdios, produtores, roteiristas, diretores, jornalistas de cinema e te-
leviso. O domnio das tcnicas de realizao de espetculo audiovisual
permitiu a realizao de uma ao a um s tempo esttica, militar, e de
poltica audiovisual.
Depois, durante semanas, o assunto continuou a ocupar parcelas
considerveis do tempo de programao. Um sem-nmero de realizaes
independentes, distribudas em DVD, ou na internet, fizeram circular ver-
ses e verses dos mesmos eventos. Especulou-se sobre a identidade dos
mandantes, sobre os interesses econmicos da indstria blica. Os aten-
tados de 11 de setembro de 2001 continuam a reverberar. Ao contrrio do
filme clssico, onde os finais so conclusivos, no plano extradiegtico, os
enigmas resistem resoluo clara.
O reconhecimento de que as regras do espetculo audiovisual esto
em domnio pblico, deixaram de ser prerrogativa da indstria, convi-
dam ao esforo criativo poltico e potico de superao. Uma perfor-
mance dramtica em vrios nveis. Na arena principal, planos fixos dis-
tanciados e silenciosos, vazios de protagonismos, atores, rostos ou sons.
Um ato poltico sem a presena de personalidades. Essa sequncia de mo-
vimentos expressa anseios experimentais, que fogem das frmulas, dos
estdios, em busca da poesia da vida cotidiana. Um cinema em processo,
que improvisa, que aceita e incorpora participaes ao longo do caminho
pode se apresentar como alternativa ps-espetculo.
VISIBILIDADE, VISUALIDADE E PERFORMANCE EM 11 DE SETEMBRO DE 200157
REFERNCIAS
CHOMSKY, Noam. 9/11. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003 [2001].
COMAROFF, Jean; COMAROFF, John. Criminal Obsessions, after Foucault:
Postcoloniality, Policing and the Metaphysics of Disorder. 2004. Disponvel em:
http://pt.scribd.com/doc/82059850/Comaroff-Comaroff-Criminal-Obsessions-after-
Foucault
DEBORD, Guy. A sociedade do espetculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2002 [1967].
DELEUZE. Gilles. A imagem tempo. So Paulo: Brasiliense, 1990 [1985].
DIAWARA, Mantia. Frican Cinema: Politics and Culture. Bloomington: Indiana
University Press, 1992.
HAMBURGER, Esther. Polticas Da Representao: Fico E Documentrio em
nibus 174. In: LABAKI, Amir Genis Mouro; LABAKI, Maria Dora Genis Mouro
(Ed.). O cinema do real. So Paulo: Ed. COSAC NAIF, 2005. 196-215 p.
KAPLAN, Ann E. Trauma Culture, the Politics of Terror and Loss in Media and Literature.
News Brunsswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 2005.
NICHOLS, Bill. O Evento Terrorista. In: LABAKI, Amir Genis Mouro; LABAKI,
Maria Dora Genis Mouro (Ed.) O cinema do rea. So Paulo: Cosac Naify, 2005. 178-
95p.
SAYAD, Cecilia. A performance como atalho: os caminhos da verdade em Santo
Forte e nibus 174 Performance as a Shortcut: Paths of Truth in Santo Forte and
Bus 174. In: VISIBLE EVIDENCE CONFERENCE. So Paulo, Cinemateca Brasileira,
2006 e na Society for Cinema and Media Studies, Chicago, 2007.
SCHWARTZ, Vanessa R.; CHARNEY, Leo (Ed.). O cinema e a inveno da vida
moderna. So Paulo: Cosac & Naify, 2001.
SPIGEL, Lynn; MANN, Denise. (Ed.). Private Screenings. Minneapolis: Universiy of
Minneapolis, 1992.
59
ILANA FELDMAN
O trabalho do amador
PACIFIC E O TRABALHO IMATERIAL
Filmou?, pergunta a criana a seu pai na proa de um barco rodeado por
golfinhos. Filmei, lgico!, ele lhe responde a caminho da ilha de Fernan-
do de Noronha. Se genericamente poderamos denominar essas imagens,
constituintes do paradigmtico filme Pacific ( 2009), de amadoras, na
contramo daqueles que postulam uma taxonomia dessa produo, por-
que contemporaneamente tais imagens domsticas, precrias, instveis
ou emergenciais tm adquirido uma indita centralidade em nossas pr-
ticas audiovisuais e culturais. Nesse sentido, caberia perguntar: o que est
mesmo em jogo, quando as empresas de comunicao, os telejornais, os
shows de realidade e variedades na televiso, o cinema, a arte contempor-
nea e a publicidade disputam essas mesmas imagens? O que se aproxi-
ma como sintoma, como roteirizada ordem do dia, e o que se distancia pe-
los gestos, conscientes e reflexivos, de apropriao e deslocamento dessas
imagens, de configurao de novos trabalhos de mediao, novos modos
de subjetivao e novas formas de visualidade e visibilidade?
Se diversos documentrios brasileiros recentes poderiam ser con-
vocados, como Domstica (Gabriel Mascaro, 2012), em que, a pedido do
realizador, jovens (sobretudo das classes mdia e alta brasileiras, mas no
s) filmam suas empregadas domsticas, essas alteridades j to domes-
ticadas, ou o nem to recente Rua de mo dupla (Cao Guimares, 2004),
em que trs duplas de personagens que no se conhecem trocam de casa
60ILANA FELDMAN
por 24 horas e tentam reconstituir, tambm por meio da produo de ima-
gens, a personalidade dessas desconhecidas alteridades, em Pacific, dife-
rentemente dos dois exemplos mencionados, as imagens amadoras pro-
duzidas por outros, que no o realizador, no so endereadas de antemo
ao filme, mas apropriadas e retrabalhadas pela montagem. A pertinncia
de retornarmos (Cf. FELDMAN, 2012) mais uma vez a Pacific deve-se en-
to a esse intenso efeito de alteridade das imagens, efeito que no existiria
sem a mobilizao do trabalho do amador. Tal trabalho, posto em marcha
por uma srie de deslocamentos contemporneos, como as mutaes da
subjetividade (e da ideia de intimidade) e o investimento em um regi-
me performativo (em detrimento do que chamamos de representativo),
torna-se central para compreendermos um novo paradigma como ve-
remos, inclusivo de produo de imagens na contemporaneidade, com
seus correlatos modos de produo subjetiva.
Ao organizar narrativa e epidermicamente imagens domsticas cap-
tadas por passageiros do cruzeiro Pacific, cujo trajeto, de Recife a Fernan-
do de Noronha, s vsperas da celebrao do Rveillon, promete realizar
os sonhos de excitao permanente de uma classe mdia vontade, es-
pontnea e emergente, o diretor Marcelo Pedroso realiza um filme to
desconcertante quanto urgente. Por meio de sutis deslocamentos de senti-
do operados pela montagem, Pacific explicita importantes transformaes
na maneira pela qual os indivduos configuram e vivenciam suas experi-
ncias subjetivas, por meio de renovadas prticas audiovisuais amadoras
e performativas, em um contexto de reconfigurao dos limites entre os
mbitos pblico e privado. Ao problematizar ordens diversas de distncia
crtica, engajamento afetivo, construo de si e de um tipo particular de
arquivo vivo, esse navio-auditrio, reserva de lazer e imaginao (BRA-
SIL, 2010b), mas tambm espao de permanente trabalho e (auto)produ-
o, pode ser percebido no apenas como um navio, mas como um dispo-
sitivo ou laboratrio, onde se performam as formas de vida hegemnicas
no contexto dos novos regimes de subjetividade e visibilidade de nosso
capitalismo tardio, flexvel e biopoltico.
1
1 Grosso modo, o conceito de biopoltica, postulado por Michel Foucault em 1976, pode ser com-
preendido como os modos pelos quais as polticas pblicas, os dispositivos sociotcnicos e, hoje,
a dinmica neoliberal do capitalismo avanado de consumo se voltam aos processos vitais, mo-
O TRABALHO DO AMADOR61
Performando-se para as suas prprias cmeras, construindo-se para
as suas prprias imagens, os passageiros de Pacific, como quaisquer turis-
tas, colecionam e acumulam experincias, sensaes e imagens-sntese de
um lazer adquirido a suadas prestaes do carto de crdito e, que, por-
tanto, precisa ser maximizado. Que nossos queridos passageiros tenham
todos mais um excelente espetculo!, diz, para a plateia de passageiros
com filmadoras em punho, o apresentador do navio-auditrio, onde no
pode haver tempo morto nem pausa, observao distanciada nem contem-
plao passiva. No cio produtivo do navio-auditrio que o filme Pacific
nos apresenta preciso ser permanentemente participativo, interativo e
colaborativo. Pois a vida aqui, seja encenada para si, encenada para o ou-
tro ou encenada para ns ainda que fora do deslocamento dessas
imagens, que deixam de habitar o mbito da privacidade para se tornarem
publicidade , em realidade, produto de um inesgotvel trabalho.
Como nos alerta Andr Gorz, em O imaterial conhecimento, valor e
capital, a partir do diagnstico de Yann Moulier-Boutang (2000), no con-
texto de um capitalismo imaterial
2
e biopoltico, cujo ncleo da produo
econmica a prpria vida, a criatividade, o imaginrio, o conhecimento,
a comunicao e as imagens, o trabalhador no se apresenta mais apenas
como possuidor de uma fora de trabalho, mas como um produto que con-
tinua, ele mesmo, a se produzir (apud GORZ, 2005, p. 19). Tal diagnstico,
entretanto, no exatamente recente. Em 1970, Felix Guattari j havia
apontado precisamente para o fato de que, se na primeira fase da revolu-
o industrial os indivduos eram transformados em autmatos, cujos
gestos assim como a vida social deveriam ser fragmentados, agora,
cada vez mais, no seio mesmo da evoluo das foras produtivas, est
colocado o problema das singularidades, da imaginao, da inveno.
leculares e sociais da existncia humana. Se as outrora estatais biopolticas nascem como uma
modalidade de poder sobre a vida e de governo da vida, hoje, privatizadas e hiper-individualizadas,
as biopolticas se disseminam como tcnicas de autogesto, instrumentalizao e modulao dos
indivduos, em meio indeterminao entre autonomia e sujeio, prazer e controle, liberdade e
restrio. Ver: FOUCAULT (1997; 2005).
2 O regime de produo dito ps-industrial ou ps-fordista, regido pelo capitalismo nanceiro e
pautado no mais pela lgica da produo e do acmulo, mas pela logstica da circulao e do
consumo, tem ensejado, segundo diversos autores como Luc Boltanski e ve Chiapello (2009),
dentre outros um novo modo de agenciamento capitalista (para o qual as propriedades da vida
ganham uma centralidade indita) denominado capitalismo imaterial ou cognitivo.
62ILANA FELDMAN
Cada vez mais o que ser demandado aos indivduos na produo que
eles sejam eles mesmos (apud MIGLIORIN, 2009, p. 260).
Assim, nessa mobilizao total (GORZ, 2005, p. 22) das capacida-
des e disposies afetivas dos indivduos, baseada em valores como auto-
nomia, espontaneidade, mobilidade, cooperao, criatividade, motivao e
convivialidade valores que no por acaso regem as dinmicas empresa-
riais, os jogos televisivos, a cultura teraputica dos manuais de autoajuda
e que Pacific to explicitamente torna visvel , no mais possvel saber
quando estamos fora do trabalho que pensamos realizar. Pois, no limite,
no mais o sujeito que adere ao trabalho, mas o trabalho que adere vida
mesma dos sujeitos, como se no houvesse mais exterioridade possvel,
como se no houvesse mais fora. O que no significa, que fique claro,
que o trabalho propriamente industrial e mesmo o capitalismo extrativista
foram abolidos ou ultrapassados. Muito ao contrrio. O que ocorre hoje
a coexistncia desses modos de produo, de sujeio e de subjetivao
que implicam, por sua vez, distintos modos de visibilidade.
Nessa perspectiva, no seria exagero supor que Pacific significaria
para o mundo do lazer no sculo XXI o que Um homem com uma cme-
ra, de Dziga Vertov (Unio Sovitica, 1929), significou para o mundo do
trabalho, nas primeiras dcadas do sculo XX. Excetuando-se a dimenso
utpica e a crena revolucionria do projeto de Vertov, em Um homem
com uma cmera, trabalho e lazer esto a princpio muito bem separados,
mas se o fim de uma jornada de trabalho significa, de um lado, uma ex-
terioridade em relao ao mundo da fbrica, de outro, tambm significa
a continuidade, no lazer, da mesma energia maqunica e produtivista que
rege o mundo industrial e fabril. Ou seja, o momento do lazer em socie-
dade em Um homem com uma cmera j era uma forma de trabalho e de
produo, acompanhada inclusive da presena do olho-maqunico de um
cinegrafista-operrio que, imanente ao corpo social, tudo filma e tudo v,
em busca da vida de improviso (busca que dcadas depois iria tambm
pautar os cinemas modernos, os reality shows e os amadores por vir) e das
condies de construo da prpria realidade flmica e social.
Se a defesa de uma sociedade sem classes determinante no pro-
jeto revolucionrio de Vertov, em Pacific o contexto de classe, a nfase no
perptuo trabalho de produo de si e criao das imagens e a ancoragem
O TRABALHO DO AMADOR63
desse recorte em um universo de classe mdia emergente, filha do cres-
cimento econmico da Era Lula, conferem ao filme extrema relevncia,
tornando-o uma resposta consciente tmida presena desse universo so-
cial em nossa cinematografia. Com raras excees, como em A opinio
pblica (Arnaldo Jabor, 1967), Retrato de classe (Gregrio Bacic, 1977) e
Edifcio Master (Eduardo Coutinho, 2002), para mencionarmos exemplos
emblemticos (e que evidentemente no do conta da multiplicidade e
abrangncia da produo brasileira), a investigao das imagens da clas-
se mdia pelo documentrio, presumivelmente a classe social dos realiza-
dores, tradicionalmente tendeu a permanecer obscurecida em relao s
questes consideradas socialmente mais relevantes, em relao investi-
gao do outro de classe.
DESLOCAMENTOS DA INTIMIDADE
Se o capitalismo industrial fora marcado pelo declnio do homem p-
blico e pelas tiranias da intimidade, como defende o socilogo ingls
Richard Sennet (2002), hoje, no contexto das mutaes do capitalismo
contemporneo, estaramos vivenciando tambm importantes transfor-
maes na maneira pela qual os indivduos configuram e vivenciam suas
experincias subjetivas, as quais teriam deixado de se ancorar em uma
interioridade psicolgica moderna e burguesa (um tipo de carter intro-
dirigido, elaborado no silncio e na solido dos espaos privados) para se
ancorarem na exterioridade dos corpos e das imagens (um tipo de carter
alterdirigido), como enfatiza Paula Sibilia (2008), em O show do eu a
intimidade como espetculo.
Nesse panorama em que, como j demonstrara Michel Foucault (1996,
p. 31) em sua genealogia da alma moderna, a subjetividade inseparvel
dos dispositivos de visibilidade, em que as mquinas de ver produzem mo-
dos de ser e de aparecer , proliferam de maneira crescente novas prti-
cas amadoras, autobiogrficas, confessionais, interativas e performativas
em um momento histrico no qual a intimidade (tal como modernamente
a entendamos) parece estar em deslocamento ou declnio e, no caso de
Pacific, certamente em naufrgio. Sequiosos de publicidade e operando
na indeterminao entre pblico e privado, pessoa e personagem, lazer e
64ILANA FELDMAN
trabalho, espontaneidade e encenao, vida e performance, uma srie de
dispositivos comunicacionais e audiovisuais contemporneos, das redes
sociais aos reality shows, do cinema arte contempornea, trabalham na
chave no da invaso de privacidade, mas de sua evaso.
Entretanto, em tal contexto, a intimidade no existiria como uma ins-
tncia previamente dada, mas como efeito de uma srie de operaes de
linguagem. Como nos alerta Fernanda Bruno (2004, p. 116), no artigo
Mquinas de ver, modos de ser: visibilidade e subjetividade nas novas
tecnologias de informao e comunicao, diferentemente da tpica da
subjetividade moderna, no se trata agora da exteriorizao de uma inte-
rioridade constituda, dita recndita, que passa a se expor, mas principal-
mente de uma subjetividade que se constitui prioritariamente na prpria
exterioridade, no ato mesmo de se projetar e de se fazer visvel a outrem.
Tal o caso da proliferao de imagens amadoras, filmes de famlia, di-
rios audiovisuais e de pessoas, como os passageiros do cruzeiro Pacific,
que cedem voluntariamente suas imagens, supostamente pessoais, para
serem exibidas em um filme. O que fica claro, como bem ressalta Jean-
-Claude Bernardet (2011) em seu blog na internet, que as imagens dos
passageiros de Pacific no fizeram a passagem do mbito privado ao p-
blico, pois elas j foram construdas como exterioridade, conscientes do
olhar alheio e do fazer-se visvel. O que o gesto do cineasta faz, ao deslocar
essas imagens de seus empregos originais, organizando-as narrativamen-
te e transformando-as em uma experincia cinematogrfica, , portanto,
intensificar essa dimenso de exterioridade que as imagens j portavam
em si mesmas.
Nesse ponto, caberia se perguntar se as imagens domsticas, os vde-
os caseiros ou filmes de famlia, gnero que de certa forma nasce com o
prprio cinema afinal, muitos dos primeiros filmes dos irmos Lumire,
tal como o famoso O almoo do beb (1895), foram filmados em famlia ,
j no seriam feitos com a conscincia do olhar alheio e do fazer-se visvel,
com a conscincia dessa conduta cnica implicada pelo efeito-cmera.
3
3 O efeito-cmera se exerce, como instncia do olhar, na criao de um campo visvel que ganha
uma dimenso de cena, potencializando experincias e vivncias (que j so parte do cotidiano
dos indivduos) de acordo com as regras dos jogos de cena do momento. Importante tambm
notar que tal efeito poderia ser identicado ao poder psicanaltico da cmera, poder que tem
O TRABALHO DO AMADOR65
Muito antes, porm, da popularizao e difuso das tecnologias digitais
de captao de imagem e som j se percebe nesses filmes de antanho
marcas de uma (auto) mise en scne, de uma teatralizao do cotidiano
diante da cmera, na forma de elaborados enquadramentos, pequenos es-
quetes cmicos, micronarrativas, poses, decupagem, rituais sociais (como
batizados, casamentos e nascimentos) e, at, em alguns casos mais sofis-
ticados, truques de montagem como fica claro nos arquivos particulares,
de famlias hngaras das dcadas de 1930 e 40, reapropriados por Pter
Forgcs em obras como A famlia Bartos (1988), Queda Livre (1996) e O
turbilho (1997), para citar apenas algumas. Seja nos filmetes dos Lumire
de fins do sculo XIX, seja nos filmes das ricas famlias, estrangeiras ou
brasileiras, das dcadas de 1920, 30 e 40, j se percebe, portanto, uma
extrema conscincia da imagem e seletividade do que se filma (em funo
do modo de produo dessas imagens, captadas em pelcula), ao contrrio
da crena corrente em uma suposta intimidade e certo espontanesmo
que emanariam dessas (ingnuas?) imagens.
Diferentemente dessas longnquas dcadas j passadas, nas quais a
posse dos aparatos de filmagem, ao menos no mbito privado, era um lazer
marcadamente de elite, apenas nos ltimos trinta anos, com a chegada do
VHS na dcada de 1980 e a passagem do sistema analgico para o mag-
ntico e, posteriormente, para o digital , houve uma democratizao
do acesso s cmeras domsticas e, mais recentemente, a popularizao
de toda sorte de dispositivos comunicacionais para os quais a captao de
imagem e som apenas mais um dos recursos disponveis. Nesse proces-
so, alterou-se mais do que os modos de produo, circulao e consumo
desses materiais, agora no mais restritos ao usufruto familiar, ao mbito
privado, mas muitas vezes disponibilizados em canais de compartilha-
mento de arquivos na internet e consumidos por um pblico participativo
(engajados em fazer disseminar, viralmente, essas imagens). Alterou-se
mais do que as formas de conscincia diante da imagem, agora intensi-
ficada, ainda que essa intensificao da percepo do efeito-cmera im-
plique, paradoxalmente, a sua naturalizao. Nesse processo, alterou-se,
sido debatido desde os anos 20 na teoria do cinema. A esse respeito ver os textos de Jean Epstein
e Bla Blazs, em Xavier (2005).
66ILANA FELDMAN
definitivamente, a classe social dos agentes dos discursos, portadores das
cmeras.
No entanto, preciso lembrar que tal transformao social em cur-
so no implica necessariamente uma efetiva mudana de conduta diante
da cmera. Encenaes burlescas, momentos cmicos e a explorao do
pattico podem ser vistos em abundncia entre os filmetes do cinema
dos primeiros tempos (espcie de genealogia das pegadinhas e video-
cassetadas), assim como atravessam a saga da burguesa famlia hngara
Bartos, mesmo s vsperas de uma tragdia histrica
4
, do mesmo modo
que comparecem nos filmes domsticos de ricas famlias de So Paulo
nos anos de 1920, como o cl Alves de Lima. Segundo pesquisa de Lila
Foster (2011, p. 115), nas imagens depositadas na Cinemateca Brasileira
dessa abastada famlia paulistana, nota-se, para alm dos ares cosmo-
politas afinados aos comportamentos transformadores dos modernistas,
uma atitude bastante zombeteira, flertando mesmo com a encenao do
ridculo. Ridculo e pattico que, embora travestidos de outros cdigos
estticos e narrativos e no contexto de outra classe social , esto inten-
cionalmente presentes nas atitudes autopardicas e nas situaes cmi-
cas produzidas por vrios dos personagens de Pacific (motivo, alis, pelo
qual as crticas mais conservadoras tenderam a rejeitar
5
o filme).
Sendo assim, para alm das diferenas j apontadas, no que diz res-
peito s mudanas tecnolgicas, s alteraes dos modos de produo,
circulao e consumo dessa produo amadora, e transformao social
dos donos do olhar, o que de fato muda no mbito dos modos de produ-
o subjetiva em relao e em reao s imagens? Se hoje, mais do que
nunca, assistimos disseminao das cmeras em todos os mbitos da
vida social das vigilncias nos espaos pblicos e privados, exercidas so-
bre os indivduos, s visibilidades produzidas e acionadas pelos prprios
4 A iminncia da soluo nal na Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Hungria, uma espcie
de macabro e terrvel contracampo dos lmes de Forgcs. Neles, sobretudo nos lmes que cons-
tituem a srie Hungria particular, no h imagens de campos de extermnio e de sofrimento
explcito, mas situaes de normalidade familiar em meio a um mundo prestes a ruir.
5 Segundo a crtica, Naufrgio em alto mar, de Ely Azeredo: Pacic: no Titanic, mas tambm faz
vtimas. [...] Impossvel encontrar cinema em Pacic. E muito menos tica: os incautos turistas no
podiam adivinhar que sua liberalidade permitiria que fossem manipulados como tteres ridcu-
los. (AZEVEDO, 2011)
O TRABALHO DO AMADOR67
indivduos , porque est em curso no uma ruptura histrica, mas um
processo de intensificao, expanso e difuso da conscincia do efeito-
-cmera e de sua consequente naturalizao. Isto , est em curso uma
intensificao da relao entre subjetividade e visibilidade, uma inflao
do nosso desejo de reconhecimento no olhar do outro esse outro tam-
bm inflacionado e uma disseminao intensiva da relao entre modos
de fazer e formas de ser e de aparecer, no apenas na imagem (prpria ao
regime da representao), mas por meio da imagem (prpria ao regime
performativo). Como sintetiza Andr Brasil (2010a, p. 196), em seu artigo
Formas de vida na imagem: da indeterminao inconstncia, contem-
poraneamente, a imagem se torna o lugar prioritrio onde se performam
formas de vida.
Se, ao contrrio da crena corrente em uma exposio da intimi-
dade, as atuais formas da subjetividade se criam como exterioridade, se
constituem no ato mesmo de sua publicizao, se formam enquanto se
performam, porque, no por acaso, elas compartilham com a imagem,
em geral, e com o cinema, em particular, a lgica da superfcie e da exte-
riorizao. O cinema, desde seus primrdios, vem assim materializar e
contribuir para intensificar o diagnstico foucaultiano de que a subjetivi-
dade moderna inseparvel dos dispositivos de visibilidade. O que nos
leva a concluir que, se as subjetividades, assim como as imagens, se cons-
tituem como exterioridade, porque a lgica do cinema, em princpio res-
trita sala escura, migrou e se disseminou por todas as esferas da vida
social. Afinal, fazendo ecoar o pensamento e as grandes frases de Jean
Louis Comolli (2008, p. 98): A mise en scne um fato social. Talvez o fato
social principal.
Desse modo, no lugar da expresso de supostos espontneos mo-
mentos de intimidade em famlia ou entre amigos, a apropriao e re-
escritura, pelo cinema, das imagens amadoras e dos filmes domsticos
construdos (talvez desde sempre) como exterioridade, como superfcie,
com a conscincia do olhar alheio , traz tona no a publicizao do
ntimo, mas a produo do xtimo: aquilo que, segundo a psicanlise,
sendo to prprio aos sujeitos, s poderia se apresentar fora deles, no m-
bito da cultura, no mbito da interao com o outro, no mbito da exterio-
ridade da linguagem e dos regimes de visibilidade.
68ILANA FELDMAN
DO REGIME REPRESENTATIVO AO PERFORMATIVO
certo que passamos dos dispositivos repressivos aos dispositivos produ-
tivos, da disciplina s novas formas de controle, das vigilncias s visibi-
lidades, do faa voc mesmo ao mostre-se como for, do saber fazer
ao saber ser, e, cada vez mais, ao saber parecer, em um momento
histrico em que, como vimos, trabalhar produzir-se a si mesmo e no
qual as subjetividades se tornam um espao de experimentao epidrmi-
ca nas peles e nas telas. Como verbos hoje inextrincveis, ser e parecer,
isto , produzir-se como sujeito visvel, nunca fora antes um trabalho to
incessante, to inesgotvel: como as aulas de aerbica, as coreografias co-
letivas, as gincanas perversas, as festas temticas, os dedos nos zooms e os
espetculos musicais que recobrem de verdade e simulao, autenticidade
e encenao, alegria e melancolia no sem afeto e fabulao , a ordem
do dia seguida risca em Pacific.
Nesse perptuo trabalho voluntrio cuja moeda de troca so os valo-
res agregados visibilidade e ao autorreconhecimento pela imagem, como
vemos na liberdade-confinada de Pacific, espcie, com todas as ressalvas,
de Big Brother em alto mar, filmado pelos prprios participantes (e, a
princpio, para consumo prprio), fica evidente, portanto, de que modo
a inflacionada experincia de si na contemporaneidade tem passado por
aqueles radicais deslocamentos. Assim, se na Modernidade a experincia
de si fora edificada por meio de introspectivas tcnicas hermenuticas,
como cartas, dirios ntimos, confisses e relatos, lidos e escritos na reclu-
so e na solido de quartos privados, l o contato com o mundo exterior
dava-se pela metfora da janela e sua relao com o fora de quadro ,
mais tarde incorporada pelo regime da representao clssica e pelo cine-
ma clssico-narrativo.
Para que possamos compreender os deslocamentos em jogo nas pas-
sagens dos regimes representativo para o performativo preciso retomar
a metfora da janela, essa figura to banal quanto clich, que vem orien-
tando diversos regimes de visibilidade (a pintura, o cinema e at a televi-
so) desde a Renascena, com a inveno da perspectiva e a composio,
por Alberti, do quadro como janela aberta ao mundo. Se a perspectiva
forjada pelo quadro como janela imps um novo modo de olhar e um
O TRABALHO DO AMADOR69
novo modelo de conhecimento, ela tambm forjara o sujeito racionalista,
cognoscente e autnomo da Modernidade: um sujeito que pode ver sem
ser visto; que pode dissolver-se naquilo mesmo que v; e que pode enfim
ver a si mesmo como espectador. Em suma, um sujeito que, soberano e
cartesiano, toma o mundo por seu objeto e que, separado tanto do mun-
do como da cena, ser, com frequncia, tomado por voyeur.
No por acaso, a partir de uma vasta histria, atravessada por diver-
sos domnios, a janela pode ser pensada como elemento constitutivo da
Modernidade, assim como modo privilegiado de subjetivao, como se a
subjetividade moderna tivesse sido estruturada tal como uma janela. Se-
gundo o filsofo e psicanalista Grard Wajcman (2004), ao instaurar um
limite entre o mundo interior, resguardado, e o mundo exterior, aberto ao
olhar, a janela teria inventado o espao da intimidade e do cultivo subjetivo
cujo deslocamento ou declnio ser paralelo no apenas reconfigurao
em curso dos espaos pblico e privado como ao prprio deslocamento do
regime representativo.
Desse modo, no se pode falar em um dispositivo da janela sem se
levar em conta o regime da representao clssica, instaurado pelo cinema
clssico-narrativo, herdeiro do teatro moderno e do drama srio burgus
postulado por Diderot. Como ressalta Ismail Xavier (2003, p. 7), a geome-
tria do olhar e da cena no se iniciou no cinema, mas nele encontrou um
ponto de cristalizao de enorme poder na composio da cena como es-
pao autnomo e autobastante (por meio do ideal da quarta parede) e na
determinao do lugar espacial (e por consequncia social) do espectador.
Assim, supondo um lugar calculado para esse espectador (XAVIER, 2003,
p. 61), a perspectiva, o palco italiano do teatro, sobretudo ps-Diderot, e o
cinema clssico-narrativo faro da distncia e da separao entre observa-
dor e observado, entre vida e cena, entre realidade e espetculo, a base do
regime representativo da arte.
a partir de tal separao, condio da representao clssica, que o
espectador pode enfim mergulhar no mundo de dentro da tela por meio da
identificao e do efeito janela efeito que, paradoxalmente, promover
o apagamento dessa distncia mediadora, assim como o apagamento do
corpo do espectador. Nesse sentido, se o cinema clssico-narrativo consti-
tui a base do regime representativo da imagem, um regime pautado por um
70ILANA FELDMAN
ponto de vista estvel e pela excluso daquele que filma como condio do
estabelecimento de uma perspectiva pois, como diria a lei do perspecti-
vismo para que se possa ver preciso que algo permanea da excludo
(VELLOSO, 2004, p. 215) , Pacific, por sua instabilidade de pontos de vista
e pela permanente incluso daquele que filma, filia-se a um regime perfor-
mativo da imagem, para o qual, no mbito da diegese flmica, no haveria
mais janela, no haveria mais separao, no haveria mais fora.
Porm, se Pacific pode ser filiado a esse regime performativo da ima-
gem dada a entronizao e a hipertrofia do olhar daqueles que filmam,
dada sua dimenso inclusiva , ele s existe enquanto cinema, isto , en-
quanto fruto de uma operao de montagem, de recorte, de seleo e de
construo narrativa. A montagem, ao respeitar a temporalidade das ex-
perincias dos passageiros (sem fetichizar a durao dos planos ou pro-
mover snteses sociais na fragmentao), ao se empenhar em construir
personagens dotados de progresso dramtica (construo essa bastante
clssica por sinal), enfim, ao instaurar um universo prprio e nos permitir
por l nos instalarmos, retoma, paradoxalmente, uma das qualidades mais
clssicas do cinema como se s pudssemos perceber a instabilidade
dessas imagens por meio da estabilidade (por mais sutil que seja) propor-
cionada pela organizao do filme. A montagem, portanto, ao constituir
uma obra, enfrenta a grande urgncia das imagens de Pacific, essas ima-
gens que parecem deixar pouco espao para alm delas mesmas: permitir
que um fora se insinue. (BRASIL, 2010b, p. 68)
Ao absorver, portanto, em sua diegese, a distncia e o antecampo,
o espao da cmera (AUMONT, 2004, p. 41), pela permanente incluso
daquele que filma, prpria a um regime performativo, Pacific torna evi-
dente certa inverso: no mbito de suas imagens (as imagens produzidas
pelos passageiros do cruzeiro), no o olhar aquilo que determina um
campo de viso, o campo que, imanente vida social, j compreende e
engendra uma variedade de olhares e mltiplos de pontos de vista. Como
se, no contexto da disseminao desses aparatos tecnolgicos de produ-
o de imagens e sons, o olhar fosse o efeito de um dispositivo que lhe
anterior e tanto assim que, no limite, esses novos dispositivos digitais
prescindem do olhar para filmar.
O TRABALHO DO AMADOR71
Boa parte das imagens produzidas pelos turistas do cruzeiro Pacific
no so, portanto, filmagens de paisagens ou poses de famlia em meio
s paisagens, em que frequentemente algum, o sujeito que filmava ou
fotografava no turismo de antanho, ficava de fora da imagem. Em Pacific,
trata-se das filmagens dos prprios passageiros e por eles prprios, agora
includos na cena. Com isso, estamos indicando, em relao s imagens
amadoras, autorreferentes e performativas, o declnio de um modelo de
representao clssica, baseado, como vimos, na escolha de um ponto de
vista estvel e fixo, na excluso daquele que filma e na separao do es-
pectador da cena (o qual deveria se apagar para ento, alheio a si prprio,
se projetar no espao da diegese flmica), em detrimento da ascenso dos
regimes inclusivos e participativos contemporneos, que, rompendo a
quarta parede, solicitam do espectador, consciente de si, seu engajamen-
to, cumplicidade e colaborao. Importante salientar que nessa definio
das posies e ocupaes do espectador est em jogo o arraigado precon-
ceito segundo o qual no regime representativo o espectador seria sempre
passivo, separado da capacidade de conhecer e da possibilidade de agir
(RANCIRE, 2012, p. 16), enquanto no regime performativo, o especta-
dor, emancipado da sua passividade contemplativa, seria ento ativo,
interativo e dotado de autonomia.
Sendo assim, a perspectiva aqui adotada no implica, que fique claro,
a desqualificao de um regime de visibilidade em detrimento da qualifi-
cao do outro, porque, alm desses regimes serem de fato cada vez mais
hbridos, nenhuma prtica, nenhum protocolo formal, em si mesmo, ga-
rante mais ou menos vigor esttico e potncia poltica, mais ou menos
interesse. apenas no embate com as obras que podemos perceber o que
de fato est em jogo na dinmica da representao clssica (pautada pela
separao) ou na dinmica do regime performativo (pautada pela inclu-
so). Cabe lembrar tambm que se esse modelo da representao tem
sido questionado, pelo menos, desde fins do sculo XIX,
6
agora se trata
de uma prtica, que engendra outras formas de olhar, de ser e de aparecer
6 No que diz respeito aos diversos dispositivos pticos criados no mbito das cincias em ns do
sculo XIX e popularizados como entretenimento nas grandes feiras europeias, o estereoscpio
fora paradigmtico por desestabilizar a fuso binocular, garantidora da estabilidade da represen-
tao. Sobre a modernizao da percepo nesse momento histrico, Ver: CRARY, 2012.
72ILANA FELDMAN
no mundo, completamente difusa e socialmente ramificada, a partir da
difuso e popularizao das tecnologias digitais de produo de imagem e
som, mas tambm, e sobretudo, das cada vez mais ardilosas e democrati-
zadas estratgias de colaborao, participao e incluso.
7
REPOSIO DA DISTNCIA
Imagens amadoras, domsticas, precrias. Imagens emergenciais, inst-
veis, fugidias. Refazendo nossas perguntas iniciais, insistimos novamen-
te: o que est em jogo quando o cinema, as empresas de comunicao, a
publicidade e a televiso disputam essas mesmas imagens? O que se
aproxima como sintoma e o que se distancia pelos gestos, conscientes e
reflexivos, de apropriao e deslocamento dessas imagens, de configura-
o de novos trabalhos de mediao, novos modos de subjetivao e novas
formas de visualidade e visibilidade? De fato, para uns, a apropriao das
imagens amadoras, dos vdeos domsticos e dos filmes de famlia confi-
gura uma lucrativa e oportuna estratgia de solicitao da participao,
do engajamento e da colaborao dos at ento passivos espectadores
(leia-se: cidados consumidores) que devem, a todo custo, se mobilizar,
tornando-se ativos e interativos. J para outros, a apropriao do trabalho
dos amadores configura um espao de criao, deslocamento, anlise e
ressignificao, tanto dessas imagens quanto dos lugares ocupados por
todos ns, espectadores-montadores.
8
Se na cotidiana apropriao das imagens amadoras pela mdia e pela
publicidade irrestrita (como vemos na recente campanha publicitria de
7 No por acaso, a co tradicional tem sabido dialogar com essa demanda participativa, si-
mulando os efeitos da incluso daquele que lma como vemos desde o paradigmtico A Bruxa
de Blair (Daniel Myrick e Eduardo Snchez, EUA, 1999), passando pelo lme de terror REC (Jaume
Balaguer e Paco Plaza, ES, 2007), ao lme-catstrofe Clovereld (Matt Reeves, EUA, 2008) ,
como se o cinema quisesse, ao simular um efeito de ausncia do antecampo (por meio da
simulao de uma cmera subjetiva), apagar a enunciao no momento mesmo da sua mxima
legitimao. Assim, o campo parece sem m. A diferena fundamental em relao apropriao e
ao deslocamento das imagens domsticas em Pacic que, no lme de Pedroso, as pessoas que
(se) lmam so o m mesmo dessas imagens.
8 Sobre a passagem do espectador crtico ao espectador-montador, j que, segundo Georges
Didi-Huberman (2008), o conhecimento se faz por montagem. Ver: LINS, 2011.
O TRABALHO DO AMADOR73
uma das maiores instituies bancrias do pas)
9
ou mesmo na simulao
delas pelos variados gneros e modos do cinema (dos filmes-catstrofe de
Hollywood a projetos independentes e artisticamente legitimados10) est
em jogo uma tentativa de apagamento da distncia e das mediaes, para
que essas imagens possam operar como dados brutos e autnticos do
real e assim legitimar as empresas que delas se apropriam ou os projetos
estticos a que elas se filiam , notvel como em alguns documentrios
brasileiros contemporneos percebemos estratgias de vetores opostos,
que dialogam com o sintoma ao mesmo tempo em que dele se afastam.
Para Pacific (Marcelo Pedroso, 2009), assim como Domstica (Gabriel
Mascaro, 2012), Rua de mo dupla (Cao Guimares, 2004) e, tambm po-
deramos acrescentar, Um dia na vida (Eduardo Coutinho, 2010), em que
Coutinho se apropria, como que sequestrando e pilhando, de imagens vei-
culadas por redes de televiso aberta para nos atermos ao documentrio
brasileiro recente, estruturado por imagens exclusivamente produzidas
por outros que no o cineasta , trata-se de, por meio de sutis desloca-
mentos operados pela montagem, repor certa distncia, problematizar a
mediao, desfazer a pregnncia da iluso referencial e esvaziar o apelo
realista (FELDMAN, 2008) que emana dessas imagens, aparentemente
to imediatas ou to pouco mediadas. Trata-se assim de uma operao
que desloca o ndice para o performativo, ao mesmo tempo em que torna
9 Em sua primeira campanha publicitria de 2012, o banco Ita que h tempos vem investindo em
estratgias publicitrias colaborativas se apropriou de um vdeo amador extremamente popular
no Youtube (no qual um beb gargalha quando seu pai corta pedaos de papel), para, a partir
dele, fazer uma campanha contra o desperdcio de papel e em favor dos extratos bancrios on-line.
Disponvel em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2012/01/09/
Itau-leva-para-TV-bebe-hit-daweb.html>
10 No por acaso, a esttica prpria ao lme de Super 8, vinculada ao apelo indicial dos lmes
de famlia e amadores, s produes experimentais ou undergrounds e aos cdigos estticos da
memria, nunca dantes estivera to em voga, tanto em lmes prestigiados e legitimados artis-
ticamente quanto em grandes produes de Hollywood, caso do lme Super 8 (J. J. Abrams,
EUA, 2011), produzido por Steven Spielberg. Antes, porm, de Super 8, o tradicional gnero do
cinema-catstrofe (exemplo maior do investimento dos grandes estdios em efeitos especiais e
simulaes de mundos) j havia encontrado os efeitos de real das imagens amadoras em um lme
como Clovereld (2008), produzido por J. J. Abrams e integralmente narrado a partir do trmulo
ponto de vista de um de seus personagens. Ao promover uma fuso entre os efeitos especiais
e os efeitos de real, Clovereld o exemplo supremo daquele cenrio to bem identicado por
Jean-Louis Comolli (2001): No auge do triunfo do espetculo espera-se um espetculo que no
mais simule.
74ILANA FELDMAN
indistinguvel o trabalho de inveno de si e o trabalho de criao das ima-
gens, as performances subjetivas e as mise en scnes flmicas, a produo
de valor e os fluxos do capital j que a questo do dinheiro, das posses ou
da classe social estruturante nessas obras.
Para esses filmes, pautados por um permanente corpo a corpo entre
os sujeitos e os dispositivos, a relao entre poder, ver e saber, implicada
nas posturas do enunciador (muitas vezes recolhido diante do que enun-
cia) e na posio do espectador (muitas vezes em dvida diante do que v),
torna-se objeto de permanente questionamento, suspeita e desconcerto.
Assim, se o gesto performativo do cineasta solicita de ns espectadores
que no julguemos dicotomicamente e impiedosamente aquele mundo,
aquelas formas de vida, mas que busquemos, como espectadores ativos,
um contraponto crtico em nosso prprio mundo histrico e social, por-
que a montagem do filme no est de todo acabada e o espectador-mon-
tador (LINS, 2011) tambm impelido a trabalhar, a tomar uma posio.
Tomar uma posio, nesse caso, significa encontrar uma distncia justa,
precisa, adequada, para que o excesso inadequado dos sujeitos filmados,
para que a defasagem entre a experincia e a imagem, possam reconfigu-
rar e perturbar a ordem consensual do visvel.
No se trata mais, entretanto, daquela reposio da distncia que
pautara certas agressivas estratgias anti-ilusionistas do cinema moderno
(como vemos em tantos filmes do Grupo Dziga Vertov, criado por Godard,
de orientao maosta e inspirao brechtiana, entre 1968 e 1972), mas da
conscincia da distncia e da separao como condio mesma de toda e
qualquer relao, seja no mbito do cinema, da vida ou do pensamento.
Como escrevera um dia Serge Daney (1996), em um dos mais tocantes
e polticos textos crticos j escritos: E o cinema, vejo muito bem porque
o adotei: para que ele me adotasse de volta. Para que ele me ensinasse a
perceber, incansavelmente pelo olhar, a que distncia de mim comea o
outro. Nesse movimento de apropriao da alteridade das imagens, mas
tambm de contgua separao, avizinhado ao gesto ensastico que desloca
objetos culturais pr-formados para produzir anacronismos, os outros e
as imagens outras so o que nos atravessam, o que nos ultrapassam, mas
tambm o que nos escapam, na forma do desconcerto, da perplexidade ou
O TRABALHO DO AMADOR75
de um estranho encantamento. Afinal, no se pode chegar suficientemen-
te prximo do outro sem se tornar, tambm, um outro.
Em Pacific, o modo epidrmico como nos aproximamos, por meio do
filme, desse outro, dessa alteridade radical que nos desconcertantemente
to prxima, estranha e familiar, pessoal e comum, explicita uma contigui-
dade entre as formas do filme e as formas do mundo, entre o construdo e
o vivido. Em tal gesto de pilhagem consentida das imagens amadoras,
domsticas e tremulantes dos outros, o realizador Marcelo Pedroso, esp-
cie de cineasta-pirata dos novos tempos (pirataria sustentada pelo con-
sentimento legal e o voluntarismo pessoal de seus personagens), cria uma
linha tnue entre proximidade e distncia, possivelmente se afastando do
que enuncia para melhor se fundir, ou para se confundir. Fuso, confuso
e indeterminao entre enunciados e enunciao, pessoa e personagem,
intimidade e visibilidade, pblico e privado, vida e cena que deixa a todos
ns, espectadores, em um lugar to instvel como a ardilosa superfcie do
mar.
REFERNCIAS
AUMONT, Jacques. Lumire, o ltimo pintor impressionistaIn: ______. AUMONT,
Jacques. O olho interminvel (cinema e pintura). So Paulo: Cosac Naify, 2004.
AZEREDO, Eli. Naufrgio em alto mar. O Globo, Rio de Janeiro, Caderno RioShow, em
25 ago. 2011.
BERNARDET, Jean-Claude. Pacific. Blog do Jean-Claude Bernardet, 2011: Disponvel
em: <http://jcbernardet.blog.uol.com.br/>.
______. Cineastas e imagens do povo. Companhia das Letras, 2003.
BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, ve. O novo esprito do capitalismo. So Paulo: Martins
Fontes, 2009.
BRASIL, Andr. Formas de vida na imagem: da indeterminao inconstncia.
Revista Famecos: mdia, cultura e tecnologia, Porto Alegre, v. 17, n. 2, 2010a.
______.Pacific: o navio, a dobra do filme. In: Devires, v. 7, n. 2, Belo Horizonte, UFMG
2010b.
BRASIL, Andr; MIGLIORIN, Cezar. Biopoltica do amador: generalizao de uma
prtica, limites de um conceito. IRevista Galxia, So Paulo, n. 20, p. 84-94, dez.
2010.
76ILANA FELDMAN
BRUNO, Fernanda. Mquinas de ver, modos de ser: visibilidade e subjetividade nas
novas tecnologias de informao e comunicao. Revista FAMECOS, Porto Alegre,
n. 24, jul. 2004.
COMOLLI, Jean-Louis. Ver e poder: a inocncia perdida cinema, televiso, fico,
documentrio. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
______.Cinema contra-espetculo. Catlogo forum.doc.bh.2001, 5. Festival do Filme
Documentrio e Etnogrfico. Belo Horizonte, novembro de 2001.
CRARY, Jonathan. Tcnicas do observador. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
COUTINHO, Eduardo. Um dia na vida (filme). Rio de Janeiro: 2010.
DANEY, Serge. O travelling de Kapo. Revista de Comunicao e Linguagens, n. 23.
Lisboa, Edies Cosmos, 1996.
DIDI-HUBERMAN, George. Cuando las imgenes toman posicin. Madrid: A. Machado
Libros, 2008.
FELDMAN, Ilana. A ascenso do amador: Pacific entre o naufrgio da intimidade e os
novos regimes de visibilidade. Ciberlegenda Revista do Programa de Ps-Graduao
em Comunicao da Universidade Federal Fluminense, Niteri, n. 26, 2012.
______.O apelo realista. Revista Famecos: mdia, cultura e tecnologia. Porto Alegre,
n. 36, ago. 2008.
FOSTER, Lila Silva. Filmes domsticos: uma abordagem a partir do acervo da
Cinemateca Brasileira. 2010. Dissertao (Mestrado em Imagem e Som) - Centro de
Educao e Cincias Humanas,Universidade Federal de So Carlos, So Carlos, 2010.
FOUCAULT, Michel. Histria da sexualidade. A vontade de saber. Rio de Janeiro:
Graal, 1997.
______. Aula de 17 de maro de 1976. In: ______. Em defesa da sociedade. So Paulo:
Martins Fontes, 2005.
______. Vigiar e punir. Petrpolis: Vozes, 1996.
GORZ, Andr. O imaterial conhecimento, valor e capital. So Paulo: Annablume,
2005.
GUIMARES, Cao. Rua de mo dupla (filme). Belo Horizonte: 2004.
LINS, Consuelo. Do espectador crtico ao espectador montador: Um dia na vida, de
Eduardo Coutinho. Devires, Belo Horizonte, v. 7, n. 2, p. 132-138, jul./dez. 2011.
MASCARO, Gabriel. Domstica (filme). Recife: 2012.
MIGLIORIN, Cezar. A poltica no documentrio. In: FURTADO, Beatriz (Org.)
Imagem contempornea cinema, TV, documentrio... So Paulo: Hedra, 2009. v. 1
ODIN, Roger. Les film de famille. Usage priv, usage public. Paris: Meridiens
Klinckieck, 1995.
PACIFIC. Direo e montagem: Marcelo Pedroso. Recife, Brasil: Smio Filmes, 2009.
Documentrio, vdeo, 72 minutos, cor.
O TRABALHO DO AMADOR77
RANCIRE, Jacques. O espectador emancipado. So Paulo: Martins Fontes, 2012.
SIBILIA, Paula. O show do eu a intimidade como espetculo. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2008.
SENNETT, Richard. O declnio do homem pblico as tiranias da intimidade. So Paulo:
Cia das Letras, 2002.
VELLOSO, Silvia Pimenta. O perspectivismo em Nietzsche. In: DANOVSKI, Dbora;
PEREIRA, Luiz Carlos. O que nos faz pensar. Cadernos do Departamento de Filosofia
da PUC-Rio, set. 2004.
XAVIER, Ismail. O olhar e a cena Melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson
Rodrigues. So Paulo: Cosac & Naify, 2003.
______.O efeito-janela e a identificao. In: O discurso cinematogrfico a opacidade e a
transparncia. So Paulo: Paz e Terra, 2005.
WAJCMAN, Grad. Fentre Chroniques du regard et de lintime. Paris: Verdier, 2004.
79
LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
Fantasmagorias das imagens cotidianas
o estranho e a emulao do registro videogrco
domstico no cinema de horror contemporneo
A Natureza um templo onde vivos pilares
Deixam ltrar no raro inslitos enredos;
O homem o cruza em meio a um bosque de segredos
Que ali o espreitam com seus olhos familiares.
Charles Baudelaire
INTRODUO
Este artigo prope uma discusso a respeito de um tipo especfico de nar-
rativa cinematogrfica que se tornou frequente a partir do final dos anos
de 1990: o found-footage
1
ficcional, tipo de filme de fico cuja construo
narrativa se d atravs de registros em vdeo ou pelcula feitos pelos perso-
nagens. Tal modalidade pode ser encontrada em inmeras realizaes de
vrios pases, e parece ter algo a dizer sobre a incorporao das tecnologias
e da esttica das imagens amadoras pelo cinema de fico dominante. Mais
especificamente, dentro do amplo espectro que ser descrito a seguir, de-
seja-se refletir sobre um grupo de filmes de gnero horror que se passam
em ambientes domsticos e emulam o registro de imagens caseiras, cujo
exemplar mais conhecido a srie cinematogrfica Atividade Paranormal
(Paranormal Activity, iniciada em 2007 por Oren Pelli, nos EUA), franquia
1 Optou-se por manter a expresso em ingls (que signica lme encontrado), por ser a mais
corrente.
80LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
que conta atualmente com trs continuaes e um spin-off,
2
todos com sig-
nificativo sucesso mundial.
Entre as inmeras discusses possveis em torno desse tipo de pro-
duo, que vo desde abordagens temticas especficas, no mbito do ci-
nema de horror, at questes de biopoltica, no que se refere ao amado-
rismo como um novo padro na paisagem miditica, quer-se propor aqui
uma anlise de sua ligao com uma problemtica tradicional da fico de
horror. Trata-se do estranho, ou do efeito de estranheza relativo a imagens e
objetos familiares, discutido por Freud no texto O Estranho, publicado pela
primeira vez em 1919 e, desde ento, um dos seus trabalhos mais influen-
tes sobre os estudos literrios, e tambm cinematogrficos.
FOUND-FOOTAGES, MOCKUMENTARIES, SNUFFS
E O QUE MAIS COUBER
Em outubro de 1994, trs estudantes de cinema
desapareceram numa oresta perto de Burkittville, Maryland,
enquanto rodavam um documentrio.
Um ano depois, as imagens foram encontradas.
(Letreiros de abertura de A Bruxa de Blair)
A prtica cinematogrfica chamada de found-footage refere-se apropria-
o de registros de imagens em movimento preexistentes, com o objetivo
de desnaturaliz-las ou recontextualiz-las pela criao de novos sentidos
obtidos a partir de processos geralmente ligados montagem ou ao pr-
prio gesto de apropriao. (WEINRICHTER, 2010) Trata-se de uma pr-
tica importante no documentrio e no cinema experimental, que tem o
poder de reemoldurar imagens e ao mesmo tempo de desafiar conceitos
tradicionais como os de autoria e propriedade intelectual. Entre os rea-
lizadores que contriburam para o aprofundamento, reflexo e legitima-
o dessa estratgia, tem-se o alemo Harum Farocki e o hngaro Pter
2 O termo pode ser traduzido por derivagem, e se refere a histrias que abordam o universo
diegtico de outra obra, da qual elas so decorrentes, mas sem a necessidade de se relacionarem
com sua trama principal.
FANTASMAGORIAS DAS IMAGENS COTIDIANAS81
Forgcs, cujas obras vm sendo objeto de ateno crescente por parte de
pesquisadores do mundo inteiro.
Mas, para alm das prticas documentais e experimentais, outro fe-
nmeno, em parte semelhante, tem proliferado com a explorao comer-
cial e a popularizao dos equipamentos digitais de captao de imagem,
dos softwares de edio e dos portais de distribuio gratuita na internet.
Nos ltimos anos, o acesso a essas tecnologias deu enorme visibilidade
a estratgias como a remixagem de imagens j circulantes e/ou a ressig-
nificao de registros banais, distribudos de forma viral em redes de
compartilhamento, na maioria das vezes em propostas humorsticas e/
ou de entretenimento, cuja popularidade vem influenciando produes
culturais massivas, com impactos estticos e polticos que tm sido alvo
de intensa discusso acadmica.
3
O sucesso dessas novas combinaes pode ser devido, em parte,
assimilao miditica de imagens amadoras ou caseiras que vem se inten-
sificando, a partir do uso das cmeras de Super-8, nos anos de 1960, pas-
sando pelo VHS, nos anos de 1980, e chegando ao digital, nos anos 2000.
Desde ento, produtos audiovisuais amadores com registros de fatos de
interesse jornalstico ou de cenas inusitadas da vida cotidiana (e mesmo
domstica) comearam a proliferar, passando a dominar, no final dos anos
de 1980, diferentes modalidades de programao televisiva, chamando a
ateno para algumas caractersticas tpicas do manuseio amador, entre
elas a falta de contraste e de foco das imagens, problemas de iluminao e
de estabilidade, som abafado ou ausente etc. Como descreve West (2005),
a inteligibilidade bsica desse material exigiu uma estrutura de forma-
to que se inclinou pesadamente para a ps-produo, com a incluso de
reenquadramentos, uso de voz-over explicativa, legendagem etc., e tam-
bm para classificaes simplificadas por gneros, como humor, tragdia
e choque, muitas vezes vinculados ao sensacionalismo.
Para West (2005), essa interseco entre o registro amador e o inte-
resse por imagens captadas, na maioria das vezes, por acidente, surgiu
(pelo menos originalmente) como uma promessa de autenticidade, pois
3 No caso dessa discusso em mbito acadmico nacional, ver: Felinto (2008); Sibilia (2008); Feld-
man (2008) entre outros.
82LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
os espectadores julgavam que dificilmente esses registros poderiam ser
premeditados e/ou falsificados por operadores com to baixo nvel de so-
fisticao tcnica. Assim, conclui ela, o autoevidente no-profissionalismo
das imagens poderia ser codificado como transparente, pois sua m-
-qualidade tornar-se-ia um marcador de realidade, ao sinalizar suas cir-
cunstncias de produo, transformadas em poderoso e onipresente ndi-
ce de realidade.
As implicaes desse processo foram variadas, tanto do ponto de vis-
ta esttico, pois permitiram que produtos da grande mdia incorporassem
solues distanciadas dos padres convencionais, quanto poltico, pois as
imagens que podiam servir como contraponto a esses padres passaram a
ser absorvidas e frequentemente neutralizadas pelo controle dos grandes
conglomerados miditicos.
4
No demorou para que a fico audiovisual dominante se aproprias-
se desse tipo de imagem, ou da emulao dela, com diferentes objetivos.
No caso do horror, isso se deu inicialmente pela explorao da curiosi-
dade sobre registros alegadamente reais de eventos paranormais,
5
entre
os quais um dos mais conhecidos Poltergeist O Fenmeno (Poltergeist,
Tobe Hopper, 1982). Houve tambm filmes que deram importncia ao
registro semelhante ao amador ou acidental, como A Estrada Perdida (Lost
Highway, David Lynch, 1997), O Chamado (Ringu, Hideo Nakata, 1998) e
Sinais (Signs, M. Night Shyamalan, 2002), entre dezenas de outros. Mas
os longas-metragens comerciais, inteiramente calcados no estilo de re-
gistro amador ou acidental, se tornariam populares somente no final dos
anos de 1990. Inicialmente, a face mais visvel desse processo deu-se com
o fenmeno mundial A Bruxa de Blair (Blair Witch Project, 1999, Eduardo
Snchez e Daniel Myrick, EUA), que trazia a histria fictcia de um grupo
4 Sobre isso, ver Brasil e Migliorin (2010).
5 O conceito de paranormalidade, que j teve muitos nomes ao longo da histria e passou a ser
uma preocupao do pensamento ocidental, desde o sculo XIX, pode ser denido como aquele
que se refere a fenmenos sensoriais e psicolgicos humanos que parecem violar as leis naturais.
(ZUZNE; JONES, 1989, p. ix) O assunto esteve muito em voga na dcada de 1970, quando a
Guerra Fria gerou vrias experincias cientcas em torno de indivduos com supostos poderes
extrassensoriais (como o sovitico Uri Geller, que alegava ser capaz de entortar metais distncia,
e viajou pelo mundo inteiro exibindo seus talentos). Nesse perodo, tanto o jornalismo quanto a
co divulgaram centenas de relatos, nas mais diversas mdias, causando grande comoo e
legando uma grande variedade de histrias e lendas urbanas.
FANTASMAGORIAS DAS IMAGENS COTIDIANAS83
de estudantes que realizava um documentrio sobre a maldio de uma
bruxa morta 200 anos antes no bosque da cidade de Burkittisville. Du-
rante as filmagens, eles acabavam desaparecendo da mesma forma como
ocorrera com as supostas vtimas do esprito da Bruxa, e apenas o material
registrado pelo grupo seria encontrado, cerca de um ano depois do desa-
parecimento.
O achado comercial de A Bruxa de Blair foi vend-lo, inicialmente,
na Internet e nas primeiras sesses pblicas nos EUA, como um legtimo
found-footage. Para isso, o filme contava com o registro bastante realista
captado pelos prprios atores durante os oito dias em que ficaram isolados
no Seneca Creek State Park, em Maryland, munidos de duas cmeras, um
aparelho de GPS e algum material de acampamento, e sendo vitimados
pelo assdio constante de uma equipe cujo objetivo era mant-los apa-
vorados o tempo todo. Mesmo com a revelao do malogro antes do
lanamento mundial do filme, o sucesso foi monumental: a um custo de
produo de cerca de 40 mil dlares (sem contar, obviamente, os gastos
com lanamento e distribuio), o filme arrecadou mais de 240 milhes
de dlares nas bilheterias, tornando-se o mais lucrativo da histria de
Hollywood at aquela data.
6
Porm, ao contrrio do que se propagou na poca, o projeto A Bruxa
de Blair no tinha uma premissa exatamente original. Entre seus antece-
dentes h vrias obras importantes. Os realizadores mencionaram como
inspirao direta uma srie de filmes estadunidenses de fico sobre o
monstro lendrio conhecido como P-Grande, feitos a partir dos anos de
1970, em particular os de Charles Peirce (The Legend of Boggy Creek, 1972,
e Boggy Creek II And the legend continues, 1984) e Ed Raggozzino (Sasqua-
tch, The Legend of Bigfoot, 1977), cuja esttica realista era favorecida pelo
uso de estratgias tanto do documentrio clssico, como narrao em voz-
-over explicativa e imagens de arquivo, quanto do documentrio moderno,
como cmera na mo, som direto, imagens feitas por personagens filman-
do uns aos outros etc. Esses filmes tinham ligao com o impacto de uma
suposta filmagem real do P Grande obtida pelos pesquisadores Roger
6 Clculo feito comparando-se os custos de produo com o rendimento de bilheteria. Fonte: Inter-
net Movie Database <http://www.imdb.com/title/tt0185937/business>.
84LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
Pattinson e Bob Gimlin, nos EUA, em 1967, que ainda hoje faz parte do
imaginrio nacional e tem caractersticas tpicas das imagens amadoras,
em particular pela precariedade do registro.
Pensando tambm nas tendncias dos anos de 1970, Petley (2005)
lembra a importncia da lenda urbana dos snuffs, que comeou a circu-
lar mais intensamente a partir do longa, independente, Snuff, filmado na
Argentina, em 1971, pelo casal Michael e Roberta Findlay, e lanado em
1976, pelo produtor Allan Shackelton, nos EUA. O filme, que original-
mente se chamaria Slaughter, tratava de uma gangue de motoqueiros ins-
pirada na famlia Manson, grupo responsvel pelo assassinato da atriz
Sharon Tate e de mais quatro pessoas na Califrnia, em 1969. Mas, quan-
do foi lanado, recebeu no apenas o novo ttulo como tambm cenas adi-
cionais de um assassinato supostamente real, ocorrido na Amrica do Sul.
Parte do pblico acreditou no engodo, e a existncia de registros reais de
assassinatos perpetrados com o fim especfico de serem filmados e distri-
budos de forma marginal passou a ser aventada diversas vezes, tanto na
fico quanto no jornalismo. Segundo Petley (2005), o imaginrio criado
em torno dos snuffs pode ser um dos fatores que alimentaram o interesse
pelos falsos found-footages.
Nesse sentido, inevitvel mencionar-se o polmico filme italiano
Canibal Holocausto (Canibal Holocaust, Ruggiero Deodato), banido em
mais de 40 pases, aps sua polmica estreia, em 1980, que foi seguida da
priso do diretor sob a acusao de ter produzido um snuff. Essa produo,
filmada em sua maior parte na Colmbia, trazia a suposta reconstituio
ficcional das aventuras de um antroplogo estadunidense em busca de
uma equipe de documentaristas desaparecidos na Amaznia. Ele no os
encontra, mas, entre uma tribo canibal, descobre as latas de filmes em
16 mm, com os registros do massacre que a equipe sofrera, aps praticar
contra a tribo os mais variados tipos de violncia. Apesar dos filmes sobre
canibais serem naquele momento um ciclo j bastante conhecido no cine-
ma de explorao italiano,
7
Canibal Holocausto ficou imortalizado por ter
7 O ciclo de lmes italianos de canibais, que explodiu entre os anos de 1970 e comeo dos de 1980,
consistia em uma srie de aventuras na selva, geralmente misturando horror e nudez, que traziam
exploradores civilizados para espaos exticos (lmados em locaes em vrias partes do
mundo), nos quais se deparavam com os supostos hbitos selvagens dos habitantes locais. Entre
FANTASMAGORIAS DAS IMAGENS COTIDIANAS85
usado como argumento publicitrio a falsa mensagem de que o documen-
trio encontrado na Amaznia seria verdico, o que levou a enganos jorna-
lsticos escandalosos e a um enorme mal-entendido, obrigando os atores a
comparecerem televiso e Justia para provar que estavam vivos.
Mas tambm outras produes mais recentes devem ser creditadas.
Como lembra Piedade (2008), uma delas a belga Cest Arriv Prs de
Chez Vous (mais conhecido por seu ttulo em ingls Man Bites Dog), reali-
zada em 1992, pelo trio Rmy Belvaux, Andr Bonzel e Benot Poelvoorde.
O filme trazia uma suposta equipe de documentaristas que acaba morta
junto com um assassino em srie, cuja rotina estava acompanhando, dei-
xando o filme como seu nico legado. Tryon (2009, p. 40) tambm desta-
ca que, em 1998, poucos meses antes do lanamento de A Bruxa de Blair,
um longa-metragem satrico, intitulado The Last Broadcast (Stefen Avaos
e Lance Weiler, EUA, 1998), chegava ao circuito dos festivais, trazendo a
histria de um grupo de estudantes que se embrenha numa floresta para
procurar o lendrio Demnio de Jersey, e no mais retorna, sendo o fil-
me alegadamente o material bruto dos seus registros.
Mesmo havendo diferenas notrias entre Canibal Holocausto e os ou-
tros realizados depois em particular pelo fato de Deodato ter criado uma
moldura narrativa sofisticada e politicamente polmica para a exibio do
falso found-footage
8
tanto o primeiro quanto The Last Broascast, Man bites
Dogs e A Bruxa de Blair tm mais em comum do que o apelo pretensa
descoberta de algum tipo de snuff acidental. Eles tambm compartilham
outra estratgia ainda mais antiga, conhecida como mock-documentary ou
mockumentary, isto , um tipo de fico que se apropria dos procedimen-
tos estilsticos do documentrio e/ou da reportagem jornalstica.
Como lembra Piedade (2008), o marco inicial dessa modalidade de
fico costuma ser atribudo adaptao radiofnica de A Guerra dos Mun-
dos, de H. G. Welles, dirigida por Orson Welles e estrelada pela equipe do
Mercury Theater, no Dia das Bruxas, em 1938, na Rdio CBS, nos EUA, que
levou milhares de ouvintes a acreditarem que seu pas estava sofrendo uma
os lmes mais conhecidos, esto Emmanuelle e o ltimo canibal (Emanuelle e gli ultimi cannibali,
Joe DAmato, 1977) e Canibal Ferox (Umberto Lenzi, 1981).
8 Sobre isso, v. Petley (2005) e Guerra (2010).
86LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
invaso aliengena. O fenmeno contribuiria para o surgimento de inme-
ras experincias audiovisuais, ao longo das dcadas seguintes, como Zelig
(Woody Allen, 1983) e This is Spinal Tap (Rob Reiner, 1984), que buscaram
seu interesse na tenso criada pelo encontro entre a fico e as formas
documentais consagradas e os novos mockumentaries de horror, criados
a partir de falsos found-footages, so a face mais atual e mais rentvel desse
fenmeno, no se tratando propriamente de uma inveno original entre
as possibilidades formais da tradio audiovisual.
O fato que, no mbito do cinema de horror, a partir de A Bruxa de
Blair, as definies de mockumentary, de found-footage e mesmo de falsos
snuffs passariam a se misturar e a se confundir, mas os procedimentos nar-
rativos e estilsticos dessa combinao no foram incorporados imediata-
mente pelo cinema comercial, apesar do sucesso do filme de 1999. Isso
aconteceria cerca de oito anos depois, com o surgimento de uma enorme
quantidade de filmes que retomavam a tendncia. Entre centenas deles,
produzidos nos ltimos seis anos ao redor do planeta, pode-se citar as pro-
dues hollywoodianas de horror e fico-cientfica Cloverfield Monstro
(Cloverfield, Matt Reeves, 2008), e Apollo 18 A misso perdida (Apollo 18,
Gonzalo Lpez-Gallego, 2011); os filmes de zumbis Dirio dos Mortos (Dia-
ry of the Dead, George Romero, 2007) e [Rec] (Jaume Ballaguer e Paco
Plaza, 2007), produo espanhola que ganharia duas continuaes no
prprio pas e um remake nos EUA; os falsos documentrios supostamen-
te encontrados aps o desaparecimento das equipes, como o noruegus
O Caador de Troll (Trolljegeren, Andre Ovredal, 2010) e o costa-riquenho
O Sanatrio (El Sanatorio, Miguel Alejandro Gomez, 2010); os filmes de
horror passados em ambiente domstico, como Home Movie (Christopner
Denham, 2008) e a srie Atividade Paranormal.
Evidentemente, esses filmes apresentam diferenas importantes en-
tre si. Uma delas, e talvez a mais bvia, diz respeito ao tipo de monstruo-
sidade que lhes serve de argumento: aparies de seres extraterrestres ou
de fantasmas; ataques de bruxas ou de criaturas selvagens; epidemias de
zumbis ou de outros entes contagiosos; lutas com demnios ou psicopatas
etc. Outra diferena relevante a proximidade maior ou menor dos recur-
sos estilsticos do jornalismo e do documentrio, que podem ser muito
significativos em O Sanatrio ou residuais em Apollo 18, e at inexistentes
FANTASMAGORIAS DAS IMAGENS COTIDIANAS87
em Home Movie. H ainda a questo da movimentao da cmera, geral-
mente feita na mo, mas que tambm pode ser registrada atravs de
instalaes de segurana ou de aparelhos esquecidos ou cados no cho,
por exemplo. Mas, sobretudo, a interferncia da montagem um compli-
cador na comparao entre esses filmes, pois h tanto os que produzem a
impresso de fidelidade ordem e a durao dos eventos captados, como
[Rec], quanto os que oferecem uma montagem bastante irnica entre di-
ferentes cmeras presentes na ao, como [Rec] 2 En un mundo infectado
(Martin Samper, Espanha, 2010).
H, por outro lado, elementos comuns a todos esses filmes a ser
mencionados, pois geralmente so usados para index-los no mesmo
subgnero
9
dos filmes de horror found-footage. So eles: a cmera die-
gtica, isto , operada por personagens ou em situaes incorporadas
narrativa; o uso de tecnologias do tipo acessvel para consumidores ama-
dores; a ausncia de moldura narrativa, exceto pela presena eventual de
letreiros curtos no comeo ou no final do filme; a presena de atores des-
conhecidos do grande pblico; a ausncia de trilha-sonora extradiegtica;
a remisso constante cmera; a linearidade cronolgica descontnua; o
destaque para os tempos mortos em que nada de relevante acontece; e a
preferncia por ambientes comuns e situaes (pelo menos inicialmente)
cotidianas.
Em particular, neste artigo, interessa-nos explorar as potncias ex-
pressivas dessas ltimas caractersticas em filmes que emulam os regis-
tros domsticos. Isso ser feito atravs da discusso e aplicao de um
conceito muito til para a anlise das narrativas e imagens de horror: o
efeito de estranheza, ou simplesmente o estranho, conceito desenvolvido por
Freud em 1919, em um de seus textos mais importantes para os estudos
literrios. Como objeto de observao neste pequeno estudo de caso, o fil-
me escolhido ser o primeiro episdio da franquia Atividade Paranormal.
9 Aqui, considera-se problemtica a ideia de subgnero, pois tradicionalmente os subgneros do
horror so atribudos a diferentes categorias temticas de monstruosidade. Assim, geralmente
pensa-se em subgneros como os lmes de zumbi, de possesso demonaca, de fantasmas etc.
Por outro lado, no resta dvida quanto ao fato de que o conjunto de lmes mencionado neste
artigo tratado por produtores, divulgadores e espectadores como um subgnero do horror,
marcado mais por questes de estilo de captao do que por questes temticas.
88LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
O estranho, ou o efeito de estranheza
O estranho aquela categoria do assustador que remete
ao que conhecido, de velho, e h muito familiar.
(O Estranho Sigmund Freud)
Em 1919, Sigmund Freud abria seu texto O Estranho (Das Unheimlich)
10
re-
velando-se incomodado pelo fato de, at aquele momento, os psicanalistas
no frequentarem o universo da esttica para desenvolver seus estudos, e,
por outro lado, de os tratados estticos se encarregarem principalmente
de refletir sobre o belo, atraente e sublime, ou seja, sobre sentimentos
de natureza positiva, opostos aos de repulsa e aflio. Tomou, assim, a
iniciativa de elaborar uma anlise para encontrar uma ponte possvel en-
tre as duas reas. Chegou, ento, ao tema do unheimlich (traduzido como
estranho ou sinistro), que, segundo ele, relacionava-se ao que poderia ser
considerado assustador, provocador de sentimentos de horror e de medo.
Oscar Cesarotto (1996, p. 113), comentando o texto de Freud, atenta
para a questo da definio do termo: unheimlich o antnimo de hei-
mlich, que quer dizer ntimo, secreto, familiar, domstico. Por contraste,
significaria desconhecido, estranho, no habitual. Apesar do vocbulo
descrever uma srie de emoes, haveria, conforme Cesarotto, ao menos
um denominador comum entre as vrias possibilidades: o efeito de estra-
nheza que atinge as coisas conhecidas e familiares, tornando-as motivo de
ansiedade. (CESAROTTO, 1996, p. 113)
Para exemplificar o efeito estranho ligado aos elementos conhecidos
e familiares, Freud utilizou-se do conto O homem da areia, do escritor ale-
mo E. T. A. Hoffmann. A figura original do Homem da Areia vinha de um
conto infantil direcionado a crianas que no queriam dormir. O Homem
da Areia seria a personagem responsvel por soprar areia nos olhos delas
para faz-las dormir e sonhar sonhos agradveis ou no. O conto de Ho-
ffmann confere a tal figura aspectos aterrorizantes. Trata-se da histria de
10 Traduzido no Brasil como O estranho (FREUD, 1976), numa verso contestada por alguns psica-
nalistas e estudiosos da obra de Freud. Entre eles, encontra-se Oscar Cesarotto, autor do livro No
olho do Outro (1996), no qual defende que a traduo mais exata de unheimlich seria sinistro ou
aquilo que causa um efeito de estranheza. Neste artigo, estes termos (estranho, sinistro e efeito de
estranheza) sero empregados como sinnimos.
FANTASMAGORIAS DAS IMAGENS COTIDIANAS89
Natanael, que troca cartas com seu amigo Lotrio e sua namorada Clara,
irm de Lotrio. Descrevendo lembranas da infncia, Natanael conta que
sua me costumava amea-lo, dizendo que o Homem da Areia aparece-
ria, se ele no fosse dormir na hora certa. Natanael acreditava que o tal
Homem seria uma presena real, pois, sempre que se recolhia para seu
quarto, ele ouvia passos pesados subindo as escadas de sua casa e, logo
aps, percebia que seu pai se trancava com algum no escritrio. Natanael
acreditava que o visitante de todas as noites era o tal Homem da Areia.
Ele perguntou, ento, para a ama da irm mais nova, uma velha senhora,
que contou se tratar de um homem mau, que jogava areia nos olhos das
crianas quando elas se recusavam a ir dormir. Os olhos, ento, saltariam
sangrando da cabea, ele os recolheria e os levaria para a Lua, a fim de ali-
mentar seus filhotes. Determinado a descobrir quem era o assustador Ho-
mem da Areia, Natanael escondeu-se no gabinete do pai. Surpreendeu-se
ao ver que quem se encontrava com ele era Coppelius, advogado e amigo
da famlia. Aps o choque inicial, o garoto foi descoberto e quase teve seus
olhos arrancados por Coppelius, mas foi salvo por seu pai. Tempos depois,
o pai de Natanael morreria numa exploso. Ele mudou-se de cidade, para
continuar seus estudos superiores. Certo dia, um homem bateu a sua por-
ta. Natanael acreditava ser Coppelius, mas este se apresentou como Cop-
pola, um vendedor de culos. Natanael descobriu que Coppola era amigo
do professor Spallanzani, que morava na casa em frente sua residncia,
de onde ele podia observar Olmpia, uma jovem de beleza imaculada, com
quem ele, posteriormente, comeou a namorar. Olmpia, porm, mostra-
va-se fria e incomunicvel. Para espanto e desespero de Natanael, ele logo
descobriria que aquela mulher por quem ficara encantado era, na verdade,
uma boneca de cera, um autmato. Nesse momento, ele teve a certeza
de que Coppola e Coppelius eram a mesma pessoa: o to temido Homem
da Areia. Natanael volta, ento, para sua cidade e retoma o namoro com
Clara, mas quando, num certo dia, avista Coppelius/Coppola, acaba se
atirando de cima de um prdio e morre na queda.
Esse limitado resumo no d conta de toda a riqueza do conto de
Hoffmann, mas serve para apresentar suas linhas gerais. Alguns pontos
relevantes devem ser destacados: a prpria figura do Homem da Areia e o
medo de ter os olhos arrancados por ele; a descoberta de que o Homem
90LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
da Areia no era mais um espantalho das histrias da carochinha, mas
Coppelius, o amigo do pai de Natanael, um monstro horrvel e assustado-
ramente real e familiar; a boneca viva Olmpia e o efeito estranho que ela
tambm causava; a questo do duplo (doppelgnger), relacionada tanto com
Coppelius/Coppola como com a boneca Olmpia; a incerteza em relao
aos fatos narrados.
Desde a publicao do estudo de Freud, que teve como base esse con-
to, muita coisa mudou tanto no campo psicanaltico quanto no esttico,
mas o conceito de unheimlich permanece como um dos mais potentes de-
senvolvidos pelo pai da psicanlise. Para Freud, a emergncia desse senti-
mento estaria ligada a um estgio primitivo, h muito superado, da mente
humana, que ressurge inadvertidamente em circunstncias especficas,
o que provoca reaes de profunda inquietao e desorientao. Trata-se,
para ele, de um misto de medo e fascnio provocado por um sentimento
reprimido que nos faz olhar para os objetos do mundo, sob uma perspec-
tiva que aceita o mistrio e, ao mesmo, o teme terrivelmente. Para Freud:
O estranho nada mais que uma coisa familiar e escondida que
sofreu represso e ento emergiu dela, e tudo o que estranho sa-
tisfaz a esta condio. [...] Membros arrancados, uma cabea dece-
pada, mo cortada pelo pulso..., ps que danam por si prprios
todas essas coisas tm algo de peculiarmente estranho... (FREUD,
1976, p. 277)
No conto de Hoffmann, o efeito perturbador decorrente da transfor-
mao de algo familiar em estranho, associando-o angstia e ao horror,
est estreitamente ligado presena de elementos grotescos. Vale obser-
var, ento, que o estranho e o grotesco no se anulam, ao contrrio, so
complementares. Muniz Sodr e Raquel Paiva (2002), retomando o estu-
do de Wolfgang Kayser (1986) sobre o grotesco, observam a aproximao
entre essa categoria esttica e o conceito de unheimlich:
O grotesco no se define, entretanto, pura e simplesmente pelo
monstruoso ou pelas aberraes. preciso que, no contexto do es-
petculo ou da literatura, estas produzam efeitos de medo ou de
riso nervoso, para que se crie um estranhamento do mundo, uma
sensao de absurdo ou de inexplicvel, que corresponde propria-
mente ao grotesco. No estamos longe do conceito freudiano de
FANTASMAGORIAS DAS IMAGENS COTIDIANAS91
Unheimliche, que se traduz como o inquietante familiar, algo que
deixamos de reconhecer como identidade normalizada, por efeito de
foras obscuras e incompreensveis. (SODR; PAIVA, 2002, p. 56)
No estamos distantes das fantasmagorias das imagens cotidianas,
trabalhadas a partir da emulao do registro domstico de fatos inquietan-
tes e grotescos, to frequente no cinema de horror contemporneo.
EMULAO DE REGISTRO DOMSTICO: ATIVIDADE PARANORMAL
A Paramount Pictures gostaria de agradecer s famlias de Micah Sloat e
Katie Featherston e ao Departamento de polcia de San Diego.
(Letreiros de abertura de Atividade Paranormal)
Desde que Freud escreveu seu influente ensaio, boa parte da fico de hor-
ror passou a explorar com mais conscincia o medo que sentimos quando
algo que nos parece absolutamente conhecido se reveste de uma aparncia
de mistrio e de perigo iminente. Se registros desse fenmeno antecedem
o texto de Freud, em imagens literrias como a do doppelganger,
11
as obras
realizadas aps o advento da psicanlise passaram a se interessar mais cla-
ramente pelo efeito da transformao de objetos e espaos cotidianos em
fontes de ameaa e desorientao. Assim, a importncia do texto de Freud
para a literatura, o cinema e as artes em geral, se deve no apenas ao que
este forneceu de subsdios para a reflexo, mas tambm inspirao que le-
gou a artistas que construram atmosferas e situaes de desfamiliarizao,
como ocorreu, por exemplo, com a vanguarda surrealista e com uma parte
expressiva da fico popular de horror.
12
E a que parece residir a fora da srie Atividade Paranormal, cujo
primeiro episdio objeto de ateno neste artigo. Escrito, dirigido e pro-
duzido em esquema independente pelo estreante Oren Peli, em 2007, e
11 O Doppelgnger provm de lendas germnicas pela fuso das palavras doppel(rplica) e gnger
(aquele que vaga, andante). Costuma ser descrito como um ser fantstico que tem o dom de re-
presentar uma cpia idntica de uma pessoa que ele escolhe e passa a acompanhar. Sua primeira
apario no cinema de longa-metragem tambm tida como originadora do primeiro longa de
horror da histria: O Estudante de Praga (Der Student von Prag, Stellan Rye e Paul Wegener, Ale-
manha, 1913).
12 Por exemplo, v. FERRARAZ, 2005.
92LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
transformado em fenmeno de pblico, em 2009 (quando arrecadou 194
milhes de dlares nas bilheterias mundiais,
13
aps ser distribudo pela
Paramount
14
), o filme acompanha a transformao de um ambiente e de
pessoas comuns em objetos progressivamente mais estranhos e temveis,
em um registro supostamente caseiro de dezenas de horas gravadas ao
longo de 21 dias, e montado com 86 minutos de durao.
Em Atividade Paranormal, vemos um jovem casal que resolve inves-
tigar por conta prpria os estranhos fenmenos que assombram a espo-
sa Katie (Katie Featherston), desde os oito anos de idade. Para tanto, o
marido Micah (Micah Sloat) compra uma cmera digital atravs da qual
pretende registrar tudo o que se passa na casa, inclusive quando eles esto
dormindo ou ausentes. Os problemas se adensam, medida que os regis-
tros comeam a mostrar que h algo perigoso e inexplicvel acontecendo,
mas nenhum deles sabe como resolver ou reverter a situao.
O filme concentra-se inteiramente no espao da casa. A cmera s apa-
rece do lado de fora nos primeiros segundos, quando Katie chega, com seu
carro, na garagem. Depois disso, s sair para o ptio dos fundos, e mesmo
assim rapidamente. Quando a gravao comea, Micah revela que o fen-
meno que ele chama de a Coisa j est instalado, e o motivo da compra
da cmera. Nos primeiros minutos, o casal testa o equipamento em um cli-
ma bastante ameno. No dia seguinte, ao receberem a visita de um mdium
chamado por Katie, percebemos mais claramente a gravidade do problema.
Do ponto de vista narrativo, o dilogo com o mdium parece ter o pa-
pel de apresentar ao espectador a casa e os personagens, j que o convidado
lhes faz vrias perguntas. No final da conversa, ele aconselha o casal a no
mexer com a Coisa, pois esta no teria origem humana, isto , no se tra-
taria de um fantasma, e sim de uma espcie de demnio. Ele indica ao casal
13 Fonte: Internet Movie Database. Disponvel em: <http://www.imdb.com/title/tt1179904/business>.
14 Segundo Carreiro (2010), o processo de compra do lme pela DreamWorks levou algum tem-
po. Atividade Paranormal comeou a ser distribudo em DVDs, principalmente para pessoas que
trabalhavam na indstria cinematogrca. Em 2008, o lme chegou s mos de executivos da
DreamWorks, que o enviaram para Steven Spielberg, cujo aval levou o estdio a pagar US$ 300
mil pelos direitos autorais da obra. Ele tambm teria convencido os executivos do estdio a trocar
a ideia de fazer uma relmagem (a partir do mesmo roteiro e com equipamento prossional, a ser
dirigida pelo mesmo diretor) pelo lanamento do lme original, s que com um nal diferente.
Na mesma poca, porm, a DreamWorks foi comprada pela Paramount e o lanamento acabou
adiado para 2009.
FANTASMAGORIAS DAS IMAGENS COTIDIANAS93
um colega especializado em lidar com esses seres malignos, desaconselha
com firmeza qualquer tentativa de comunicao espiritual e se despede.
Micah no consegue levar a situao a srio, e parece ficar bastante exci-
tado. Eles fazem sexo, mas Katie exige que a cmera seja desligada, para
frustrao de Micah.
A partir do dia seguinte, a agitao na casa aumenta. Do quarto, no an-
dar de cima, eles escutam barulhos misteriosos vindos da sala e da cozinha,
no andar de baixo. Micah, convencido de que algo pode estar acontecendo,
passa a pesquisar sobre demnios e compra um livro com ilustraes sobre
o assunto. O espectador comea a perceber que objetos da casa, como um
quadro na parede em frente escada e os entalhes da cama do casal, se
parecem com as imagens do livro, embora os personagens no faam refe-
rncia a esse fato. Micah consegue captar sons estranhos no quarto. Katie
tem pesadelos, alm de protagonizar um episdio de sonambulismo, em
que fica por cerca de duas horas, em p, no quarto, observando o marido
enquanto ele dorme (nesse momento, a interveno de um editor no ma-
terial bruto registrado pelo casal evidente, pois a velocidade das imagens
acelerada, e o timecode corre rapidamente na parte de baixo da tela). A c-
mera ligada noite registra tudo, impassvel. Katie no se lembra de nada.
Contra a vontade da mulher, Micah traz uma placa de Ouija
15
para
casa. Numa sada noturna, o demnio queima a placa e faz misteriosas
inscries. A cmera ligada na sala mais uma vez registra tudo. Katie deci-
de chamar o exorcista indicado pelo mdium, mas Micah pede para fazer
um teste antes, espalhando talco pela casa. A Coisa deixa suas marcas de
talco por todo o segundo andar da residncia, inclusive dentro do quarto,
e indo at o sto. L, o casal encontra uma foto de Katie quando criana,
queimada parcialmente pelo incndio ocorrido na casa da famlia dela. No
dia seguinte, uma fotografia do casal no corredor aparece quebrada em
cima do rosto de Micah. Os barulhos misteriosos comeam a acontecer
tambm durante o dia. O exorcista est viajando, e o mdium os visita de
novo, mas se recusa a entrar na casa.
15 Espcie de dispositivo espiritual que contm as letras do alfabeto e as palavras sim e no,
e usado para comunicao com entidades sobrenaturais atravs de um objeto pontiagudo que
desliza pela placa.
94LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
O demnio se instala na cama: a cmera noturna mostra o movimen-
to dos lenis. A Coisa continua invisvel, mas tenta levar Katie noite,
arrastando-a pelos ps. Eles decidem fugir, mas ela desiste de ir. Na noite
do 21 dia, Katie, num aparente novo episdio de sonambulismo, sai do
quarto, e ento ouvimos seus gritos. Micah corre para acudi-la, e ouvimos
gritos dos dois. A cmera continua impassvel diante da cama e da porta
aberta atravs da qual s podemos ver o corredor escuro. Silncio.
Para a cpia que circulou internacionalmente, foi inserida uma cena
adicional em que Katie entra pela porta do quarto segurando Micah, e o
atira contra a cmera. Letreiros nos dizem que o corpo dele foi encontrado
dias depois, e que o paradeiro dela ainda desconhecido.
Analisando-o do ponto de vista da psicanlise, seria bastante tentador
interpretar esse filme pelo aspecto do estranhamento da esposa Katie em
relao possibilidade do ato sexual. A interpretao psicanaltica chega a
ser cristalina, quando observamos a progressiva aproximao da entidade
demonaca da cama do casal at tomar o corpo de Katie, aparentemente
traumatizada por algum tipo de abuso, real ou imaginrio, que teria sofri-
do na infncia. Nesse sentido, a postura infantil de Micah, brincando com
os temores de sua mulher, e o abandono de certa figura paterna, represen-
tada pelo mdium, s adensam a situao.
Mas de outra ordem a questo que se trata neste artigo. Se a anlise
psicanaltica pode ser aplicada com alguma facilidade, a questo que in-
teressa aqui discutir em que medida a forma domstica de registro se
presta to bem ao desenvolvimento do estranhamento pelo qual passam
personagens e espectadores. Como descreve Carreiro (2010), a textura
amadora das imagens, ao contrrio de prejudicar a experincia por suas
limitaes tcnicas [...] se aferra ao princpio do registro amador de um
acontecimento extraordinrio [...].
Roger Odin (2003), em seu estudo sobre os filmes de famlia, destaca
que a principal caracterstica dos filmes domsticos o fato deles serem
feitos para ser vistos por aqueles que vivenciaram os eventos representa-
dos na tela, o que produz caractersticas textuais facilmente reconhecveis:
a ausncia de fechamento, a temporalidade linear descontnua, a narrativa
FANTASMAGORIAS DAS IMAGENS COTIDIANAS95
dispersa, as imagens borradas, os movimentos bruscos, a remisso c-
mera e o som irregular ou ausente. De acordo com essas caractersticas,
o filme ao qual assistimos convincente, tendo suas imagens e sons apa-
rentemente registrados por um casal, com uma nica cmera, no espao
domstico e sem a necessidade de esclarecimentos sobre o que se passa
quando a cmera no est ligada. As interrupes tambm no seguem o
modelo narrativo cannico, e h uma grande variedade de tempos mortos
e de registros banais do cotidiano do casal. Para possibilitar o fornecimen-
to de informaes adicionais, tem-se a construo de personagens muito
falantes, que fazem do registro um relato de si mesmos e principalmente
dos estranhos eventos aos quais vm assistindo.
Atividade Paranormal ilustra bem o que Kristin Thompson chama
de restricted narration (2008, p. 90), que d ao espectador apenas as
mesmas informaes sabidas pelos personagens. Esse recurso permite a
construo da empatia com grande facilidade, mas cria uma srie de desa-
fios narrativos, pela impossibilidade de mostrar-se o que se passa quando
os personagens no esto presentes. Em casos como os dos found-footages
ficcionais, nos quais, em geral, os prprios personagens operam a cmera,
as possibilidades dessas narrativas so ainda mais limitadas.
Porm, em Atividade Paranormal, a tenso entre o que visto pelos
personagens e o que pode ser mostrado pela cmera ganha uma nova solu-
o. Como chama a ateno David Bordwell (2012), em texto recente sobre
a franquia, uma das solues interessantes encontrada por Atividade Pa-
ranormal foi a de no se prender somente ao registro olho/mo/cmera e
narrativa em primeira pessoa, pois a prpria necessidade dos personagens
de registrar o que se passa em sua ausncia ou quando esto dormindo
abre a possibilidade de gravaes mais frias e realizadas de pontos fixos.
Assim, diferente de um filme de monstro como Cloverfield (descrito por
Bordwell, 2008, como Godzilla encontra a cmera na mo), temos um
registro mais impassvel e que poupa a narrativa, em vrios momentos,
da necessidade de justificar o fato dos personagens continuarem filman-
do em situaes nas quais isso no seria til ou recomendvel. Assim,
mesmo com o uso de uma nica cmera, articula-se o efeito da cmera na
96LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
mo ao da de segurana e ser essa segunda estratgia, alis, a pautar
inteiramente o filme seguinte da franquia.
16
Essa soluo desenvolvida pelo roteirista e diretor Oren Pelli parece
central na construo do efeito de estranheza de Atividade Paranormal, pois
tanto os espectadores do cinema quanto os espectadores-personagens
(que assistem constantemente s prprias gravaes) so obrigados a re-
ver imagens muito semelhantes, revestidas, progressivamente, de um ca-
rter sinistro, a partir de mudanas sutis. Isso se evidencia, por exemplo,
na escurido do corredor que antevemos atravs da porta do quarto do
casal, diante da qual a cmera fica postada durante as 21 noites. Num pri-
meiro momento, o corredor escuro no tem um efeito perturbador. Mas,
medida que percebemos a aproximao da Coisa a cada dia, a viso
do mesmo corredor produz um suspense quase insuportvel para mui-
tos espectadores. No por acaso, vir do corredor o susto final do filme,
quando Katie atira o corpo de Micah sobre a cmera.
Como queria Freud, a realidade to familiar vai se tornando mais e
mais estranha medida que medos antigos de Katie, aliados onipotncia
infantil de Micah, transformam uma casa comum na residncia de um de-
mnio. E o espectador acompanha o processo junto com eles, observando
as mesmas imagens. Filmes de horror como Atividade Paranormal pare-
cem oferecer a possibilidade de um realismo maior, no que isso signifique
uma aproximao com a experincia cotidiana cada vez mais disseminada
das gravaes amadoras em ambientes domsticos. Da vrios autores j
terem observado, por exemplo, a potncia horrfica dos tempos mortos
nesses filmes, que passam a ser preenchidos pelo espectador numa busca
incessante por pistas de algum elemento a destoar da expectativa banal.
Ao estabelecer de maneira simples a situao de estranhamento, pouco
16 O recurso das cmeras de segurana em Atividade Paranormal 2 (Tod Williams, 2010) levou o
crtico Nicholas Rombes (2011) a defender o carter experimental do longa. Para ele: Atividade
Paranormal 2 no um lme de vanguarda, mas apenas porque ningum argumentou que ele .
(Paranormal Activity 2 is not an avant-garde lm, but only because no one has argued that it is).
Exagero ou no, pode-se dizer que a xao do segundo lme a um parmetro tcnico bastante
limitador faz dele um interessante tour de force estilstico, e surpreendente que, lmado com
seis cmeras xas em plano geral, sem msica diegtica ou qualquer efeito especial ou ator co-
nhecido, o lme tenha conquistado 178 milhes de dlares nas bilheterias do mundo todo (Fonte
dos dados de bilheteria: Internet Movie Database, disponvel em: <http://www.imdb.com/title/
tt1536044/?ref_=fn_al_tt_1>).
FANTASMAGORIAS DAS IMAGENS COTIDIANAS97
necessrio para iniciar um jogo que usa a seu favor exatamente a pobreza
e a repetio dos registros.
ALGUMAS CONSIDERAES
Se voc est assistindo a esta ta, provavelmente sabe mais do que eu.
(Fala do personagem de Clovereld)
No se pode ser inocente diante da massificao do registro amador como
pretensa semelhana com o real e das implicaes polticas e estticas
dessa nova configurao, que parece regular e padronizar as estratgias de
autoexpresso na contemporaneidade. Mas tambm parece insuficiente
olhar para o conjunto dessas obras sem observar suas especificidades e
invenes, mesmo no mbito do cinema comercial, que, ao contrrio do
que muitas vezes parece ser postulado pelas anlises culturais, est longe
de ser um corpo homogneo.
No caso do horror, especificamente, h de lembrar que essas obras
procuram vincular o novo tipo de registro a tradies muito mais antigas
do gnero, aparentemente potencializadas pelo estilo amador ou aci-
dental, em particular no que se refere a processos de empatia e de estra-
nhamento. Talvez essa seja uma das razes que justificam a explorao
to notria desse formato por produtores de filmes de horror no mundo
todo alm, claro, do baixo custo e da franca absoro do estilo amador
pelos produtos da indstria cultural.
Se a tradio do horror se pautava, at hoje, por artifcios do cinema
convencional como a msica extradiegtica, a montagem em continuida-
de, a construo de espaos fantsticos bastante elaborados e de efeitos
especiais, os novos filmes se apresentam, na maioria das vezes, com uma
nudez atroz, e isso particularmente notvel em Atividade Paranormal.
Mesmo assim, tais obras se revelam capazes de desfamiliarizar a rea-
lidade, revestindo-a de novos significados. Como recorrente na hist-
ria da fotografia, do cinema e das mdias eletrnicas, o registro realista
pode ganhar contornos fantsticos e misteriosos,
17
talvez sugerindo que a
17 Sobre isso, ver Felinto, (2005).
98LAURA LOGUERCIO CNEPA E ROGRIO FERRARAZ
dinmica entre familiaridade e estranhamento descrita por Freud conti-
nua ativa nos novos regimes de visibilidade, nos quais se tenta vencer ou
ultrapassar a banalidade pela gravao de experincias singulares.
REFERNCIAS
BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. Film Art An Introduction. 8. ed.
Nova Iorque: University of Wisconsin, 2008.
BORDWELL, David. A behemoth from the Dead Zone. IObservations on film art.
jan. 25, 2008. Disponvel em:<http://www.davidbordwell.net/blog/2008/01/25/a-
behemoth-from-the-dead-zone/>.
______. Return do paranormalcy. In: Observations on film art. nov. 13, 2012. Disponvel
em: <http://www.davidbordwell.net/blog/2012/11/13/return-to-paranormalcy/>.
BOWIE, Jos Antonio Prez (Org.). Reescrituras filmicas: Nuevos territorios de la
adaptacin. Salamanca: Universidad Salamanca, 2010.
BRASIL, Andr; MIGLIORIN, Czar. Biopoltica do amador: generalizao de uma
prtica, limites de um conceito. Revista Galxia, So Paulo, n. 20, p. 84-94, dez. 2010.
CNEPA, Laura. Atividade paranormal: o estranho familiar. 2010. Disponvel em:
<http://www.cinequanon.art.br/filmes_detalhe.php?id=1450&num=1>.
CARREIRO, Rodrigo. Atividade paranormal. Cine Reprter, 2010. Disponvel em:
<http://www.cinereporter.com.br/criticas/atividade-paranormal/>.
CESAROTTO, Oscar. No olho do Outro: O Homem de Areia segundo Hoffmann,
Freud e Gaiman. So Paulo: Iluminuras, 1996.
FELDMAN, Ilana. O apelo realista: uma expresso esttica da biopoltica. In:
ENCONTRO DA COMPS, 17.,2008, So Paulo. Anais... So Paulo, UNIP, 2008.
Disponvel em: <http://www.compos.org.br/data/biblioteca_359.pdf>.
FELINTO, Erick. A religio das mquinas: Ensaios sobre o imaginrio da Cibercultura.
Porto Alegre: Sulina, 2005.
______. Videotrash: o YouTube e a cultura do spoof na internet. Revista Galxia,
So Paulo, n. 16, p. 33-42, dez. 2008.
FERRARAZ, Rogrio. Para sempre, nos sonhos: Lynch, Hoffmann, Freud e o
estranho. In: FABRIS, Mariarosaria; GARCIA, Wilton; CATANI, Afrnio Mendes
(Org.). Estudos Socine de Cinema: Ano VI. So Paulo: Nojosa, 2005.
FREUD, Sigmund. O Estranho. In: Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud.
Vol. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
GUERRA, Felipe M. Montagem, realismo e antropofagia: Eisenstein e Bazin em
Canibal Holocausto (1980). Rumores Revista Online de Comunicao, Linguagem
e Mdias, So Paulo, edio 7, jan./abr. 2010. Disponvel em: < http://www3.usp.br/
rumores/visu_art2.asp?cod_atual=179>.
FANTASMAGORIAS DAS IMAGENS COTIDIANAS99
KAYSER, Wolfgang. O grotesco. So Paulo: Perspectiva, 1986.
KING, Geoff. The Spectacle of the Real: From Hollywood to Reality TV and Beyond.
Intellect: Bristol, 2005.
NORTH, Daniel. Evidence of Things Not Quite Seen: Cloverfields Obstructed
Spectacle. Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies,
v. 40.1., Spring 2010, p. 75-92. Disponvel em: <http://www.academia.edu/2003064/
Evidence_of_Things_Not_Quite_Seen_Cloverfields_Obstructed_Spectacle._Film_
and_History_40.1_Spring_2010_75-92>.
ODIN, Roger. Le film de famille. Paris: Klinksiek, 2003.
PETLEY, Julian. Canibal Holocaust and the pornography of death. In: KING, Geoff.
The Spectacle of the Real: From Hollywood to Reality TV and Beyond. Intellect: Bristol,
2005, p. 173-186.
PIEDADE, Lcio Reis. O documentrio de explorao e a explorao no documentrio.
2008. Tese (Doutorado em Multimeios) Instituto de Artes. Universidade Estadual de
Campinas, Campinas, 2008.
ROMBES, Nicholas. Six asides on Paranormal Activity 2. Filmmaker Magazine, mai,
11, 2011. Disponvel em: <http://filmmakermagazine.com/23766-six-asides-on-
paranormal-activity-2>.
SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetculo. So Paulo: Nova
Fronteira, 2008.
SODR, Muniz; PAIVA, Raquel. O imprio do grotesco. Rio de Janeiro: MAUAD, 2002.
TRYON, Chuck. Video from the Void: Video Spectatorship, Domestic Film Cultures,
and Contemporary Horror Film. Journal of Film and Video, v. 61, n. 3, Fall 2009,
p. 40-51.
WEINRICHTER, Antonio. Stargazing: Reescritutras de Hollywood en el ambito
experimental. In: BOWIE, Jos Antonio Prez (Org.). Reescrituras filmicas: nuevos
territorios de la adaptacin. Salamanca: Universidad Salamanca, 2010, p. 337-347.
WEST, Amy. Caugth on tape: The legacy of low-tech reality. In: KING, Geoff. The
Spectacle of the Real: From Holywood to Reality TV and Beyond. Intellect: Bristol,
2005, p. 86-92.
ZUZNE, Leonard; JONES, Warren H. Anomalistic Psychology: A Study of Magical
Thinking. Hillsdale, New Jersey Hove and London: Lawrence Erlbaum Associates,
1989.
101
NGELA PRYSTHON
Efeitos de real no cinema do mundo
dois cineastas europeus
Poderia com efeito haver um pensamento minimalista do Neutro; esse
minimalismo se situaria assim: um estilo de conduta que tendesse a
diminuir a superfcie de contato com a arrogncia do mundo (e no com
o mundo, o afeto, o amor, etc.): nisso portanto, haveria um minimalismo:
tico, mas no esttico ou afetivo. Roland Barthes, O neutro
INTRODUO
Desde os anos 1990, aps o apogeu do artificialismo autorreferente e
metalingustico do ps-modernismo cinematogrfico da dcada de 1980,
vem se falando insistentemente, ora sobre uma espcie de reemergncia
do realismo, ora sobre a natureza essencialmente pornogrfica do visual
(JAMESON, 1992), e ora sobre um tipo de retorno esttica baziniana,
estruturada na integridade do tempo e do espao. Podemos efetivamente
pensar nesses rumores do cinema mundial contemporneo como tendn-
cias muito gerais, como um conjunto qui desordenado e impreciso de
estratgias estilsticas marcadas pelo minimalismo, pelo anticlmax, pelo
despojamento, por uma nfase naturalista. Apesar de muitos traos co-
muns, o realismo cinematogrfico do final do sculo XX e incio do XXI,
no contemporneo, no pode ser totalmente confundido com uma sorte
de neoclassicismo flmico, ou mesmo com um renascimento das concep-
es de realismo de Bazin ou das ideias de Kracauer sobre o cinema como
amortizao da realidade fsica. Alguns (o jargo crtico da revista Cahiers
du Cinma, por exemplo, cristaliza o termo) se referem a esse conjunto
102NGELA PRYSTHON
como cinema de fluxo (OLIVEIRA JNIOR, 2010), outros como mini-
malismo expressivo (PRYSTHON, 2012), ou mesmo a partir do genrico
rtulo de world cinema ou cinema mundial.
Como parte de um prembulo intencional e necessariamente impre-
ciso e opaco, poderamos comear enumerando algumas das caractersti-
cas do cinema mundial contemporneo um cinema em franco confron-
to com o cinema narrativo tradicional:
1. h uma evidente preocupao com a memria e com a histria,
talvez como reelaborao nostlgica de discursos identitrios (indi-
viduais ou em alguns casos nacionais ou mesmo ps-coloniais). Po-
demos ver nesse retorno ao passado, tanto os sintomas do que pare-
ce ser um dos traos mais marcantes da cultura atual (a nostalgia),
como tambm pode ser a emergncia de um dilogo mais enftico
da tradio com a modernidade, um dilogo que vai pressupor uma
desconstruo da prpria ideia do nacional, a partir de um cosmopo-
litismo ex-cntrico. Esse cinema apresenta, num direto contraponto
com a cultura yuppie, consumista e frvola do ps-modernismo da
dcada de 1980, uma tentativa de rearticulao com a tradio, e afir-
ma constantemente certas narrativas de nao, mas frequentemente
procurando subverter noes fechadas sobre identidade e muitas ve-
zes recusando veementemente tais discursos identitrios, principal-
mente nos casos onde a conexo com a memria se faz a partir das
subjetividades ou mesmo diz respeito prpria memria do cinema.
2. Tais opes sugerem talvez um segundo ps-modernismo cine-
matogrfico, ligado ao Terceiro Cinema (no seu sentido poltico,
esttico e tambm de condies de produo), mesmo que no ne-
cessariamente oriundo de pases do chamado Terceiro Mundo. Um
ps-modernismo marcado pelos princpios de recuperao, de re-
ciclagem, de retomada da tradio, da histria e de certo autoexo-
tismo, em oposio ao gosto pelo estrangeiro, pelo cosmopolitismo
tradicional, pelo discurso internacionalista do ps-modernismo an-
terior. Nesse sentido, vo sendo redefinidas modernidades perif-
ricas, quase sempre vinculadas noo de ps-colonial (direta ou
indiretamente).
EFEITOS DE REAL NO CINEMA DO MUNDO103
3. O cinema contemporneo se volta para a documentao do pe-
queno, do marginal, do perifrico, mesmo que para isso se utilize
de tcnicas e formas de expresso (s vezes at equipe de produo)
de origem central, metropolitana, hegemnica. A insistncia numa
representao do perifrico ou a referncia ao discurso de identidade
nacional demonstram mais do que uma recuperao do idealismo ou
do engajamento das estticas do terceiro cinema (que pode emergir
como resduo ou vestgio), uma adeso a uma esttica mundial (a do
world cinema, a da world culture), uma tentativa de dar conta de estar
no mundo.
4. H uma clara preocupao com o elemento urbano num gran-
de nmero dos filmes e cineastas. A cidade desenhada pelo novo
Terceiro Cinema, pelo cinema mundial, por esse cinema de fluxo,
pouco tem a ver com os clichs recorrentes. E precisamente atravs
de imagens urbanas pouco usuais e da opo esttica pelo pequeno,
pelo detalhe, pelo perifrico, que os filmes apresentam uma cidade
mais plena de nuanas, mais complexa.
5. Remonta-se, em certa medida, a temticas do Terceiro Cinema
original (desvalidos, subalternos, excludos), porm sem deixar de
privilegiar os aspectos tcnicos (a partir do desenvolvimento e po-
pularizao das tecnologias digitais, o cinema mundial alternativo
tem imagem e som comparveis s grandes produes do cinema
mainstream).
6. O cinema mundial contemporneo atualiza em certa medida o
discurso do terceiro-mundismo (de algum modo dando conta das
noes de subalternidade, do perifrico), retirando dele o tom politi-
camente engajado, a esttica da fome e a tcnica propositadamente
limitada, pois, de algum modo, recusa os discursos polticos mais ex-
plcitos, mais diretos ou mais panfletrios, em prol de uma busca do
que est oculto, do que est calado, do que foi apagado, constituindo
assim outro tipo de poltica, a poltica do cotidiano. H um marcado
distanciamento de um discurso alegrico.
104NGELA PRYSTHON
7. Sem lies morais a serem aprendidas, optam por um realismo
desinteressado, desafetado ou naturalisticamente afetado.
Mas algo que nos interessa muito especialmente nesse conjunto (por
mais desorganizado, frouxo, indefinido, gigantesco, indecifrvel e amorfo
que ele parea ser) o modo atravs do qual a noo de efeito de real (ori-
ginalmente advinda da teoria da literatura, sobretudo de Roland Barthes)
pode ser acionada (e junto com ela todo o debate relacionado ao real e ao
ficcional na cultura contempornea inclusive porque evidente que tais
tendncias no esto circunscritas ao domnio da narrativa, seja literatura
ou cinema, mas cada vez mais infiltradas nos domnios das artes visuais,
da msica, dos games etc.).
Normalmente, no cinema narrativo convencional, longos planos de
lugares, de espaos, cenas sem dilogo podem corresponder aos enchi-
mentos literrios, s descries minuciosas realistas, aos pormenores su-
prfluos em relao narrativa, estrutura, no sentido em que Barthes os
descreve. Teramos nessa incluso, sem nenhum sentido aparente dentro
da trama, a tentativa de obter a representao pura e simples do real, nos
termos barthesianos, o efeito de real: [...] por outras palavras, a prpria
carncia do significado, em proveito exclusivo do referente, torna-se o pr-
prio significante do realismo: produz-se um efeito de real [...]. (BARTHES,
1984, p. 41) Nesse outro cinema, o de fluxo, o minimalista expressivo,
contudo, encontramos uma extenso, ou melhor, uma intensificao des-
te efeito, a ponto dele ocupar o centro do filme, ele quase que se torna o
prprio filme.
Paradoxalmente, poderamos assim categorizar este cinema como
o duplo em negativo do cinema de ao, por vezes o cinema do tdio,
da imagem esttica, do estupor, por vezes um cinema de mltiplas aes
fragmentadas e/ou profundamente banais, mnimas. Um cinema do ges-
to, ento: pequenos gestos, que poderiam anunciar algum simbolismo,
prenunciar algum sentido oculto, mas que raramente recebem explicao,
que quase nunca revelam significado. Estamos nos referindo, evidente-
mente, a certas caractersticas muito gerais que podem ser encontradas
em graus e nuanas diversas em vrios cineastas contemporneos. Trata-
-se, portanto, de apontar alguns contornos, alguns indcios que aos poucos
EFEITOS DE REAL NO CINEMA DO MUNDO105
vo formando ao menos uma viso desse cinema, ainda que seja um tanto
turva, um tanto tosca na sua simplificao, na sua pretenso de generali-
dade, no seu desejo de abrangncia e totalidade.
Para dar um pouco mais de materialidade, para infundir um pou-
co de luz em algumas reas do retrato borrado desse cinema, decidimos
afunilar a discusso a partir de comentrios sobre filmes e estratgias es-
tilsticas de dois cineastas europeus contemporneos, Jos Lus Guern,
cineasta espanhol, e a francesa Claire Denis. Ambos, que iniciaram suas
carreiras nos anos de 1980, nos parecem relevantes justamente por re-
sistirem s concepes tradicionais da figura do cineasta europeu, por
fazerem parte de uma conscincia de degradao e transformao da cul-
tura europeia, por representarem pontos de fuga e, ao mesmo tempo, con-
tinuidades muito firmes com relao ao que historicamente constituiu o
chamado cinema de arte; por afirmarem tacitamente a emergncia dessa
nova situao do cinema, esse novo regime (nos sentidos esttico, poltico,
econmico) do audiovisual no mundo. Guern, marcadamente antinacio-
nalista (tanto no sentido da nao espanhola, como no das lutas emanci-
patrias catals), representa uma afirmao cosmopolita do cinema como
linguagem, como esttica, como histria e como militncia da imagem e
da cultura visual e, sobretudo, como modo de conceber o mundo. Ao ob-
servar os filmes de Guern, nosso interesse recaiu principalmente nos mo-
dos como a memria nos seus filmes (individual, da cidade ou do mundo)
imprime um tempo para o cinema, em como o olhar constri a realidade.
Denis, de outro lado, traz tona uma verso mais ps-colonial do contem-
porneo. Suas lentes revelam um mundo desordenado, desconjuntado,
estranho. Um mundo que ela, em lugar de explicar, tenta explorar, tenta
mirar cuidadosamente, tenta escutar atentamente, trabalhando refern-
cias, influncias, adaptando, traduzindo livre e complexamente, mostran-
do suas fissuras, suas surpresas e suas dissonncias.
PERSISTNCIA DA MEMRIA, OLHARES SOBRE O REAL
De que matria feita a memria? Uma parte importante da filmografia
de Jos Luis Guern parece fazer e tentar responder a essa pergunta. Uma
das possveis respostas que os filmes oferecem que a memria feita
106NGELA PRYSTHON
de imagens e da incessante combinao entre elas. Temos corpos, obje-
tos, lugares e sombras se revelando para o olhar melanclico e errante do
cineasta, construindo uma ideia de memria que pode estar vinculada ao
tempo de um personagem, de uma runa, de um objeto, de um bairro,
de toda uma cidade, mas, muito mais fundamentalmente, estar ligada
memria da arte, da imagem, do cinema.
Nesse sentido, Tren de sombras (1997) talvez seja o mais emblemti-
co e experimental dos filmes do cineasta catalo. Uma espcie de iluso
fantasmagrica, Tren de sombras percorre a memria do cinema atravs da
inveno e da explorao das imagens do advogado fictcio Fleury, fotgra-
fo e cineasta amador, dos primrdios do cinema. Diferentemente do que
se poderia supor, em se tratando de um tema como este, para Guern, o
passado no um pas estrangeiro, um exotismo sensacionalista, no se
est diante de uma nostalgia incua e ps-moderna. Pois, se o filme se nos
apresenta quase como um ensaio sobre o tempo, um debruar-se sobre o
passado, surpreende-nos a nfase na materialidade das suas fantasmago-
rias. Ali, importa muito menos a veracidade desta ou daquela cena, no
faz diferena se tratar de uma memria inventada: para Guern o crucial
a imagem em si, afinal dela que brota a memria, este o cerne do efeito
do real no seu cinema.
Alguns viram, na obsessiva investigao dos arquivos pelo cineas-
ta/narrador, na incessante pesquisa sobre os filmes de famlia caseiros,
nos fragmentos da vida e das imagens de Fleury, uma proximidade com
Thomas, de Blow Up. Sim, essa proximidade est l, no torce e retorce do
falso found footage, no desgaste, no esgaramento que vai ser feito nessas
imagens. Provavelmente, porm, h mais semelhanas com o estranho e
dedicado colecionador de Lhypothse du tableau vol, de Raoul Ruiz. Pois,
menos blas que o fotgrafo de Antonioni e mais detetive obstinado como
o personagem de Ruiz, o cineasta/narrador vai buscando a origem mes-
ma das imagens, ele vai construindo e se encantando com sua delicada
teia de combinaes, vai desfazendo e refazendo narrativas. E obviamente
no lhe interessa apenas a origem dos fragmentos de Fleury, ou de todos
os fantasmas evocados naquelas cenas familiares em Thuit, nas histrias
pessoais daqueles rolos de vida ordinria, mas a gnese do cinema, a pr-
pria histria do cinema silencioso.
EFEITOS DE REAL NO CINEMA DO MUNDO107
Histria do cinema e da arte que tambm est presente na qui mais
conhecida pelcula de Guern, En la ciudad de Sylvia (2007), com longas
tomadas de um ponto fixo, repetindo-se e reformulando os planos dos
Lumire, evocando travelogues; com a busca da mulher ideal (Madeleine
hitchcockeana, Beatriz dantesca), com ecos de Bresson e pinceladas de
Manet... Assim como seus outros filmes, este nos demanda uma dedica-
o contemplativa para que se possa deixar levar pela leve hipocondria do
corao, pela nostalgia melanclica e pelas vrias derivas experimentadas
pelo personagem de Xavier Lafite. Deriva mnemnica, simultaneamente
auxiliada e enevoada por objetos inconsistentes (um mapa improvisado
rabiscado em um sous-verre, uma caixa de fsforos do bar Les aviateurs),
rostos na multido, becos e ruelas indistintos. Ele lembra, esquece, volta a
lembrar. Deriva dos ouvidos, bom ressaltar tambm, j que o filme am-
plifica, detalha, desenha a cidade de Estrasburgo s vezes de modo mais
sonoro que visual: cada rudo, cada sussurro, cada rajada de vento, cada
passo, cada cano compe cuidadosamente uma pea da tessitura urbana.
Porm En la ciudad de Sylvia trata, sobretudo, da deriva do olhar um
olhar eminentemente masculino, diga-se de passagem (o olhar do perso-
nagem de Lafite, o olhar do espectador como que seguindo o olhar desse
protagonista hesitante, deixando-se perder pelas ruas, graffiti e pescoos
femininos, os olhares que se encontram e se desviam por trilhos, ngulos,
janelas e diagonais): o olhar especula para todos lados, como dizia Mrio
de Andrade. Como percebeu agudamente Deleuze (1990, p. 11) sobre o
neorrealismo, o personagem torna-se uma espcie de espectador.
Por mais que se mexa, corra, agite, a situao em que est extravasa,
de todos os lados, suas capacidades motoras, e lhe faz ver e ouvir o
que no mais passvel, em princpio, de uma resposta ou ao. Ele
registra, mais que reage. Est entregue a uma viso, perseguido por
ela ou perseguindo-a, mais que engajado em uma ao.
(Por isso, resulta ainda mais elucidativo ver En la ciudad de Sylvia
acompanhado de Algunas fotos em la ciudad de Sylvia, coleo de stills mu-
dos que podemos considerar como uma espcie de esboo para o filme, na
qual fica bastante evidente essa entrega imagem do protagonista.)
O filme nos impele, assim, a olhar para o mundo (e para as mulheres,
pois nesse universo o corpo masculino quase irrelevante) languidamente,
108NGELA PRYSTHON
como que empreendendo uma cruzada contra a frivolidade nervosa do
presente, como que se opondo enfaticamente a grande parte do cinema
contemporneo, esta parte que no nos deixa tempo para a contemplao,
com sua montagem frentica, seu frenesi narrativo, sua urgncia discursi-
va. Apenas essa languidez poderia dar conta do seu incurvel e contagioso
romantismo, somente a delicadeza contemplativa desse olhar capaz de
revelar os preciosos, raros, frgeis e breves instantes de beleza do banal,
do ordinrio.
Sylvia e outros filmes de Guern reafirmam a vocao viajante do ci-
nema e a ideia de trnsito sugerida pelo prprio ato de filmar, manifestam
o desejo benjaminiano de flanrie. Ele faz botnica no asfalto registran-
do, como os viajantes naturalistas do sculo XVII guardavam cuidadosa-
mente flores e folhas nos seus herbrios, os rostos e gestos das moas dos
cafs e das paradas de bonde no seu caderno de desenhos. Os flneurs de
Guern perambulam pela cidade com os olhos atentos ao detalhe, espe-
cialmente aos detalhes dos corpos humanos. A cidade (como uma espcie
de entidade universal, j que Guern parece afirmar desde sempre uma
abolio de qualquer localismo), ento, se abre como um ba, uma potn-
cia itinerante de memorabilia, de souvenirs, de runas e vestgios para os
colecionadores de aparies, de arrebatamentos, de amores ltima vista.
No somente na fico embora a distino no nos parea de grande
relevncia na sua obra que Guern apresenta suas colees de aparies e
arrebatamentos que se encontram no cinema, nas memrias e nas cidades.
Os documentrios, naturalmente, estabelecem de modo mais sistemtico
os elos com a materialidade urbana. En construccin (2001) [que junto com
Los motivos de Berta (1983) foram os nicos de seus longas realizados na Es-
panha], mostra exatamente as transformaes pelas quais passou a regio
do Raval, bairro no centro de Barcelona, conhecido popularmente como
Barri Xino. Seu subttulo, Cosas vistas y odas durante la construccin de un
nuevo inmueble en el Chino, un barrio popular de Barcelona que nace y muere
con el siglo, j fornece indicaes de que possivelmente seja seu filme mais
sociolgico, mas o seu modo de composio tem pouco de programtico
ou convencionalmente poltico: embora seja tambm um comentrio crti-
co sobre a gentrificao de Barcelona, sua principal preocupao continua
sendo o cinema, dizendo melhor, a materialidade imagtica que o cinema
EFEITOS DE REAL NO CINEMA DO MUNDO109
confere ao mundo, assim que seu modo de empreender essa crtica vai ser
permeado por suas referncias cinematogrficas de sempre: Lumire, Hi-
tchcock, Hawks (Land of the Pharaohs aparecendo como uma citao direta
na tela da TV de um dos moradores dos velhos sobrados do bairro), entre
vrios outros, so novamente convocados para ajudar a compor os quadros
que do forma histria de resistncia que conta En construccin, como so
tambm os trechos de filmes antigos que abrem a pelcula, particularmen-
te a bela sequncia do marinheiro cambaleante pelas ruas do Raval.
Inclusive pela proximidade cronolgica, a comparao entre En construc-
cin e a trilogia de Fontainhas, especialmente No quarto da Vanda (2000), do
portugus Pedro Costa, parece incontornvel, j que os filmes lidam com
experincias urbanas liminares, tratam da vida nua e da existncia prec-
ria de pessoas claramente margem. Porm, diferentemente do que afir-
ma Jacques Rancire (2009, p. 80) sobre Costa, em Guern, sim, h um
formalismo estetizante no que este no seja tambm poltico, nos ter-
mos definidos por Rancire , mas certamente a meticulosa e harmnica
concepo da beleza nos seus enquadramentos e sua adeso a certos prin-
cpios do cinema clssico afastam-se do estranhamento do real de Costa.
H uma natureza fotogrfica nos seus filmes, uma tendncia a pen-
s-los como conjuntos constitudos de instantneos, quase como uma co-
leo de pinturas ou fotografias (como se cada filme fosse precedido por
Algunas fotos antes de ser filmado, em lugar de um storyboard convencio-
nal). O plano, o enquadre, continua sendo a unidade bsica para mostrar
as runas (nos sentidos literal e figurado), a memria da cidade. Ainda que
as pessoas sejam o elemento crucial para se entender o que vai aconte-
cendo no bairro (e h personagens particularmente tocantes como o peo
marroquino que gosta de recitar poesia ou o velho ex-marinheiro, cole-
cionador de quinquilharias aleatrias), em En construccin, as imagens da
cidade em si tm um protagonismo eloquente: as escavaes arqueolgi-
cas do velho cemitrio encontrado por acaso, os escombros dos sobrados
derrubados, as placas dos velhos hotis, os bares do porto, em contraste
com os novos prdios, os outdoors publicitrios, anunciando as pesetas
necessrias para adentrar a Barcelona gentrificada.
Seu penltimo longa-metragem at o momento, Guest (2010), tem
vrios pontos de convergncia com En construccin. Em Guest, a unidade
110NGELA PRYSTHON
urbana tambm a base sobre a qual se d a deriva do olhar do cineasta.
No caso, as vrias cidades que Guern percorreu para participar dos festi-
vais dos quais foi convidado (da o ttulo): Veneza, Nova York, Bogot, Ha-
vana, Seul, So Paulo, Cali, Paris, Lisboa, Macau, Jerusalm... Os festivais
so a premissa e o ponto de partida dessa lista heterognea de lugares,
mas o foco so as conversas que Guern entabula com os seus moradores,
quase sempre totalmente alheios at mesmo ideia de cinema: habitan-
tes de um cortio em Havana, pregadores evanglicos no centro de So
Paulo, poetas no centro de Bogot, a imigrante filipina em Hong Kong.
Que, assim como En construccin, traz tona, inevitavelmente, uma s-
rie de temas polticos urgentes como imigrao, religio, pobreza etc., e
de certo modo atrai as interpretaes sociologizantes, sempre de pronto
repudiadas por Guern em entrevistas. Guest, embora atento aos espaos
e aos detalhes (visuais e sonoros) urbanos e enfatizando a noo de itine-
rncia implicada nesse movimento de viagens e deslocamentos, um fil-
me sobre pessoas nas cidades, retratos dessas pessoas, e retratos sempre
mediados pela memria do cinema. No por acaso, uma das citaes ci-
nematogrficas (a mais direta delas) do filme de Portrait of Jennie (1948),
de William Dieterle. Porque, como afirmou o prprio Guern, carregamos
um acmulo de imagens e imaginaes das cidades do cinema e j no se
faz possvel obliterar essa memria.
Ao contrrio do que se poderia supor, entretanto, essa conscincia
das imagens, esse peso da memria flmica, traz aos autores mais inte-
ressantes do cinema contemporneo, um alargamento inusual da zona
de atrito entre arte e vida, entre experincia e representao. Desenhando
mapas labirnticos, o cinema de Guern reconhece assim as memrias
fotogrficas e flmicas como os fragmentos de um processo de arquivo
incorporados porosamente no nosso trajeto lacunar pelo mundo, como
parte fundante das nossas cartografias afetivas.
MSICA COMO EFEITO DE REAL
Uma mulher limpa o que parece ser o balco de um bar. Dois marinheiros
caminham na rua em frente. Um terceiro marinheiro acaba de selecionar
uma cano no jukebox. I may not always love you ... A sequncia, que
EFEITOS DE REAL NO CINEMA DO MUNDO111
aparece mais ou menos na metade de Nnette et Boni (1996), mostra os
personagens da mulher do padeiro (Valeria Bruni-Tedeschi) e seu mari-
do (Vincent Gallo) num flashback ou numa fantasia (o filme no deixa
claro) de Boni (Grgoire Colin), um dos protagonistas. A cena no tem
propriamente uma funo narrativa (at porque esta quase sempre elu-
siva, no s neste filme, mas em todos os outros da diretora), mas se trata
de um momento emblemtico na constituio do estilo de Claire Denis,
sua obstinada e sedutora tapearia de sons e imagens. Em Nnette et Boni,
a cano dos Beach Boys (God only knows), as aluses a Pagnol e Demy
(Lola, sobretudo), as maneiras em como tais detalhes so postos em cena
e as sobreposies de tais elementos demonstram exemplarmente esse
entrelaamento entre som e imagem.
Nnette et Boni tambm marca o incio da colaborao entre Denis
e a banda inglesa Tindersticks (que iria se repetir em Trouble Every Day
(2001), Vendredi Soir (2002), Lintrus (2004), 35 Rhums (2008) e White Ma-
terial (2010), parceria que sempre realou a criao de paisagens sonoras
muito fortes que, mais que complementar as imagens, servem como base
de um trao quase paradoxal da obra de Denis: o uso de artifcios sonoros,
especialmente msica, no para metamorfosear ou fugir do real, mas, ao
contrrio, para acentu-lo, para torn-lo mais pleno de afeto. Pois, se por
um lado seus filmes esto quase sempre norteados por um naturalismo
enftico, que prope o cinema como duplo do real, por um sensualismo
da imagem, pelo apreo pelas superfcies filmadas; por outro, deixam-se
levar pela interioridade suscitada pela trilha sonora e pelo uso intenso e de-
liberado de msica diegtica e no diegtica. A msica (e especificamente
o formato cano, em vrios momentos chave de sua filmografia), que no
mero adendo ou reforo, ganha em alguns aspectos uma funo similar
quela que ela ocupa em musicais: a de afirmao da subjetividade e de
uma dimenso utpica. (DYER, 2002, p. 20) Tambm como nos musicais,
a cano pode funcionar como linha de fuga, como um hbrido entre o real
e a imaginao, como transio entre as fantasias e o encontro real de Boni
com a mulher do padeiro. A cano dos Tindersticks pontua um dos mo-
mentos chave onde percebemos claramente como Boni se d conta da me-
lancolia do seu desejo, instante em que irrompe a sensao de irrealizao,
da incompletude, da vulnerabilidade frente ao cotidiano, diante do real.
112NGELA PRYSTHON
As relaes entre msica, imagens e afetos vo ser igualmente cen-
trais em Vendredi Soir, filme que mostra os trajetos de uma mulher numa
noite em Paris e seu encontro com um desconhecido: desde as canes in-
cidentais no rdio do carro de Laure (Valrie Lemercier) ou com os Tinders-
ticks novamente fornecendo climas e ambincias sonoras que sublinham
o trabalho de cmera de Agnes Godard, outra colaboradora importante de
Denis, que pontuam as sensaes urbanas do trnsito engarrafado de Pa-
ris, em greve de transportes pblicos, e ao mesmo tempo imprimindo uma
furtiva sensao de leveza, de movimento, uma delicada instabilidade de
desejos trazida tona pela combinao entre o usual realismo de super-
fcie de Denis e, neste filme em particular, as incurses por quase imper-
ceptveis iluses de tica (pequenas animaes, objetos que se deslocam
repentinamente). A noo de que h algo de estranhamente fantstico no
corriqueiro, no comum, de que algo mgico paira e flutua por sobre o mais
corriqueiro dos acontecimentos deliberadamente tecida, como indicou
Dickon Hinchliffe (2011, p. 19), dos Tindersticks, ao comentar a faixa Le
Rallye:
Uma das primeiras coisas que Claire disse foi que ela queria que
a msica soasse como estivesse flutuando no ar, se infiltrando nas
ruas noite pelos carros das pessoas, pelas janelas, cafs e restau-
rantes para criar esse mundo estranho e levemente mgico. Signi-
ficava de certo modo que uma noite como essa acontece somente
uma vez em cada gerao. Respondi a isso usando muitas cordas,
celesta e piano.
1
A meticulosa combinao entre a trilha original e as canes inci-
dentais faz da msica um lugar essencial da mise en scne de Denis, quase
como se os filmes fossem elaborados a partir de coreografias que potencia-
lizam e delineiam os corpos dos atores e os espaos da ao. Um momen-
to exemplar desse conjunto coreogrfico est em 35 Rhums. O filme, uma
espcie de refilmagem/homenagem a Pai e Filha (Yasujiro Ozu, 1949),
1 One of the rst things Claire said to me was that she wanted the music to feel like it was oating in
the air, drifting on to the streets at night through peoples cars and windows and from cafes and
restaurants to create this strange and slightly magical, eerie world. It was to say that a night like
this only happens once a generation. I responded to that by using a lot of high strings and celeste
and piano.
EFEITOS DE REAL NO CINEMA DO MUNDO113
concentra-se no cotidiano de alguns moradores de um banlieue parisiense
em sua maioria de origem africana atravs um pai, Lionel (Alex Des-
cas), sua filha, Josphine (Mati Diop), e os seus respectivos pretendentes, a
taxista Gabrielle (Nicole Dogue) e o taciturno No (Grgoire Colin). A cena
em questo ocorre a um pouco mais da metade do filme num bar onde
os quatro se refugiam aps o txi de Gabrielle enguiar a caminho de um
espetculo. Alguns poucos clientes do bar comeam a danar ao som da
clssica cano do cubano Ernesto Lecuona, Siboney, entre eles Lionel e Ga-
brielle. Quase ao final da cano, Lionel convida a filha. Comea Nightshift,
dos Commodores, No se aproxima e toma Jo dos braos do pai. Os movi-
mentos, passos, olhares, respiros e gestos dessa inusitada famlia so impe-
cavelmente apresentados sem que uma palavra seja dita: o desejo de No, o
gentil recato de Josphine, o desconforto sutil de Lionel, a frustrao contida
de Gabrielle depois que Lionel comea a danar com a bela dona do bar.
Desta vez com a trilha sonora original composta por Eran Tzur, Beau
Travail (2000) qui o filme no qual Denis exercita mais efusivamente o
jogo das referncias musicais e mais elaboradamente o padro coreogrfi-
co da disposio dos corpos. Trata-se de uma adaptao livre de Billy Budd,
novela de Herman Melville. Para faz-la, Denis percorre no somente o
original (conservando o plot bsico de inveja, mesquinhez e traio), mas
tambm a verso operstica de Benjamin Britten [cujas rias aparecem
em poucas sequncias, mas estas so instantes bem cruciais como a in-
troduo do deserto africano no incio do filme ou o duelo explcito entre
Gilles Sentain (Colin) e Galoup (Denis Lavant)] encena momentos impor-
tantes a partir de uma boa lista de canes que comea pelo sucesso pop
turco imarik do cantor Tarkan que introduz boa parte dos soldados na
trama, passando por Safeway Cart de Neil Young e Crazy Horse soldados
rumo ao deserto, para culminar com o hino disco eurotrash da banda ele-
trnica Corona The Rhythm of the Night Galoup na sua dana da morte.
Mas evidente, inclusive pelos exemplos comentados acima, que
no s de canes, no apenas de msica formada a tessitura de refe-
rncias de Denis. Seus filmes so sempre permeados por muitas outras
obras de arte, outros filmes, livros. Ao comentar sua obra a partir de Beau
Travail, Jonathan Rosenbaum fala dessas citaes como talisms, feitios
e afrodisacos estticos. Como a mulher do padeiro e os marinheiros em
114NGELA PRYSTHON
Nnette et Boni (e as piscadelas para Marcel Pagnol e Jacques Demy); Bas-
quiat, Frantz Fanon, os motivos japoneses e ozunianos panelas de arroz,
ideogramas e trens de 35 Rhums; a obra filosfica de Jean Luc-Nancy em
LIntrus; a imprensa marrom em Jai pas sommeil (1994) e at mesmo a
presena do ator Michel Subor, no apenas como ator em trs dos seus
filmes, mas tambm no retorno de Bruno Forestier, o seu personagem de
Le Petit Soldat (1960), de Jean-Luc Godard, que reaparece em Beau Travail,
entre outras citaes e influncias, a profuso desses pequenos detalhes,
desses amuletos (apenas) aparentemente suprfluos, funciona tambm
como uma espcie de sintoma esttico de uma poca que se destaca tanto
por pela variedade geogrfica e histrica de referncias, como pela
conscincia contempornea forosamente ps-colonial delas.
Ou seja, em Denis, mais do que uma nfase na adaptao (embora,
de fato, vrios dos seus filmes mais conhecidos sejam transposies li-
terrias ou cinematogrficas, alguns adaptaes diretas) ou do que o af
ps-moderno das citaes (j que h nos filmes essa presena constante
da msica rock, pop ou erudita , j que bvia a evocao cinfila de
autores, atores e sequncias clssicas, j que seu estilo povoado de inter-
textos sonoros, literrios e visuais), importa mesmo a interseo dos seus
encantamentos, que desnuda um mundo bem mais complexo e nuanado
do que aquele que o cinema narrativo convencional mostra.
GUISA DE SNTESE
Nos filmes narrativos mais tradicionais, os efeitos do real como que se
constituem enquanto pequenos luxos, props, estratgias de imerso nar-
rativa para reproduzir uma iluso da realidade, nos filmes de Guern e de
Denis (que so cineastas muito diferentes entre si, mas que fazem parte
de uma mesma cartografia do cinema mundial contemporneo), tais efei-
tos ocupam uma dimenso privilegiada, ou mesmo fazem parte do real, e
s vezes, de modo muito perturbador, acabam por min-lo, por destitu-lo,
reimagin-lo e reconstru-lo.
A prpria discusso sobre o cotidiano, sobre o real e suas apropria-
es no cinema, tanto o de fico, como o documentrio, por vezes d a
EFEITOS DE REAL NO CINEMA DO MUNDO115
impresso de uma superexposio, de um esgaramento pelo excesso de
uso nas ltimas dcadas. Por outro lado e os filmes mais recentes de am-
bos os cineastas observados neste paper o demonstram exemplarmente a
sensibilidade do banal e as opes estticas realistas ainda se constituem
como uma sorte de resistncia, de embate. Ento, parece-nos profunda-
mente necessrio avaliar quais os impactos dessa esttica de modo mais
contundente. E se h um sem-nmero de cineastas e filmes relevantes
(alguns at bem mais cruciais no sentido de um lugar perifrico, de um
lugar marginal no mundo ou de um entrecruzamento de mundos) para
entender como o cinema contemporneo foi ressignificando o conceito de
efeito de real, foi reproblematizando e transformando o prprio realismo,
pensamos em Guern e Denis como parte intrigante, desafiadora e eluci-
dativa, sem dvida um pequeno detalhe, um plano bem fechado qui, na
composio desse esboo de retrato do cinema mundial contemporneo.
REFERNCIAS
ANDRADE, Mrio de. Poesias completas. So Paulo: Itatiaia, 1980.
BARTHES, Roland. O neutro. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
______. O rumor da lngua. Lisboa: Edies 70, 1984.
HINCHLIFFE, Dickon. Nine Shots of Tindersticks. Entrevistado por James Bell. Sight
and Sound, Londres, v. 21, n. 5, p. 18-19, May 2011.
BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire, um lrico no auge do capitalismo. So Paulo:
Brasiliense, 1989.
DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. So Paulo: Brasiliense, 1990.
HUGUES, Darren. Rediscovering the Quotidian: Jos Luis Guerns Guest. 2010.
Disponvel em: <http://mubi.com/notebook/posts/rediscovering-the-quotidian-jose-
luis-guerins-guest>. Acesso em: 21 jun. 2012.
JAMESON, Fredric. Signatures of the visible. Londres/New York: Routledge, 1992.
OLIVEIRA JNIOR, Luiz Carlos Gonalves de. O cinema de f luxo e a mise en scne.
Dissertao (Mestrado em Meios e Processos Audiovisuais) Escola de Comunicaes
e Artes, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2010.
PRYSTHON, Angela. Banalidades, minimalismo e os paradoxos do real em Martn
Rejtman. In: BRANDO, Alessandra; JULIANO, Dilma; LIRA, Ramayana (Org.).
Polticas dos cinemas latino-americanos. Palhoa: Unisul, 2012. p. 249-263.
RANCIRE, Jacques. The Emancipated Spectator. London: Verso, 2009.
116NGELA PRYSTHON
ROSENBAUM, Jonathan. Unsatisfied Men: Beau Travail. ______. Goodbye Cinema,
Hello Cinephilia. Chicago/London: University of Chicago Press, 2010. p. 213-218.
Links para alguns trechos dos lmes e cenas mencionados:
BEAU TRAVAIL. Direo de Claire Denis. 2000. Disponvel em: <http://
www.youtube.com/watch?v=Q7Yag9t_HkY> <http://www.youtube.com/
watch?v=9u499GpQVZU> <http://www.youtube.com/watch?v=NTH8-BSfCYU>
<http://www.youtube.com/watch?v=u65lNJP5yik>.
EN CONSTRUCCIN. Direo de Jos Luis Guern. 2001. Disponvel em: <http://
www.youtube.com/watch?v=UY6pbNO4Woc> <http://www.youtube.com/
watch?v=o7Ht5iuJZ7w>.
EN LA CIUDAD DE SILVIA. Direo de Jos Luis Guern. 2007. Disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=WsT7dPfdLWw>.
GUEST. Direo de de Jos Luis Guern. 2010. Disponvel em: <http://www.youtube.
com/watch?v=o7Ht5iuJZ7w>.
NENETTE ET BONI. Direo de Claire Denis. 1998. Disponvel em: <http://
www.youtube.com/watch?v=i2-WRH7wL3Q> <http://www.youtube.com/
watch?v=zF0orkWTzNg>.
35 RHUMS. Direo de Claire Denis. 2008. Disponvel em: <http://www.youtube.
com/watch?v=qSA9p6TWmBw> <http://www.youtube.com/watch?v=Z7j9iSbz0qc&f
eature=fvwrel>.
TREN DE SOMBRAS. Direo de Jos Luis Guern. 1997. Disponvel em: <http://
www.youtube.com/watch?v=jTM6WY45v9k>.
NOVOS ESPAOS DE FRUIO E CONSUMO
119
PAULA SIBILIA
Os corpos visveis na contemporaneidade
da puricao miditica explicitao artstica
INTRODUO?
Numa cultura to comprometida com o valor das imagens, no surpreen-
de que o visvel tenha se tornado um problema; em consequncia, tampou-
co pode resultar estranho que nesta poca se multipliquem os questiona-
mentos em torno dos alicerces que sustentam nossas visualidades. Nas
ltimas dcadas, com a expanso dos meios de comunicao audiovisuais
e a consolidao dos modos de vida que Guy Debord vislumbrara, em
1967, como a instaurao de certa sociedade do espetculo, aprendemos
a viver num permanente deslizamento entre-imagens.
1
E, ainda, em meio
a essa proliferao imagtica, verifica-se hoje um crescente devir-imagem
em termos de subjetividade e corporeidade; isto , uma incitao produ-
o do eu na esfera do visvel.
luz dessas novidades, que sugerem certa hipertrofia do visvel em
nossa cultura, cabe lembrar a periodizao aludida por Gilles Deleuze,
em 1986, segundo a qual a sociedade moderna teria atravessado trs re-
gimes de visibilidade, que seriam identificveis na histria do cinema.
Em primeiro lugar, pretendia-se desvendar aquilo que ocorria por trs
1 Cabe esclarecer que essa expresso foi cunhada originalmente pelo pesquisador francs Raymond
Bellour (1997), em seu livro homnimo, publicado em 1990. O uso do termo que se faz aqui,
porm, relativamente livre, com relao s suas teorias.
120PAULA SIBILIA
da imagem ou atravs dela; depois, a ateno concentrou-se naquilo que
ocorria na imagem ou dentro dela; enquanto mais recentemente tenderia
a privilegiar-se o que acontece entre elas, j que cada imagem desliza
agora sobre outras imagens. (DELEUZE, 1986, p. 92) Nessa vertigem,
que se intensificou enormemente nos ltimos anos do sculo XX e nos
primeiros do XXI, ainda se agregam aqueles processos de subjetivao
que estimulam a prpria construo de si como uma imagem ou, mais
precisamente, como vrios perfis em perptua atualizao.
Levando em conta esse contexto, este artigo faz parte de uma pes-
quisa maior, que ainda se encontra em seus primrdios, embora j esteja
dando seus primeiros frutos: seu objetivo consiste em refletir acerca dos
modos de produo dos corpos e das subjetividades, nesta era em que
ocorre tamanha exacerbao e transbordamento do universo imagtico.
Trata-se de uma organizao extremamente intensa e verborrgica do
visvel, que promove uma constante articulao entre as imagens mais
diversas, com permanentes superposies e transfiguraes, em cujo cer-
ne se destacam as silhuetas corporais. Essa profuso incita espetacula-
rizao e performance, como modos tipicamente contemporneos, no
apenas de se fazerem criaes no campo das artes ou das mdias, mas
tambm e, talvez, sobretudo de se autoproduzir, em termos corporais
e subjetivos, gerando-se assim certos modos de ser e estar no mundo que
levam a marca do presente. Ao realar essas caractersticas das formas em
que hoje se organiza o visvel, este ensaio focaliza certos confrontos e di-
logos entre as tematizaes corporais artsticas e miditicas, na tentativa
de ampliar as reflexes sobre o que significa ser um corpo humano e, logo,
ser algum, na contemporaneidade.
O CORPO HIPERVISVEL E A EXACERBAO DO EXPONVEL
A figura humana talvez tenha sido desde sempre, o objeto de arte por ex-
celncia, conforme sugere o socilogo francs Henry-Pierre Jeudy (2002,
p. 13), em seu livro precisamente intitulado O corpo como objeto de arte.
Contudo, e sem desdenhar tais permanncias, inegvel que este consti-
tui um tpico da maior importncia nas artes contemporneas: desde os
anos de 1960, alis, o corpo passou a ser explorado e colocado em cena
OS CORPOS VISVEIS NA CONTEMPORANEIDADE121
com uma insistncia crescente, seja em happenings, performances e na
prpria body-art, ou mesmo no uso de material orgnico em produes
plsticas ou instalaes. Assim, tanto a reflexo crtica como a atividade
artstica da segunda metade do sculo XX e do incio do XXI, resgataram
essa noo de um corpo exposto e aberto, esmiuado em sua concretude e
autoafirmado em toda sua espessura carnal. Um corpo humano por ve-
zes, talvez, demasiadamente animal que se mostra de maneira explcita
e literal, no apenas nas diversas modalidades tradicionais da representa-
o, mas cada vez mais como uma apresentao ativamente performtica,
entrelaando (e problematizando) seus papis de objeto e sujeito artstico.
Um olhar genealgico observaria, em princpio, que diversas moda-
lidades dessa representao atravessam a histria das manifestaes ar-
tsticas ocidentais, cujo emblema seria a idealizao do nu plasmado em
infinidade de telas e esculturas inclusive, em tempos em que rgidos
preceitos morais condenavam a exposio dos corpos de carne e osso, que
por sua vez admiravam com reverncia e convenientemente vestidos
tais obras expostas de modo monumental. Mas essa aparente incon-
gruncia pode ser explicada: de acordo com a clebre teorizao do his-
toriador da arte Kenneth Clark (2006), tal nudez clssica era nude e no
naked, uma sutil embora importantssima diferena que a lngua inglesa
permite nomear. A nudez artstica (nude), tradicionalmente associada
beleza como um casto vu esttico capaz de recobrir qualquer infmia ,
estaria isenta daquele incmodo emanado pela mais crua e simples nudez
corporal (naked), decorrente do ato de escancarar um corpo vergonhosa-
mente desvestido. Nessa mesma direo, se encaminha a interpretao
de Giorgio Agamben. De acordo com o ensasta italiano, quando Ado
e Eva cometeram o pecado original, as partes do corpo que podiam ser
expostas com liberdade na glria (glorianda) se convertem em algo que
devia ser oculto (pudenda). (AGAMBEN, 2011, p. 100) Nossa persistente
tradio crist, portanto, frisa a enorme diferena que haveria entre aquele
que est nu comparvel inocncia prvia queda do Paraso, ou ento
graa da nudez infantil em sua feliz ignorncia de si e aquele que est
desnudado porque foi despido de suas vestes e plenamente consciente
dessa falta, tanto em sentido literal como metafrico.
122PAULA SIBILIA
Essas ideias aliceram os significados da nudez e, portanto, da re-
velao corporal em nossa cultura, ao mesmo tempo impregnando as
artes e delas emanando at bem avanada a secularizao do mundo. Por
isso, tais noes podem ser de grande valia na hora de compreender as
transformaes que movimentam esse campo, na atualidade, aportando
pistas sobre algumas mudanas que estariam subvertendo o atual regime
do visvel, no que se refere s imagens do corpo humano e, sobretudo,
aos modos de olhar isso que no apenas somos, mas tambm vemos e
mostramos uma modulao peculiar da percepo que, como sempre,
historicamente constituda e alimentada. Vale salientar, porm, que no se
trata de transies categricas e totais, que movimentariam a sociedade,
em seu conjunto, de um bloco monoltico para outro tipo de visualidade
igualmente compacta e uniforme; ao contrrio, portanto, claro que h
continuidades e descontinuidades, resduos e resistncias, alm de com-
plexas impregnaes entre os diversos regimes.
Essa complexidade no vlida apenas para o multifacetado momen-
to atual: ao longo de nossa tradio, houve muitas excees compostura
ou ao decoro reinante nas representaes corporais, que sempre abunda-
ram nas artes ocidentais, tanto na era moderna como em pocas prvias.
Cabe citar, por exemplo, os motivos da encarnao, atrelados ao cristia-
nismo, precisamente, nos quais Georges Didi-Huberman (2007) se de-
tm em seu livro intitulado Limage ouverte ou A imagem aberta. Essa pin-
tura encarnada teve forte impacto na arte barroca, cujo desenvolvimento
foi riqussimo na Amrica Latina, com seu penoso squito de martrios,
punies e milagres profusamente incrustados nas carnaduras das telas
e dos relevos esculturais. Contudo, essa representao artstica do corpo
no pretendia mostrar imagens reais mas exemplos do ideal cristo do
corpo, conforme constata o historiador colombiano Jaime Borja Gomez
(2004, p. 9), em seu ensaio sobre tais manifestaes nas colnias hisp-
nicas, ao longo do sculo XVII, detectando nessas imagens os modelos
virtuosos que se deviam seguir e os vcios que se deviam rejeitar.
Com a acelerao dos ritmos modernizadores, porm, que deixariam
para trs no somente as densas mitologias crists herdeiras da Idade M-
dia, mas tambm os pudores vitorianos da era industrial, j na primeira
metade do sculo XX, a idealizao metafsica que at ento tomara conta
OS CORPOS VISVEIS NA CONTEMPORANEIDADE123
das mais diversas representaes corporais foi subvertida pelas vanguar-
das estticas e pelos modernismos. outro corpo o que se torna ento vi-
svel. Fez sua irrupo, assim, um corpo estilhaado e deformado em sua
vertiginosa multiplicidade: atordoado pelo dinamismo urbano, pela colo-
nizao cientfica de suas entranhas e pelos horrores das guerras no pice
do processo civilizador. Essa silhueta se derramou em obras que aludiam,
tanto fatal decomposio inerente a sua condio terrena, como sua
disposio para a mecanizao robotizada e para a fetichizao mercado-
lgica. No livro O corpo impossvel, a pesquisadora brasileira Eliane Robert
Moraes (2002, p. 22) relata esse projeto modernista de decomposio das
formas, que fez implodir o lado obscuro do humanismo racionalista em
monstruosos borbotes de incertezas, dilaceraes e outros abismos. J a
historiadora da arte, Linda Nochlin, em seu ensaio justamente intitulado
The body in peaces ou O corpo em pedaos, tambm resgata a fragmentao
como uma marca da modernidade, embora localize as fontes desse turbi-
lho, vrias dcadas antes.
A segunda metade do sculo XX, entretanto, marca outra importante
virada nesse percurso transitado pelas visualidades corporais. As produ-
es deslanchadas, sobretudo, a partir das revoltas dos anos de 1960 e
1970, acentuaram essa profanao da pureza imagtica da figura humana
que tinha sido exalada pelos ideais cannicos de antigamente. Nessa nova
etapa, desafiando os limites da representao, a prpria matria corporal
que entra em cena, com sua viscosidade orgnica e sua textura carnal em
plena exposio, perscrutando assim a complexa espessura da corporei-
dade humana numa diversidade de formatos e experincias. Alm disso,
nesse momento, fez sua apario triunfal uma entidade que at ento ti-
nha permanecido oculta: o corpo do artista. Assim, de repente, vaginas,
penes e nus ficaram ativamente mostra, inclusive em sua condio de
instrumentos utilizados para pintar, sob o olhar pblico, em rituais regis-
trados mediante fotografias e filmagens. Parodiava-se, desse modo, a aura
romantizada do velho autor: aquele gnio iluminado que ainda enfeitiara
tanto as obras bem delimitadas por suas molduras, primorosamente
acabadas e assinadas em sua indiscutvel materialidade como as sbrias
figuras dos modernistas. Entre os inmeros exemplos que poderiam ser
mencionados, tais aes sintetizam, tanto o esprito altamente politizado
124PAULA SIBILIA
daquelas lutas histricas, como a nfase no eu que marcou boa parte
dessas iniciativas, em plena transio para uma sociedade ps-disciplinar
e cada vez mais espetacularizada.
No final do sculo XX e incio do XXI, esse deslocamento para o
centro da cena, que passou a expor, com crescente tenacidade, o corpo
e a subjetividade do prprio artista, se radicalizou, tanto em suas ousa-
dias estticas, como na abrangncia das sondagens. Alm de avanar na
desmaterializao da obra de arte, sublinhando sua condio efmera e
inapreensvel, muitas dessas experincias bem atuais no se limitam a
lidar com espectadores no sentido de um pblico ao qual se solicita
uma distante contemplao visual , demandando tambm uma partici-
pao mais ativa no nvel sensorial do palpvel, do olfativo, do sonoro e
at mesmo da salivao. Multiplicaram-se as propostas relacionais ou
interativas, tanto dentro como fora dos museus que, por sua vez, ga-
nharam renovados atrativos ao se inserirem nos circuitos tursticos, abra-
ando a lgica do marketing. Contudo, e embora se entrelace de modos
confusos aos dispositivos miditicos, esse apelo das aes participativas e
performticas, no apenas para os artistas como tambm para os pblicos
mais diversos procurando embaar, inclusive, as velhas diferenas entre
ambas as categorias , inscreve-se numa poca em que ocorre uma ins-
lita ampliao das possibilidades de produo e circulao das criaes
individuais ou coletivas, sobretudo graas s tecnologias digitais. Alm de
uma veloz renovao do exponvel, como argumentara Peter Sloterdijk,
em seu lcido ensaio sobre o assunto, e uma igualmente acelerada con-
vergncia, dos campos das artes, das mdias, da filosofia e das cincias,
com a vida cotidiana. Todo esse movimento reforou a centralidade do
corpo e de sua constituio imagtica na contemporaneidade, pois a
subjetividade encorpada se finca no mago de tais experimentaes e se
torna, acima de tudo, visvel.
Cabe notar, ainda, que a explorao da corporeidade, nos empreen-
dimentos artsticos mais atuais, no s se generalizou como tambm se
expandiu, chegando a atingir os rgos internos da anatomia humana e
at mesmo o cerne de sua energia vital. Tais iniciativas do visibilidade s
prprias vsceras, por exemplo, recorrendo a ferramentas videoscpicas
ou de vigilncia, emprestadas de campos como a medicina e a indstria
OS CORPOS VISVEIS NA CONTEMPORANEIDADE125
blica que so utilizadas, inclusive, em novos gneros como a bio-arte e
o ps-porn. Nessa conquista dos substratos biolgicos, tais sondagens al-
canam at mesmo o nvel molecular das clulas e dos genes, como ocorre
nos ensaios da arte transgnica ou da genetic-art. Ao mesmo tempo, artis-
tas dos mais variados estilos, linhagens e teores, expem seus corpos e
suas subjetividades perscrutao pblica de modos inditos, incluindo
no apenas as mutilaes, perfuraes, excrees e regurgitaes, estrea-
das em dcadas prvias, mas tambm um avano inusitado na mincia
dos registros visando publicizao de seus cotidianos, e algumas novi-
dades como as intervenes em cirurgias plsticas ou implantaes de
prteses, at a venda dos prprios fragmentos corporais e dos diversos
perfis das personalidades.
CULTO AO CORPO COMO UMA IMAGEM BELA E PURIFICADA
Apesar dessa notvel radicalizao, constata-se algo perturbador: tais ini-
ciativas parecem ter perdido boa parte de seu vigor poltico. Isso se eviden-
cia em seu nvel mais bsico: a escassa capacidade de exercer alguma co-
moo num pblico que se encontra demasiadamente familiarizado com
o universo imagtico; e que, por vezes, parece at mesmo anestesiado pela
apatia ou pela exausto que esse hiperestmulo acaba suscitando. Assim,
mesmo sendo to frequentes e numerosas, ou talvez por esse mesmo mo-
tivo, a fora de tais criaes costuma ser abafada no furaco da contem-
poraneidade: seu sentido se esvazia, ecoando apenas timidamente at se
esvair em meio s estridncias que ornamentam e deslumbram a atual
sociedade espetacular. Em ocasies, algumas peas ou aes conseguem
conquistar certo espao nos mostrurios miditicos ou mercadolgicos,
muitas vezes ancoradas no gancho de uma novidade que se promove com
tons de escndalo. Contudo, seus efeitos so fugazes e, em geral, no che-
gam a provocar srias convulses no sonolento territrio do j pensado
(e do j visto), sem flego suficiente para ampliar os campos do pensvel
e do possvel bem como o ambguo terreno do visvel, ao mesmo tempo
to copioso e to estreito.
Cabe sublinhar, nesse sentido, que tais manifestaes artsticas proli-
feram num contexto histrico bastante peculiar, em que a mdia se tornou
126PAULA SIBILIA
um fator fundamental sobretudo, os meios de comunicao grficos e
audiovisuais; e, mais recentemente, tambm as redes digitais interativas ,
exercendo uma influncia inusitada nas vidas individuais e na dinmi-
ca coletiva da sociabilidade. Esse estmulo contribui, de modos to ativos
como complexos, para a prpria moldagem das configuraes corporais e
subjetivas. Tornou-se habitual, por exemplo, definir a contemporaneidade
como uma era na qual se vivencia um fenmeno original: o culto ao cor-
po. Essa tendncia, que nas ltimas dcadas tem se espalhado por todas
as culturas aglutinadas em torno dos mercados globais com forte inci-
dncia na Amrica Latina e, particularmente, no Brasil implica certas
transformaes na experimentao da subjetividade encorpada. Por um
lado, o corpo comeou a ser cultuado, desempenhando um papel cada
vez mais proeminente numa civilizao que tradicionalmente o relegara
a um segundo plano, passando a inspirar todos os cuidados que implica
a devoo s boas formas e ao bem-estar fsico. Por outro lado, e de um
modo simultneo, o organismo humano tambm se v extremamente
constrangido por um conjunto de crenas e valores que parecem despre-
zar sua condio carnal, tais como as teimosas mitificaes da beleza, da
sade, da magreza e da juventude.
No vrtice dessa excitao multplice e contraditria, portanto, o cor-
po contemporneo adorado e laboriosamente esculpido como uma ima-
gem que deve permanecer sempre lisa e polida; mas, ao mesmo tempo e
pelos mesmos motivos, rejeitado em sua materialidade orgnica, deven-
do se submeter constantemente a diversos procedimentos de expurgao
ou purificao da prpria corporeidade. O papel dos meios de comunica-
o nesses processos primordial, numa aliana tcita com o mercado e
a tecnocincia, pois a incessante irradiao de imagens e discursos midi-
ticos contribui para a disseminao dos padres corporais hegemnicos,
alm de divulgar o catlogo sempre em expanso de tcnicas, produtos e
servios disponveis para atingi-los, bem como a cartilha de riscos fsicos
e implicaes morais que poderiam decorrer da sua temvel inadequa-
o. Certa moralizao que propugna a boa forma se expande, assim,
ocupando alguns espaos que foram liberados dos ditames mais antigos
como aqueles que suportavam uma parte considervel das normas dis-
ciplinadoras, por exemplo , enquanto o esprito empreendedor de cada
OS CORPOS VISVEIS NA CONTEMPORANEIDADE127
um invocado para promover um gerenciamento que invista com suces-
so em seu prprio capital corporal. Diversos vetores contribuem, logo,
para alimentar esse aparente paradoxo do estatuto do corpo humano na
contemporaneidade, ao mesmo tempo cultuado como uma imagem ide-
alizada e altamente codificada, e desprezado em sua materialidade carnal
que alicera todas as experincias vitais.
Alm disso, sob a luz das inquietaes que iluminam esta pesquisa,
curioso advertir que essa crescente valorizao da beleza corporal ocorre
de modo simultneo a outro processo histrico digno de nota e que, no
entanto, parece avanar na direo oposta: o desterro desse atributo do
campo das artes. A cena artstica das ltimas dcadas tem rejeitado com
veemncia, e at mesmo com certa repulsa, aquele adjetivo com o qual
seus ancestrais se fusionaram ao longo da modernidade; assim, as clssi-
cas belas artes se converteram, de acordo com a irnica definio de Yves
Michaud (2009, p. 13), nas artes que j no so belas. A atual obsesso
pelas boas formas fsicas, preconizada pelos dispositivos miditicos, no
entanto, convive com um triunfo da esttica em todas as outras esferas,
na atualidade, tais como o design e o consumo, que por sua vez tambm
tendem a tingir todos os mbitos. Constata-se, portanto, uma banalizao
do belo no cotidiano, por um lado, incluindo a a centralidade da figura
humana; e, por outro lado, um esgotamento dessa busca como algo trans-
cendente na experincia esttica.
Nesse sentido, cabe lembrar que Umberto Eco (2004, p. 414) ter-
mina seu luxuoso livro, quase enciclopdico, sobre a histria da beleza
no mundo ocidental, publicado originalmente em 2002, identificando a
principal contradio que teria marcado o imenso e multifacetado sculo
XX at os anos 1960 no mximo (depois j mais difcil), de acordo com
suas prprias palavras. Tratar-se-ia de uma luta dramtica entre certa
beleza da provocao ligada arte moderna, e outra mais padronizada
embora extremamente pregnante: aquela da mdia e do consumo. No
imaginrio de seus leitores do sculo XXI, porm, confirma-se aquilo que
o autor sabiamente elucidara entre discretos parnteses: cada vez mais
difcil separar essas duas vertentes, outrora opostas e conflitantes, mas
que hoje talvez no sejam to contraditrias assim, embora a complexida-
de desse nexo merea ser examinada com ateno. Esmiuar essa tenso,
128PAULA SIBILIA
alis, uma das metas do presente estudo, colocando na mira de tal aus-
cultao a silhueta humana e os modos em que se manifesta atualmente
sua visualidade.
De fato, a mdia e o mercado hoje se apropriam com muita frequ-
ncia das emanaes das artes contemporneas, na tentativa de capturar
com elas a ateno dos espectadores-consumidores; que, por sua vez, es-
to cada vez mais sedentos e ao mesmo tempo saturados pelo excesso de
imagens e sensaes provenientes de todos os cantos. Paralelamente, as
diversas estratgias artsticas emaranham-se aos geis tentculos do mer-
cado e da mdia, no apenas para satisfazer os crescentes desejos de au-
toespetacularizao de seus protagonistas, mas tambm porque, na atual
conjuntura, preciso conquistar as vitrines miditicas e saber vender-se
para poder existir ou ser algum. No entanto, apesar dessas complexas
fuses, que so tanto estticas e socioculturais como polticas e econmi-
cas, vale destacar mais uma vez aquele elemento aparentemente parado-
xal: o fato de que esses fenmenos to contemporneos, como a obsesso
pelo corpo belo e a gradativa estetizao do mundo, ocorram numa era
que expulsou a beleza do terreno das artes e que ainda a despreza com
vigor, especialmente no que tange a seu profuso tratamento da corporei-
dade. Em franca oposio a tais princpios, alis, ensaia-se toda sorte de
provocaes nos domnios do abjeto, do nojo, das emoes extremas e at
mesmo da feiura inclusive e, talvez, sobretudo, no que tange ao corpo
humano.
Na tentativa de abordar esse fenmeno to multplice e escorrega-
dio, portanto, num dilogo entre as produes miditicas e artsticas que
hoje tematizam a condio encorpada, poderamos sugerir que boa parte
das imagens corporais exaladas pelos meios de comunicao contempo-
rneos se inscreve na estirpe das vises idealizadas do corpo humano,
aquelas contra as quais os mpetos artsticos se revelaram h tempos, e
que ainda hoje se propem a denunciar e subverter. Mas essa tarefa de
desnaturalizao se tornou mais complicada e, ao mesmo tempo, mais
urgente, devido enorme relevncia do corpo na cultura contempornea
e sutileza das amarras imagticas desenvolvidas pelos mais novos dispo-
sitivos de poder. Assim, o olhar purificador que hoje censura as imagens
corporais responde a novas regras morais, bem diferentes daquelas que
OS CORPOS VISVEIS NA CONTEMPORANEIDADE129
amarraram os corpos humanos ao longo da era disciplinar, embora no
menos severas. Agora no a viso do corpo nu e nem a ousadia sexual o
que incomoda as sensibilidades ou perturba os valores vigentes; ao con-
trrio, alis; essa exposio estimulada, mas h uma ressalva: desde que
os contornos da silhueta exposta sejam lisos, retos e bem definidos. Eis a
ardilosa moral da boa forma que sustenta e atia nosso culto ao corpo,
um fenmeno que se inscreve quase exclusivamente no mbito do visvel
e submete a silhueta humana a uma codificao extremamente rigorosa.
O CORPO ALISADO DA MDIA E A PERSISTNCIA ATVICA
DO DESPIDO
H quase quarenta anos, Michel Foucault (1979, p. 147) j chegara a uma
concluso semelhante que aqui est sendo esboada, sintetizando assim
as moralizaes corporais posteriores s revoltas de 1968: fique nu... mas
seja magro, bonito, bronzeado!. Uma verso atualizada dessa permisso
condicionada poderia acrescentar que, alm disso, se recomenda tambm
refinar essa nudez exposta com a ajuda do PhotoShop. A mulher pode
no ter vergonha de mostrar seu corpo, explica a antroploga brasileira
Mirian Goldenberg (2008, p. 80) em sua anlise das fotografias publica-
das na revista Playboy no incio do sculo XXI, mas no, diz-se, sem que
antes ele passe por uma sesso de reviso pelo software, que apagaria ce-
lulites, gordurinhas, manchas, estrias. As fortes mudanas que acabaram
alterando o panorama at derivar nessas manifestaes mais recentes da
visualidade corporal, portanto, comearam a deslanchar precisamente nos
anos de 1960 e 1970, quando a disciplina e a tica puritana entraram
em crise, como as grandes foras impulsionadoras do capitalismo; e, no
campo das artes, o corpo do artista invadiu o palco.
Ento, percebeu-se que esse poder to rgido no era assim to in-
dispensvel quanto se acreditava, explica ainda Foucault (1979, p. 148), e
que as sociedades industriais podiam se contentar com um poder muito
mais tnue sobre o corpo. Mais tnue e elegante, sim, poderamos acres-
centar, porm muito eficaz em seu amordaamento de certas potncias
corporais, que foram incrivelmente anestesiadas nos ltimos anos, en-
quanto floresciam liberdades inditas e se instaurava o culto ao corpo
130PAULA SIBILIA
como um fenmeno de abrangncia global. Nesse processo, o corpo se
tornou ao mesmo tempo extremamente visvel, hiperexposto e incitado a
se mostrar cada vez mais desprovido de roupas ou de qualquer outra bar-
reira contra os olhares alheios, por um lado; e, por outro lado, sutilmen-
te censurado ou silenciado, em sua espessura carnal e em sua vitalidade
cheia de rgos. De algum modo, portanto, na sociedade do espetculo,
o corpo foi condenado a virar ele tambm uma imagem.
No casual que certas manifestaes artsticas contemporneas
para as quais este artigo pretende chamar a ateno visem a denunciar
esses astutos mecanismos de assujeitamento corporal, numa tentativa de
reativar essas foras que permanecem adormecidas. Para compreender
de que modo operam essas tentativas de resistncia, talvez seja til aludir
aqui j mencionada oposio entre nude e naked, proposta pelo britnico
Kenneth Clark, em 1956. Uma distino que foi retomada, entre outros,
por Arthur Danto, em seus ensaios mais recentes sobre a histria da arte,
na tentativa de explicar certo desconforto ligado ao forte efeito de presena
corporal que suscitam os retratos assinados por Lucian Freud, por exem-
plo. De acordo com o crtico norte-americano, os corpos pintados por esse
artista parecem estar realmente nus (naked), em oposio quela nudez
expurgada que tanto deslumbra nas telas planas hoje onipresentes e nas
pginas brilhosas das revistas; e que, a sua maneira, continuaria obede-
cendo aos parmetros clssicos do nude. Esses corpos hoje cultuados se
colocam a nudez como uma veste quando tiram a roupa, trocando assim
um traje por outro, explica Danto (2003, p. 69), aludindo fotografia de
uma modelo que parece completamente vestida em seu corpo nu.
Assim como ocorre com a obra pictrica do artista britnico recm-
-mencionado, portanto, outras iniciativas bem atuais teriam como meta a
desmontagem dessas codificaes corporais, que parecem renovar, sob os
holofotes miditicos, as velhas idealizaes do nu artstico. Nesse sentido,
haveria nelas uma afoita raiva do espelho, como aponta Henry-Pierre
Jeudy (2002, p. 110): o corpo, como poder infinito dos possveis, procu-
raria demonstrar nessa exposio raivosa que no tem necessidade de se
submeter regra do espetacular. Seriam, portanto, respostas ao sagaz
fique nu, pronunciado por Foucault em 1975, como uma tentativa deses-
perada de contrapor a ferocidade provocadora do naked, ao mesmo tempo
OS CORPOS VISVEIS NA CONTEMPORANEIDADE131
frgil e potente, quele recatado nude da mdia e do mercado. Essa reao
e seus respectivos ataques no se limitam pintura, logicamente, mas
esto muito presentes tambm nas esculturas e nas instalaes contem-
porneas, alm de insuflarem inmeras manifestaes da fotografia e do
vdeo, bem como da performance e das demais artes cnicas, incluindo a
dana e o teatro.
Cabe frisar, contudo, que est longe de ser lineal e absoluta a con-
traposio aqui destacada entre as imagens corporais que os meios de
comunicao tornam visveis purificadas e alisadas de acordo com o aus-
tero receiturio do culto ao corpo e aquelas colocadas em cena pelas
artes contemporneas. As visualidades hoje vigentes so bastante variadas
e intricadas, muito particularmente no que se refere a algo to cobia-
do pelo olhar contemporneo, como o corpo humano. Assim, junto s
silhuetas primorosamente delineadas sob as prescries morais da boa
forma, as fartas turbinas miditicas exalam simultaneamente outros ti-
pos de imagens corporais. Entre elas, destacam-se aquelas que expem
um organismo violentado e despedaado, presentes tanto nos noticirios
sensacionalistas como em diversos gneros cinematogrficos e em video-
games, quadrinhos, desenhos animados, programas de televiso e sites da
internet, chegando inclusive a contaminar as publicidades mais audazes.
No entanto, apesar desses hibridismos miditicos com as manifesta-
es artsticas, que sem dvida abundam e esto em crescimento, e mes-
mo considerando toda a diversidade que insufla esse imenso territrio,
a esttica desses produtos costuma ser limpa e espetacular. Distancia-se,
assim, das vivncias corporais propostas no campo das artes aqui focali-
zadas embora as estticas do realismo sujo tambm estejam em auge
e contribuam, elas tambm, para provocar ampliaes inditas no campo
do visvel. Aparecem e se reproduzem, assim, as imagens corporais per-
tencentes esttica amadora, incluindo a o profcuo filo da pornografia
caseira, que circula pelas redes visando cinzelar no olho do espectador
aquilo que Beatriz Jaguaribe denominou o choque do real. Algo que,
nestes casos, costuma funcionar como uma rejeio ao excesso de lim-
pidez dos retoques e da espetacularizao imagtica de nossos dias. Em-
bora muitas dessas tendncias, que hoje levam a entremear os campos
miditicos e artsticos, sejam contraditrias entre si, e vrias se extingam
132PAULA SIBILIA
rapidamente sem maiores consequncias para deixar passo a outras novi-
dades que no cessam de surgir, todas elas costumam colaborar para uma
gradativa ultrapassagem dos limites do que se pode mostrar e ver.
AS AMBGUAS RESISTNCIAS ESPETACULARIZAO CORPORAL
Levando em conta as mltiplas arestas da problemtica que afeta as con-
figuraes corporais, na atualidade, e que as inscreve de modo prioritrio
no campo do visvel, rapidamente delineadas nas pginas precedentes,
consideramos que vale a pena explorar com mais profundidade essas in-
tersees entre os discursos e as imagens miditicas que promovem um
culto ao corpo humano, em sua condio de imagem a ser constante-
mente purificada, por um lado, e, por outro lado, as prticas artsticas que
reivindicam um corpo explcito em sua espessura visceral. A inteno
indagar, nas potencialidades desses conflitos, sobretudo em sua capacida-
de de desestabilizar o atual regime do visvel e, junto com ele, certas cren-
as que se cristalizam na moral vigente, abrindo desse modo o horizonte
para novos questionamentos e experincias existenciais.
Em seu livro mais recente, intitulado La sociedad sin relato, um dos
autores com maior destaque na rea da comunicao na Amrica Latina,
Nstor Garca Canclini (2010, p. 58), volta seu olhar para o campo das
artes, alegando que precisamente isso o que as cincias sociais deveriam
fazer, quando se esgotam as vias para a compreenso do contemporneo.
De acordo com tal perspectiva, as artes permitem elaborar uma pergunta
fundamental: o que fazem as sociedades com aquilo para o que no en-
contram resposta na cultura, nem na poltica, nem na tecnologia. O corpo
humano e sua insistente transformao em imagem constituem o ncleo
de uma complexa encruzilhada tecida pelos diversos fios da contempo-
raneidade, encarnando perfeitamente essa incerteza aludida por Cancli-
ni. As artes, portanto, que sempre desempenharam um papel de enorme
relevncia na tematizao, no questionamento e na busca de respostas
para os conflitos que afetam os indivduos e as sociedades em diversos
momentos histricos, agora parecem especialmente dispostas a auxiliar
na formulao dessas sondagens em torno da corporeidade e da subjeti-
vidade, que por sua vez se tornaram to vitais no campo da comunicao.
OS CORPOS VISVEIS NA CONTEMPORANEIDADE133
Assim, alm das fortes influncias e presses que a tecnologia e a
mdia exercem na modulao dos corpos contemporneos, caberia exami-
nar com maior ateno a contribuio das artes nesses processos, em gil
interao com os outros mbitos em que a corporeidade e a subjetividade
se constituem. Conforme a viso genealgica que orienta a pesquisa da
qual se deriva este ensaio, as artes no refletem ou expressam algo que
aconteceria em outras esferas consideradas separadas e prvias; mas, ao
contrrio, contribuem ativamente para produzir o que somos. Ao mesmo
tempo, portanto, as manifestaes artsticas destilam e insuflam certos
modos de ser e estar no mundo. E agora, especialmente, fazem isso em
frtil e convulsivo contato com as imagens e os discursos procedentes de
outros campos, destacando-se fundamentalmente a mdia e o espetculo,
mas tambm a reflexo filosfica e a pesquisa tecnocientfica, em meio a
um contexto global que se encontra em febril ebulio.
O corpo, por sua vez, constitui um terreno basilar no qual tais vetores
se inscrevem e agem, num perptuo deslizamento entre-imagens e numa
estimulao para devir-imagem; cujos efeitos no apenas estticos, mas
tambm ticos e polticos so importantssimos. As interrogaes aqui
esboadas, portanto, exigem o esforo de conceituar que corpo esse e,
sobretudo, de refletir acerca do que ele pode ou poderia consumar. Ape-
sar da dificuldade inerente ao fato de se tratar de um fenmeno vivo, em
pleno andamento e muito efervescente, no qual estamos todos envolvidos
at a medula, trata-se de um desafio que vale a pena enfrentar. Entre os
frutos que promete, vislumbra-se a possibilidade de indagar tanto o que
somos como o que estamos deixando de ser e, nesse caminho, suscitar
questionamentos sobre o que gostaramos de nos tornar, propondo novas
linhas de ao e criao, que sejam capazes de abrir o campo do pensvel
e do possvel alm, claro, de tentar implodir certas codificaes que
constringem o visvel.
As pginas que constituem este artigo foram norteadas por uma
pergunta com vrias faces, e dela se depreende todo um elenco de outras
questes. De que maneira, por exemplo, as produes artsticas contempo-
rneas, que tematizam e exploram o corpo humano, dialogam ou se con-
frontam com o arsenal miditico de imagens e discursos que propem as
diversas estratgias de purificao, como um cuidado de si tipicamente
134PAULA SIBILIA
contemporneo, e como uma modalidade muito eficaz de assujeitamen-
to? Que modos de subjetivao e de construo corporal, bem como de
relacionamentos com os outros e com o mundo, esto sendo propostos e
gerados, de acordo com esses regimes do visvel? Tais produes artsticas
contemporneas assumem, de algum modo, um papel crtico, capaz de
questionar e desestabilizar a atual idealizao miditica da corporeidade
que, de algum modo, tambm uma tiranizao , contribuindo ento
para subverter tais amarras, dilatando suas bordas e abrindo frestas capa-
zes de questionar as moralizaes que cerceiam nossos corpos e subje-
tividades? Nesse sentido, conforme alega a pesquisadora brasileira, Ktia
Canton (2009, p. 25), o corpo apresentado pelos artistas contemporneos
estaria vibrando na contramo desse panorama de idealizao propugna-
do pelo consumismo.
Outras vozes, porm, suspeitam que no haveria tal vocao de resis-
tncia ou uma via para a libertao nesses gestos: ao contrrio, tratar-se-ia
de outro tipo de espetacularizao que envolve, portanto, sua correspon-
dente dose de banalizao e padronizao. A estratgia, neste caso, focali-
za a textura carnal e orgnica do corpo humano, com a consequente desa-
tivao de suas potncias vitais e sua fora poltica, ao convert-la em mais
um show entre tantos outros. A reduo do corpo apenas sua corporei-
dade achata a riqueza de sua complexidade, afirma Viviane Matesco, por
exemplo. Certamente, a exposio de dimenses do corpo antes reprimi-
das profana a idealizao de sua imagem e representao no Ocidente,
acrescenta a mesma autora, para concluir deste modo: no entanto, fazer
o caminho oposto e afirmar a literalidade de um corpo primrio apagar
sua ambigidade constituinte. (MATESCO, 2009, p. 8)
Nesse ltimo sentido, caberia deduzir que tais manifestaes no es-
tariam resistindo ou tentando libertar os sujeitos do sculo XXI de suas
novas ataduras; mas, em vez disso, reforariam, com outros argumentos,
certa desespiritualizao do corpo que caracteriza a cultura contempo-
rnea. Esse organismo humano to cruamente desidealizado correria o
risco de se esgotar em sua pura carnalidade, afirmando-se de um modo
to explcito e literal que nada poderia haver alm daquilo: nada permane-
ceria implcito em suas dobras, virtualidades e potncias ocultas. Se assim
for, em seu esforo por destruir as codificaes corporais do nude midi-
OS CORPOS VISVEIS NA CONTEMPORANEIDADE135
tico, talvez as artes contemporneas estejam gerando novas cristalizaes
ligadas naturalizao do naked. E ainda estariam sendo reforados, nesse
caso, os persistentes dualismos supostamente ultrapassados, numa era
que ora privilegia as aparncias de um corpo-imagem bidimensionalizado
com a textura etrea da informao digital, ora enfatiza a mera carnadura
animal da espcie humana. Dois regimes do visvel aparentemente opos-
tos, por conseguinte, que no entanto tornam a confluir numa equvoca
desativao das potncias encorpadas.
REFERNCIAS
AGAMBEN, Giorgio. Desnudez. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011.
BELLOUR, Raymond. Entre-imagens, Campinas, SP: Papirus, 1997.
BIESENBACH, Klaus. Into me/Out of me Catalogue of the exhibition. Ostfildern:
Hatje Cantz, 2007.
BORJA GMEZ, Jaime Humberto. El cuerpo y la mstica. In: ______. Las
representaciones del cuerpo barroco neograndino em el siglo XVII. Bogot: Museo de Arte
Colonial, 2004.
CANTON, Katia. Corpo, identidade e erotismo. In: ______. Temas da arte
contempornea. So Paulo: Martins Fontes, 2009.
CLARK, Kenneth. El desnudo. Madri: Alianza, 2006.
DANTO, Arthur. La madonna del futuro. Barcelona: Paids, 2003.
DEBORD, Guy. A sociedade do espetculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1998.
DELEUZE, Gilles. Carta a Serge Daney: otimismo, pessimismo e viagem. In: ______.
Conversaes. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. p. 88-102.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Limage ouverte: Motifs de lincarnation dans les arts
visuels. Paris: Gallimard, 2007.
ECO, Umberto (Org.). Histria da beleza. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2004.
FOUCAULT, Michel. Poder-Corpo. In: ______. Microfsica do poder. Rio de Janeiro:
Graal, 1979. p. 145-152.
GARCIA CANCLINI, Nstor. La sociedad sin relato: Antropologa y esttica de la
inminencia. Buenos Aires: Katz, 2010.
GOLDENBERG, Mirian. Coroas. Rio de Janeiro: Record, 2008.
JAGUARIBE, Beatriz. O choque do real: esttica, mdia e cultura. Rio de Janeiro: Rocco,
2007.
JEUDY, Henry-Pierre. O corpo como objeto de arte. So Paulo: Estao Liberdade, 2002.
136PAULA SIBILIA
MATESCO, Viviane. Corpo, imagem e representao. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.
MICHAUD, Yves. El arte en estado gaseoso. Mxico: Fondo de Cultura Econmica,
2009.
NOCHLIN, Linda. The body in peaces: The fragment as a metaphor of modernity.
Londres: Thames & Hudson, 2001.
MORAES, Eliane Robert. O corpo impossvel. So Paulo: Iluminuras, 2002.
SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetculo. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2008.
SLOTERDIJK, Peter. El arte se repliega en s mismo. Observaciones filosficas.
Valparaso, 2007. Disponvel em: <http://www.observacionesfilosoficas.net/
elarteserepliega.html>.
VERGINE, Lea. Body art and performance: The body as language. Milano: Skira, 2000.
WARR, Tracy; JONES, Amelia. El cuerpo del artista. Nova Iorque: Phaidon, 2006.
WOLF, Naomi. El mito de la belleza. Barcelona: Emec, 1991.
137
MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
Viver conectado
excesso e transmidialidade no youtube
e nas vidas on-line
1
COMO CONTAR A HISTRIA DE ALGUM HOJE?
Expresses que se pretendem definidoras do sujeito em seu cotidiano
centradas na famlia e na adolescncia so os circuitos subjetivos orga-
nizados atravs da narrao midiatizada de dois vdeos disponibilizados
no site YouTube, que ilustraro algumas questes discutidas neste artigo.
Interessa-nos, sobretudo, pensar a maneira como os personagens (fict-
cios ou no) so construdos ou se autoconstroem na cultura audiovisual
contempornea, cotejando suas expresses distribudas na plataforma mi-
ditica com as lgicas e estratgias do excesso.
O primeiro vdeo, Google Crome Dear Sophie, como o prprio ttulo
sugere, uma propaganda do navegador de internet sem sombra de d-
vidas, o software mais importante do seu computador
2
criado pela em-
presa Google. O segundo, Annabee.log//#1:Oi Eu sou a Anna!, o primeiro
episdio de uma websrie de animao, voltada para o pblico juvenil.
Embora distintos em muitos dos aspectos estticos, ambos compartilham
1 Parte das anlises e consideraes presentes neste artigo comps o trabalho Personagens co-
nectados: excesso, participao e transmidialidade como marcas de nosso tempo, apresentado
no XXXV Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Intercom 2012.
2 Segundo o site ocial do Google Crome <http://www.google.com/chrome/intl/pt-BR/more/index.
html?hl=pt-BR>.
138 MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
entre si um uso intenso de uma retrica do excesso, como condutor de for-
tes engajamentos sensrio-sentimentais que garantem a eficcia de seus
lugares de fala, enquanto publicidade, no caso do primeiro, e enquanto
educao sentimental juvenil, no caso do segundo.
Nosso percurso ser o de procurar tais semelhanas entre eles. Ambos
possuem personagens protagonistas que so apresentados ou se apresen-
tam ao olhar dos outros, atravs das novas mdias, utilizando-se alusiva-
mente dos cdigos genricos (melodramticos) da cultura miditica, am-
plamente reconhecveis pelo pblico. De alguma forma, tais usos alusivos
garantem processos empticos de identificao que respondem pela efic-
cia dos vdeos, postados no YouTube no incio do ms de maio de 2011.
Assim, reconhecimento e participao so a tnica dos objetos ana-
lisados aqui, em consonncia com a lgica geral do YouTube, visto que o
site tanto um sintoma como um agente das transaes culturais que
articulam as tecnologias digitais, a internet e uma nova forma de partici-
pao do pblico. (BURGESS; GREEN, 2009, p. 13) Acreditamos que as
tecnologias da comunicao e os produtos culturais so vetores histricos.
Esses e tantos outros aspectos culturais, econmicos, polticos e sociais
atuam simultaneamente como frutos e produtos de uma determinada
realidade, contribuindo para construir e desconstruir verdades historica-
mente vlidas.
Dito isso, definiremos aqui um trajeto de reflexo em trs etapas.
Partiremos da apresentao dos vdeos, refletindo especialmente sobre
aquelas que consideramos suas caractersticas mais interessantes: o ex-
cesso e a transmidialidade. Em seguida, propomos uma reflexo acerca
de importantes transformaes histricas que podem ser associadas s
marcas alusivas encontradas nos vdeos analisados. Por fim, pretendemos
pensar a maneira como esses vdeos e seus personagens podem ser rela-
cionados a aspectos contemporneos da vida cotidiana, principalmente
em torno da nossa relao com as novas mdias.
O vdeo Google Chrome Dear Sophie hoje um dos 243 vdeos do canal
oficial do Google Crome no YouTube. Postado em 2 de maio de 2011, o vdeo
j foi visualizado 8.304.217 vezes (sem contar a visualizao do mesmo
VIVER CONECTADO139
vdeo em canais no oficiais).
3
Annabee.log//#1:Oi Eu sou a Anna! um
dos 14 vdeos do canal annahothotmails, aparentemente o canal oficial de
uma srie de vdeos de animao com episdios de cerca de dois minutos,
disponibilizados no Youtube e que foram tambm veiculados como vinhe-
tas pelo canal de televiso aberta MTV. Esse vdeo o primeiro episdio da
srie de oito episdios. Alm dos vdeos da srie, o canal tambm tem um
teaser do projeto e quatro clipes da banda de que Anna Bee, a protagonista
da srie, faz parte. Todos os vdeos do canal so animaes. Curiosamente,
esse vdeo tambm foi publicado no incio de maio de 2011, apenas quatro
dias aps o primeiro exemplo que citamos, e j foi visto 50.068 vezes at
hoje. No pouco em se tratando de uma srie brasileira voltada para um
pblico bem mais especfico do que aquele que foco do vdeo sobre a
pequena Sophie.
AS HISTRIAS DE SOPHIE E DE ANNA:
EXCESSO E TRANSMIDIALIDADE
As duas personagens principais desses vdeos so construdas a partir de
uma relao muito forte entre suas vidas, a tecnologia digital, os compu-
tadores e a internet. Em ambos, procura-se expressar a presena cotidiana
das mdias na vida subjetiva, uma expresso que se d de modo integrado
ao desenrolar da narrativa. Atrelado a isso, possvel pensar a construo
de Sophie e Anna como personagens pela anlise das trs caractersticas
que detectamos: o excesso e a transmidialidade. Da mesma maneira, as
formas narrativas utilizadas para contar suas histrias podem ser observa-
das a partir desses aspectos que so, tambm, comumente relacionados
contemporaneidade.
3 muito comum que um vdeo que se torna um sucesso no YouTube seja copiado e colocado nos
canais de outras pessoas. Nesse exemplo, em se tratando de uma propaganda ocial do Google
Crome, poderia se imaginar que essa prtica seria coibida. Porm, como encontramos muitas
outras verses do mesmo vdeo, que contabilizam tambm muitas visualizaes, podemos supor
que seja algo interessante para a marca que o vdeo seja propagado, por vias tambm no ociais.
Alm das cpias do vdeo original, h diversas pardias e remontagens tambm disponibilizadas
no site por outros usurios.
140 MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
Figuras 1 e 2 Print-screems das pginas de Google Chrome Dear
Sophie e Annabee.log//#1:Oi Eu sou a Anna! no YouTube.
No livro Tela global: mdias culturais e cinema na era hipermoderna,
Gilles Lipovetsky e Jean Serroy tratam de um cinema que se relaciona a
uma nova ordem social, vigente desde o final do sculo passado. Ao mes-
mo tempo em que reflete o contexto histrico em torno de si, o cinema
tambm seria incitado por esse cenrio.
O excesso, atravs do que os autores chamam de imagem-excesso,
apontado como a primeira marca desse novo cinema, j no exclusivo das
salas de projeo, mas difundido por uma infinidade de telas, disperso
por todos os lugares, parte cotidiana e integrada da vida subjetiva. Nessa
considerao, mais do que elemento esttico, a imagem-excesso nomeia
a presena instigante e formadora das imagens na construo das sub-
jetividades, imagens no seu sentido mais concreto, formar-se a partir da
transformao de si em imagem, produzida e publicizada no universo ex-
cessivo da cultura miditica. Esse seria um dos sintomas de uma era mar-
cada pela saturao e pelo superlativo em todas as coisas. (LIPOVETSKY;
SERROY, 2009, p. 71)
Este aspecto claro e central em Sophie e Anna, assim como em
dezenas de personagens miditicas ordinrias que cotidianamente trans-
bordam plataformas como as do YouTube e as redes sociais. Porm, h
outra dimenso do excesso que tambm nos interessa apontar aqui: a di-
menso esttica e alusiva com a qual tais construes subjetivas de si se
narram e se expressam. Tanto Sophie quanto Anna entre outras destas
subjetividades que transparecem no cenrio miditico apresentam-se
fazendo um uso reiterativo e saturado das marcas, diramos genricas,
que construram a esttica tradicional da cultura miditica. Mostrando, de
VIVER CONECTADO141
um lado, a permanncia dessas marcas narrativas de excesso na constru-
o de engajamentos empticos, e de outro, o saber compartilhado pelo
sujeito contemporneo desses mesmos cdigos, formando o que Jenkins
(2009) chama de uma erudio miditica. Talvez, queremos argumentar,
mostrando que mais do que um regime esttico da contemporaneidade,
carcterizado pelas imagens-excesso, poder-se-ia falar de uma imaginao-
-excesso que atualizada nas expresses de si dessas subjetividades mi-
diticas.
4
Segundo as anlises de Lipovestky e Serroy, as imagens-excesso des-
tacam-se pelo efeito direto das tecnologias da imagem digital produzindo
vises e sensaes novas e mais intensas (e a valorizao das mesmas); a
velocidade dos cortes e da narrativa e a enorme quantidade de imagens,
sons e informaes (marcadas pela saturao de tcnicas, efeitos e sm-
bolos). Todos esses fatores influenciariam principalmente obras sobre
violncia, sexo e horror. Por isso, segundo esses autores, esses gneros
estariam passando agora por um enfraquecimento de sua lgica narrativa
e se tornando um apanhado de imagens e sons excessivamente sensacio-
nalistas, com fins em si mesmos.
Embora os autores no comentem o melodrama em suas conside-
raes, no se pode negar que, na permanncia desse regime de excesso
onde as imagens e sons saturadas, velozes e marcadas pelo sensacio-
nalismo como um fim em si mesmo , as dimenses empticas identi-
ficatrias que marcam tal tradio narrativa ainda esto presentes. E so
precisamente estas dimenses que marcam a construo das personagens
nos casos de Sophie, de Anna e de tantas outras.
Tomado como elemento esttico, o excesso se relaciona aos aspectos
de obviedade da estrutura narrativa e aos smbolos que se constroem e
expressam nas imagens e sons. O excesso encontra-se fundamentalmente
como reiterao e saturao, conforme vem argumentando Baltar (2007,
2011).
4 A ttulo de cotejo, poderamos incorporar na presente anlise uma considerao sobre o docu-
mentrio em primeira pessoa Tarnation, de Jonathan Caouette (2003). Assim como nos objetos
efetivamente analisados neste artigo, Caouette como personagem e como subjetividade se ex-
pressa atravessado pelos cdigos genricos da cultura miditica, demonstrando a pertinncia de
se pensar tanto a imagem-excesso quanto a imaginao-excesso, o que ca particularmente bvio
nos vdeos-dirios de sua adolescncia que pontuam o documentrio.
142 MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
Um primeiro caminho para pensar uma estilstica do excesso tem
sido deline-lo a partir dos gneros (seu uso mais contundente, sistemti-
co, mas no exclusivo), e nesse sentido, Linda Williams (2004) faz o uso
do termo como a marca comum do que denomina de gneros do corpo.
Assim, reflete na eficcia do excesso em propor um convite sensrio-sen-
timental estabelecido pela narrativa que se d a partir do corpo em ao,
corpo dado a ver como espetculo e como ancoragem de uma experincia
extasistica. Espetculo e xtase que se combinam a partir da reiterao
e da saturao que no devem ser entendidos como aspectos pejorativos,
mas como regimes de expressividade que marcam a economia do excesso
e com ela a facilidade do engajamento entre obra e pblico. Para cata-
lisar esse convite ao engajamento, o apelo ao visual (ao narrar a partir de
imagens que se estruturam como smbolos e saturando os efeitos senso-
riais da velocidade da montagem e do corte) so elementos fundamentais,
conduzindo ao que Peter Brooks (1995) chama de superdramatizao
da realidade, atravs de uma esttica do astonishment (que gostaramos de
poder traduzir por arrebatamento).
O excesso promove um fluxo de imagens e sons que a um s tempo
esclarece e afoga, intensifica a fora espetacular dos smbolos (exacerbada-
mente elencados) e adensa a fora disruptiva e excitante do xtase (como
vetor da ao que se refora nos efeitos e velocidade dos cortes). Procedi-
mentos imagticos e sonoros (mobilizando a sensorialidade atravs dos
rudos) reiteram e saturam o uso de elementos audiovisuais, para alm
da funo de narrao (storytelling), propondo um superenvolvimento em
sensaes e emoes.
Propomos aqui correlacionar as relfexes apresentadas at agora ao
site YouTube, pois este parece ser um cenrio perfeito para se falar em
excesso. Pela observao de algumas estatsticas, possvel ter-se uma
dimenso aproximada do movimento quase infinito que esse fenmeno
interativo provoca, no que tange produo audiovisual contempornea.
Uma quantidade enorme de vdeos disponibilizada diariamente por
usurios de todas as partes do mundo. Segundo dados disponibilizados
pelo prprio site,
o equivalente a 60 horas de vdeo so carregadas a cada
minuto no site, o que pode ser entendido tambm como cerca de uma
hora de vdeo ser enviada ao YouTube a cada segundo. Alm da quantidade
VIVER CONECTADO143
de material disponibilizado, outro dado que chama a ateno o montan-
te de exibies de contedo computado pelo sistema do site, pois essas
obras so acessadas cada vez mais por mais pessoas. Para se ter uma ideia,
calcula-se que mais de quatro bilhes de vdeos so vistos por dia.
Se, por um lado, nos diversos sites de vdeos da internet, podemos
encontrar todos os aspectos do excesso listados por Lipovetsky e Serroy,
bem como por Williams e Baltar, aspectos esses que fazem parte de uma
nova maneira de lidar com o audiovisual e com a expresso subjetiva de
si, atravs das imagens e sons (a tal imaginao-excesso); por outro lado,
essas caractersticas no se encontram todas reunidas em cada um dos
vdeos encontrados na rede.
Nesse artigo, contudo, interessa-nos principalmente pensar o exces-
so como uma ferramenta narrativa utilizada nesses dois exemplos de v-
deo abordados. Percebemos que a quantidade e a velocidade de imagens e
sons so parte da linguagem escolhida para contar essas histrias e cons-
truir essas personagens que clamam por empatias (destacamos aqui o ide-
al de famlia e a subjetividade adolescente que construda na relao do
pai com Sophie e nas interaes de Anna com seus diversos amigos nas
redes sociais, respectivamente).
De uma maneira aparentemente contraditria, esse excesso arti-
culado a uma sntese da durao desses vdeos, pois h uma saturao de
informaes transmitidas, em um ritmo frentico, e apenas um ou dois
minutos de produto final. A sntese temporal tambm pode ser associada
a outra forma de simplificao, expressa pelo fato de que ambos os vdeos
so construdos por planos muito parecidos entre si.
O vdeo Google Chrome Dear Sophie, por exemplo, tem apenas 1 mi-
nuto e trinta e dois segundos de durao. Trata-se da histria de um pai
que registra diversos momentos da vida de sua pequena filha, Sophie, e
escreve e-mails para a prpria menina, contando as histrias de sua in-
fncia. O personagem do pai parece acreditar que dessa forma, no futuro,
poder compartilhar com Sophie essas emocionantes experincias vividas
pelos dois. O vdeo que j bastante curto, poderia ser dividido ainda
em 15 sequncias muito rpidas que representariam os episdios mais
importantes da infncia de Sophie, seriam elas: a criao de uma conta
de e-mail, o dia do nascimento, o primeiro aniversrio, um dia no parque
144 MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
de diverso, a chegada do irmozinho, o dia que Sophie ficou doente, seu
quarto aniversrio, a casa da famlia, o dia dos pais, frias na praia, brin-
cadeiras na neve, a troca de dentes, aprender a andar de bicicleta, aula de
bal e um balano geral do papai. O vdeo tem, aproximadamente, 50 pla-
nos e esse excesso, como comentamos, pode ser considerado juntamente
como um aspecto de sntese: cria-se a impresso que todas as imagens
foram captadas com uma cmera em um nico ngulo, o ponto de vista
de algum que olha para a tela do computador.
O vdeo sobre a adolescente Anna Bee tem cerca de 60 planos e du-
rao total de dois minutos. Toda a histria se passa no quarto dessa ado-
lescente, durante a tarde e a noite de um dia de tera-feira. O primeiro
plano tem o ponto de vista oposto da histria sobre a menina Sophie: aqui
enxergamos com os olhos da webcam do laptop de Anna. A histria co-
mea quando ela abre o computador. Nesse vdeo j no to fcil definir
sequncias, pois no h mudanas de locao, as passagens temporais
so pequenas e difcil diferenciar algumas situaes dramticas. Mesmo
assim, possvel dividir o vdeo em nove momentos, ou sequncias: fazer
login, abrir redes sociais, procurar coisas engraadas na internet, criar um
blog e um perfil, checar a caixa de e-mails, fazer download de arquivos, n-
mero musical, checar redes sociais, ficar ausente do computador, assistir
vdeos na internet. Em todo o material, percebemos praticamente apenas
dois pontos de vista, o ngulo de viso da webcam e o ponto de vista de
Anna, do que ela v na tela do computador. Diferentes dessas duas opes,
s encontramos dois pequenos planos que marcam a passagem do tempo
no vdeo.
Sem contar as imagens e sons que fazem parte dos vdeos, cada um
desses exemplos possui uma pgina repleta de outras informaes que
contribuem para o entendimento da histria e das personagens. No vdeo
sobre Sophie, s conseguimos saber que se trata de uma propaganda do
Google Chrome pelo ttulo do vdeo, e ainda podemos ler o resumo da hist-
ria, logo abaixo da janela de exibio: um pai usa a web para compartilhar
memrias com a filha enquanto ela cresce nesse vdeo retrato.
5
Mesmo
assim, o texto permite a dvida sobre se as imagens do vdeo so parte de
5 Traduo livre.
VIVER CONECTADO145
uma obra de fico ou se so registros pessoais disponibilizados para essa
publicidade.
Tambm apenas a partir da anlise do canal do YouTube, onde est
disponvel o vdeo sobre Anna Bee, que entendemos que este se trata de
um episdio de uma srie. Aqui a questo sobre ser uma pea documen-
tal, ou no, minimizada por conta da tcnica de animao. Mas devemos
enfatizar que toda a histria construda com base na possibilidade de
estarmos diante de um relato autobiogrfico de Anna. O vdeo em questo
no tem crditos, assim como no os tem nenhum outro vdeo do canal.
A nica informao sobre a sua procedncia o endereo <www.anna-
bee.com.br>, que aparce ao final do produto, que indica o caminho para
encontrarmos o blog da personagem principal. Nem nesse blog, e nem
nas outras peas do projeto disponveis na rede encontramos pistas sobre
a empresa produtora ou indicao de autoria
6
por um terceiro que no a
prpria adolescente. A ideia parece ser, justamente, permitir que a histria
habite um territrio aparentemente neutro, na frontreira entre realidade e
fico. O que, mais uma vez, aproxima a adolescente Anna de outras tan-
tas meninas que vivem entre a exposio de si e a construo de mscaras
para as vivncias que acontecem em ambientes on-line.
Na verdade, esses vdeos e suas pginas no YouTube so apenas os
primeiros planos narrativos dessas histrias. Tem sido comum no cen-
rio das narrativas encontradas na internet, que sejam quase infinitas as
fontes que podem contribuir para contar mais sobre os personagens e a
narrativa, com informaes oficiais ou no. Alm disso, muitos dos dados
a que se tem acesso nas pginas desse site expressam as possibilidades do
pblico interagir entre si e com os produtores dos vdeos.
No site YouTube raramente um vdeo apenas um produto audio-
visual. A experincia para quem disponibiliza vdeos e para quem os as-
siste pode, aparentemente, ser compreendida somente pela exibio das
imagens e sons disponibilizados. Porm, na grande maioria das vezes, o
vdeo apenas o componente principal de uma srie de possibilidades de
6 Embora no seja o foco da discusso proposta aqui, no se pode deixar de apontar que a questo
em torno dos novos regimes de autoria outro aspecto intrigante desse novo fenmeno da pro-
duo de contedos para plataformas on-line.
146 MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
interao, que se do dentro e fora da pgina do vdeo no YouTube. Isso
expresso por algumas das informaes contidas na pgina de cada vdeo.
Google Chrome Dear Sophie foi comentado 6.141 vezes e 25.268 pes-
soas manifestaram que gostam do vdeo, contra apenas 2.596 avaliaes
negativas. Annabee.log//#1:Oi Eu sou a Anna! recebeu 90 comentrios e,
enquanto 210 pessoas manifestaram gostar do vdeo, apenas cinco disse-
ram no ter gostado. Alm dessas aes, os usurios do YouTube podem
selecionar esses vdeos como um de seus favoritos ou podem comparti-
lhar esses materiais com seus contatos ou amigos, por meio de outras
redes sociais, tais como Facebook e Twitter.
Mas no apenas por conta desses dados que podemos perceber um
convite participao nessas duas histrias. As relaes das duas prota-
gonistas com os outros personagens e com o mundo diegtico de cada
narrativa so expressas nos vdeos pela participao delas em interaes
que se do, primordialmente, em espaos virtuais. Seja pela troca de tex-
tos, de fotos, de vdeos, seja pelo compartilhamento em redes sociais. E
essas aes on-line so apresentadas como de extrema importncia na vida
dessas duas meninas. bastante simblico, por exemplo, que a primeira
situao narrada no vdeo Google Chrome Dear Sophie a criao de um
e-mail para a menina que ainda no havia nem sequer nascido, em Anna-
bee.log//#1:Oi Eu sou a Anna!, a histria s comea quando ela abre o seu
laptop.
Pesquisando informaes sobre a srie de vdeos Anna Bee, podemos
considerar que se trata de um projeto transmdia, que segundo Henry
Jenkins (2009, p. 138) pode ser definido como um tipo de narrativa que
[...] desenrola-se atravs de mltiplas plataformas de mdia, com cada
novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Anna
tambm tem blog, perfil no Facebook, no Twitter e no Flickr e a histria
dessa adolescente contada em todos esses canais. possvel at mesmo
sugerir que um dos motivos para que os episdios da srie sobre Anna
Bee sejam to curtos e acelerados e ainda assim funcionarem para con-
tar uma histria seja para que eles tambm sirvam de convite para que
os espectadores busquem novas informaes sobre a srie e sobre sua
protagonista em outros lugares da internet.
VIVER CONECTADO147
Essa uma das razes para que consideremos que esses dois vde-
os citados apresentem certa transmidialidade como caracterstica. Mes-
mo considerando apenas os contedos audiovisuais, percebemos que os
personagens Sophie e Anna se relacionam com o mundo de uma forma
transmiditica. Acreditamos que elas tm suas existncias em um mundo
tambm off-line, mas uma parte importante de suas histrias transcorre
em plataformas on-line. Seja nos vdeos postados no YouTube, nas redes
sociais, nos blogs ou na conta de e-mail, uma parte da relao desses per-
sonagens consigo e com os outros, entre ntimos e estranhos, se d, si-
multaneamente, em diversas mdias.
Essas caractersticas que apontamos nesses dois personagens trazem
em si algumas marcas histricas do cenrio contemporneo. importante
refletir sobre aspectos dessa sociedade que podem ser associados ao que
foi tratado at aqui.
MODERNIDADE E CRISE: PRODUTOS CULTURAIS E TECNOLOGIA
COMO VETORES DE MUDANAS
Antes de relacionar as caractersticas encontradas nos vdeos analisados
com a nossa vida cotidiana, sugerimos uma breve reflexo sobre transfor-
maes que vm desestabilizando os principais pilares da modernidade.
Acreditamos que, tanto as artes, como as tecnologias podem ser entendi-
dos como agentes e reflexos de muitas dessas mudanas.
Tomada como perodo histrico, a modernidade marcada por certo
desamparo ideolgico usualmente denominado como era ps-sagrada e
ps-feudal associado ao surgimento de uma racionalidade instrumental
e cientfica. (SINGER, 2001, p. 95) Foi tambm uma poca que podia ser
associada a algumas instituies de confinamento e padronizao da
vida em moldes industriais. Tanto a famlia, a escola, a fbrica, a priso, os
hospitais e os asilos se caracterizavam pelo uso de diversos mecanismos
disciplinares e de uniformizao. Isso possibilitou o entendimento des-
sa sociedade enquanto uma sociedade disciplinar, tal qual argumentou
Michel Foucault, percebendo como determinado tipo de subjetividade,
compatvel com o capitalismo industrial, e eficaz para esse sistema, foi se
formando.
148 MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
O indivduo moderno definido fundamentalmente por seus senti-
mentos e pensamentos ntimos, alimentados pelas relaes afetivas e pes-
soais nos seus espaos de privacidade. Na modernidade, alm das paredes
que delimitavam essas instituies de confinamento e tantas outras que
faziam parte da vida cotidiana de todos (sindicatos, igrejas, partidos polti-
cos etc.), havia outras fronteiras slidas que separavam, por exemplo, o es-
pao privado, onde se podia expressar a verdade de si, e o espao pblico,
onde era preciso se proteger dos perigos e dos estranhos. A vida moderna
tambm criou os relgios de pulso e uma nova temporalidade, instituindo
a jornada de trabalho, o horrio para acordar, a hora de entrar e sair da
escola. Assim, a rotina diria e toda a vida das pessoas seriam marcadas
por uma diviso clara do tempo, que separava tambm os momentos de
trabalho, de estudo, de descanso e de lazer.
Entretanto, para falar da sociedade de hoje e das histrias de vida que
encontramos expressas em muitos espaos da internet, sejam de pessoas
reais, sejam de personagens como Anna e Sophie, faz-se necessrio avaliar
se essas fronteiras ainda podem ser consideradas, ou quais os seus senti-
dos. Acreditamos que agora, por exemplo, dificilmente poderamos pensar
em um sujeito que se defina, sobretudo, em suas relaes de intimidade,
pois se tornou complexa a diferenciao entre espao pblico e espao pri-
vado. No mesmo sentido, pouco provvel que consigamos enxergar uma
padronizao na maneira como todos ns delimitamos o nosso tempo de
trabalho e de lazer, ou mesmo se ainda seria possvel diferenci-los. At
mesmo a oposio realidade x fico, que outrora parecia ser clara, tem
se tornado mais e mais assumidamente nebulosa, como ilustram os dois
exemplos de vdeos que comentamos neste artigo. E, alm disso, mesmo
aquelas paredes que separam as ditas instituies de confinamento apare-
cem hoje como cada vez menos densas.
Em vista de tantas mudanas, muito difcil encontrar um ponto claro
de ruptura em nosso curso histrico, que separe o antes e o agora. Segundo
Gilles Lipovetsky (2004, p. 2), seria impossvel decretar-se o bito da mo-
dernidade, o que faz o autor recusar o termo ps-moderno para qualificar
o novo estado cultural das sociedades desenvolvidas. Lipovetsky ressalta
que a denominao tem o mrito de salientar uma mudana de direo,
uma reorganizao em profundidade do modo de funcionamento social e
VIVER CONECTADO149
cultural, e mesmo de marcar o enfraquecimento das normas autoritrias
e disciplinares (LIPOVETSKY, 2004, p. 1); contudo, argumenta, faz mais
sentido falar de um fortalecimento do capitalismo do que de seu fim. As-
sim, o autor prefere o termo hipermodernidade. Se as instituies e as nor-
mas disciplinares contribuam para produzir sujeitos eficazes ao sistema
capitalista de produo, hoje esses mecanismos j no seriam necessrios,
as pessoas estariam dispostas a contribuir para o sistema de maneira vo-
luntria. Ou seja, se tnhamos uma modernidade limitada; agora, che-
gado o tempo da modernidade consumada. (LIPOVETSKY, 2004, p. 2)
7
J sem negar o termo ps-modernidade, Anne Friedberg mais uma
autora que questiona a proclamao de um claro e nico momento de
ruptura, capaz de separar o que seria a modernidade da ps-modernidade.
Ela destaca a importncia do cinema como agente e efeito da experincia
moderna, e afirma ser necessrio pensar algumas mudanas nas formas
de espectatorialidade, no apenas como sintomas de uma condio ps-
-moderna, mas tambm como causas que contribuem para o atual estado
de coisas. No texto Cinema and postmodern condition, de 1997, ela sugere
que um gradual e confuso rasgo no tecido da modernidade poderia ser re-
lacionado ao cinema e televiso. (FRIEDBERG, 1997, p. 60) Sem entrar
na hiptese principal defendida no artigo,
8
nos parece bastante interes-
sante a argumentao de Friedberg, pois, segundo ela, nos anos de 1990,
a experincia de um espectador de cinema teria passado por reformula-
es de temporalidade produzidas pela prpria maneira de se vivenciar
a experincia de assistir a um produto audiovisual. Essas transformaes
teriam sido proporcionadas especialmente pela popularizao do cinema
multiplex e do videocassete, bem como por novas formas de olhar engen-
dradas pelos aparatos tecnolgicos. O cenrio diagnosticado por Friedberg
7 Ainda que usando referenciais e nomenclaturas distintas, tal linha de argumentao, que se afasta
das conotaes mais restritas do termo ps-moderno, encontrada em diversos outros autores,
como Anthony Giddens e at certo modo Zygmunt Bauman. Aqui no cabe entrar nessa discusso
e, por uma questo de recorte e coerncia terica, seguiremos usando o vocabulrio e os argu-
mentos de Lipovestky.
8 Anne Friedberg trabalha com o conceito de mobilized virtual gaze. Sua argumentao diz res-
peito crescente centralidade cultural da imagem, tanto no cinema como na televiso. Essa seria
uma causa importante para as mudanas relacionadas a essa passagem da modernidade para a
ps-modernidade.
150 MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
em seu artigo, em que pese o alinhamento ao uso do termo ps-moderno,
est bastante prximo ao cenrio descrito por Lipovetsky, ao refletir sobre
a hipermodernidade. Aqui aproximamos os dois autores e suas reflexes,
pois este sem dvida o contexto histrico de formao dessa subjetivida-
de contempornea acionada nos vdeos analisados.
Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2009, p. 11-12) tambm se referem
a uma srie de invenes tecnolgicas, iniciadas com a disseminao da
tecnologia do vdeo, que teriam contribudo para a consolidao de um
caminho rumo ao que chamam de hipercinema. Com os novos aparatos
de comunicao e entretenimento, o cinema teria perdido o seu posto de
nico espelho da sociedade moderna. Durante muito tempo a tela de ci-
nema foi a nica e a incomparvel, agora ela se funde numa galxia cujas
dimenses so quase infinitas: chegamos poca da tela global.
Assim como Gilles Deleuze (1992, p. 216), pensamos que a cada
tipo de sociedade, evidentemente, pode-se fazer corresponder um tipo de
mquina [...]. A fotografia e o cinema, a televiso e o videocassete, assim
como o computador, a internet, as cmeras digitais e os celulares (muitas
vezes todos reunidos em um nico aparelho) podem ser associados a um
contexto social especfico, justamente porque essas tecnologias, alm de
serem criadas por uma sociedade, tm o poder de intervir na realidade,
como agentes de transformaes, como Anne Friedberg e tantos outros
autores defendem.
A modernidade nos fez refletir sobre a importncia das mquinas
(em especial as mquinas do visvel) como organismos ativos atravessa-
dos por linhas de poder e intimamente conectados aos aspectos polticos,
econmicos, sociais e culturais de seus momentos histricos. Entretanto,
no podemos nos privar de analisar outro forte componente de toda essa
dinmica: a saber, os produtos culturais. Se na modernidade a diferencia-
o entre arte, entretenimento, registros amadores e publicidade foi se
tornando complexa e, digamos, dessacralizada, hoje a tarefa de separar
esses materiais se tornou praticamente impossvel.
Argumentamos que principalmente no cenrio da hipermodernida-
de, a participao das tecnologias como agentes e efeitos desse processo
de dessacralizao crucial. Gradativamente, a reprodutibilidade, caracte-
rstica da fotografia e do cinema, intensificou a separao entre a arte e o
VIVER CONECTADO151
sagrado, e possvel perceber dois caminhos paralelos que foram deline-
ados a partir dessa ruptura.
De um lado, o artista e a obra de arte foram libertados de suas obri-
gaes religiosas e passaram a poder refletir sobre outros aspectos da vida
social e sobre a prpria expresso artstica. A arte se volta para o mundo
secular e passa a reivindicar a sua importncia histrica. Por outro lado,
contudo, outros tipos de imagens e registros, antes no considerados ar-
tsticos, passaram a deter certo valor de culto tipicamente moderno, afas-
tado da religio e de Deus. Os registros tcnicos adentraram os lares e con-
triburam para fortalecer a memria ntima como fonte de sentido da vida.
(DIOGO, 2010, p. 157) Vale lembrar que Walter Benjamim, ao perceber
o declnio do valor de culto nas artes modernas, em favor de um valor de
exposio, no deixa de notar que [...] o valor de culto no se entrega sem
oferecer resistncia. As fotografias ntimas, por exemplo, se tornariam um
abrigo para aquilo que havia restado de mgico: pessoas comuns. dessa
forma que, segundo Benjamim afirma, a aura acena pela ltima vez na
expresso fugaz de um rosto [...]. (BENJAMIN, 1985, p. 174)
Por mais prximo da realidade que as obras de arte conseguissem
chegar, preciso destacar que nem todos os criadores eram considerados
artistas. No se tratava mais de um dom divino, mas o talento e a geniali-
dade diferenciavam a obra de arte do que seriam produtos comerciais ou
amadores. E havia ainda outro componente. O artista e sua arte, para assim
serem considerados, eram muitas vezes cobrados de uma capacidade de
reflexo e crtica, de expressar uma viso de mundo que permitia sinalizar
caminhos. Nesse sentido, muitos tericos modernos tentaram diferenciar
os bons e os maus artistas e obras. Esses autores, muitas vezes, avalia-
vam o entretenimento e a publicidade, por exemplo, como produes de
menor valor e, at mesmo, nocivas liberdade, j que eram taxadas como
parte de um sistema de manipulao dos indivduos. Sem sombra de d-
vidas, essa perspectiva no era um ponto pacfico entre os estudiosos da
comunicao, mas orientou o pensamento de muitos crticos.
Entretanto, com todas as transies que a sociedade moderna vem
passando, esse tipo de discurso parece estar se dissolvendo. Segundo
Zygmunt Bauman, diferente das artes ditas modernas, as artes ps-mo-
dernas alcanaram um grau de independncia da realidade no-artstica,
152 MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
que as liberta da obrigao de refletir a sociedade e o sentido da arte no
contexto histrico. Porm [...] h um preo a ser pago por essa liberda-
de sem precedentes: o preo a renncia ambio de indicar as novas
trilhas para o mundo. (BAUMAN, 2006, p. 129) Assim, enquanto a arte
deixa de refletir sobre o seu papel histrico no mundo, imagens amadoras
e ntimas so expostas como dotadas de sentido, e deixa de existir uma
diferenciao clara, entre esses dois tipos de registros, a publicidade e o
entretenimento. Dessa forma, como sustenta Bauman (2006, p. 135), [...]
a arte e a realidade no-artstica funcionam nas mesmas condies, como
criadoras de significado e portadoras de significado, num mundo notrio
por ser simultaneamente afortunado e flagelado pela insuficincia e pelo
excesso de significados.
PERSONAGENS CONECTADOS: EXCESSO E TRANSMIDIALIDADE
EM NOSSAS VIDAS
Segundo Henry Jenkins, a era da convergncia diz respeito a [...] uma
mudana no modo como encaramos nossas relaes com as mdias.
(JENKINS, 2009, p. 51) De fato, desde o surgimento do cinema at os dias
de hoje muita coisa mudou em nossa relao com as tecnologias da co-
municao e na maneira como valorizamos essa relao dentro da experi-
ncia social de nossas vidas. Entretanto, no o estudo isolado das mdias
(novas ou antigas) que contribuir para entendermos as reconfiguraes
que esto agindo ao nosso redor. Em si, as mquinas no explicam nada
e, assim como afirma Deleuze, defendemos aqui ser [...] preciso analisar
os agenciamentos coletivos dos quais elas so apenas uma parte. (DE-
LEUZE, 1992, p. 216)
A observao dos vdeos Google Chrome Dear Sophie e Annabee.log//#1:
Oi Eu sou a Anna!, como exemplos de um novo tipo de material audio-
visual que encontramos na internet, pode nos fornecer algumas pistas
para entender esse novo agenciamento coletivo do qual fazemos parte.
O primeiro uma pea de publicidade e o segundo um episdio de uma
srie que faz parte de um projeto transmdia. A forma narrativa, o espao
de sua visualizao (e de outras formas de interao) e especialmente a
construo de seus personagens principais parecem dialogar de maneira
VIVER CONECTADO153
muito prxima com a forma como vivemos e nos relacionamos com o
mundo, hoje, possibilitando perceber como o excesso e a transmidialidade
fazem parte das experincias cotidianas.
Como Bauman (2006, p. 130), intumos que se a arte ou outras
expresses culturais, se que essa diferenciao ainda possvel no se
cobra um sentido histrico, ns podemos encontr-lo: um socilogo, po-
rm, pode reconhecer nela a conseqncia [...] de seus feitos. Assumindo
um pouco dessa responsabilidade, apontamos que, assim como Sophie e
Anna, cada vez mais vivemos conectados e parte da nossa experincia se
d em diversas plataformas miditicas em um mundo, digamos, virtual.
A multitude de informaes e a intensificao da sensao geral de velo-
cidade, bem como o excesso como cdigo e marca esttica dos produtos
culturais, esto presentes no cotidiano dos sujeitos contemporneos e fa-
cilmente percebe-se a necessidade generalizada de participar e compar-
tilhar textos, imagens e sons, em redes sociais, blogs, e-mails, para dizer
quem somos, apontar nossos gostos, estabelecermos relaes afetuosas e
manifestar nossos valores e ideais.
O site YouTube, os dois vdeos que trouxemos como exemplos e, prin-
cipalmente, as personagens que nos foram apresentadas nesses produtos
audiovisuais nos falam de uma nova maneira de ser que passa pelo uso
de novas mdias. Uma nova forma de nos relacionarmos conosco, com os
outros e com o mundo. Uma forma que fala de como a transmidialidade
(uma espcie de desdobrar-se narrativamente em muitas pequenas nar-
rativas de si) e o excesso (onde tais desdobramentos se oferecem ao olhar
pblico como imagens reiteradas e saturadas de cdigos e repertrios fa-
cilmente reconhecveis que se transmitem por hiperestmulos sensrio-
-sentimentais, que mobilizam, arrebatam e seduzem) nos formam con-
temporaneamente.
REFERNCIAS
ANNAHOTHOTMAILS. Annabee.log//#1:Oi, eu sou a Anna! 2011. Disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=i0jiU3j8OTY>. Acesso em: 13 nov. 2012.
BALTAR, Mariana. Realidade lacrimosa: dilogos entre o universo do documentrio
e a imaginao melodramtica. 2007. 269 f . Tese (Doutorado em Comunicao)
Faculdade de Comunicao, Universidade Federal Fluminense, 2007.
154 MARIANA BALTAR E LGIA DIOGO
BALTAR, Mariana. Evidncia invisvel: Blow Job, vanguarda, documentrio e
pornografia. Revista Famecos: mdia, cultura e tecnologia, Porto Alegre, v. 18, n. 2, p.
469-489, maio/ago. 2011.
BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da ps-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2006.
BAZIN, Andr. Ontologia da imagem fotogrfica. In: XAVIER, Ismail (Org.).
A experincia do cinema: antologia. Rio de Janeiro: Edies Graal; Embrafilmes,
1983. p. 121-128.
BENJAMIN, Walter. Pequena histria da fotografia. In: ______. Obras escolhidas:
magia e tcnica, arte e poltica. So Paulo: Editora Brasiliense, 1985. p. 91-107.
______. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade tcnica. In: ______. Obras
escolhidas: magia e tcnica, arte e poltica. So Paulo: Editora Brasiliense, 1985. p. 163-196.
BROOKS, Peter. The Melodramatic Imagination Balzac, Henry James, melodrama and
the mode of excess. New Haven and London: Yale University Press, 1995.
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. YouTube e a revoluo digital: como o maior
fenmeno da cultura participativa vai transformar a mdia e a sociedade. So Paulo:
Aleph, 2009.
DELEUZE, Gilles. Controle e devir e Post-Scriptum sobre a sociedade de controle.
In: ______. Conversaes. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. p. 209-226.
DIOGO, Lgia. Vdeos de famlia: entre os bas do passado e as telas do presente.
2010. 183f. Dissertao (Mestrado em Comunicao) Faculdade de Comunicao,
Universidade Federal Fluminense, Niteri, 2010.
ECO, Umberto. A vertigem das listas. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2010.
ENNE, Ana Lcia. O sensacionalismo como processo cultural. Comunicao
e Melodrama. Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, jul./dez. 2007.
FRIEDBERG, Anne. Cinema and postmodern condition. In: WILLIAMS, Linda (Org.)
Viewing Positions. Ways of seeing film. New Jersey: Rutgers University Press, 1997.
p. 59-83.
GIDDENS, Anthony. As consequncias da modernidade. So Paulo: Editora Unesp, 1991.
GOOGLE Chrome: Dear Sophie. 2011. Disponvel em: <http://www.youtube.com/
watch?v=R4vkVHijdQk>. Acesso em: 13 nov. 2012.
GOOGLE Chrome. Por que usar o Google Chrome? Disponvel em: <http://www.
google.com/chrome/intl/pt-BR/more/index.html?hl=pt-BR>. Acesso em: 18 ago. 2011.
JENKINS, Henry. Cultura da convergncia. So Paulo: Aleph, 2009.
LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos: tempo contra tempo, ou a sociedade
hipermoderna. So Paulo: Editora Barcarolla, 2004.
______; SERROY, Jean. Tela global: mdias culturais e cinema na era hipermoderna.
Porto Alegre: Sulina, 2009.
VIVER CONECTADO155
SINGER, Ben. Modernidade, hiperestmulo e o incio do sensacionalismo popular.
In: CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa. O cinema e a inveno da vida moderna.
So Paulo: Cosac &Naif, 2001. p. 95-123.
WILLIAMS, Linda. Film Bodies: gender, genre and excess. In: BAUDRY, L.; COHEN,
M. (Org). Film Theory and criticism. New York: Oxford Universty Press, 2004.
YOUTUBE. Statistics. [2011?]. Disponvel em: <http://www.youtube.com/t/press_
statistics.>. Acesso em: 13 nov. 2012.
157
BRUNO COSTA
Nova visibilidade em cena
mapeando a cultura de estadia prolongada
nos universos ccionais
Um olhar mais apurado s hodiernas relaes entre os consumidores e
os produtos culturais deixa ver desenhos de uma nova interao entre os
indivduos e a cultura pop. Esta interao toma forma, em manifestaes
que estendem e alargam a estadia nos universos ficcionais, e abrem lugar
para a fala de novos sujeitos. Tanto na fan fiction como nos fan films, este
desejo de permanecer envolvido no mundo paralelo da fico torna-se pa-
tente, a vontade de continuar em contato com o universo ficcional talvez
seja uma das foras mais marcantes para impulsionar a produo dos fs.
1
Estes exerccios, entretanto, no revelam completamente algumas impor-
tantes nuanas da relao dos espectadores com os produtos culturais, na
contemporaneidade. Ser nos fruns de discusso espalhados na internet
que poderemos ver traos adicionais de uma renovada relao de especta-
torialidade. Esta relao, todavia, no passa pela alternncia de papis, no
como na fan fiction ou nos fan films, em que os habituais consumidores
passam a ser eventuais produtores de contedo. Se existe um ponto em
comum entre a prtica de produzir materiais derivados e o ato de postar
comentrios, este est assinalado pelo desejo de marcar o contato entre os
fs e seus produtos favoritos atravs de exerccios dialgicos.
1 Muitos dos lmes feitos por fs esto disponveis no YouTube, tais quais Batman: dead end, Street
Fighter Legacy, Troops by Kevin Rubio, The hunt for Gollum e Gremlins fan lm, s para citar alguns.
158BRUNO COSTA
Se antes boa parte deste dilogo era mediado pelos meios de comu-
nicao que cumpriam a funo de apresentar os produtos e estabelecer
uma ponte entre eles e a sociedade agora, nos fruns, parece haver um
distanciamento das prticas que informavam a crtica cultural. No se tra-
ta exatamente de formular relaes a partir do texto e nem de pesar esteti-
camente a qualidade das obras, a observao mais cuidadosa destes fruns
mostra, como o mais importante, delimitar um espao de participao.
Esta postura, por sua vez, coaduna com os novos regimes de visibilidade
em ao na contemporaneidade. Portanto, ser visto, comentado ou notado
passa a ser um dos objetivos principais.
Este comportamento no isento de seu componente paradoxal, afi-
nal se muitos dos produtos que agregam legies de fs so marcados pela
tipicidade, ampla abrangncia e carter massivo, a reao dos indivduos
no deixa de ser uma tentativa de assinalar uma subjetividade, ou seja,
fazer notar a presena de um sujeito no outro lado da mediao. Esta ten-
tativa de se fazer notar talvez explique as posturas extremadas e muitas
vezes francamente hostis vistas nestes espaos, comportamento que pode
ser observado, por exemplo, no site Omelete, que possui um frum de alta
frequentao,
2
em que os debates no raro so marcados por posiciona-
mentos antagnicos e, muitas vezes, francamente agressivos.
3
Neste site v-se tambm um alargamento do processo de consumo
que caracteriza a cultura de prolongada estadia nos universos ficcionais.
Se em um perodo anterior o momento de fruio da obra constitua o
cume da relao com o objeto artstico (um cume que ainda geraria ou-
tros picos, como a crtica, o debate e a repercusso social), no ambiente
da cultura massiva contempornea, v-se como estratgia dos produtores
a tentativa de prover uma considervel distenso temporal do processo
de fruio, para manter notado, comentado e visvel, o produto cultural
(estratgia que tem como sua contraparte quase especular os fan films e a
fan fiction).
2 Ver, por exemplo, o nmero de comentrios postados em cada uma das mais de 70 notcias re-
lacionadas ao novo lme do Batman, desde 2009, at a sua estreia, em julho de 2012. Disponvel
em: <http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge/>.
3 Postura conrmada pelo uso de moderadores e tambm, como no caso do Omelete, de negativa-
o e positivao, por parte dos frequentadores.
NOVA VISIBILIDADE EM CENA159
Este um quadro bem distinto daquele composto no auge da arte
moderna. Considerando que um dos efeitos da esttica modernista foi
chamar cada vez mais a ateno para a obra e seu autor, pesando ainda
esta caracterstica a partir de vrios contorcionismos que marcavam e de-
limitavam o estilo pessoal ou uma corrente, temos como resultado uma
srie de obras que exigiam algo como uma educao esttica ou, ao me-
nos, um comprometimento por parte do espectador mesmo que fosse
um comprometimento com a iconoclastia, como proposto pelos dadastas.
No por acaso, um dos apelos da nascente cultura massiva do sculo XX
foi o populismo, ou seja, sua capacidade de aceitar todo tipo de apreciado-
res. A possibilidade de um engajamento casual, episdico e descompro-
missado terminou sendo um dos trunfos dos produtos culturais. Contra o
elitismo da arte, a cultura massiva ampliou o acesso e se especializou em
marcar seus produtos com o selo da acessibilidade. Esta possibilidade de
uma relao casual, por sua vez, revelou-se tambm como uma armadi-
lha dentro da lgica do consumo. Pensado como produto, o bem cultural
precisava ser cativante, leve e interessante e, ao mesmo tempo, manter o
consumidor por perto.
Uma das estratgias para estender a relao de consumo foi a cria-
o de gneros, mais marcadamente no cinema. Deste modo, a satisfao
fugaz garantida por um produto era estendida a outros produtos seme-
lhantes, que garantiam pores adicionais para o apetite dos consumi-
dores. Outras estratgias tambm foram desenvolvidas para contornar o
carter descartvel dos produtos culturais massivos, como, por exemplo,
a serializao, que no terreno do audiovisual gerou as sries televisivas,
novelas e outros produtos similares. O efeito destas estratgias de venda
foi bem-sucedido, mas medida que a prpria indstria ia crescendo, seu
gigantismo acabava por minar as benesses destas estratgias. No fim do
sculo XX a opo pelo pblico amplo comeou a se equacionar cada vez
mais com a criao de nichos ou grupos mais delimitados (fossem por cri-
trios demogrficos, tnicos, econmicos, etc). O comeo do sculo XXI,
por sua vez, exigiu novas mudanas, muito graas ao amplo acesso a estes
produtos e s prticas de compartilhamento, pirataria e globalizao dos
mesmos pela internet.
160BRUNO COSTA
A necessidade de fazer sobressair seu produto neste ambiente em
que tudo pode ser decomposto e recomposto em bits ser, portanto, um
dos motores da criao da cultura de estadia prolongada nos universos
ficcionais. A luta contra a caracterstica intrnseca de produto consumvel
no sentido que Arendt (2009) destaca, ou seja, como algo que se conso-
me completamente no processo de fruio comeou a demandar novos
produtos derivados. Hoje em dia, estes produtos tomam a forma de factoi-
des criados especialmente pelos produtores de acordo com o apetite voraz
dos consumidores. No cinema marcadamente comercial contemporneo
estes factoides usam a internet como plataforma tima de lanamento.
Graas sucesso de notcias e de materiais subsidirios, relacionados
principalmente s grandes produes cinematogrficas, abre-se uma nova
janela para a discusso das mais variadas etapas do processo de produo:
a escolha do elenco, o delineamento da estria, as artes conceituais, as
fotografias (oficiais ou no), os trailers e teaser trailers e, finalmente, as
filmagens amadoras da produo do filme. Estes factoides, por sua vez,
reverberam nos fruns de discusso e tambm em blogs e outros cong-
neres. J no se trata, portanto, de uma relao majoritariamente centrada
na exibio do filme e nem somente de um prolongamento da estadia,
para alm da exibio, na forma de produtos derivados. Muito antes de
um filme adquirir a sua forma final, os fs j esto envolvidos no universo
paralelo, seja para discutir figurinos, para comentar notcias, para dar sua
opinio sobre os elencos e tambm para especular sobre o desenho final
do filme.
Este contnuo contato com a cultura pop dialoga claramente com o
ideal de ubiquidade que trespassa as anlises da cultura contempornea.
Estar sempre por perto para comentar e opinar aponta para um consu-
midor que est sempre em todos os lugares e em nenhum lugar. Pesa-
do a partir do eixo da espectatorialidade, este novo comportamento pode
ajudar a repensar claramente algumas atitudes de consumo, fornecendo
material para reavaliarmos a atividade e a passividade envolvidas no pro-
cesso de fruio dos produtos culturais. Estar sempre ativo, sempre em
movimento, aponta para uma atitude eminentemente oposta ao exerccio
de retiro para observao e fruio. A atividade febril dos fruns pode,
portanto, iluminar mais claramente alguns padres de comportamento
NOVA VISIBILIDADE EM CENA161
envolvendo os regimes de participao destes consumidores, sendo assim
objetos ricos para repensarmos a troca de lugares e a negociao dos indi-
vduos com a cultura pop.
ESPECTATORIALIDADE
Questionar a posio do espectador perante os produtos culturais massi-
vos no constitui, por si s, um novo campo de investigao. Boa parte das
reflexes acerca do surgimento do cinema, por exemplo, preocupava-se
com as novas relaes de espectatorialidade inauguradas por um meio
capaz de envolver os consumidores em uma espcie de imerso quase
completa. O cinema conseguiu estabelecer um regime de participao que
permitiu ao espectador superar o choque causado pelas mudanas sen-
srio-perceptivas ativadas em fins do sculo XIX. Estas mudanas foram
ativadas a partir da consolidao de um cenrio de intensa circulao de
signos visuais que caracterizava os espaos urbanos disjuntivos e desfa-
miliarizados da metrpole moderna. (CRARY, 1992) As novas exigncias
relacionadas viso demandavam uma renovada mobilizao do olhar.
Neste aspecto, o cinema desenvolve uma forma tima ao compor um mo-
delo que incorpora a atitude de observao passiva de um movimento lon-
gitudinal potencializada a partir da experincia da viagem do trem e
isola o espectador do contnuo comrcio de signos visuais. (AUMONT,
2004) O aprimoramento do dispositivo da sala de cinema que, aos pou-
cos, deixa os lugares mais pblicos, abertos e improvisados, em direo a
sua configurao atual, marcada pela ausncia de luz, pelo silncio e pelo
completo direcionamento de ateno projeo, s fez acentuar o poten-
cial imersivo dos filmes.
4
Diferentemente da contemplao reflexiva objetivada no museu, mas
tambm um tanto distante da participao exigida pela encenao teatral,
4 Aumont (2004, p. 61) mostra como este modelo de cativao do espectador, longe de ser he-
gemnico, conviveu e convive com diferentes modos de espectatorialidade. Citemos, desorde-
nadamente: o nickelodeon somente as primeiras leiras cavam sentadas; no fundo era uma
baguna s , os cinemas do Oriente Mdio, os cinemas de bairro de Paris antes da guerra [], e
at mesmo os drive-ins o espectador no circula realmente, mas no perde conscincia do seu
corpo , e, claro, as projees na universidade.
162BRUNO COSTA
o espectador do cinema logo se constitui como o exemplo mais acabado da
passividade. Na trilha desta perspectiva vem tona uma srie de crticas
pautadas pelo platonismo nas quais se retomam as advertncias contra
o perigo das aparncias, seu potencial ilusrio e seu distanciamento da
verdade. O prodigioso mundo aparente projetado nas salas de cinema faz
renascer a velha querela entre superfcie e profundidade, expondo mais
uma vez a prioridade, especialmente nos discursos filosficos, da ltima
sobre a primeira. Enriquecida pelas contribuies do marxismo, este neo-
platonismo se converte no mote central da crtica aos produtos massivos
ao longo do sculo XX. Progressivamente, o consumidor dos produtos
culturais massivos torna-se uma vtima de um sistema de criao de ilu-
ses que o condena a uma posio passiva e inerte. Encoberta pela media-
o do espetculo, denuncia-se uma complexa superestrutura que aliena
completamente o espectador e retira dele seu julgamento crtico. Concor-
damos, portanto, com Rancire (2010), quando este equaciona a crtica de
Debord a partir da oposio platnica entre aparncia e verdade. A con-
templao que Debord denuncia a contemplao da aparncia separada
de sua verdade, o espetculo do sofrimento causado por esta separao.
(RANCIRE, 2010, p. 14)
A crtica pesada contra a massificao e, especificamente, contra o
espetculo, no deixa de conter uma dialtica. Para um terico como Ben-
jamin, esta dialtica revelava algo alm de mera manipulao. Escrevendo
em meados dos anos 1930, ele no deixa de notar o potencial da comunica-
o massiva, ele no pode deixar de notar o uso do espetculo como arma
poltica do nazismo. Simultaneamente, ele enxerga nas novas tecnologias
de reproduo tcnica, especialmente no cinema, meios para a libertao
da arte. O cinema praticamente aniquila o valor de culto da obra ao demo-
cratizar o acesso ao que era antes restrito ao um fechado crculo de espec-
tadores. Se o pintor ainda um mgico que faz questo de preservar a sua
distncia do mundo, o cinegrafista atua como um cirurgio, penetrando
no mago da realidade. Esta descrio cirrgica da realidade operada pelo
cinegrafista se torna muito mais significativa para o homem moderno do
que a descrio pictrica que mantm constantemente uma distncia.
Revela-se, a partir da dialtica de Benjamin, o potencial iluminador do
cinema, ele oferece o que temos direito de exigir da arte: um aspecto da
NOVA VISIBILIDADE EM CENA163
realidade livre de qualquer manipulao pelos aparelhos, precisamente
graas ao poder de penetrar, com os aparelhos, no mago da realidade.
(BENJAMIN, 1995, p. 187) A realidade depurada do cinema, ainda que
se assemelhe a uma flor azul no jardim da tcnica, permite aproximar
o prazer entre ver e sentir e a atitude do especialista. Os espectadores de
cinema so todos semiespecialistas que flutuam entre a atitude de fruio
de um admirador e a imerso e diverso do massivo. Este caminho inter-
mdio permite abrir, em tese, uma nova perspectiva, que traz para o ho-
mem moderno o inconsciente ptico, ele comea a ver o seu mundo por
ngulos que lhe eram vedados.
5
Esta exploso da realidade faz com que
a arte cinematogrfica, para Benjamin, funcione como uma terapia de
choque para o violento abalo que est na origem da nossa era ps-aurtica:
seu pharmkon (remdio, veneno, droga) um novo choque e trauma que
permite uma leitura de nossas demais feridas. (SELIGMANN-SILVA,
2005, p. 28)
O caminho vislumbrado por Benjamin para o espectador, entretanto,
no parece corresponder trilha seguida pelos consumidores da comuni-
cao massiva. A fora do sempre crescente complexo miditico de entre-
tenimento massivo americano vai balizar o prognstico fatalista de Adorno
e Horkheimer, que iro fazer nascer a formulao mais clebre acerca dos
perigos da cada vez mais crescente influncia dos meios de comunicao
massivos. Entretanto, a denncia forte e pesada de Adorno e Horkheimer,
longe de apontar para uma superao da herana platonista, refora ainda
mais o perigo do mundo aparente. O espectador aparece como um ser
enredado nas armadilhas do espetculo miditico, refm de um sistema
totalizante e alienador. E justamente em relao ao espectador, o ponto
mais fraco das formulaes em relao indstria cultural. Retirado o
espao de negociao entre a indstria e um espectador fraco, obediente
e resignado, cria-se uma imobilidade que acaba por levar aporia. Contra
a manipulao da indstria cultural s cabe o comportamento revolucio-
nrio, caminho nico para a libertao das massas. este comportamento
5 Esta tambm uma das funes mais importantes do cinema para Kracauer (1960), (re)apresen-
tar o mundo moderno para o homem.
164BRUNO COSTA
ativo do espectador, sua capacidade de ao, a partir da contemplao, o
horizonte dos escritos do cineasta cubano Toms Gutirrez Alea.
Na trilha de Debord, Gutirrez Alea (1984) v o espetculo essencial-
mente como manifestao mpar de exterioridade que condena o homem
contemplao. Dentro da lgica espetacular os elementos constitutivos
derivam, na maior parte das vezes, para o inslito, o excepcional, o fora
do comum, oferecendo uma satisfao tnue e fugaz por meio da evaso
para o mundo duplicado da fico. O entretenimento condenvel e con-
denado por promover o escapismo que faz esquecer a realidade cotidiana
e ordinria. A alternativa inoperncia alienizante ir alm da mera con-
templao, pois:
[...] o espetculo existe como tal em funo do espectador; este ,
por definio, um ser que contempla e sua condio est determi-
nada no somente pelas caractersticas prprias do fenmeno, mas
pela posio que o indivduo (sujeito) ocupa em relao ao mes-
mo. Pode-se ser ator ou espectador diante do mesmo fenmeno.
(ALEA, 1984, p. 47)
A partir desta possibilidade de atuao desenha-se uma oposio ma-
nifesta e desejada. Por um lado, o espectador contemplativo, aquele que
no supera o nvel passivo, envolto pelo fascnio do espetculo. O espet-
culo satisfaz uma necessidade de desfrute, de gozo esttico ou de entre-
tenimento, mas a atitude do espectador meramente de aceitao ou de
rejeio. Do outro lado, o espectador ativo, dotado de um olhar desenvolvi-
do que o permite entrar em um processo de compreenso crtica da reali-
dade e realizar uma ao prtica transformadora. Os ecos brechtianos so
claros e manifestos. Sobre o espectador do teatro diz Brecht: O burgus
ultrapassa, no teatro, as fronteiras de outro mundo que no tem nenhuma
relao com o cotidiano, goza ali de uma comoo venal em forma de uma
embriaguez que elimina o pensar e o julgar. (KLOTZ, 1959 apud GUTI-
RREZ ALEA, 1984, p. 50) A posio desejada, o horizonte do espectador
ativo, a capacidade de dar uma resposta para alm do seu comrcio afe-
tivo e intelectual com o filme e, portanto, ser capaz de agir na realidade. O
espetculo desejvel pois mesmo Alea no quer abrir mo do poder do
cinema ser aquele que questiona a realidade, no qual se exprimam e se
transmitam inquietaes e se faam interrogaes.
NOVA VISIBILIDADE EM CENA165
ATIVIDADE X PASSIVIDADE
Mas ser que podemos colocar em polos opostos ao e passividade? A
atividade contemplativa deveria ser condenada per si? Para Rancire, es-
pecificamente falando do teatro, esta oposio culmina no paradoxo do es-
pectador. O paradoxo do espectador assim se desenha: no h teatro sem
espectador (nem que seja um espectador presumido) e ser espectador um
mal, dizem os acusadores, por duas razes principais: olhar o contrrio
de conhecer e, por conseguinte, o espectador permanece envolto na apa-
rncia, ignorando o processo de produo desta aparncia ou a realidade
que ela recobre; e olhar o contrrio de atuar, o espectador permanece
imvel em seu lugar, passivo.
H uma dupla condenao ao papel de espectador, ser espectador ,
ao mesmo tempo, estar separado da capacidade de conhecer e do poder
de atuar. Como visto, esta condenao ao papel do espectador no se res-
tringiu ao teatro, mas se estendeu ao consumidor dos produtos culturais
em geral. Subjacente a esta crtica, de acordo com Rancire, existem pres-
supostos e assunes que longe de serem lgicos e naturais tornaram-se
doxai paralisantes. A primeira delas, mais fcil de identificar a oposio
entre ver e perceber, ou seja, o que permite declarar inativo o espectador
sentado em seu assento seno a radical oposio posta entre o ativo e o
passivo? Derivado deste questionamento, temos outro, por que identificar
olhar e passividade seno pelo pressuposto de que olhar quer dizer com-
prazer-se na imagem e na aparncia, ignorando a verdade que est atrs
da imagem e a realidade que est fora do teatro? Por que assimilar escuta
e passividade, seno pelo preconceito que a palavra o contrrio da ao?
Para Rancire, as oposies olhar x saber, aparncia x realidade, atividade
x passividade no so oposies lgicas, mas termos bem definidos que
promovem convenientemente uma diviso do sensvel, uma distribuio
a priori destas posies e das capacidades e incapacidades ligadas a estas
posies. Ele as chama de alegorias encarnadas da desigualdade.
Afinal, j na filosofia grega, a atitude de observao caracteriza-se por
ser um retiro que traz nova perspectiva. Portanto, o espectador tambm
atua, ele observa, seleciona, compara, interpreta. Faz associaes e liga-
es por conta prpria. A riqueza do ser espectador justamente receber
166BRUNO COSTA
o igual e v-lo como diferente, afinal no existe transmisso direta do idn-
tico. O poder comum dos espectadores, ainda com Rancire, seria este
poder que cada um tem de traduzir a sua maneira aquilo que ele percebe,
de lig-lo a uma aventura intelectual singular que os tornam semelhantes
a qualquer outro, ainda quando esta aventura no se parece com nenhu-
ma outra. Esta capacidade se exerce atravs de distncias irredutveis e
por meio de um jogo imprevisvel de associaes e dissociaes. Portanto,
ser espectador no a condio passiva que precisaramos trocar pela ati-
vidade. nossa situao normal. Os espectadores podem desempenhar
um papel de intrpretes ativos, que elaboram sua prpria traduo para se
apropriarem da histria e fazer sua prpria histria
Movendo-se a partir das observaes de Rancire, voltamos ao con-
temporneo, mais bem equipados para compreender as novas relaes
de espectatorialidade. Um dos pontos de entrada, aparentemente mais
frtil, est relacionado aos regimes de participao. Como visto, uma das
principais heranas da crtica cultural de cunho marxista e platnica foi a
condenao posio passiva de observao. Esta crtica ainda que ex-
posta em suas limitaes parece ter gerado uma espcie de filho bastar-
do na contemporaneidade. Afinal, no seria ainda a convico na fraqueza
do espectador uma das bases para o enaltecimento da chamada cultura
participativa? Parece haver uma estranha continuao da condenao
posio de espectador, antes um sujeito refm dos poderes da indstria
cultural e agora algum que pode ser libertado graas aos novos espaos
de interao da sociedade. A produo dos fs exaltada, mesmo que ela
seja na maior parte das vezes destituda de crtica, apenas levemente par-
dica e majoritariamente elogiosa e mesmo elegaca em relao ao material
fonte.
6
Na cultura de estadia prolongada nos universos ficcionais, emitir
qualquer opinio um sinal claro de atividade, atividade aparentemente
prefervel postura reflexiva que marca a crtica cultural ou aprecia-
o esttica desinteressada. Ignora-se o processo individual de negociao
6 A atitude dominante aqui parece ser de homenagem ou de admirao. Eventualmente, estes ma-
teriais so cooptados pelas empresas, como no caso do fake trailer produzido por um f do jogo
Call of Duty: Modern Warfare. Disponvel em: <http://www.brainstorm9.com.br/26687/entreteni-
mento/call-of-duty-modern-warfare-nd-makarov/>.
NOVA VISIBILIDADE EM CENA167
com os contedos, que permite ligar a recepo e a fruio a uma, nos
termos de Rancire, aventura intelectual singular.
H, portanto, uma dupla condenao relacionada aos moldes de in-
terao com a obra de arte, tal qual ela se configura na modernidade. Por
um lado, abandona-se em larga parte os objetos artsticos, especialmente
aqueles que exigem compromisso, reflexo e estudo, para serem ilumina-
dos um conjunto em que poderamos incluir boa parte da arte moder-
nista em favor das narrativas do entretenimento, cujo amplo acesso, fcil
decodificao e identificao universal permitem que quase todos se pro-
nunciem a seu respeito. Desaparece at mesmo aquilo que Arendt (2009)
chama de filistesmo, a necessidade da educao esttica, como forma de
angariar prestgio, em prol de uma postura populista que agencia fcil
acesso e universalidade com democratizao. Esta postura parece lgica,
uma vez que as condies que geraram o filistesmo, o uso pela sociedade
da cultura como forma de angariar status e posio social, j no esto
mais presentes.
7
A valorizao do tempo ocioso necessrio para a aprecia-
o esttica d lugar apreciao da dinmica de movimento vertiginoso
que, por sua vez, se associa ao aparente abandono do sentimento de in-
ferioridade cultural. Desta forma, a relao episdica e pontuada ainda
que prolongada durante um perodo extenso com os produtos culturais
s pode ser plenamente compreendida se partimos da hiptese de que a
necessidade de se instruir esteticamente deixou de ser um componente
social relevante na contemporaneidade.
A ascenso da cultura de estadia prolongada nos universos ficcionais
no deixa de ser sintoma do prprio estado da arte na contemporaneidade.
Parece circular a impresso geral que a arte contempornea pode ser defi-
nida tambm como aquilo que est em circulao nos circuitos artsticos
e, muitas vezes, s essa presena consegue referendar o carter artstico
de produtos que deixaram de dialogar com o pblico. Esta percepo ge-
nrica da crise da arte talvez fornea as condies para o abandono, sem
7 A atitude listesta, ainda segundo Arendt, foi uma atitude defensiva da classe mdia europeia no
sculo XIX contra a aristocracia e o desprezo desta pela mera vulgaridade do af de ganhar dinhei-
ro. Nessa luta por posio social a cultura comeou a desempenhar enorme papel como uma das
armas, se no a mais apropriada, para progredir socialmente e para educar-se ascendendo das
regies inferiores, onde a realidade estaria situada, para as regies superiores e suprarreais onde
o belo e o esprito estariam em seu elemento. (ARENDT, 2009, p. 254)
168BRUNO COSTA
culpas, das obras que no se rendem a uma leitura rpida. Mais do que
isso, com o declnio de prestgio da crtica cultural, mesmo as leituras
mais profcuas e abrangentes dos produtos do entretenimento no pare-
cem ter espao. No parece desaparecer, entretanto, a vontade de debater
os produtos, vide a alta repercusso dos fruns de discusso dos objetos
da cultura pop, como o do site Omelete.
A cultura de estadia prolongada nos universos ficcionais, observada
em um dos seus braos, os fruns de debate, marca o abandono do debate
esttico e da ponderao reflexiva e sua substituio por uma exposio
marcadamente agressiva e subjetiva, que tende a expor de modo gritante as
limitaes da doxa. O abandono da postura dialgica e dialtica (o que no
deixa de ser uma ironia em locais que supostamente deveriam promover
o debate, como os fruns de discusso) veda o caminho para a iluminao
dos prprios produtos, os pequenos textos que compem os comentrios
so, na maioria das vezes, exposies extremadas dos gostos (gostei/no
gostei). Alm disso, o constrangimento s opinies contrrias d-se obri-
gatoriamente pela tentativa de conseguir uma maioria, desvalorizando,
seja pela agressividade, pelo xingamento ou pela condenao ao olvido, as
opinies dissidentes.
Por outro lado, possvel enxergar algo como uma postura emancipa-
tria, por parte dos usurios. Tomando cada vez mais a palavra para si, eles
marcam sua posio flutuando num espao intermdio entre consumo
e crtica. Pelos comentrios, percebe-se tambm que os fs tm bastante
conscincia das estratgias comerciais, do apelo publicitrio e conhecem
boa parte das tcnicas usadas para tornar um produto vendvel, como in-
dicam os comentrios relativos notcia
8
sobre o lanamento do DVD/Blu-
-ray de Batman O cavaleiro das trevas ressurge. Ali os fs ponderam sobre o
fato da verso lanada no conter cenas extras ou deletadas.
8 Notcia de 12-09-12. Disponvel em: <http://omelete.uol.com.br/dvd-blu-ray/dvd-blu-ray-de-bat-
man-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-nao-tera-cenas-deletadas/>.
NOVA VISIBILIDADE EM CENA169
Poeta Ccero
Era de se esperar que a DC/Warner fizesse
esse tipo de coisa mesmo.
Ainda mais pelo jeito que a franquia rendeu (E ainda vai render).
Aguarde mais uns anos opara caixas!!!
Thyago Roberto
Simples, meus caros: esperem mais alguns anos e comprem a edio de
luxo que vai mais algumas cenas mas no esperem todas. At hj t
esperando um especial sobre o Coringa do Heath Ledger.
Vini
Ento... por que eu deveria comprar isso mesmo?
Black Wiseman
Verdade Vini, se eu posso baixar de graa em hd, pra que comprar
o dvd ento.
Roger rabbit
Como disseram ae o filme nem esfriou ainda, Indignaes a parte eu
entendo em no lanar a verso extendida agora.
acho justo at...no cortar caminhos. tu viu a verso de cinema do filme?
ento essa que vai ver comprando o bluray!!
pensa s... Pq lanar verso do diretor do Rises se os anteriores no tem?
a maioria vai acabar tendo de comprar os anteriores quando sair um
box collection s por causa das cenas deletadas mesmo!!
Imagina lanarem so o terceiro filme da trilogia do SDA extendida e no
lanarem os outros anteriores? ento lana tudo junto!!! isso sensato.
Daniel
pra mim eh simples, pq depois vo lanar uma verso do diretor ou
verso extendida pra vender mais , e at mesmo um box com os todos os
filmes..
Guilherme
s a Warner precisar de grana que eles tiram cenas at do nus para
colocar em DVDs extras.
170BRUNO COSTA
A partir desta notcia, podemos perceber tambm o quo rapidamen-
te se esvanece o interesse dos consumidores depois de lanado o filme. Se
as notcias relativas pr-produo e mesmo ao lanamento atraram um
nmero alto de comentadores cujo pico de concentrao foi o artigo com
a crtica do filme do dia 26 de julho de 2012 (mais de 4.500 comentrios)
menos de dois meses depois apenas 70 fs se dispuseram a comentar
o lanamento do DVD/Blu-ray. Esta pequena amostra refora ainda uma
das teses centrais aqui delineadas para mapear este novo comportamento.
A falta de apuro com o texto, alguns primrios erros de portugus e as
opinies fortes e pouco embasadas parecem confirmar, tanto a pressa por
marcar espao, como a pouca disposio para o dilogo. Este extremismo
se manifesta claramente em rivalidades criadas dentro do prprio frum
a partir de dicotomias como Marvel x DC, Nolan x anti-Nolan. Na notcia
em questo, sobressaem apenas dois destes comentrios, mas eles so
recorrentes no site.
9
Rodolfo
Se a trilogia Batman fosse do George Lucas ele faria assim: algum
tempo depois que sasse o Blu-Ray do terceiro filme iria sair os dvds e o
Blu-ray da trilogia numa linda caixinha de metal com mais um extra.
Depois lanariam a verso estendida com todas as cenas deletadas
remasterizadas digitalmente em DVD e Blu-Ray. Depois ele lanaria
uma nova lata com toda a trilogia remasterizada digitalmente em Blu-
Ray 3-D. Depois lanaria uma srie animada que contaria o que ocorreu
em Gotham nos 8 anos que separam o segundo e o terceiro filme...
Ainda bem que o Nolan no sofre desse mal
Al
Essas noletes so foda... aposto que se a Warner dissesse que iria lanar
a verso do diretor de TDKR, as bibas iriam comemorar, dizendo que o
filme era grandioso, e que a verso estendida era muito melhor...Como
a verso escrota do cinema, vou comprar o dvd pirata mesmo, de 3 reais!
9 Nos comentrios que seguem a crtica do lme <http://omelete.uol.com.br/batman-o-cavaleiro-
-das-trevas-ressurge/cinema/batman-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge-critica/>, Vingadores men-
cionado mais de 250 vezes, assim como recorrente a disputa mais geral entre as editoras e
mesmo entre vrios diretores.
NOVA VISIBILIDADE EM CENA171
Vale ressaltar que a cultura de prolongada estadia nos universos fic-
cionais coaduna-se tambm a uma sensvel alterao nos modos de con-
sumo de produtos culturais em curso, alterao que pede uma reavalia-
o dos modos de engajamento do entretenimento. A ttulo de concluso
propositiva, fica a posio de Richard Dyer (2002). Ele acredita no fim do
entretenimento como tal, especialmente quando associado ao tempo de
lazer e noo de escapismo. Na medida em que o entretenimento se tor-
na ubquo, mesclado a prticas de trabalho e sem lugares especficos para
a sua atuao, ele no funciona mais como categoria prpria.
10
Corretas ou
no, as asseres de Dyer no deixam de levantar questionamentos per-
tinentes sobre uma renovada relao dos consumidores com os produtos
culturais, que parece remodelar a cultura das mdias.
REFERNCIAS
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 6. ed. So Paulo: Perspectiva, 2009.
AUMONT, Jacques. O olho interminvel (cinema e pintura). So Paulo: Cosac Naif,
2004.
BENJAMIN, Walter. Magia e tcnica, arte e poltica: ensaios sobre literatura e histria da
cultura. In: ______. Obras escolhidas 7. ed. So Paulo: Editora Brasiliense, 1995. v. 1.
CRARY, Jonathan. Techniques of the observer. Cambridge: MIT Press, 1992.
DYER, Richard. Only entertainment. 2. ed. Londres: Routledge, 2002.
GUTIRREZ ALEA, Toms. Dialtica do espectador: seis ensaios do mais laureado
cineasta cubano. So Paulo: Summus, 1984.
KRACAUER, Sigfried. Theory of film. The redemption of reality. New York: Oxford
University Press, 1960.
RANCIRE, Jacques. O espectador emancipado. Lisboa: Orfeu Negro, 2010.
SELIGMANN-SILVA, Mrcio. O local da diferena. So Paulo: Editora 34, 2005.
10 O entretenimento foi para todos os lugares. Notcias e documentrios so progressivamente
apresentados nos mesmos termos que o entretenimento, usando suas formas de apresentao e
tambm liberando espao para notcias e documentrios sobre entretenimento e prazer. A poltica
[...] comumente aparece como um ramo do show business; mesmo a poltica alternativa geral-
mente baseada em teatro de rua ou performances de protesto. (DYER, 2002, p. 177, traduo
nossa)
173
FELIPE MUANIS
O tempo morto na hiperteleviso
1
INTRODUO
Ao longo da histria da televiso, ocorreram mudanas significativas no
seu dispositivo e, consequentemente, na maneira como as pessoas se re-
lacionam com ela e com os seus diferentes produtos. As mudanas tra-
zidas pela televiso no ficaram restritas ao tempo do seu surgimento,
mas, pelo contrrio, continuaram acontecendo, lenta e continuamente,
transformando hbitos e formas de espectatorialidade. O momento mais
significativo das transformaes ocorreu a partir dos anos de 1980, conso-
lidando-se nos anos de 1990. Muitos autores caracterizam as mudanas
de diversas formas, mas so quase unnimes ao apontar tal poca como
um perodo de transio importante para a televiso. Desse modo, opta-se
pela distino, inicialmente proposta por Umberto Eco (1984) e, poste-
riormente, desenvolvida por Francesco Casetti e Roger Odin (1990), entre
dois momentos especficos da televiso, como ponto de partida para pen-
sar o que constituiria seu terceiro momento: a hiperteleviso, definio j
adotada por alguns autores.
De modo sucinto, a paleoteleviso seria o espao mais caractersti-
co da TV generalista e destinada ao coletivo, mensageira, uma televiso
clssica, que exercia a fascinao da descoberta. O apresentador tinha o
1 Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho Cultura das Mdias do XXI Encontro da Comps, na
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, de 12 a 15 de junho de 2012.
174FELIPE MUANIS
monoplio da palavra, estabelecendo uma relao hierrquica e pedag-
gica com seus usurios. Utilizava-se, ainda, de gneros prontos de outras
mdias, com os quais se estruturava o fluxo em um contrato de comunica-
o, criando um espao de formao e sua temporalidade prpria, rgida,
regular, com periodicidade bem-definida. Havia, ainda, muitos programas
ao vivo, maior fidelidade ao canal e mais formalidade, no que diz respeito
aos contedos: assuntos como sexo e dinheiro, por exemplo, eram consi-
derados tabus. A imagem era de intensidade zero, planar, sem contraste,
com poucas interferncias grficas e incrustaes.
A neoteleviso, por sua vez, comearia em meados dos anos de 1980,
se consolidaria nos anos de 1990 e seria a idade moderna da televiso,
quando ela adquire mais complexidade e nuanas. Ganham espao as TVs
privadas, com a crise de alguns canais pblicos, e as segmentadas. O n-
mero de emissoras dobra, e o zapping torna-se uma novidade que muda
a velocidade, a forma de ver televiso, decretando o fim da fidelidade ao
canal. Mais destinada ao indivduo do que ao coletivo, a televiso sai da
sala para o quarto, aumentando a intimidade com o espectador, rompen-
do os antigos tabus. Rescinde, assim, o modelo pedaggico anterior, es-
tabelecendo uma relao de proximidade, em que o especialista menos
importante e o espectador tem a palavra quando surgem as pesquisas
qualitativas e quantitativas.
Centrada no espectador, abole a separao entre os espaos de reali-
zao e recepo. Comeam a surgir programas especficos da televiso,
como os talk shows e os reality shows, ainda com um simulacro de intera-
o. A programao passa a ser 24 horas, ininterrupta e, mais importante
do que o contrato com o espectador, torna-se uma televiso de contato:
mais importante estar diante dela do que ver um programa determinado,
o que favorece uma percepo mais sensorial e informativa. A grade se
dilui e no h mais dias especficos para cada atrao: as reprises tornam-
-se tambm frequentes, e o indito perde fora. A televiso se fortalece
como missionria, buscando ocupar o lugar social das instituies que no
mais funcionam e administrar as crises do indivduo, cujas certezas ce-
dem espao s dvidas. Sua imagem, munida de velocidade, mais opes
de canais e recursos provenientes da computao grfica, apresenta uma
visualidade prpria, tornando-se cinemtica, com contraste, e passando de
O TEMPO MORTO NA HIPERTELEVISO175
uma intensidade zero para uma imagem-estilo. Os espectadores vibram ao
ritmo das imagens e sons, em que a autorreferencialidade, a materialidade,
os recursos de no narratividade e as metaimagens passam a ser explora-
dos. a televiso do insert, dos microssegmentos e da fragmentao, com
uma operao energtica de imagens e sons de maior dinmica visual e
fora atrativa.
Essa diviso do quadro entre paleo e neoteleviso, entretanto, no
pode ser rigorosamente delimitada, em funo da presena das caracte-
rsticas de uma na outra e vice-versa, o que acontece at hoje. Bourdon e
Jost (1998) apontam para a continuidade de uma evoluo esttica entre
as idades da televiso. Caldwell (1995), Casetti e Odin (1990) trabalham
com a ideia de que houve uma ruptura e complementam, ainda, que a te-
leviso que funciona hoje no seria uma mistura de paleo e neoteleviso,
mas uma evoluo da televiso para o modelo da neoteleviso, que
um modo de funcionamento em meio a outros, um modo que se
acrescenta ao da paloteleviso assim como a outros modelos que
esto por vir, modelos que por vezes podemos pressentir a natu-
reza observando pequenos furos (Ocaniques, certos programas de
La Sept), ou talvez at mesmo modelos desconhecidos, novos, e
porque no surpreendentes. (CASETTI, ODIN, 2012, p. 21)
Nesse sentido, pode-se pensar a neoteleviso como um grande espa-
o de apropriao de complementos poticos para o meio, e aberta a outras
possibilidades tericas que contribuam para o seu melhor entendimento.
Por outro lado, talvez seja at mesmo possvel considerar o surgimento de
um momento novo, posterior neoteleviso: alguns vaticinam o fim da
televiso ou a ps-televiso (MISSIKA, 2006), outros propem caminhos
como a hiperteleviso. (SCOLARI, 2009)
ATENO PALEO E NEOTELEVISIVA
Como observou Missika, a neoteleviso caracteriza-se como um momento
novo que agrega outras poticas, mantendo as j existentes. Se caracte-
rsticas dos momentos paleo continuariam presentes na neoteleviso,
possvel concluir que, em vez de momentos rgidos, existe uma permea-
bilidade entre as duas etapas, j que programas e imagens caractersticas
176FELIPE MUANIS
da neoteleviso tambm j podem ser encontrados, por conseguinte, na
paleoteleviso. Se, apesar das ntidas influncias tanto da imagem moder-
na como da imagem ps-moderna, estas no parecem tambm conclusi-
vas ou determinantes para definir a televiso, e se programas de perodos
diferentes coexistem tanto na paleo quanto na neoteleviso, talvez seja
considervel ainda pensar os conceitos propostos por Eco, Casetti e Odin
de outra forma. A proposta que, mais do que perodos de tempo que de-
senhem um novo tipo de imagem na televiso, as estruturas da paleo e da
neoteleviso sejam fluidas, com grande permeabilidade entre elas, o que
permite que programas em princpio pertencentes a uma sejam encontra-
dos em outra. Se a estrutura fluida, no h por que falar em perodos ri-
gidamente delimitados. Assim, se impossvel negar a ocorrncia de uma
mudana da imagem na televiso hoje, possvel afirmar que a relao
com a televiso se realiza de dois modos diferentes, conforme se privile-
gie o contedo e a comunicao ou a vibrao de imagens e sons e o ritmo.
Se o processo de comunicao se realiza na relao de trocas e com-
plementao entre meio e espectador, na qual este imprime no texto os
seus prprios textos, modificando um ao outro, a paleo e a neoteleviso,
mais do que momentos especficos em uma linha temporal de transforma-
o da televiso, so, sim, uma transformao do espectador e da relao
que ele mantm com a televiso. (MUANIS, 2010) O que muda preferen-
cialmente a forma do espectador se relacionar com ela, modificando-a.
Por esse vis, se deslocaria a proposta para as posturas ou atenes paleo e
neotelevisivas, considerando que o espectador pode oscilar entre uma bus-
ca por maior contedo ou por uma fruio de imagens e sons, respectiva-
mente, do que decorre a dificuldade de trabalhar com perodos estanques,
quando se trata do tempo histrico da televiso.
Por conseguinte, no existem apenas duas maneiras de se fazer te-
leviso: a que prioriza os programas e a que privilegia a forma de v-los.
importante ressaltar, ainda, que h uma amplitude entre os produtos
televisivos, com diferentes gradaes entre busca de contedo e fruio
de imagens , que possibilitam formas diferentes de relacionamento entre
pblico e programas. Presume-se que o espectador que busca prioritaria-
mente um texto, assuma uma postura mais parecida com o comportamento
que ele tinha durante a paleoteleviso, buscando o contedo, a narrativa,
O TEMPO MORTO NA HIPERTELEVISO177
devotando-lhe uma ateno paleo. Quando o espectador busca a imagem, o
rudo e o ritmo, ele parece ter uma ateno neo, na qual o contedo e o signi-
ficado so menos importantes. (MUANIS, 2010) Isso permite no apenas
uma leitura que passa acompanhando o fluxo, mas tambm o cortando
transversalmente, passando pelos canais, por meio do zapping, que tam-
bm um caminho mais voltado para as imagens do que para o contedo.
Os programas, ento, absorvem dentro deles, pela prpria caracterstica
da televiso, essas diferentes possibilidades, criando poticas de informa-
o e poticas de significado durante o fluxo.
A reflexo terica que ora se prope pretende sugerir um realinha-
mento nos conceitos de paleo e neoteleviso, para entender melhor a
constituio da hiperteleviso. A proposta , a partir das diferentes possi-
bilidades de relao que o espectador passa a ter com a televiso, para en-
tender esses perodos e, consequentemente, suas imagens, por meio das
dimenses econmicas, tcnicas e poticas da televiso. Assim se explica
a transio da imagem pouco elaborada de uma televiso de intensida-
de zero, proposta por Caldwell (1995), e consonante com os produtos da
paleoteleviso, para uma imagem que experimentada e modificada por
novas metodologias do seu fazer que compem a televiso-estilo e se
encontrariam na neoteleviso.
Desse modo, se as caractersticas so marcantes e definem dois mo-
delos diferentes de contato com a televiso ou melhor, de contrato e con-
tato, conforme teorizado por Casetti e Odin (1990) , esta teria uma estru-
tura fluida, que garantiria todas as permeabilidades que continuam sendo
vistas at hoje. Essa fluidez, ento, acontece no na dimenso temporal,
mas na dimenso relacional entre pblico e televiso. nesse sentido que
se prope, aqui, considerar a hiperteleviso, no simplesmente como um
perodo cronolgico posterior, mas tambm como um modo distinto de
prticas, poticas e relaes com o espectador, que englobaria a neotelevi-
so e, consequentemente, a paleoteleviso. Por hiperteleviso, entende-se,
ento, no s uma fase distinta por apresentar novas caractersticas, mas
tambm uma postura particular do espectador, em ateno hipertelevisiva.
Tal proposta se justificaria na medida em que a televiso est em uma
fase mais complexa, que acumula e agrega mais configuraes do que an-
tes. Sua premissa se justificaria em Niklas Luhmann (2005), ao dizer que
178FELIPE MUANIS
a sociedade moderna aglomera multiplicidades que funcionam atravs de
sistemas, que acumulariam e agregariam novos ingredientes, ganhando
mais complexidade com o tempo. Assim, em funo de caractersticas dos
programas, somadas a atenes paleo, neo e hiper, a televiso se molda
em um desses estgios, sempre de acordo com a maneira pela qual o es-
pectador busca se relacionar com ela.
Levando em conta que tipos de programas, caractersticos de dife-
rentes fases da TV, coexistem, cabe destacar que, atualmente, apesar de
uma emissora fazer uso de estratgias prprias da paleo ou da neotele-
viso, ainda assim ela necessita manter, de alguma forma, uma relao
paleotelevisiva com o espectador. Isso acontece em funo do seu modelo
de negcio, e independente da potica de suas imagens e programas. Se-
guindo a mesma lgica, as emissoras, por vezes, se estruturam de modo a
facilitar uma relao neotelevisiva, na qual o fluxo pode ser buscado prefe-
rencialmente ao contedo, se este tipo de relao favorecer o seu modelo
de negcios. Esse foi o caso da MTV, especialmente no seu surgimento,
que reproduzia essa estrutura em sua prpria programao por meio dos
sucessivos videoclipes que constituam a maior parte de sua grade. Con-
tudo, por razes econmicas, as emissoras costumam buscar poticas que
agreguem o espectador ao seu canal, tentando evitar que este se liberte
do fluxo e que deslize entre vrios canais. Entretanto, como o processo de
comunicao no est centrado na emisso, o espectador pode se desviar
totalmente da proposta sugerida pela emissora, com relao ao programa,
e ter, por exemplo, uma ateno neotelevisiva em um canal que prioriza
uma ateno paleotelevisiva.
Em suma, independente de seus programas ou de seus momentos,
tomando como ponto de partida a vontade do pblico, possvel uma rela-
o paleo, neo ou hiper, ainda que o programa estimule uma ou outra pos-
tura do espectador. O programa e sua potica podem sugerir e beneficiar
uma ou outra relao, que no necessariamente aceita e, consequente-
mente, obedecida pelo pblico. Com a postura neotelevisiva, o espectador
rompe sua submisso ao horrio imposto pelas emissoras. Implica, as-
sim, gostos e formas diferentes de lidar com a televiso, que prerrogativa
do espectador. Para Marc ODay:
O TEMPO MORTO NA HIPERTELEVISO179
[...] Ns podemos propor um espectador ps-moderno diferente
(ainda que no passe de uma descrio, verdade seja dita). Ele
consciente das escolhas que as novas tecnologias da TV oferecem, e
o quanto elas custam. Sabe qual tipo de programas gosta e por qu.
Fica feliz ao assistir televiso nos mais diversos ambientes (casa,
bar, shopping) com vrios grupos sociais (sozinho, com parceiro,
criana, toda a famlia, melhor amigo, grupo de amigos, estranhos)
e com vrios nveis de ateno (do modo literrio srio, atento,
diligente, analtico, assistindo do incio ao fim na ordem certa do
modo de vdeo ldico ou distrado, pulando, parando, repetindo,
sampleando, divertindo-se, ignorando). Integra a televiso em sua
vida cotidiana, aproveitando ao mximo a ps-modernizao da
TV, enquanto se mantm apto a alternar habilmente entre o ps-
-moderno e outros modos de visualizao.
2
(ODAY, 2001, p. 117)
O espectador moveu o televisor da sala para o quarto e agora se de-
para com ela at mesmo em bares, podendo, com a portabilidade, lev-la
para dentro de seu prprio bolso. Desse modo, a televiso passa a ser ex-
perienciada, no apenas em um espao privado, mas tambm em espa-
os pblicos e coletivos. Essas circunstncias variadas tambm colaboram
para ampliar as possibilidades de ver televiso, que so as mais diversifi-
cadas, conforme observou ODay, quebrando muitas das relaes tradicio-
nais de leitura. Esse controle est no espectador, que, sobretudo, por meio
do zapping, pode romper as expectativas das emissoras. Mais do que ter o
controle de mudar de canal, o espectador tem a capacidade e livre para
mudar, rapidamente, de uma postura prpria condizente com o tipo de
programao e momentos de uma paleoteleviso para uma postura neo-
televisiva, voltando ateno anterior to logo queira. Do mesmo modo,
atualmente aparece outra espcie de zapping, associando televiso s ou-
tras mdias, o zapping miditico, que o ponto de partida deste trabalho
para a conceitualizao da hiperteleviso.
O ZAPPING MIDITICO E A HIPERTELEVISO
A televiso tem experimentado mudanas substanciais na ltima dcada,
com a popularizao do digital e da interatividade, do vdeo sob demanda,
2 Traduo livre.
180FELIPE MUANIS
da internet e das redes sociais. Destaca-se, ainda, nos ltimos dois anos, a
nfase no campo de produo, na transmisso, na recepo e no modelo
de negcios, em torno da imagem de alta definio em 3D e das televises
conectadas internet. Ao alicerar o pensamento sobre televiso em suas
caractersticas econmicas, tcnicas e poticas, tais variveis necessitam
ser analisadas. Se a neoteleviso, entre outras caractersticas, absorveu
uma nova visualidade vinda do cinema e da tecnologia dos computadores,
do aumento do nmero de canais que favoreceu o zapping, possibilitando
uma nova relao com o seu espectador, as transformaes da televiso
contempornea a encaminham para outra configurao.
Carlos Alberto Scolari, ao propor o nome de hiperteleviso para a
televiso contempornea, assinala prioritariamente a experincia hiper-
textual (SCOLARI, 2009), partindo da ideia de que qualquer anlise das
mdias, nos dias de hoje, no deve ser feita em separado, mas levando em
considerao sua relao, dilogos, influncias e hibridismos com outros
espaos miditicos. Por exemplo, pensar a televiso sem considerar sua
relao crescente com os videogames, o cinema e os novos meios digitais,
seria incompleto: por mais que nos interesse investigar uma espcie em
particular (o rdio, a imprensa, a televiso, a web etc.), estamos de certa
forma condenados a estudar a ecologia onde essa espcie nasce, cresce e
se relaciona. (SCOLARI, 2009) Se Luhmann elaborou sistemas, Scolari
prope algo similar voltado para as mdias, que o ecossistema miditi-
co, metfora que nos ajuda a compreender melhor o conjunto de inter-re-
laes, sociais, tecnolgicas, culturais, econmicas etc., que caracterizam
o universo da comunicao atravs de dispositivos tcnicos. (SCOLARI,
2009) Analisadas as novas condies de experiencializao da televiso, a
proposta do autor ajuda a estabelecer parmetros para o entendimento de
uma ateno hipertelevisiva.
A postura paleotelevisiva reflete uma busca conteudstica do progra-
ma, em que o espectador mantm fidelidade ao seu texto: liga-se a televi-
so para ver o telejornal, a srie ou determinado programa. Para o espec-
tador neotelevisivo, o contedo importa menos, pois importante estar
diante da televiso, muitas vezes vendo os canais transversalmente por
meio do zapping. Qualquer fidelidade a um programa ou canal importa
menos que uma forma mais sensorial e veloz de ver a televiso. Com essas
O TEMPO MORTO NA HIPERTELEVISO181
duas formas, somadas ao advento das redes sociais na internet, surge uma
nova maneira de experienciar a televiso: a hiperteleviso.
Com a ateno neotelevisiva, no h uma fidelidade ao contedo, mas
h uma fidelidade televiso, ainda que esta sempre tenha competido em
ateno com outras atraes de casa, seja uma visita, um telefonema ou
um rdio. Com as redes sociais, no basta ver a televiso ou um programa,
mas ver o que se fala dela na internet em tempo real. Acompanhar o jogo
de futebol, o captulo de novela ou o episdio do reality show pela televiso
e em simultneo nas redes sociais, como o Twitter, o Facebook e outras
especficas para a televiso, como o Get Glue, constitui uma maneira dis-
tinta de visualidade. Se antes o zapping era feito entre canais, agora ele se
amplia: o espectador v no apenas a televiso, mas se abre a um ecossis-
tema miditico que tematiza os programas continuamente, absorvendo
seus textos tercirios simultaneamente sua exibio em outras mdias.
Paradoxalmente, tal ateno televisiva refora o aspecto conteudstico
da televiso presente na paleo, dessa vez, porm, no mais fiel apenas
mdia televiso. O zapping atravessava o contedo e era uma percepo
transversal aos canais. O zapping miditico da hiperteleviso conteuds-
tico, mas supera a prpria televiso, buscando uma experincia conjunta
com outras mdias.
A ateno hipertelevisiva talvez seja fruto, tambm, da chegada ma-
turidade da primeira gerao de screenagers, hoje com idade entre 30 e 40
anos, ou seja, da criana nascida numa cultura mediada pela televiso e
pelo computador (RUSHKOFF, 1999, p. 9), e que tem grande facilidade
de ser multitarefa, utilizando computador, televiso, rdio e telefone ao
mesmo tempo, relacionando-se mais com o ecossistema miditico do que
com uma mdia isoladamente e de cada vez, em uma lgica de hipertexto.
Corresponderia, em parte, para Scolari, aos nativos digitais, acostumados
aos ambientes digitais interativos, o que caracterizaria para o autor a hi-
perteleviso tambm como o espao do contedo transmdia.
As narrativas transmdia tm sido cada vez mais frequentes no mer-
cado e nas teorias: Henry Jenkins, Elizabeth Evans, Robert Pratten, entre
outros, tm trabalhado com essas possibilidades. Na televiso, possvel
encontrar cada vez mais contedos transmdia em sries como 24 horas,
Heroes, The Walking Dead e Game of Thrones. Cada uma dessas narrativas
182FELIPE MUANIS
tem um universo prprio, que trabalhado de maneira complementar em
diferentes mdias, como o cinema, a televiso, os videogames e as histrias
em quadrinhos, sem que uma dificulte a compreenso da outra.
Scolari prope, para esse tipo de contedo, trs tipos de consumido-
res de mdia: o monotextual (que se limita apenas a uma unidade textual
transmiditica, como um programa), o monomiditico (que se limita aos
textos de apenas uma mdia; por exemplo, a srie em TV, DVDs e os dese-
nhos animados) e o transmiditico, ou seja, aquele que processa e integra
representaes provenientes de diferentes meios e linguagens (SCOLA-
RI, 2009, p. 194), fazendo uma leitura do contedo por diversas mdias,
como TV, internet, videogame e histrias em quadrinhos, e trazendo mais
informao para aquele contedo.
Pode-se, ento, retomar a questo das atenes paleo, neo e hiper-
televisivas, a partir da diviso proposta por Scolari, estabelecendo uma
correspondncia entre elas, isto : o consumidor monotextual teria uma
ateno prioritariamente paleotelevisiva; o consumidor monomiditico,
uma ateno neotelevisiva; e, por fim, o consumidor transmiditico, uma
ateno hipertelevisiva. oportuno destacar, todavia, a especificao que o
autor faz desse espectador como consumidor.
O contedo e as narrativas transmdia se estabeleceram como um
formato mercadolgico e tm ganhado cada vez mais fora na televiso
contempornea. George Lucas um dos pioneiros em utilizar o transmdia
nas mdias audiovisuais, desde o momento em que percebeu o potencial
de licenciamento de produtos sobre a srie de filmes Guerra nas Estrelas,
com a venda de action-figures. Ele inicia o formato de narrativa transmdia,
a partir do lanamento de The Han Solo Adventures, de Brian Dealy, ainda
em 1979, inaugurando uma linha de livros, e, posteriormente, da srie
de revistas em quadrinhos com o universo do filme, em 1991, pela Dark
Horse Comics. Em ambos os casos, histrias complementares s dos fil-
mes eram contadas, estes ltimos considerados sempre como a nave me
da narrativa transmdia, para utilizar o conceito de Henry Jenkins. Depois
vieram desenhos animados e videogames, todos conectados com o universo
e a cronologia do contedo apresentado em outras mdias. Muito antes, en-
tretanto, Orson Welles j flertava com o transmdia, seja nas apresentaes
O TEMPO MORTO NA HIPERTELEVISO183
radiofnicas de O Sombra, seja na sua histrica transmisso metalingus-
tica de A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells.
O contedo transmdia consolida-se quando percebido pelas corpo-
raes de entretenimento como um produto comercial altamente lucrati-
vo. Nesse panorama, a televiso surge como seu ambiente preferencial:
apresenta-se, muitas vezes, como a nave me dos contedos, que combi-
nam os screenagers, as novas tecnologias digitais e a variedade das platafor-
mas miditicas a uma estratgia narrativa j antiga, potencializando seu
carter comercial, criando novos consumidores para produtos diferentes,
contidos em um mesmo universo narrativo. O transmdia vira uma lgica
mercadolgica de produo e, consequentemente, um formato. Sobre for-
matos de televiso, Franois Jost lembra que:
essa noo se ope lgica da oferta: o programa deve ser conce-
bido para responder a uma necessidade de programao ou uma
lista de tarefas precisa que constitui, para os produtores, o quadro
da comanda. Em segundo lugar, supe que o programa seja ca-
racterizado por uma srie de parmetros e de traos estruturais
que permitem aos diferentes atores da concepo e da produo
que refaam indefinidamente um produto reprodutvel, quer dizer,
que pode ser transformado [sic] em srie, uma linha de produtos.
(JOST, 2007, p. 36)
As mdias audiovisuais parecem convergir para as possibilidades ofe-
recidas pelo contedo transmdia, que assim se fortalece. A televiso, na
contemporaneidade, faz o mesmo que o cinema: este comeou com fil-
mes unitrios, dando espao posteriormente para filmes em srie e recen-
temente para contedos transmdia (como os filmes Guerra nas Estrelas e
Matrix).
A VOLTA DO TEMPO MORTO TELEVISO
Alm da narrativa transmdia, a reality TV uma caracterstica da televiso
contempornea e, de acordo com Scolari, da hiperteleviso. Mas os popu-
lares e execrados reality shows talvez evidenciem uma possibilidade irnica
para a discusso que se segue.
184FELIPE MUANIS
Uma das especulaes de Missika (2006) sobre o fim e a morte da
televiso, j que, com o digital e o vdeo sob demanda, uma grade passaria
a ser dispensvel. No entanto, a TV dificilmente morrer, nem tampouco
sua grade, como no morreram outras mdias: como o rdio, por exemplo,
no morreu com o LP, as fitas K7 e o MP3. Mais do que algo a ser superado
pelas novas tecnologias, a grade um valor agregado pela mdia televiso
aos hbitos culturais, responsvel por determinados tipos de consumo te-
levisivo, que a ateno paleo e a ateno neo como zapear sem grade?
E como ver a televiso sem ter a opo de zapear? Todavia, uma vez que
alguns programas podem ser vistos sob demanda nas televises conecta-
das, ser necessrio que a TV se reinvente para atender aos seus consumi-
dores paleo. A nica forma de se diferenciar fazendo o que o cinema ou
mesmo a televiso sob demanda no podem fazer, que voltar s prprias
razes e investir na transmisso ao vivo como seu diferencial.
O que os realitiy shows fazem agregar a televiso diretamente es-
trutura dramatrgica ficcional e documental, autorreferente, devolvendo o
tempo morto retirado da televiso pela possibilidade e demanda do consu-
mo neotelevisivo. De acordo com Sarah Kozloff (1992), o espectador acos-
tumado com a lgica do seriado televisivo sabe que o personagem voltar
no prximo dia ou semana. Ou seja, o programa mantm as frmulas,
mas varia o modo como a histria contada o que uma caracterstica
dessas narrativas abertas da televiso , e assim se eliminaria o suspense.
Ao contrrio do romance ou filme, segundo ela, na televiso, o suspense
ficaria mais difcil de acontecer. O suspense na televiso, segundo a auto-
ra, seria mais visvel em programas jornalsticos e dramas reais encenados
(docudramas).
O reality show tem como grande atrativo a busca do inesperado, do
imprevisto contido no ao vivo voyeur, imprevisto que a televiso no con-
seguiria domar, ao contrrio do que acontece nas fices seriadas tradicio-
nais. Por mais que se tente, o canal no tem controle total e absoluto do
que acontece em um reality show. Ainda que de modo muitas vezes inci-
piente, ele cria polmicas, quebra tabus internos televiso e gera debate.
Refora o mais importante da televiso, que so seus discursos tercirios,
ou o que se fala dela. O reality show, exibido 24 horas em meio progra-
mao de uma TV generalista, mostra-se hoje como mais uma garantia
O TEMPO MORTO NA HIPERTELEVISO185
de vida e fortalecimento da grade e dos prprios modelos diferentes de
televiso.
O suspense, ento, se daria nessa mistura de fico e drama real
encenado, mantendo a curiosidade do pblico de ver o inesperado e de
imaginar quem poder no estar no programa, no dia seguinte, motivado
pela sua interatividade, fruto dos debates do pblico estes cada vez mais
presentes no ecossistema miditico. essa curiosidade que permite que
o espectador aceite novamente os tempos mortos na televiso. Com seus
planos sequncia e seus personagens sem fazer rigorosamente nada, os
realities reelaboram de maneira diversa, no apenas os 15 minutos de fama
propostos por Andy Warhol, mas tambm toda uma proposta sobre o tem-
po televisivo e o seu contedo. De acordo com Franois Jost:
Poderamos muito bem pensar que Big Brother a sequncia, ou
a concluso, do pop enquanto tal. Alis, basta reler as entrevistas
de Warhol para constatar que o papa do pop colocava todas as espe-
ranas na televiso para continuar suas experincias que ele mes-
mo havia feito com filmes como Sleep, mostrando-o durante seis
horas dormindo. Meus primeiros filmes, onde tudo permanecia
imvel, tambm foram concebidos para ajudar os telespectadores a
tomarem conscincia de si prprios. O cinema provoca mais que o
teatro ou os concertos [...] Acho que a televiso superar o cinema.
E Warhol imagina mostrar o que acontece na esquina. Penso que
mostrarei a esquina por 24 horas. (JOST, 2007, p. 32-33)
Em que pesem as inmeras crticas pela qualidade dos reality shows,
eles so um formato da televiso contempornea que, de acordo com Sco-
lari, representam a grande novidade miditica do fim do ltimo sculo,
sem maiores precedentes na paleo ou neoteleviso. So cada vez mais
frequentes na programao, e, se no dominaram a grade, seu formato
no se desgastou com o tempo, ao contrrio do que dizem os seus de-
tratores. Pelo contrrio, vm agregando novas possibilidades e inegvel
que o Big Brother, o mais famoso deles, veiculado em sua verso brasileira
anualmente na Rede Globo, hoje o programa nacional com mais recur-
sos de interatividade e possibilidades transmdia. importante, contudo,
que, como formato, os reality shows evoluam e possam exprimir toda a sua
potencialidade.
186FELIPE MUANIS
No entanto, ser preciso, para admitir tal transfigurao, comparti-
lhar a concepo de arte que herdamos do sculo XX. E afinal, por
que deveramos julgar a arte da televiso em funo de uma defini-
o da arte que j no vigora mais, ou quase, para as artes plsticas?
Se admitirmos que a arte hoje em dia a transfigurao do banal,
Big Brother poderia revelar-se como a concluso lgica de um s-
culo fundado pelos ready made de Duchamp. (JOST, 2007, p. 34)
De fato, alguns reality shows, pela sua prpria estrutura imagtica,
dialogando com planos longos, tempos mortos, silncios e montagem no
acelerada, so mais condizentes com imagens do cinema moderno dos
anos de 1960 e fogem das caractersticas de uma esttica neotelevisiva.
Tambm so o oposto do que identificado no cinema blockbuster atual,
que ganha ritmo, velocidade e inmeras camadas de montagem, o que
Gilles Lipovetsky chamou de imagem-excesso do hipercinema, influencia-
do pela imagem na neoteleviso, com o zapping e o videoclipe.
A televisualidade e o hipercinema so fruto das novas tecnologias,
mas tambm do que Mitchell chamou de virada imagtica, ou seja, o mo-
mento em que a imagem comea a recuperar seu espao, perdido para o
texto. A imagem passa, inclusive, a prescindir de um texto, possibilitando
um retorno s formas de percepo mais sensoriais da imagem, sem que
ela esteja necessariamente atrelada e a servio de um texto literrio. O au-
mento dos meios tcnicos, do computador e da imagem sinttica favoreceu
ainda mais o ressurgimento da fora, da autonomia e da autorreferencia-
lidade da imagem. E esta a ltima caracterstica da hiperteleviso: a ima-
gem de imerso.
O cinema migrou da imagem em preto e branco para a cor em tela
panormica, do mudo para o som. Aos poucos, a televiso desenvolveu as
mesmas possibilidades, sempre com a vantagem de estar na prpria casa
do espectador. Hoje, com a alta definio, as recentes televises de OLED
e a UHDTV, que comeam a ser desenvolvidas, a qualidade de imagem,
que era uma grande diferena entre cinema e televiso, se pulverizou. O
3D tambm j uma realidade na televiso e no cinema, e este ltimo s
mantm distino na projeo em IMAX, o que a televiso, por enquanto,
ainda no fez. O som segue o mesmo parmetro: cada vez mais comum
ver salas de televiso com sistemas de som Surround, 5.1, que vieram das
salas de cinema.
O TEMPO MORTO NA HIPERTELEVISO187
Em ambos, cinema e televiso, vimos uma imagem que era planar
ganhar profundidade para, em seguida, extrapolar dos limites da tela, en-
volvendo o ambiente e simulando o espectador em um espao de imerso
no que exibido. Esse movimento aconteceu nas prprias artes plsticas,
quando a imagem sem perspectiva ganha profundidade na Renascena
e suplanta o prprio espao da tela nos ready-mades e all-overs da pop-art,
chegando a criar ambientes imersivos nas instalaes e happenings. Nas
experincias televisivas correspondentes, na paleoteleviso, as imagens
eram mais planares e bidimensionais. O caminho entre a profundidade
e o espao do visvel ou fora de quadro tornou-se mais frequente com
as novas possibilidades trazidas pela imagem sinttica da computao
grfica, na segunda metade da dcada de 1970, fortalecendo-se na fase
da neoteleviso, conforme possvel perceber nas vinhetas de televiso.
(MUANIS, 2011) Com o 3D e as novas tecnologias da televiso, a hiperte-
leviso tende a ser um espao maior da imerso do espectador, no apenas
no contedo e no ecossistema miditico, mas na imagem e no som. Novas
tecnologias apresentadas na ltima feira de mdia de Frankfurt, em 2011,
colocam a tela de televiso nos culos especiais, que percebem uma ima-
gem 3D sem delimitaes de tela, e o espectador vendo-se perfeitamente
envolvido pela realidade que est observando. Os caminhos de imerso da
televiso aproximam-se cada vez mais dos ambientes de realidade virtual,
tambm presentes em jogos, apontando para as inter-relaes miditicas
propostas pelo ecossistema miditico de Scolari.
CONSIDERAES FINAIS
Como se v, a hiperteleviso um retorno s caractersticas conteudsti-
cas, reforadas pelas possibilidades de leitura transversal do seu contedo
por meio de outras mdias, das redes sociais, pela desenvoltura dos scre-
enagers ou nativos digitais. Seus espectadores so consumidores mono-
textuais, monomiditicos e transmiditicos, que tanto podem ser fiis
televiso como viver intensamente o ecossistema miditico, tanto podem
ser devotados apenas ao contedo televisivo como consumi-lo em sua am-
plitude atravs das narrativas transmdia. Com a busca de maior rapidez
no processo de migrao entre mdias, durante a transmisso, o controle
188FELIPE MUANIS
remoto j no suficiente para atender demanda de velocidade do espec-
tador, que tambm no se limita aos contedos transmdia, mas quer ter
uma apreenso do contedo por meio de diferentes fontes de informao
simultneas, como, por exemplo, os discursos tercirios que, comentando
a programao, fortalecem a televiso. O zapping da neoteleviso d lugar
ao zapping miditico, levando o espectador imerso da hiperteleviso.
A imagem, antes planar, ganha profundidade para, em seguida, en-
volver o espectador com o 3D, e j se pode experimentar uma tentativa de
criar o ambiente IMAX de imerso por meio de culos prprios, em que
a televiso deixa de ser uma tela na sala para envolver o espectador numa
realidade virtual. Os caminhos de imerso da televiso se aproximam, en-
to, cada vez mais dos ambientes de realidade virtual presentes em jogos,
apontando para as inter-relaes do ecossistema miditico.
Por outro lado, as transmisses ao vivo e as sries constituem os es-
paos por excelncia em que a televiso se distingue do cinema, do vdeo
sob demanda e da televiso conectada. Com os reality shows, a televiso
passa a absorver os tempos mortos, retornando, em alguns programas,
a uma temporalidade distinta da acelerao imagtica da neoteleviso e
conferindo uma nova energia s possibilidades provenientes de uma pos-
tura paleotelevisiva, que, segundo alguns, j estaria moribunda.
Todas essas alternativas no foram criadas, mas reunidas pela hiper-
televiso, e revelam uma matriz em comum. Baseiam-se em estruturas j
utilizadas, mas que ganham outras dimenses com as novas tecnologias
digitais. Atualizam tambm um modelo de negcios que oferece formatos
de contedos originais, programas e narrativas para uma gerao trans-
miditica crescente, vida pelo consumo em imerso. Os espectadores
hipertelevisivos vivem o mergulho no ecossistema miditico nos mais di-
versos nveis e possibilidades: nos seus contedos, na sua maneira de ex-
perimentar a nova televiso que se delineia, na maneira de perceber suas
imagens, sons e tempos, e de buscar o mais do mesmo no novo.
REFERNCIAS
BOURDON, Jrme; JOST, Franois. Penser la tlvision: actes du colloque de Cerisy.
Paris: Institut National de lAudiovisuel/Armand Colin, 1998.
O TEMPO MORTO NA HIPERTELEVISO189
CALDWELL, John Thornton. Televisuality: style, crisis, and authority in American
television. New Jersey: Rutgers, 1995.
CASETTI, Francesco; ODIN, Roger. Da Paleo Neo-Televiso: uma abordagem
semiopragmtica. Ciberlegenda, n. 27, p. 8-22, 2012.
COLLINS, Jim. Postmodernism and television. In: ALLEN, Robert C. (Ed.). Channels
of discourse, reassembled. North Carolina: North Carolina Press, 1992. p. 327-353.
ECO, Umberto. A obra aberta. So Paulo: Perspectiva, 2005.
______. Viagem na irrealidade cotidiana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
FAHLE, Oliver. Esttica da televiso. Escritos sobre uma teoria das imagens
televisivas. In: GUIMARES, Csar; LEAL, Bruno Souza; MENDONA, Carlos
Camargos (Org.). Comunicao e experincia esttica. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
JENKINS, Henry. Cultura da convergncia. So Paulo: Aleph, 2008.
JOST, Franois. As metamorfoses da criao televisiva. Cadernos de Televiso: Revista
Quadrimestral de Estudos Avanados de Televiso, Rio de Janeiro: Instituto de
Estudos de Televiso n. 1, jul. 2007.
KOZLOFF, Sarah. Narrative theory and television. In: ALLEN, Robert C. (Ed.).
Channels of discourse, reassembled. North Carolina: North Carolina Press, 1992.
p. 67-100.
LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A tela global: mdias culturais e cinema na era
hipermoderna. Porto Alegre: Sulina, 2009.
LUHMANN, Niklas. A realidade dos meios de comunicao. So Paulo: Paulus, 2005.
MISSIKA, Jean-Louis. La fin de la tlvision. Paris: Seuil, 2006.
MITCHELL, W. J. Thomas. Picture theory: essays on verbal and visual representation.
Chicago: Chicago Press, 1994.
MUANIS, Felipe. As metaimagens na televiso contempornea: as vinhetas da Rede
Globo e MTV. 2010. Tese (Doutorado em Comunicao Social) Faculdade de
Filosofia e Cincias Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
2010.
______. O caminho do olhar: entre as pinturas e as vinhetas de televiso. Significao.
So Paulo: ECA/USP, n. 35, p. 109-128, 2011.
ODAY, Marc. Postmodernism and television. In: SIM, Stuart (Ed.). The Routledge
Companion to postmodernism. Padstow: Routledge, 2001.
RUSHKOFF, Douglas. Um jogo chamado futuro: como a cultura dos garotos pode nos
ensinar a sobreviver na era do caos. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
SCOLARI, Carlos Alberto. Ecologa de la hipertelevisin. Complejidad narrativa,
simulacin y transmedialidad en la television contempornea. In: SQUIRRA,
Sebastio; FECHINE, Yvana (Org.).Televiso digital: desafios para a comunicao.
2009. Porto Alegre: Sulina, 2009.
191
VANDER CASAQUI
Publicizao da felicidade, entre a produo
e o consumo
estratgias comunicacionais da marca Coca-Cola
1
INTRODUO
Este trabalho apresenta uma reflexo sobre a comunicao da marca de
refrigerante Coca-Cola, nos desdobramentos do tema da felicidade iden-
tificado com os atos de consumir e de produzir a bebida. Derivadas do
esprito jovem ressignificado a cada nova campanha da marca, as varia-
es em torno do slogan Abra a felicidade se associam tanto leitura
ldica e onrica da produo, quanto ao consumo ambos representados
em campanhas que transitam entre mdias tradicionais e a entrada em
cena na mdia digital. Em trabalho anterior (CARRASCOZA; CASAQUI;
HOFF, 2007), analisamos o filme Happiness Factory (Figura 1), que cor-
responde a essa estratgia comunicacional da Coca-Cola: seus modos de
circulao incluram veiculaes na TV, tanto aberta quanto em canais de
acesso por assinatura; teve como suporte um hotsite com derivaes da
pea publicitria, incluindo wallpapers e outros elementos para download;
contou com amplo compartilhamento nas redes digitais e em canais de
vdeos da internet. A Fbrica de felicidade de Coca-Cola estabelece um
1 Trabalho apresentado no GP PP Linguagem e Epistemologia da Publicidade, do XII Encontro
dos Grupos de Pesquisa em Comunicao, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de
Cincias da Comunicao Fortaleza, de 3 a 7/9/12.
192VANDER CASAQUI
dilogo estreito com o imaginrio mobilizado por A fantstica fbrica de
chocolate.
2
A leitura delirante da produo de felicidade, da fbrica cor-
respondente ao sistema simblico publicitrio que por sua vez alimenta
as promessas da esfera do consumo , ganhou repercusso global, sendo
at hoje lembrada, assistida em seus diversos posts presentes no Youtube.
Figura 1 Cena do lme Happiness factory (2007).
Fonte: Coca-Cola (2011b).
Da mesma forma que a fbrica, indissocivel do iderio do progresso
derivado da Revoluo Industrial, adentra a era do consumo por meio de
releituras comprometidas unicamente com o imaginrio miditico e com
a cultura do espetculo, outras materialidades presentes no mundo de Co-
ca-Cola (de cones como o Papai Noel de seus anncios antigos, garrafas,
itens de decorao de bares etc.) so recuperadas em suas campanhas,
para compor a esttica e a potica da marca, enfim, sua visualidade e suas
narrativas. Neste trabalho, voltamo-nos anlise da ao comunicacional
2 Charlie and the Chocolate Factory, livro escrito por Roald Dahl, publicado originalmente em 1964;
levado s telas do cinema pela primeira vez em 1971, com roteiro do prprio escritor; em 2005,
ganhou nova verso dirigida por Tim Burton.
PUBLICIZAO DA FELICIDADE, ENTRE A PRODUO E O CONSUMO193
intitulada Mquina da felicidade, decorrente dessa estratgia em que a
Coca-Cola lana um olhar para seus processos, para as esferas comumen-
te ocultadas pelo fetiche da mercadoria, acrescendo-se ao mundo mgico
de Happiness Factory o apelo esttica naturalista do reality show, a fim de
ancorar as imagens ficcionais no cotidiano. Desperta a ateno a retomada
de um cone da cultura pop juvenil, identificado historicamente com o
consumo do refrigerante: a vending machine, um dos elementos que pro-
tagonizam a campanha Happiness factory. Neste filme, o uso da mquina
d incio viagem ao fantstico mundo da produo da bebida; conota-se
que a fbrica est contida em cada mquina e que h algo alm da fria
automao, que substitui o trabalho humano para oferecer as mercadorias
ao consumidor. Em Mquina da felicidade, vending machines interagem
com consumidores de Coca-Cola que a acionam, em ao registrada por
cmeras e transformada em filmes para circulao pelos intrincados cami-
nhos das redes sociais, blogs e canais da internet.
A FELICIDADE ENTRE MQUINAS, FANTASMAGORIAS E SUJEITOS
Identificar as transformaes dos significados culturais das coisas pas-
sa pela anlise dos reflexos e refraes dessas mudanas nas narrativas
publicitrias que compem sua esttica, no sentido discutido por Haug
(1997), em sua Crtica da esttica da mercadoria. De acordo com Appadurai
(2008, p. 54):
a histria social das coisas e suas biografias culturais no so as-
sunto de todo separados, pois a histria social das coisas, no de-
curso de longos perodos de tempo e em nveis sociais extensos,
que constri coercitivamente a forma, os significados e a estrutura
de trajetrias de curto prazo, mais especficas e particulares.
As vending machines so difundidas no processo de ampliao da pre-
sena de mquinas no cotidiano do sculo XX, o que resultou na elimi-
nao de postos de trabalho. Instaladas em lugares de consumo, salas de
cinema, shopping centers, e tambm em ambientes de trabalho, em salas
de descanso e outros espaos de trnsito e convivncia, so materialidades
que representam o acesso fcil e automtico a alimentos industrializados,
194VANDER CASAQUI
refrigerantes, guloseimas to sedutores em seus sabores artificiais, como
pouco saudveis para a dieta regular dos seres humanos. Em Mquina
da felicidade, a Coca-Cola insere, em lugares especficos, vending machi-
nes que ganham vida, rompem com a automatizao e surpreendem os
consumidores (ofertando flores, doces, presentes diversos, em lugar da
esperada reao diante do comando para se obter um refrigerante). Es-
sas mquinas, que literalmente incorporam o ser humano (aqueles que, a
partir de seu interior, distribuem os brindes e interagem com as pessoas),
adquirem certa aura mgica, fantasmagrica. Em seu estudo sobre a obra
de Benjamin, Olgria Matos discute sobre a dimenso visual das merca-
dorias, herana das Passagens e das Exposies Universais da Paris do
sculo XIX; a comunicao visual, presente nesses lugares de celebrao e
universalizao do iderio burgus, produz valores, estilo, comportamen-
tos e afetos, detectando nas mercadorias sua ambiguidade, ambiguidade
que toma o carter de fantasmagoria universal. (MATOS, 2010, p. 218-9)
Sendo assim,
Na indiferenciao entre mercadoria materiale mercadoria visual,
desrealiza-se seu sentido como suporte de um valor de uso e um va-
lor de troca, mesclando-se, no valor, real e imaginrio, em um mun-
do de aparncias e aparies: mobilizando desejos e produzindo
falsa conscincia, mesclando trabalho concreto e trabalho abstrato,
as mercadorias modelando desejos alienados. As mercadorias visu-
ais produzem imagens-fantasmas que conferem atmosfera onrica
ao nosso tempo.
As imagens espectrais vo caracterizar a autonomia das mercadorias
em relao a seus processos produtivos, quando alam voo em direo ao
imaginrio social, com promessas de sensaes, sentimentos materializa-
dos. So imagens que promovem uma esttica eufrica, um mosaico de
reaes humanas s aes identificadas com a marca, servindo de resposta
ao dever de felicidade (BRUCKNER, 2002) que corresponde ao esprito
do tempo, em que a gesto de si envolve o sucesso como responsabili-
dade de cada sujeito. Para Freire Filho (2010, p. 17), na era da felicidade
compulsiva e compulsria, convm aparentar-se bem-adaptado ao am-
biente, irradiando confiana e entusiasmo, alardeando uma personalida-
de desembaraada, extrovertida e dinmica. O autor, em seu diagnstico
PUBLICIZAO DA FELICIDADE, ENTRE A PRODUO E O CONSUMO195
sobre a felicidade como imperativo que atravessa diversos campos de atu-
ao humana, destaca a Coca-Cola e sua misso de levar os consumido-
res a compartilharem de sua viso positiva da vida. Como aponta Haug
(1997, p. 77), a aparncia na qual camos como um espelho, onde o
desejo se v e se reconhece como objetivo; a esttica da mercadoria trans-
forma em linguagem, em simbologias e mitologias, o imaginrio social e
as pulses humanas, retornando aos sujeitos como um sistema interpre-
tativo de si mesmos e do mundo. O desejo e as necessidades humanas
so indissociveis do cenrio cultural em que os sujeitos esto imersos.
Na era da felicidade, tornada dever, coeficiente de avaliao de sucesso,
ndice de desempenho, fator de comparao entre naes no que se refere
ao desenvolvimento humano, o consumo simblico proposto por Coca-
-Cola serve como antdoto, como forma de completude, como signo que
comunica ao outro que se faz parte da comunidade transnacional da mar-
ca, organizada em torno desse sentimento de felicidade. Segundo Arfuch
(2009, p. 25, traduo nossa),
Vivemos sob o impacto de um capitalismo transnacional, no qual
a materialidade e a virtualidade se articulam de forma paradoxal.
Nesse sentido, o objeto que muitas vezes est ausente da ret-
rica publicitria, que coloca em relevo seu carter simblico em
detrimento de suas caractersticas e funcionalidades constitu-
do como um potente objeto de desejo, exatamente por esse investi-
mento em sua dimenso simblica. Por sua vez, sua exibio, mais
do que sua possesso, torna-se um mecanismo de identificao
para os sujeitos em seus modos de presena no mundo..
3
Nesse contexto, a autora discute uma tendncia preponderante na
cena contempornea: a exibio exacerbada da subjetividade e da privaci-
dade, nos distintos mbitos da esfera pblica, em suas diversas formas de
registro.
4
(ARFUCH, 2009, p. 28, traduo nossa) O espao biogrfico
3 Vivimos sin duda la contundencia de un capitalismo transnacional donde materialidad y virtu-
alidad se articulan tambin de modos paradjicos: si el objeto est ausente muchas veces en
la compleja retrica publicitaria que lo pone en escena menos por su ser que por su investidura
simblica, esa carga simblica lo constituye precisamente en el ms apremiante objeto de deseo
[...] donde ya ni siquiera la posesin sino la mera mostracin, el como si, deviene un mecanismo
identicatorio.
4 la mostracin, a menudo exacerbada, de la subjetividad y de la privacidad en los distintos
mbitos de lo pblico, sea en la letra como en las pantallas
196VANDER CASAQUI
alcana um espectro bastante abrangente da produo cultural de nosso
tempo, em blogs, perfis de Facebook, dirios eletrnicos, formas de colocar
em cena a subjetividade e torn-la visvel, consumvel para o outro. Os
sistemas de ideias mobilizados pela publicidade, aliados sua esttica,
so elementos que servem composio dessa persona pblica; compar-
tilhar, curtir, comentar um filme da Coca-Cola que trata da felicidade, por
exemplo, uma forma de expresso de si mediada por essa linguagem.
De acordo com esta abordagem, comunicao e cultura se entrelaam, so
indissociveis: um projeto de cultura pressupe um projeto comunica-
tivo, mas tambm todo projeto de comunicao trama junto seu projeto
de cultura. (BAITELLO JNIOR, 2005, p. 8)
Roland Barthes, em sua tese sobre as mitologias modernas, indi-
ca, a partir do discurso publicitrio, a maneira como a esttica edifica a
transcendncia, como a superficialidade miditica se torna profunda e at
como a espuma pode mesmo ser o signo de uma certa espiritualidade
(BARTHES, 1987, p. 30) ao desenvolver a sua leitura das campanhas
de saponceos e detergentes. H um paradoxo fundamental na forma
como o consumo adquire espiritualidade, por meio de sua visualidade:
ao mesmo tempo em que se afasta de suas funes mais objetivas, na in-
corporao de traos humanos e na expresso de promessas que envolvem
afetos, a mercadoria se transforma na resposta material a necessidades
e desejos humanos abstratos. Nesse jogo entre imaginrio e real, entre
orgnico e inorgnico, a cultura do consumo se estabelece a partir do ce-
nrio social do sculo XIX e amplia seus sentidos na contemporaneidade:
A mercadoria retira sua mais-valia afetiva da linguagem da esttica
e do poder dos olhares amorosos que suscita nos humanos. Fetiche
significa conferir vida ao inanimado de forma que a imitao da
vida acaba por substitu-la. Trata-se no apenas da confuso entre
o real e o imaginrio, mas de tomar o inanimado por animado. H
nisso uma atmosfera de pesadelo, como nos sonhos com espelhos
que, refletidos uns nos outros, criam desorientao, terror e labi-
rintos. Labirintos: desfazem-se os princpios (o logos tranquiliza-
dor) de inteligibilidade do mundo. A identidade subjetiva tambm
ela vacila em ssias e fetiches que nos roubam a alma e o destino.
(MATOS, 2010, p. 139, grifo do autor)
PUBLICIZAO DA FELICIDADE, ENTRE A PRODUO E O CONSUMO197
A mquina da felicidade da Coca-Cola coloca-se na intrincada con-
fluncia entre magia e tcnica, produo e consumo, automatizao e hu-
manizao. A vending machine guarda relao com o imaginrio moderno
que se alinha ao sentido do progresso, de uma projeo de futuro cons-
trudo por mquinas e pelo controle humano. H uma dimenso utpica
de outrora associada a esse maquinrio incorporado ao cotidiano, hoje
superado pelas tecnologias digitais. No discurso que reencanta a mquina
naturalizada, destituda de seu carter futurista moderno, estabelecida
a conexo entre esses dois momentos: mquinas modernas e contempo-
rneas em convergncia, unidas no universo simblico de Coca-Cola, por
meio de uma interveno no espao urbano registrada por cmeras, para
ser compartilhada na internet. De acordo com Cabrera (2006, p. 116),
As distintas anlises sobre a tcnica advertem sobre as consequ-
ncias de sua presena na sociedade moderna. A tcnica difere, no
contexto da modernidade, quanto ao seu sentido e funo social,
de qualquer outra tcnica desenvolvida anteriormente. No que se
refere a seu sentido, pois a tcnica moderna tem como princpio
a racionalidade no domnio e controle da natureza em funo dos
objetivos humanos. Em relao sua funo de legitimao social,
pois se torna pea-chave na dominao social. Conforme defende
o autor, por meio da tcnica que a sociedade moderna define a
si mesma, delimita o que real e racional, postula o que deve ser
desejado e ambicionado.
5
A traduo do imperativo da felicidade para a esfera produtiva tem
o sentido da racionalidade, do controle do sentimento na sua transposi-
o mercadoria. Simultaneamente, processo revestido de afetividade,
o que legitima o agenciamento corporativo em funo de um imaginrio
humanista aplicado ao consumo, de uma felicidade promovida pela marca
e acessvel atravs de seu produto. Transforma-se, assim, em mquina de
5 Las diferentes interpretaciones de la tcnica advierten sobre la situacin que su presencia plan-
tea a la sociedad moderna. La tcnica como fenmeno especcamente moderno diere, en su
sentido y funcin social, de toda outra tcnica anterior. En cuanto a su sentido, porque la moderna
es, ante todo, una tcnica inscripta en la racionalidad de dominio y control que convierte, a la
naturaleza y al propio hombre, en tiles para su funcionamiento. En cuanto a su funcin social de
legitimacin, porque la vuelve en pieza clave de la dominacin social en las sociedades modernas.
En la tcnica y a travs de ella la sociedad moderna se dene a s misma, delimita lo que es real y
racional, postula lo que debe desearse y esperarse.
198VANDER CASAQUI
realizao de encantamento, ou, como define John Berger (1974, p. 146),
configura-se em um proceso de fabricar fascinacin, funo atribuda
pelo autor publicidade. Essa leitura encontra paralelo na abordagem de
Sodr (2006) a respeito das estratgias sensveis, no mbito da produo
publicitria: esta seria resultante de um trabalho de racionalizao e cl-
culo de afetos, de incorporao das trocas afetivas humanas a um projeto
comunicacional com objetivos mercadolgicos. Porm, como ressalta So-
dr, o sujeito que assume essa atividade de controle e planejamento de
afetos um ser imerso nas emoes que mobiliza, consumidor e enuncia-
dor que tambm falado pelos discursos que atualiza. As tcnicas, tanto
da mquina de venda de refrigerantes, quanto das estratgias comunica-
cionais, alinham-se na produo da felicidade de Coca-Cola; o territrio da
marca (QUESSADA, 2003) se organiza em torno de simbologias, ideolo-
gias, utopias. De acordo com Cabrera (2006, p. 116)
De acordo com Cabrera (2006, p. 116), a tcnica um elemento
central na constituio do imaginrio contemporneo, em suas
quatro dimenses constituintes. No que se refere temporalidade,
a tcnica tem uma dimenso memorial, que estimula a permann-
cia de imagens e simbolismos, signos apropriados e compartilha-
dos pelos sujeitos no cotidiano. H tambm a dimenso da espe-
rana, que influencia na configurao das expectativas e anseios
da sociedade como um todo. Quanto institucionalidade, sustenta
uma dimenso ideolgica, que promove a legitimao do status
quo, e, por fim, uma dimenso utpica, que canaliza os impulsos e
desejos de transformao social.
6
Uma marca como a Coca-Cola, que representa as vinculaes trans-
nacionais do consumo, em processos de identificao que se ajustam ao
esprito global, forma comunidades de gosto e de compartilhamento de
smbolos, de imagens, de vivncias conectadas presena do produto: a di-
menso memorial mistura memria de consumo miditico e a experincia
6 En sntesis, la tcnica es una signicacin central del imaginario contemporneo en sus cuatro
polaridades constitutivas. En relacin con la temporalidad, la tcnica tiene una dimensin memo-
rial que es fuente de pervivencias de imgenes, simbolismos y deniciones. Tiene adems una
dimensin esperanza en tanto da forma a las expectativas y anhelos de la sociedad. En relacin
con la institucionalidad, presenta una dimensin ideolgica en tanto constituye una legitimacin
del orden social actual y posee adems una dimensin utpica por la que canaliza las necesidades
de cambio social.
PUBLICIZAO DA FELICIDADE, ENTRE A PRODUO E O CONSUMO199
particular de cada consumidor. A esperana se associa ao ideal de comple-
tude, da felicidade possvel, acessvel por meio das mercadorias, no caso
do refrigerante. A dimenso ideolgica, relacionada esfera institucional,
localiza a companhia de capital global em sua estratgia de legitimao,
dissimulando suas operaes empresariais, seus objetivos de lucro, sua
estrutura produtiva real, para sobrepor a esta ltima o imaginrio de
uma produo de felicidade que se d na interao, na troca afetiva com
o consumidor. Difunde-se o ideal de um mundo melhor, mais humano,
proporcionado pelo sistema capitalista, atravs de um de seus maiores
cones: a Coca-Cola. Nesse encontro entre a corporao e as expectativas
dos sujeitos, composto pela visualidade da narrativa que circula nas redes
sociais, conquistando fs e alimentando a ideia de um mundo possvel
(SEMPRINI, 2006), a presena da marca e de suas mercadorias ganha
uma aura utpica.
COCA-COLA MQUINA DA FELICIDADE
A ao da Coca-Cola tem como base a interveno em espaos como shop-
ping centers, escolas, vias urbanas e o prprio ambiente corporativo, onde
existem vending machines para seus produtos. O carter global da com-
panhia expresso na diversidade de pases escolhidos para compor a es-
tratgia comunicacional: Estados Unidos, Inglaterra, Hungria, Indonsia,
Rssia, ndia, entre outros. A divulgao pela internet expandiu a audi-
ncia da interveno em escala planetria, irradiada a partir das cidades
dos mais diversos cantos do mundo em que a ao se concretizou, como
Londres, Delhi, Moscou, Nova Iorque, So Paulo.
Em pesquisa realizada no Youtube, identificamos quatro filmes deno-
minados Mquina da felicidade, de aes localizadas em cidades brasi-
leiras, postados no incio de 2011. No ms de janeiro, foram enviados ao
canal da internet trs filmes, situados em capitais diferentes: So Paulo,
Porto Alegre e Rio de Janeiro; a proximidade com a data faz supor que a
ao foi realizada originalmente em dezembro, em meio ao esprito nata-
lino, com o qual a Coca-Cola dialoga tradicionalmente. So Paulo e Por-
to Alegre receberam a mquina especial (de acordo com a legenda dos
filmes) em shopping centers; no Rio de Janeiro, o lugar escolhido foi um
200VANDER CASAQUI
ponto de nibus. Divulgada em fevereiro de 2011, a ao no ambiente
corporativo da prpria Coca-Cola, cuja sede brasileira est localizada no
Rio de Janeiro, complementa o conjunto dos filmes que compem o cor-
pus deste trabalho. Os quatro filmes somados alcanam a marca de cerca
de 390.000 views em suas postagens oficiais no Youtube.
7
Optamos pelo
recorte do estudo das aes realizadas no Brasil, devido redundncia do
formato: os estmulos e reaes se repetem com mnimas variaes, em
todos os materiais consultados previamente, resultantes da pesquisa com
os termos happiness machine e mquina da felicidade, no buscador do
Youtube. No havendo acrscimos relevantes na mudana de um pas a
outro, analisaremos os significados da presena da mquina no cenrio
brasileiro.
A estratgia envolve a instalao da mquina de refrigerantes adap-
tada para a presena de uma pessoa em seu interior, transformada em
braos e mos do equipamento, a interagir com aqueles que acionam os
comandos para obter um produto (Figura 2). Cmeras no entorno do local
escolhido registram as reaes e do um carter naturalista composio
do filme. No lugar do costumeiro servio oferecido, em que o item pedido
lanado mecanicamente em direo portinha de sada dos produtos,
ficando ao alcance do consumidor, as mos humanas levam coisas ines-
peradas. O espectro amplo: desde garrafas de dois litros de Coca-Cola,
no lugar da lata de refrigerante; at sanduches, bolos, bichos de pelcia,
bales, brinquedos, inflveis, camisetas, rosas, entre outros elementos
estranhos s caractersticas habituais dos produtos de vending machines
(Figura 3). Dessa forma, a resposta inusitada ao comando automatizado
caracteriza uma interveno no espao, un pedido de atencin que busca
contradecir las percepciones distradas. (SARLO, 2009, p. 166) A autora
trata especificamente das intervenes artsticas no espao urbano, e de
como sua proposta irromper no ambiente, chocando-se com a natura-
lizao do olhar na percepo do entorno, da ocupao humana marcada
pela rotina. Essa intencionalidade artstica apropriada pela estratgia co-
municacional de Coca-Cola, combinando-se ao registro audiovisual das
reaes, em formato que remete esttica dos realities shows.
7 Audincia vericada at o dia 10/3/12, s 16 horas.
PUBLICIZAO DA FELICIDADE, ENTRE A PRODUO E O CONSUMO201
Figuras 2 e 3 Mo humana, sada de dentro da mquina de felicidade, entrega uma
lata de Coca-Cola no shopping center de Porto Alegre; jovem casal retira uma rosa e uma
guitarra invel da mquina da felicidade instalada em shopping de So Paulo.
Fonte: Coca-Cola (2011b).
Nick Couldry (2008) desenvolve tese em que aproxima a lgica da
Reality TV vigilncia em torno das normas comportamentais do am-
biente de trabalho. O autor destaca que a flexibilizao do trabalho sob a
gide do neoliberalismo, que representou a eliminao de postos e a su-
presso de direitos e benefcios, entre outras consequncias, traduz-se em
202VANDER CASAQUI
questes como a atemporalidade, ou seja, a forma como o trabalhador
deve estar permanentemente disponvel, conectado corporao de for-
ma independente da presena fsica e de horrios determinados para sua
atividade. Outro aspecto apontado a maneira como a economia de servi-
os se relaciona com um trabalho emocional, ou, como definem Hardt e
Negri, um trabalho afetivo (2006). O desempenho do trabalhador nesse
contexto est baseado em sua atuao, na capacidade de incorporar os va-
lores da organizao e express-los corporalmente, de forma autntica. A
vigilncia das cmeras dos ambientes de trabalho serve a essa poltica de
controle de afetos, pensada como gesto de recursos humanos em funo
das promessas da esfera do consumo.
A lgica neoliberal, associada ao esprito do tempo, incorporada por
produes culturais; a indstria do entretenimento diretamente influen-
ciada pelo imaginrio da poca e da cultura em que gera novas atraes,
na busca de estabelecer pontes com o repertrio, com os interesses, de-
sejos e incompletudes dos consumidores das representaes miditicas.
Ao discutir o Big Brother, formato paradigmtico para grande parte dos
realities shows presentes na mdia, Couldry (2008, p. 33-34) aponta que este
programa baseado na naturalizao da vigilncia:
A fico de que, depois de algum tempo, as pessoas devem revelar
os seus eus essenciais, porque no se pode atuar eternamente,
serve para sancionar a presena continuada, e cada vez mais intru-
siva, da vigilncia no chuveiro, no banheiro e na cama. Com tudo
isso, esquecemos que, atravs dos nossos prazeres como audin-
cia, estamos legitimando diretamente a prpria vigilncia.
O REALITY SHOW DA UTOPIA CORPORATIVA
Diante desse cenrio, refletimos sobre a ao da Coca-Cola, e sobre como
a esttica do reality show alimenta o imaginrio em torno da marca e do
consumo de seu produto principal, o refrigerante de mesmo nome. O slo-
gan abra a felicidade, alm de imperativo direcionado ao consumidor e
promessa de consumo, o compromisso corporativo que abarca a esfera
produtiva. Produtores e consumidores habitam esse territrio da marca,
PUBLICIZAO DA FELICIDADE, ENTRE A PRODUO E O CONSUMO203
permeados pelo mesmo esprito feliz: a autenticidade das reaes das
pessoas, aparentemente surpreendidas com a vending machine, que passa
a brindar seus usurios com presentes imprevistos, a ancoragem da re-
trica do consumo em uma ideia de realidade, dos efeitos derivados desse
compromisso corporativo. Significados de fico e realidade combinam-
-se na comunicao de Coca-Cola, na constituio de materializaes de
felicidade.
Em sua anlise das diferenas entre felicidade e alegria, Muniz Sodr
indica que, enquanto a alegria escapa visceralmente medida, sendo
algo experimentado na comunho dos sujeitos com o real, na instantanei-
dade do tempo presente, e que prescinde de racionalizaes, a felicidade
mensurvel, passvel de ser quantificada. Nesse sentido, a felicidade:
a mesma que tem servido indstria da cultura para acionar os
mecanismos projetivos e identificatrios dos pblicos. As mitolo-
gias elaboradas por cinema, televiso, show-business e publicidade
sustentam-se no imperativo social de que cada cidado, numa so-
ciedade inapelavelmente individualista, busque a sua cota particu-
lar de satisfao com o mundo. um tipo de euforia de certo modo
anlogo ao que a droga oferece a seu consumidor. (SODR, 2006,
p. 203)
A definio apresentada por Sodr tem grande afinidade com os sig-
nificados dos filmes de Coca-Cola. Seno, vejamos: com relao ao con-
ceito de felicidade, que organiza a comunicao da marca, expandindo-se
para as esferas da produo e do consumo, sugere-se que este sentimento
pode se tornar mercadoria manufaturada, distribuda e consumida, em
processo regido pela corporao atravs de sua cultura, seu planejamen-
to, suas tcnicas e seus produtos. As reaes dos participantes da ao,
tornados visveis pela montagem do filme, comprovariam esse poder da
Coca-Cola na gesto dos afetos. Emolduradas por uma esttica realista,
pelos sons que simulam a captao direta do rudo ambiente combinados
msica da campanha em verso instrumental, as imagens das pessoas
eufricas, expressando nitidamente sua satisfao por meio de sorrisos,
gestos, atestam a capacidade corporativa de distribuir a cota particular de
satisfao a cada um, por meio de presentes inesperados (Figuras 4 e 5).
204VANDER CASAQUI
Figuras 4 e 5 Bandeja de doces retirada da vending machine do restaurante da sede da Coca-Cola
Brasil; euforia da mulher em frente mquina instalada em ponto de nibus no Rio de Janeiro.
Fonte: Coca-Cola (2011d).
Sodr faz analogia ao consumo de drogas como algo semelhante
euforia promovida pelas mitologias elaboradas atravs das estratgias pu-
blicitrias. Neste caso especfico, a mquina da felicidade oferece uma
experincia de consumo que gera essa reao entorpecida, por escapar ao
planejamento racionalizante, daquilo que reconhecido como necessrio,
PUBLICIZAO DA FELICIDADE, ENTRE A PRODUO E O CONSUMO205
e pelo qual no h surpresas. Essa sensao combinada ausncia da
contrapartida, do pagamento pela mercadoria; o brinde, tal qual o presente
de Papai Noel, realiza uma ideia de doao de felicidade patrocinada pela
Coca-Cola, como uma amostra grtis da sensao que poderia ser vivencia-
da por qualquer pessoa, por meio do consumo de seu produto. Em todos
os filmes, encontramos uma atitude que alia a euforia naturalizao da
fantasmagoria: pessoas abraam, beijam, conversam com a mquina, de-
monstrando gratido pelos presentes recebidos (Figuras 6 e 7). A aparente
manifestao espontnea, que, de certa forma, assumiria um sentido de
alegria, de reao imediata experincia do aqui e agora, promovida por
uma cultura corporativa ou seja, a tarefa de pensar os estmulos e calcular
os efeitos assumida pela companhia Coca-Cola ou por seus parceiros na
gesto comunicativa. Para alm da cena representada, esse planejamen-
to em torno da felicidade que transcende fronteiras, ajustada ao esprito
global do consumo de Coca-Cola, a promessa da esttica da mercadoria
(HAUG, 1997), a seduo tornada visvel, mensurvel, materializada, en-
garrafada, servida bem gelada. A multiplicidade das reaes convergentes
ideologia da comunicao da marca representa a prova de sua eficcia e
do compartilhamento dos afetos por ela agenciados.
206VANDER CASAQUI
Figuras 6 e 7 No restaurante da Coca-Cola Brasil e no shopping em
So Paulo, a mesma reao: o abrao na mquina de felicidade.
Fonte: Coca-Cola (2011d).
No comeo dos filmes, as legendas indicam que a inteno de colocar
a mquina especial foi a de compartilhar um pouco de felicidade com
as pessoas. A felicidade, dessa forma, sugerida como algo quantificvel,
e esse pouco ofertado a metonmia daquilo que o mundo organizado
pela corporao pode oferecer. O ambiente, em que se d a experincia
comunicacional da interao entre mquinas e sujeitos, pensado a partir
da lgica do controle. No toa que o shopping center um dos locais
privilegiados pela ao da Coca-Cola. No contexto urbano, o shopping sur-
ge como o lugar do culto s mercadorias e estmulos do consumo; como
diz Sarlo (2004, p. 14), trata-se de um simulacro de cidade de servios
em miniatura, onde todos os extremos do urbano foram liquidados. Sua
lgica de constituio de um territrio autnomo em relao ao que o
rodeia, uma cpsula espacial acondicionada pela esttica do mercado.
(SARLO, 2004, p. 15)
O espao corporativo tambm assume essa caracterstica de ambien-
te controlado, em que a convivncia planejada e a vigilncia parte de
sua concepo: como defende Couldry (2008), a lgica da Reality TV
originada no mundo do trabalho; a performance do trabalhador da corpo-
rao insinuada pela forma como se est sintonizado com a proposta de
PUBLICIZAO DA FELICIDADE, ENTRE A PRODUO E O CONSUMO207
comunicao da Coca-Cola. Sendo assim, a felicidade dos produtores, dos
funcionrios da corporao, atestam que o discurso direcionado ao consu-
midor tem correspondncia com aquilo que faz parte da rotina de trabalho
o que serve a uma espcie de atestado de autenticidade para o sistema
de ideias e imagens, propagado pela comunicao publicitria. Por outro
lado, o momento registrado o da suspenso da atividade laboral, a pausa
para a refeio; o restaurante representa o momento em que o trabalhador
mais se aproxima do lugar do consumidor da marca.
Um paradoxo se estabelece na leitura do mundo possvel de Coca-
-Cola: simultaneamente, h uma dimenso pragmtica e outra utpica em
conjuno. A primeira colocada de forma ntida: as coisas que saem da
vending machine so revestidas pela aura da felicidade, representam for-
mas concretas, manufaturadas de satisfao particularizada, instantnea.
Por outro lado, a comunicao de Coca-Cola faz a sua edio do mundo,
desenvolvendo uma ideologia que emerge como utopia planetria (MAT-
TELART, 2002), a caracterizar uma comunidade imaginada em torno do
consumo. De acordo com o autor,
A caracterstica especfica da empresa hipermoderna , realmente,
a extenso espetacular do seu poder, da esfera econmica s esfe-
ras poltica, ideolgica e psicolgica. a orquestrao sistemtica
distncia de tcnicas de governo: governo que substitui o comando
pessoal, autonomia controlada, dialtica centralizao-descentra-
lizao (a descentralizao crescente opera-se no quadro de uma
maior centralizao em nvel de regras e de estratgias). o desen-
volvimento de uma ideologia de empresa (corporate culture) de uso
externo e interno, e prticas concretas que reforam-na, principal-
mente no domnio das polticas do pessoal. , enfim, a formao
de um certo nmero de meios favorecendo a identificao com a
organizao, a interiorizao de seus objetivos e de seus valores.
(MATTELART, 2002, p. 370-371)
O encadeamento lgico do discurso leva a crer que a utopia plane-
tria da gesto da felicidade a chave de leitura da atuao da Coca-Cola,
no mais em um mercado de bebidas, mas na sociedade como um todo.
A partir de sua comunicao, a corporao se coloca como entidade trans-
nacional, cuja misso orquestrar o sentimento de felicidade do mundo,
produzindo-o em larga escala e tornando-o acessvel a todos. A ideologia
208VANDER CASAQUI
desse discurso pode ser evidenciada na aproximao com o discurso crti-
co da literatura: recordamo-nos, neste ponto, dos dilogos elaborados pelo
importante autor tcheco Karel Tchpek (1890-1938), em sua pea A fbri-
ca de robs (1920). Na fbula distpica de Tchpek, foi cunhado pela
primeira vez o termo rob; seu pensamento crtico se coloca em contra-
ponto ao imaginrio do progresso da era moderna, derivado da Revoluo
Industrial. O projeto coletivo dessa era identificado com o controle da
fora da natureza pelo homem; este se v capaz de projetar, construir e
regular seu futuro (como se constata em uma entre tantas frases dos ti-
pos criados por Tchpek: o produto do engenheiro tecnicamente mais
aprimorado do que o produto da natureza). Reproduzimos abaixo uma
fala do personagem Cnsul Busman, diretor comercial da R.U.R. (Robs
Universais Rossum), a empresa que compe o cenrio principal da pea:
Eu tambm tinha um sonho. Um sonho sobre uma nova economia
no mundo, um ideal muito bonito, dona Helena, nem quero falar.
Mas quando eu estava fazendo um balancete aqui, lembrei-me de
que a histria no feita de grandes sonhos, mas das pequenas ne-
cessidades de todas as pessoas insignificantes, honradas, um pouco
desonestas, egostas, de fato, de todo mundo. Todos os pensamen-
tos, amores, planos, herosmos, todas essas coisas areas servem
apenas para que o homem seja empalhado com elas num Museu
Csmico, com a inscrio: Eis o homem. Ponto. E agora vocs
poderiam me dizer o que faremos de fato? (TCHPEK, 2010, p. 111)
As palavras do diretor comercial da R.U.R. ecoam do longnquo ano
de 1920, para condensar, quase um sculo depois, o esprito da utopia pla-
netria discutida por Mattelart. A produo de robs serve como metfora
ao sentido da produo de consumidores (GORZ, 2005), e por extenso, de
trabalhadores ajustados misso e valores organizacionais. A ambio do
controle da sociedade de produo era expressa pela concepo do trabalho,
a partir de homens-mquina, concebidos para o alto desempenho e para a
excluso das falhas humanas. Na passagem do sistema produtivo imagi-
nrio da obra de Tchpek, para a sociedade do consumo de Coca-Cola, atual-
mente os sujeitos so convocados adeso a essa utopia planetria corpora-
tiva, apoiada no discurso competente da defesa do bem comum: a felicidade
de todos. O controle mais sutil, porm longe de estar ausente a proposta
de regncia do sentimento humano por organizaes privadas que visam o
PUBLICIZAO DA FELICIDADE, ENTRE A PRODUO E O CONSUMO209
lucro, estetizadas e poetizadas pelo discurso messinico da cultura corpo-
rativa expandida (que serve tanto ao ambiente interno quanto ao externo,
atravs de misses e valores que buscam localizar e legitimar a corporao
na sociedade), tem como objetivo a traduo da utopia para a operao
empresarial, ao atender as pequenas necessidades com a pompa dos
grandes feitos revolucionrios.
CONSIDERAES FINAIS
O discurso cnico de Busman d a dimenso desse fazer que se ope ao
sonhar; o futuro da humanidade pelo vis corporativo tem como eixo
central a presena da organizao privada como o Messias, a quem atri-
budo o poder transcendente, a capacidade de analisar o presente, projetar
o futuro e torn-lo algo realizvel, por aes pontuais. Da que o alcance
restrito da interveno no espao pblico, produzindo a afetao de um
nmero limitado de pessoas, amplificado por um discurso que cons-
tri a potica da ao corporativa, como exemplo a ser seguido, como um
modelo a ser adotado. Discurso este que se dissemina pela mdia digital e
conquista fs, seguidores. A vigilncia ultrapassa o gnero Reality TV para
dar sentido ao imperativo da felicidade: a possibilidade do monitoramento
contnuo, da cmera oculta, pode tanto tornar visvel nosso comportamen-
to positivo autntico, adequado ao sentimento que se espera diante des-
se projeto de comunidade, quanto revelar nossa dissonncia em relao
regncia proposta pela organizao. Projetos totalizantes no admitem
rudos; as reaes unssonas de felicidade ante os estmulos de consumo
patrocinados pela Coca-Cola constituem um regime de visibilidade em or-
questrao positiva absoluta. Na cultura espetacular contempornea, isso
demonstrao de poder. Exibio da capacidade de controle. A mquina
de felicidade exibe seu desempenho e, por extenso, significa a Coca-Cola
como entidade habilitada gesto dos afetos, em escala global. Em tempos
de individuao, de atribuio aos sujeitos da responsabilidade da gesto
de si, esse discurso corporativo representa a completude, o suporte que se
capacita a atender s demandas psicolgicas de nossa poca. Por meio de
sua estratgia de publicizao, a marca apresenta sua utopia planetria,
para ser consumida simbolicamente, compartilhada, como se faz com a
210VANDER CASAQUI
produo discursiva, fragmentada e catica, que se insere no cenrio das
redes sociais digitais e obtm o sucesso de audincia to intenso, quanto
fugaz e descartvel.
REFERNCIAS
ANDERSON, B. Comunidades imaginadas: ref lexes sobre a origem e a expanso do
nacionalismo. Lisboa: Edies 70, 2005.
APPADURAI, A. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural.
Niteri: EdUFF, 2008.
ARFUCH, L. Ver el mundo con otros ojos. Poderes y paradojas de la imagen en la
sociedad global. In: ______; DEVALLE, V. (Comp.) Visualidades sin fin: imagen y
diseo en la sociedad global. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009, p. 15-39.
BAITELLO JUNIOR, N. A era da iconofagia: ensaios de comunicao e cultura. So
Paulo: Hacker, 2005.
BARTHES, R. Mitologias. So Paulo: Difel, 1987.
BERGER, J. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gilli, 1974.
BRUCKNER, P. A euforia perptua: ensaio sobre o dever de felicidade. Rio de Janeiro:
Difel, 2002.
CABRERA, D. H. Lo tecnolgico y lo imaginario: las nuevas tecnologas como creencias
y esperanzas colectivas. Buenos Aires: Biblos, 2006.
CARRASCOZA, J. A.; CASAQUI, V.; HOFF, T. A publicidade da Coca-Cola
Happiness Factory e o imaginrio do sistema produtivo na sociedade de consumo. In:
Comunicao, Mdia e Consumo, So Paulo, v. 4, n. 11. So Paulo: ESPM, 2007, p. 65-77.
COCA-COLA Mquina da Felicidade em So Paulo. 2011a. Disponvel em: <http://
www.youtube.com/watch?v=yIy99xDcylM.>. Acesso em: 10 mar. 12.
COCA-COLA Mquina da Felicidade em Porto Alegre. 2011b Disponvel em: <http://
www.youtube.com/watch?v=9kkH1Oh1m9g&feature=relmf>. Acesso em 10 mar.
2012.
COCA-COLA Mquina da Felicidade no Rio de Janeiro. 2011c. Disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=6rfx1i3wK3k&feature=related>. Acesso em:
10 mar. 2012.
COCA-COLA Mquina da Felicidade Restaurante da Coca-Cola. 2011d. Disponvel
em: <http://www.youtube.com/watch?v=KUe5NI52Xp0&feature=relmfu>. Acesso em:
10 mar. 2012.
COULDRY, N. Reality TV, ou o teatro secreto do neoliberalismo. In: COUTINHO,
E. G.; FREIRE FILHO, J.; PAIVA, R. (Org.) Mdia e poder: ideologia, discurso e
subjetividade. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008.
PUBLICIZAO DA FELICIDADE, ENTRE A PRODUO E O CONSUMO211
FIGUEIREDO, A. C. C. M. Liberdade uma cala velha, azul e desbotada: publicidade,
cultura de consumo e comportamento poltico no Brasil (1954-1964). So Paulo:
Hucitec/Histria Social USP, 1998.
FREIRE FILHO, J. Introduo. In: ______ (Org.) Ser feliz hoje: ref lexes sobre o
imperativo da felicidade. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2010.
GORZ, A. O imaterial: conhecimento, valor e capital. So Paulo: Annablume, 2005.
HARDT, M.; NEGRI, A. Imprio. Rio de Janeiro: Record, 2006.
HAUG, W. F. Crtica da esttica da mercadoria. So Paulo: Ed. Unesp, 1997.
MATTELART, A. Histria da utopia planetria: da cidade proftica sociedade global.
Porto Alegre: Sulina, 2002.
ORLANDI, E. Anlise de discurso: princpios & procedimentos. Campinas, SP: Pontes,
2001.
QUESSADA, D. O poder da publicidade na sociedade consumida pelas marcas: como a
globalizao impe produtos, sonhos e iluses. So Paulo: Futura, 2003.
SARLO, B. La ciudad vista: mercancas y cultura urbana. Buenos Aires: Siglo
Veintiuno, 2009.
______. Cenas da vida ps-moderna. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2004.
SEMPRINI, A. A marca ps-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade
contempornea. So Paulo: Estao das Letras, 2006.
SODR, M. As estratgias sensveis: afeto, mdia e poltica. Petrpolis, RJ: Vozes, 2006.
TCHPEK, K. A fbrica de robs. So Paulo: Hedra, 2010.
213
ANA GRUSZYNSKI
O design (in)forma
um olhar sobre a visualidade dos jornais impressos
na contemporaneidade
1
INTRODUO
O estudo da visualidade nas artes, na mdia e no dia a dia, onde a cultura
passou a ser vista como a causa ao invs de um mero reflexo ou res-
posta de processos sociais, polticos e econmicos, apresentado por
Dikovitskaya (2006) como cultura visual. Para a autora, a importncia do
conceito de contexto cultural nas humanidades resultou no crescimento
dos estudos visuais. Mirzoeff (1999) entende que a prpria crise visual
da cultura que gerou a ps-modernidade. Define esta poca como o con-
texto que resulta da crise causada pelo modernismo e a cultura moderna
em seu confronto com a falncia de suas prprias estratgias de visuali-
zao. O campo de estudos resulta de um fenmeno, de dentro para fora,
em sua relao com a histria da arte, uma vez que se abre para imagens
vernaculares, miditicas e vinculadas s prticas cotidianas, elevando a
questo das diferenas entre alta e baixa cultura, arte visual versus cultura
visual. (MITCHELL, 1987)
1 Este artigo traz reexes ampliadas de trabalho apresentado no GP Produo Editorial, XI En-
contro dos Grupos de Pesquisas em Comunicao, evento componente do XXXIV Congresso
Brasileiro de Cincias da Comunicao, realizado em 2011.
214ANA GRUSZYNSKI
Considerando o complexo de imagens que constitui a vivncia co-
tidiana do sujeito, na contemporaneidade, propomos a anlise do design
de jornais impressos uma forma estruturada de comunicao, que se
apresenta tambm como experincia visual buscando distinguir e sis-
tematizar alguns aspectos de sua forma grfica, segundo a perspectiva do
jornalismo. Como produto de comunicao, em sua origem tambm vin-
culado constituio dos espaos e fluxos urbanos, na contemporaneida-
de, os jornais disputam a ateno de leitores em sociedades cada vez mais
complexas, onde grande parte das experincias visuais dos sujeitos se d
fora de estruturas formais ou momentos especficos destinados viso.
As edies de ttulos impressos tradicionais, hoje so distribudas
tambm em diferentes plataformas digitais, exigindo a reflexo em torno
do seu prprio status enquanto meio, tendo em vista desde nomenclaturas,
passando pelos processos editoriais, pelas estruturas profissionais, fsicas
e tecnolgicas, de produo e distribuio, pelos valores e princpios de
edio jornalstica, entre outros aspectos. necessrio, por exemplo (e por
enquanto), adicionar o termo impresso, aps jornal, para delimitar o objeto
a ser aqui estudado, o que no era necessrio, h alguns anos atrs, o que
poder ser diferente, na medida em que prticas profissionais e pesquisas
sistemticas forem delineando outros paradigmas, a partir das mudanas
em andamento.
Nosso foco, portanto, o jornal impresso, um dispositivo que com-
preende um conjunto estruturado e articulado de elementos verbais
e visuais que formata as mensagens e contribui para lhes conferir um
sentido. Sua conformao se d, historicamente (GRUSZYNSKI, 2010),
perpassada por uma complexa rede de relaes, que envolvem a produ-
o, a circulao e a recepo de formas simblicas. Fundamentando-nos
na pesquisa bibliogrfica e realizando um breve estudo exploratrio, para
ilustrar os argumentos debatidos, o artigo trata do projeto grfico. Visa
analisar propriedades de seu suporte, regularidades de suas caractersti-
cas, na contemporaneidade, bem como distines identificadas em uma
comparao a outras mdias, com o objetivo de problematizar as bases que
constituem convenes compositivas ligadas s caractersticas materiais
dos jornais. O design aqui entendido como atividade que conforma a
materialidade dos peridicos, e que atua de modo articulado a princpios
O DESIGN (IN)FORMA215
e prticas do campo jornalstico, perpassados por aspectos ideolgicos e
comerciais.
A FORMA INFORMA: O JORNAL DO PAPEL PARA A TELA
Barnhust e Nerome (2001) afirmam que a forma do jornal cristaliza uma
srie de relaes representativas que evidenciam os modos como a publi-
cao imagina e prope suas estratgias de mediao. A noo de forma,
para os autores, compreende tudo aquilo que elaborado para compor
a aparncia das notcias. Qualquer forma de mdia inclui um modelo
proposto ou normativo do prprio meio. Dito de outra maneira, a forma
inclui o modo como o meio imagina a si mesmo sendo e agindo. Em seu
arranjo fsico, estrutura e formato, um jornal reitera um ideal para si.
2
(BARNHURST; NERONE, 2001, p. 3, traduo nossa) Entretanto, aquilo
que idealizado, no corresponde necessariamente descrio material do
jornal, tampouco as relaes entre mundo e pblico, que a forma do jor-
nal constitui, correspondem sua ocorrncia efetiva. Essa noo de forma,
ento, produtiva para uma reflexo acerca do projeto grfico como um
elemento fundamental na constituio de uma identidade do jornal, bem
como no estabelecimento de um contrato de comunicao entre publicao
e leitores.
A familiaridade com o jornal dirio implica o reconhecimento de
uma rede conceitual que perpassa o contrato comunicacional, que envol-
ve tambm o domnio da visualidade. Charaudeau (2007, p. 68) afirma
que o necessrio reconhecimento recproco das restries da linguagem
pela troca linguageira nos leva a dizer que estes esto ligados por uma es-
pcie de acordo prvio sobre os dados desse quadro de referncia. O ato
de conhecer, ao passar necessariamente pela mediao simblica, depen-
de da apreenso, simultaneamente sensvel e racional, de sujeitos condi-
cionados por sua capacidade perceptiva, formao e posio social. por
meio do exerccio da linguagem que o mundo se torna inteligvel. Esta
2 Any media form includes a proposed or normative model of the medium itself. Put another way,
the form includes the way the medium imagines itself to be and to act. In its physical arrangement,
structure, and format, a newspaper reiterates an ideal for itself.
216ANA GRUSZYNSKI
diz respeito aos sistemas de signos utilizados, contudo, ser ao considera-
mos os valores que articulam seu uso, em circunstncias de comunicao
singulares, que teremos condies de compreender como as estratgias
discursivas se constituem com vistas produo de sentidos.
Tratando do contrato de leitura, Vron (1985) afirma que este esta-
belecido em uma relao entre suportes e leitores, que se constitui e que
se mantm no tempo, configurando-se como um hbito de consumo ba-
seado em confiana. O autor entende que trs condies so necessrias
na sua constituio e manuteno: (1) deve ser considerada a dinmica
dos leitores, de modo que atravs do discurso seja possvel estabelecer
uma relao; (2) na medida do necessrio, pode haver mudanas que vi-
sem a acompanhar a evoluo sociocultural dos leitores; e (3) tambm a
avaliao sistemtica da concorrncia com outros suportes pode orientar
sua adequao. No jornal, objeto de leitura cotidiana, o mundo dos textos
confronta-se com o mundo dos leitores. Objetos, formas e rituais liga-
dos materialidade so apropriados por comunidades de interpretao,
constituindo diferentes prticas (Cf. CHARTIER; CAVALLO, 1998). Nes-
se sentido, a introduo das tecnologias digitais foi responsvel pela de-
sestabilizao de vrios modos e hbitos de lidar com as informaes, exi-
gindo que os veculos fossem encontrando novas estratgias para manter
seu pblico-leitor fiel, e angariar novos interessados.
Assumindo o letramento como uma prtica cultural, estabelecida
nos mbitos histrico e social, que possibilita a participao de indivduos
e grupos sociais, de modo competente, em diferentes situaes de intera-
o em que escrita e leitura tm papel fundamental (SOARES, 2002), po-
demos dizer que atualmente possvel encontrar pessoas que usufruem
amplamente das vantagens da condio de letramento, mas que, do ponto
de vista digital, so ainda iletradas. Teramos nesse caso lacunas quanto
ao domnio de tcnicas e habilidades especficas associadas ao desenvolvi-
mento de mltiplas competncias de escrita e leitura, nas variadas mdias
abarcadas pela matriz digital.
3
3 importante ressaltar que consideramos aqui fatores que perpassam as prticas de leitura e no
o seu processamento cognitivo, o que pode ser uma barreira diante do que vem se chamando de
jornalismo multiplataforma, em que jornais so distribudos de modo impresso e em verses para
tables e e-readers.
O DESIGN (IN)FORMA217
Os primeiros jornais on-line levaram para a tela, sobretudo, reprodu-
es do impresso. Com o objetivo de sistematizar modelos de produo em
jornalismo digital (JD), diferentes pesquisadores evidenciaram o gradual
desenvolvimento de produtos caractersticos do ciberespao, que se auto-
nomizaram em relao aos parmetros do jornal impresso. Das experin-
cias pioneiras, ocorridas no final da dcada de 1960, passando pelo esta-
belecimento de estratgias prprias de apurao, produo e circulao de
contedos, possvel encontrarmos hoje sistemas que agregam diferentes
funes, que integram bancos de dados e que permitem o envolvimento de
usurios, por meio do que se vem denominando de jornalismo colabora-
tivo. Do ponto de vista da composio visual, contudo, Moherdaui (2009)
entende que as diferentes fases (geraes) do JD se misturam, uma vez que
as convenes estabelecidas na mdia tradicional preponderam, segundo o
princpio da remediao. (BOLTER; GRUSIN, 2000)
Em um quadro miditico marcado pelas tecnologias digitais e pela
web, em que o sistema de mdia (BRIGGS; BURKE, 2004) se reacomoda,
conceitos como os de remediao (BOLTER; GRUSIN, 2000) e mediamor-
fosis (FIDLER, 1998) evidenciam a mobilizao, no campo terico, no sen-
tido de discutir como novos meios e aqueles tradicionais so tensionados
em suas formas comunicacionais. Bolter e Grusin, considerando a matriz
digital caracterstica fundamental dos novos meios, entendem a remedia-
o (remediation) como a lgica formal pela qual, estes renovam (refashion)
as formas dos meios anteriores, aprimorando-as. Fidler, por sua vez, atra-
vs da noo de mediamorfosis, considera que necessidades percebidas,
presses de ordem poltica e competitiva, inovaes sociais e tecnolgicas,
desempenham papel fundamental na transformao dos meios. Para o
autor, novas formas comunicacionais, ao sofrerem a influncia dos meios
convencionais, se adaptam e se reformulam segundo ambientes distintos.
Nesse sentido, alternativas editoriais e comerciais esboam possibilidades
de permanncia dos jornais impressos no sistema miditico, onde encon-
tramos um territrio de variadas transformaes. Se, nos primrdios dos
jornais on-line, o impresso era a principal referncia para guiar seus pro-
cessos de produo, edio e design do jornal on-line, parece que contem-
poraneamente o intercmbio de influncias recprocas mais perceptvel.
218ANA GRUSZYNSKI
UM PROJETO JORNALSTICO
Na perspectiva de Mige (apud SODR, 2002), acerca da histria da im-
prensa, h, na contemporaneidade, a predominncia de um modelo base-
ado em megaconglomerados miditicos, em que a informao permeia as
estruturas socioculturais e as relaes intersubjetivas, que denominado
pelo autor de comunicao generalizada.
4
O espao pblico, nesse sentido,
compreende a articulao de foras e interesses em um mundo regido
pelos meios de comunicao, onde se d o conflito entre diversos sujeitos-
-narradores das histrias do cotidiano. Na atualidade, causas pblicas e
valores ticos convivem com representaes prosaicas na capa do jornal.
Com o objetivo de compreender os modos como a mdia opera na
seleo de determinados assuntos, Vaz e Frana (2009) destacam duas
concepes distintas de acontecimento. A partir da perspectiva de Qur
(2005), os autores apresentam aqueles que seriam os acontecimentos le-
gtimos, que afetam os meios e emergem por fora prpria, no necessi-
tando dos veculos para serem legitimados. J com base em Mouillaud
(2002) e Charaudeau (2007), evidenciam aqueles vinculados ao cotidiano
e que, em funo de no produzirem significativas mudanas para o cole-
tivo, necessitam de seleo para ganhar visibilidade.
Segundo Charaudeau (2007), notoriedade, representatividade, expres-
so e polmica so critrios que norteiam a seleo de um acontecimento
que merea ser noticiado. Ao ser retratado a partir de um sistema de con-
venes, a partir de orientaes especficas e objetivos determinados, ele
se integra a um contexto que no existia antes do acontecimento. Ser a
insero miditica a lhe restaurar uma continuidade, dentro de um qua-
dro narrativo, que se utiliza de gneros consolidados que, por sua vez, se
ancoram em convenes recorrentes, reproduzidas de modo sistemtico,
e que visam obter os mesmos resultados quando em instncias similares.
Mais que um conjunto de padres formais, a composio da pgina do
4 A diviso de Mige compreende tambm a imprensa de opinio produo artesanal, tiragens
reduzidas, estilo de texto opinativo; a imprensa comercial organizada em bases industriais/mer-
cantis, a difuso informativa com base em estilo noticioso; a mdia de massa produo ligada a
investimentos publicitrios e tcnicas de marketing, preponderncia de tecnologias audiovisuais
e nfase no espetculo. Os quatro modelos podem coexistir em um mesmo perodo histrico e
espao social, se estiverem integrados em um mesmo plano tecnolgico e econmico.
O DESIGN (IN)FORMA219
jornal por meio da recorrncia permite inferncias pelo leitor, que pode
comparar situaes e assim estabelecer relaes de sentido. A estrutura
construda por meio do projeto grfico torna um mesmo peridico re-
conhecvel, ainda que os contedos apresentados sejam completamente
diversos em suas edies.
Sabemos que mudanas histricas e tecnolgicas propiciam experi-
ncias temporais distintas, que repercutem tambm no desenvolvimento
da imprensa, como o estabelecimento dos veculos dirios, por exemplo.
Reconhecendo a complexidade da noo de tempo, que depende da percep-
o subjetiva, mas que tambm passa pela regulao social, interessa-nos
destacar a periodicidade como uma das caractersticas fundamentais do
jornalismo impresso moderno. A perspectiva modernista de construir o
progresso, por meio da ordem e da racionalidade, apresenta-se na produ-
o jornalstica, tanto por meio da normatizao e sntese dos textos, como
pela organizao do espao grfico em um todo funcional. O tratamento
de carter informativo visava possibilitar que o leitor pudesse ter acesso
aos fatos mais importantes em pouco tempo. Nesse sentido, o modelo de
texto jornalstico denominado Pirmide Invertida recomenda que o jorna-
lista, ao redigir uma matria, selecione os tpicos mais importantes, dentre
as informaes sobre um acontecimento que constariam no lead o qu,
quem, onde, como, quando e por qu. Os pargrafos subsequentes dariam
conta de contextualizao, desdobramentos e/ou concluses que se cons-
tituiriam como proposies adicionais ao apresentado no incio do texto.
No que se refere ao layout, na imprensa, se nos anos de 1920 a 1940
ocorre uma progressiva hierarquizao das informaes, uma renovao
do grafismo, e a fotografia aos poucos assume um papel de ancoragem
grfica caractersticas que delineiam as bases para a concepo de jornal
moderno, sob a perspectiva do projeto grfico , ser a partir dos anos de
1960 que se instituem estratgias visuais marcantes. A paginao modular
caracterstica fundamental do layout moderno, abrangendo uma classi-
ficao de contedos diferenciada, fotos maiores e propostas tipogrficas
que visam a criar uma identidade prpria a cada publicao. Nos anos de
1970, com a diviso do jornal em sees, teremos uma mudana editorial
e grfica fundamental na sua conformao, que orienta a distribuio das
notcias segundo um enquadramento temtico. (Cf. GRUSZYNSKI, 2010)
220ANA GRUSZYNSKI
Na medida em que acontecimento e acontecimento jornalstico no
so equivalentes, vemos que o planejamento grfico do jornal impresso
colabora de modo fundamental para a insero de acontecimentos bru-
tos em um quadro contextual em que o relato elaborado busca construir
um sentido, desvendando causas, envolvidos, consequncias etc., tornan-
do-o, assim, um acontecimento jornalstico. A sistemtica de efetuar o
projeto grfico dos jornais foi gradualmente se consolidando, justamente
em torno de uma noo de previsibilidade/recorrncia, e muito menos na
ideia de ruptura que habitualmente associamos produo jornalstica
peridica. Sua diviso em sees e cadernos, a presena de suplementos
especiais ou encartes dirigidos a pblicos especficos so eixos fundamen-
tais que enquadram a variedade de assuntos que compem o mosaico de
informaes presentes nos jornais dirios.
ELEMENTOS DO PROJETO GRFICO
A confiana que os leitores depositam nos contedos de um peridico,
segundo Gde (2002), est ligada ao aspecto ptico, original e autntico,
com que os contedos lhes so apresentados, a partir de como eles os
percebem: da textura e qualidade do papel, passando pela qualidade da
impresso, a disposio das informaes etc. A consistncia e singulari-
dade do projeto grfico, portanto, objetiva comunicar por meio de uma
sequncia de pginas com textos e imagens ordenadas. Isto inclui mais de
um tipo de imagens, entre fotos, ilustraes e infogrficos, e tipos de texto
tambm diferentes, como nveis de titulao e texto corrido. Zappaterra
(2007) esclarece que cada um deles cumpre funes distintas. Interessa
que a estrutura visual recorrente torne um mesmo peridico reconhecvel,
ainda que os contedos apresentados sejam completamente diversos a
cada dia. O design estratgico, no sentido de orientar um possvel per-
curso do olhar do leitor pela pgina, uma vez que conforme a disposi-
o dos elementos, ele poder descrever movimentos de leitura diversos.
(GRUSZYNSKI, 2011)
Charaudeau (2007), tratando da imprensa, enfatiza a relao de dis-
tncia que esta estabelece entre quem escreve e quem l, o que comporta
uma atividade de conceitualizao de ambas as instncias na representao
O DESIGN (IN)FORMA221
do mundo, responsvel por produzir lgicas de produo e compreenso
singulares. Afirma o autor:
A relao de distncia e de ausncia fsica entre as instncias de tro-
ca faz com que a imprensa seja uma mdia que, por definio, no
pode fazer coincidir tempo e acontecimento, tempo de escritura,
tempo de produo da informao e tempo de leitura. [...] A ativida-
de de conceitualizao muito mais analtica do que na oralidade
ou na iconicidade. Alm disso, como tal atividade se acompanha
de um movimento ocular que percorre seguidamente o espao es-
critural do comeo ao fim (e mesmo em vrios sentidos), o leitor pe
em funcionamento um tipo de compreenso mais discriminatria
e organizadora que se baseia em uma lgica hierarquizada: ope-
raes de conexo entre as diferentes partes de uma narrativa, de
subordinao, de encaixe de argumentos, de reconstruo dos dife-
rentes tipos de raciocnio (em rvore, em contnuo, em paralelo etc.).
(CHARAUDEAU, 2007, p. 113)
O planejamento grfico estrutura a organizao e a hierarquia dos ele-
mentos informativos, segundo critrios de edio. A base do projeto o for-
mato que, no jornalismo impresso, tem trs medidas principais. O standard
(broadsheet), utilizado por vrias dcadas por publicaes de todo o mundo e
associado ideia de peridico tradicional, rigoroso e srio; o tabloide, apro-
ximadamente a metade do standard, e que comeou a ser usado com os
jornais sensacionalistas, o que por muito tempo associou a esse tamanho
um carter negativo; e o berliner, dimenso intermediria entre ambos e que
no carrega a conotao pejorativa do tabloide.
O espao grfico organizado segundo um grid ou diagrama, que
um conjunto de linhas de marcao invisveis, para quem no participa do
processo de diagramao. Sua funo sistematizar contedos em relao
ao espao da pgina, estabelecendo o nmero de colunas, o espao entre
elas e as margens da pgina. Ele responsvel pela unidade das diferentes
edies da publicao, de forma que, mesmo que o contedo varie bastan-
te, de uma para outra, mantenha-se a identidade do peridico. Ao regular
superfcies e espaos da pgina, levando em conta critrios objetivos e
funcionais, o diagrama sugere a ideia de ordem em uma publicao, tor-
nando a diversidade de imagens e textos mais inteligveis e claros, contri-
buindo para a credibilidade da informao transmitida.
222ANA GRUSZYNSKI
Outro elemento fundamental para manter as caractersticas da pu-
blicao a escolha tipogrfica. Uma fonte um alfabeto completo, com
letras maisculas (caixa alta) e minsculas (caixa baixa), nmeros e sinais
de pontuao, de um determinado tipo, que seguem um mesmo padro
de desenho. Uma famlia tipogrfica abrange um grupo de caracteres que
mantm caractersticas similares essenciais ao seu desenho, independen-
temente de variaes de corpo, peso e inclinao. No design editorial, cos-
tuma-se utilizar famlias compostas por vrias fontes, para que se possa
manter uma unidade, sem perder a diversidade, contemplando assim os
vrios nveis hierrquicos de um texto. Cada famlia tem uma personali-
dade e um estilo que ajudam a transmitir visualmente a mensagem pre-
tendida, e que devem ser levados em conta no momento de escolha, assim
como a legibilidade da fonte.
A funo da tipografia mais do que transmitir a mensagem em lin-
guagem verbal escrita (Cf. GRUSZYNSKI, 2007). Ela assegura expressivi-
dade e nfase aos textos, o que pode ser comparado a elementos das lin-
guagens oral e gestual, como entonaes, variaes de ritmo, expresses
fisionmicas, movimentos corporais, posturas, para citar alguns. Alm dis-
so, tambm tem como funo mediar a compreenso da informao condu-
zindo a leitura e estimulando a percepo da estrutura subjacente ao texto.
Em um projeto grfico, determinam-se estilos ou padres especficos para
cada entrada textual, a fim de possibilitar a diferenciao dos nveis hierr-
quicos do texto pelo leitor. Assim, para os ttulos e subttulos, texto, cartolas,
chamadas de capa etc., so estabelecidos padres de fonte, tamanho, espao
entre letras e entrelinhas, que devem ser usados para cada pargrafo, enfim,
as especificaes variadas referentes a caracteres e espaamentos.
Ao lado do texto, as imagens fotografias, ilustraes, infogrficos
tm lugar fundamental na composio dos jornais contemporneos, e so
selecionadas a partir de estratgias e critrios editoriais, relacionando-se
s informaes textuais de modo direto ou, s vezes, atuando de maneira
independente. Sua utilizao em um peridico est relacionada a uma
rede de associaes entre os signos textuais, plsticos e icnicos, que pro-
vocam no leitor, por sua vez, outras associaes que transmitem mensa-
gens sobre a identidade da publicao, sobre o contedo especfico que
est sendo trabalhado naquela pgina.
O DESIGN (IN)FORMA223
Em linhas gerais, portanto, os elementos fundamentais do projeto
grfico compreendem o formato ligado a especificaes do suporte e
o espao grfico que dele deriva, que organizado segundo um diagrama
(grid). Nele so dispostos textos, imagens e recursos de apoio, como fios e
texturas, que tm na cor sua caracterstica fundamental. Critrios compo-
sitivos, por sua vez, regem a articulao destes elementos, embasados em
princpios perceptivos que orientam a sintaxe da linguagem visual (DON-
DIS, 1997). Estes, contudo, so condicionados por valores especficos do
campo jornalstico, em que apelo esttico e compromisso informativo
tensionam as escolhas possveis, muitas vezes tambm subordinadas
modulao comercial da publicao.
H que se ressaltar ainda a distino entre as diferentes partes de
um jornal, em que a capa tem um papel singular, na medida em que bus-
ca chamar a ateno do leitor, especialmente quando os fatos do dia so
inditos ou inusitados, informando e enunciando o que est disposio
dos leitores, no interior do peridico. nela tambm que est o nome da
publicao, que indica a existncia de um referente que visa ser (re)conhe-
cido pelo leitor, em um espao simblico: entre vrios, este o jornal.
Para Garca (1993), dois fatores so essenciais na primeira pgina:
o fato dela ser o cartaz de apresentao dos assuntos de maior relevncia
disponveis no jornal e que esta deve comunicar vrias mensagens simul-
taneamente, estabelecendo uma hierarquia entre elas. A necessidade de
impacto visual, de modo a captar o olhar e motivar o leitor, fortemente
dependente da escala, enquadramento e posio dos elementos na pgina.
A organizao e a coerncia demandam a formao de blocos/conjuntos
que geram ordem visual, sem deixar de lado um dinamismo compositivo.
O conceito WED Writing/Editing/Design foi criado por Garca
(1993), com o propsito de estimular um trabalho em equipe, com vistas
qualificar o produto jornalstico. Para o autor, editar estabelecer uma
ligao crucial entre a informao e o pblico, o que compreende desde
a concepo dos textos sua colocao na pgina. Reitera, assim, que a
excelncia de um trabalho de design dependente daquele de edio, os
dois so inseparveis. Sugere tambm a importncia de que os reprteres
desenvolvam um pensamento visual, avaliando potencialidades e estrat-
gias narrativas que aprimorem a apresentao das notcias.
224ANA GRUSZYNSKI
UM OLHAR SOBRE CAPAS DE JORNAIS
Considerando a presena de um acontecimento que teria um poder de
ruptura do cotidiano (QUR, 2005), sendo, portanto, um acontecimento
legtimo, devido ao seu poder de provocar, por conta prpria, um quadro
de sentido que precisa ser explicado, selecionamos capas de jornais do dia
4 de maio de 2011, quando a morte recente de Osama Bin Laden estava em
pauta. Elas foram retiradas do site Newseum,
5
tomando como critrio de
seleo
6
a primeira capa disponvel para acesso (lado superior esquerdo),
segundo a disposio de exemplares em ordem alfabtica oferecida pelo
site. Obtivemos, ento, 25 capas que foram dispostas em ordem alfabtica
na Figura 1. Como se trata de um estudo exploratrio, nossa amostra no
permite que faamos generalizaes, contudo revela algumas estratgias
compositivas que demonstram como jornais de diferentes lugares e diri-
gidos a pblicos variados para citar alguns aspectos reiteram modos de
enunciao que reafirmam a identidade de uma capa, ao mesmo tempo
que, em suas variaes, singularizam modos de se dirigir a pblicos seg-
mentados.
Ao observarmos o conjunto de capas (Figura 1), uma primeira im-
presso j indica as pequenas variaes de tamanho, dentro dos trs for-
matos principais destacados, com a preponderncia do tabloide e do stan-
dard sobre o berliner. interessante considerar que no tendo o domnio
dos signos verbais utilizados por algumas das publicaes, a reiterao
de posies e recursos compositivos permite a inferncia acerca de que
elementos/gneros compem a capa: predominantemente cabealho (lo-
gotipo e dados), textos (manchetes, chamadas e legendas etc.), imagens
(fotografias) e publicidade. Podemos ter tambm outros estilos de texto
como cartolas e corpo de texto, mais frequentes em formato standard; as-
sim como ilustraes e infogrficos (a rigor este ltimo imbricamento de
textos e imagens), por exemplo.
5 Disponvel em: <http://www.newseum.org/todaysfrontpages/default_archive.asp?fpArchive=050411>.
Acesso em: 01 jul. 2011.
6 No se trata propriamente de um corpus j que os critrios de seleo no comportam uma uni-
formidade que leve em conta critrios jornalsticos e/ou comunicacionais.
O DESIGN (IN)FORMA225
Figura 1 Capas selecionadas para o estudo exploratrio.
Fonte: www.newseum.org.
226ANA GRUSZYNSKI
Tomando o cabealho como o espao privilegiado em que consta o
nome do jornal, encontramos seis modos de organizao dos elementos.
O mais tradicional aquele em que o logotipo est na parte superior, junto
com os dados da edio, sem outros elementos junto deles. Ressalta-se,
contudo, que o uso de fundos com cores distintas j concede uma dinami-
cidade composio, que quebra com a verso mais conservadora da tipo-
grafia sobre o fundo branco. Nesse sentido, se encontramos na histria do
planejamento grfico de jornais a vinculao de identidade entre formato
standard/tradio-seriedade e tabloide/inovao-popularidade, o uso desse
cruzamento de combinaes convencionadas culturalmente permite que
publicaes em formato tabloide adquiram uma visualidade mais conser-
vadora, ao adotarem os tipos com o nome do jornal diretamente sobre o
branco da pgina, alguns inclusive utilizando tipos gticos. Do mesmo
modo, jornais standard se utilizam de cores e fundos para romper com a
sisudez (Figura 2). Vemos aqui uma questo fundamental ligada ao layout:
os elementos ganham significado na sua relao com os outros, o que
no fica to evidente, quando destacamos o nome do jornal do espao da
pgina.
Figura 2 Forma grca do nome dos jornais.
A presena de chamadas e/ou publicidade ocupando as laterais do
nome do jornal, por meio de boxes isolados ou combinados, constituem
outras combinaes que encontramos (Figuras 3 a 7). Nesses casos, o uso
de cores seja no campo do logotipo, seja na informao editorial ou pu-
blicitria fundamental para estabelecer nveis de segregao (Figura 3).
O DESIGN (IN)FORMA227
Figura 3 Aplicao de cores no nome dos jornais e/ou fundo.
Quando o nome do jornal se encontra envolto por imagens e textos,
na parte superior e laterais, se instaura uma maior dificuldade em dis-
cernir qual o gnero da informao (Figura 4). Em um primeiro olhar,
posio, imagens, tipografia e cores no so suficientes para uma rpida
identificao do tipo de contedo: uma chamada? Um anncio? Um
infogrfico? Um selo comemorativo?
Figura 4 A rea do nome do jornal ocupada tambm por outros elementos grcos.
A invaso de imagens fotogrficas no campo tradicional do logotipo
(cabealho da capa do jornal), assim como o uso de um mesmo valor tonal
como fundo, abarcando o nome e outros contedos, tambm dificultam a
identificao do tipo de contedo. Na Figura 5, possvel observar que es-
tas relaes compositivas se do de diferentes modos, desde aqueles mais
sutis, at casos em que as imagens se sobrepem ao logotipo, cobrindo-o.
228ANA GRUSZYNSKI
Figura 5 Imagens dividem a rea tradicionalmente reservada ao nome do jornal.
No momento em que imagens (muitas delas recortadas, portanto, re-
tiradas de seu contexto) so colocadas entrando no campo visual do nome
do jornal, ou sobrepondo-se a ele, h uma mescla entre quem diz e o
que dito, conforme podemos observar tambm na Figura 6. Nem sem-
pre temos uma ambiguidade perceptiva, mas formas intencionalmente
articuladas de duas reas, que so tradicionalmente distintas, propondo
assim um tratamento mais informal e menos compartimentado, o que
pode revelar um apelo mais emocional/esttico do que uma nfase in-
formativa. A presena de fotografias de celebridades ou figuras pblicas
reconhecidas possibilita essa inferncia.
Figura 6 rea do nome do jornal ocupada por diferentes elementos grcos.
O DESIGN (IN)FORMA229
J na Figura 7, vemos exemplos em que o nome do jornal est posi-
cionado abaixo de um conjunto de chamadas, mas que, ao ocuparem uma
rea retangular, preservam o espao do logotipo. De estratgias coloridas
como do The Cairns Post e The Fiji Times, que evocam um carter mais
popular de abordagem esttica, quela mais discreta do The Wall Street
Journal/sia, parece-nos evidente que a combinao de boxes em cor e
o uso de imagens recortadas so estratgias recorrentes, utilizadas pelos
peridicos para dar maior dinamicidade s composies. Preserva-se de
algum modo a rea de credibilidade de quem enuncia, mas tambm se
favorece a visibilidade da oferta de contedos pela publicao, de acordo
com seus perfis editoriais. Pode-se talvez at evocar certa similaridade de
visualidade com alguns sites de portais de informao.
Figura 7 Nome do jornal posicionado abaixo de conjunto de chamadas.
No que se refere organizao do espao grfico, observamos que,
na maioria dos jornais, a utilizao da modulao possibilita a dinmica
do agrupamento de informaes, ora de modo vertical (Figura 8), ora ho-
rizontal (Figura 9). Vemos a ocupao quase que total da rea das capas,
com raro espao em branco utilizado como elemento compositivo. A pre-
sena das colunas mais evidente nos jornais em formato standard, mas
isso tambm visvel em tabloides, sobretudo naqueles que priorizam tex-
tos. Nas Figuras 8 a 9, vemos trs estratgias que consideramos exempla-
res de ocupao das colunas, destacando o modo de posicionamento das
230ANA GRUSZYNSKI
fotografias e o uso de boxes com fundo em cor como recursos utilizados
para quebrar a verticalidade das colunas.
Figura 8 Ocupao das colunas com diagramao que favorece nfase vertical.
Com a significativa ampliao de uma fotografia e a criao de uma
rea de destaque, por meio de um fundo, a capa de um jornal pode se
aproximar da visualidade de uma revista, o que pode indicar tambm a
vinculao entre o formato tabloide e a ideia de popular. No jornal Sa-
bah de Istambul, Turquia (Figura 10), a sobreposio de textos e imagens
(algumas recortadas), a presena de fundos que se diluem em dgrads
e vrios boxes desalinhados prejudica o discernimento hierrquico das
notcias, dando a impresso de que no existe um grid. A presena de um
anncio de canto superior esquerdo e outro no inferior direito (pontos de
entrada e sada do olhar na pgina, segundo o percurso habitual de leitura
no Ocidente), entretanto, revelam a existncia da modulao comercial e
decorrente subdiviso desse espao.
O DESIGN (IN)FORMA231
Figura 9 Ocupao das colunas com diagramao que favorece nfase horizontal.
Figura 10 Diagramao que no evidencia a utilizao de grid/diagrama.
Ainda uma referncia ao Economic Daily News de Taipiei, Taiwan (Fi-
gura 11), em que o desconhecimento da lngua exige que recorramos a
indcios visuais e compositivos, na tentativa de perceber o que material
editorial (e de que tipo), e o que publicidade. Nesse caso, a utilizao do
diagrama parece indicar uma manchete, trs colunas de texto e fotos con-
jugadas como notcia. Por estar abaixo da manchete, podemos supor que
os quadros azuis, ao lado das fotos, so relativos ainda matria, contudo
sua esttica pode ser de material promocional, na percepo de um leitor
do Ocidente. Restam ainda, ao lado do logotipo, indicadores numricos
232ANA GRUSZYNSKI
que por meio das cores e da rea ocupada assemelham-se ao anncio po-
sicionado ao lado (vemos foto de produto e preo). J as informaes que
constam sobre a tarja azul logo abaixo, em que o logotipo de uma empresa
aparece ao lado da ilustrao, o nmero 0800 que permite inferir que
se trata de algo comercial, o ndice verbal e no visual. A parte inferior
ocupada por anncios, o que indicado pela presena de imagens de
cartes de crdito.
Figura 11 Capa do Economic Daily News, Taipei, Taiwan.
O DESIGN (IN)FORMA233
Em termos tipogrficos, vemos a utilizao variada de tipos com se-
rifa e sem serifa, inclusive em uma mesma publicao. O padro con-
solidado de que a serifa vincula-se a um perfil mais tradicional e srio
parece se evidenciar na prpria grafia do nome do jornal. Chama ainda a
ateno o uso de tipos em maisculas e em tamanho grande, em publica-
es em que imagens so preponderantes, como nos jornais The Cairns
Post, Iltalehti, Maariv, QHubo e Sabah. O alinhamento justificado o mais
utilizado para textos longos, o que refora a percepo das colunas. Nas
manchetes, chamadas e legendas, o alinhamento esquerda permite criar
pequenas reas de branco, que atuam positivamente na composio do
conjunto. As variaes de pesos das fontes (extra bold, bold, regular, light
etc.) so fundamentais para a criao de texturas visuais na pgina, fazen-
do com que reas se destaquem mais do que outras.
As imagens utilizadas so fundamentalmente fotogrficas e, na maio-
ria das vezes, ancoram a distribuio dos textos, da a relevncia de seu
tamanho e posicionamento na pgina. Cabe salientar a presena do recur-
so do recorte, em que o fundo retirado para assim (re)contextualizar a
imagem, segundo o discurso editorial. Encontramos tambm em alguns
jornais uma narrativa fundamentada, sobretudo, nas imagens, caso de Il-
talehti, QHubo e Yedioth Ahronoth. Chama a ateno ainda o pouco uso de
fios de contorno (presente em cinco peridicos) e a presena de moldura
com sombra, simulando a presena da imagem como objeto tridimensio-
nal sobre o suporte (em sete jornais). No jornal O Dia (Figura 9), a foto-
grafia central perde seu carter de foto jornalstica, propriamente dita, ao
receber a aplicao de bales de fala, o que a tornam uma fotoilustrao.
Embora tivssemos ainda muitas observaes a fazer, a partir dessa pe-
quena amostra, entendemos que os aspectos aqui destacados permitem
que visualizemos como o design orienta os percursos de leitura, estabele-
cendo (ou no) uma hierarquia entre os diferentes contedos que com-
pem a primeira pgina de um jornal.
Retomando especificamente a escolha das capas do dia quatro de
maio, pela proximidade da data com a morte de Bin Laden, vejamos breve-
mente se e como, a partir das estratgias destacadas acima, a pauta visu-
almente tratada. Das 25 edies, o assunto aparece em 17 delas. O espao
dedicado varivel, de pequenas chamadas a praticamente a totalidade da
234ANA GRUSZYNSKI
capa (Figura 12), o que se justifica principalmente pelo local da publicao
e caractersticas do perfil editorial do veculo.
Figura 12 Espao grco dedicado cobertura da morte de Osama Bin Laden.
Em duas capas, a referncia uma chamada somente textual (Figura
12), em quatro, h chamada acompanhada de imagens em que predomina
o rosto de Bin Laden (Figura 13). Encontramos manchete, foto e texto em
nove delas (Figura 14). As fotografias so predominantemente as mesmas
duas, nas Figuras 12 a 14: a casa onde ocorreu o ataque, Barak Obama
reunido com a equipe, acompanhando o ataque, o retrado de Osama Bin
Laden, variando o corte/enquadramento das fotografias. Na diagramao
O DESIGN (IN)FORMA235
dos elementos nas pginas, o tamanho das imagens fundamental na
hierarquizao das informaes, ancorando os contedos textuais e forne-
cendo (ou no) destaque para esta pauta nas capas.
Figura 13 Espao grco dedicado cobertura, com presena de imagens de Osama Bin Laden.
As montagens realizadas pelo O Dia (Figura 9) e Sabah (Figura 10)
j foram comentadas previamente. No caso deste ltimo, h uma charge
na capa que versa sobre o tema, um dos raros modos de apresentao de
236ANA GRUSZYNSKI
imagem no fotogrfica. Vale destacar a proposta do jornal Zaman (Figura
14), em que o recorte de um homem andando de bicicleta e carregando
uma publicao com a imagem de Osama gera um foco de ateno e di-
namiza a pgina.
Figura 14 Espao grco dedicado cobertura, destacando a presena de fotograas similares,
variando enquadramentos e/ou montagens.
O DESIGN (IN)FORMA237
No conjunto de capas analisadas, evidente a fora de conjunto da
composio sobre as caractersticas particulares de cada elemento. Obser-
vamos a repetio de determinados ndices visuais tradicionais dos jornais
impressos (presena de elementos e estratgias de sua combinao), mas
tambm outros modos de articulao de recursos grficos que propem
deslocamentos, expandindo alternativas compositivas para a hibridao
de formas habitualmente enquadradas, em seus extremos, como popula-
res ou tradicionais. Nesse sentido, possvel inferir que a forma do jornal
impresso tambm se contamina de um trnsito cada vez mais intenso
de cdigos visuais, que vm demandando das publicaes a constituio,
manuteno e/ou renovao de seu perfil editorial e comercial, balizada
simultaneamente pela exigncia de identidade e distino: elas fazem parte
de uma categoria e/ou tipo est entre outras que podem substitu-la,
segundo um determinado paradigma , mas a publicao, ou seja,
capaz de se diferenciar das outras, assumindo caractersticas singulares.
Outros aspectos poderiam ser ainda problematizados, a partir dos exem-
plos que utilizamos, mas procuramos dar conta de ilustrar e debater so-
bretudo os argumentos apresentados na parte inicial de nosso artigo.
CONSIDERAES FINAIS
Conforme avaliado por Vaz e Frana (2009), encontramos nessas capas
acontecimentos legtimos e outros que so legitimados pelos processos
editoriais. H evidentemente projetos editoriais e comerciais distintos em
jogo, diferenas sociais, econmicas e culturais, relacionadas origem
de cada jornal, mas instigante tambm considerar que contemporanea-
mente todas essas capas se tornam simultaneamente disponveis em um
mesmo espao (virtual) no dia em que esto sendo publicadas. Aconte-
cimentos locais, personalidades regionais, catstrofes naturais, guerras,
terrorismo e divrcio de celebridades etc., se veem portanto reunidas pri-
meiramente em um mosaico em suporte impresso, que os contextualiza
segundo critrios e valores jornalsticos. Os meios de comunicao, como
vimos, so o lugar de conflito entre esses sujeitos-narradores das histrias
do cotidiano, causas pblicas e representaes prosaicas.
238ANA GRUSZYNSKI
Em um movimento tipicamente contemporneo e ps-moderno,
essas capas de diferentes locais do mundo desde pequenas cidades a
grandes capitais so ento reunidas segundo critrios de curadoria de
um Museu de Notcias (Newseum), que as disponibiliza na web, onde elas
ficam disposio de pblico leitor, provavelmente bastante diverso da-
quele inicialmente previsto. Talvez no um leitor tradicional e sistemtico,
mas aquele com o perfil scanner, identificado pela pesquisa Eyes on the
News. (Cf. GRUSZYNSKI, 2011)
A forma grfica reconhecida, ento, como capa de jornal mostra sua
fora enquanto conveno ligada a tradies histricas e culturais, reafir-
mando seu papel no contrato de comunicao. Mas evidencia tambm o
movimento e a diversidade de propostas, a partir de um repertrio bsico
de elementos, onde norma e inovao tensionam a linguagem, impactando
sobre o como o mundo se torna inteligvel aos diferentes sujeitos leitores,
s variadas comunidades interpretativas, onde uma rede complexa de inte-
resses e relaes se articula na construo de uma esfera pblica. A visuali-
dade eixo de identidade e distino, estratgia central no estabelecimento
de vnculos entre leitores e publicaes, na disputa pelo olhar dispersivo de
leitores-consumidores imersos em informaes on-line e off-line.
REFERNCIAS
BARNHURST, K. G.; NERONE, J. The form of the news. New York: The Guilford Press,
2001.
BOLTER, J. D.; GUSIN, R. Remediation: understanding new media. Cambridge:
MIT Press, 2000.
BRIGGS, A.; BURKE, P. Uma histria social da mdia: de Gutenberg Internet.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
CHARAUDEAU, P. Discurso das mdias. So Paulo: Contexto, 2007.
CHARTIER, R.; CAVALLO, G. (Org.). Histria da leitura no mundo Ocidental. So
Paulo: tica, 1998. v.1.
DIKOVITSKAYA, M. Visual Culture: the study of the visual after the cultural turn.
Cambriedge: MIT Press, 2006.
DONDIS, D. A. Sintaxe da linguagem visual. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
FIDLER, R. Mediamorfosis: comprender los nuevos medios. Buenos Aires: Granica,
1998.
O DESIGN (IN)FORMA239
FROST, C. Designing for newspapers and magazines. New York: Routledge, 2003.
GDE, R. Diseo de peridicos. Sistema y mtodo. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
GARCA, M. R. Contemporary newspaper design. Englewood Fields: Prentice-Hall,
1993.
GRUSZYNSKI, Ana Claudia. A Imagem da palavra: retrica tipogrfica na ps-
modernidade. Terespolis, RJ: Novas Idias, 2007.
GRUSZYNSKI, A. jornal impresso: produto editorial grfico em transformao. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE CINCIAS DA COMUNICAO INTERCOM, 33,
2010, Caxias do Sul. Anais..., set. 2010.
GRUSZYNSKI, A. Design de jornais: o papel depois do pixel. In: CAMPOS, G. B.;
LEDESMA, M. Novas fronteiras do design grfico. So Paulo: Estao das Letras, 2011,
p.137-149.
MIRZOEFF, N. An Introduction to Visual Culture. London/New York: Routledge, 1999.
MITCHELL, W. J. T. Iconology: image, text, ideology. Chicago: University of Chicago
Press, 1987.
MOHERDAUI, L. A composio da pgina noticiosa nos jornais digitais O estado
da questo. In: SBPjor ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM
JORNALISMO, 4., 2008, So Paulo, Anais..., 2008 1CD-ROOM.
MOUILLAUD, M.; PORTO, S. (Org.) O jornal. Da forma ao sentido. Braslia: Editora
UnB, 2002.
QUR, L. Entre facto e sentido: a dualidade do acontecimento. Trajectos, Lisboa,
n. 6, 2005.
SOARES, M. Novas prticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. Educao
& Sociedade, Campinas, vy. 23, n. 81, p. 143-160, dez. 2002.
SODR, M. Antropolgica do espelho. Porto Alegre: Vozes, 2002.
VAZ, P. B. F.; FRANA, R. O. Entre o legtimo e o legitimado: a exploso dos
acontecimentos nas capas de Veja. In: ENCONTRO COMPS, 18. 2009, Belo
Horizonte. Anais..., jun. 2010. 1CD-ROOM.
VRON, E. El anlisis del contrato de lectura. Un nuevo mtodo para los estudios del
posicionamiento. In: Les Medias: Experiences, recherches actuelles, aplications. Paris:
IREP, 1985.
ZAPPATERRA, Y. Art direction + editorial design. USA: Abrahams Studio, 2007.
A POLTICA DAS IMAGENS
243
NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
Cenas de dissenso e a poltica das rupturas
e fraturas na evidncia do visvel
1
A filosofia poltica de Rancire pode ter seus principais traos demarca-
dos a partir de como ele relaciona as noes de dano, dissenso (desen-
tendimento) e desidentificao (subjetivao poltica). Se tivssemos que
enunciar sua proposta poltica em uma sentena, ela poderia ser talvez
construda da seguinte forma: s h poltica quando um dano
2
nomeado
e tratado em uma cena dissensual por sujeitos que no so vistos como
pertencentes a uma comunidade (sem-parte) e que, ao performarem ar-
gumentativamente o dano, verificam a ausncia de igualdade em relao
aos demais e, nesse processo, constituem-se como sujeitos polticos, afas-
tando-se de identidades e definies impostas que lhes colocam limites
para a participao ao comum.
Rancire argumenta que a igualdade assegura a troca poltica jus-
tamente por ser algo a ser declarado, posto prova e verificado constan-
1 Este artigo um desdobramento do texto apresentado no XXI Encontro da Comps, na Universi-
dade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, de 12 a 15 de junho de 2012. Sou grata aos comentrios
e contribuies feitos pelos colegas do Grupo de Trabalho Comunicao e Experincia Esttica,
especialmente Andr Barbosa, Csar Guimares, Jeder Janotti, Maurcio Lissovsky, Jorge Cardoso
e Laan Mendes de Barros. Este trabalho foi realizado com o apoio da Fapemig, da Pr-Reitoria de
Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais e da bolsa de produtividade em pesquisa do
CNPq.
2 De modo geral, segundo Rancire, o dano no uma injria pontual causada a um indivduo ou
grupo, deixando-os a espera de uma compensao. o conceito de dano (tort) no est ligado a
nenhuma dramaturgia de vitimizao. Ele pertence estrutura original de toda poltica. O dano
simplesmente o modo de subjetivao no qual a vericao da igualdade adquire gura poltica.
(1995, p. 63). Assim, o dano pode ser apontado como o ponto de tenso mais forte existente entre
a lgica policial de partilha do sensvel e o processo prtico de vericao da igualdade.
244NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
temente pelos sujeitos. A poltica, segundo ele, se constitui justamente
porque coloca em questo a pretensa igualdade assegurada universal-
mente pelas leis e normas. Esse questionamento da igualdade configura
a exposio de um dano na medida em que diz da contagem das partes
que no fazem parte de uma comunidade, antes mesmo de se referir aos
seus direitos. Sob esse aspecto, possvel afirmar que a cena do conflito
poltico constituda por meio da colocao da igualdade dos falantes em
uma cena de desigualdade e explicitao de um dano, fazendo com que
esse espao comum aparea via desentendimento. (DEAN, 2011, p. 91)
importante ter em mente que o comum para Rancire no existe
em si e por si mesmo, mas se produz no movimento no qual ele coloca-
do em questo, no centro de um conflito dissensual sobre a existncia de
uma cena comum e sobre a existncia e qualidade daqueles que nela se
fazem presentes e que tentam, por meio de suas aes e enunciaes, tra-
tar um dano. o movimento ininterrupto de definio e redefinio do co-
mum que delineia os traos mais marcantes da poltica segundo Rancire,
visto que ele a define como fruto de um processo de desentendimento que
se desdobra em uma cena na qual se colocam em jogo a igualdade ou a
desigualdade dos parceiros de conflito enquanto seres falantes. (RAN-
CIRE, 1995, p. 81). Assim, nem os sujeitos polticos nem a cena na qual
se desdobram suas aes so vistos como j dados, mas ganham corpo
quando so explicitadas as fronteiras que definem quem faz parte do co-
mum e quem dele est alijado.
No se trata aqui de resumir a filosofia poltica de Rancire a um
jogo entre incluso e excluso, nem de dizer que a encenao do dano
visa a incluso dos excludos (sem-parte) em uma comunidade que no os
considera. O dissenso aponta justamente para o fato de que a excluso dos
sem-parte no o resultado de uma simples relao entre um fora e um
dentro previamente estabelecidos, mas um modo de partilha que torna a
prpria partilha invisvel, uma vez que os excludos so tornados inaud-
veis. (RUBY, 2009, p. 61) A reflexo poltica de Rancire no valoriza um
tipo de diviso ou distncia intransponvel que diferencia grupos e clas-
ses, mas a afirmao de que a cena que envolve a interlocuo de sujeitos
e a exposio de seus mundos (a partir dos quais suas demandas e argu-
mentos fazem sentido) deve ser sempre reconfigurada, porque o comum
CENAS DE DISSENSO E A POLTICA DAS RUPTURAS E FRATURAS NA EVIDNCIA DO VISVEL245
deve ser construdo diferentemente. A finalidade da ao em Rancire no
a de inserir os sem-parte na comunidade existente, ou seja, incluir os
excludos, mas de redefinir constantemente a instncia da vida comum
atravs de um processo que mistura a expresso de um dano (figura da
diviso) e a verificao da igualdade.
A ao de expressar o dano pode se configurar, primeiramente, como
o momento em que se d a formao do sujeito como interlocutor. Em
seguida, como oportunidade de inventar a cena comunicativa polmica na
qual os sujeitos tentam se inscrever (fazendo-se visveis), e como a opor-
tunidade de enriquecer a linguagem que utilizam, de inverter papis e at
mesmo de silenciar os que geralmente falam, para deixar falar aqueles
que, a princpio, no teriam nada a dizer.
A ao poltica se configura ento como operao criativa e se contra-
pe a uma ordem social hierarquizante cuja funo fazer crer que para
todos h um lugar na comunidade: um lugar que lhes assegura igualdade
e pertencimento. Essa ordem, chamada por Rancire de polcia, abrange
a configurao de uma comunidade consensual, ou seja, que partilha o
comum de forma no litigiosa. Essa comunidade tambm saturada, um
corpo coletivo com seus lugares e funes alocados de acordo com compe-
tncias especficas (e desiguais) de grupos e indivduos, sem espao para
excessos. (RANCIRE, 2011) Os grupos que configuram tal comunidade
poltica so definidos a partir da adequao de funes, lugares e maneiras
de ser, pelas diferenas de nascimento, funes, espaos ocupados e inte-
resses que constituem o corpo social. (RANCIRE, 2004, p. 239) A pol-
cia no pode ser confundida com represso ou violncia, ou mesmo com
ordens institucionais.
3
Na verdade, ela caracteriza um tipo de comunidade
tica na qual todos esto inseridos e so apriorsticamente considerados
3 A oposio entre polcia e poltica no pode ser reduzida oposio entre espontaneidade e
instituio. Ela no signica que a poltica boa e a polcia m, sendo dever da poltica acabar
com a polcia. Trata-se de duas formas de partilha do sensvel que so opostas em seus princ-
pios e constantemente entrelaadas em seu funcionamento. (RANCIRE, 2011b, p. 249) E essa
oposio sempre se manifesta sob a forma da transformao de ordens policiais, mas no de sua
destruio ou esfacelamento. No h uma poltica pura, arma Rancire, uma vez que a poltica
no anseia por um lugar fora da polcia. (CHAMBERS, 2011a) No h lugar fora da polcia, mas
h modos conitantes de fazer coisas com os lugares que esses modos alocam: reordenando-os,
reformando-os ou desdobrando-os. (RANCIRE, 2011a, p. 6) No se pode reservar o termo po-
ltica ao emancipatria, reservando polcia as aes opressoras.
246NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
como iguais. Nela os excludos no so mais atores conflituais, mas aque-
les que acidentalmente se encontram fora da grande igualdade de todos,
para quem a comunidade precisa estender a mo a fim de restabelecer o
vnculo social. (RANCIRE, 2010, p. 189)
J a poltica seria um processo de ruptura especfica da lgica impos-
ta pela ordem policial. Ela no pressupe somente uma deslegitimao da
distribuio normal e consensual de posies hierrquicas entre aqueles
que exercem o poder e aqueles que obedecem, mas uma ruptura com a
ideia de disposies que tornam os sujeitos adequados a essas posies.
(RANCIRE, 2004, p. 229) Assim, o processo da poltica cria, segundo
Rancire, coletividades dissensuais que no desejam ser identificadas ou
associadas a determinadas posies, status ou identidades, mas sim uma
dissociao entre sua aparncia (aparecer no sentido de tornar-se visvel)
e sua capacidade para a vida comum, para enunciar e sustentar uma pala-
vra publicamente. (BLECHMAN; CHARI; HASAN, 2005)
A poltica para Rancire exige a constante criao do comum, de
modo a colocar em cena o tratamento de um dano e a constante verifica-
o de uma pretensa igualdade entre os sujeitos. E, para isso, ela desafia
uma forma consensual de registro e imposio de um comum, ao mes-
mo tempo que instaura a possibilidade de opor um mundo comum a um
outro. (MARQUES, 2011a, 2011b)
A poltica, ento, se manifestaria como um processo de fratura e ruptu-
ra, quando o limite que separa aqueles que nasceram para a poltica daque-
les que nasceram para suportar a vida ou as necessidades sociais e econmi-
cas colocado em questo. (RANCIRE, 2011a, p. 3) Ela seria responsvel
por incluir um suplemento, uma parte de sem-parte, ou de sem parcela,
que no cabe na ordenao isenta de brechas e vazios que vigora no regime
policial. De modo geral, a poltica remete inveno da cena de interlocuo
na qual se inscreve a palavra do sujeito falante, e na qual esse prprio sujeito
se constitui. A poltica teria a capacidade de perturbar a forma policial de
partilha do sensvel que define a inscrio dos sujeitos em comunidade, a
partir de uma determinada distribuio de qualificaes, espaos e compe-
tncias. Sob esse aspecto, a poltica envolve uma potica que se traduz no
s na manifestao de um novo sujeito, mas na construo/criao de um
espao comum ou cena relacional que no existia previamente.
CENAS DE DISSENSO E A POLTICA DAS RUPTURAS E FRATURAS NA EVIDNCIA DO VISVEL247
Para entrar em uma troca poltica, torna-se necessrio inventar a
cena na qual as palavras ditas se tornam audveis, na qual os obje-
tos podem se fazer visveis e os indivduos podem ser reconheci-
dos. nesse sentido que podemos falar de uma potica da poltica
(RANCIRE, 2000, p.116)
A partir dessa definio, que Rancire constri para a poltica, pos-
svel perceber o protagonismo que ele atribui aos sem-parte na ao de
tornar visvel o modo policial de partilha do sensvel. importante lembrar
que a polcia e a poltica so por ele delineadas como lgicas que contam
diferentemente as partes e participantes de uma comunidade. Os sem-
-parte, ao aparecerem, tornam-se o sujeito da poltica em dois sentidos:
sua emergncia na cena comum transforma a comunidade consensual em
dissensual,
4
e sua existncia como potenciais integrantes da comunidade
o objeto central do confronto. (TANKE, 2011; DERANTY, 2003a) Eles
fragmentam a comunidade consensual e tica, ao tornarem visvel e aud-
vel aquilo que no era visto ou ouvido. Assim, eles instauram o dissenso e
criam uma cena na qual todos podem aparecer como pares, como par-
ceiros em litgio, em busca da verbalizao e do questionamento de danos,
de injustias. Interessa-me neste artigo explorar esses dois movimentos as-
sociados aos sem-parte: sua visibilidade nas cenas de dissenso e a ao de
conferirem visibilidade s formas de desigualdade que vigoram no regime
policial (ao esta criadora das cenas de dissenso). Por que to importante
para a poltica que os sem-parte se faam visveis nas cenas de dissenso
e, por meio dessa visibilidade, reconstruam-nas constantemente, a partir
do hiato que evidenciam entre aqueles considerados como pertencentes a
um mundo comum de sujeitos falantes e aqueles que no recebem essa
considerao? Instiga-me nessa reflexo algumas questes que perpassam
e alimentam a reflexo poltica de Rancire: quais experincias singulares
tornam a condio dos sem-parte intolervel? De que maneira essas ex-
perincias se tornam visveis, enunciveis e audveis?
5
4 O dissenso no o conito entre interesses, mas sobre o que um interesse, sobre quem visto
como capaz de lidar com interesses sociais e aqueles que deveriam supostamente serem capazes
de reproduzir sua vida. (RANCIRE, 2011a, p. 2)
5 Eu sempre enfatizei fortemente as questes polticas como associadas parte dos sem-parte e
como modo de tornar visveis as demandas e agentes dessas demandas antes invisveis. (BLE-
CHMAN; CHARI; HASAN, 2005, p. 295)
248NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
Dentro desse quadro, a primeira parte do texto descreve as cenas de
dissenso, espao nos quais se constituem e se desvelam as experincias
dos sem-parte (espao de sua prpria constituio poltica). Por sua vez,
a segunda parte dedica-se a explorar a definio de sem-parte, assim
como sua relao com os processos de desidentificao e subjetivao pol-
tica.
6
Pretendo destacar como a ao poltica dos sem-parte se configura
em uma espacialidade esttica, criando e recriando uma cena de apresen-
tao e representao, em que a fratura entre mundos distintos tornada
visvel, a partir de um processo de desidentificao e de redefinio do
comum de uma comunidade. A meu ver, a criao de uma situao co-
municativa instaurada nas cenas de dissenso marca no s a importncia
da contextualizao, do reconhecimento, da valorizao dos atos dos sujei-
tos que dela participam e da visibilidade dos interlocutores, mas tambm
a construo e constante reconfigurao argumentativo-potica de um ob-
jeto/questo percebido(a) como pertencente ao mbito do comum. Esse
processo de criao atravs do qual os sem-parte constrem cenas de
dissenso e, fazendo isso, se tornam sujeitos polticos, coloca em destaque
o papel da comunicao e da linguagem a filosofia poltica de Rancire.
CENAS DE DISSENSO E DE SUBJETIVAO
Em primeiro lugar, importante conferir destaque ao modo processual
como Rancire caracteriza a poltica: esta se realiza como produo de
cenas de dissenso ou cenas polmicas nas quais se enuncia e se confere
visibilidade ao tratamento de um dano (a desigualdade inerente ordem
policial) na constituio do comum. Tais cenas permitem a redisposio
de objetos e de imagens que formam o mundo comum j dado, ou a cria-
o de situaes aptas a modificar nosso olhar e atitudes com relao ao
nosso ambiente coletivo de interao.
6 Veremos adiante que a subjetivao poltica indica a construo de um modo se der que se ope
quele que foi atribudo a um determinado sujeito ou coletivo, ou seja, uma desidenticao.
Segundo Rancire, esse processo de construo pode resultar da combinao entre diferentes
modos de vida que caracterizariam identidades diferentes. Alm disso, esses modos de ser so
tambm modos de construir um mundo, uma comunidade em que os sujeitos so contados
como membros e potenciais interlocutores. (RANCIRE, 2011, p. 244)
CENAS DE DISSENSO E A POLTICA DAS RUPTURAS E FRATURAS NA EVIDNCIA DO VISVEL249
A poltica, para Rancire, mais uma dinmica que produz, refaz e
pensa sobre cenas do que uma negociao de interesses que se desdobra
em um lugar ou contexto institucionalizado: a poltica o conflito sobre
a existncia de uma cena comum, sobre a existncia e qualidade daqueles
que nela esto presentes. (RANCIRE, 1995, p. 49) Se pensarmos, junto
com ele, que a poltica responsvel pela criao de uma cena dissensual
na qual se desenvolve a coexistncia humana, uma de suas dimenses
estticas no s evidenciada, mas tambm se torna responsvel por for-
necer pistas de como seria possvel aos sujeitos deixarem de desempenhar
papis j dados e ocuparem de outra maneira tal cena, reconfigurando-a.
Nesse sentido, a construo dessa cena est no centro do entendimento
da poltica, pois torna possvel uma situao de interlocuo nova na qual
se desfazem as atribuies identitrias usuais e impositivas, em busca da
configurao de uma comunidade intervalar.
7
Dito de outra maneira, a poltica desestabiliza e prope contextos,
renovando as posies dos sujeitos em um cenrio: ela acontece como a
configurao de um espao especfico, a partilha de uma esfera particular
de experincia, de objetos colocados como comuns e originrios de uma
deciso comum, de sujeitos reconhecidos como capazes de designar esses
objetos e argumentar a respeito deles. A poltica o prprio conflito so-
bre a existncia desse espao, dessa cena, sobre a designao de objetos
concernentes maioria e de sujeitos capazes de uma palavra comum.
(RANCIRE, 1995, p. 11)
O espao da poltica aquele da criao de cenas e formas dissensu-
ais de expresso e comunicao que inventam modos de ser, ver e dizer,
configurando novos sujeitos e novas formas de enunciao coletiva, isto
, novas relaes entre palavras, novos vocabulrios. (RANCIRE, 2003,
p. 202) e novas formas de se apresentar com os outros e diante dos outros.
E esse potencial de inveno/criao deriva do fato de que o dissenso esta-
7 A comunidade intervalar (de partilha) ope um espao consensual a um espao polmico, ela faz
aparecer sujeitos e falas que at ento no eram contados ou considerados, ela traz experincia
sensvel vozes, corpos e testemunhos, que at ento no eram vistos como pertencentes ao regi-
me policial. A comunidade de partilha (ou intervalar) o mbito em que se recongura o comum
de uma comunidade, isto , em que se questionam as coisas que uma comunidade considera
que deveriam ser observadas, e os sujeitos adequados que deveriam observ-las, para julg-las e
decidir acerca delas. (RANCIRE, 2000, p. 12)
250NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
belece um conflito entre uma apresentao sensvel do mundo e os modos
de produzir sentido acerca do mesmo. O dissenso uma diviso inserida
no senso comum: uma disputa sobre o que dado e sobre o enquadra-
mento segundo o qual vemos algo que dado. (RANCIRE, 2010, p. 69)
De acordo com Rancire, o surgimento de cenas dissensuais ou pol-
micas permite pensar: a) as condies de apario, aproximao e distan-
ciamento de sujeitos (os sem-parte) e de seus atos especficos; b) como
esses sujeitos produzem acontecimentos que demonstram a existncia de
um dano e, ao mesmo tempo, os retiram do submundo de rudos obs-
curos e os inserem no mundo do sentido e da visibilidade, afirmando-se
como sujeitos de razo e de discurso, capazes de contrapor razes e de
construir suas aes como uma demonstrao de que compartilham um
mundo comum. (RANCIRE, 2004, p. 90-91) nas cenas de dissenso
que se colocam em jogo a igualdade ou a desigualdade dos parceiros de
conflito enquanto seres falantes. (RANCIRE, 1995, p. 81) Rancire ques-
tiona a estrutura de um mundo comum sustentado pela racionalidade,
universalidade e consenso, para revelar que os sujeitos no se apresentam
prontos como interlocutores de um debate, conscientes de sua fala e de
seus posicionamentos, em uma ordem discursiva, mas se tornam seres
de palavra justamente nesses momentos em que se engajam em espaos
de enunciao.
A poltica, nesse sentido, vista por Rancire como experincia,
como acontecimento que coloca em jogo o estatuto daquilo que se v, se
diz e se faz: um questionamento sobre a distribuio de um conjunto de
relaes e formas que definem um sujeito especfico e que estruturam
a experincia comum. Ela um tipo de ao intermitente que deve ser
constantemente renovada, uma vez que implica a verificao polmica
da pretensa igualdade/inclusividade sustentada pelo regime policial (DE-
RANTY, 2003b). A definio de poltica como interrupo de uma ordem
policial de distribuio dos corpos e das vozes em comunidade impli-
cando a verificao dissensual da igualdade em uma cena conflitiva re-
afirma sua natureza de acontecimento, uma vez que tal verificao se d
situacionalmente e transforma o que entendemos pelo comum partilhado
por uma comunidade. Como veremos mais adiante, a fratura provocada
na evidncia do visvel, ou seja, no regime de visibilidade que permite o
CENAS DE DISSENSO E A POLTICA DAS RUPTURAS E FRATURAS NA EVIDNCIA DO VISVEL251
bom funcionamento da polcia, est intimamente associada a um proces-
so singular de subjetivao.
Sob esse aspecto, a atividade dissensual da poltica consiste em apro-
ximar e tensionar o comum que define aqueles que se encaixam na ordem
policial (um comum que se apresenta como resultado de uma articulao
hegemnica entre outras) do comum que caracteriza os sem-parte. Alm
disso, o dissenso busca redefinir o enquadramento atravs do qual os ob-
jetos comuns so determinados. (RANCIRE, 2010, p. 139) As cenas dis-
sensuais podem, ento, dar lugar a tentativas de fazer com que realidades,
antes no imaginadas ou no associadas ao que tido consensualmente
como comum, passem a aparecer e a serem percebidas, mas sem serem
incorporadas, subsumidas, transfiguradas e normalizadas. H sempre
aqueles que no fazem parte do comum e que passam a faz-lo, exigindo,
com isso, sua reinveno. (BRASIL, 2010, p. 8)
O modo como Rancire constri seu pensamento , sem dvida,
pautado pelo jogo que combina diviso, entrelaamento, intervalo e imbri-
camento. (WALD LASOWSKI, 2009) Os sem-parte, por exemplo, so
a chave para a compreenso da dimenso intervalar que existe entre os
integrantes de uma comunidade poltica: primeiro porque eles no cabem
na ordenao isenta de brechas e vazios que vigora no regime policial e,
segundo, porque existem em um intervalo que se produz entre diferentes
identidades e nomes de sujeitos.
Mas quem so os sem-parte? Ou melhor: o que eles representam
ao se tornarem visveis e ao conferirem visibilidade s formas policiais de
opresso? o que discutirei no prximo tpico.
OS SEM-PARTE: SUJEITOS CONCRETOS OU METFORA
DA DESIDENTIFICAO?
O conceito de sem-parte, muito inspirado nos estudos feitos por Ranci-
re (1995, p. 28) acerca da rotina do proletariado,
8
carece de uma melhor
8 No livro A noite dos proletrios (1981), Rancire discute como os operrios, ao trabalharem de dia
e estudarem, escreverem poesia, lerem no perodo da noite desaam uma forma de partilha do
sensvel que os coloca somente no lugar de trabalhadores braais. A noite dos proletrios d
lugar inveno de cenas nas quais a subjetivao poltica possvel atravs do questionamento
252NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
definio em sua obra. Em alguns momentos ele os define como aqueles
que no tm nome, que permanecem invisveis e inaudveis ou uma
parcela ou parte de pobres, aqueles que no tm direito a serem contados
como seres falantes. (RANCIRE, 1995, p. 31-49) Seriam os sem-parte
sujeitos concretos (movimentos sociais, operrios, pobres, marginaliza-
dos etc.) ou esse um conceito que expressa a universalidade de um su-
jeito poltico, ou melhor, de uma subjetivao poltica enquanto ruptura
com a ideia de disposies que tornam os sujeitos adequados a essas posi-
es? (RANCIRE, 2004, p. 229)
Vimos que Rancire localiza os sem-parte como sujeitos da polti-
ca, como aqueles que questionam a suposta naturalidade de uma forma
de contar, que articula a comunidade consensual, conferindo visibilida-
de desigualdade que articula os sujeitos e os mantm em seus lugares
designados. Os sem-parte so o demos que emerge contra a ordem po-
licial e cuja presena promove um grande impacto na comunidade, pois
sua existncia transforma uma ordenao hierrquica em um processo
poltico que demanda outros regimes de visibilidade e de discutibilidade.
O demos o povo concebido como suplemento s partes de uma
comunidade a conta dos no contados. a inscrio da mera con-
tingncia de nascer aqui ou l, opondo-se a qualquer qualificao
para a produo de regras, e faz sua aparncia atravs do processo
de verificao da igualdade, da construo de formas de dissenso.
(RANCIRE, 2011, p. 5)
Os sem-parte seriam responsveis pela produo de cenas de dis-
senso, uma vez que estas se constituem quando aes de sujeitos que no
eram, at ento, contados como interlocutores, irrompem e provocam
rupturas na unidade daquilo que dado e na evidncia do visvel para de-
senhar uma nova topografia do possvel. (RANCIRE, 2008, p. 55) Como
desafio radical distribuio social normal de corpos, vozes e regimes
de visibilidade, o demos opera de modo a introduzir novos sujeitos e obje-
tos heterogneos no campo de percepo. (CORCORAN, 2010)
das posies, usos e movimentos dos corpos, das funes da palavra, das reparties entre o
visvel e o invisvel.
CENAS DE DISSENSO E A POLTICA DAS RUPTURAS E FRATURAS NA EVIDNCIA DO VISVEL253
Segundo Rancire, essa possibilidade de inscrever os sem-parte em
uma cena preexistente, ou de criar cenas conflituosas dentro de cenas he-
gemnicas s acontece quando o dissenso instaurado pela percepo dos
sem-parte como suplemento consegue perturbar a ordem consensual
da polcia. Essa perturbao envolve no s a aparncia, a visibilidade
dos sem-parte na cena de conflito, mas tambm sua ao: suas maneiras
de demonstrar a existncia de um dano atravs do dissenso poltico:
O dissenso poltico no uma discusso entre pessoas que falam
e que vo confrontar seus interesses e valores. um conflito sobre
quem fala e quem no fala, sobre o que deve ser ouvido como uma
voz de dor e o que deve ser ouvido como um argumento sobre
justia. No o conflito entre interesses, mas sobre o que um
interesse, sobre quem visto como capaz de lidar com interesses
sociais e aqueles que deveriam supostamente serem capazes de
reproduzir sua vida. (RANCIRE, 2011, p. 2)
Os sem-parte, ao nomearem um dano (sua ausncia de espao e de
palavra na ordem policial)
9
, trariam o conflito e o litgio baila, desafiando
as presses policiais que impem o consenso e a desigualdade como regra
e que no cessam de fazer desaparecer qualquer lampejo de resistncia
poltica. Eles tambm desenvolveriam um tipo de ao poltica capaz de
esvanecer/borrar as fronteiras que se erguem entre os sujeitos:
Isso o que acontece quando agentes domsticos trabalhadores
ou mulheres, por exemplo, reconfiguram suas disputas como dis-
putas concernentes ao comum, ou seja, concernentes a que lugar
pertence ou no ao comum, ou sobre quem capaz ou no de pro-
duzir enunciaes ou demonstraes sobre o comum. (RANCI-
RE, 2011, p. 4)
Alm de apontarem um dano, os sem-parte devem tambm produ-
zir uma demonstrao poltica da ausncia de igualdade que provoca tal
dano (tort).
10
O dano se revela e nomeado em um processo de demons-
9 Rancire (2011) reconhece que nem todo dano poltico. H tambm formas antidemocrticas
de protesto entre os oprimidos, formatadas pelo fanatismo religioso, pela intolerncia ou lutas
tinicas e identitrias.
10 Alguns crticos apontam que o ato poltico que visa quebrar a lgica do regime policial est assen-
tado na elaborao de demandas pelos sem-parte, que s podem ser ouvidas como discurso,
se justamente utilizarem o quadro simblico policial. (VALENTINE, 2005) Mas no se pode es-
254NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
trao/verificao de igualdade que, por sua vez, no um valor ou um
princpio universal que invocamos, mas deve ser vista como processo que
testa a paridades dos atores em cada caso. A igualdade no est nos princ-
pios da humanidade ou dos direitos, mas no processo argumentativo que
demonstra as consequncias de um grupo ou indivduo ser classificado
como cidado, negro (pobre, mulher, gay etc.).
A ao de expressar o dano pode se configurar, primeiramente, como
o momento em que se d a formao do sujeito como interlocutor capaz
de tornar objeto de debate aquilo que recrimina. Em seguida, como opor-
tunidade de reinventar a cena comunicativa polmica na qual os sujeitos
tentam se inscrever, e como a oportunidade de enriquecer a linguagem
que utilizam, de inverter papis e at mesmo de silenciar os que geral-
mente falam para deixar falar aqueles que, a princpio, no teriam nada a
dizer. A demonstrao argumentativa do dano no feita por meio de um
debate ou troca discursiva racional entre sujeitos que discordam e nego-
ciam posies e interesses sobre questes especficas. Segundo Rancire
(2004), o tratamento do dano no pode se dar desse modo porque um dos
sujeitos interlocutores afetado pelo dano de maneira to fundamental
que ele coloca em dvida sua existncia como sujeito e sua capacidade
de participar do debate, uma vez que seus argumentos tendem a no ser
entendidos como racionais por seus pares. A severidade dessa desvan-
tagem ajuda a explicar por que os sem-parte precisam recorrer a modos
teatrais/dramticos de expresso, assim como violnca para serem vistos
e ouvidos. (DAVIES, 2010, p. 85)
No processo de tratamento do dano, a subjetivao poltica para Ran-
cire se desdobra em trs aes interligadas: i) a demonstrao argumenta-
tiva de um dano na cena de dissenso e o questionamento/verificao da
existncia da igualdade entre aqueles que partilham um comum; ii) uma
encenao criativa capaz de revelar a natureza potica da poltica; iii) o rom-
pimento com uma identidade fixada e imposta por um outro (a construo
de uma identificao impossvel).
quecer que essa adequao linguagem policial se congura junto com uma rejeio ao modo
de distribuio de espaos, vozes e visibilidades que a torna operacional. Ao se engajarem num
ato poltico, os sem-parte desregulam e transformam as representaes usuais que denem
espaos, parcelas e modos de ordenamento e classicao.
CENAS DE DISSENSO E A POLTICA DAS RUPTURAS E FRATURAS NA EVIDNCIA DO VISVEL255
O processo poltico de subjetivao promove modificaes no tecido
do comum, que alteram formas de organizao, produzem novos espaos
micropolticos de manifestao de dissenso, novas possibilidades de enun-
ciao, implicam novas combinaes de temporalidades. Ele cria continu-
amente newcomers novos sujeitos que possuem igual poder em compara-
o a qualquer outro e constri novas palavras sobre comunidade em um
mundo comum j dado. (RANCIRE, 2010, p. 59)
Conforme destaca Deranty (2003a), a verificao pragmtica da igual-
dade cria situaes antagnicas e agonsticas de fala e de dilogo que no
existiam previamente. Essas situaes tornam possvel o aparecer dos su-
jeitos como seres situados entre o nome e o anonimato, entre a norma e a
vida. A subjetivao poltica est associada a esse ser e aparecer entre,
fratura do mecanismo que ajusta um corpo sensvel a um corpo simblico.
Um sujeito um ser entre: entre vrios nomes, estatutos ou iden-
tidades. Entre humanidade e desumanidade, a cidadania e sua ne-
gao; entre o estatuto de homem, de ferramenta e de ser falante e
pensante. A subjetivao poltica consiste nas aes voltadas para
a comprovao da igualdade pressuposta ou para o tratamento
de um dano por pessoas que esto juntas justamente porque es-
to entre. Trata-se de um cruzamento de identidades que repousa
sobre um cruzamento de nomes: nomes que conectam o nome de
um grupo ou de uma classe ao nome daqueles que no so consi-
derados, que ligam um ser a um no-ser ou a um ser em devir.
(RANCIRE, 2004, p. 119)
Sob esse aspecto, a parte dos sem-parte no designa a objetivida-
de de um grupo emprico excludo do domnio poltico. Eles so sujeitos
no-identitrios, pois no so objeto de uma poltica da identidade, mas
sim de identificaes impossveis. (RANCIRE, 2011b) Os sem-parte
portam nomes que no pertencem a sujeitos ou grupos especficos: as
subjetividades formadas nas cenas de dissenso no podem ser habitadas
pelas pessoas ou grupos que encenam o dano. Contudo, elas proporcio-
nam os meios para escapar s identidades policiais que limitam os indi-
vduos. Assim, as identificaes geradas por essas subjetividades criam
sujeitos que esto juntos pelo fato de estarem entre identidades. Como
afirma Rancire:
256NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
Sujeitos polticos no so coletividades definidas, eles so nomes
que indicam um excesso, nomes que podem colocar em cena o
dissenso referente a quem pode ser contado como parte de uma
comunidade. De maneira semelhante, predicados polticos como
a liberdade e a igualdade, no so propriedades de indivduos ou
grupos. Eles so predicados abertos, sucetveis e maleveis dentro
de uma disputa litigiosa, apontando a indeterminao de nomes
como homem e cidado. (BLECHMAN; CHARI; HASAN, 2005,
p. 289)
A existncia dos sem-parte e a construo de sua subjetivao pol-
tica esto ligadas, portanto, a uma desidentificao, ao questionamento da
naturalidade com que aos sujeitos atribudo um lugar, um nome e uma
posio, em detrimento da abertura de um espao no qual qualquer um
pode ser contado. A desidentificao indica o processo de distanciamento
dos sujeitos de capacidades, desejos e interesses definidos pela ordem po-
licial. Ela daria a ver uma separao entre mundos: o mundo no qual as
pessoas que no so consideradas como seres falantes existem e o mundo
no qual elas no existem; o mundo em que h algo entre elas e aqueles
que no lhes conhecem como seres falantes e contveis e o mundo onde
no h nada entre eles. (RANCIRE, 1995, p. 49)
possvel dizer, ento, que Rancire concebe os sem-parte como
fruto de um processo de subjetivao, como sujeitos volteis de desiden-
tificao ou sujeitos volteis universais, que revelam como os nomes
(proletrio, trabalhador, mulher, imigrante etc.) so desviados de sua sig-
nificao social para se transformarem em espaos nos quais se define e
se encena uma demanda de igualdade. (DERANTY, 2003b) Esses nomes
seriam, portanto, provisrios e estariam atrelados a uma situao de fala
especfica.
Como destaca Dean (2011, p. 86), faz mais sentido pensar na par-
te dos sem-parte como um hiato: um intervalo na ordem existente de
aparncia entre uma ordem j dada e outras configuraes possveis do
espao entre e dentro dos mundos. Assim, os sem-parte podem ser
vistos como uma metfora que indica um intervalo na ordem existente de
aparncia entre uma ordem j dada e outras configuraes possveis do
espao entre e dentro dos mundos nos quais esto inscritos os sujeitos.
Nesse sentido, os modos de apario dos sem-parte em uma cena dis-
CENAS DE DISSENSO E A POLTICA DAS RUPTURAS E FRATURAS NA EVIDNCIA DO VISVEL257
sensual os conecta mais fortemente ao processo de subjetivao poltica e
de desidentificao, uma vez que por meio de sua ao e expresso nessa
cena que se constituem como capazes de se pronunciarem em primeira
pessoa e de identificar sua afirmao com a reconfigurao de um univer-
so de possibilidades. (RANCIRE, 2011b, p. 250)
preciso ter claro que a discusso que Rancire tenta construir sobre
a poltica e sobre os processos de subjetivao e desidentificao no se
polariza entre privilegiados e desprivilegiados, excludos e includos. Nas
prprias palavras de Rancire, o que importante
No uma escolha entre um grande sujeito e uma multiplicidade
de pequenos sujeitos. mais uma escolha entre um modo de con-
tar os sujeitos polticos que adiciona e outro que subtrai, entre a
pluralisao de identidades e a universalidade da desidentificao.
O importante no somente a ao das minorias, a ao de grupos,
mas a criao do que chamo nomes vazios dos sujeitos. O que
o proletariado? um nome vazio para um sujeito para qualquer
um, para contar qualquer um. Acredito que h uma diferena entre
pensar a necessidade desse tipo de subjetivao universal e pensar
a poltica como um problema de minorias. (BLECHMAN; CHARI;
HASAN, 2005, p. 289)
Sua reflexo no um tipo de elogio da brecha ou da distncia in-
transponvel que separa grupos e classes, mas a afirmao de que a cena
que envolve a interlocuo de mundos e sujeitos deve ser constantemente
recriada e negociada.
11
Ele aposta na ideia de desidentificao, de dissolu-
o11 e de dissenso, para revelar como a poltica desafia uma forma con-
sensual de registro e imposio de um comum, exigindo a sua constante
(re)criao, de modo a torn-lo aberto a outros comuns, que dificilmente
figuram como formas de experincia sensvel do mundo.
H, portanto, a necessidade de fazer figurar o mundo dos sem-parte
em cenas dissensuais que desafiam imagens de um mundo consensual,
11 Nas palavras de Rancire: O que eu nomeio como dissoluo ou auto-dissoluo a ao dos su-
jeitos que enfatiza a diferena entre um status natural e uma funo poltica. A est a importncia
da ideia de proletariado para mim: ele pode ser, ao mesmo tempo, o nome de uma classe e o nome
aberto daqueles que no so contados. O que importa o momento de desidenticao em que
h um deslocamento da identidade ou entidade de trabalhador, mulher, negro para o espao de
subjeticao dos sem-parte que aberto a todos. (BLECHMAN; CHARI; HASAN, 2005, p. 290)
258NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
tornando visvel e paupvel a palavra dos sem-parte e alterando uma certa
forma de partilha do sensvel, mas tambm h a necessidade de manter
suas fronteiras. Quando Rancire (2010, p. 69) diz que o dissenso envolve
a ao de colocar dois mundos em um nico e mesmo mundo, ele no
desconsidera que o Outro sempre irredutvel e introduz dissimetrias
que impedem que todos sejam absorvidos por uma totalidade ampliada.
Ele tampouco se esquece das tenses e hiatos existentes entre um mundo
que pretende ser o mundo comum partilhado pela maioria (e expresso nas
narrativas da grande mdia) e um mundo inaudvel e imperceptvel que
tenta aparecer (em flashes fulgurantes) dentro desse mundo comum, mas
dificilmente consegue se fazer visvel.
CONSIDERAES FINAIS
A poltica para Rancire se refere a um desdobramento argumentativo
da nomeao de um dano fundamental: na partilha mesma do que co-
mum a uma comunidade, aqueles que so vistos como no tendo nada
a oferecer ao coletivo (a princpio sujeitos tidos como desnecessrios s
atividades polticas, tais como escravos, pobres, operrios, minorias, etc)
agrupam-se sob o signo de uma parte dos sem-parte e, portanto, vem
negada a sua existncia poltica como interlocutores. Esse dano funda-
mental faz com que os sem-parte se localizem na difcil posio de no
terem uma existncia reconhecida na hierarquia social da ordem poltica:
eles no contam e no foram contados desde o incio como pares, como
iguais. A lgica atravs da qual os sem-parte se localizam na ordem so-
cial pela via de um dano dissensual e conduz ao desentendimento.
O dano, como vimos, uma forma especfica de verificao da igual-
dade que associa a poltica a uma tenso polmica entre a manifestao
de sujeitos polticos contra a ordem policial. Um dano no pode ser com-
parado a um litgio jurdico e nem ocorre entre determinadas partes espe-
cificamente interessadas na realizao de seus objetivos e interesses. Um
dano no pode ser solucionado por meio da mudana ou sancionamento
CENAS DE DISSENSO E A POLTICA DAS RUPTURAS E FRATURAS NA EVIDNCIA DO VISVEL259
de leis, ele pode apenas ser tratado por meio do processo de desentendi-
mento e de subjetivao poltica, que reconfigura o campo da experincia.
preciso lembrar que o desentendimento no se estrutura sobre
uma demanda por igualdade ou reconhecimento expressa pelos sem-
-parte, mas traduz uma ao poltica que questiona a prpria existncia
do sujeito como tal. A demanda que se articula exposio e encenao
do dano na cena de dissenso no pode ser atendida ou solucionada, uma
vez que os sujeitos mobilizados por um dano poltico no so entidades
quem esse dano ocorreu por acidente, mas sujeitos cuja prpria existncia
j o modo de manifestao do dano. (DAVIES, 2010)
Os sem-parte permitem a existncia de uma comunidade poltica:
sua visibilidade nas cenas de dissenso implica um novo enquadramento
para os modos de visibilidade da igualdade entre os membros de tal co-
munidade. Os sem-parte estabelecem situaes que interrogam e refa-
zem o jogo de nomes volteis que flutuam situacionalmente no mundo
comum, no qual so os hiatos e as diferenas ressaltadas por esses no-
mes que constituem a poltica atravs de processos de desidentificao.
(WALD LASOWSKI, 2009)
O comum de uma comunidade no est dado, mas permanece em
devir e s pode realmente ser vislumbrado quando uma certa noo con-
sensual da realidade desafiada e comea a apresentar fissuras capazes de
conferir visibilidade a outras formas de vida. Sua produo constante d
a ver os desencaixes e fraturas entre os sujeitos e seus mundos, os quais
no podem ser superados de maneira definitiva, sem impedir, contudo,
momentos fugazes de uma aproximao sempre tensa.
A produo do comum o enredo que move as personagens em seu
desempenho nas cenas de dissenso. As lacunas que caracterizam a coexis-
tncia entre os homens ficam evidentes, uma vez que a palavra enunciada
(e a busca dos sem-parte pela enunciao) tenta criar pontes entre eles de
modo a dar vazo criao de solidariedades e objetos comuns. Nessas ce-
nas no se busca um denominador comum para explicar os vnculos cria-
dos, mas a identificao de espaos vazios que no podem ser preenchidos
(ao contrrio do que diz a ordem policial). Tais espaos podem, entretanto,
ser atravessados graas aos mltiplos fios de uma intersubjetividade que
260NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
se entrelaam de maneira singular e efmera, nas diferentes experincias
sensveis que fazemos de ns e dos outros. (OUELLET, 2002, p. 10) Alm
disso, a comunicao dissensual ajuda a criar uma experincia comum a
partir da qual novos modos de construo de um comum e novas possibi-
lidades de enunciao subjetiva podem ser desenvolvidos como caracters-
ticas estticas da poltica. (CORCORAN, 2010, p. 19)
Por um lado, a situao de comunicao instaurada nas cenas de dis-
senso marca no s a importncia da contextualizao e visibilidade dos
interlocutores, mas tambm a tematizao de um objeto/questo perce-
bido como pertencente ao mbito do comum. Por outro lado, a poltica,
aqui entendida como aquilo que desestabiliza e prope contextos (reno-
vando, assim, as posies do interlocutores no cenrio comunicativo),
capaz de promover uma reviso do que tido como comum e igualitrio.
O comum seria, ao mesmo tempo, um j dado capaz de localizar os
interlocutores na cena de enunciao e de troca comunicativa, e um por
vir, almejado e construdo coletivamente.
Um contexto comunicativo comum, como aponta Rancire (2004),
no aquele que reproduz e reafirma camadas de sentidos, mas sim aque-
le que construdo de modo a permitir uma nova disposio de corpos e
vozes. A busca por um novo cenrio do visvel e uma nova dramaturgia do
inteligvel envolve reenquadrar o mundo da experincia comum como o
mundo de uma experincia impessoal compartilhada. A experincia pro-
movida por esse novo cenrio e essa nova dramaturgia no se resume ao
mbito da subjetividade, mas ela social e impessoal, uma vez que se re-
laciona ao processo de constituio e desidentificao dos sujeitos. Ela se
constitui a partir da operao da poltica como forma de estabelecer o que
vemos e o que podemos dizer, de apontar quem possui competncia para
ver e para dizer, de evidenciar as propriedades dos espaos e os possveis
do tempo.
REFERNCIAS
BLECHMAN, Max; CHARI, Anita; HASAN, Rafeeq. Democracy, Dissensus and
the Aesthetics of Class Struggle: An Exchange with Jacques Rancire. Historical
Materialism, London, v. 13, n. 4, p. 285-301, set./dez. 2005.
CENAS DE DISSENSO E A POLTICA DAS RUPTURAS E FRATURAS NA EVIDNCIA DO VISVEL261
BRASIL, Andr. Apresentao, Devires, Belo Horizonte, v.7, n. 2, p. 7-10, jul./dez. 2010.
CHAMBERS, Samuel. Jacques Rancire and the problem of pure politics. European
Journal of Political Theory, Birmingham (UK),v. 10, n. 3, p. 303-326, July, 2011.
CORCORAN, Steve. Editors introduction. In: RANCIRE, J. Dissensus: on politics and
aesthetics. London: Continuum, 2010. p. 1-26.
DAVIES, Oliver. Jacques Rancire. Cambridge: Polity Press, 2010.
DEAN, Jodi. Politics without politics. In: BOWMAN, Paul; STAMP, Richard. Reading
Rancire. London: Continuum International Publishing Group, 2011, p. 73-94.
DERANTY, Jean-Philippe. Rancire and Contemporary Political Ontology. Theory and
Event, Baltimore, v. 6, n. 4, out. 2003a.
DERANTY, Jean-Philippe. Msentente et lutte pour la reconnaissance: Honneth face
Rancire. In: RENAULT, Emmanuel; SINTOMER, Yves. O en est la thorie critique?
Paris: La Dcouverte, 2003b. p. 185-199.
MARQUES, ngela. Relaes entre comunicao, esttica e poltica: tenses entre
as abordagens de Habermas e Rancire. Revista Compoltica, Rio de Janeiro, v. 2, n.2
p. 110-130, jul./dez.2011a. Disponvel em: <http://compolitica.org/revista/index.php/
revista/article/view/28>. Acesso em: 12 abr. 2013.
MARQUES, ngela. Comunicao, esttica e poltica: a partilha do sensvel promovida
pelo dissenso, pela resistncia e pela comunidade. Galxia, So Paulo, v. 11, n. 22,
p. 25-39, jul./dez.2011b. Disponvel em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/
article/view/7047>. Acesso em: 03 maio 2013.
OUELLET, Pierre (Dir). Politique de la parole. Singularit et communaut. Montral:
Trait dunion, collection Le soi et lautre, 2002. p. 7-20.
RANCIRE, Jacques. The thinking of dissensus: politics and aesthetics.
In: BOWMAN, Paul; STAMP, Richard. Reading Rancire. London: Continuum
International Publishing Group, 2011a, p. 1-17.
______. Against an ebbing tide: an interview with Jacques Rancire. In: BOWMAN,
Paul; STAMP, Richard. Reading Rancire. London: Continuum International
Publishing Group, 2011b, p. 238-251.
______. Dissensus: on politics and aesthetics. Edited and transleted by Steven Corcoran.
London: Continuum, 2010.
______. As desventuras do pensamento crtico. In: CARDOSO, Rui Mota (Org.).
Crtica do contemporneo: Giorgio Agamben, Giacomo Marramao, Jacques Rancire,
Peter Sloterdijk. So Paulo: Fundao Serralves, 2008, p. 79-102.
______. Aux bords du politique. Paris: Gallimard, 2004.
______. Politics and aesthetics: an interview, Angelaki: Journal of the theoretical
humanities, Oxford, v. 8, n. 2, p. 191-211, August 2003.
______. Le partage du sensible: esthtique et politique. Paris: La Fabrique ditions,
2000.
______. La Msentente politique et philosophie. Paris: Galile, 1995.
262NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
RUBY, Christian. Linterruption: Jacques Rancire et la politique. Paris: La Fabrique,
2009.
TANKE, Joseph. Jacques Rancire: an introduction. London: Continuum International
Publishing Group, 2011.
VALENTINE, Jeremy. Rancire and Contemporary Political Problems. Paragraph,
Edinburghv. 28, n. 1, p. 46-60, March, 2005.
WALD LASOWSKI, Aliocha. Le tumulte des voix: subjectivit esthtique et
nonciation politique. In: GAME, Jrme; WALD LASOWSKI, Aliocha (Ed.). Jacques
Rancire et la politique de lesthtique. Paris: ditions des archives contemporaines,
2009, p. 9-21.
263
SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
Imagens que pensam, gestos que libertam
apontamentos sobre esttica e poltica na fotograa
A CRISE DA VISO
O conceito de representao est sob ataque cerrado, mas o poder da visu-
alidade sobreviveu. Embora a crise da viso seja apontada por vrios te-
ricos e a relao hptica do corpo (HANSEN, 2004) retire dela o papel de
sentido mais nobre, a fotografia seja ela digital ou analgica ainda exi-
ge a viso como sentido fundamental, mesmo que percebamos a imagem
com os olhos da mente. Para Marin (2001), existe uma diferena crucial,
entre ver e olhar. Olhar o ato natural de receber nos olhos a forma e a
semelhana. J ver, considerar a imagem e a tentativa de conhec-la
bem, fazendo com que o observador constitua-se como sujeito.
Martin Jay (1994) fala de uma era essencialmente oculocntrica, isto
, a viso como o sentido mestre da poca moderna. Processo iniciado
com o Renascimento e as revolues cientficas a inveno da impres-
so, a fotografia, o telescpio, o microscpio, o cinema que acabou por
construir o que podemos denominar como um campo perceptual da vi-
so. A verdade, que desde o incio da filosofia ocidental at o sculo XIX,
a viso imperou sobre os demais sentidos. Partindo de Plato, passando
por Descartes e Santo Agostinho, as metforas visuais serviam como ex-
plicao e exemplo para compreender e pensar o mundo:
264SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
[...] O oculocentrismo que serve de base para a nossa tradio fi-
losfica tem sido inegavelmente importante. Seja em termos de
especulao, observao ou iluminao reveladora, a filosofia oci-
dental tende a aceitar a tradicional hierarquia sensual. E se Rorty
est certo acerca do espelho da natureza, os pensadores modernos
construram suas teorias do conhecimento sobre uma fundao vi-
sual. (JAY, 1994, p. 151)
Para o cineasta e terico francs Jean-Louis Comolli (1985), a segun-
da metade do sculo XIX viveu um tipo de frenesi do visvel. No entanto,
a multiplicidade dos instrumentos escpicos que fascinava e gratificava,
permitindo milhares de vises, tambm levou o olho humano perda de
seu privilgio imemorial; o olho mecnico da fotografia passou a ver em
seu lugar e, em determinados aspectos, com mais confiana. A fotografia
se colocou ao mesmo tempo como o triunfo e a sepultura do olhar. Fre-
nesi que, para Martin Jay (1994, p. 149), minou a autoconfiana da viso
humana.
Jonathan Crary (1990, p. 70) argumenta que o visvel escapa da eter-
na ordem imaterial da cmera obscura e se aloja em outro aparato, a inst-
vel fisiologia e temporalidade do corpo humano. Ao inverter abordagens
tradicionais, ele considerou a questo da visualidade atravs da anlise
do observador e insiste que os problemas da viso so inseparveis das
operaes de poder social. Segundo Crary, por volta de 1820, o observador
passou a ser o espao, ou local, de novas prticas e discursos que [in]cor-
poraram a viso como evento fisiolgico. O surgimento da tica fisiolgica
possibilitou o desenvolvimento de teorias e modelos de viso subjetiva,
que permitiram ao observador outro tipo de autonomia e produtividade, e
produziram, ao mesmo tempo, novas formas de controle e padronizao.
Descentrado, em pnico, lanado numa tremenda confuso pela
nova mgica do visvel, o olho humano passou a ser afetado por uma srie
de limites e dvidas. Para Jay, embora existam muitas evidncias demons-
trando que o sculo dezenove levantou importantes e profundas questes
sobre o regime escpico da era moderna aquele denominado de pers-
pectivismo cartesiano as inovaes tecnolgicas (principalmente a c-
mera fotogrfica) contriburam para minar o status privilegiado da viso
humana. Alm disso, apesar da esttica modernista ter sido construda
tradicionalmente como o triunfo da visualidade pura (tendo como um dos
IMAGENS QUE PENSAM, GESTOS QUE LIBERTAM265
expoentes desta posio o crtico americano Clement Greenberg), pos-
svel encontrar o reverso desta postura, por exemplo, em Merleau-Ponty
(2004) no seu ensaio A Dvida de Czanne, onde o filsofo celebra a
dimenso corprea e sensual nos trabalhos do pintor francs.
Outros crticos se opuseram a Greenberg e reabriram a questo da
pureza do visual no modernismo. Apontando a importncia de tendncias
subvalorizadas, eles revelaram a origem no projeto modernista de um im-
pulso explicitamente [anti]visual, que preparou o caminho para o que pas-
sou a ser denominado de ps-modernismo, e questionaram o fetichismo
modernista da viso,
1
enfatizando assim o impulso que restaura o corpo
vivo, que era evidente (MERLEAU-PONTY, 2004), tanto no Impressionis-
mo como em Czanne.
2
Douglas Crimp (1980-81) direcionou a ateno para outro aspecto do
uso fotogrfico, na contemporaneidade: a hibridao. O que caracteriza
outra divergncia em relao s categorias da esttica modernista:
Ao passo que mixagens heterogneas de mdias, gneros, obje-
tos e materiais, violam a purificao do objeto de arte moderna,
a incorporao de fotografias o faz de forma particular, ao levar
a representao do mundo, seus aspectos tanto de ndice como o
de cone para o campo simblico da arte. (SOLOMON-GODEAU,
1997, p. 111)
Outro autor mais recente, Mark Hansen (2004), tenta ampliar o tra-
balho de Henri Bergson, apontando o afeto como ponto central de seu
projeto, com nfase na viso, tato e automovimento corpo e imagem.
Ao buscar em Bergson, que v o corpo como uma imagem entre outras
um tipo especial denominado de centro de indeterminao , e que atua
como um filtro selecionando imagens relevantes ao seu interesse, Hansen
prope um tipo de corpo que destri as noes idealizadas, oculocntricas
da modernidade. Neste sentido, a percepo sempre uma [in]corporao.
O corpo se transforma num agregador afetivo que seleciona entre (uma
plenitude do possvel) experincias perceptuais, deixando o resto de fora.
1 Ver KRAUSS 1986.
2 Ver, JAY 1994, principalmente o captulo: The Crisis of the Ancient Scopic Rgime: From the Im-
pressionists to Bergson.
266SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
O corpo que pode evocar memrias desta maneira aquele no qual todos
os sentidos so primordiais.
Hansen desenvolveu uma nova fenomenologia, elaborada atravs
do dilogo com trabalhos de Walter Benjamin, Henri Bergson e
Gilles Deleuze enfatizando o papel da experincia afetiva, pro-
prioceptiva e ttil na constituio do espao e, por extenso, da m-
dia visual. Para Hansen, a visualidade moldada por esses elemen-
tos corporais e no pelo poder abstrato da viso, e sustenta que o
corpo continua a emoldurar a imagem, mesmo no regime digital.
(LENOIR, 2004, p. 8)
Richard Rushton (2004), por outro lado, acusa Hansen de ter muita
f no corpo e na comunicao: isto , onde a virtualizao do corpo possi-
bilitaria uma troca comunicativa afetiva de informaes com a esfera do
digital. Para Rushton, precisamente isto que deveramos evitar: a redu-
o do corpo a bits transmissveis de informaes permutveis. E ne-
cessrio ter em mente que a visualidade se multiplica incontrolavelmente,
as pessoas so interpeladas imageticamente em todos os instantes, em
qualquer lugar. Essas imagens disponibilizadas no sistema consumidor,
pela velocidade e alcance da globalizao, pelas metforas visuais das reli-
gies, crenas e instituies, influem decisivamente nas imagens pessoais
e mentais. Consequncia disso o declnio que essa visibilidade sofre na
contemporaneidade, o de ver conceitualmente.
Contraditoriamente, portanto, em um mundo de imagens, a viso
parece se atrofiar. E se a fotografia um processo baseado, no apenas
na sinestesia, mas tambm na seleo isto fotografias so tiradas , a
viso permanece como um sentido nobre, at mesmo para fotgrafos ce-
gos, como Evgene Bavcar, que precisa de outros olhos para dar existncia
e significado ao seu trabalho.
Na realidade, desde a dcada de 1980, com a emergncia do digital,
o estatuto da fotografia ficou mais repleto de dvidas, contradies e cons-
tantes mudanas. Construdas por simulaes numricas e sem suporte
material, as fotografias esto em todos e em nenhum lugar ao mesmo tem-
po. nesse processo que a luz da fotografia analgica substituda pelo
clculo, e a lgica figurativa da representao substituda pela simulao,
IMAGENS QUE PENSAM, GESTOS QUE LIBERTAM267
deixando a todos perplexos diante de um pseudorrealismo, que insiste na
potncia conflituosa entre criao e documentao.
Abigail Solomon-Godeau (1997, p. 87) afirma que a ideia da foto-
grafia depois da arte da fotografia aparece como extenso, ao invs de
um campo encolhido. Rosalind Krauss (1986, p. 49) utiliza o conceito de
campo estendido, isto , um campo sem limites. Para Rubens Fernandes
Jnior, essa produo contempornea, mais arrojada, livre das amarras da
fotografia tradicional a fotografia expandida, onde a nfase est no pro-
cesso de criao e nos procedimentos utilizados [...]. (2007, p. 45) E, por
isso, grandes fotgrafos so grandes mitlogos, segundo Barthes (1984).
Uma fotografia no considerada subversiva por chocar, mas quando seu
significado difere do referente literal e provoca, ento, uma reflexo.
Assim, se explorarmos as grandes mudanas ocorridas nas formas
dominantes da fotografia contempornea, possvel perceber a passagem
de uma antiesttica aparente para a escolha de um meio esttico:
Isto pode ser visto na maneira em que os usos a/no-estticos da
fotografia associados s vrias prticas conceituais, protoconceitu-
ais, psconceituais e sua documentao nos anos 1960 e 1970 de-
ram lugar, em 1980, a uma postura antiesttica autoconsciente de
apropriao ps-moderna vigente, s para ser superada pela gran-
de escala pictrica e, frequentemente, digital da fotografia colorida
que domina a arte fotogrfica desde os anos 1990 uma forma de
fotografia muito comparada pintura na gama de efeitos estticos
a que aspira e que tem sido muito bem vista pelos museus, galerias
e mercado da arte. (COSTELLO; IVERSEN, 2010, p. 189)
fotografia j no se exige mais uma fidelidade ao real ou uma
reproduo de mundos. Ela libertou-se de orientaes prvias, de como
relacionar-se com o sensvel, e partiu para a inveno de olhares. Torna-
ram-se, ento, potentes, novas foras no gesto de fotografar. A potncia
da imagem um jogo entre as configuraes pressupostas e aquilo que li-
berta para outros possveis, entre o programa e as subverses do fotgrafo,
para usarmos os termos de Flusser (1985). Um dos caminhos passa, en-
to, por uma reelaborao da experincia esttica daquilo que constitui a
aisthesis e as sensorialidades experimentadas e por uma reconfigurao
268SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
no mbito da potica entendida como a dimenso produtora dessas sen-
sibilidades, as maneiras de fazer, a poiesis.
ENTRE A POTICA E A POLTICA
A fotografia contempornea no uma forma unificada. Simplesmente,
seus contextos, estilos visuais e motivaes so variados. Podemos, por
exemplo, conceder fotografia uma posio mais ou menos esttica no
mapa da crtica e consider-la de um ponto de vista puramente formal,
totalmente separada de qualquer questo sobre fidelidade documental.
Sob este ponto de vista, questes cruciais raramente seriam colocadas:
qual sua funo como objeto do discurso esttico e a quais interesses est
servindo?
(KRAUSS, 1986)
Um leque de foras emocionais polticas, humanistas e estticas,
aponta para a complexidade que a define. Alguns trabalhos fogem das
convenes do fotojornalismo, ou enfatizam a mobilizao imaginria de
uma comunidade. Outros carregam um fascnio antropolgico, onde os
relacionamentos so explicitados atravs de conexes espaciais e gestos re-
alizados para a cmara; ou obras ficcionalmente criadas a partir do confli-
to que pode residir na rejeio social ou alienao, na incompreenso das
culturas, na afirmao de esteretipos, na imposio de papis de gnero
ou no recurso violncia armada. So tenses e contradies onipresentes
no mundo do sculo XXI. (VAN GELDER; WESTGEEST, 2008)
Portanto, as possibilidades de relacionar esttica e poltica no so
simples. Ora, estamos em uma instrumentalizao de uma pela outra, ora
estamos na constatao de que ambas esto imbricadas, mas talvez ain-
da faltem sempre algumas complexificaes que permitam efetivamente
uma entrada no problema. A separao do esttico e do poltico j foi, em
certa medida, posta em crise, sobretudo se partirmos das contribuies de
Rancire (2005), e dos desdobramentos gerados pelas operaes concei-
tuais propostas por ele. de todo ainda aberta a dimenso de articulao
que se pode traar entre uma poltica da arte e uma esttica da poltica,
entre uma poltica no campo das sensibilidades e um regime de visibilida-
de articulado poltica e a prpria filosofia de Rancire nos movimenta
IMAGENS QUE PENSAM, GESTOS QUE LIBERTAM269
justo para sempre questionar e gerar problemas nesses lugares do entre,
regies de incertezas e de risco.
No existem dvidas de que a potica pode abrir nossos olhos para
questes polticas. E que, alm disso, precisamos continuar a discutir at
que ponto a arte tem de ser poltica. Isto :
[...] quando a prtica fotogrfica pretende um debate crtico sobre
os trabalhos internos do sistema artstico ou sobre questes mais
amplas de problemas sociais, ela est apta a se distinguir de um
mero discurso poltico ou panfleto? O que distingue a arte da polti-
ca seno a potica e seus componentes metafricos que a habitam?
(VAN GELDER; WESTGEEST. 2008, p. 11)
preciso colocar-se nesse lugar, enfrentar o desafio que o problema
nos coloca. Se estamos no limiar, que possibilidades surgem da? Tem
sido um caminho destacar as misturas de campos antes distintos, os cru-
zamentos das artes e das linguagens. Falamos na fotografia como arte
contempornea, no cinema que vai aos museus, nas indefinies quanto
ao que estaria no campo da performance, da dana, do teatro, nas vizinhan-
as quanto ao que seria vdeo, fotografia ou cinema. Esses processos de
passagens, como bem chamou Bellour (1997), nos retiraram de relaes
dicotmicas e de simplificaes que enquadram e no permitem a comu-
nicao entre os campos. Essas passagens nos demandam a busca por
outros olhares tericos e metodolgicos, operaes conceituais que, par-
tindo da ideia de que estamos em processos de indiscernibilidade, nos
movimentem pelas imagens e pelas potncias nelas contidas. em torno
dessas potncias que a discusso aqui deve se situar.
Junto a essa primeira articulao da esttica com a poltica, enten-
dida numa dimenso proliferadora de possibilidades, tentaremos trazer
tambm uma segunda maneira esttico-poltica, pela qual o gesto de foto-
grafar pode se inscrever no mundo. Trata-se de uma produo de pensa-
mento, fotografar como maneira de pensar, a imagem como o que pensa
lugares, corpos, posturas no mundo. No se trata de um gesto abstrato de
distanciamento e de transcendncia. O pensamento aqui entendido de
forma imanente, como maneira de atuar na vida, produzir variabilidades
e fissuras, gerar deslocamentos, fazer problemas. Pensar torna-se, ento,
parte integrante da imagem, no se coloca como elemento exterior mate-
270SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
rialidade. Se possvel fotografar a partir de conceitos anteriores, projetos
e clculos, talvez uma inflexo poltica e esttica fosse um pensamento
que se d no percurso, na abertura ao impondervel do encontro acionado
pela fotografia. Pensar no ato, se poderia dizer.
As duas proposies centrais aqui so, ento, tentativas de se situar
no problema do entre, da relao imbricada da esttica com a poltica. As
tentativas se orientaro, sobretudo, na operao de conceitos, para mape-
ar alguns arranjos tericos e metodolgicos possveis, de modo a lanar
questes e enfrentar o risco de se situar no limiar. A fotografia contem-
pornea nos provoca e gera problemas. As imagens perturbam os lugares
ordenados, produzem novas formas de sensibilidade. H aqui uma apos-
ta, a de que indagar sobre o esttico e o poltico implica tambm tratar de
resistncia, formular questes sobre a possibilidade das imagens desenca-
dearem roturas estticas nas configuraes do sentir.
A fotografia, portanto, um meio que possibilita o conhecimento
pelo sensvel, assim como outras formas de arte, unindo esttica e pol-
tica. Esttica, que dever ser compreendida como um regime especfico
de identificao e pensamento das artes: um modo de articulao entre
maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas maneiras de fazer e mo-
dos de pensamento de suas relaes, implicando uma determinada ideia
de efetividade do pensamento. (RANCIRE, 2009, p. 13-14) Diferente do
pensamento que rondava os primeiros fotgrafos, que resumiam a estti-
ca ao modo de compor a imagem atravs da luz, enquadramento, cenrio
e etc. Esttica e poltica no esto separadas na fotografia contempornea:
elas so mutuamente constituintes no impulso comum de tornar visvel
o que no pode ser visto, fazer ouvir um discurso onde s h lugar para o
barulho. (RANCIRE, 1996, p. 42) Assim, com uma fotografia mais vol-
tada para a subjetividade, a experincia esttica traz consigo a promessa
de uma nova arte de viver dos indivduos e da comunidade, a promessa de
uma nova humanidade. (RANCIRE, 2007, p. 134)
LIBERDADE: AMPLIAR POSSVEIS
O problema da liberdade tem lugar especial quando se trata de pensar as
potncias das imagens fotogrficas. O que elas podem e o que podem os
IMAGENS QUE PENSAM, GESTOS QUE LIBERTAM271
fotgrafos com elas so questes em jogo para tratar de uma poltica do
gesto de fotografar. Na filosofia de Flusser, a centralidade da questo da
liberdade se orienta para um estudo sobre a caixa-preta com preocupao
nos momentos de subverso daquilo que condiciona o fotografar a certos
limites. O aparelho oferece uma virtualidade de operaes tcnicas, en-
volvidas em um programa, mas cabe ao fotgrafo promover novos usos,
torcer o que estaria como dado e como limitao de atuaes, contra-
bandear na fotografia elementos estticos, polticos e epistemolgicos no
previstos no programa. (FLUSSER, 1985, p. 28) Os aparelhos se ocupam
em programar a vida, organizar um campo de possveis. O aparelho foto-
grfico a fonte da robotizao da vida em todos os seus aspectos, desde
os gestos exteriorizados ao mais ntimo dos pensamentos, desejos e senti-
mentos. (FLUSSER, 1985, p. 36) Buscar furar o programa e a ordenao
do ver seria uma estratgia dirigida contra o aparelho. preciso produzir
uma imagem que no estava no programa.
Essas consideraes j bem conhecidas de Flusser sobre a relao do
fotgrafo com o aparelho merecem destaque, sobretudo, pelo carter pol-
tico que carregam. esse aspecto que merece ser destacado, j que se trata
de um esforo para recolocar o problema da liberdade e tornar central o
debate sobre uma prxis que escape captura e busque brechas. O que
Flusser prope tanto uma defesa de determinada postura esttica e pol-
tica por parte dos fotgrafos diante do aparelho, quanto uma convocao a
uma abordagem terico-metodolgica que proponha sadas s limitaes
dos programas. Na proposta de Flusser (1985, p. 41), so os fotgrafos que
podem responder s perguntas sobre onde est o espao para a liberdade
na contemporaneidade. Liberdade jogar contra o aparelho, dir o autor
em passagem j bem consagrada. E a filosofia da fotografia deve conscien-
tizar essa prxis fotogrfica, para que sejam apontadas ampliaes dos
possveis.
A filosofia da fotografia necessria porque reflexo sobre as
possibilidades de se viver livremente num mundo programado por
aparelhos. Reflexo sobre o significado que o homem pode dar
vida, onde tudo acaso estpido, rumo morte absurda. Assim
vejo a tarefa da filosofia da fotografia: apontar o caminho da liber-
dade. (FLUSSER, 1985, p. 41)
272SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
A postura metodolgica da crtica fotogrfica justo indicar quando
as intenes humanas conseguem encontrar desvios, quando se vislum-
bra a vitria do fotgrafo sobre o aparelho. A composio de um mapa de
conceitos deve ser tambm uma operao poltica, experimento de toro
no pensamento. O exerccio da liberdade diz respeito ao prprio estar no
mundo dos sujeitos, implica uma sensao existencial no contexto das
imagens tcnicas. (FLUSSER, 2008) E assim, se tratamos de fotografia, j
no podemos nos dissociar da vida e das implicaes que a produo de
imagens tem na libertao das formas de viver, dos programas que roboti-
zam a vida, retomando a expresso de Flusser.
Rubens Fernandes Jnior (2006), em dilogo com a contribuio
flusseriana, destaca a libertao e a resistncia viabilizadas pela fotografia
contempornea, que experimenta novas abordagens e expande horizontes
sensveis. A possibilidade de mltiplas intervenes na imagem libertou a
fotografia de uma relao imediata com o mundo, de uma reproduo do
real. J no mais demandada uma veracidade da imagem. As contami-
naes visuais so potencializadas por procedimentos vrios que retiram a
fotografia de compactaes. Nesse sentido, as experimentaes no mbito
do fazer, na potica fotogrfica, tm impacto nas sensibilidades geradas,
na experincia esttica, que imerge, sobretudo, em um estranhamento
causado pela visualidade contempornea.
A nova produo imagtica deixa de ter relao com o mundo vis-
vel imediato, pois no pertence mais ordem das aparncias, mas
sugere diferentes possibilidades de suscitar o estranhamento em
nossos sentidos. Trata-se de compreender a fotografia a partir de
uma reflexo mais geral sobre as relaes entre o inteligvel e o
sensvel, encontradas nas suas dimenses estticas. (FERNANDES
JNIOR, 2006, p. 17)
O esttico como que relanado em novas condies de experincia,
modificada por uma produo que se abre ao que no estava previsto no
programa, ao que j no estava esquadrinhado e enquadrado como orde-
nao do ver. Mas no apenas o estranhamento que opera essas tores:
penso que se trata mais das singularidades expressivas, que fogem aos
consensos estabelecidos nas sensibilidades. Esse seria um caminho polti-
co para pensar a experincia esttica, que se coloca no tensionamento com
IMAGENS QUE PENSAM, GESTOS QUE LIBERTAM273
uma configurao policial que estabelece maneiras de fazer, ver, dizer e
sentir, no que dialogo com Rancire (1996). As tores estticas e polticas
da fotografia seriam encaminhadas em meio a uma produo de dissenso,
busca por uma poltica que expe o dano e o litgio. H formas de sensi-
bilidade no contadas, percepes do espao e do tempo que so deixadas
de lado por uma operao consensual que estipula o que aprecivel e o
que se legitima na fruio. Um regime policial estabelece hierarquias, es-
tipula temas e espaos destinados experincia. Na poltica, estamos em
outra perspectiva de relao com o sensvel, a da rotura. A ampliao de
possveis na experincia esttica se coloca como prtica poltica na medida
em que faz ver o que no cabia ser visto, faz ouvir o que s era considera-
do rudo, passa a contar o que era sem-parte. (RANCIRE, 1996) Novas
partilhas do sensvel podem ser postas em questo, novas cenas podem
ser inventadas na imagem. Nesse caminho, a poltica no ser um socorro
prestado arte, mas uma modalidade mesma de produzir mundos sens-
veis. a tenso de Rancire com Benjamin, em torno da noo de esteti-
zao da poltica. No faria sentido tratar a relao dos dois campos pelo
caminho de submeter um a outro, pois tanto arte quanto poltica vo se
ocupar dos mesmos problemas da vida em comunidade. Trata-se, em am-
bas, de saber o que se pode fazer com o tempo, como ocupar espaos no
mundo, que possibilidades de olhares podem ser produzidos, que cenas
podem ser criadas, que palavras podem ser consideradas na constituio
do comum.
Se a fotografia expande as prprias possibilidades de produo, mis-
tura procedimentos, opera pontes, liberta-se de compromissos que se
imaginavam necessrios e fundantes, j teramos a um encaminhamento
poltico. Quando a produo de imagens nos tira do lugar de conforto, das
seguranas e das expectativas, pode-se pensar em reconfiguraes de uma
cena partilhada. A operao esttico-poltico estaria no mbito da insubor-
dinao, daquilo que pode instalar querelas e desorganizar o que estava
consensualmente distribudo em funes e lugares fixos. Fernandes J-
nior (2006) destacava esses procedimentos na articulao de outros pro-
cessos na produo fotogrfica, j no mais comprometida com uma re-
presentao fiel da realidade. Diria que todo um regime de verdade que
se coloca em crise, na medida em que no tem mais sentido o problema
274SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
do verdadeiro e do falso (FLUSSER, 2008, p. 40). Deslocou-se, em certa
medida, a referncia poltica de uma fotografia mergulhada em procedi-
mentos documentais, de relao mais ntima com uma ideia de realidade.
j toda a noo de real que se bifurca, para atravessar campos e sofrer
modulaes. No havendo um real dado a ser trazido para a materialidade
imagtica, as possibilidades da fotografia vo ser expandidas, no mbito
da fico, que no se confunde com a mentira nem est posta na pura
dicotomia com o documental.
A fico, retomando Rancire (2005), no proposio de engodos,
mas elaborao de estruturas inteligveis. A revoluo esttica permite uma
nova ficcionalidade, j no mais constituinte de um regime representativo,
que busca especificidades e separaes. Em um regime esttico das artes
e, diria, na fotografia contempornea , a fico precisaria ser recolocada
a partir da noo de fingire, que no significa fingir, mas, primordialmen-
te, forjar. (RANCIRE, 2006) Fico significa usar os meios de arte para
construir um sistema de aes representadas, de formas reunidas, e de
signos internamente coerentes (RANCIRE, 2006, p. 158). A diferena
entre ficcional e documental no estaria no fato do documentrio colocar o
real contra as invenes da fico, apenas que o documentrio, no lugar
de tratar o real como um efeito a ser produzido, trata-o como fato a ser
entendido (2006, p. 158). A operao conceitual de Rancire vai nos levar,
em ltima instncia, a compreender a fico como uma maneira de ser do
documental, posto que ambos se deslocam tambm de enquadramentos r-
gidos, para se misturar. Uma passagem que implica liberdade de produo
e fruio e permite um encontro com o mundo em disponibilidade, para
entend-lo e tambm para invent-lo. Na fico, a modificao da paisagem
sensvel encontraria potncias expressivas e novas possibilidades para alte-
rar os regimes de sensao.
A fico no a criao de um mundo imaginrio oposto ao mundo
real. antes o trabalho que opera dissentimentos, que modifica os
modos de apresentao sensvel e as formas de enunciao, alteran-
do os quadros, as escalas ou os ritmos, construindo relaes novas
entre a aparncia e a realidade, o singular e o comum, o visvel e
sua significao. Este trabalho muda as coordenadas do represent-
vel; altera a nossa percepo dos acontecimentos sensveis, a nossa
maneira de os pr em relao com os sujeitos, o modo segundo o
IMAGENS QUE PENSAM, GESTOS QUE LIBERTAM275
qual o nosso mundo est povoado de acontecimentos e de figuras.
(RANCIRE, 2010, p. 97, grifos do autor)
Os dissentimentos, como coloca Rancire, esto ligados a modificaes
em escalas, ritmos, quadros. A fotografia tem potncias mltiplas, e apostar
nessa proliferao seria uma inflexo poltica. As tendncias pictorialistas,
as encenaes, os hibridismos possibilitados pelo digital, as tenses com
noes mais fixas de real do liberdade ao gesto de fotografar, como forma
de atuar e intervir na apresentao sensvel de mundos. O desafio sempre
como se colocar no mundo, como se relacionar com as tendncias em jogo
e adotar posturas crticas, para que os novos modos de ver no se tornem
o instituinte, o elemento ordenador e policial. Desafio recorrente, trata-se,
sobretudo, de evitar a captura por regimes escpicos constitudos e sistemas
de produo e legitimao que se apressam em enquadrar aquilo que tenta
escapar. A poltica sempre um jogo, tentativa de fazer fugir, traar linhas
que, estando nas bordas, possam perturbar a distribuio sensvel dos lu-
gares e das funes. Em nosso modo de imaginar jaz fundamentalmente
uma condio para nosso modo de fazer poltica. A imaginao poltica,
eis o que precisa ser levado em considerao. (DIDI-HUBERMAN, 2011,
p. 60-61) Talvez a imaginao deixe de ser poltica, quando ela se confor-
ma e se aquieta. E o movimento incontido desencadeado, se a liberdade
continuar como meta constante, se a linha de fuga no deixar de ser traa-
da e se o pensamento no se deixar conter. preciso promover formas de
pensabilidade insubordinadas no gesto de fotografar, na imaginao, nas
imagens que resistem.
PENSAR COM IMAGENS: RESISTIR
A resistncia colocada aqui como um problema efetivamente imagtico.
No se trata de uma modalidade de resistir pela transmisso de mensa-
gens ou de conscientizao quanto a maneiras de estar no mundo. No
se trata de uma relao criada fora da imagem, por processos textuais ou
lingusticos, mas uma preenso do objeto esttico nos corpos, nos ges-
tos, nas posturas. O prprio gesto de fotografar seria um gesto produtor
de pensamento, como modalidade de pensar com imagens, como no diz
276SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
Flusser (1994), gesto de filosofar: desde que se inventou a fotografia,
possvel filosofar no s por meio das palavras, mas tambm por meio
das fotografias (FLUSSER, 1994, p. 104). E esse gesto promove, no corpo
a corpo com o mundo, interferncias e transformaes: A fotografia o
resultado de um olhar para o mundo, e simultaneamente uma mudana
do mundo: algo de tipo novo (1994, p. 105). Estamos a j em processos
de complexidade em que olhar e agir j no so instncias desconecta-
das, mas se comunicam e interpenetram. A imagem lana modos de ver
e cria problemas para o factvel, o dizvel, o sensvel. Olhar o mundo j
transform-lo tambm.
Isso no se d em direo unvoca e estvel. preciso problematizar
as abordagens que pressupem continuidades entre obra e espectador, j
que no h garantias de uma adeso ou de uma concordncia de sentidos
nesse jogo. No estamos mais, com o contemporneo, em um paradigma
da conscientizao, tpico de um regime representativo das artes, nos ter-
mos de Rancire (2010). A imagem instala intervalos e suspenses, no
encaminha certezas e seguranas. Ela se coloca em um estado indetermi-
nado, momento de abertura para que a tenso seja operada. justo no
esmaecimento das certezas e dos projetos preestabelecidos que a poltica
irrompe, antes para desorganizar que para ordenar, antes para movimen-
tar dvidas que para orientar objetivos claros e definidos de um projeto.
Pela noo de pensatividade da imagem, Rancire (2010) busca dis-
cutir a zona de indeterminao que se abre como fenda entre dois tipos de
imagens, a imagem como duplo de uma coisa e a imagem como operao
de uma arte. Nesse lugar do indefinido, somos colocados a pensar, num
movimento, que requer uma sada dos acordos e das convenes, para se
abrir ao que ainda no se pode abarcar nem precisar. Estamos numa zona
de indeterminao entre pensamento e no-pensamento, entre ativida-
de e passividade, mas tambm entre arte e no-arte. (RANCIRE, 2010,
p. 158) Na fotografia, essa ambivalncia seria particularmente potente, sin-
gularmente criada por traos que fazem surgir ns, enlaces que resistem
a uma distino clara do que est em jogo ou do que estaria dado a ver.
Se retomarmos Rancire (1996), veremos que a parcela dos sem-
-parcela, fundante da poltica e do litgio, no se inscreve na comunida-
de, como parte includa, nem deve ser integrada lgica policial. O povo
IMAGENS QUE PENSAM, GESTOS QUE LIBERTAM277
como parte sem-parte justo uma minoria que no vai se subordinar
organizao j dada, mas vai inventar novas cenas, novos modos de estar
junto, para expor o dano da distribuio de lugares e de funes na diviso
do sensvel posta. Com Didi-Huberman (2011), valeria pensar como os
bedunos das fotografias de Shibli
(DEMOS, 2008) seriam povos vaga-
-lumes, que resistem na imagem com uma luz fraca, uma existncia pre-
cria, porm potente de possveis e de desejos de transformao, em uma
fotografia carregada pela fora do extracampo e do que no pode ser com-
pletamente apreendido.
Assim, a fotografia seria poltica, quando pensa as novas cenas que
formas de vida podem instalar na imagem, mais do que pela maneira
como os sujeitos excludos poderiam ser trazidos para uma esfera de po-
der e de legitimidade j configurada previamente. Essa nuana parece sur-
gir j ao final da discusso de Demos, sobre o trabalho de Shibli:
O reconhecer os no-reconhecidos de Shibli significa, ento, o re-
conhecimento primeiro e antes de tudo das lacunas e fissuras den-
tro da imagem, o que implica a resistncia completa inscrio dos
seus sujeitos no porque a fotografia dela reflita o indubitvel
processo real de apagamento social que tem lugar em Israel, mas
antes porque a vida dos bedunos palestinos no pode ser comple-
tamente capturada pela fotografia. a realizao crtica da fotogra-
fia dela sugerir que h algo alm da imagem fotogrfica, algo que
escapa representao. (DEMOS, 2008, p. 137)
Justo no que escapa, justo no que no pode ser completamente abar-
cado: a resistncia da fotografia poderia ser formulada como esses inter-
valos e fissuras dentro da imagem, retomando as expresses de Demos.
Pois na impossibilidade de dar conta de um problema social e no reco-
nhecimento dessa limitao que a imagem se fora a pensar, a se pensar
e a fazer pensar. A fotografia abre, assim, a fissura, cria problemas e per-
turba. Ela no vai retratar uma situao de injustia social e propor aes
ou posturas de um espectador no sentido de uma reorganizao suposta,
mas vai instaurar quebras, sugerir e reconhecer que os povos vaga-lumes
escapam. Deix-los vibrar na imagem, incontidos e inquietos, seria uma
operao esttico-poltica do gesto fotogrfico, como instncia pensante e
proliferante de possibilidades para a vida.
278SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
CONSIDERAES PARA NOVOS COMEOS
Desde o seu nascimento, h mais de cento e setenta anos, a fotografia
tornou-se parte integrante da nossa cultura e difcil imaginar a vida sem
ela. Os diversos campos da cincia e da arte utilizam o processo fotogr-
fico: os artistas como expresso visual; os reprteres para gravar eventos;
os cientistas para reunir dados sobre o universo fsico e um incontvel n-
mero de pessoas a utilizam como representao de momentos memor-
veis, pela fidelidade da representao, seu baixo custo e facilidade de uso.
Este caminho ressalta tpicos vinculados mudana social, ao dinamismo
da vida, s indstrias da iluso, comunicao de massa e semelhantes.
o ponto de partida para temas inseridos na iconosfera ou, segundo ou-
tros, paisagem sociovisual.
A fotografia nunca foi uma prtica unificada, mas um meio bastante
diverso em suas funes. O exerccio do ver da ordem de um risco. A pro-
duo do que se d a ver tambm mergulhada em incertezas que no per-
mitem afirmaes seguras, posturas fixas ou lugares compartimentados. A
fotografia joga com a regio do entre, quando se permite escapar ao con-
trole e a organizaes rgidas, quando sai de esquadrinhamentos que esti-
pulam um modo especfico de produo imagtica, uma postura ordenada
do olhar e do fazer. Ela instala-se numa rea de imponderabilidades, que ,
em sua constituio, o espao da crise e do encontro crtico. Um lugar que,
dentro da discusso aqui desenvolvida, permite liberdade e pensamento,
instncias que surgem como acionadoras de deslocamentos estticos e po-
lticos. Na liberdade, os sujeitos podem caminhar no mltiplo, jogar com
as hierarquias, brincar com o aparelho. No pensamento, a experincia es-
ttica se coloca numa zona de indeterminao, em que no se apreende o
visvel como um conjunto orgnico e entregue a uma interpretao, mas
como uma regio de probabilidades que se enrolam e se interpenetram,
para formar imagens inquietas situadas menos na perspectiva de solues
e adequaes que na perda e na suspenso.
A fotografia e o gesto de fotografar operam entre a esttica e a polti-
ca em momentos de rotura. Na perspectiva que se tentou traar aqui, esses
momentos so da ordem de uma resistncia. Resistir no como forma de
criar dicotomias, opor organizaes sensveis em detrimento de outras, uma
IMAGENS QUE PENSAM, GESTOS QUE LIBERTAM279
modalidade de atuao no mundo contra outra. A resistncia compreen-
dida mais na dimenso de uma fenda ou de uma brecha que se abre, para
desordenar o que est posto. Os sujeitos que resistem no vo simples-
mente tomar um poder, mas vo instaurar novas relaes de espao e de
tempo, outras maneiras mesmas de tornar comum, operaes singulares
e ramificadas, que no se agregam em blocos uniformes, mas so disper-
sas e intermitentes. A imagem que resiste opera no limiar para fazer fugir
e para instaurar dissentimentos, ela insubordinada e inconstante, me-
tamrfica e pensativa. O gesto de fotografar esttico-poltico gesto livre
de pensamento, que transforma o mundo na prpria condio de gesto,
sensibilidade que se acrescenta e se espalha.
A partir das duas maneiras traadas aqui para se instalar no proble-
ma do limiar entre a esttica e a poltica, as multiplicidades s tendem
a aumentar e a gerar bifurcaes, conforme as obras e os artistas forem
mais colocados em questo, e na medida em que as singularidades de
cada fotografia e as instabilidades de cada imagem sejam confrontadas
em anlises futuras. A movimentao terica aqui talvez se amplie e gere
tambm liberdade e pensamento, para desencadear novas possibilidades
de sentir. Como na exigncia demandada por Flusser para a filosofia da fo-
tografia, preciso sempre encontrar o ponto em que o ser humano vence
o aparelho e escapa robotizao da vida. Acrescentaria que cabe s arti-
culaes terico-metodolgicas inventar conceitos e operaes conceituais
que arrisquem no limiar para sair das seguranas e experimentar a tenso.
Talvez haja a um caminho para que as separaes, dentro de novos para-
digmas epistemolgicos, sejam esmaecidas e para que o entre se instaure
como campo em que se proliferam modos de existncia com a imagem e
com o sensvel.
REFERNCIAS
BARTHES, Roland. A cmera clara. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1984.
BELLOUR, Raymond. Entre-imagens. Campinas, So Paulo. Papirus, 1997.
CHANEY, David C. Contemporary Socioscapes. Books on Visual Culture, em: Theory,
Culture & Society (London), v. 17, n. 6, p. 118, 2000.
280SILAS DE PAULA, RICO OLIVEIRA E LEILA LOPES
CRIMP, Douglas. The Photographic Activity of Post-modernism, em: October, New
York, n. 15, p. 91-101, winter, 1980-81.
COMOLLI, Jean-Louis. Machines of the visible In: DE LAURETIS, Tereza;
HEATH,Stephen. The Cinematic Apparatus. Hampshire: Palgrave Macmillan Ltd.
1985.
COSTELLO, Diarmuid.; IVERSEN, Margaret. Photography After Conceptual Art. West
Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2010.
CRARY, Jonathan. Techniques of the observer: on vision and modernity in the 19th
century. Cambridge: MIT Press, 1990.
DE DUVE, Thierry. Kant after Duchamp. Cambridge: The MIT Press, 1997.
DEMOS, T. J. Recognizing the unrecognized: as fotografias de Ahlam Shibli.VAN
GELDER, Hilde.; WESTGEEST, Helen. Photography between poetry and politics: The
critical position of the photographic mdium in contemporary art. Leuven: Leuven
Univ. Press. 2008.
DE PAULA, Silas. Fotografia, album de famlia e regimes escpicos . Boletim do Grupo
de Estudos de Arte & Fotografia, nmero dois, ano 2, 2007. So Paulo: MAC USP.
DIDI-HUBERMAN, Georges. A sobrevivncia dos vaga-lumes. Belo Horizonte: UFMG,
2011.
______. O que vemos, o que nos olha. So Paulo: Ed. 34, 1998.
FERNANDES JUNIOR, Rubens. Processos de criao na fotografia: apontamentos
para o entendimento dos vetores e das variveis da produo fotogrfica, em: Revista
FACOM, Salvador, n. 16, jul.\dez. 2006.
FLUSSER, Vilm. Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da
fotografia. So Paulo: Hucitec, 1985.
______. Los gestos, fenomenologia y comunicacin. Barcelona: Herder, 1994.
______. O universo das imagens tcnicas: elogio da superficialidade. So Paulo, SP:
Annablume, 2008.
HANSEN, Mark. New Philosophy for new media. Mass.: MIT Press, 2004.
JAY, Martin. The Visual Turn. In: Journal of Visual Culture, London, 2002, n.1,
p. 89-102
______. Downcast eyes: the denigration of vision in twentieth-century french thought.
Berkeley: University of California Press, 1994.
KRAUSS, Rosalind E. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths.
Cambridge: The MIT Press, 1986.
LENOIR, Timothy. Foreword.In: HANSEN, Mark. New Philosophy for new media.
Mass.: MIT Press, 2004.
LUNENFELD, Peter (Org). The Digital Dialectic: New Essays on New Media.
MERLEAU-PONTY, Maurice. A Dvida de Czanne. In: ______. Maurice. O olho e o
esprito. So Paulo: Cosac Naify, 2004.
IMAGENS QUE PENSAM, GESTOS QUE LIBERTAM281
MITCHELL, William J. T. What do the Pictures Want. Chicago: The University of
Chicago Press, 2005.
RUSHTON, Richard. Response to Mark B.N. Hansens Affect as Medium, or the
Digital-Facial-Image. Journal of Visual Culture. London 2004, n. 3, p. 353-61.
RANCIRE, Jacques. O espectador emancipado. Lisboa, Orfeu Negro, 2010.
______. The Future of the image. Londres, Verso Books, 2009.
______. Ser que a arte resiste a alguma coisa? In: LINS, Daniel (org.). Nietzsche/
Deleuze: arte e resistncia. Simpsio Internacional de Filosofia. Rio de Janeiro:
Forense Universitria; Fortaleza, CE: Fundao da Cultura, Esporte e Turismo, 2007,
p. 126-140.
______. Film Fables. Londres: Berg, 2006.
______. A partilha do sensvel: esttica e poltica. 2.ed. So Paulo, Ed. 34, 2005.
______. O desentendimento. So Paulo: Ed. 34, 1996.
SOLOMON-GODEAU, Abigail. Photography at the dock: Essays on photographic
history, institutions and practices. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1997.
VAN GELDER, Hilde.;WESTGEEST, Helen. Photography between poetry and politics:
The critical position of the photographic medium in contemporary art. Leuven:
Leuven Univ. Press. 2008.
283
CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
O lugar olhado das coisas
O cinema do russo Serguei Eisenstein e as reflexes da escritora Susan
Sontag, sobre as fotografia de guerra, so o ponto de partida para a diretora
teatral Laura Kiehl Lucci (2012) perseguir a ideia de raccourci como ope-
rador potico na criao artstica. Encontrada em um livro de Jean Dorcy,
Lucci relembra que esta palavra, de origem francesa, significa encurtamen-
to, atalho ou condensao. Dorcy utilizou raccourci para fazer referncia
potica da mmica corporal dramtica de Etienne Decroux. A autora explica
que, diferentemente da pantomima, Decroux criou a mmica contempo-
rnea, a partir de um complexo sistema corporal cuja tcnica permite ao
ator a segmentao detalhada e precisa de diferentes partes do corpo, e
cuja potica construda na sobreposio e relao entre esta segmentao
e suas dinmicas rtmicas.(LUCCI, 2012, p. 14) Este sistema complexo se
aproxima mais da poesia e da escultura que do teatro narrativo. Lucci se di-
rige ao trabalho de Dorcy para demonstrar como a sntese, no espao e no
tempo, no aponta para uma estilstica mutiladora em Decroux, mas revela
uma escolha potica. Distante das imagens literais, o trabalho criativo de
Decroux buscou o metafrico e o potico, formas decorrentes da explora-
o da relao entre os corpos e os espaos.
A potncia da mmica corporal dramtica de Decroux est contida na
fora da metfora, que conduz a ao do corpo do ator, em um espao de
sntese, para a imagem de uma esttua dentro do globo de vidro. A segmen-
tao da ao e da corporeidade recombinadas em fragmentos do tempo
produz o que Lucci chama de uma fala potica no linear. Em seu artigo,
a diretora prope compreender o raccourci como um operador potico, do
284CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
tempo e do espao criativo, nas diversas formas de manifestao artstica.
Seja na condensao efetuada pelo artista plstico, para limitar a imagem
s margens do quadro ou na fixao de um momento presente dentro da
imagem fotogrfica, o movimento de condensao/expanso, como valo-
rizao do instante, acentua os aspectos poticos para os sujeitos da mani-
festao artstica. O cinema de Eisenstein, que por muito tempo dialogou
com o trabalho do ator e diretor teatral Vsevolod Emilevich Meyerhold, en-
controu no raccourci as condies para, a partir de fotogramas sintticos,
criar novos pontos de vista dentro da imagem.
A utilizao desse operador potico, por Eisenstein, Decroux e Meyer-
hold, aborda, como salienta Lucci, uma possvel relao dinmica entre o
espectador e a realizao artstica, seja ela cnica ou cinematogrfica. Ao
propor a ao, o artista necessita colocar-se no lugar daquele que olha, para
melhor oferecer mltiplos ngulos de viso. As escolhas do artista criam
uma matria imaginal, amparada em uma relao tica entre aquilo que
se d a ver e quem percebe o visvel. O raccourci, como operador potico,
possibilita a oferta de imagens sintticas que, ao se condensarem no espa-
o, se abrem para as potncias do visvel, fazendo coabitar na cena o corpo
e o pensamento. Os percursos do pensamento so balizados pelos movi-
mentos escolhidos e a conscincias dos gestos executados pelos corpos
que se do a ver, pelo investimento memorial daquele que percebe, e por
comparao penetra nos campos da imagem; e, finalmente, pelos objetos
que, ao receberem novas significaes, so cobertos por signos imaginais
capazes de oferecerem rastros para o pensamento daqueles que os veem.
Remontando novamente ao argumento de Lucci, a percepo uma for-
ma de pensamento. (LUCCI. 2012, p. 16) A cena que se partilha em vrios
olhares invoca a participao ativa daquele que a percebe; ela ser sinteti-
zada pela experincia de quem olha. Na presena dos corpos daquele que
v e de quem se mostra h o encontro das conscincias. Tal encontro tem
a qualidade de, sem anular a fora de nenhuma das duas, possibilitar um
terceiro nvel de conscincia, capaz de fazer emergir as implicaes ticas
da obra de arte.
A produo de imagens sintticas, em decorrncia do uso do raccour-
ci como operador potico, se alinha a uma urgncia apontada pelo histo-
riador francs Georges Didi-Huberman (2008): criar novas imaginaes
O LUGAR OLHADO DAS COISAS285
para ver as imagens. Porm, preciso relembrar que a imagem sinttica
criada a partir dos usos de rakurs opera de modo oposto ao das imagens
sintticas presentes na rede descrita por Kant, para ilustrar o modo pelo
qual se representam os objetos do saber. Didi-Huberman (2010) comenta
que Kant desenhou uma rede opaca, cuja malha seria tramada por espe-
lhos. O desenho mostra um dispositivo de clausura, que possui a qualida-
de expansvel de uma rede e, ao mesmo tempo, o poder limitador de uma
caixa. Ao propor quebrar a caixa da representao pensada por Kant,
Didi-Huberman estimula a libertao do sujeito do conhecimento deste
lugar onde o saber ocorre simultaneamente sobre o especulativo e o espe-
cular. Encerrado nessa caixa, esse sujeito sempre se chocar contra a pare-
de, contra o reflexo. Os limites dessa caixa reflexiva definem os contornos
daquilo que seria o sujeito cognoscente. preciso romper esse limite, en-
contrar uma falha nessa parede, romper com esta lgica, onde especular
e especulativo concorrem para inventar um objeto do saber como uma
simples imagens do discurso que o pronuncia e que o julga. (DIDI-
-HUBERMAN. 2010, p. 186) Esta imagem sintetiza o objeto do saber no
discurso que o narra. Desta maneira, limita o objeto ao discurso que o
representa. Porm, romper a parede e se libertar da caixa implica em risco
de morte para aquele para o qual o saber constitui toda a vida. A escolha en-
tre permanecer na caixa ou romper a trama desta rede pode ser traduzida
como a eleio entre saber sem ver ou ver sem saber, nos diz o historiador.
Didi-Huberman comenta que essa eleio sempre ser uma escolha
alienante. Aquele que opta somente por saber ganhar a unidade de sn-
tese e a evidncia da razo contida no discurso. Entretanto, ele perder
a amplitude do objeto, a partir do fechamento procedido pelo discurso.
Quer dizer, ao estabelecer uma imagem representativa do objeto, o discur-
so d, a sua maneira, uma nova e limitada existncia ao objeto. Por outro
lado, aquele que decide ver, dirigir a viso a um objeto, perder a unidade
de um mundo, em favor de um universo flutuante, entregar-se- aos sa-
bores dos sentidos. Nesta escolha, a sntese praticamente desaparecer e
o objeto do ver, casualmente tocado por algum fragmento de realidade,
agir sobre o sujeito do saber, afastando-o da razo para coloc-lo diante
do rompimento.
286CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
Ao invocar a palavra rompimento, tal como utilizada por Didi-Huber-
man, nos colocamos frente a um impasse: como utilizar as imagens na
cena? Como nos servir do potencial crtico das imagens e nos afastarmos
do uso fcil de suas possibilidades? Ou ainda, como evitar o risco de, ao
tentarmos romper a caixa da representao, criarmos uma nova sntese
to dura que termine por anular o perceptor, em benefcio de um leitor
capacitado para alcanar e decodificar as nossas imagens?
Considerando alguns elementos que nos parecem pertinentes para
esboar uma resposta, partiremos do ltimo questionamento em direo
ao primeiro. O valioso ensaio de Jacques Rancire sobre a emancipao
do espectador nos ajuda a enfrentar o desafio da questo. Recorrendo aos
pressupostos da emancipao intelectual, Rancire (2010) lana mo da
metfora presente no processo pedaggico, para refletir sobre a emanci-
pao do espectador no teatro: a lacuna existente entre duas inteligncias.
Esta lacuna se traduz na distncia entre a sabedoria e a ignorncia, entre
o mestre e o aluno. O mestre deve sempre levar em conta que o aluno
possui um saber e uma ignorncia. Para fazer avanar, dever do mestre
aceitar que o aluno adquiriu saberes, na vivncia de outras experincias
distintas da pedaggica, e a partir da demonstrar para ele como apren-
der a conhecer o conhecvel. Uma instruo, que se realiza gradualmente,
baseada no reconhecimento da desigualdade. Rancire (2010) esclarece
que a emancipao o reconhecimento da igualdade das inteligncias
em todas as suas manifestaes. No h lacuna entre as inteligncias.
Qualquer indivduo dotado de uma inteligncia que o torna capaz de
elaborar, comparar, inquirir. Esta capacidade reside no modo pelo qual
utilizamos nossas experincias com os signos, para ingressarmos mais
profundamente naquilo que o filsofo chama de a floresta de signos que
nos rodeia. Nossa experincia colateral com o signo nos oferece novas
oportunidades de conhecer, de ensinar, de realizar ou de sonhar. Nesse
sentido, as lacunas propostas pelo uso das imagens na cena devem servir
como receptculo para as sensaes de quem as v, e no como elemento
de distncia entre o visvel e o perceptor.
A remisso ao potencial crtico das imagens nos aproxima de, pelo
menos, duas questes especficas: uma reviso da noo de imagem e
o envolvimento dos corpos nos processos de produo e percepo das
O LUGAR OLHADO DAS COISAS287
imagens. Abrigados novamente sob o arco traado por Didi-Huberman
(2010, p. 187), nos deparamos com a necessidade de romper com a noo
de imagens, como literrias e literais, como reproduo, como algo figu-
rativo. Este rompimento, por ele proposto, quebra com a ideia de imagem
como figura figurada, figura fixada em um objeto representacional, para
ir ao encontro da imagem como figura figurante. Ou seja, uma imagem
dotada de questes, feita de cores e volumes que se abrem para o que pode
se tornar ali visvel. Para abrir a caixa da representao, para abrir os olhos,
Didi-Huberman nos diz que preciso esperar o tempo de maturao do
visvel, esperar o tempo necessrio de transformao do lquido que se
move rapidamente em algo pastoso, possuidor da lentido. preciso res-
peitar o tempo que nos possibilita tocar o valor virtual daquilo que preten-
demos experimentar sob a denominao de visual. Ao trazermos a ideia
de figura figurante para o interior das artes vivas, o vocbulo figurante
adquire um duplo sentido favorvel. Na rubrica teatral, figurante aquele
que ocupa um papel menor ou meramente decorativo na encenao. Ao
chamar para a cena a imagem como figura figurante, procedemos a uma
inverso considervel nas hierarquias dos elementos visveis da encena-
o. As imagens deixam o papel secundrio, de ornamento, para ingressa-
rem de modo mais importante no eixo de significao da encenao. No
se trata de antropomorfizar as imagens, mas de vivificar todos os objetos
que se abrem ao visvel na cena.
Ao questionar a possibilidade de refletir criticamente ou se posicio-
nar politicamente frente a atual situao das imagens, a ensasta chilena
Adriana Valds considera que isto se tornar possvel quando deslocar-
mos as imagens do plano do no diferenciado, do puro conceito mono-
ltico, para o plano dos corpos dos enunciadores e receptores. (ROJO, et
al. 2012, p. 101) Para Valds, a negativa desta possibilidade coloca em risco
a capacidade modificadora da arte e sobrevaloriza o poder colonizador do
imaginrio coletivo, pelo uso de imagens vazias ou puramente figurativas.
A ensasta chama de imagens vazias aquelas apresentadas nos produtos
melodramticos televisuais, na edio dramtica dos noticirios ou nos
programas televisuais sensacionalistas.
Ao invocar o plano dos corpos, como dimenso crtica, colocamos
em dilogo o uso das imagens na cena expandida e o binmio potica/ex-
288CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
perincia. Para Wilhelm Dilthey (2007), a potica deve ser observada sob
a conjuno da experincia e da histria. Esta ltima est fundamentada
na sistematizao da cultura, com o objetivo de alcanar a vida. Tal fato
resultado da possvel criao de um modo para organizar o mundo, que se
traduz como um mundo de cultura. Neste sentido, histria e experincia
so conexes de vivncias. As vivncias so carregadas de afetividades, in-
teligncias e vontade, que Dilthey nominar de funes anmicas. Com
forte carter psicolgico, a vida anmica refere-se a sujeitos psicofsicos,
com determinaes e categorias prprias, forjadas na experincia. As ca-
tegorias da vida anmica so a temporalidade e a conexo. A primeira diz
da relao entre presente e passado, e destes dois tempos com o futuro.
A segunda mira as vivncias, a vida como pertencente a algum, a vida do
objeto no e para o sujeito. Como vida prpria de algum, um, ao obser-
var a vida do outro, o faz a partir do estranhamento. A histria esta vida
estranha conectada pela empatia. A memria transcende as vidas prprias
e oferece a compreenso das vivncias histricas. Como alertou Benedito
Nunes (1999), Dilthey advertiu por vrias vezes que esta compreenso
no a compreenso da vida. O que compreendemos so os significados
sob os quais a vida se expressa, as categorias da vida. Nos termos de Nu-
nes, para o filsofo, expresso valor e este varia de acordo com os valores
e finalidades objetivados pelo homem.
Desta maneira, a cena expandida coloca em conversao o teatral,
o performtico, as tecnologias de produo de imagens, os produtos au-
diovisuais a servio da valorizao da dimenso crtica e relacional entre
os sujeitos do cnico. Como destacou Jos Snchez (2011), este dilogo
responsvel pelo estmulo a estudos dedicados aos novos fenmenos de
comunicao e criao, oriundos da interlocuo entre a ao cnica e as
tecnologias audiovisuais e digitais. Estas interlocues buscam a imprevi-
sibilidade, tm o choque com o real como elemento fundamental da cena,
incorporam o espectador na criao e na ao, buscam, enfim, a realizao
cnica como acontecimento. Os estudos de Erika Fischer-Lichte (1999,
2011) cunham uma noo de cena como acontecimento, a partir de suas
pesquisas e anlises sobre medialidade, materialidade e semioticidade das
realizaes cnicas.
O LUGAR OLHADO DAS COISAS289
A utilizao do termo realizao cnica determinante para se
compreender o que a autora chama de acontecimento. Em alemo, a pala-
vra Auffhrung significa representao, execuo, apresentao, encena-
o. Este sentido da palavra alem problemtico em idiomas de origem
latina, como alertou a traduo espanhola do livro Esttica de lo perfor-
mativo, de Fischer-Lichte. O termo representao bastante ambguo.
Nas lnguas latinas, em um sentido geral, na rubrica teatral, o significado
de representao denota algo simbolizado, dotado de uma capacidade de
produzir reaes emocionais semelhantes a um grupo, a partir de uma
imagem que representa um fato ou modo de interao.
1
Esta forma de
conceber a representao incongruente com a noo de acontecimento
em Fischer-Lichte. A traduo espanhola optou por associar Auffhrung
noo de realizao cnica. Desta forma, afastou-se a carga terica que
possui o termo representao para os estudos das artes vivas e se retirou a
ao cnica da forma teatral sustentada na expresso de um contedo pre-
viamente determinado, geralmente a literatura dramtica. O termo rea-
lizao cnica, ao que parece, preserva o sentido, pretendido pela autora
no texto original, resguardando os aspectos de atividade e transitividade
exigidos para o entendimento da noo de acontecimento. Em concor-
dncia com esta observao, trataremos o produto das artes vivas como
realizao cnica.
A noo de acontecimento em Fischer-Lichte (2011, p. 324) est am-
parada em trs aspectos: em primeiro lugar, h a condio autopoitica
da espiral de retroalimentao, que permite a origem da realizao cni-
ca. Esta retroalimentao se fundamenta no movimento encenao que
alimenta a vida e na vida que alimenta a encenao. A medialidade, em
segundo lugar, o processo de dupla face que permite esta retroalimen-
tao. Nela se encontra a imploso das fronteiras dicotmicas, como por
exemplo: sujeito/objeto, palco/plateia. Esta imploso altera a ideia de co-
municao interna e externa, na cena, para buscar o que chamo de co-
municao performtica. O terceiro lugar ocupado pelas situaes de
1 Sobre a noo de representao e suas implicaes no teatro crtico, cf.: MENDONA,2011.
290CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
liminaridade,
2
experimentadas pelos participantes da realizao cnica e
suas consequentes transformaes. A medialidade expe ou torna visvel
um meio, e a liminaridade, em sua dimenso crtica, coloca em cheque as
formas de sustentao e/ou organizao deste meio. Assim, as condies
de liminaridade ampliam a repercusso do percebido, para alm do espa-
o da realizao, impactando em outros lugares, a partir da mudana de
comportamento dos sujeitos da cena: performers e audincia.
COMUNICAO PERFORMTICA: CORPO E IMAGEM EM CENA
No limite, a comunicao verbal performativa. Esta afirmao poss-
vel, se nos remontarmos teoria dos atos de fala, do filsofo ingls John
Langshaw Austin. De acordo com Austin (1990), todo dizer um fazer,
implica uma ao sobre o interlocutor e sobre o mundo volta de quem
pronuncia o enunciado. Porm, a performatividade destes enunciados
no estar garantida apenas na pronncia dos mesmos. Para a eficcia do
enunciado performativo, preciso que haja um conjunto de condies e
adequaes, por exemplo: a autoridade de quem profere o enunciado, a
adequao ao ambiente, o pacto de concordncia dos envolvidos. A op-
o por nominar a comunicao, presente em algumas realizaes cni-
cas contemporneas, como performtica e no performativa, alinha-se a
uma reivindicao da pesquisadora Diana Taylor (2003). Ao analisar as
repercusses e apropriaes do termo e comparar seu uso, por pensadores
como Jacques Derrida e Judith Butler, Taylor comenta que performativo
operaria menos como um adjetivo da performance e mais como um quali-
ficador do discurso. Em seu artigo, esta observao foi antecedida por uma
exposio sobre a dificuldade para definir performance. A pesquisadora
2 Experincias que irrompem em tempos e espaos liminares podem ser fundantes. Dramas so-
ciais propiciam experincias primrias. Fenmenos suprimidos vm superfcie. Elementos resi-
duais da histria articulam-se ao presente. Abrem-se possibilidades de comunicao com estratos
inferiores, mais fundos e amplos da vida social. Estruturas decompem-se s vezes, com efei-
tos ldicos. O riso faz estremecer as duras superfcies da vida social. Fragmentos distantes uns
dos outros entram em relaes inesperadas e reveladoras, como montagens. Figuras grotescas
manifestam-se em meio a experincias carnavalizantes. No espelho mgico de uma experincia
liminar, a sociedade pode ver-se a si mesma a partir de mltiplos ngulos, experimentando, num
estado de subjuntividade, com as formas alteradas do ser. (DAWSEY. 2005, p. 165)
O LUGAR OLHADO DAS COISAS291
prope o uso do termo espanhol performtico, para denotar a forma
adjetivada do aspecto no discursivo de performance (TAYLOR, 2003,
p. 20). Esta reinvindicao, nos termos de Taylor, encontra importncia na
necessidade de bem demarcar que os campos performticos e visuais so
distintos e se encontram separados da forma discursiva, tal como esta foi
pensada no modelo logocntrico ocidental.
Amparado em alguns aspectos da proposio de Taylor, penso que
uma comunicao performtica ter incio nas sensaes fsicas, percor-
rendo os caminhos da intuio sensvel para posteriormente alcanar a
dimenso cognoscvel do perceptor. Para compreender o circuito que se
estabelece, na comunicao performtica, entre os sujeitos da realizao
cnica, utilizo a noo de perceptor,
3
ao invs de receptor. Esta substituio
tem dois objetivos: um afastamento da noo corrente de receptor, nos es-
quemas clssicos de comunicao informativa, e uma mudana no modo
tradicional pelo qual se concebe o espectador nas artes vivas. O perceptor
aquele que apreende pelos sentidos, pelas sensaes fsicas, pelas opera-
es intuitivas que emergem da experincia. Este modo de comunicao
tem o corpo como o lugar privilegiado de sua ocorrncia. Entretanto, na
cena, outras corporalidades se engajam no circuito para ampliar a comu-
nicao. Ao invocar a noo de comunicao performtica para junto da
noo de cena como acontecimento, acredito que o final da realizao c-
nica no significa o final do jogo com o espectador. A aproximao entre
estas noes aponta para um aumento na durao da expressividade dos
elementos colocados em cena. Ou seja, as potncias existentes nos ele-
mentos expressivos permanecem em atuao sobre o perceptor, mesmo
aps o final da realizao cnica, h uma reverberao esttica, com impli-
caes ticas sobre a vida.
A noo corrente de espectador relaciona-se com a ideia de passivi-
dade, de sujeito observador, aquele que olha ou testemunha, sem efetiva-
mente participar. Em decorrncia disto, a tradicional imobilidade fsica do
espectador, nas artes cnicas, foi associada imobilidade intelectual. Para-
lelamente, a proliferao das imagens na sociedade de consumo implicou
uma desvalorizao do ver, como ato de aprendizagem, tomando-o como
3 O uso do termo perceptor foi inspirado no livro Sentido e percepo, de J. L. Austin (1993).
292CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
ato passivo, inscrito no tempo fugaz da exposio destas imagens. Dentre
os riscos de exacerbar o poder das figuras de consumo est a descrena de
que a histria e a experincia do espectador so capazes de lhe oferecer
dimenses crticas e ou seletivas frente a uma constelao de imagens.
Para desvincular a ideia da observao como um ato puramente pas-
sivo e destitudo de capacidade interpretativa, preciso retornar raiz da
palavra espectador e observar o contexto no qual ela foi forjada. No grego
antigo, theates (espectador) tem origem no vocbulo thea, que significa
viso. Ver e conhecer so aes relacionadas pela cultura grega. O saber
resultado do ato de ver. O olho permite perceber o mundo que rodeia o
sujeito. O mesmo vocbulo deu origem palavra theatron (teatro) e thea-
omai (observar, contemplar).
Substantivo masculino, em latim, a palavra spectatore deriva do ver-
bo spect (olhar para). Para algumas tradies filosficas, viso e intuio
(no latim Intuitum) tm valor equivalente. A etmologia da palavra intuir
remonta ao verbo latino Intueri, no particpio passado, que determina as
aes de olhar para, considerar, avaliar. Ele est formado pelo somatrio
de In para ou sobre e Tueri olhar, vigiar. Intuio implica uma
relao direta com o objeto observado. Raciocnio iniciado no pensamento
de Plotino, no decorrer de sua histria, a filosofia entendeu que na forma
de conhecer prpria da intuio, o objeto est presente sem intermedi-
rios, sem nenhuma interrupo.
A intuio primeira ou intuio sensvel uma comunicao direta
entre o sujeito que observa e o objeto percebido. Este tipo de intuio se
relaciona com objetos que se manifestam aos indivduos pela sensao.
Neste caso, a intuio responsvel pela mediao entre o sujeito e o obje-
to. O espectador v com o corpo e com a mente. Intuio e viso dirigidas
para a inspirao do espectador. No grego, o vocbulo empneusis significa
inspirao e sopro. A palavra provm do verbo empneo, que determina as
aes de respirar, viver, soprar, inspirar. Na forma passiva, empneo signi-
fica ser inspirado, ser animado por um sopro divino.
Por estar relacionada singularidade do objeto, a intuio sensvel
serve pouco aos sistemas filosficos. Entretanto, ao longo dos tempos, v-
rias formas de intuio foram debatidas como um princpio dos processos
do conhecimento. Em A tica a Nicmaco, Livro VI, A virtude intelectual,
O LUGAR OLHADO DAS COISAS293
Aristteles faz referncia ao termo intuio racional como faculdade que
nos ajudaria a apreender as qualidades que nos permitiriam alcanar a
verdade: conhecimento cientfico, prudncia e sabedoria. Este processo
de apreenso guiado pela inteligncia. Como modus operandi da inteli-
gncia, este tipo de intuio diferente da percepo sensorial e favorece
o raciocnio, a compreenso e a comunicao das ideias.
O termo intuio aparece nos escritos do filsofo grego Epicuro. Em
Carta a Herodoto, Epicuro comenta que, para evitar o excesso na formula-
o ou apresentao de nossas ideias, preciso reconhecer o valor das pa-
lavras e das coisas, confrontando-as com as sensaes e com as intuies
do esprito. Como maneira de conhecer e observar, tal confrontao nos
serve para compreender nossos modos de afetao, de percepo do vis-
vel e do oculto. Ao propor uma teoria do conhecimento, Epicuro descreve
um percurso para encontrar um parmetro de verdade capaz de oferecer
condies ao conhecimento cientfico. Na cannica epicurista, a experi-
ncia sensvel a fonte do conhecimento e do saber. Para o filsofo, as
sensaes abrem o caminho para o raciocnio sobre as coisas invisveis.
Influenciado, em certa medida, pela cosmogonia aristotlica e segui-
dor do idealismo platnico, Plotino se servia do termo intuio para refle-
tir sobre a relao direta entre o divino e o objeto de sua criao. Como
parte do intelecto divino, a intuio para ele uma forma de conhecimen-
to superior. O Uno, concebido por Plotino, o princpio de toda a criao,
o ser em si, fonte que, por irradiao sucessiva, propicia a existncia do
todo. O filsofo entende o Nous, atividade do intelecto, como espelho do
Uno. A intuio pertence ao divino que, por emanao, gera a atividade
racional e intelectiva.
Durante a Idade Mdia, o pensamento filosfico manteve, na maioria
das vezes, esta associao entre a intuio e o divino. No nascimento da cin-
cia moderna, o empirismo de Francis Bacon afirmou o conhecimento intuiti-
vo como anlogo experincia. Sob as condies reflexivas da cincia moder-
na, a experincia contm em si uma condio de repetio, que possibilitaria
o estabelecimento de sistemas de verificao e comprovao. Nesse sentido,
a experincia impessoal. Em outras palavras, isto que dizer que o fato do
resultado da verificao ter sido aceito por um grupo no significa que todos
os membros do grupo tenham vivido pessoalmente tal experincia.
294CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
O aspecto divino, a forte dimenso emprica e a remisso essncia
singular do objeto so, dentre outras, caractersticas que marcaram a cr-
tica ao uso da intuio no pensamento filosfico. Porm, a apropriao do
termo, por alguns filsofos dos sculos XIX e XX, interessam diretamente
ao argumento desta investigao: o ato de ver, intuir e conhecer executado
pelo espectador.
Wilhelm Dilthey (2010) concebeu a intuio como volitiva. Para ele,
a existncia das coisas por ns percebida via um carter de vontade. Este
carter antecede em ns o pensamento, a razo. Como seres desejantes,
encontramos regularmente impedimentos e resistncias que se opem a
nossa vontade. Quando ganham forma, estes impedimentos so coisas,
percebidas por ns intuitivamente. A luta de foras entre vontade e resis-
tncia oferta para as coisas a existncia. Em outras palavras, nos termos
da filosofia de Dilthey, a existncia das coisas por ns percebida atravs
da intuio volitiva.
Para Henri Bergson (1986), o objeto da intuio aquilo que corre
sem obstculos, que est em movimento. Somente a intuio capaz de
assimilar a durao. A intuio no decompe, no se fixa ou analisa como
o faz a inteligncia. A intuio um ver singelo. A doutrina da intuio,
em Bergson, foi considerada sua grande contribuio para o pensamento
esttico. Ainda que no tenha dedicado um estudo exclusivo ao tema, para
expor a durao real, o filsofo utilizou como ilustrao a experincia
esttica frente ao objeto artstico. A vivncia em profundidade propiciada
pela experincia com a arte retira os indivduos das rgidas divises in-
telectivas e o aproxima da fluidez e do movimento ininterrupto que no
objetiva nenhum fim prtico. No pensamento de Bergson (1986, 1999),
a durao no mensurvel como o tempo repartido ou se aproxima do
dado temporal cientfico. Por isso, na experincia esttica que o sujeito
capta o instante eterno da durao.
Benedetto Croce definia a esttica como a cincia da intuio sensvel.
Croce (1997), tal como em vrias outras matrizes filosficas, entende que
na intuio est contida a existncia permanente do objeto. Na arte, o obje-
to fsico est limitado funo de estimular a produo ou reproduo da
intuio. Sobre ele se dedica a tcnica, que ser a responsvel pela comu-
nicao da intuio, e no pela expresso. A expresso tem uma qualidade
O LUGAR OLHADO DAS COISAS295
subjetiva. Relacionada com a experincia esttica, a expresso revela um
conhecimento sensvel apreendido a partir do observado. Sob este ponto
de vista, est atribuda comunicao um valor operacional atravs do
qual se alcanar o universal prprio forma. Na concepo de Croce
(1986, p. 280-281), a forma est para o ato esttico e o contedo oferece o
passo inicial no caminho do ato expressivo. Em seu pensamento, no se
desvincula intuio esttica e expresso to logo h a intuio, surge a
expresso. No h qualidade na intuio, quando esta se nega expresso.
Nesta medida, a intuio sempre atividade, pois somente se realizar
no movimento expressivo, e se diferencia da sensao, que, para Croce,
da ordem do mecnico, do natural. Em princpio, no haveria distino
entre a intuio do artista e do no artista. Esta distino uma questo
emprica e quantitativa.
Dentre as proposies de Croce (1986), dois pontos interessam, es-
pecialmente, ao argumento aqui proposto. O primeiro deles refere-se aos
aspectos de descoberta, de experimentao, de qualidade inicial para uma
percepo, tpicos da intuio sensorial. Este modo de intuio tem uma
conexo com o corpo, deriva de seus sentidos, acionado pelo olhar. Ver
uma dentre as muitas maneiras disponveis para o espectador conhe-
cer. O teatro, como arte da representao, indissocivel da imagem. No
espao do acontecimento teatral, os objetos e os corpos so elementos c-
nicos que enviam imagens aos sentidos do espectador. A cena uma ir-
radiao de imagens que atravessam a solidez do corpo para estimular as
sensaes. Estas imagens no so apenas visuais, mas tambm sonoras,
olfativas. Percebida pelos sentidos que se abrem (BERGSON, 1999), elas
se encaminharo para a mente, em busca da movente e veloz memria.
Desde suas manifestaes mais primitivas at as produes mais contem-
porneas, o teatro mantm, como trao caracterstico, o desejo humano
de representar sua expresso. A representao teatral a criao de uma
imagem a partir de uma ideia, imagem que oferece ao espectador a cons-
cincia de um objeto ausente, a partir de novas significaes aplicadas a
outros objetos presentes.
O segundo ponto refere-se tcnica como modo de comunicao.
Neste modo, ela pode ser chamada de tcnica simblica que, marcadamen-
te esttica, se distingue das demais pelo uso de signos. Em seu sentido de
296CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
coexistncia, a comunicao ativar o carter potico da tcnica. Assim,
a tcnica, sem abandonar sua condio inicial de conjuntos de procedi-
mentos para a execuo de algo, passar a ser uma modeladora da forma
encenao. Esta forma, por sua vez, oferece contornos estticos e revela a
essncia da criao cnica. A essncia da criao no est reduzida a uma
cpia das coisas. Como representao de uma ideia, ela poder acentuar
aspectos do objeto, oferecer-lhe novos desenhos, torn-lo reconhecvel por
algo aparentemente escondido. A partir da combinao de procedimen-
tos comunicativos prprios, na forma arte, a criao capaz de enlaar o
espectador. O enlace estar determinado pelas condies contextuais que
envolvem o espectador e a produo da obra.
Para compreender os modos de organizao dos componentes do
circuito comunicativo na cena expandida, acredito que preciso realizar
o cotejo entre dois princpios, dentre os muitos que tipificam as realiza-
es cnicas contemporneas: a noo de ps-dramtico e o conceito de
teatro performativo. Para este fim, valorizamos os aspectos de experin-
cia partilhada, presentes nas encenaes ps-dramticas, bem como sua
interface com os elementos constitutivos da performance. Como alertou
Hans-Thies Lehmann (2007), o teatro que se pretende ps-dramtico
deve substituir a representao por uma experincia do real (tempo, es-
pao, corpo) que objetiva ser imediata. Esta imediaticidade da experincia
compartilhada entre artista e espectador possvel na incorporao, por
exemplo, dos elementos da performance, dos meios de comunicao e
audiovisuais. No limite da juno entre o teatro e a performance, encon-
tram-se o teatro como acontecimento e os gestos autorrepresentativos do
artista performtico. Josette Fral (2008) observa que a conjurao entre
performance, teatro e dana, empreende um conjunto de modificaes
no produto cnico, tais como: a invocao e o uso das qualidades do per-
former presentes no ator; a produo e o incremento das imagens, como
forma narrativa, em detrimento do texto; a invocao da recepo do es-
pectador, como observador criador; bem como o privilgio da apresenta-
o da cena, como acontecimento, e no mais o investimento no carter
formal da representao.
Amparo a compreenso de cena expandida no debate proposto por
Snchez (2011) e Lepecki (2011), para fundamentar a noo de dramaturgia
O LUGAR OLHADO DAS COISAS297
expandida. Alm de romper com limites histricos, tais como a separao
palco/plateia e as lgicas comunicacionais transmissivas, esta forma tea-
tral dialoga com as mais diversas maneiras de tratamento do signo teatral,
e busca a vida ordinria para encontrar sua materialidade dramatrgica.
Como relembram Schechner (2012), Snchez (2011) e Finter (2003), a
sada do teatro para a rua ou a vinda da rua para o teatro marcou uma mu-
dana considervel no teatro do sculo XX. Para alm da atuao dos artis-
tas alemes, na virada do sculo XIX para o XX, Antonin Artaud, Bertold
Brecht e Gertrude Stein, a partir de cenas da rua, trazem a vida real para
a cena, na primeira metade do sculo XX. Desde os anos de 1960, este tra-
balho foi continuado pela performance art. Como sublinha Snchez (2011,
p. 21), a ida do teatro para a rua foi concomitante ao desenvolvimento de
teorias sociolgicas e antropolgicas, que tomavam o social como espao
teatral. Ao final dos anos de 1950, Erving Goffman (2006) recorria ao
termo atuao para analisar o comportamento social dos indivduos. Para
Goffman, os indivduos atuavam nos espaos sob dramaturgias predefi-
nidas. No campo da antropologia, Victor Turner investia na compreenso
dos dramas sociais, buscando, na origem grega da palavra drama, os sub-
sdios para analisar a atuao cultural. Snchez considera que h um
movimento de atualizao entre as propostas de Goffman, Tuner, Brecht
e Artaud. Desse modo de produzir a arte e entender a vida social derivou
uma srie de formas teatrais: teatro de interveno, teatro de situao,
teatro poltico, teatro de resistncia, dentre muitas outras. A dramaturgia
expandida apresenta-se como uma mediadora entre a ao cnica e o es-
pectador. Na cena expandida, o jogo da realizao cnica promove, regu-
larmente, a troca de papis entre seus jogadores. No o fim da hierarquia
entre quem performa e quem v, mas, uma troca permanente entre os
limites do sujeito que observa e o objeto observado.
Roland Barthes (1990, p. 85) define o teatro como uma atividade que
calcula o lugar olhado das coisas. Se nos abrigarmos sob esta definio,
podemos pensar o teatro expandido como uma atividade que conecta os
corpos atravs de uma ligao imaginal. Historicamente, o encontro com
a linguagem moldou o corpo. Distante de ser um ente fechado ou totali-
zado em si mesmo, o corpo resguardou-se sob a veste dos smbolos. Pro-
gressivamente, com a sofisticao dos modos de agregao, os fenmenos
298CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
estticos e imagticos tornaram-se constituintes do social. Por sua vez,
estes fenmenos eram irrigados por formas banais, movimentos desin-
teressados, pelo gesto andino e no apenas por grandes movimentos
estruturantes. Nascia o homem forjado no esttico, que distribua e en-
frentava, ao mesmo tempo, imagens, com o objetivo de controlar outros
corpos e colonizar o imaginrio. Na busca pela vida gregria, os sujeitos
desenvolveram uma ertica dos corpos que fundamentou um modo para
estar junto. A encenao desta ertica tinha por base a repetida ao ritu-
alizada e teatralizada. O ritual teatralizado assegura a transferncia imagi-
nal, necessria manuteno do lao social. Nesta feita, a pregnncia das
imagens tinha um duplo papel: o de estabilidade de uma percepo e o de
condio de inventividade da conscincia. A linguagem comeava a apre-
sentar-se como um manto imaginal para acolher e amparar a existncia.
Os rituais se tornaram presentes em todos os momentos da histria
da humanidade. Formas expressivas tais como as procisses, os cortejos,
os festejos populares, as irrupes contra o poder institudo, os julgamen-
tos pblicos, as danas e as diversas teatralidades foram desenvolvidas
com a funo de reafirmarem ou negarem o modo pelo qual se via a vida
em sociedade. Estas performances ticas e estticas garantem uma mo-
bilidade social e uma mutabilidade corporal. H entre a experincia e a
performance um movimento de alternncia entre formar e ser formada
uma pela outra. Ao privilegiar o corpo como stio para sua ocorrncia, a
comunicao performtica no abandona ou mesmo diminui o valor e a
presena da linguagem. Na verdade, ela investe na complexa trama exis-
tente entre o corpo e a linguagem neste tipo de comunicao.
UMA FOTO, UM CINEMA E AO MENOS DUAS CARAS
O raciocnio a operao da linguagem, mas a pantomima a operao
do corpo [...] O corpo oculta, encerra uma linguagem escondida; a
linguagem forma um corpo glorioso. A mais abstrata das argumentaes
uma mmica, mas a pantomima dos corpos um encadeamento de
silogismos. No se sabe mais se a pantomima que raciocina ou o
raciocnio que faz mmica. (DELEUZE. 1974, p. 289)
O LUGAR OLHADO DAS COISAS299
Em uma palestra, no evento Cenas transversais: arte em trnsito, organi-
zado pelo Curso de Direo Teatral da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), no ms de novembro de 2012, a artista paraense Berna Rea-
le apresentou uma imagem, dentre outras, chamada A morte. A criao
de suas performances fotogrficas perpassada pelo tema da violncia. Ao
descrever o processo criativo em A morte, Berna narrou a dificuldade para
encontrar o corpo da personagem que sustenta a imagem: uma porta-
-bandeira. Vestir-se com uma roupa de lantejoulas pretas, modelada como
o traje da porta-bandeira, no foi suficiente para transform-la nesse outro
imaginado. Contornar o corpo com coroas morturias dava dramaticidade
cena, porm no alcanava a ironia pretendida. Aps inmeras tentati-
vas, a questo foi solucionada pela dica de algum absolutamente externo
ao processo. O problema era a posio da mo na imagem. A artista no
havia encontrado o gesto do porta-bandeira. Faltava na imagem a posio
da mo que teatralizaria o corpo. A roupa e a posio do corpo concorrem
para constituir a dimenso social do gesto. Nos termos de Barthes (1990,
p. 16-17), a pose do modelo na foto determina a conotao, as atitudes este-
reotipadas cristalizam a significao e conferem o carter significante para
a fotografia. A sntese operada pela mo intensificou a imagem, potencia-
lizou sua ao. O detalhamento do gesto estendeu o tempo e o espao da
imagem. Os objetos da cena, flores de plstico e coroas morturias, so
indutores disjuntivos para a significao da imagem. No executam mais
suas funes de origem, mas seus significados servem para a associao
de ideias pretendida pela artista. Esta valorizao resultante da combina-
o espao condensado/tempo expandido gera o que Lucci (2012) deter-
minou como a verticalizao da experincia esttica no instante presente.
Surgida do dilogo entre o cinema ao vivo (VJ-ing) e a dana contem-
pornea, Justo uma imagem uma obra-ensaio feita pela bailarina Denise
Stutz e pelo artista visual Felipe Ribeiro. Nesta realizao, os movimentos
sugeridos nas projees e no corpo que dana invocam no espectador ima-
gens memoriais, fantasiosas ou clichs. No palco, h o jogo entre a cena e
a cidade, entre a dramaturgia e o documental. A qualificao obra-ensaio
pensada a partir da relao que os criadores possuem com suas prticas
artsticas, bem como o movimento de eterna reviso efetuado pelo escul-
tor espanhol Selarn sobre sua obra. O testemunho do escultor est em
300CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
cena, como um relato audiovisual, sua fala e a imagem de seus mosaicos.
H mais de 20 anos, o artista remodela a escadaria da Lapa, bairro da ci-
dade do Rio de Janeiro. Agir sobre o mesmo espao, no limite do espao,
para ampliar o espao, elemento comum na escultura e na performance.
Imagens e corpos colocados, sob os protocolos do olhar do perceptor, in-
vestigados. Inspirado pelo frase de Godard no uma imagem justa, mas
justo uma imagem, a performance integra o corpo que dana, a imagem,
a palavra, a cidade, o olhar do espectador e a mo do diretor que monta
ao vivo.
Figura 1
O LUGAR OLHADO DAS COISAS301
Figura 2
Al menos dos caras pea de dana da companhia Projects in Movi-
ment, dirigida e coreografada por Sharon Fridman, um israelense radica-
do em Madrid. Ao final da descrio da encenao, no stio web do grupo
de dana, h a seguinte frase: Um acontecimento tem tantas caras como
espectadores, qual seu ponto de vista? O fechamento arquitetnico da
caixa cnica no capaz de reter o desdobramento espacial da pea. Uma
caixa e trs corpos ganham uma organicidade capaz de estender o espao
e o tempo. A luz e o som contornam e do volume para esta extenso. Os
pontos de apoio e sustentao fsica entre os bailarinos so transformados
em conexo, em imagens refletidas e repetidas que criam novos corpos,
novos rostos. A virtualidade do espao constitui um dos princpios criati-
vos da obra feita para dois bailarinos e um ator. Esta virtualidade contm
uma mobilidade potente o bastante para no permitir que a sensao do
espectador repouse em um nico ambiente.
Essas trs breves descries comentam como organismos e ambientes
se fundem em uma rostidade cnica. Como lemos em Deleuze e Guatarri
(1996), a rostidade no concerne a um rosto. Os corpos nessas performan-
ces se deslocam sobre os eixos da significncia e da subjetivao: porta-ban-
302CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
deira muro branco para refletir o signo, o movimento coreogrfico buraco
negro, que hospeda, na ampliao e contrao dos corpos, a subjetivao.
Um rosto, no individual, resultado do encontro, do choque, do desmante-
lamento de estruturas ordenadoras. Mquina de realidades e fantasias, es-
tas performances comunicam por rudos, por sobras, por borres. Quantas
caras tm este rosto? A quantidade correspondente aos buracos escavados
na imagem para alojar a subjetividade. No so imagens claras de uma
subjetividade conformada ou dominante, so impresses, sensaes que
abrem caminhos para uma intuio sobre o esboado.
A imagem nessas realizaes mesclam pouco a pouco as matrias
orgnicas e inorgnicas e as transformam em regimes de visibilidade e
invisibilidade simultaneamente. Os corpos de quem performa e de quem
v se aproximam e se distanciam sem se separar, movimentam-se ma-
neira das linhas de subjetivao. Performance em devir, os corpos, em A
morte, Justo uma imagem e Al menos dos caras, so formados por linhas
variveis, cambiveis, fraturadas, que negociam com cada espectador sua
formao. Tais linhas no so feitas do universal, do todo verdadeiro e
uno. So linhas que reivindicam a pluralidade para existir, que se buscam
no descentramento das formas prontas de subjetivao. Deste modo, es-
tes so corpos do dissenso. No haver neles nenhuma onipresena co-
municativa. Sua maneira de comunicar se multiplica medida que os
espectadores se abrem aos seus critrios estticos, enfim, as formas de
vida neles contidas. Diferentemente de uma representao que vai ao en-
contro do tempo para reafirmar o que somos, o movimento destes corpos
nos convoca a nos vermos em devir, em nossa possibilidade de vir a ser.
No se trata simplesmente de corpos que imitam a vida em uma rea de
representao, so corpos dispositivos em performance.
Isabel de Navern (2010, p. 94) chama de corpo dispositivo os corpos
que transformam as relaes antecipadas ou previstas entre os sujeitos e os
objetos. Como veculos que transportam o olhar do espectador, estes corpos
se abrem a uma transformao geradora de novos tempos e espaos. Para
a pesquisadora, os corpos dispositivos possuem mais que uma materiali-
dade orgnica, eles so feitos das matrias de outras fisicalidades, como a
luz, a msica, os sons ou os objetos cnicos. Tendo como ponto de partida
a noo de Navern, buscamos compreender a constituio destes corpos
O LUGAR OLHADO DAS COISAS303
maneira como Deleuze (1990) observou o princpio dos dispositivos, na
filosofia de Michel Foucault: um composto multilinear que no acolhe sis-
temas homogneos. Tomaremos os corpos dispositivos como compostos
em desequilbrio, feitos de linhas de diversas naturezas que seguem para
sentidos distintos. Desta maneira, estes corpos no so ou esto definidos.
Eles existem em relao e constituem-se na crise, pelo corte, no choque.
Na maquinaria da encenao, os corpos dispositivos sero o que Foucault
chamaria de mquinas de fazer ver, ouvir e falar. Entretanto, no se usam
palavras claras para ouvir ou falar. Tampouco sero ofertadas imagens de-
finidas para o ver. Tudo o que o corpo dispositivo movimenta so linhas,
de sonoridades, de luz, de movimentos. Guia do olhar, o corpo dispositivo
forma imagens possveis, ao colocar em choque suas linhas de subjetivao
com as do espectador. Ele ser um vetor, entre os espectadores e a cena, ou
entre o olhar e a existncia estetizada das imagens em cena.
REFERNCIAS
AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer fazer. So Paulo: Artmed,1990.
BARTHES, Roland. Escrito sobre teatro. So Paulo: Martins Fontes, 2007.
BARTHES, Roland. O bvio e o obtuso. Ensaios crticos III. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1990.
BERGSON, Henri. Diccionario de filsofos Centro de Estudios Filosoficos de Gallarte.
Madrid: Ediciones Rioduero. 1986.
BERGSON, Henri. Matria e memria: ensaio sobre a relao do corpo com o esprito.
2 ed. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
CARLSON, Marvin. Performance. Uma introduo crtica. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2009.
CROCE, Benedetto. Diccionario de filosofos Centro de Estudios Filosoficos de
Gallarte. Madrid: Ediciones Rioduero. 1986.
CROCE, Benedetto. Esttica. Editorial Libreria Agora, S.A. 1997.
DAWSEY, John. C. Victor Turner e antropologia da experincia. Revista Cadernos de
Campo, So Paulo, n. 13, p. 163-176, 2005.
DELEUZE, Gilles. Diferena e repetio. Lisboa: Relgio Dagua, 2000.
DELEUZE, Gilles. Sobre o teatro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2010.
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Flix. Mil Plats. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.
304CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
DEWEY, John. Experincia e natureza; Lgica: a teoria da investigao; A arte como
experincia; Vida e educao; Teoria da moral / Jhon Dewwy. So Paulo: Abril Cultural,
1980.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante la imagem. Pregunta formulada a los fines de una
historia del arte. Murcia: Cendeac, 2010.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Cuando las imgenes toman posicin. Madrid: Antonio
Machado Livros, 2008.
DILTHEY, Wilhelm. Potica. Buenos Aires: Editorial Lozada, 2007.
DILTHEY, Wilhelm. Introduo s cincias humanas. So Paulo: Editora Forense
Universitria, 2010.
FRAL, Josette. Por uma potica da performatividade: o teatro performativo. Sala Preta,
2008.
FINTER, Helga. A teatralidade e o teatro. Espetculo do real ou realidade do
espetculo? Notas sobre a teatralidade e o teatro recente na Alemanha. 2003.
Disponvel em: <www.itaucultural.org.br/proximoato/pdfs/teatro%20coletivo%20
e%20teatro%20politico/helga_finter.pdf>. Acesso em: set. de 2011.
FISCHER-LICHTE, Erika. Esttica de lo performativo. Madrid: Abada Editores, 2011.
FISCHER-LICHTE, Erika. Semitica del teatro. Madrid: Arco/Libros, 1999.
Goffman, Erving. A representao do eu na vida cotidiana. So Paulo: Editora Vozes, 2006.
LEHMANN, Hans-Thies. Teatro ps-dramtico. So Paulo: Cosac Naify, 2007.
LUCCI, Laura Kiehl. Raccourci: a construo condensada de um ponto de vista.
In: aParte XXI. Revista do Teatro da Universidade de So Paulo. So Paulo, n. 5, p. 13-17,
jan./jun. 2012.
NAVERN, Isabel. Pase de diapositivas. In: NOGUERO, Joaquim. El espctador active.
Mov-s. Madrid: 2010.
MENDONA, C.M.C. Um espectador ordinrio entre a crtica e a representao. Aletria.
Revista de Estudos de Literatura. Belo Horizonte, v. 21, n. 1, p. 37-51, jan./abr., 2011.
NUNES, Benedito. Hermenutica e poesia: o pensamento potico. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 1999.
RANCIRE, Jacques. El espectador emancipado. Castelln: Ellago Ediciones, 2010.
RANCIRE, Jacques. A partilha do sensvel. So Paulo: Editora 34, 2009.
ROJO,Grnor, ROJO Sara e RAVETTI, Graciela. Por uma crtica da literatura: trs
perspectivas latino-americana. Belo Horizonte: Nandyala, 2012.
SNCHEZ, Jos A. Dramaturgia en el campo expandido. In: BELLISCO E. at al.
Repensar la dramartugia. Errancia y transformacin. Murcia: Centro Cendeac, 2011.
SCHECHNER, Richard. O Ritual. In: LIGIRO, Z. Performande e antropologia de
Richard Schechner. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012.
TAYLOR, Diana. Hacia una definicin de performance. O percevejo. Revista de Teatro,
crtica e esttica. ano 11, n. 12. 2003.
305
PABLO GONALO MARTINS
Olhar entre semibreves
Escrita e silncio em Samuel Beckett e Peter Handke
A histria das mdias pticas uma narrativa de formas de desapario
(KITLER, 2010, p. 39). As tcnicas e os discursos de visibilidade destacam-
-se, nesse processo, justamente por inventarem gestos de dissoluo e
potencializao de alguns ndices do visvel. nessa lida entre imagens
visveis e imagens ou conceitos ocultos que as estticas do silncio nos in-
teressam de forma peculiar; ou seja, h, na subtrao da palavra, uma ma-
neira de contar e narrar por imagens que tende a se diferenciar dos forma-
tos hegemnicos dos discursos e das tcnicas de observao num contexto
de sociedade do espetculo. Sutilmente, o silncio no deixa opaco nem
transparente o que revele e o que esconda. Os regimes de visualidade,
assim, dialogariam, de maneira tcita e ntima, com caractersticas drama-
trgicas definidas e historicamente circunscritas. Juntamente nos padres
visuais e tecnolgicos, percebem-se, no apenas convenes sobre o olhar
que se dirige cena, mas tambm formas narrativas e dramticas que
conduzem, orientam e codificam o olhar do espectador. este encontro
entre a dramaturgia e sua lida com a imagem que pretendemos salientar.
As palavras no papel, portanto, nos guiaro por estas linhas. Pala-
vras feitas para a cena, escritas para uma futura materialidade: nos atores,
no palco, nas telas, nas paisagens, nas ruas, nas cidades. Percorreremos,
assim, um roteiro de Samuel Beckett e uma pea de Peter Handke. Em
comum, o silncio. O que lemos, e o que vemos, em A hora que no sa-
bamos nada um do outro, de Handke, e em Film, de Beckett, so palavras
mudas, aes silenciosas. Escritas, mas no para declamaes. So peas
306PABLO GONALO MARTINS
sem dilogos, sem falas. Palavras e verbos que no ecoam para os ouvidos.
Descries minuciosas que buscam narrar algo, mnimo que seja, mas
algo para os olhos.
claro que a realizao dramtica de uma esttica pautada no si-
lncio talvez seja por demais rarefeita. No entanto, ela pode revelar uma
dinmica importante entre o texto e a cena, a palavra e a performance;
uma interao peculiar entre o dramaturgo, o encenador e o ator. Pausas,
silncios, e outras semibreves cnicas coabitam tanto a escrita para o te-
atro, a dramaturgia, como a escrita para o cinema, os roteiros. Haveria,
nesse recorte, uma forma de pensar uma aproximao tcita entre o teatro
e o cinema, no apenas por meio das semelhantes formas de codificao
da escrita para a performance, mas tambm permeando as migraes es-
tticas de mtuo imbricamento entre padres dramatrgicos, literrios
e cinematogrficos. (FIGUEIREDO, 2010) Nesse caminho, realizaramos
uma equao entre o dramaturgo e o roteirista. Sim, pois ambos trazem,
ora ao palco, ora tela, diversas elaboraes narrativas, tais como atos,
cenas, personagens, conflitos e viradas dramticas. Paralelamente, com-
partilhar-se-iam padres implcitos de narrar pelo tempo, pelo espao, e
de transmitir, pelo texto, uma potncia, latente, de mise en scne.
1
dessa forma que olharemos para as peas de Beckett e Handke,
como obras dramatrgicas que, pela forma textual, nos revelem sintomas
de uma estrutura de sentimento
2
que compreendemos em sedimentao
nos anos de 1970 e que, de forma difusa e persistente, talvez ainda emane
em algumas realizaes cinematogrficas contemporneas. Evoca-se aqui
o conceito do teatro ps-dramtico, na acepo formulada por Hans-Thies
Lehmann, segundo o qual haveria o ressurgimento de uma forma de dra-
maturgia no mais baseada no enredo nem nas formulaes teatrais mo-
dernas. (LEHMAN, 2007)
1 Pode-se, por exemplo, encontrar padres visuais de mise en scne nos romances realistas france-
ses do sculo XIX, padres, inclusive, prximos daqueles sedimentando no cinema clssico. Ver
PAECH, 1997.
2 Seguimos aqui o conceito de estrutura de sentimento de Raymond Williams, que representa a
estrutura formal escrita, bem como a estrutura da trama posta em cena. O conito e a soluo no
so uma histria ou uma narrativa de coisas passadas: ao contrrio, eles esto sempre presentes,
em palavras e movimento. (WILLIAMS, 2010, p. 61)
OLHAR ENTRE SEMIBREVES307
justamente essa forma do olhar do espectador que nos interessa
perceber. Ou, por outro ngulo, as formas de escrita no teatro e no ci-
nema que interagem com uma estrutura de sentimento dessa forma de
assistir de cunho ps-dramtico. No por acaso escolhemos obras drama-
trgicas que se consolidam a partir de uma relao direta e fenomenolgi-
ca com a imagem. Ao escreverem peas sem falas, Beckett e Handke cons-
troem imagens, afetos e encadeiam sensaes de uma forma mais prxima
ao cinema mudo do que propriamente tradio do teatro. nesse sentido
que a simples ausncia de dilogos nos possibilita perceber, tanto um gesto
intermdiatico, quanto uma sutil dissoluo de um dos pilares da represen-
tao teatral clssica e moderna.
A dimenso do no-saber na percepo teatral cada figura um
orculo constri sua virtualidade constitutiva. Para o olhar tea-
tral, o corpo sobre o palco se converte em uma imagem [...]. Em
uma suposio radical, como destaca Bernhard Waldenfels, ele
postula a possibilidade de um estabelecimento da realidade na
prpria viso e fala de imagem no sentido emptico, como a opor-
tunidade pela qual se d uma que conduzida ao invisvel. (LEH-
MAN, 2007, p. 399-400)
Como escritores que compem dramaturgias a partir da imagem
e dentro de um contexto hipermiditico, Beckett e Handke tambm en-
gendram uma aproximao peculiar entre a escrita e o espao, sugerindo
trnsitos entre o teatro e o cinema. Seriam projetos que inauguram uma
dramaturgia, cuja escrita pautada por certo sentido emptico da ima-
gem e do espao. Trata-se, portanto, de uma via de mo dupla. De um
lado, essas peas costuram imagens minuciosas e privilegiam descries
frente a falas e dilogos; aproximam-se, assim, mais de uma linguagem
de roteiro cinematogrfico. Por outro lado, o teatro ps-dramtico ensaia
e inscreve realidades, a partir de imagens, gesto esse, que parece, pouco
a pouco, migrar para certas prticas cinematogrficas contemporneas.
Por meio do silncio, portanto, propomos possveis cartografias dra-
matrgicas que nos oferecem imagens de resistncia, formas mais depu-
radas de representao. Por isso tambm buscaremos enaltecer as sutile-
zas e nuanas entre formas distintas de composies estticas a partir do
308PABLO GONALO MARTINS
silncio formas, contudo, que propem um contraponto interessante
frente a verborragia imagtica hoje hegemnica.
O FILM DE BECKETT
Figura 1 Samuel Beckett.
no mnimo curioso que o famoso Film de Samuel Beckett (Figura 1) no
tenha sido dirigido pelo escritor, dramaturgo e poeta irlands. Realizada
em 1965, a obra foi realmente posta em cena por Jean Genet e Alan Sch-
neider, nomes que sempre ficam relegados a um segundo plano nesse
filme, em relao, por exemplo, memorvel atuao de Buster Keaton.
3
Talvez no seja mero acaso: qualquer capa de dvd ou citao acadmi-
ca insiste em legar a autoria dessa obra a Beckett. O fato revelador, j
que torna clara a tradio no teatro em atribuir autoria preferencialmente
3 Pode-se encontrar um interessante depoimento de Alain Schneider e a confeco do lme junto a
Beckett, no seguinte link: <http://www.apieceofmonologue.com/2010/06/alan-schneider-samuel-
-beckett-lm.html> Beckett no apenas foi ao set e acompanhou as lmagens, como deu dicas de
planos papel este que, atualmente, bem desempenhado por roteiristas.
OLHAR ENTRE SEMIBREVES309
ao dramaturgo. Num percurso distinto, a histria do cinema valorizaria
como autor a figura e a assinatura do diretor. (SAYAD, 2008, p. 26)
O Film de Beckett, portanto, embaralha essas classificaes e traa
uma trajetria peculiar nas tradies autorais. Ao voltarmos para o texto
original, perceberemos menos uma marcao para uma pea teatral e,
entre uma pliade de detalhes, encontraremos descries sofisticadas que
visam nada mais e nada menos do que criar imagens justas. Uma escri-
ta que busca harmonizar tempos, cadncias, construo do personagem,
elaborao do sentido narrativo, acontecimentos, (sons), posicionamento
de cmera, descries espaciais e indicaes precisas do cenrio. Para o
olhar de um historiador do teatro, essas anotaes seriam reveladoras da
narrativa. Para o olhar do historiador do cinema e das mdias audiovisu-
ais essa escrita de Beckett talvez revele somente aspectos tcnicos de um
filme que se concretizaria na tela. Beckett, assim, seria apenas o roteirista
do filme dirigido por Jean Genet e Alan Schneider.
4
Enxergar Beckett como roteirista de Film no possui demrito algum.
Ao lermos seu script constatamos diversas das intenes da obra. H uma
descrio minuciosa do espao trs locaes, trs partes, como a rua, a
escada e o quarto (BECKETT, 2006, p. 323) e se salienta que o filme deve
ser inteiramente silencioso, com exceo de um sssh! pronunciando de
frente para a cmera, ainda na primeira parte. Temos aqui um silncio
semntico.
5
Em seguida, o script aponta os princpios de Film. Cita-se o filsofo
George Berkley, numa epgrafe com a frase Esse est percipti; ou seja, ser
ser percebido. E com esse conceito que, obviamente, no aparece de ma-
4 No devemos percorrer aqui a polmica sobre a autoria no cinema. (SAYAD, 2008) Nossa nfa-
se, por um momento, salientar o papel de roteiristas ou dramaturgos na consolidao de
gneros, estilos e uma possvel inuncia nas inovaes narrativas dentro da histria do cinema.
Menos o roteirista como autor, do que o roteiro como um sujeito, ativo, que constri obras cine-
matogrcas paralelas e muitas vezes coincidentes, outras no, s trajetrias do diretor. nesse
sentido que, talvez, seja preciso considerar Beckett, no caso de Film, tanto como roteirista quanto
um dramaturgo. E enxerg-lo assim no deveria diminuir o papel de sua formulao esttica, pelo
contrrio.
5 Embora no haja um silncio literal no cinema nem mesmo nos tempos do cinema mudo,
cujos lmes sempre tinham trilha sonora e acompanhamento musical durante as sesses. Pois o
silncio, no cinema, costuma ser acompanhado de signos, como o som ambiente, que conotam
silncio. Aqui, at o mesmo o sssh! nico som que ouvimos ao longo da obra enfatiza: isto
(ou no ) silncio.
310PABLO GONALO MARTINS
neira explcita ao longo do filme Beckett concentra toda a dinmica entre
a imagem e a sua representao dramtica. Beckett, portanto, estabelece
um jogo entre a percepo alheia e a autopercepo, ou percepo de si.
Dessa forma, o protagonista divide-se entre um objeto (O) e um olho
(E) e no ser claro, at o fim do filme, que quem possui a percepo
no um ser alheio, mas o prprio self. (BECKETT, 2006, p. 323, tradu-
o nossa) Para ilustrar essa ideia, Becket desenha (Figura 2) a relao ge-
omtrica que deve ser estabelecida: no maior que 45 graus, quando O
no se percebe percebido, e a partir de 46 graus, quando O percebe-se
ao se olhar.
Figura 2 Film, de Becktt.
H, portanto, uma relao clara e precisa para a mise en scne; ou na
dinmica entre a cmera e o objeto. Um jogo bem definido entre a dra-
maturgia, a narrativa, a visualidade e a estrutura do sentimento quando
posta em cena. Apenas no final de Film constata-se que E e O so a
mesma instncia e, que, ao tentar suplantar qualquer outra conscincia
de percepo, O se esquiva da assustadora possibilidade de se perceber.
Originalmente, esse roteiro iria se chamar O olho e ele parece transpor
para a temtica da imagem procedimentos narrativos e dramticos caros
esttica de Beckett. No entanto, trata-se de uma imagem uma forma
de ver que no procura uma indexicalidade, uma referncia ou mesmo
uma representao.
Na primeira parte do roteiro, indica-se como a prpria cmera deve
perseguir o objeto de maneira assertiva. Nos encontros casuais entre o
olho e a cmera h, como na parte da escada, um susto, um pavor de
perceber uma imagem que no se diferencia do seu referente. Na terceira
parte, no quarto, h uma enftica recusa de qualquer outra imagem, ou
OLHAR ENTRE SEMIBREVES311
forma de percepo, e O cobre os olhos dos animais que esto no cen-
rio. Em seguida, O olha suas prprias fotografias, em certa percepo do
passado, at chegar ao instante final em que se olha frontalmente, numa
imagem alongada.
Pode-se afirmar que Jean Genet e Alan Schneider realizaram uma
leitura bem fiel do script de Beckett e que muitas das sensaes visuais
almejadas obtiveram uma interessante materializao, quando sentidas
na tela. Os movimentos da cmera, o cenrio, o aproveitamento visual do
espao e a forma como o personagem interage com as fotos possibilitou
uma atmosfera mpar, que causa estranheza e desconforto. Curiosamente
nesse encontro entre O e E que se verificam alguns ecos estilsticos
da narrativa de Beckett. Trata-se de um gesto de gap (ABBOTT, 2004);
uma ausncia ou mesmo uma subtrao do sentido dramtico que, para-
doxalmente, no se abstm do gesto narrativo. So vcuos que convidam
o leitor ou espectador a um preenchimento, o qual, por sua vez, ser
recompensado por nulidades. Essa tendncia de Beckett se refora na sua
produo ps-guerra, a partir de 1944. Depois de Esperando Godot, na sua
experimentao com jogos de linguagem em Watt (PERLOFF, 1996), Be-
ckett se aproxima paulatinamente de uma narrativa que joga entre esva-
ziamentos e convites para preenchimentos vos.
No h nada aqui, nada para ver, mera coincidncia, quando cogita-
-se um mundo sem espectador, e vice-versa, brrr! Sem espectador,
pois, e, melhor ainda, sem espetculo, um alvio. Se esse rudo ces-
sasse teramos nada mais a dizer. (BECKETT, 1965, p. 375, tradu-
o nossa)
Este niilismo becketiano inocula no apenas sua narrativa, mas tam-
bm a sua dramaturgia e a forma como estabelece sua construo imag-
tica. Assim, uma imagem silenciosa que se torna um texto, ou um gesto,
para nada. No por acaso, Film uma obra muda tardia, fora do seu tempo
histrico, que radicaliza as estruturas poticas do cinema mudo para re-
fletir sobre a condio da percepo humana. No entanto, uma obra que
se recusa a encadear sentidos, tal como realizada por toda uma tradio de
dramaturgia do cinema mudo.
Uma imagem, s vezes, transforma-se em silenciosa. Ou numa ms-
cara indecifrvel. Ou, num silncio que no exatamente um silncio,
312PABLO GONALO MARTINS
mas um murmrio de aes e instantes, que no escutamos, nem conse-
guiramos escutar ou compreender.
INTERVALOS SONOROS
Na notao musical erudita e tradicional a semibreve representa o
maior intervalo sonoro possvel.
6
Conceitualmente, a semibreve seria a
juno de duas mnimas e o tempo de sua durao poderia variar de acor-
do com o regente ou o intrprete. O silncio, nesse compasso, um espas-
mo mtrico, uma cadncia do metrnomo.
Ao incorporar a autonomia da performance e a insero de instru-
mentos do cotidiano, ou eletrnicos, a msica erudita, desde os anos de
1950, precisou buscar outras notaes e convenes para a composio, a
escrita e a performance. Pouco a pouco, a prpria noo de silncio na
msica passava por metamorfoses.
O exemplo mais clebre a obra 433, de John Cage, composta
em1952, na qual a sua performance consiste em abrir o piano e no tocar
nada, por exatos quatro minutos e trinta e trs segundos.
7
Ao silenciar a
msica e a sua performance ao se despir do papel institucional do m-
sico, que tocar Cage nos convida a escutar o outro, a plateia, o mundo,
o que est ao redor. Aqui, o silncio simblico transforma-se num rudo
material, cotidiano, impuro, imperfeito.
Mais do que um signo, portanto, o silncio seria um ato de reduo,
de subtrao, uma ausncia que busca acrescentar novas sensaes, m-
nimas, antes imperceptveis. Nesse diapaso, o silncio seria prenhe de
sons inditos novos timbres, novas texturas, e to comuns quanto extra-
ordinrios. Interessa-nos salientar esta escrita e esta imagem que ora
pautada pelo silncio, ora por gestos minimalistas. Ainda que no mbito
6 importante lembrar que at a Idade Mdia havia, na notao musical, a preponderncia da Bre-
ve, a Longa ou a Mxima, como notas de intervalos maiores que a semibreve. No entanto, elas no
esto mais em uso e a semibreve tornou-se, pouco a pouco, o maior valor da notao. Quando
enfatizamos o silncio, realamos, conceitual e metaforicamente, o valor de pausa da semibreve.
7 Sabe-se, contudo, que John Cage usava uma notao bem diferente da atual, a qual, consequente-
mente, foi criada para melhor representar a escolhas estticas da msica erudita contempornea.
OLHAR ENTRE SEMIBREVES313
da literatura, Roland Barthes nos advirta sobre os paradoxos estticos que
uma escrita do silncio tende a despertar:
Essa arte tem a prpria estrutura do suicdio: o silncio nela um
tempo potico homogneo que fica entalado entre duas camadas
e faz explodir a palavra menos como o farrapo de um criptograma
do que como uma luz, um vazio, um assassnio, uma liberdade.
(BARTHES, 2000, p. 66-67)
O silncio, nessa leitura, seria uma possvel conduta tica do artis-
ta frente s convenes estilsticas que o circundam. Continuando com
Barthes, iremos perceber as distines entre o tacere, o silncio verbal, e o
silere, que conota uma tranquilidade, uma ausncia de movimento e de ru-
do. (BARTHES, 2003) Haveria, portanto, uma diferena entre o silncio
da fala, na esteira do tacere, com o silncio da natureza ou da divindade, na
outra raiz latina da palavra. O que interessa em Barthes sua nfase no si-
lncio como um gesto esttico que flerta com a figura do neutro, um gesto
prenhe de consequncias ticas que oscilam entre o ceticismo, o budismo,
a delicadeza, as aporias e suas resistncias.
8
Assim, num contexto dogm-
tico, o silncio seria uma aposta num significante de significado pleno.
De forma peculiar, o silncio do Film de Beckett tanto esta subtrao
quanto este gesto de anulao; ou seja, prope-se um silncio hipottico,
ao retirar at os signos ou os rudos que conotam silncio nos filmes
convencionais. Um silncio conceitual situado num espao de frico que,
ao surgir, recusa a sntese e elimina seus elementos criativos.
Esse silncio repercute na relao de horror que o encontro entre o
olho e o objeto suscita. Trata-se de um silncio imagtico, prenhe de uma
dialtica de runas, sem sntese, e inapreensvel. Uma dialtica que joga
com propores antropomtricas, mas que cria uma estranha equao de
dessemelhana. o que nos indica Didi-Huberman, ao compreender o
silncio que se entranha na arte minimalista:
8 O ensaio The aesthetics of silence de Susan Sontag (2002) tambm traz uma interessante leitura
sobre obras artsticas e sua relao com o silncio. Aps Rimbaud e as vanguardas do sculo XX,
Sontag percebe no gesto do silncio uma forma do artista renovar suas inquietaes ticas nas
suas tensas relaes de autonomia frente plateia e s audincias.
314PABLO GONALO MARTINS
Por seu essencial silncio que no imobilidade ou inrcia e por
sua virtude de dessemelhana, o antropomorfismo minimalista
dava em realidade a mais bela resposta possvel contradio teri-
ca da presena e da especificidade. Fazia com que essas duas pala-
vras nada mais tivessem a significar daquilo que se esperava delas,
tomadas cada uma isoladamente [...]. A arte minimalista fornecia-se
assim os meios de escapar, por sua operao dialtica, ao dilema da
crena e da tautologia. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 144)
Menos uma coisa ou um objeto, a imagem seria um ato. Essa escri-
tura que aposta na construo de imagens-silncio, curiosamente, sugere
um gesto que instila dvidas sobre a dinmica ontolgica, para continuar
com Didi-Huberman, da construo da imagem. Assim, essa imagem-
-silncio passa a observar o observador, tal como observada. Ela duplica-
-se como imagem e se nega como semelhana. neste nterim que ela cria
vazios, como as impurezas do branco, e se relaciona com o espectador de
maneira niilista.
Contudo, dos anos setenta aos nossos dias, essa tensa relao com a
imagem ganhou outros matizes. Ao adentramos o debate sobre a esttica
das paisagens, percebemos como se estabelecem jogos com a experincia
e a dialtica da imagem e como surgiram interessantes formas de bus-
car um silncio sensrio, ruidoso, que, ao invs de desmontar a dinmica
da imagem, nos convida a reaprender a experincia do olhar.
AS PAISAGENS DE PETER HANDKE
Coisa-imagem-escrita em uma unidade: este o milagre e ele no
expressa totalmente minha sensao de proximidade. Ali est uma
planta da casa, que vejo pela janela, diante de uma paisagem, como
um ideograma chins. As pedras e as rvores de Czanne eram mais
do que esses ideogramas, mais do que formas puras, mais do que
formas limpas, sem vestgios ademais, elas eram um adereo da
suas pinceladas dramticas. E o meu primeiro pensamento era: to
perto!. Agora elas pareciam como as primeiras pinturas rupestres. Eram
coisa, eram imagem, eram escrita eram a pincelada e formavam um
conjunto, em harmonia
9
. (HANDKE, 1984, p. 62, traduo nossa)
9 Ding-Bild-Schrift in einem: es ist das Unerhrte und gibt trotzdem noch nicht mein ganzes
Nahgefhl weiter. Hier gehrt nun jene einzelne Zimmerpanze, die ich einmal durch ein Fens-
OLHAR ENTRE SEMIBREVES315
O trecho acima descreve as sensaes que emanam de Vue du Chateau
Noir (Figura 3), um conhecido quadro de Paul Czanne, pintado entre
1894 1896, perto do vilarejo Le Tholonet, na Frana (ver figura a seguir).
Seria a imagem entre imagens (Das Bild der Bilder), nas palavras de Peter
Handke, quando evoca Czanne como o precursor da esttica das paisa-
gens, estilo esse que exerceria uma forte influncia ao longo das artes do
sculo XX.
10
Uma forma esttica que une a preciso de retratar as coisas
com a subjetividade de um olhar movedio.
Figura 3 Vue du Chateau noir, Paul Czanne.
Em 1980, quando Handke lana o livro Die Lehre der Saint-Victoire,
ele j havia traado uma slida carreira como escritor, dramaturgo e ro-
teirista de alguns filmes de Wim Wenders, como Movimento em Falso e
O medo do goleiro diante do pnalti. Reforava um estilo literrio que flerta-
va diretamente com a esttica cinematogrfica, que buscava no-lugares
ter vor der Landschaft als chinesisches Schriftzeichen erblickte: Czannes Felsen und Bume
waren mehr als solche Schriftzeichen; mehr als reine Formen ohne Erdenspur sie waren zust-
zlich, von dem dramatischen Strich (und dem Gestrichel) der Malerhand, ineinandergefgt zu
Beschwrungen und erscheinen mir, der ich davor anfangs nur denken konnte: So nah!, jetzt
verbunden mit den frhesten Hlenzeichnung. Es waren die Dinge, es waren die Bilder, es war
die Schrift; es war der Strich und es war das alles im Einklang.
10 Nas artes visuais dos anos de 1970 em diante houve vrias aproximaes em relao com as pai-
sagens. Uma interessante relao dessa tendncia, a partir da obra de Robert Smithson, pode ser
encontrada em Peixoto, 2010.
316PABLO GONALO MARTINS
como locaes para seus personagens, como quartos de hotis, cafs,
estradas e pequenos aeroportos. (PARRY, 2003, p. 76) Vinha com influn-
cia de road movies e imagens literrias que decupavam a cena, como se
a vssemos numa tela de cinema. Pouco a pouco, Handke se aproxima da
pintura, pois sua narrativa passa a duplicar a percepo de um narrador
em primeira pessoa, j que a paisagem seria descrita e inscrita como se
estivesse sendo pintada.
11
Die Lehre der Saint-Victoire justamente o livro que nos traz o relato
minucioso desse encontro, que o escritor austraco retrata como um encan-
tamento, de sua parte, tpico de mestre para aluno. , certamente, a partir
de Czanne que Handke reflete sobre uma forma de escrita que se une ao
processo de construo semntico da paisagem. Nesse recorte, a paisagem
deixa de estar restrita a apenas um instante de epifania (PARRY, 2003,
p. 125) e passa a ser concebida como um estilo de escrita que relaciona e
costura sentidos com imagens.
12
Criam-se geografias subjetivas por meio da escrita, to intrnsecas
e sofisticadas, que paisagem e escrita se imiscuem e no sabemos mais
onde comea uma e quando termina a outra. Essa forma de lidar com a
paisagem, de escritura junto natureza, talvez seja uma tnica comum
entre as artes do pincel, da pena e da cmera. Trata-se, portanto, de uma
maneira especfica de lidar com o tema do real.
Se o pintor quer exprimir o mundo, preciso que o arranjo das
cores traga em si esse Todo indivisvel; caso contrrio, sua pintura
ser uma aluso s coisas e no as mostrar na sua unidade impe-
riosa, na presena, na plenitude insupervel que , para todos ns,
a definio do real. (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 130)
Talvez esta unidade da esttica sobre o real de Czanne esteja bem
expressa na noo de Ding-Bild-Schrift (Coisa-Imagem-Escrita). Trata-se de
11 Exemplo incisivo dessa guinada a novela A tarde de um escritor (HANDKE, 1993) na qual,durante
um dia, um escritor, enfastiado do seu trabalho recluso, assume a deriva como um processo de
percepo esttica. Assim, enquanto observa o dia, inscreve-se nele, e ele o escreve.
12 Como ocorre, em Handke, um agenciamento do olhar, a paisagem se aproxima de uma relao an-
tropomrca (PARRY, 2003, p. 14). No entanto, h um considervel debate sobre a relao entre
paisagens, narrativas e elaboraes estticas no-antropomrcas e ps-humanas. Ver LOPES,
2007 e FUCHS, 1996.
OLHAR ENTRE SEMIBREVES317
um todo compacto, que no distingue exatamente os objetos da natureza,
sua representao por meio de imagens ou de palavras; uma forma de bus-
car a realidade sem abandonar a sensao, sem tomar outro guia seno a
natureza na impresso imediata. (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 127) Ora, a
esttica de Czanne famosa por estabelecer essa zona de indeterminao,
dvidas sobre o que vemos, e um constante processo de construo e per-
cepo fenomenolgica.
A hora que no sabamos nada um do outro (1992) talvez seja a primeira
obra teatral de Handke que leva essa reflexo sobre a paisagem para a arte
do palco. H, logo de incio, uma imbricao entre o palco e a locao, j
que a pea, conforme escrito por Handke, deveria acontecer numa praa.
Na verdade, enfatizam-se eventos numa praa, ao longo de um dia. Nesse
sentido, a praa seria mais do que uma locao, um cenrio ou um espao
cnico, e assim se aproximaria de uma instncia, de um personagem; ou
de um local que, numa dinmica fenomenolgica, se desvela e se inscreve
junto ao espectador. No por acaso, so dezenas as cenas em que a praa fica
vazia para a contemplao do espectador. Como os intervalos entre os atos,
nos quais se costuma fechar as cortinas, mas a praa, l, permanece, intacta.
nessa acepo que o espao e a paisagem se transformam no ponto
de partida para a escritura teatral. No se trata aqui de um espao temtico
ou do espao implcito nas peas teatrais. (MCGAY, 2000, p. 230) Nessa
pea de Handke, o teatro emerge como o local de inscrio de realidades,
13
tal como na pintura e mesmo no cinema, sobretudo quando sai dos est-
dios longe dos cenrios para buscar locaes reais, como acontece, por
exemplo, nos road movies.
Nesse sentido, a proposta esttica de Handke distingue-se da de Be-
ckett, por duas razes. Em Beckett, o espao teatral est de fato mais prxi-
mo de uma tradio naturalista ou moderna (WILLIAMS, 2010); ou seja,
ele representa um espao; no pretende ser ou se tornar um espao nico.
Por outro lado, Beckett nega uma narrativa mimtica e constri espaos
cerceantes e claustrofbicos, que visam passar tanto um niilismo quanto
13 Esta pea de Handke dialoga com a sua produo teatral dos anos de 1990, nas quais encontra-
mos Das Spiel vom Fragen, oder Die Reise zum sonoren Land (1989), que pede uma encenao
num vago de metr; Zurstungen fr die Unsterblichkeit (1997) e Die Fahrt im Einbaum, oder, Das
Stck zum Film vom Krieg (1999). Ver DOPPLER, 2002
318PABLO GONALO MARTINS
sensaes de esgotamento. (DELEUZE, 2010) Se h, em Beckett, uma
moldura centrpeta que busca uma anulao da linguagem, as paisagens,
num contraponto tcito a essa proposta, apostariam na disperso e em
sensaes centrfugas, que tambm fogem do naturalismo, do modernis-
mo e, no cinema, da oposio entre transparncia e opacidade.
De certa forma, Handke volta-se a um debate de cunho mimtico,
seja no teatro, seja na literatura; volta-se para tentar renov-lo. Nos seus
ensaios dos anos de 1970, Peter Handke prope esgarar o espao do pal-
co e coloc-lo novamente no mundo. Em Straentheater und Theatertheater
(Teatro da rua e teatro do teatro), por exemplo, Handke chama a ateno
para o fato de que o teatro deve se construir no mundo, nas ruas, e se es-
palhar sem distines e molduras prvias.
Um jogo sem smbolos deve esvaziar-se de significados, os quais o
pblico deveria desvelar, o jogo ser sem sentido e sem sentido.
O teatro de rua age como agora, age sem sentido [...]. O teatro de rua
deve preocupar-se com a fantasia ao movimento, do movimento da
fantasia, e da fantasia do movimento.
14
(HANDKE, 1971, p. 311-312,
traduo nossa)
Isto que atualmente chamamos de dispositivo, para os meios cinemato-
grficos e as artes visuais, j parece esboado nessas ideias de Handke. O es-
critor austraco reclama por um princpio ativador de realidades, mais do que
uma linguagem mimtica, que represente um drama numa moldura, num
enredo, num arco narrativo. Por isso, aposta numa ausncia de significados:
para criar um jogo provisrio, distinto e pulsante, com os espectadores. Um
princpio esttico anrquico que deve construir um mtodo novo a cada obra,
de maneira individualizada e se renovar constante e incessantemente.
Em A hora que no sabamos nada um do outro h a proposta de um jogo
pautado pelo silncio e pela imagem. A epgrafe da pea parece propor uma
regra: No delate o que voc viu, deixe ficar na imagem. (HANDKE, 1992,
p. 6) Assim, o que passa pela praa so cenas cotidianas, sem dramaticida-
de, sem falas, com raras interaes, instantes quase casuais como coreo-
14 Ein Spiel ohne Sinnflligkeit mu sich zu Bedeutung entleeren, das Publikum mu sich auf die
Bedeutung zurckziehen, das Spiel wird sinnlos und ist sinnlos. Die Straentheater, wie jetzt agie-
ren, agieren sinnlos. [...]. Das Straentheater sollte fr die Phantasie der Bewegung, fr Bewegung
der Phantasie, und fr Phantasie fr die Bewegung sorgen.
OLHAR ENTRE SEMIBREVES319
grficos e geomtricos. De certa forma, Handke escreve como se pintasse;
ou seja, descreve, minuciosamente, os movimentos, os gestos, o ritmo do
andar. Sem a nfase na fala, esses movimentos ganham um primeiro plano.
Ainda que a praa e os espectadores permaneam imveis, h um
movimento fsico frentico pela locao. Feita para doze atores (e aman-
tes, como est no texto), a pea movimenta cerca de trezentos personagens
em situaes volteis. So loucos, andantes, transeuntes, tropeiros, bebs,
militares, velhos, jovens, um moo numa cadeira de rodas, bombeiros, e
tantos outros, que passeiam pela praa. Ficam por l, rapidamente, um
tempo nfimo que dificulta uma projeo sentimental maior, ou a criao
de um arco dramtico completo. So short-cuts, instantes de pouca ou
nenhuma dramaticidade, se vistos segundo a potica aristotlica. Nesse
sentido, o espectador da pea, que v as cenas como imagens desfilando
s suas retinas, se aproxima de um espectador audiovisual, pois so vi-
sualidades que possuem um fluxo prprio e que apenas ocasionalmente
configuram cenas completas.
aqui, nessa interseco entre o espectador do teatro e o do cinema,
que encontramos uma parte da inteno do jogo com a imagem, proposta
por Handke. Assim como ocorre em boa parte dos filmes de Wim Wen-
ders, trata-se, nessa linha esttica, de redescobrir o ato de olhar frente a
uma banalizao da imagem numa sociedade hipermiditica. (BUCHKA,
1987,) Aposta-se, portanto, numa tica e esttica da observao, despro-
vida de julgamentos e significaes prvias. Uma imagem que no seja
conotativa, mas preponderantemente descritiva.
O olhar para a praa que Handke prope ao espectador sim o de um
voyeur, mas de um voyeur eticamente distinto daquele estimulado por um
contexto espetacularizado, pois todas as formas do mundo aniquilaram a
silenciosa felicidade que existe no ato de ver. (DOPPLER, 2002, p. 143) O
silncio traduziria um convite para a depurao do olhar. Por isso, trata-se
de uma imagem que sugere sensaes, mas no nem enigmtica nem se
anula. De certa forma, a parceria entre Handke e Wenders busca renovar a
imagem para tentar reestabelecer o gesto tico que envolve o olhar.
15
15 A simples observao o mais difcil. Somente pela habilidade de ver, de enxergar alguma coisa,
a guerra tornaria-se impossvel. Handke (1992), em Zurstungen fr die Unsterblichkeit. (apud
DOBBLER, 2002, p. 141)
320PABLO GONALO MARTINS
Talvez a noo de Coisa-Imagem-Escrita seja mais apropriada, nesse
contexto, do que a dialtica da imagem de Didi-Huberman, j que se bus-
ca, sim, um gesto potencializador, criador de imagens e de realidades o
que diferente da construo de imagens minimalistas. De certa forma,
ao abarcar as sugestes de Handke, o espectador, no apenas interage com
a coisa e a imagem que v, mas tambm escreve. O silncio, pois, sugere
dilogos possveis, mas que no se concretizariam. Como as biografias
que todo transeunte de uma metrpole supe, imagina ou devaneia, quan-
do observa ou contempla algum desconhecido na praa, na parada de ni-
bus, no vago do metr. A imagem guardaria consigo um segredo que no
se prope a ser revelado nem decifrado. No entanto, o segredo da imagem
existe e assim, ptreo, solicita uma afeco.
Como Coisa-Imagem-Escrita, a praa tambm se transforma num
quadro e numa moldura. De maneira instigante, Handke explora o espao
off-screen, tal como na linguagem cinematogrfica; ou seja, o som aponta
e sugere imagens direita, esquerda, ao fundo da plateia, para alm da
prpria praa. Tais como paisagens sugestivas, so imagens que fogem do
campo de viso (Blickfield) da prpria praa. O silncio verbal, portanto,
cria fendas para um som que costura e induz a construo intuitiva de
espaos narrativos.
Percebemos algumas dessas caractersticas estticas no filme Czanne
(1989), um mdia-metragem de Jean-Marie Straub e Daniele Huillet, que,
a partir de trechos de dilogos entre o pintor francs e o seu amigo Joachim
Gasquet, reconstitui o ambiente criativo da poca. O filme comea com
uma paisagem: panormicas lentas e detalhadas de uma vila, de uma cida-
de moderna. Parece ser o local onde Czanne pintava. Talvez Aix-Provnce,
onde passou os ltimos anos da sua vida. Mas no h informao alguma:
apenas a paisagem. Os tempos so lentos e chegamos a perceber a variao
de luz, dentro do quadro, nico ndice que uma imagem em movimento.
Em seguida, passa-se para uma foto de Czanne e somente num terceiro
momento vemos um dos seus quadros. Todas as obras do pintor surgem
com a moldura vista, como se fossem quadros dentro do quadro. Ou en-
quadramentos que revelam o prprio plano cinematogrfico.
Em off, uma voz reproduz e interpreta uma das falas de Czanne. A voz
seca, parca em entoaes dramticas. Apenas silncios. Ora breves, ora longos.
OLHAR ENTRE SEMIBREVES321
Em certo momento, Czanne afirma que o artista no nada menos que
um receptculo de sensaes, uma placa sensvel, que deve atuar com o
mnimo de interferncia possvel de qualquer forma de interpretao. Em
seguida, vemos a famosa montanha de Saint-Victoire, que Czanne pintou
por anos a fio. E ela fica l, esttica, durante alguns minutos. Instantes
em que se fala, segundo a carta do pintor francs, que a cor o local de
encontro entre o crebro e a natureza. Aps alguns minutos, quando es-
quecemos da presena da cmera, ela se movimenta e faz uma longa e
lenta panormica: vemos a paisagem ao redor da montanha.
A praa de A hora que no sabamos nada um do outro ganha matizes
parecidas cmera de Straub-Huillet ou s pinceladas de Czanne. So
escrituras para o olhar. Se mudas, se silenciosas, elas buscam um fluxo
sensitivo prprio retina. Trata-se de uma esttica pautada por uma escri-
tura da paisagem, na qual se constri um espao narrativo, que no opa-
co nem transparente. H, portanto, um gesto mimtico prprio, que deixa
espaos, distintos de certa aporia minimalista. Seriam espaos generosos
e acolhedores fruio do espectador. Por isso a noo de Coisa-imagem-
-escrita torna-se to apropriada para melhor compreendermos uma forma
de escritura que no est necessariamente centrada na trama e nem uma
negao da narrativa, mas inscreve-se juntamente a experincia do olhar.
ESCRITA E IMAGEM ENTRE O SILNCIO E O LOCAL
Mission: to be where I am.
Even in that ridiculous, dealdy serious
role I am the place
where creation is working itself out.
Tomas Transtromer.
Diferentemente do percurso de ngela Materno, que, ao comparar peas
de Beckett e Handke, focou a relao direta do verbo e da imagem no pal-
co (MATERNO, 2009), procuramos deslindar uma esttica pautada pelo
silncio e pela subtrao da palavra. Tambm partimos das imagens, so-
bretudo a cinematogrfica e a pictrica. Seja no roteiro de Beckett, seja nas
paisagens que Handke trouxe para delimitar um ndice de localidade da
sua pea estas so formas peculiares de escrever e inscrever imagens.
322PABLO GONALO MARTINS
Ao buscar o cinema, o dramaturgo Beckett percebe a necessidade
no apenas de renovao e ampliao do espao institucional do teatro,
mas, sobretudo, a urgncia de se expressar audiovisualmente. Pulsa, ali,
como roteirista, um Beckett espectador de filmes mudos, de Chaplin, de
Buster Keaton, de filmes que o sensibilizaram para o af e o fervor de uma
nova espectoralidade. Em uma das notas do roteiro de Film, ele confessa
sua ignorncia tcnica para o cinema. No sabe como alcanar aquela ima-
gem. Justo ele, um dramaturgo do palco, mas que imaginou as cenas com
todos os detalhes e mincias possveis e as imaginou, primeiramente,
como um espectador.
Essa inquietao das retinas de Beckett apenas o prenncio do an-
seio do espectador contemporneo. Afirmar que o teatro e o espetculo
se tornam audiovisuais , hoje, mais do que um lugar comum. No en-
tanto, so poucas as vezes em que se tenta reconstruir esse histrico da
dramaturgia, na sua lida direta com a imagem; ou seja, nas peas e nos
dramaturgos que silenciaram o verbo para escrever com imagens, lado a
lado. Assim, Beckett seria, mais uma vez, um precursor de gestos drama-
trgicos prximos aos desempenhados, por exemplo, por Jean-Luc Lagar-
ce, Peter Brook, Robert Wilson, Bernard-Marie Kolts, dramaturgos que,
diversas vezes, partem da imagem para as suas criaes teatrais.
Ao trazer o debate das paisagens para a literatura, o teatro e o cinema,
Peter Handke tambm antecipa formas de dramaturgia que ecoam de ma-
neira cada vez mais evidente nos anseios estticos da arte contempornea.
Se compreendermos a classificao da imagem-tempo, de Deleuze (2005),
como totalmente aderente ao cinema moderno, percebemos, como, pou-
co a pouco, migramos para uma preponderncia de uma imagem que se
constri a partir do espao, do territrio, do terreno, da locao. So mapas
sensoriais e sensitivos que guiam a escrita, a encenao e a recepo. No
entanto, poucas vezes se mostrou como essa centralidade da arquitetura e
da experincia do espao migrou para outras artes. assim que conceitos,
como o de paisagem, talvez no revelem apenas uma transversalidade das
OLHAR ENTRE SEMIBREVES323
artes, mas uma nova forma de escritura. Nessas horas, ler W.G. Sebald
16
pode se esclarecedor:
No me parece, disse Austerlitz, que compreendemos as leis que
governam o retorno do passado, mas sinto cada vez mais como se
o tempo no existisse em absoluto, somente diversos espaos que
se imbricam segundo uma estereometria superior, entre os quais
os vivos e os mortos podem ir de l para c como bem quiserem e,
quanto mais penso nisso, mais me parece que ns, que ainda vive-
mos, somos seres irreais aos olhos dos mortos e visveis somente
de vez em quando, em determinadas condies de luz e atmosfera.
(SEBALD, 2008, p. 182)
Embora sem pretenses maiores, o conceito de Coisa-Imagem-Escri-
ta, cunhado por Handke ao olhar Czanne, nos d uma pista das formas
como, pouco a pouco, se funda uma escritura da paisagem. Em alguma
medida, ela transpe o debate da centralidade e autonomia do corpo e da
performance, para as formas de ocupao do territrio e para gestos que
propem experimentar o espao num devir esttico.
REFERNCIAS
ABBOT, Porter H. Narrative. In: Palgrave advances in Samuel Beckett studies. Palgrave
Macmillian, 2004.
BARTHES, Roland: O grau zero da escrita. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
______. O neutro. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
BECKETT, Samuel: Complet Dramatic Works.London: Faber and Faber, 2006.
______. Three novels. New York,: Groove Press, 1965.
BORDWELL, David. Figuras traadas na luz. A encenao no cinema. Campinas:
Papirus, 2007.
BUCHKA, Peter: Olhos no se compram: Win Wenders e seus filmes. So Paulo: Cia das
Letras, 1987.
CAGE, John: Silence: lectures and writings. Middletown, Connecticut: Wesleyan
University Press, 1974.
16 Nos seus estudos acadmicos sobre a literatura alem, Sebald era um leitor acurado de Handke,
sobretudo da forma como ele construa paisagens. Nesse sentido, vale ler os ensaios de Sebald
sobre Handke, nas seguintes obras: Sebald (2006, 2004, 1985).
324PABLO GONALO MARTINS
CZANNE: conversation avec Joachim Casquet. Direo: Jean-Marie Straub e Daniele
Huillet Produo: Musee DOrsay. Straub-Huillet. Frana, 1989. DVD (48 min).
Baseado no Ce quil ma dit..., dialogo entre Paul Czanne e Joachim Gasquet, captulo
do livro Czanne (1921) de Joachim Gasquet (1873-1921).
DELEUZE, Gilles: Sobre o teatro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.
______. A imagem-tempo: cinema 2. So Paulo: Brasiliense, 2005
DIDI-HUBERMAN, George: O que vemos, o que nos olha. So Paulo: Editora 34, 2010.
______. Limage survivante. Histoires de lart et temps des fantmes. Paris: Les ditions de
Minuit, 2002.
DOPPLER, Bernhard: The return of the Kings: Peter Handke and the Burgertheater. In:
DEMERITT, Linda;LAMB-FAFFELBERG, Margarete.(Org.) Postwar Austrian theater.
Riverside, Califrnia: Ariadne Press, 2002.
FIGUEIREDO, Vera Lcia Follain: Narrativas migrantes: literatura, roteiro e cinema.
Rio de Janeiro: Editora Puc-Rio,2010.
FILM. Direo: Alain Schneider e Jean Genet. Produo: Alan Schneider. Intrpretes:
Buster Keaton, Nell Harisson, James Karen. Estados Unidos, 1965.DVD (42 min),
widescreen, preto e branco.Produo: Magnus Opus. Baseado na obra Film de Samuel
Beckett
FUCHS, Elinor: The death of character: perspectives on Theater after Modernism.
Indiana. New York: University Press, 1996.
HANDKE, Peter. Das Spiel vom Fragen. Frankfurt: Suhrkamp , 1990.
______. Die Stunde da wir nichts voneinander wuten. Ein Schauspiel. Frankfurt am
Maim: Suhrkamp Verlag, 1992.
______. Die Lehre der Sainte-Victoire. Frankfurt: Suhrkamp, 1984.
______. O medo do goleiro diante do pnalti. So Paulo: Editora Brasiliense, 1988.
______. Prosa. Gedichte. Theaterstcke. Hrspiel. Aufstze. Frankfurt: Suhrkamp,
1971.
______. A tarde de um escritor. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1993.
______. Slow homecoming. Collier Books. New York: Macmillan Publishing
Company,1985.
KAEL, Pauline: Criando Kane e outros ensaios. Rio de Janeiro: Editora Record, 2000.
KITLER, Friedrich: Optical media. Cambridge: Polity, 2010.
LEHMAN, Hans-Thies: Teatro ps-dramtico. So Paulo: Cosac Nayf, 2007.
LOPES, Denilson: A delicadeza. Braslia: Editora UnB, 2007.
MATERNO, ngela: Palavra, voz e imagem nos teatros de Valere Novarina, Peter Handke
e Samuel Beckett In: WERNECK, Maria Helena; BRILHANTE, Maria Joo(Org.). Texto
e imagem: estudos de teatro. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009.
OLHAR ENTRE SEMIBREVES325
McAULEY, Gay: Space in performance: making meaning in the Theater. Michigan: The
University of Michigan Press, 2007.
MERLEAU-PONTY, Maurice: O olho e o esprito. So Paulo: Cosac & Naify, 2004.
MEDO do goleiro diante do pnalti. Direo: Wim Wenders. Produo: Peter Gen,
Wim Wenders. Roteiro: Peter Handke e Wim Wenders. Intrpretes: Arthur Brauss,
Kai Fischer, Erika Pluhar e outros. Filmverlagen der Autoren, Alemanha, 1972 1
bobina cinematogrfica (101 min.), son., color., 35 mm.Baseado na novela O medo do
goleiro diante do pnalti, de Peter Handke.
MOVIMENTO em falso. Direo: Wim Wenders. Produo: Peter Gen, Wim
Wenders.nerpretes: Rdiger Vogler, Hans Christian Blech, Hanna Schygulla. Roteiro:
Peter Handke. Alemanha, 1975. DVD (99 min). Produzido por Europa Filmes.
Baseado no romance Os anos de aprendizagem de Wilhem Meister de Johan Wolfgang
Goethe.
NANCY, Jean-Luc. Por qu hay varias artes y no una sola? In: Las musas. Buenos Aires:
Amorrortu, 2008.
NORMAN, Marc. What happens next: A history of American screenwriting. Harmony
books, Mew York, 2007.
PARRY, Christoph: Peter Handkes Landscapes of Discourse: An Exploration of Narrative
and Cultural Space. London: Ariadne Pr, 2004.
PAECH, Joachim: Literatur und film. Stuttgart: Weimar, Metzler, 1997.
PEIXOTO, Nelson Brissac: Paisagens crticas. Robert Smithson: arte, cincias e indstria.
So Paulo: Editora Senac, 2010.
PERLOFF, Marjorie: Wittgensteins Ladder: Poetic language and the strangeness of the
ordinary. London: The University of Chicago Press, 1996.
SAYAD, Ceclia: O jogo da reinveno: Charlie Kaufman e o lugar do autor no cinema.
Rio de Janeiro: Alameda editorial, 2008.
SEBALD, W.G.: Austerlitz. So Paulo: Companhia das Letras, 2008.
______. Campo Santo. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2006.
______. Unheimliche Heimat. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2004.
Residenz Verlag, 1985.
______. Die Beschreibung des Unglucks: Zur osterreischisch Literatur von Stiffer bis
Handke. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2004. Residenz Verlag,
2006.
SONTAG, Susan. Styles of radical will. New York: Picador, 2002.
SZYMBORSKA, Wislawa: Poemas. Traduo: Regina Przybycien. So Paulo:
Companhia das Letras, 2010.
TRANSTROMER, Tomas: New collected poems. London: Bloodaxe Books, 1997.
WILLIAMS, Raymond: Drama em Cena. So Paulo: Cosac Naify, 2010.
______. Drama from Ibsen to Brecht. London: The Hogarth Press, 1997.
327
Sobre os autores
ANA GRUSZYNSKI
Professora do Programa de Ps-graduao em Comunicao e Informao
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dos cursos de jornalismo,
publicidade e relaes pblicas da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicao
(FABICO). Bolsista produtividade nvel 2 do Conselho Nacional de Pesquisa
(CNPq). Autora, dentre outros, de Design grfico: do invisvel ao ilegvel (2008) e A
imagem da palavra: retrica tipogrfica na ps-modernidade (2007).
E-mail: anagru@gmail.com
NGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES
Professora do Programa de Ps-Graduao em Comunicao Social da UFMG.
Bolsista produtividade nvel 2 do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Ps-
doutora em Comunicao pela Universit Stedhal, Grenoble 3. Organizadora de
Comunicao e Poltica: capital social, reconhecimento e deliberao pblica. (2011)
e A Deliberao Pblica e suas dimenses sociais, polticas e comunicativas: textos
fundamentais (2009) E-mail: angelasalgueiro@gmail.com
NGELA PRYSTHON
Professora do Programa de Ps-graduao em Comunicao e do Bacharelado
em Cinema da Universidade Federal de Pernambuco. Bolsista produtividade
nvel 2 do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Autora de Cosmopolitismos
perifricos. Ensaios sobre modernidade, ps-modernidade e Estudos Culturais na
Amrica Latina (2002) e organizadora, dentre outros, de Comunicao e Sociedade -
Transformaes miditicas no contemporneo (2013) E-mail: prysthon@gmail.com
BENJAMIM PICADO
Professor do Programa de Ps-Graduao em Comunicao e do departamento
de Estudos Culturais e Mdia da Universidade Federal Fluminense. Bolsista
produtividade nvel 2 do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Autor de diversos
artigos e captulos de livro, dentre os quais, From the Presentness of the Instant
Towards a State of Affairs: stable visual forms in photojournalisms narrative
discourse (2011) E-mail: jbpicado@hotmail.com
328SOBRE OS AUTORES
BRUNO COSTA
Professor da PUC-Minas. autor de diversos artigos sobre a relao entre cinema e
filosofia. E-mail: brunocscosta@gmail.com
CARLOS MAGNO CAMARGOS MENDONA
Professor do Programa de Ps-Graduao em Comunicao da Universidade
Federal de Minas Gerais. Organizador, dentre outros livros, de Comunicao e
Experincia Esttica (2006) e autor de E o verbo se fez homem: corpo e mdia (2013).
E-mail: macomendonca@gmail.com
RICO OLIVEIRA
Mestrando do Programa de Ps-Graduao em Comunicao da Universidade
Federal do Cear e integrante do Grupo de Pesquisa em Cultura Visual.
E-mail: ericooal@gmail.com
ESTHER HAMBURGER
Professora do Programa de Ps Graduao em Meios e Processos Audiovisuais
da ECA/ USP. Diretora do CINUSP Paulo Emlio. Bolsista produtividade nvel 2
do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Autora do livroO Brasil Antenado, a
sociedade da novela (2005), alm de inmeros artigos e captulos em publicaes
especializadas. E-mail: ehamb@usp.br
FELIPE MUANIS
Professor do Programa de Ps-Graduao em Comunicao da Universidade
Federal Fluminense, coordenador do ENTELAS Grupo de pesquisa em televiso,
imagem, teoria e recepo. Autor de diversos artigos sobre atransformao do
visvel na televiso contempornea.E-mail:muanis@mac.com
ILANA FELDMAN
Doutora em Cincias da Comunicao pela Universidade de So Paulo. Dentre
outros trabalhos, uma das organizadoras de David Perlov: epifanias do
cotidiano(2011). Atualmente Ps-Doutoranda no departamento de Teoria
Literria, Instituto de Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual de
Campinas.E-mail:ilafeldman@gmail.com
LAURA LOGUERCIO CNEPA
Docente do Mestrado em Comunicao da Universidade Anhembi Morumbi.
Autora de uma srie de artigos sobre o horror e o cinema fantstico.
E-mail: lauracanepa@anhembimorumbi.edu.br
LEILA LOPES
Mestranda do Programa de Ps-Graduao em Comunicao da Universidade
Federal do Cear e integrante do Grupo de Pesquisa em Cultura Visual.
E-mail: leilalopes28@gmail.com
SOBRE OS AUTORES329
LGIA DIOGO
Doutoranda do Programa de Ps-graduao em Comunicao da Universidade
Federal Fluminense, onde hoje desenvolve a pesquisa de doutorado Vida e morte
transmdia: ser e eternizar-se em textos, imagens e vdeos na internet.
E-mail: ligiadiogo@hotmail.com
MARIANA BALTAR
Professora da graduao em Estudos de Mdia e do Programa de Ps-graduao em
Comunicao da Universidade Federal Fluminense. Publicou diversos trabalhos
sobre os temas de sua pesquisa, dentre outros, o captulo Weeping Reality:
Melodramatic Imagination in Contemporary Brazilian Documentary no livro
Latin American Melodrama. Passion, Pathos, and Entertainment (2009).
E-mail: marianabaltar@gmail.com
PABLO GONALO MARTINS
Doutorando do Programa de Ps-graduao em Comunicao pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Sua pesquisa de doutorado aborda as relaes
intermiditicas entre literatura, teatro e cinema. bolsista do DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst) e realiza sua pesquisa no Institut fr
Theaterwissenschaft da Freie Universitt Berlin.Email: pablogoncalo@gmail.com
PAULA SIBILIA
Professora do Programa de Ps-Graduao em Comunicao e do Departamento
de Estudos Culturais e Mdia da Universidade Federal Fluminense. Ps-doutora
pela Universit Paris VIII com bolsa da CAPES. Autora, entre outros, do livro
O show do eu: a intimidade como espetculo (2008). Bolsista produtividade nvel 2
do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). E-mail: sibilia@ig.com.br
ROGRIO FERRARAZ
Professor e coordenador do Mestrado em Comunicao da Universidade Anhembi
Morumbi. Autor de diversos artigos cientficos, resenhas e captulos de livros sobre
os temas de suas pesquisas. E-mail: rferraraz@anhembi.br
SILAS DE PAULA
Fotgrafo e professor do Programa de Ps-graduao em Comunicao da
Universidade Federal do Cear. Autor, dentre outros trabalhos, de Popular Cultural
Production and Political Action: The Use of the Video by tthe Indian Population in
Brazil (2009). E-mail: silasdepaula@gmail.com
VANDER CASAQUI
Professor do Programa de Ps-Graduao em Comunicao e Prticas de
Consumo, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Um dos organizadores
de Estticas miditicas e narrativas do consumo (2012) e Trabalho em publicidade
e propaganda: histria, formao profissional, comunicao e imaginrio (2011)
E-mail: vcasaqui@yahoo.com.br
Você também pode gostar
- Abraham Hicks - 32 Citações PráticasDocumento13 páginasAbraham Hicks - 32 Citações PráticasPatrick Soares100% (1)
- Captacao de Som - Estetica Sonora - Voz, Ruidos, MusicaDocumento37 páginasCaptacao de Som - Estetica Sonora - Voz, Ruidos, MusicaRodrigo CarreiroAinda não há avaliações
- Cinema de Exposição - André ParenteDocumento13 páginasCinema de Exposição - André ParenteLaécio RicardoAinda não há avaliações
- O Uso Criativo Do SomDocumento9 páginasO Uso Criativo Do SomRodrigo CarreiroAinda não há avaliações
- Metodologia Bruno MunariDocumento8 páginasMetodologia Bruno MunariVítor Diogo100% (2)
- Jean-Claude Bernardet O Processo Como ObraDocumento6 páginasJean-Claude Bernardet O Processo Como ObraRodrigoCerqueiraAinda não há avaliações
- Linguagem Cinematografica, Aula 1Documento16 páginasLinguagem Cinematografica, Aula 1Rodrigo CarreiroAinda não há avaliações
- Imagens Urbanas: Mangue, Tabuleiro, CidadesNo EverandImagens Urbanas: Mangue, Tabuleiro, CidadesAinda não há avaliações
- À DerivaDocumento20 páginasÀ DerivaVictor CavalcanteAinda não há avaliações
- (Rodrigo Carreiro) A Pos-Producao de Som No Audiovisual BrasileiroDocumento236 páginas(Rodrigo Carreiro) A Pos-Producao de Som No Audiovisual BrasileiroRodrigo Carreiro100% (1)
- Catalogo Exposicao-RosangelaRennoDocumento90 páginasCatalogo Exposicao-RosangelaRennoIgnez CapovillaAinda não há avaliações
- A Máquina de EsperarDocumento11 páginasA Máquina de EsperarTainá LouvenAinda não há avaliações
- Pos-Producao de Som e Sound Design No Cinema - Mauricio EspositoDocumento117 páginasPos-Producao de Som e Sound Design No Cinema - Mauricio EspositoRodrigo CarreiroAinda não há avaliações
- EAV Cadernos 2012 29AGODocumento134 páginasEAV Cadernos 2012 29AGOAndré Rodrigues100% (1)
- Jonathan CraryDocumento9 páginasJonathan CraryfabacciAinda não há avaliações
- Mimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesNo EverandMimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesAinda não há avaliações
- O Campo Expandido Da PerformanceDocumento10 páginasO Campo Expandido Da PerformanceFernanda MariaAinda não há avaliações
- Cap 01 - Modelagem e Simulacao de Sistemas PDFDocumento4 páginasCap 01 - Modelagem e Simulacao de Sistemas PDFadmilsonvieiraAinda não há avaliações
- A Imagética Da Comissão Rondon Fernando de TaccaDocumento24 páginasA Imagética Da Comissão Rondon Fernando de TaccaTerezinha Ferreira de Almeida100% (1)
- Paola Berenstein Jacques - ErrânciaDocumento10 páginasPaola Berenstein Jacques - ErrânciaC.FlaksmanAinda não há avaliações
- O Que É MultimídiaDocumento24 páginasO Que É Multimídiasandra.rodriguesAinda não há avaliações
- O Instante Decisivo Forjado - Jacques RancièreDocumento4 páginasO Instante Decisivo Forjado - Jacques RancièreIakima Delamare100% (1)
- MACHADO, Arlindo - Arte e MídiaDocumento15 páginasMACHADO, Arlindo - Arte e MídiaGabriela AlmeidaAinda não há avaliações
- Antropologia Visual: A Verdade e A Poética Na ImagemDocumento5 páginasAntropologia Visual: A Verdade e A Poética Na ImagemmaluazzoniAinda não há avaliações
- Caminhante, Não Há Caminho. Só Rastros. Ana Cristina Colla.Documento208 páginasCaminhante, Não Há Caminho. Só Rastros. Ana Cristina Colla.Bruna Sabrina100% (1)
- Slow Cinema: a memória e o fascínio pelo tempo no documentário contemporâneoNo EverandSlow Cinema: a memória e o fascínio pelo tempo no documentário contemporâneoAinda não há avaliações
- As Imagens na História: o cinema e a fotografia nos séculos XX e XXINo EverandAs Imagens na História: o cinema e a fotografia nos séculos XX e XXIAinda não há avaliações
- Meneses Ulpiano Rumo Historia Visual 1Documento9 páginasMeneses Ulpiano Rumo Historia Visual 1fabio_tmasudaAinda não há avaliações
- Meneses, Ulpiano - Rumo História VisualDocumento9 páginasMeneses, Ulpiano - Rumo História VisualGrausuarioAinda não há avaliações
- Novas e Velhas Tendencias Do Cinema Portugues Contemporaneo - LivroDocumento443 páginasNovas e Velhas Tendencias Do Cinema Portugues Contemporaneo - LivroHugo BolaAinda não há avaliações
- Antropologia e ImagemDocumento4 páginasAntropologia e ImagemAnaCarlaBarrosSobreiraAinda não há avaliações
- Seis Propostas para Os Corpos Deste Milênio - Danilo PatzdorfDocumento19 páginasSeis Propostas para Os Corpos Deste Milênio - Danilo PatzdorfDanilo PatzdorfAinda não há avaliações
- Tempo Da Representacao em A Sociedade Do Espetáculo - Daniel DalmoroDocumento185 páginasTempo Da Representacao em A Sociedade Do Espetáculo - Daniel DalmoroJP HaddadAinda não há avaliações
- Filme Cultura - Cinema de Genero - 61Documento100 páginasFilme Cultura - Cinema de Genero - 61Rodrigo CarreiroAinda não há avaliações
- MENOTTI, Gabriel. Curadoria, Cinema e Outros Modos de Dar A Ver.Documento229 páginasMENOTTI, Gabriel. Curadoria, Cinema e Outros Modos de Dar A Ver.Victor GuimaraesAinda não há avaliações
- A Unidade Múltipla. Ensaios Sobre A PaisagemDocumento275 páginasA Unidade Múltipla. Ensaios Sobre A PaisagemGustavo ChiesaAinda não há avaliações
- RESENHA O Que Vemos, o Que Nos OlhaDocumento3 páginasRESENHA O Que Vemos, o Que Nos OlhaJosé JúniorAinda não há avaliações
- ARTIGO Viviane Furtado MatescoDocumento15 páginasARTIGO Viviane Furtado MatescoJuliana NotariAinda não há avaliações
- A Educacao Do Nao-Artista Parte I - Allan KaprowDocumento13 páginasA Educacao Do Nao-Artista Parte I - Allan KaprowLetícia BertagnaAinda não há avaliações
- DISCIPLINA PPGMPA - Ilana FeldmanDocumento9 páginasDISCIPLINA PPGMPA - Ilana FeldmanHaroldo LimaAinda não há avaliações
- Aby Warburg e Walter Benjamin A Legibilidade Da MemoriaDocumento18 páginasAby Warburg e Walter Benjamin A Legibilidade Da MemoriaPriscilla StuartAinda não há avaliações
- A Magia Da Imagem - GullarDocumento2 páginasA Magia Da Imagem - Gullarodranoel2014Ainda não há avaliações
- BEIGUELMAN Giselle - Admiravel Mundo Cibrido - ArtigoDocumento13 páginasBEIGUELMAN Giselle - Admiravel Mundo Cibrido - ArtigoAndré Quintino LopesAinda não há avaliações
- O Contraste Do OlharDocumento22 páginasO Contraste Do OlharRafael SandimAinda não há avaliações
- Representação em Bataille e BaconDocumento8 páginasRepresentação em Bataille e Baconodranoel2014Ainda não há avaliações
- Kinografia (Texto para DançaEmFoco)Documento13 páginasKinografia (Texto para DançaEmFoco)Alexandre VerasAinda não há avaliações
- BRAZIL, André - Modulação-Montagem - Ensaio Sobre Biopolítica e Experiência EstéticaDocumento220 páginasBRAZIL, André - Modulação-Montagem - Ensaio Sobre Biopolítica e Experiência EstéticaPatricia de Oliveira IuvaAinda não há avaliações
- GROSSMANN Do Ponto de Vista Da Dimensionalidade PDFDocumento9 páginasGROSSMANN Do Ponto de Vista Da Dimensionalidade PDFrogerio camaraAinda não há avaliações
- A Cidade e A ImagemDocumento365 páginasA Cidade e A ImagemFelipe GonçalvesAinda não há avaliações
- Corpo e Fotografia Luana NavarroDocumento37 páginasCorpo e Fotografia Luana NavarroStéphane DisAinda não há avaliações
- Poéticas Das Imagens Desdobradas.Documento20 páginasPoéticas Das Imagens Desdobradas.simoneAinda não há avaliações
- Fros, Frederic. Desobedecer. 9-18Documento13 páginasFros, Frederic. Desobedecer. 9-18Enndiel Mendes100% (1)
- Carnavalização e Multidentidade CulturalDocumento30 páginasCarnavalização e Multidentidade CulturalRenaldo Mazaro Jr.Ainda não há avaliações
- Conceito de Warburg de KULTURWISSENSCHAFTDocumento18 páginasConceito de Warburg de KULTURWISSENSCHAFTCarine K100% (1)
- Friedrich Kittler, o Fonógrafo e RilkeDocumento27 páginasFriedrich Kittler, o Fonógrafo e RilkeJorgeLuciodeCamposAinda não há avaliações
- SANTAELLA Lucia - Culturas e Artes Do Pos-Humano - Cap 6Documento8 páginasSANTAELLA Lucia - Culturas e Artes Do Pos-Humano - Cap 6Feijão OrestesAinda não há avaliações
- Gombrich Interpretar Obra de ArteDocumento16 páginasGombrich Interpretar Obra de ArteNatalia Catalina Leon GalarzaAinda não há avaliações
- Cinema Expandido - Uma Perspectiva IntermediariaDocumento249 páginasCinema Expandido - Uma Perspectiva Intermediariaedimgh9995Ainda não há avaliações
- Mestiçagens Na Arte Contemporânea - Icleia Borsa CattaniDocumento3 páginasMestiçagens Na Arte Contemporânea - Icleia Borsa CattaniKathleen OliveiraAinda não há avaliações
- Margarida MedeirosDocumento13 páginasMargarida MedeirosAline Soares LimaAinda não há avaliações
- Arte Como Experiencia PalestraDocumento20 páginasArte Como Experiencia PalestraMarcos Dos SantosAinda não há avaliações
- Arthur Danto e o Fim Da ArteDocumento6 páginasArthur Danto e o Fim Da ArteAntonioSimesSilva0% (1)
- O Sujeito Na Tela:: Modos de Enunciação No Cinema e No CiberespaçoDocumento4 páginasO Sujeito Na Tela:: Modos de Enunciação No Cinema e No CiberespaçoClecyo de SousaAinda não há avaliações
- Dissertacao Rubem BarrosDocumento208 páginasDissertacao Rubem BarrosHelgaPeresAinda não há avaliações
- COUQUELIN, Ligia. O Legado Dos Anos 60 e 70Documento13 páginasCOUQUELIN, Ligia. O Legado Dos Anos 60 e 70TatianaFunghettiAinda não há avaliações
- André Parente 01Documento13 páginasAndré Parente 01Bruno DornelesAinda não há avaliações
- A Musica No CinemaDocumento11 páginasA Musica No CinemaRodrigo Carreiro100% (1)
- BertrandSL Luz SombraDocumento326 páginasBertrandSL Luz SombraAna Maria AnaAinda não há avaliações
- O Problema Do Estilo Na Obra de José Mojica Marins - Revista GaláxiaDocumento12 páginasO Problema Do Estilo Na Obra de José Mojica Marins - Revista GaláxiaRodrigo CarreiroAinda não há avaliações
- Sonoridades No CinemaDocumento148 páginasSonoridades No CinemaAntônio FigueiredoAinda não há avaliações
- Rebeca 2Documento293 páginasRebeca 2Rodrigo CarreiroAinda não há avaliações
- 10.a Meneses. Rumo À História Visual PDFDocumento9 páginas10.a Meneses. Rumo À História Visual PDFCaro LaraAinda não há avaliações
- Apostila - Análise Química Quantitativa 2016Documento106 páginasApostila - Análise Química Quantitativa 2016Dalton Almeida100% (1)
- ARAUJO, Valdei Lopes De. A Experiencia Do Tempo - Modernidade e Historicização No Imperio Do Brasil (1813-1845), 2003, Parte 2Documento34 páginasARAUJO, Valdei Lopes De. A Experiencia Do Tempo - Modernidade e Historicização No Imperio Do Brasil (1813-1845), 2003, Parte 2marcos.peixotoAinda não há avaliações
- DNIT 010 04 - Inspeção em Pontes e Viadutos de Concreto Armado e Protendido - ProcedimentoDocumento18 páginasDNIT 010 04 - Inspeção em Pontes e Viadutos de Concreto Armado e Protendido - ProcedimentoJefferson Ulissesda CunhaAinda não há avaliações
- A Luta Pela Mente - William SargantDocumento145 páginasA Luta Pela Mente - William SargantMarco Aurélio Crespo AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Tese Mestrado Final PDFDocumento113 páginasTese Mestrado Final PDFPatrícia EstevesAinda não há avaliações
- Fichamento Ivo TonetDocumento28 páginasFichamento Ivo TonetZeila DutraAinda não há avaliações
- Introdução Tese Jan Leonardi - Revisão de Método ClinicoDocumento23 páginasIntrodução Tese Jan Leonardi - Revisão de Método ClinicoDih LuizAinda não há avaliações
- A Experiência FiladélfiaDocumento17 páginasA Experiência FiladélfiaRita CamposAinda não há avaliações
- A Didática Na Perspectiva Multi - Intercultural em Ação - Construindo Uma PropostaDocumento19 páginasA Didática Na Perspectiva Multi - Intercultural em Ação - Construindo Uma PropostaClaudemiro LimaAinda não há avaliações
- Caso Xpresso LubeDocumento1 páginaCaso Xpresso LubecastroanasilvaAinda não há avaliações
- Curiosidade Ciêntifica PDFDocumento7 páginasCuriosidade Ciêntifica PDFKesia Lucia Maria OliveiraAinda não há avaliações
- Metodologia CientíficaDocumento358 páginasMetodologia CientíficaSandra M. FankAinda não há avaliações
- 3) A Terapia Centrada No Paciente - RogersDocumento24 páginas3) A Terapia Centrada No Paciente - RogersMelissa De Oliveira GuirelliAinda não há avaliações
- Anais Do Congresso de Humanização PDFDocumento389 páginasAnais Do Congresso de Humanização PDFAnna Cecília ChavesAinda não há avaliações
- Malheiros-2011 - Metodologia-V.3.2Documento33 páginasMalheiros-2011 - Metodologia-V.3.2gab composiçãoAinda não há avaliações
- RICCARDI, Mattia. O Nietzsche Tardio e A Tese Da Falsificação PDFDocumento20 páginasRICCARDI, Mattia. O Nietzsche Tardio e A Tese Da Falsificação PDFRoberto SouAinda não há avaliações
- Burak - Modelagem Matemática, Experiências Vividas PDFDocumento12 páginasBurak - Modelagem Matemática, Experiências Vividas PDFxamanianAinda não há avaliações
- Ajuste Nao-Linear Utilizando o GraceDocumento5 páginasAjuste Nao-Linear Utilizando o GraceMarina CassagoAinda não há avaliações
- Protocolo para Avaliação Da Eficiência Agronômica de Remineralizadores de Solo - Uma Proposta Da EmbrapaDocumento21 páginasProtocolo para Avaliação Da Eficiência Agronômica de Remineralizadores de Solo - Uma Proposta Da EmbrapaDiego VeneuAinda não há avaliações
- Larrosa 2004Documento17 páginasLarrosa 2004CelitaAlmeidaAinda não há avaliações
- João de BarrosDocumento265 páginasJoão de BarrosAnton DylanAinda não há avaliações
- Roteiros para Fichamentos (Teórico e Experimental)Documento3 páginasRoteiros para Fichamentos (Teórico e Experimental)edu76Ainda não há avaliações
- Mangue's School Ou Por Uma Pedagogia RizomáticaDocumento28 páginasMangue's School Ou Por Uma Pedagogia RizomáticaMarianaAragãoAinda não há avaliações
- O Empirismo de David HumeDocumento31 páginasO Empirismo de David HumeMnAinda não há avaliações
- Yázigi Travel Magazine - 2012/2013Documento57 páginasYázigi Travel Magazine - 2012/2013Yázigi TravelAinda não há avaliações
- Como Evitar ConflitosDocumento5 páginasComo Evitar ConflitosidaportooliveiraAinda não há avaliações