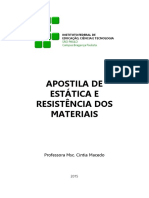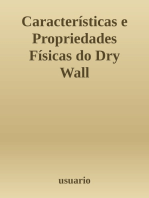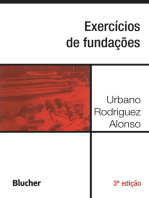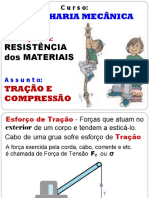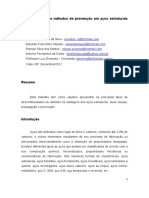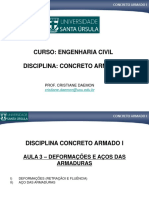Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Projeto Estrutural TCC
Projeto Estrutural TCC
Enviado por
EscoladeSoftware EditoraLaiza0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
30 visualizações44 páginasTítulo original
PROJETO ESTRUTURAL TCC
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
30 visualizações44 páginasProjeto Estrutural TCC
Projeto Estrutural TCC
Enviado por
EscoladeSoftware EditoraLaizaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 44
ALNE PAULA ASSMAN
ANA CAROLNA CURVNA UBALDO
JACKSON
JSSCA KLEMM NUERNBERG
PRSCLA DALMAGRO PENNA
PROJETO ESTRUTURAL
Pato Branco, Abril de 2010.
1
Ministrio da Educao
Universidade Tecnolgica Federal do Paran
Campus Pato Branco
Curso de Engenharia Civil
U!"ERS!#A#E TECOL$%!CA &E#ERAL #O PARA'
PR
PROJETO ESTRUTURAL
Pato Branco, Abril de 2010.
2
Trabalho apresentado na disciplina de
ntroduo engenharia, como
avaliao referente ao 1 semestre.
Professor: Rogrio Carrazedo
RESUMO
Este trabalho aborda o conceito de estruturas para a engenharia, assim como
os elementos estruturais indispensveis num projeto, que envolve vigas, pilar,
lajes, trelias, cabos e arcos, ou uma mistura destes. nclui, tambm, os
diferentes materiais que podem constituir um projeto estrutural (madeira, ao,
concreto armado) e as vantagens e desvantagens de cada um. Abrange as
foras atuantes nas estruturas e como agem nos diferentes elementos. Por fim,
trs as patologias relacionadas com as estruturas e que representam um fator
de risco. O trabalho apresenta textos e figuras referenciadas e tem como intuito
o aprendizado e o compartilhamento dos conhecimentos adquiridos.
Palavras(chave) Projeto estrutural. Elementos estruturais bsicos. Ao.
Concreto Armado. Madeira. Patologias.
3
SUM'R!O
L!STA #E &!%URAS*******************************************************************************************+
L!STA #E TA,ELAS*******************************************************************************************-
.* !TRO#U/0O*******************************************************************************************1
2* #E&!!/0O #E ESTRUTURA******************************************************************3
4* ELEMETOS ESTRUTURA!S ,'S!COS************************************************3
3.1. CABO.....................................................................................................9
3.2. ARCOS.................................................................................................10
3.3. VGAS...................................................................................................10
3.4. PLARES..............................................................................................12
3.5. LAJES..................................................................................................13
3.6. TRELA..............................................................................................13
5* RELA/0O ETRE S!STEMAS ESTRUTURA!S E OS MATER!A!S*****.5
+* ESTRUTURAS E AS &OR/AS 6UE A%EM SO,RE ELAS*****************.+
5.1. TPOS DE FORAS............................................................................16
5.1.1. Foras Permanentes........................................................................16
5.1.2. Foras Temporrias..........................................................................16
5.2. DSTRBUO DAS CARGAS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAS17
5.2.1. Laje...................................................................................................17
5.2.2. Vigas.................................................................................................18
-* ESTRUTURAS #E A/O*************************************************************************25
6.1. HSTRA............................................................................................24
6.2. COMPOSO DO MATERAL...........................................................25
6.3. VANTAGENS DO USO DE ESTRUTURAS DE AO..........................26
6.4. DESVANTAGENS DO USO DE ESTRUTURAS DE AO..................27
7* ESTRUTURAS #E COCRETO ARMA#O*******************************************21
7.1. RESSTNCA DO CONCRETO.........................................................30
7.2. TRANSFORMAES NO CONCRETO..............................................31
7.3. AO USADO NO CONCRETO ARMADO...........................................32
7.4. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CONCRETO ARMADO.........32
1* ESTRUTURAS #E MA#E!RA****************************************************************44
3* PATOLO%!AS EM E#!&!CA/8ES*********************************************************4+
4
9.1. LXVAO.........................................................................................36
9.2. TRNCAS, RACHADURAS E FSSURAS............................................37
.9* COCLUS0O******************************************************************************************5.
..* RE&ER:C!AS***************************************************************************************52
5
L!STA #E &!%URAS
&!%URA .) Estruturas ;le<=veis........................................................................10
&!%URA 2) "iga e> ?alano.............................................................................11
&!%URA 4) "iga ?ia@oiada................................................................................11
&!%URA 5) "iga cont=nua.................................................................................12
&!%URA +) "iga "ierendeel..............................................................................12
&!%URA -) #istri?uio do carrega>ento nos @ilares de u> edi;=cio........13
&!%URA 7) Modelo de trelia...........................................................................14
&!%URA 1) CAlculo da laBe so?re a viga.........................................................19
&!%URA 3) LaBe ;or>ada @or tra@Cios e triDngulos.....................................20
&!%URA .9) Ponte de &erro so?re o rio SevernE na !nglaterra.....................25
&!%URA ..) Produo do ao..........................................................................26
&!%URA .2( Co>@resso e Trao e> "o PeFueno...................................28
&!%URA .4( Arcos e> "os Maiores *............................................................29
&!%URA .5) Seo Transversal da viga *........................................................29
&!%URA .+ ( Seo Longitudinal da viga ......................................................30
&!%URA .-) Li<iviao*....................................................................................36
&!%URA .7) Trincas..........................................................................................37
&!%URA .1) E<e>@los de trincas a 5+G* ........................................................38
6
L!STA #E TA,ELAS
TA,ELA .) Relao entre os >ateriais e os siste>as estruturais..............15
TA,ELA 2) ResistHncia a co>@resso e a trao.........................................26
7
1. !TRO#U/0O
Uma estrutura criada para servir a um propsito definido. Os
requerimentos podem ser para: abrigar um espao (coberturas), suportar
veculos (pontes) e mquinas, ou conter ou reter materiais (silos, barragens).
Uma estrutura pode ser projetada com o propsito de trafegar no espao, estar
sobre o terreno ou enterrada, flutuar ou ser submergida.
Para que ela cumpra o seu propsito, distintos objetivos de projetos
devem ser especificados e satisfeitos, como por exemplo: segurana,
durabilidade, performance em servio e conforto dos usurios. Alm desses, a
esttica ou aparncia da estrutura deve ser seriamente considerada.
De maneira a cumprir com esses e outros objetivos de projeto, devemos
ter um entendimento aprofundado do comportamento dos materiais, dos
componentes estruturais e do sistema estrutural como um todo. Dentre os mais
importantes objetivos de um projeto ressalta-se a segurana estrutural.
Rupturas localizadas, distores excessivas, fadiga do material, flambagem e
formao de mecanismos plsticos em um sistema estrutural so inaceitveis
sob quaisquer circunstncias, j que tais modos de colapso podem resultar em
pesadas perdas materiais e, acima de tudo, de vidas humanas.
Alm da segurana contra o colapso, uma estrutura deve satisfazer os
critrios de utilizao, isto , todos os aspectos de performance devem ser
aceitveis para o uso pretendido. O engenheiro estrutural almeja o melhor uso
dos materiais disponveis e o menor custo possvel de construo e
manuteno da estrutura.
O Projeto Estrutural, tambm chamado de Clculo Estrutural o
dimensionamento das estruturas, sejam elas de concreto armado, madeira ou
ao, que vo sustentar a edificao, transmitindo as suas cargas ao terreno.
Elaborado por um engenheiro civil, esse projeto de fundamental importncia,
pois o responsvel pela segurana do prdio contra rachaduras (trincas) e
desabamentos. Uma estrutura com lajes, vigas, pilares e fundaes
superdimensionados representa custos altos e no significa obrigatoriamente
segurana.
8
2. #E&!!/0O #E ESTRUTURA
primeira vista a resposta a esta pergunta parece bvia: estrutura
tudo aquilo que sustenta, tal qual o esqueleto humano. No entanto, o conceito
de estrutura mais amplo e encontra-se em todas as reas do conhecimento
humano.
Segundo Rebello (2000), se perguntarmos a um msico o que ele
entende por estrutura, a resposta poder ter palavras diferentes daquelas ditas
por um engenheiro ou um arquiteto, mas a idia bsica ser a mesma. Assim,
estrutura um conjunto, um sistema, composto de elementos que se inter-
relacionam para desempenhar uma funo, permanente ou no.
No caso das edificaes, a estrutura o conjunto de elementos lajes,
vigas e pilar que se inter-relacionam laje apoiando em viga, viga apoiando
em pilar para desempenhar uma funo: criar um espao em que pessoas
exercero diversas atividades.
3. ELEMETOS ESTRUTURA!S ,'S!COS
Os principais tipos de elemento estrutural, de acordo com a geometria e
o tipo de esforo suportado, so:
CABO
O cabo, geralmente feito de ao, uma barra cujo comprimento
predominante, o que o torna flexvel, ou seja, no apresenta rigidez nem
compresso nem flexo. O cabo apresenta resistncia apenas quando
tracionado, devendo ser usado em situaes em que ocorra esse tipo de
esforo, como em pontes (REBELLO, 2000).
A Figura 1 demonstra como uma estrutura flexvel, como um cabo, muda
drasticamente de forma, ao variar do carregamento.
9
FGURA 1: Estruturas flexveis (adaptado de SHODEK, 1992)
ARCOS
Arcos so elementos estruturais bastante usados em obras da
engenharia civil devido sua capacidade de vencer grandes vos sem colunas
intermedirias. Pontes, galpes, hangares e ginsios so alguns exemplos de
construes onde se verifica a aplicao desse elemento estrutural (REBELLO,
2000).
VGAS
As vigas so os elementos da estrutura que recebem as reaes das
lajes, e eventualmente de outras vigas, e as transmitem para os pilares. So
elementos geralmente horizontais, sujeitos a cargas transversais ao seu eixo
longitudinal, trabalhando essencialmente flexo.
As vigas numa estrutura de concreto armado podem ser revestidas ou
aparentes. Para edifcios residenciais e comerciais, com freqncia opta-se por
esconder a estrutura, ou seja, o revestimento cobre as vigas e pilares.
H alguns anos atrs, era comum projetar vigas em quase todas as
posies de paredes, o que levava a um grande consumo de frmas.
Atualmente, dado ao custo das frmas e agilidade construtiva, comum se
considerar paredes descarregando seu peso prprio diretamente sobre lajes, o
que conduz a estruturas menos recortadas, lajes maiores e menos vigas.
As vigas no precisam descarregar diretamente sobre pilares, podendo
existir apoio de viga sobre viga. A viga de maior altura, sendo a de menor vo,
tem rigidez muito superior quela de menor altura, de modo que a menor se
apoia na maior, denominada viga principal (UFV, 2010).
A viga um elemento estrutural que se caracteriza por transmitir cargas
verticais ao longo de um vo atravs de um eixo horizontal. Dessa forma, o vo
sob a viga totalmente livre e aproveitvel, o que no ocorre no cabo e no
10
arco, cujos eixos so curvos e limitam parte do espao sob eles. Graas a essa
virtude, a viga o sistema estrutural mais usado. (REBELLO, 2000)
As edificaes basicamente apresentam trs tipos de vigas, que diferem
na forma em que so ligados aos seus apoios. As vigas podem ser:
Viga em balano ou em console: uma viga de edificao com um s
apoio, como a da Figura 2. Toda a carga recebida transmite a um
nico ponto de fixao;
FGURA 2: Viga em balano (Fonte: autoria prpria).
Viga biapoiada ou simplesmente apoiada: diz-se das vigas com dois
apoios, representada na Figura 3, que podem ser simples e/ou
engastados, gerando-se vigas do tipo simplesmente apoiadas, vigas
com apoio simples e engaste, vigas biengastadas;
FGURA 3: Viga biapoiada (Fonte: autoria prpria).
Viga contnua: diz-se da viga com mltiplos apoios, de acordo com a
Figura 4 (WKPDA).
11
FGURA 4: Viga contnua (Fonte: autoria prpria)
H, ainda, um tipo especial de viga, chamada Viga Vierendeel, ilustrada
na Figura 5. A viga Vierendeel consiste num sistema estrutural formado por
barras que se encontram em pontos denominados ns, assim como as trelias.
As barras horizontais da viga Vierendeel so chamadas de membruras e as
verticais, montantes.
FGURA 5: Viga Vierendeel. (Fonte: MUBE)
PLARES
Um pilar um elemento estrutural vertical usado normalmente para
receber os esforos verticais de uma edificao e transferi-los para outros
elementos, como as fundaes. Desta forma, considerado o elemento
estrutural de maior importncia dentro do sistema de estruturas (VDEO
LVRARA).
A distribuio do carregamento nos pilares de um edifcio ocorre
conforme a representada na Figura 6.
12
FGURA 6: Distribuio do carregamento nos pilares de um edifcio. (Fonte: REBELLO,
2000).
A princpio, seria interessante colocar pilares em todos os cruzamentos
de vigas, o que faria com que as cargas percorressem o caminho mais curto
entre o ponto de aplicao e a fundao. Entretanto, uma estrutura pode se
tornar antieconmica e, at mesmo, restritiva sob o ponto de vista funcional,
caso sejam projetados pilares muito prximos uns dos outros. Os pilares
devem se localizar em pontos que no interfiram no conjunto arquitetnico e
no comprometam a circulao de halls, salas, pilotis, garagens, etc. (UFV,
2010).
LAJES
So elementos estruturais planos onde as dimenses em duas direes
prevalecem sobre uma terceira. Normalmente se apresentam na posio
horizontal, e so elas que recebem as cargas que agiro sobre a estrutura. As
lajes podem ser tetos e pisos (CESEC).
TRELA
A trelia, representada na Figura 7, um sistema estrutural formado por
barras que se unem em pontos denominados ns. Constitui um sistema
13
estrutural muito econmico em termos de consumo de material, sendo,
portanto, til para vencer grandes vos. Por este motivo, a trelia muito
empregada em coberturas e pontes (REBELLO, 2000).
A trelia pode ser feita com qualquer material que oferea alguma
resistncia mecnica como o ao, o alumnio, a madeira, o plstico rgido. At
com tubo de papelo possvel construir uma trelia.
Encontramos a trelia nas coisas mais simples, como num suporte de
parede para vasos de flores, uma montanha russa, torre de transmisso de
energia eltrica, etc.
FGURA 7: Modelo de trelia (Fonte: FEC).
4. RELA/0O ETRE S!STEMAS ESTRUTURA!S E OS MATER!A!S
A Tabela 1 tem como objetivo facilitar a visualizao da compatibilidade
entre os sistemas estruturais e os materiais disponveis o ao, o concreto
armado e a madeira. A tabela mostra, em princpio, o ao como o material mais
verstil, seguido pelo concreto armado, e a madeira como o mais limitado. As
notas de 1 a 5 so resultados da avaliao de 5 pontos, ou seja:
1 = Pssimo, 2 = Ruim, 3 = Regular, 4 = Bom e 5 = timo. (REBELLO, 2000).
S!STEMAS
ESTRUTURA!S
A/O COCRETO MA#E!RA
Cabo 5 1 1
Arco 4 4 4
Viga 4 4 3
Trelia 5 2 4
Viga Vierendeel 4 4 3
Total 22 15 14
TABELA 1: Relao entre os materiais e os sistemas estruturais. (Fonte: REBELLO, 2000)
14
5. ESTRUTURAS E AS &OR/AS 6UE A%EM SO,RE ELAS
Antes de iniciar o estudo da estrutura e de como a fora atua sobre a
mesma ser necessrio conceituar o que fora. "Denomina-se fora ao
resultado de uma massa submetida a uma acelerao. Pode traduzir este
fenmeno pela relao F= MxA, onde F a fora, M a massa e A a acelerao
Sendo que a fora possui intensidade, direo e sentido. Para o exemplo ser
utilizado fora gravitacional ou fora peso e que muito interessa ao clculo
estrutural. Para se definir a fora peso de algum objeto necessrio conhecer
sua massa e sua acelerao no caso a da gravidade terrestre em torno de 9,8
m/s para assim aplicar na expresso matemtica vista acima em geral a fora
expressa em Newton (REBELLO, 2000).
A estrutura um conjunto de elementos (laje, viga, pilar) que tem por
finalidade construir espaos. Esses elementos interagem entre si de maneira a
garantir a estabilidade ou equilbrio da edificao. De um modo geral essa
relao ocorre da seguinte forma: as lajes depositam suas cargas nas vigas,
estas por conseqncia levam as cargas recebidas das lajes mais as suas at
os pilares que finalmente distribuem suas cargas nas fundaes que levam ao
solo, destino final das foras que atuam em toda a estrutura.
Como se pode perceber a estrutura se comporta como um "caminho
uma "estrada por onde as foras "trafegam at chegarem ao solo, seu destino
final. Mas que foras so essas e qual a necessidade de seu entendimento?
Segundo Rebello (2000), de estrema importncia que se conhea
todas as foras que atuam na estrutura, em sua intensidade direo e sentido,
e de que forma elas se relacionam com o complexo estrutural. Assim, podem-
se dimensionar as componentes estruturais de forma a responder bem a todas
as cargas quem iro agir na estrutura at seu caminho final, o solo, garantido
dessa forma a segurana e confiabilidade da edificao.
5.1. TPOS DE FORAS
15
As foras externas que agem na estrutura so chamadas cargas e so
basicamente de dois tipos: de ventos e gravitacionais, a primeira em geral tem
direo horizontal enquanto a segunda tem direo vertical, podem ser
permanentes ou no. As foras permanentes so denominadas cargas
permanentes e as foras espordicas so denominadas cargas acidentais.
5.1.1. Foras Permanentes
Foras permanentes, ou cargas permanentes, ocorrem durante toda a
vida til da edificao, nunca deixam de existir a menos que a edificao seja
demolida, estas cargas podem ser determinadas com grande preciso em
intensidade, direo e sentido e so de origem exclusivamente gravitacional,
ou seja, o peso.
So exemplos de foras permanentes:
Peso da prpria estrutura;
Peso dos revestimentos de piso;
Peso das paredes e cobertura.
Embora o efeito da chuva seja acidental levado em conta no peso das
telhas e revestimentos j que estes so sempre considerados encharcados
(REBELLO, 2000).
5.1.2. Foras Temporrias
Foras temporrias, ou cargas acidentais, so cargas provenientes do
peso das pessoas, peso de mveis, peso de carros e foras de ventos entre
outras.
Vale salientar que a frenagem dos carros resulta em fora e tem sentido
horizontal na estrutura da mesma forma que as foras de ventos, porm, essa
leva em considerao as dimenses da edificao. So estas foras de difcil
determinao e variam do tipo de edificao e por esse motivo seguem normas
da NBR 6120 da ASSOCAO BRASLERA DE NORMAS TECNCAS.
16
5.2. DSTRBUO DAS CARGAS NOS ELEMENTOS ESTRUTURAS
Todas as cargas se distribuem de maneira diferente entre todos os
elementos da estrutura e devem ser consideradas separadamente.
5.2.1. Laje
Como a laje uma superfcie, logo, a carga que atua sobre esta se
distribui uniformemente sobre ela. As foras permanentes que atuam nas lajes
so seu prprio peso e o peso dos revestimentos. Tambm h as cargas
ocasionais que devem ser levadas em considerao nos clculos para projetar
as lajes.
Como umas das foras em que esta sujeita o seu prprio peso, deve
se calcular o peso do volume de concreto armado por metro quadrado de laje.
Para isso se deve conhecer a massa especifica do concreto armado e a altura
da laje. Como se leva em conta o metro quadrado de laje multiplica-se apenas
a dimenso altura pela massa especifica do concreto armado utilizado, j as
cargas acidentais podem ser conhecidas pela NBR 2160.
Peso especifico de 1m de laje = H(altura da laje)*(massa especifica)
Peso do revestimento: Varia de acordo com o material e espessura do
contra piso, geralmente usa-se 100kgf/m.
Peso de cargas ocasionais: definido pela norma brasileira e depende
do tipo de uso das edificaes como residenciais, comerciais ou
institucionais.
Ento, para calcular todo o peso sobre a laje soma-se seu prprio peso
+ o peso do revestimento + cargas acidentais. Segue um exemplo deste
clculo:
Peso especfico do concreto armando: 2500 kgf/m.
Altura de da laje: 0.12m
Peso especfico do revestimento: 100 kgf/m
Peso especfico acidental: (definido pela NBR para escritrio) 200 kgf/m.
17
Peso da laje (m): altura*massa especifica
Peso da laje (m): 0.12m * 2500kgf/m
Peso da laje (m): 300kgf/m
Carga Total ncidindo na Laje por Metro Quadrado
Peso da laje + Carga do revestimento + Carga acidental
Carga da laje (m): 300kgf/m +100kgf/m+200m
Carga da laje (m): 600kgf/m
5.2.2. Vigas
As vigas diferentemente da laje so consideradas elementos lineares,
logo as foras que atuam sobre elas, so da mesma forma lineares.
As cargas que atuam sobre uma viga so a soma de seu prprio peso +
peso de toda a carga da laje + peso das paredes e so calculadas por metro
linear. (Tambm o peso concentrado de uma viga que se apoia sobre a outra
levado em considerao).
Cargas vindas do @rI@rio @eso da viga) Para calcular o peso da viga por
metro linear basta conhecer o volume da viga de um metro linear e multiplicar
pela massa especifica do concreto armado.
Peso especifico de 1 m de viga = H(altura da viga)*B (base) *(massa especifica concreto)
Cargas @rovenientes das laBes) Antes da se calcular as cargas provenientes
das lajes sobre as vigas, necessrio conhecer as dimenses da laje, j que
estas influenciam na forma em que as cargas se distribuem sobre a viga. A
relao entre o vo das lajes determina se elas sero armadas em cruz ou
apenas em uma nica direo, assim quando um dos vos da laje for muito
superior ao outro a laje ser armada em uma nica direo, quando essa
diferena no for to expressiva ela ser armada em cruz. Na pratica vale a
regra; Caso o vo maior seja maior do que o dobro do vo menor a laje ser
armada em uma nica direo e devido rigidez do vo menor as cargas que
18
atuam no vo menor podem ser desprezadas, no entanto, se o vo maior for
menor ou igual do que o dobro do vo menor a laje ser armada nas duas
direes (cruz) e os esforos sobre as vigas sero significativos nos dois vos.
Relao entre os vos da laje:
Laje armada em uma nica direo: L(lado maior da laje) > 2* l(lado menor)
Laje armada em cruz: L(lado maior da laje) > 2* l(lado menor)
Cargas @rovenientes de laBes ar>adas nu>a Jnica direo) Neste caso a
distribuio das cargas nas vigas que a suportam acontecem apenas nas vigas
que sustentam o vo maior e as vigas do vo menor g+ no receberam outras
cargas seno a de seu prprio peso, cargas vidas de vigas que se apiam uma
nas outras e as cargas das alvenarias, j que as cargas da laje no iram
interagir com elas. Para efeito de clculo para se determinar a carga vinda laje
na viga por metro linear se utiliza uma faixa de um metro de largura da laje na
direo do vo menor e multiplica-se pela metade comprimento do vo menor,
pois as cargas sero divididas em duas vigas.
Carga da laje sobre a viga: Peso especfico da laje* (lado menor da viga/2)
Verificar Figura 8:
FGURA 8: Clculo da laje sobre a viga (Fonte: autoria prpria).
Carga da laje sobre a viga por metro linear: Peso especfico da laje* (lado
menor da viga/2)
Carga da laje sobre a viga por metro linear: 600kgf/m* (3m/2)
Carga da laje sobre a viga por metro linear: 900kgf/m
1m
3
m
7m
19
Cargas @rovenientes de laBes ar>adas e> cruC: Coma j se sabe estas
cargas se distribuem em todas as vigas que sustentam a laje, para uma forma
geral de lajes retangulares. As cargas se distribuem de maneira diferente entre
as vigas de cada vo, os vo maiores recebem um valor equivalente a rea de
um trapzio de carga enquanto o vo menor recebe um valor igual a rea do
tringulo, como se pode ver na figura abaixo. Essas relaes foram
descobertas observando as linhas de rupturas das lajes, que so as mesmas
que delimitam os trapzios e os tringulos.
FGURA 9: Laje formada por trapzios e tringulos (Fonte: autoria prpria)
Por relaes trigonomtricas e de geometria plana possvel determinar
a rea de cada uma das figuras representadas na Figura 9, para assim ser
possvel determinar a carga de carregamento das vigas em cada um dos vos.
rea do tringulo= (B(base)*H(altura))/2
Altura do tringulo= l(lado menor da laje)/2
Base: A base do tringulo o lado menor da laje
Logo carga do tringulo pode ser obtida pela equao:
Carga total no tringulo: Peso especfico da laje*rea do tringulo
Carga total no tringulo: kgf/m*(lm/4)
45
6m
____________________________________________
5
m
20
Como foi aludido anteriormente que para efeito de clculo considera a carga
por metro linear na viga divide a carga total do tringulo pelo comprimento da
viga menor, ento se tem!
Carga @or >etro linear de viga Kcarga do triDnguloL) kgf/mMKlmN5L
Exemplo:
Carga por metro linear de viga (carga do tringulo): 600kgf/m*(5m/4)
Carga por metro linear de viga "carga do tringulo#: $%0kgf/m
rea do trapzio= [(B(base maior)+b(base menor)/2]*H(altura)
Altura do trapzio= l(lado menor da laje)/2
Base maior: A base maior do trapzio o prprio lado maior da laje
Base menor = L(lado maior da laje) - l(lado menor da laje)
Logo carga do trapzio pode ser obtida pela equao:
Carga total no trapzio: Peso especifico da laje*rea do trapzio
Carga total no trapzio: kgf/m*[(Lm+lm)/2) *lm/2
Como foi aludido anteriormente que para efeito de clculo considera a carga
por metro linear na viga divide a carga total do trap&'io pelo comprimento da
viga maior, ento se tem!
Carga @or >etro linear de viga Kcarga do tra@CioL) kgf/mMl>N5MO2(
KlmNLmLP
Exemplo:
Carga por metro linear de viga (carga do trapzio): 600kgf/m*5m/4*[2-(5m/6m)]
Carga por metro linear de viga "carga do trap&'io#: ($%kgf/m
Cargas @rovenientes das alvenarias) Da mesma forma como as lajes as
alvenarias (paredes e seus revestimentos), tambm depositam suas cargas
sobre as vigas. Como j foi visto anteriormente interessante para efeito de
clculo estrutural considerar a carga depositada na viga por metro linear. Para
determinar o peso das alvenarias importante calcular o peso do volume de 1
metro de largura de alvenaria ao longo do comprimento da viga. Porm para
isso necessrio determinar antes o peso do metro cbico da alvenaria
utilizada. Embora as alvenarias mudem de edificao para edificao abaixo
so apresentados as massas especificas das alvenarias mais utilizadas.
21
Lava-se em considerao que os blocos e tijolos so revestidos (parede com
acabamento).
Tijolos de barro macios 1680kgf/m
Tijolos cermicos 1120kgf/m
Bloco de concretos 1250kgf/m
As cargas das alvenarias sobre as vigas so dadas pela funo matemtica.
Carga da alvenaria) K>assa es@eci;ica da alvenariaLM,K?ase da @aredeLMQKalturaL
Carga da alvenaria: 1680kgf/m*0,22m*2,80m
Carga da alvenaria: )0*+,*(kgf/m
Para um melhor entendimento ser feita uma demonstrao qualquer sobre as
cargas agindo nas vigas e lajes.
Sero utilizados os dados das cargas obtidas nas demonstraes acima.
,-emplo do calculo para laje armada em uma .nica dire/o "01 23l#
Peso especfico da laje: 600kgf/m
Dimenses da laje: 7m x 3m
Peso viga= H(altura da viga)*B (base) *(massa especifica concreto)
Peso viga= 0,30m(altura da viga)*0,22m (base) *2500kgf/m(massa especifica concreto)
Peso viga= 165kgf/m
Carga das alvenarias: 1034,38kgf/m
Dimenses das alvenarias: 0,22m(base da parede)*2,80(altura)
Cargas na viga do vo menor:
Carga da prpria viga: 165kgf/m
Carga da laje sobre a viga: 900kgf /m
Carga da Alvenaria: 1034,38kgf/m
Carga total da viga: peso especfico da viga + carga da laje + carga da
alvenaria
Carga total da viga: 165kgf/m + 900kgf/m + 1034,38kgf/m
22
Carga total da viga: 2099,*(kgf/m
Cargas na viga do vo maior:
Carga da prpria viga: 165kgf/m
Carga da Alvenaria: 1034,38kgf/m
Carga total da viga: peso especfico da viga + carga da alvenaria
Carga total da viga: 165kgf/m +1034,38kgf/m
Carga total da viga: ))99,*(kgf/m
,-emplo do calculo para laje armada em cru' "04 23l#
Peso especfico da laje: 600kgf/m
Dimenses da laje: 6m x 5m
Peso viga= 165kgf/m
Carga das alvenarias: 1034,38kgf/m
Carga da laje por metro linear de viga (carga do trapzio): 875kgf/m
Carga da laje por metro linear de viga (carga do tringulo): 750kgf/m
Carga no vo menor:
Peso viga= 165 kgf/m
Carga das alvenarias: 1034,38 kgf/m
Carga da laje por metro linear de viga (carga do tringulo): 750kgf/m
Carga total por metro linear de viga: peso da viga + carga alvenaria + carga da
laje
Carga total por metro linear de viga: 165 kgf/m 51034,38 kgf/m 5750 kgf/m
Carga total por metro linear de viga: )9+9,*(kgf/m
Carga no vo maior:
Peso viga= 165 kgf/m
Carga das alvenarias: 1034,38 kgf/m
Carga da laje por metro linear de viga (carga do trapzio): 450kgf/m
Carga total por metro linear de viga: peso da viga + carga alvenaria + carga da
laje
Carga total por metro linear de viga: 165 kgf/m 51034,38 kgf/m 5875 kgf/m
23
Carga total por metro linear de viga: 20$+,*( kgf/m
Sabendo que todas as foras tm destino final no solo, as cargas das
lajes e vigas se somaram a dos pilares de sustentao e sero transmitidas ao
solo.
6. ESTRUTURAS #E A/O
HSTRA
Os metais j eram utilizados h cerca de 4000 a 5000 anos a.C., e o ao
j era conhecido desde a antiguidade (egpcios, romanos, chineses). Mas
apenas no sculo XX, advindo da Revoluo ndustrial, as sociedades
alcanam um estgio de desenvolvimento tecnolgico, econmico e social que
acaba por determinar certas necessidades, irrelevantes at ento. Os novos
tempos exigem grandes espaos cobertos para mercados e estaes de trem;
a supresso dos obstculos visuais (paredes e pilares) exigem grandes vos.
Neste momento que a utilizao do metal nas construes se faz
importante, principalmente por sua resistncia (e tambm pela
incombustibilidade). Surgem diferentes sistemas estruturais para a execuo
de edifcios com grandes vos livres e grandes alturas que ampliam as
possibilidades oferecidas pelo material.
O primeiro material siderrgico utilizado em estruturas foi o ferro fundido.
Em meados do sculo XV, aplicado um grande exemplo: a ponte
Coalbroockdale, na nglaterra, com 30 m de vo, ilustrada na Figura 10. Nesse
perodo so construdas diversas pontes usando sistemas estruturais em arcos
e trelias. Seus componentes eram de ferro fundido, trabalhando
principalmente com a compresso.
24
FGURA 10: Ponte de Ferro sobre o rio Severn, na nglaterra. (Fonte: ARQUTETURA DO
FERRO)
O final do sculo XX caracteriza-se pela difuso do ferro fundido, do
ferro laminado e do vidro como materiais construtivos. Sobressai-se o Palcio
de Cristal, de Joseph Paxton, para a Exposio Universal de Londres, em
1851,projeto vencedor de um concurso principalmente em razo do seu
processo construtivo. Paxton props um sistema de unidades moduladas pr-
fabricadas e padronizadas. Ele foi o precursor da pr-fabricao total em
grande escala.
Apesar de ser conhecido desde a antiguidade, apenas aps 1856, com
a inveno pelo ingls Henry Bessemer de um forno apropriado, que o ao
comea a ser produzido em escala industrial. A primeira utilizao estrutural do
ao acontece em 1867, na Ponte Eads, sobre o Rio Mississipi, em St Louis.
COMPOSO DO MATERAL
O ao uma liga metlica constituda fundamentalmente de ferro e
carbono. Alm desses elementos, dependendo do tipo de ao que se quer
obter, so adicionados outros elementos como: mangans, silcio, fsforo,
enxofre, cobre, nquel, nibio, entre outros, que modificam as propriedades
fsicas da liga, como resistncia mecnica, resistncia a corroso, ductilidade e
muitas outras. A produo do ao descrida na Figura 11.
25
FGURA 11: Produo do ao. (Fonte: GERDAU)
VANTAGENS DO USO DE ESTRUTURAS DE AO
A escolha do ao como material estrutural de v ser embasada em
critrios que o confirmem como mais indicado.
ResistHncia a co>@resso) ResistHncia a trao)
o ao = 1500 kg/cm o ao = 1500 kg/cm
o concreto = 100 kg/cm o ao = 1500 kg/cm
o madeira = 85 kg/cm o madeira = 90 kg/cm
TABELA 2: Resistncia a compresso e a trao. (Fonte: GERDAU)
A grande resistncia a grandes esforos, descrita na Tabela 2, talvez
seja a maior vantagem do ao, e como conseqncia disso, o ao permite
peas estruturais com menores dimenses. Com menor dimenso dos
elementos da estrutura, obtm-se menor peso prprio da estrutura, o que
resulta em menor carga na fundao. A grosso modo, uma estrutura de ao
pesa seis vezes menos que uma de concreto armado.
Outra vantagem que a soluo estrutural com ao apresenta um
resultado muito prximo ao modelo terico e o comportamento real. O ao
26
um material mais confivel quanto a suas propriedades, podendo ser aplicado
coeficientes de segurana mais baixos, o que resulta obviamente em
economia.
Uma estrutura de ao consome aproximadamente 60% do tempo necessrio
para a execuo de uma estrutura equivalente de concreto armado.
Em virtude do sistema de industrializao, as dimenses das peas de
ao so muito precisas, e em razo disso, os elementos estruturais podem ser
perfeitamente alinhados, aprumados e nivelados.
Com as ligaes parafusadas, as estruturas de ao podem ser
facilmente desmontadas para uma reutilizao, ou como sucata, pode ser
reaproveitada na fabricao de ao novo. Caso uma edificao tenha seu uso
alterado, ao serem solicitadas por cargas maiores, possvel facilmente
reforar as estruturas de ao.
DESVANTAGENS DO USO DE ESTRUTURAS DE AO
As estruturas metlicas, em nosso pas, apresentam um custo inicial
maior se comparada com estruturas de concreto armado. No Brasil, a produo
de ao ainda baixa e a utilizao do ao em estruturas pequena.
A estrutura de ao necessita de mo-de-obra mais qualificada,
conseqentemente mais cara e tambm mais informada, o que nem sempre
bem vista pelos maus empregadores.
Outro problema srio sobre o ao que ele perde sua resistncia acima
de 550C, situao em que pode ocorrer o colapso da estrutura, porm o ao
possui uma caracterstica favorvel em relao ao fogo, quando cessada sua
exposio, o ao recupera a resistncia inicial.
Um aspecto negativo que pode ser levantado para utilizao do ao a
possibilidade de sua deteriorao com o contato com o ambiente. O ao
enferruja, e a ferrugem causa a diminuio na espessura do elemento
estrutural. H aos especiais, fabricados com a adio de cobre, cromo ou
nquel em sua liga, que apresentam uma camada de oxidao chamada ptina,
que aumenta muito a resistncia do ao a corroso. Em virtude desse
processo, esses aos apresentam o preo mais alto.
27
7. ESTRUTURAS #E COCRETO ARMA#O
O concreto armado teve como precursor a argamassa reforada com
ao, como seus inventores no eram ligados execuo de edificaes, os
primeiros usos ento, foram em estruturas de barcos e vasos de plantas, em
1855 e 1861, por Joseph Talbot e Joseph Monier. S algum tempo depois que
o material foi usado em vigas, pelo ingls Wilkson.
Antigamente usava-se a pedra como principal material de construo.
Ela era muito til em templos, moradias e pontes, por exemplo. Quando usada
como pilares era muito durvel e resistente a compresso. J quando usada
como viga, sofrendo esforos de trao podia ser facilmente rompida
dependendo a carga externa. Pode-se pegar como exemplo uma ponte, a parte
de cima da viga tende a comprimir e a parte de baixo a tracionar, como na
Figura 12 e 13. Se ela for pequena os esforos tambm sero e ento a pedra
agentar. Mas se ela precisa ser muito grande, sofrer muito mais esforos,
ento se usava um recurso que fazia com que cada pedra sofresse s
compresso, foi o incremento de arcos. Sua curva natural e capacidade de
dissipar a fora para fora reduzem em muito os efeitos de trao sobre a parte
de baixo do arco. Os precursores dessa tcnica eram os romanos.
FGURA 12- Compresso e Trao em Vo Pequeno (Fonte: BOTELLO, 1998)
28
FGURA 13- Arcos em Vos Maiores (Fonte: BOTELLO, 1998).
O concreto tambm sofre essa limitao, ou seja, mais resistente
compresso que trao. Em nmeros, a trao representa 10% da
compresso. Eis que houve a ideia de misturar um material resistente
compresso na parte comprimida com outro resistente trao na parte
tracionada, o concreto com o ao, respectivamente.
FGURA 14: Seo Transversal da viga (Fonte: BOTELLO, 1998).
29
FGURA 15 - Seo Longitudinal da viga (Fonte: BOTELLO, 1998).
Diz-se ento que concreto armado uma mistura de concreto, ao e a
forte ligao entre eles que chamada de aderncia. Essa aderncia se d
pelo atrito entre os materiais e o efeito colante do cimento.
O concreto uma mistura de materiais que fazem volume, chamados
agregados e materiais colantes, chamados aglomerantes.
Os agregados so a areia e a pedra, o aglomerante o cimento, que com a
presena da gua, produz o efeito de cola.
Outros elementos podem ser adicionados para alterar algumas
caractersticas do concreto, por exemplo, a slica ativa, um material
extremamente fino, podendo ser comparado com as partculas na fumaa do
cigarro e que aumenta at oito vezes a resistncia do concreto, diminui os
vazios e deixa o material mais impermevel e durvel. Esse tipo de concreto
conhecido pela sigla CAD, significa Concreto de Alto Desempenho.
nfelizmente a resistncia aumentada significa reduo de ductibilidade,
propriedade essa que de muita importncia nos materiais estruturais. Os
materiais dcteis deformam antes de romper, denunciando problemas na
estrutura.
RESSTNCA DO CONCRETO
30
A resistncia do concreto dada pela proporo de gua adicionada ao
cimento. Concreto com pouca gua mais resistente e apresenta menos
vazios, porm de difcil manuseio. J o concreto com mais gua de fcil
manuseio, mas de resistncia reduzida. A resistncia por sua vez, medida em
ensaios de compresso com corpos de prova, eles so cilindros com 15 cm de
dimetro e 30 cm de altura, padronizados. A operao consiste em aplicar a
carga paralela geratriz do cilindro. Os corpos de prova usados so de 28
dias. A unidade de medida da resistncia em mega Pascal (mPa). A
resistncia do concreto mais usado nas edificaes de 20 mPa. Com
resistncias a partir de 50 mPa, o concreto pode ser considerado CAD.
A resistncia trao tambm pode ser medida pelos ensaios com
corpos de prova, a carga ento aplicada perpendicularmente geratriz do
cilindro. Esse procedimento de medir trao no concreto foi criado por um
brasileiro, o Eng. Lobo Carneiro.
TRANSFORMAES NO CONCRETO
O concreto apresenta algumas transformaes que podem no ocorrer
por aplicao de cargas externas, elas podem ser: Retrao, Dilatao Trmica
e Deformao. A retrao a diminuio do volume do concreto ocorrido
durante o processo de endurecimento, chamado de cura, causado pela
rpida perda de gua, ento se recomenda manter o concreto mido durante o
processo e mais trs dias aps.
Dilatao trmica tambm ocorre em muitos outros materiais, e faz
aumentar o volume do concreto com o aumento de temperatura, e diminuir com
a sua diminuio. Existe ento juntas de dilatao que permitem a livre
movimentao de estrutura, o recomendado pela norma brasileira junta de
dilatao a cada 30 m.
Deformao ocorre em todo concreto logo que submetido a um
carregamento, isso se chama deformao imediata. Sem o acrscimo de carga
ao longo do tempo ele continua a se deformar, isso se chama deformao
lenta.
A deformao lenta devido aos vazios no concreto que vem da mistura
da gua e cimento, por isso deve-se tomar cuidado com a quantidade aplicada.
31
AO USADO NO CONCRETO ARMADO
O ao usado para o concreto armado deve ser de grande ductibilidade,
ele se apresenta em forma cilndrica, podendo ter de 2 mm a 40 mm de
dimetro. A resistncia dessas barras medida em ensaios de trao. Nesse
ensaio o corpo de prova submetido a um esforo que tende a along-lo ou
estic-lo at a ruptura. Os esforos ou cargas so mensurados na prpria
mquina, e, normalmente, o ensaio ocorre at a ruptura do material.
VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CONCRETO ARMADO
Vantagens:
moldvel, permitindo grande variabilidade de formas e de concepes
arquitetnicas.
Apresenta boa resistncia maioria dos tipos de solicitao, desde que
seja feito um clculo correto e um adequado detalhamento das
armaduras.
Os materiais so de baixo custo gua e agregados, grados e midos.
Mo de obra barata, pois, em geral, a produo de concreto
convencional no exige profissionais com elevado nvel de qualificao.
Processos construtivos conhecidos.
O concreto durvel e protege as armaduras contra corroso.
Se bem projetado e adequadamente construdo, os gastos de
manuteno so poucos.
pouco permevel gua, quando dosado corretamente e executado
em boas condies de plasticidade, adensamento e cura.
Possui resistncia significativa a choques e vibraes, efeitos trmicos,
atmosfricos e a desgastes mecnicos.
Desvantagens:
Ocorrncia de fissuras.
Prprio peso elevado.
32
Retrao.
Baixa resistncia trao.
Pequena ductilidade.
Corroso das armaduras.
8. ESTRUTURAS #E MA#E!RA
Na historia da construo a madeira foi o primeiro e, durante muito
tempo, o mais importante para as construes portantes. Na Revoluo
ndustrial, a nglaterra como grande potencia implantou o uso de metal como
estrutura, e mais tarde com a inveno do concreto armado, o conhecimento
sobre usos de madeiras foi ficando restrito as estruturas de telhados. Mas, uma
serie de propriedades especificas fundamentam a eleio deste material:
Produo com baixo impacto ambiental;
Elaborao e transformao sem custo significativo de energia fssil;
Relao favorvel entre peso e resistncia
Durabilidade;
Resistncia ao ataque de xilfagos (Cupins, brocas), as madeiras
brasileiras usadas em estruturas (p, Maaranduba, Jatob)
demonstram alta resistncia, os xilfagos apenas atacam se a madeira
apresentar sinais de apodrecimento, por isso importante seu
tratamento antes da construo.
Alta resistncia trmica junto a uma inrcia trmica muito aprecivel;
Disponibilidade de uma vasta tabela de densidades e resistncias
caractersticas;
Grande nmero de espcies e tipos de madeira, com cores e texturas
caractersticas e bem diferenciadas;
Disponibilidade de colas e tipos de unies de alta qualidade e mltiplas
aplicaes;
Ampla oferta de produtos semi-elaborados em madeira macia e
produtos derivados mltiplos usos;
33
Manuteno: Pode-se evitar o apodrecimento precoce da madeira com
alguns detalhes de projeto, tais como: evitar pontos de condensao de
gua; aplicar impermeabilizantes nos encaixes e nos apoios; utilizar
madeira sempre 20 cm ou mais acima do solo; os telhados devem ter
beirais maiores que um metro; as caladas laterais sero sempre
inclinadas para evitar o acumulo de gua junto s paredes ou alicerces;
deixar espao livre entre o assoalho e o solo para ventilao; uso de
produtos que combatem e previnem umidade, fungo, cupim, broca, etc.
Segurana: a madeira no oxida. O metal, quando levado a altas
temperaturas deforma-se perdendo funo estrutural. O mesmo
acontece com o fero do concreto armado se ele no estiver com
revestimento adequado. A madeira tem uma alta inflamibilidade, no
entanto, peas robustas desta, quando expostas ao fogo, formam uma
camada superficial de carvo, que age como uma espcie de isolante,
impedindo a rpida sada de gases inflamveis e propagao de calor
para interior da seco, resultando tanto num aquecimento quanto
degradao do material a uma velocidade menor, colaborando
favoravelmente para melhorar a capacidade de sustentao das cargas
da edificao. A madeira na natureza j desempenha funo estrutural.
Depois de serrada, quando utilizada como estrutura de uma edificao,
funciona como um elemento pr-moldado, de fcil montagem (leve,
macio) que no passou por processos de fabricao que determine sua
resistncia. Sua resistncia depende apenas da espcie a qual
pertence.
A madeira pode ser considerada um material de construo universal
(devido possibilidade de combin-la com outros materiais, sem acarretar
nenhum problema), sendo capaz de cumprir quase todas as exigncias.
Na sua pr-fabricao trabalha-se e preparam-se partes completas em
oficinas, sem impedir o avano do servio por fatores climticos, assegurando-
se dessa forma a qualidade dos mesmos. A possvel utilizao de maquinrios
de cortes computadorizados de alta preciso e dispositivos de preciso
proporcionam um trabalho rpido, prolixo e limpo. A conveniente relao entre
34
peso prprio e resistncia, proporciona elementos individuais leves e que no
necessitam transporte e nem equipamentos especiais na obra.
O alto grau de pr-fabricao reduz de sensivelmente o prazo da obra. A
cobertura limita-se a basicamente a montagem dos elementos estruturais. sto
reduz notavelmente os prazos de financiamento para o proprietrio.
A madeira um bom isolante trmico e, portanto, diminui os custos de
calefao e reduz notavelmente a emisso de dixido de carbono. H
facilidades para as instalaes, entre as esquadrias e sem provocar nenhuma
debilidade na estrutura. A construo de caixas ou instalaes exteriores se
realiza sem nenhum inconveniente.
A madeira economiza matrias primas, pois sua produo no precisa
de energias fsseis e to pouco grandes superfcies para fabricas. A madeira
em seu crescimento retira do ar dixido de carbono e o acumula de forma
estvel. O beneficiamento e manufatura da madeira no necessitam de
grandes tecnologias. No libera substancias prejudiciais e totalmente
aproveitvel. Ao desmontar-se uma construo em madeira, pode-se aproveitar
o total do material para realizar novas construes, para transport-la a outro
local ou mesmo como combustvel neutro de dixido de carbono.
Madeira armada: criada em 1998 pelos engenheiros calculistas italianos
Giovani Cenci e Giovani Noseda Pedraglio. um sistema que adiciona
ferragens "negativas no topo e na base da viga de madeira laminada tornando-
a mais resistente a flexo. Criam-se dois frisos no to p e na base da viga e
adiciona-se a base metlica colocando-a com adesivo epxi. Funciona
basicamente como as vigas de concreto armado, s que com uma esttica
muito mais aprazvel.
Portanto, a madeira um timo material a ser usado como elemento
estrutural e alem de ter uma grande resistncia possui um esttico de uma
robustez e elegncia incomparvel, deixando, assim, a obra que se utiliza dela
muito aprazvel e confortvel.
9. PATOLO%!AS EM E#!&!CA/8ES
35
Desde os primrdios da civilizao j era possvel observar uma
preocupao da sociedade com o desempenho das obras construdas. Em
1700 a.C, o Cdigo de Hamurabi impunha regras bsicas para a punio dos
responsveis, caso algum colapso na estrutura viesse a ocorrer. Com tamanha
intimidao os riscos de runa eram praticamente nulos.
As edificaes so voltadas ao mercado consumidor, logo, devem
atender as exigncias do cliente, assim, atendendo um desempenho
satisfatrio, proporcionando segurana, conforto e bem estar.
Todo o edifcio tem um ciclo de vida til, de acordo com a durabilidade
do material empregado na construo, das condies de exposio e uso do
mesmo e tambm da manuteno peridica.
A falta de manuteno de pequenas manifestaes patolgicas, que
teriam baixo custo de recuperao, faz com que evolua para uma situao de
possvel insegurana estrutural e de alto custo de recuperao.
Certas patogenias causam nas pessoas sensaes desagradveis do
tipo: mau cheiro, aspecto desagradvel, sensao de insegurana, falta de ar,
calor, etc. (UFSM). A seguir apresentam-se alguns tipos de patogenias
LXVAO
Lixiviao um processo patolgico em que o cimento dissolvido pela
chuva e carregado para fora da laje. As causas so diversas, podendo ser
desde acidez da gua da chuva ate certos detergentes aplicado na lavagem do
piso. Devido a isso, as placas de revestimento comeam a soltar-se. H
tambm como conseqncia a formao de carbonato, que gruda firme no piso
sendo praticamente impossvel remov-lo. Veja, a exemplo desse caso, a
Figura 16.
36
FGURA 16: Lixiviao. (Fonte: EBANATAW).
TRNCAS, RACHADURAS E FSSURAS
So aberturas em forma de linha, classificados de acordo com a
espessura, e no quanto ao comprimento:
Fissura: abertura de at 0,5 milmetros;
Trinca: de 0,5 mm a 1 mm;
Rachadura: de 1 a 1,5 mm;
Fenda: superior a 1,5 mm.
Fissura o estado em que um determinado objeto ou parte dele
apresenta aberturas finas e alongadas na sua superfcie. Exemplo: A aplicao
de uma argamassa rica em cimento apresentou, aps a cura, muitas fissuras
em direes aleatrias.
As fissuras so, geralmente, superficiais e no implicam,
necessariamente, em diminuio da segurana de componentes estruturais.
As trincas, em geral, so ocorrncias muito comuns nas casas e nos
prdios. Surgem em funo de muitas causas diferentes. A trinca o estado
que um determinado objeto ou parte dele apresenta-se partido, como
demonstrado na Figura 17.
37
FGURA 17: Trincas. (Fonte: EBANATAW)
Tem-se como alerta do perigo de descuido de trincas o Edifcio Palace ,
no Rio de Janeiro, que caiu matando diversas pessoas. Uma semana antes um
dos moradores havia solicitado a opinio de um engenheiro e este havia lhe
dito que a existncia de trincas era normal. Nessa situao pode-se dizer que
houve certa falta de profissionalismo do engenheiro quanto a analise feita
sobre as condies do prdio.
H vrios fatores que podem levar ao aparecimento de trincas. Os raios
solares que incidem diretamente sobre lajes de cobertura, por exemplo,
produzem muito calor. Em dias quentes de vero, principalmente em latitudes
baixas, isto , entre a linha do Trpico e a do Equador, a laje da cobertura
atinge altas temperaturas, 70C ou mais. sso faz com que a laje dilate, e como
ela esta solidamente engastada nas paredes, ao dilatar leva junto parte da
parede, surgindo trincas inclinadas nos cantos das paredes, como na Figura
18.
38
FGURA 18: Exemplos de trincas a 45. (Fonte: EBANATAW)
As trincas, por representar a ruptura dos elementos, podem diminuir a
segurana de componentes estruturais de um edifcio, de modo que mesmo
que seja quase imperceptvel deve ter as causas minuciosamente pesquisadas.
Abaixo se apresenta outras causas do aparecimento de trincas:
Retrao: A argamassa de revestimento, a tinta e outros materiais que
so aplicados midos, diminuem de tamanho (retrao) ao secar;
Aderncia: As pinturas e os revestimentos que precisam ficar bem
fixados na parede, por algum motivo, apresentam perda de aderncia e
comeam a descascar;
Dilatao: Os materiais aumentam e diminuem de tamanho em funo
da variao da temperatura e umidade do meio ambiente;
Muito cimento: A argamassa de revestimento, quando tiver muito
cimento sofre uma grande retrao e fica toda fissurada;
Amarrao: As paredes devem ficar bem "amarradas na estrutura do
prdio;
Trepidao: Elevadores, compressores e mesmo os veculos que
trafegam, produzem vibraes que afetam a estrutura do prdio;
Recalque: O excesso de peso, a acomodao do prdio, a fraqueza do
material ou do terreno fazem com que a pea se deforme ou afunde;
39
Capacidade: Por erro de calculo ou por deficincia na hora da
confeco, as peas podem ficar fracas;
Mudana de uso: Um prdio que foi projetado para definido uso
(exemplo: residencial) estar sendo usado para outros fins (exemplo:
comercial);
Vizinhana: Uma construo consideravelmente grande, por exemplo,
que altera o fluxo de gua subterrnea de uma regio;
Erro de projeto: Falha na concepo da estrutura do prdio, tendo
algumas partes em desarmonia com o resto.
Colapso de materiais: Materiais desprotegidos, pode-se citar como
exemplo trincas decorrentes de Corroso Galvnica (EBANATAW).
Rachadura o estado em que um determinado objeto ou parte dele
apresenta uma abertura de tal tamanho que ocasiona interferncias
indesejveis. Exemplo:
Pela rachadura da parede entra vento e gua da chuva.
Fundao (estacas, alicerces, sapata, broca) so coisas serias. Um
pequeno descuido pe toda a construo a perder.
Muitas vezes feita a construo sobre terreno aterrado sem que a
compactao tenha sido executada conforme as boas tcnicas de
drenagem, compactao e adensamento.
Outras vezes se constri sobre terreno saturado (cheio de gua ou com
gua rasa) sem que haja uma anlise do adensamento que vai ocorrer
devido ao peso da casa. Esses processos de adensamentos so muito
lentos e podem levar mais de 10 anos e nesse perodo surgem muitos
problemas na construo, levando-a a runa.
As rachaduras, por proporcionar a manifestao de diversos tipos de
interferncias, devem ser analisadas caso a caso e serem tratadas antes do
seu fechamento.
H tambm outros problemas que podem surgir comprometendo uma
construo como, por exemplo, a corroso em armaduras (ferragem), podendo-
se citar tambm a flambagem (fato de o pilar no agentar os esforos e vir a
envergar) como sendo conseqncia da outra (UFSM).
40
41
10. COCLUS0O
Neste trabalho foram apresentados os elementos bsicos de um projeto
estrutural, as foras atuantes sobre eles, assim como os materiais estruturais
mais coerentes com cada finalidade de projeto. O "esqueleto de uma obra
representa uma fase muito importante para as demais que a seguem, pois um
erro de compatibilizao estrutural poder resultar numa construo doentia ou
imprpria para os fins previstos.
Para este trabalho, alm do auxlio de livros e sites, foi indispensvel o
auxlio de um profissional na rea, que ajudou-nos com a indicao de alguns
livros referentes ao assunto, assim como apontou os assuntos em que as
dificuldades seriam maiores.
42
11. RE&ER:C!AS
ARQUTETURA DO FERRO, Histrico. Disponvel em:
<http://arquiteturadoferro.blogspot.com/2008_10_27_archive.html> Acesso em:
Abril de 2010.
BOTELHO, Manoel H. C. Concreto Armado Eu Te Amo. 2 Edio. So
Paulo: Edgard Blcher, 1998.
CESEC, Centro de Estudos de Engenharia Civil, Desenho Estrutural de
Concreto Armado. Disponvel em:
<http://www.cesec.ufpr.br/~tc407/01/aulas/16.html> Acesso em: Abril de 2010.
EBANATAW, Patologias e Outros Problemas. Disponvel em:
<http://www.ebanataw.com.br/roberto/index.php> Acesso em: Abril de 2010.
FEC, Faculdade de Engenharia Civil. etor!Ati"o. Disponvel em:
<http://www.fec.unicamp.br/~fam/novaes/public_html/iniciacao/sistemas/vetor.ht
m> Acesso em: Abril de 2010.
GERDAU, Produ#$o do A#o. Disponvel em:
<http://www.gerdau.com/produtos-e-servicos/processo-de-producao-do-
aco.aspx?language=pt-BR> Acesso em: Abril de 2010.
MUBE, Museu Brasileiro da Escultura. iga ierendeel. Disponvel em:
<http://www.macamp.com.br/variedades/Mube.htm> Acesso em: Abril de 2010.
REBELLO, Y. C. P. A Conce%#$o Estrutural e a Ar&uitetura. So Paulo:
Zigurate Editora, 2000.
REBELLO, Y. C. P. 'ases Para Pro(etos Estruturais. 2 Edio. So Paulo:
Zigurate, 2008
43
SHODEK, D. )tructures, 2nd ed. Prentice Hall, nc., New Jersey, 1992.
UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, Patologias. Disponvel em:
<http://www.ufsm.br/engcivil/TCC/2008/_Semestre/19_Juliana_P_Antoniazzi.p
df> Acesso em: Abril de 2010.
UFV, Universidade Federal de Viosa, Estruturas *suais das Constru#+es ,
Parte --. Viosa, Minas Gerais. Disponvel em:
<www.ufv.br/Dec/EngCivil/Disciplinas/civ352/cap04-r3.pdf> Acesso em: Abril de
2010.
VDEO LVRARA, Estruturas. Disponvel em:
<www2.videolivraria.com.br/pdfs/7632.pdf> Acesso em: Abril de 2010.
WKPDA, A ENCCLOPDA LVRE* Pilar. Disponvel em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Banana#Cultura> Acesso em: Abril de 2010.
44
Você também pode gostar
- Transformações de fases em materiais metálicosNo EverandTransformações de fases em materiais metálicosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Descontruindo Projeto Estrutural de EdíficiosDocumento121 páginasDescontruindo Projeto Estrutural de EdíficiosWALTER KOVATCHAinda não há avaliações
- Relatório Sears TowerDocumento28 páginasRelatório Sears TowerHenrique BatistaAinda não há avaliações
- Detalhes Construtivos Treliça TCCDocumento74 páginasDetalhes Construtivos Treliça TCCEd NascimentoAinda não há avaliações
- VigasDocumento60 páginasVigasTiago BarrosAinda não há avaliações
- Aspectos de Projeto, Execução e Comportamento de Cortinas Atirantadas PDFDocumento124 páginasAspectos de Projeto, Execução e Comportamento de Cortinas Atirantadas PDFTomaz TurcarelliAinda não há avaliações
- Trabalho de Conclusao de Curso Eng CivilDocumento52 páginasTrabalho de Conclusao de Curso Eng CivilEng Lucas TomazAinda não há avaliações
- Trabalho de Pontes - Universidade Católica de Brasília.Documento41 páginasTrabalho de Pontes - Universidade Católica de Brasília.maublogAinda não há avaliações
- Otimizaçação Do Traçado de Cabos PDFDocumento116 páginasOtimizaçação Do Traçado de Cabos PDFGedysonLimaAinda não há avaliações
- Pilar EsDocumento104 páginasPilar EsMatheus SarmentoAinda não há avaliações
- Ancoragem e Emendas de Armaduras PDFDocumento40 páginasAncoragem e Emendas de Armaduras PDFRodrigo MagalhãesAinda não há avaliações
- Qualificacao José Caio Parte 2Documento61 páginasQualificacao José Caio Parte 2josecaiocoutoAinda não há avaliações
- Comparação Entre Aparelhos de Medição Do Potencial de CarbonoDocumento56 páginasComparação Entre Aparelhos de Medição Do Potencial de Carbonoebezinha brookeAinda não há avaliações
- Paulo Sergio Dos Santos Bastos - Contribuição Ao Projeto de Edifícios em Alvenaria Estrutural Pelo Método Das Tensões AdmissíveisDocumento252 páginasPaulo Sergio Dos Santos Bastos - Contribuição Ao Projeto de Edifícios em Alvenaria Estrutural Pelo Método Das Tensões Admissíveismateus456Ainda não há avaliações
- Cype X Eberick X TQSDocumento261 páginasCype X Eberick X TQSNickollas MartinsAinda não há avaliações
- Estudo Das Tecnicas de Reforço A Flexão Simples Com Chapas de Aço ColadasDocumento69 páginasEstudo Das Tecnicas de Reforço A Flexão Simples Com Chapas de Aço ColadasBuczenkoAinda não há avaliações
- ASPECTOS DE PROJETO, EXECU+ç+âO E COMPORTAMENTO DE CORTINAS ATIRANTADAS PDFDocumento124 páginasASPECTOS DE PROJETO, EXECU+ç+âO E COMPORTAMENTO DE CORTINAS ATIRANTADAS PDFMarco Antonio SantosAinda não há avaliações
- Laje Armada em Duas Direções + CantoDocumento130 páginasLaje Armada em Duas Direções + CantoAndreza FabiolaAinda não há avaliações
- Material Apoio - CTMIDocumento71 páginasMaterial Apoio - CTMIAndre CorreaAinda não há avaliações
- Document 5 D 39 A 347 B 9 D 8 FDocumento52 páginasDocument 5 D 39 A 347 B 9 D 8 FIrosemberg AraujoAinda não há avaliações
- Thais Da Silva Ambrosio Garcia Herani1Documento73 páginasThais Da Silva Ambrosio Garcia Herani1JuliusLempAinda não há avaliações
- Dimensionamento Das Almas de Pontes Celulares PDFDocumento250 páginasDimensionamento Das Almas de Pontes Celulares PDFHildebrando SantosAinda não há avaliações
- 2001TE RobertoBuchaimDocumento286 páginas2001TE RobertoBuchaimBuczenkoAinda não há avaliações
- Resistência Dos MateriasDocumento55 páginasResistência Dos Materiasederson torres100% (2)
- Dimensionamento de Um Edifício Sismo ResistenteDocumento87 páginasDimensionamento de Um Edifício Sismo ResistentefabiogubianiAinda não há avaliações
- Dimensionamento Do Espaçamento Do Vão Máximo de Apoio Entre Escoras para Pré-Laje Treliçada de ConcretoDocumento37 páginasDimensionamento Do Espaçamento Do Vão Máximo de Apoio Entre Escoras para Pré-Laje Treliçada de ConcretoLucasAinda não há avaliações
- TCC - Encunhamento - PatologiasDocumento89 páginasTCC - Encunhamento - PatologiasErich BauerAinda não há avaliações
- Software para Cálculo de Muros de ArrimoDocumento123 páginasSoftware para Cálculo de Muros de Arrimocfbreda100% (1)
- DISSERTAÇÃO InvestigaçãoEstruturasArqueadasDocumento61 páginasDISSERTAÇÃO InvestigaçãoEstruturasArqueadasJoaquim António Dias SilvaAinda não há avaliações
- Ensaios Destrutíveis e Não Destrutíveis em Estruturas de Concreto ArmadoDocumento17 páginasEnsaios Destrutíveis e Não Destrutíveis em Estruturas de Concreto ArmadoThalita FerreiraAinda não há avaliações
- Manual de Pontes de MadeiraDocumento237 páginasManual de Pontes de MadeiragscristianoAinda não há avaliações
- Work de MICDocumento27 páginasWork de MICRachide Ussene MucusserimaAinda não há avaliações
- Resistencia 1 - Arquitetura - Notas de Aula-2024Documento50 páginasResistencia 1 - Arquitetura - Notas de Aula-2024Murilo FailaAinda não há avaliações
- Apostila SPTDocumento53 páginasApostila SPTMaria Elenice de Amorim SilverioAinda não há avaliações
- Sap X CypeDocumento81 páginasSap X Cypejuniu10Ainda não há avaliações
- A Influencia de Juntas Estruturais No Comportamento Sismico Dum Edificio de Habitacao em Lisboa de Planta IrregularDocumento106 páginasA Influencia de Juntas Estruturais No Comportamento Sismico Dum Edificio de Habitacao em Lisboa de Planta IrregularNeujminAinda não há avaliações
- Alvenaria EstruturalDocumento59 páginasAlvenaria EstruturalTi HamerAinda não há avaliações
- Painel Alvenaria Sujeito A Cargas HorizontaisDocumento120 páginasPainel Alvenaria Sujeito A Cargas Horizontaisarturgomes1805Ainda não há avaliações
- Analise Estrutural - FtoolDocumento50 páginasAnalise Estrutural - FtoolStephanie Selke Novoa100% (1)
- Análise Sísmica de Modelos Com Irregularidades No PlanoDocumento200 páginasAnálise Sísmica de Modelos Com Irregularidades No PlanoRodrigo MirandaAinda não há avaliações
- Referencias Construção CordwoodDocumento79 páginasReferencias Construção CordwoodLucianadePaulaAinda não há avaliações
- Fernanda Aparecida João Tópicos em Dimensionamento de Estruturas de Concreto Armado PDFDocumento172 páginasFernanda Aparecida João Tópicos em Dimensionamento de Estruturas de Concreto Armado PDFAnonymous B6ewOobgzg100% (1)
- Redução Rigidez Torção Vigas e PilaresDocumento66 páginasRedução Rigidez Torção Vigas e Pilaresallan289100% (1)
- Dimas 2014Documento132 páginasDimas 2014alfreliaAinda não há avaliações
- Trabalho - Teorico - Mauro - A50186 - 2022 - Pontes de Madeira PDFDocumento40 páginasTrabalho - Teorico - Mauro - A50186 - 2022 - Pontes de Madeira PDFMauro CossaAinda não há avaliações
- Relatório - Pontes - Grupo 3Documento88 páginasRelatório - Pontes - Grupo 3Acson LimaAinda não há avaliações
- Dimensionamento de Vigas À Força CortanteDocumento103 páginasDimensionamento de Vigas À Força CortanteKelvin Pereira Bezerra100% (1)
- DissertacaoDocumento113 páginasDissertacaoDébora FernandesAinda não há avaliações
- Modelo Dissertacao 2019 1 1Documento26 páginasModelo Dissertacao 2019 1 1Kálita AraújoAinda não há avaliações
- ANÁLISE TÉRMICA DE VEÍCULOS ESPACIAIS - v02Documento112 páginasANÁLISE TÉRMICA DE VEÍCULOS ESPACIAIS - v02renanpacheco.randomAinda não há avaliações
- Sistema De Construção De Paredes De Gesso AcartonadoNo EverandSistema De Construção De Paredes De Gesso AcartonadoAinda não há avaliações
- Engenharia Civil: Concepção, Teoria E PráticaNo EverandEngenharia Civil: Concepção, Teoria E PráticaAinda não há avaliações
- Alvenaria em blocos de concreto: Projeto estrutural de acordo com a NBR 16868 - 1, 2 ABNT, 2020No EverandAlvenaria em blocos de concreto: Projeto estrutural de acordo com a NBR 16868 - 1, 2 ABNT, 2020Ainda não há avaliações
- Segurança Do Trabalho - Ações EducativasNo EverandSegurança Do Trabalho - Ações EducativasAinda não há avaliações
- Concreto protendido: Tração Axial, flexão simples e força cortanteNo EverandConcreto protendido: Tração Axial, flexão simples e força cortanteAinda não há avaliações
- Ciência e Tecnologia Dos Materiais I - CerâmicosDocumento41 páginasCiência e Tecnologia Dos Materiais I - CerâmicosRafael PiazAinda não há avaliações
- Resumo - Dobras e FalhasDocumento10 páginasResumo - Dobras e FalhasFilipe Raivel ::AESA::Ainda não há avaliações
- Simulado Eaoear - eDocumento29 páginasSimulado Eaoear - eDiego MartinsAinda não há avaliações
- 03 - Traçao-CompressaoDocumento41 páginas03 - Traçao-CompressaoEdson HipólitoAinda não há avaliações
- Livro - Ciencia e Tecnologia Dos MateriaisDocumento286 páginasLivro - Ciencia e Tecnologia Dos MateriaisairysAinda não há avaliações
- ENS&NRM - Aula 11 - Propriedades Especiais - Mecânica Da FraturaDocumento48 páginasENS&NRM - Aula 11 - Propriedades Especiais - Mecânica Da FraturaThiago AfonsoAinda não há avaliações
- Caracterização MecânicaDocumento9 páginasCaracterização MecânicaVictor HugoAinda não há avaliações
- Atividade Prática Tecnologia Dos Materiais - UNINTER 2021Documento10 páginasAtividade Prática Tecnologia Dos Materiais - UNINTER 2021Jonathan Mário Pereira100% (1)
- Listas P1 ConformaçãoDocumento70 páginasListas P1 ConformaçãoJadiel Oliveira0% (1)
- Questões de Resistência Dos MateriaisDocumento24 páginasQuestões de Resistência Dos MateriaisPedro__RsAinda não há avaliações
- 3.reologia Geologia EstruturalDocumento61 páginas3.reologia Geologia EstruturalThiago XavierAinda não há avaliações
- ET - Tubos e Conexões para Adução e Distribuição de Água (Indústria)Documento9 páginasET - Tubos e Conexões para Adução e Distribuição de Água (Indústria)Amor em LEDAinda não há avaliações
- Rema 1Documento18 páginasRema 1Matheus JoséAinda não há avaliações
- Curso Analise de Falhas V6Documento167 páginasCurso Analise de Falhas V6Alexandre FontouraAinda não há avaliações
- Apostila Concreto & ArgamassaDocumento113 páginasApostila Concreto & ArgamassaJosenilton SobralAinda não há avaliações
- Trincas Causas e Metodos de Prevencao em Acos Estruturais SoldadosDocumento31 páginasTrincas Causas e Metodos de Prevencao em Acos Estruturais SoldadosTiago CamposAinda não há avaliações
- Fadiga Dos MateriaisDocumento22 páginasFadiga Dos Materiaiseduardo_montanhaAinda não há avaliações
- Estruturas de Aço-1Documento323 páginasEstruturas de Aço-1Alexandro SantosAinda não há avaliações
- Ensaio de Tração Uniaxial 2Documento49 páginasEnsaio de Tração Uniaxial 2Joao Gabriel De Souza Pinto SalesAinda não há avaliações
- 1 Lista de Exerc Cios de Ensaios Mec Nicos Dos MateriaisDocumento4 páginas1 Lista de Exerc Cios de Ensaios Mec Nicos Dos MateriaisDiego AraújoAinda não há avaliações
- PerfiladeiraDocumento55 páginasPerfiladeiraCarlos Henrique AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Aula 3 - CA1 - Deformacoes e Acos para ArmaduraDocumento58 páginasAula 3 - CA1 - Deformacoes e Acos para ArmaduraFabiano PimentelAinda não há avaliações
- Lista 01 - MEM - Sem Respostas - 2Documento21 páginasLista 01 - MEM - Sem Respostas - 2Diêgo MarcosAinda não há avaliações
- Universidade Federal de Santa Catarina Departamento de Engenharia Mecânica Graduação em Engenharia de Materiais Industrial Rex LtdaDocumento36 páginasUniversidade Federal de Santa Catarina Departamento de Engenharia Mecânica Graduação em Engenharia de Materiais Industrial Rex LtdaFrancisco SousalimaAinda não há avaliações
- Aula 11 (Prof. Felipe Canella) : Engenharia Mecânica P/ Concursos - Curso Regular - 2022Documento67 páginasAula 11 (Prof. Felipe Canella) : Engenharia Mecânica P/ Concursos - Curso Regular - 2022Jameson RodriguesAinda não há avaliações
- Projeto de Maquina de Ensaio de Fadiga Por Flexão RotativaDocumento5 páginasProjeto de Maquina de Ensaio de Fadiga Por Flexão RotativaKamila LopesAinda não há avaliações
- Ensaio de CompressãoDocumento3 páginasEnsaio de CompressãoRafael Machado MartinsAinda não há avaliações
- Notas de Aula - Estruturas Metálicas Rev Fev 18Documento65 páginasNotas de Aula - Estruturas Metálicas Rev Fev 18Laiza LeticiaAinda não há avaliações
- Teste Hidrostático PetrobrasDocumento2 páginasTeste Hidrostático PetrobrasTIAGOAinda não há avaliações