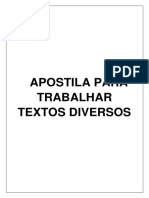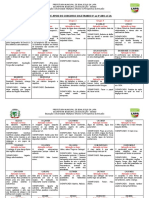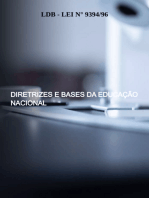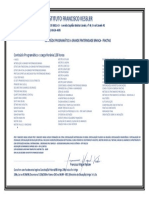Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Proposta Curricular Primeiro Segmento - EJA
Proposta Curricular Primeiro Segmento - EJA
Enviado por
Adel Malek Alessandra Gomes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações243 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações243 páginasProposta Curricular Primeiro Segmento - EJA
Proposta Curricular Primeiro Segmento - EJA
Enviado por
Adel Malek Alessandra GomesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 243
PresidentedaRepblicaFederativadoBrasil:
Fernando Henrique Cardoso
MinistrodeEstadodaEducao:
Paulo Renato Souza
SecretrioExecutico:
Luciano OlivaPatrcio
1
Nota da equipe de elaborao
Educao de jovens e adultos
Educao para jovens e adultos
Ensino Fundamental
Proposta curricular - 1 segmento
Vera Maria Masago Ribeiro (coordenao e texto final)
Cludia Lemos Vvio
Dirceu da Silva
Margarete Artacho de Ayra Mendes
Maria Ambile Mansutti
Maria Clara Di Pierro
Maria Isabel de Almeida
Orlando Joia
So Paulo/ Braslia, 2001
3 Edio
2
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Educao para jovens e adultos: ensino fundamental: proposta curricular -
1 segmento / coordenao e texto final (de) Vera Maria Masago
Ribeiro; So Paulo: Ao Educativa; Braslia: MEC, 2001.
239p.
1. Educao de jovens e adultos. 2. Ensino Fundamental. 3. currculo.
CDU - 374(81)
SecretariadeEducaoFundamental:
IaraGlriaAreias Prado
DepartamentodePolticadaEducaoFundamental:
Walter K. Takemoto
Coordenao-Geral deEducaodeJovenseAdultos:
Leda Maria Seffrin
AO EDUCATIVA - ASSESSORIA, PESQUISA, INFORMAO
Av. Higienpolis, 901
CEP 01238-001 So Paulo - SP Brasil
Tel. (011) 825-5544 Fax (011) 66-1082
E-mail: acaoeducativ@ax.apc.org
Diretoria:
Marlia Pontes Sposito
Carlos Rodrigues Brando
Pedro Pontual
Nilton Bueno Fischer
Vicente Rodriguez
SecretrioExecutivo:
Srgio Haddad
EDUCAO PARA JOVENS E ADULTOS
ENSINO FUNDAMENTAL
PROPOSTA CURRICULAR PARA O 1 SEGMENTO
3
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Educao de jovens e adultos
Sumrio
Apresentao................................................................................ 5
Nota da equipe de elaborao..................................................... 7
Introduo..................................................................................... 13
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil ........ 19
Fundamentos e objetivos gerais................................................... 35
Lngua Portuguesa........................................................................ 49
Fundamentos e objetivos da rea...................................... 51
A linguagem oral ......................................................... 52
A linguagem escrita..................................................... 53
A anlise lingstica..................................................... 59
Sntese dos objetivos da rea de
Lngua Portuguesa............................................... 60
Blocos de contedo e objetivos didticos......................... 62
Linguagem oral ............................................................ 62
Sistema alfabtico e ortografia................................... 67
Leitura e escrita de textos........................................... 73
Pontuao..................................................................... 90
Anlise lingstica........................................................ 92
Matemtica................................................................................... 97
Fundamentos e objetivos da rea...................................... 99
Noes e procedimentos informais........................... 100
4
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
A Matemtica na sala de aula.................................... 101
A resoluo de problemas.......................................... 103
Os materiais didticos................................................ 105
Os contedos............................................................... 107
Sntese dos objetivos da rea de Matemtica........... 109
Blocos de contedo e objetivos didticos......................... 111
Nmeros e operaes numricas............................... 111
Medidas........................................................................ 139
Geometria.................................................................... 146
Introduo Estatstica.............................................. 152
Estudos da Sociedade e da Natureza........................................... 161
Fundamentos e objetivos da rea...................................... 163
Os contedos............................................................... 164
Os conhecimentos dos jovens e adultos e as
aprendizagens escolares...................................... 167
Estratgias de abordagem dos contedos................. 169
As fontes de conhecimento......................................... 171
Sntese dos objetivos da rea de
Estudos da Sociedade e da Natureza................. 172
Blocos de contedo e objetivos didticos......................... 174
O educando e o lugar de vivncia............................. 174
O corpo humano e suas necessidades....................... 179
Cultura e diversidade cultural.................................... 184
Os seres humanos e o meio ambiente....................... 190
As atividades produtivas e as relaes sociais.......... 197
Cidadania e participao............................................ 203
Planejamento e avaliao............................................................ 209
Bibliografia................................................................................... 231
ndice pormenorizado................................................................... 236
5
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Educao de jovens e adultos
Apresentao
Este documento deve constituir-se em subsdio elaborao de
projetos e propostas curriculares a serem desenvolvidos por organi-
zaes governamentais e no-governamentais, adaptados s realida-
des locais e necessidades especficas.
Diante das necessidades apontadas pelo quadro das condies de
trabalho dos educadores, este Ministrio entende a conquista da au-
tonomia pedaggica como uma meta a ser atingida e, portanto, atua
sob a convico de que o trajeto dessa conquista exige o zelo do es-
foro coletivo.
Assim, este trabalho representa para o MEC a possibilidade de
colocar disposio das secretaria estaduais e municipais de educa-
o e dos professores de educao de jovens e adultos um importan-
te instrumento de apoio, com a qualidade de referencial que lhe
conferida pelo notrio saber de seus autores.
Secretaria de Educao Fundamental
Ministrio da Educao e do Desporto
6
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
7
Nota da equipe de elaborao
Educao de jovens e adultos
Nota da equipe de elaborao
A iniciativa de elaborar esta proposta curricular surgiu no m-
bito de Ao Educativa, organizao no-governamental que atua na
rea de educao e juventude, combinando atividades de pesquisa,
assessoria e informao. Para realizar esse trabalho, Ao Educativa
constituiu uma equipe com experincia na educao de jovens e adul-
tos e na formao de educadores. Contou tambm com o apoio de
vrias pessoas e instituies que acompanharam o processo de dife-
rentes maneiras.
Concluda em junho de 1995, uma verso preliminar da proposta
foi submetida apreciao de um grupo de onze educadores ligados
a diferentes programas de educao de jovens e adultos empreendi-
dos no mbito da sociedade civil. O grupo reuniu-se para esse fim em
seminrio realizado por ocasio da III Feira Latino-Americana de
Alfabetizao, promovida pela Raaab Rede de Apoio Ao Alfa-
betizadora no Brasil em Braslia, no ms de julho de 1995. Esses
educadores, ligados a organizaes no-governamentais e movimen-
tos populares, examinaram a proposta e fizeram crticas e sugestes
a essa primeira verso, tendo alguns elaborado pareceres por escrito.
Durante o segundo semestre de 1995, com o apoio da Secretaria
de Educao Fundamental do MEC, foi possvel ampliar o mbito
das consultas, por meio da realizao de um novo seminrio, dessa
vez reunindo educadores ligados a programas governamentais de
educao de jovens e adultos, e da solicitao de pareceres de espe-
8
Nota da equipe de elaborao
Ao Educativa / MEC
cialistas em educao de adultos e nas reas curriculares abrangidas
pela proposta. O seminrio teve lugar em So Paulo, em dezembro
de 1995, reunindo dezoito dirigentes e tcnicos ligados a secretarias
municipais e estaduais de educao de vrias regies do pas, alm
de representante da Secretaria de Educao Fundamental do MEC.
Alguns dos participantes elaboraram tambm pareceres por escrito,
que se somaram aos dezoito que nos foram enviados por especialistas
ligados a diversas universidades e centros de pesquisa em educao.
J no primeiro semestre de 1996, quando o MEC manifestou
Comisso Nacional de Educao de Jovens e Adultos a inteno de
co-editar e distribuir esta proposta curricular, sua verso preliminar
foi tambm enviada a todos os membros dessa comisso, que se com-
prometeram a apreci-la.
Com base nos debates gerados nos seminrios e pareceres rece-
bidos, iniciou-se o trabalho de reviso da verso preliminar, at se
chegar forma em que a proposta se apresenta nesta edio. Todo
esse processo de consulta foi sumamente valioso para a equipe de
elaborao, que pde contar com indicaes de alta qualidade para
o aperfeioamento desta proposta. Muitas das crticas e sugestes re-
cebidas puderam ser incorporadas ao texto que ora apresentamos.
Houve aquelas, entretanto, que no puderam s-lo, pelo menos no
de modo que se respeitasse integralmente a intencionalidade com que
foram formuladas, seja porque se afastavam da orientao geral as-
sumida pela equipe, seja porque avaliamos que sua assimilao esta-
va alm de nossas capacidades no momento.
Limitaes apontadas como problemticas no texto preliminar
e que no nos sentimos em condies de superar nesta verso dizem
respeito, por exemplo, sua abrangncia. A presente proposta faz
referncia apenas s quatro primeiras sries do ensino fundamental,
quando o direito ao ensino fundamental de oito sries representa uma
conquista legal que ainda exige todo empenho para se transformar
em conquista efetiva. Alm dessa limitao relativa s sries abran-
gidas, foram apontadas limitaes quanto s reas de conhecimen-
to: a ausncia, nesta proposta, de orientaes especficas paras as reas
9
Nota da equipe de elaborao
Educao de jovens e adultos
de Educao Artstica e Educao Fsica ou, de forma mais geral, um
tratamento no suficiente das linguagens no-verbais. Outro ponto
que por alguns foi considerado insuficientemente enfatizado diz res-
peito educao para o trabalho, aspecto que sem dvida da maior
relevncia em se tratando de ensino fundamental dirigido a jovens e
adultos. Selecionamos como exemplos essas limitaes de carter mais
geral apontadas nas consultas por considerar que so aspectos prio-
ritrios a serem trabalhados em futuras iniciativas do gnero.
Os temas que geraram mais polmica por ocasio dos semin-
rios foram menos os relativos ao contedo poltico-pedaggico da pro-
posta do que os relativos ao modo como poderia ser utilizada. Ques-
tionou-se, por exemplo, em que medida uma proposta como essa, co-
editada e distribuda por um rgo federal, no acabaria sendo consu-
mida como modelo prescritivo e limitador da necessria flexibilida-
de que essa modalidade educativa deve ensejar. Alm disso, em que
medida uma proposta curricular distribuda nacionalmente poderia
contribuir de maneira efetiva para o aperfeioamento das prticas
educativas com jovens e adultos quando outras polticas complemen-
tares como a de formao de educadores no correspondem ao m-
nimo desejvel?
Considerando esses questionamentos, essencial reafirmar que
o esprito de nossa iniciativa foi o de oferecer uma proposta curricular
como subsdio ao trabalho dos educadores e no o de estabelecer o
currculo que merecesse ser simplesmente aplicado, seja em escala
local, regional ou nacional. Animar o debate em torno da questo
curricular, suscitar a divulgao de propostas alternativas ou comple-
mentares elaboradas por outras equipes, impulsionar iniciativas de
formao de educadores e provimento de materiais didticos so as
metas mais importantes que almejamos como resultado deste traba-
lho. Certamente, a mera existncia de uma proposta curricular como
esta no possibilitar o alcance dessas metas sem que haja decidido
empenho dos poderes pblicos em apoiar iniciativas nesse sentido,
com o esprito democrtico e pluralista que convm ao desenvolvi-
mento curricular no campo da educao de jovens e adultos.
10
Nota da equipe de elaborao
Ao Educativa / MEC
Finalmente, desejamos agradecer as pessoas e instituies que
colaboraram diretamente na realizao deste trabalho, isentando-os,
entretanto, de qualquer responsabilidade sobre o seu resultado:
Pela participao nos seminrios de consulta: Adelaide Maria
Costa Silva (Secretaria Municipal de Educao, Rio Bran-
co-AC); Adriano Pedrosa de Almeida (Universidade Federal
de Pernambuco); Alda Maria Borges Cunha (Universidade
Catlica de Gois); Cludio Jos Schimidt Villela (Secreta-
ria de Estado da Educao, Paran); Cristina Schroeter (Adi-
tepp Associao Difusora de Treinamento e Projetos Pe-
daggicos, Curitiba-PR); Eliana Barreto Guimares (Secre-
taria de Estado da Educao, Bahia); Elisabete Carlos do Vale
(MEB Movimento de Educao de Base, Mossor-RN);
Idabel Nascimento Silva (Secretaria Municipal de Educao,
Macei-AL); Ivaneide Medeiros Nelson (Secretaria de Estado
da Educao, Rio Grande do Norte); Ivone Meireles (Cecup
Centro de Educao e Cultura Popular, Salvador-BA);
Joo Francisco de Souza (Secretaria Municipal de Educao,
Olinda-PE); Jos ngelo Gomes Ferreira (Mova Movi-
mento de Alfabetizao de Diadema-SP); Jos Leo da Cunha
(MEB Movimento de Educao de Base, Braslia-DF);
Laura Emlia de Carvalho Meireles (MEB Movimento de
Educao de Base, Teresina-PI); Leila Maria Girotto Belinatti
(Secretaria Municipal de Educao/ Fundao Municipal para
a Educao Comunitria, Campinas-SP); Liana S. Borges (Se-
cretaria Municipal de Educao, Porto Alegre-RS); Luis Ma-
rine (Secretaria Municipal de Educao, Diadema-SP); Ma-
ria das Neves Bessa Teixeira (Secretaria de Estado da Edu-
cao, Cear); Maria Helena Caf (Universidade Catlica de
Gois); Maria Lusa Angelim (Universidade de Braslia); Ma-
ria Luiza Latour Nogueira (Ministrio da Educao e do Des-
porto); Maria Regina Martins Cabral (Associao de Sa-
de da Periferia, So Lus-MA); Maria Salete Maldonado (Se-
11
Nota da equipe de elaborao
Educao de jovens e adultos
cretaria Municipal de Educao, Recife-PE); Maria Silvia
Torres Ventura (Secretaria Municipal de Educao, Santos-
SP); Pedro Garcia (Nova Pesquisa e Assessoria em Edu-
cao, Rio de Janeiro-RJ); Robson Jesus Rusche (Secretaria
do Estado da Administrao Penitenciria/ Fundao Dr.
Manoel Pedro Pimentel/ Funap, So Paulo-SP); Zlia Gran-
ja Porto (Secretaria de Estado da Educao, Pernambuco).
Pelo envio de pareceres escritos: Adelaide Maria Costa Silva
(Secretaria Municipal de Educao, Rio Branco-AC); Alda
Maria Borges Cunha (Universidade Catlica de Gois); An-
gela B. Kleiman (Universidade Estadual de Campinas); Ario-
valdo Umbelino de Oliveira (Universidade de So Paulo);
Clia Garcia, Francisco Cludio Barbosa Lima, Francisco
Machado Neto, Jos Dimas Vasconcelos, Ricardo Lo R.
Gomes e Teresa Maria da Conceio Arajo Lima (Secreta-
ria de Estado da Educao, Cear); Da Ribeiro Fenelon
(Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo); Departa-
mento de Ensino Supletivo (Secretaria de Estado da Educa-
o, Paran); Dione Lucchesi de Carvalho (Colgio Santa
Cruz, So Paulo-SP); Elisabete Carlos do Vale (MEB Mo-
vimento de Educao de Base, Mossor-RN); Ernesta Zam-
boni (Universidade Estadual de Campinas); Equipe de Edu-
cao Bsica de Jovens e Adultos (Secretaria de Estado da
Educao, Mato Grosso); Equipe Multidisciplinar/ Seo de
Projetos Especiais/ Seo de Educao de Jovens e Adultos
(Secretaria Municipal de Educao, Santos-SP); Gabriela
Barbosa (Associao de Educao Catlica, So Paulo-SP);
Gerncia de Educao Bsica de Jovens e Adultos (Secreta-
ria de Estado da Educao, Bahia); Helena Henry Meirelles
(Colgio Santa Cruz, So Paulo-SP); Hugo Lovisolo (Univer-
sidade Estadual do Rio de Janeiro); Jos Maurcio de Figuei-
redo Lima (Universidade Federal de Pernambuco); Laura
Emlia de Carvalho Meireles (MEB Movimento de Edu-
12
Nota da equipe de elaborao
Ao Educativa / MEC
cao de Base, Teresina-PI); Leila Maria Girotto Belinatti (Se-
cretaria Municipal de Educao/ Fundao Municipal para
a Educao Comunitria, Campinas-SP); Liana S. Borges
(Secretaria Municipal de Educao, Porto Alegre-RS); Lilian
Lopes Martin da Silva (Universidade Estadual de Campinas);
Luciola Licinio de Castro Paixo Santos (Universidade Fe-
deral de Minas Gerais); Magda Becker Soares (Universida-
de Federal de Minas Gerais); Manoel Oriosvaldo de Moura
(Universidade de So Paulo); Maria do Carmo Martins (Pon-
tifcia Universidade Catlica de So Paulo); Maria Isabel
Infante (Unesco/ Orealc, Santiago do Chile); Maria Regina
Martins Cabral (Associao de Sade da Periferia, So Lus-
MA); Marta Kohl de Oliveira (Universidade de So Paulo);
Nlio Bizzo (Universidade de So Paulo); Pedro Garcia (Nova
Pesquisa e Assessoria em Educao, Rio de Janeiro-RJ);
Projeto de Educao do Assalariado Rural Temporrio (Curi-
tiba-PR); Robson Jesus Rusche (Secretaria do Estado da Ad-
ministrao Penitenciria/ Fundao Dr. Manoel Pedro Pi-
mentel/ Funap, So Paulo-SP); Vera Barreto (Vereda Centro
de Estudos em Educao, So Paulo-SP); Vivian Leyser da
Rosa (Universidade Federal de Santa Catarina).
Pelo apoio financeiro que viabilizou a execuo desse tra-
balho: MEB Movimento de Educao de Base; MEC
Ministrio da Educao e do Desporto; EZE Evange-
lische Zentralstelle fr Entwicklungshilfe E.V. (Alemanha);
IAF Inter American Foundation (EUA); ICCO Orga-
nizao Interclesial de Cooperao para o Desenvolvimen-
to (Holanda).
So Paulo, julho de 1996
13
Introduo
Educao de jovens e adultos
Introduo
Por que uma proposta curricular
O objetivo deste trabalho oferecer um subsdio que oriente a
elaborao de programas de educao de jovens e adultos e, conse-
qentemente, tambm o provimento de materiais didticos e a for-
mao de educadores a ela dedicados.
Na reflexo pedaggica sobre essa modalidade educativa, tem
especial relevncia a considerao de suas dimenses social, tica e
poltica. O iderio da Educao Popular, referncia importante na
rea, destaca o valor educativo do dilogo e da participao, a con-
siderao do educando como sujeito portador de saberes, que devem
ser reconhecidos. Educadores de jovens e adultos identificados com
esses princpios tm procurado, nos ltimos anos, reformular suas
prticas pedaggicas, atualizando-as ante novas exigncias culturais
e novas contribuies das teorias educacionais.
Muitos professores que integram os programas de educao de
jovens e adultos tm ou j tiveram experincias com ensino regular
infantil e, baseados nessa experincia, colocam-se questes. Os m-
todos e contedos da educao infantil servem para os jovens e adul-
tos? Quais as especificidades dessa faixa etria? Procurando respon-
der a essas indagaes e aos desafios apresentados por seus alunos,
vo tentando adaptaes, mudanas de postura, de estratgias e de
contedos.
A educao de jovens
e adultos vemse
atualizando ante
novas exigncias
culturais e novas
teorias pedaggicas
14
Introduo
Ao Educativa / MEC
O que se observa, entretanto, que os educadores se ressentem
de um marco mais global que os ajude a articular as inovaes me-
todolgicas e temticas numa proposta abrangente e coerente. exa-
tamente um marco global que se quis estabelecer nesta proposta, es-
perando que ele encoraje os educadores a implementar programas
de educao de jovens e adultos e a trabalhar pela sua qualidade.
A Constituio Federal de 1988 estendeu o direito ao ensino
fundamental aos cidados de todas as faixas etrias, o que nos esta-
belece o imperativo de ampliar as oportunidades educacionais para
aqueles que j ultrapassaram a idade de escolarizao regular. Alm
da extenso, a qualificao pedaggica de programas de educao de
jovens e adultos uma exigncia de justia social, para que a amplia-
o das oportunidades educacionais no se reduza a uma iluso e a
escolarizao tardia de milhares de cidados no se configure como
mais uma experincia de fracasso e excluso.
Em que consiste a proposta
As orientaes curriculares aqui apresentadas referem-se alfa-
betizao e ps-alfabetizao de jovens e adultos, cujo contedo cor-
responde s quatro primeiras sries do 1 grau. Elas no constituem
propriamente um currculo, muito menos um programa pronto para
ser executado. Trata-se de um subsdio para a formulao de curr-
culos e planos de ensino, que devem ser desenvolvidos pelos educa-
dores de acordo com as necessidades e objetivos especficos de seus
programas.
A educao de jovens e adultos correspondente a esse nvel de
ensino caracteriza-se no s pela diversidade do pblico que atende e
dos contextos em que se realiza, como pela variedade dos modelos de
organizao dos programas, mais ou menos formais, mais ou menos
extensivos. A legislao educacional brasileira bastante aberta quanto
carga horria, durao e aos componentes curriculares desses cur-
sos. Considerando positiva essa flexibilidade, optou-se por uma pro-
Uma proposta
curricular deve ser
umsubsdio para
educadores
desenvolverem
planos de ensino
adequados aos seus
contextos
15
Introduo
Educao de jovens e adultos
posta curricular que avana no detalhamento de contedos e objeti-
vos educativos, mas que permite uma variedade grande de combina-
es, nfases, supresses, complementos e formas de concretizao.
Como qualquer proposta curricular, esta no surge do nada; sua
principal fonte so prticas educativas que se pretende generalizar,
aperfeioar ou transformar. O primeiro captulo dedicado a um breve
histrico da educao de jovens e adultos no Brasil, no qual se desta-
cam solues e impasses pedaggicos gerados nessas prticas. Espe-
ra-se que essa histria ajude os educadores a situar e compreender me-
lhor o significado e o motivo do que aqui se formula como proposta.
O captulo seguinte dedicado exposio de alguns fundamen-
tos nos quais se baseou a formulao de objetivos gerais da presente
proposta para a educao de jovens e adultos. Qualquer projeto de
educao fundamental orienta-se, implcita ou explicitamente, por
concepes sobre o tipo de pessoa e de sociedade que se considera
desejvel, por julgamentos sobre quais elementos da cultura so mais
valiosos e essenciais. O currculo o lugar onde esses princpios ge-
rais devem ser explicitados e sintetizados em objetivos que orientem
a ao educativa. Nos fundamentos desta proposta, delineia-se uma
viso bastante geral da situao social que vivemos hoje, das neces-
sidades educativas dos jovens e adultos pouco escolarizados, do pa-
pel da escola e do educador. A elaborao de currculos baseada nes-
sas indicaes, inevitavelmente genricas, exigir dos educadores o
esforo de complement-las com anlises de seus contextos especfi-
cos, a partir dos quais podero formular de modo mais preciso os
objetivos de seus programas.
Os captulos seguintes so dedicados ao desdobramento dos ob-
jetivos gerais em contedos e objetivos mais especficos. Eles esto
organizados em trs reas: Lngua Portuguesa, Matemtica e Estu-
dos da Sociedade e da Natureza. Para cada uma dessas reas, expem-
se consideraes sobre sua relevncia e sobre a natureza dos conhe-
cimentos com que trabalha. Renem-se ainda algumas indicaes
metodolgicas e alguns aportes das teorias sobre o ensino e a apren-
dizagem de seus contedos. Os objetivos propostos para cada rea
O currculo deve
expressar princpios
e objetivos da ao
educativa: que tipo de
pessoa e de
sociedade se deseja
formar
Objetivos gerais
devemser
desdobrados em
objetivos especficos
que possamorientar
a prtica
16
Introduo
Ao Educativa / MEC
tratam de concretizar os objetivos educativos gerais, delimitando-os
em campos de conhecimento.
Para cada rea, so definidos blocos de contedos com um elen-
co de tpicos a serem estudados. Para cada tpico, h um conjunto
de objetivos didticos, que especificam modos de abord-los em di-
ferentes graus de aprofundamento. Pelo seu grau de especificidade,
esses objetivos oferecem tambm muitas pistas sobre atividades di-
dticas que favorecem o desenvolvimento dos contedos.
Os objetivos didticos referem-se aprendizagem de contedos
de diferentes naturezas. Predominantemente, eles se referem a con-
tedos de tipo procedimental, ou seja, ao aprender a fazer. Referem-
se tambm aprendizagem de fatos e conceitos que os educandos tero
oportunidade de conhecer. Contedos referentes a atitudes e valores,
dada a sua natureza, esto melhor contemplados nos objetivos gerais
ou de rea; ainda assim, nos casos pertinentes, objetivos atitudinais
foram relacionados tambm a tpicos de estudo especficos.
Expressando diferentes graus de aprofundamento em que um
tpico de contedo pode ser abordado, os objetivos didticos po-
dem orientar tambm decises quanto seqenciao do ensino.
Para as reas de Lngua Portuguesa e Matemtica, h indicaes mais
detalhadas quanto s formas mais adequadas de abordar cada blo-
co de contedo nos estgios iniciais e nos estgios mais avanados
das aprendizagens. Com relao aos Estudos da Sociedade e da Na-
tureza, considerou-se que a seqenciao poderia ser feita conside-
rando-se apenas os interesses ou necessidades dos educandos. Ou
seja, qualquer dos tpicos de contedo pode ser tratado com alu-
nos iniciantes ou avanados, desde que se considere o grau de do-
mnio que tenham da representao escrita ao lado da possibilida-
de de lanar mo de recursos audiovisuais e da interao oral.
Propor parmetros para a seqenciao do ensino uma tarefa
particularmente complicada em se tratando de educao de jovens e
adultos, pois os programas podem variar bastante quanto durao,
carga horria, aos critrios de organizao das turmas e seriao.
bastante comum a existncia de turmas multisseriadas, reunindo
Nesta proposta so
sugeridos blocos de
contedo e tpicos
de estudo,
organizados emtrs
reas
Os objetivos
didticos
especificammodos
de abordar os
tpicos de estudo
emdiferentes graus
de aprofundamento
17
Introduo
Educao de jovens e adultos
pessoas com diferentes nveis de domnio da escrita e da Matemti-
ca, de conhecimentos sobre a sociedade e a natureza. Mesmo nos pro-
gramas cujos critrios de enturmao obedecem a alguma seriao,
a heterogeneidade sempre uma caracterstica forte dos grupos.
Acreditamos que a forma de apresentao aqui adotada pode
facilitar a definio, por parte dos programas, do grau de apro-
fundamento dos contedos mais adequado s suas prioridades edu-
cativas, s caractersticas de suas turmas e durao dos cursos. Nos
programas seriados, por exemplo, pode-se optar por trabalhar al-
guns contedos em todas as sries, em graus progressivos de apro-
fundamento. recomendvel, inclusive, que os contedos mais es-
senciais sejam retomados em diversas sries. Outros contedos
podem ser distribudos entre as sries e tratados ento no nvel de
profundidade correspondente. Essa forma de apresentao dos ob-
jetivos didticos visa ainda ajudar os educadores a enfrentar a hete-
rogeneidade das turmas, pois indica como abordar um mesmo t-
pico com os alunos iniciantes e com os mais avanados.
Finalmente, um ltimo captulo trata do planejamento e da ava-
liao. A encontram-se sugestes de como planejar unidades didti-
cas que favoream o estabelecimento de relaes entre os diversos
contedos, tornando seu desenvolvimento mais interessante para alu-
nos e professores, o trabalho do dia-a-dia mais rico e estimulante. A
avaliao, por sua vez, abordada como parte constitutiva do pla-
nejamento. So sugeridos tambm critrios de avaliao especifica-
mente orientados para decises associadas certificao de equiva-
lncia de escolaridade e ao encaminhamento dos jovens e adultos para
o segundo segmento do 1 grau.
Em todos os captulos, h notas com indicaes bibliogrficas
para os educadores que desejam se aprofundar em temticas espec-
ficas. Com esse conjunto articulado de objetivos e contedos educa-
tivos, referncias e sugestes didticas, pretendeu-se esboar um mapa
que orientasse as opes das equipes envolvidas na elaborao curri-
cular e no planejamento. Essas opes, entretanto, devem referir-se
principalmente aos contextos educativos de que participam. somente
H sugesto de
critrios de avaliao
para certificao e
encaminhamento dos
jovens e adultos para
o segundo segmento
do 1 grau
18
Introduo
Ao Educativa / MEC
nos contextos especficos que este mapa pode associar-se a paisagens
vivas, que de fato orientem os caminhos dos educadores e educandos.
Cabe lembrar ainda que existem experincias de educao bsi-
ca de jovens e adultos que desenvolvem trabalhos mais sistemticos
nas reas de Educao Fsica e Educao Artstica e que avaliam po-
sitivamente o impacto dessas reas no desenvolvimento geral dos
educandos. Essa , entretanto, uma prtica muito pouco generaliza-
da. H tambm programas que desenvolvem trabalhos especficos de
preparao profissional. Este projeto curricular no abrange essas
reas, mas consideramos importante que os educadores exercitem a
liberdade de opes que essa modalidade educativa permite e exige
para adequar seus programas s necessidades e interesses dos jovens
e adultos.
19
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Educao de jovens e adultos
Breve histrico da educao de
jovens e adultos no Brasil
Alfabetizao de adultos
na pauta das polticas educacionais
A educao bsica de adultos comeou a delimitar seu lugar na
histria da educao no Brasil a partir da dcada de 30, quando fi-
nalmente comea a se consolidar um sistema pblico de educao
elementar no pas. Neste perodo, a sociedade brasileira passava por
grandes transformaes, associadas ao processo de industrializao
e concentrao populacional em centros urbanos. A oferta de ensino
bsico gratuito estendia-se consideravelmente, acolhendo setores so-
ciais cada vez mais diversos. A ampliao da educao elementar foi
impulsionada pelo governo federal, que traava diretrizes educacio-
nais para todo o pas, determinando as responsabilidades dos esta-
dos e municpios. Tal movimento incluiu tambm esforos articula-
dos nacionalmente de extenso do ensino elementar aos adultos, es-
pecialmente nos anos 40.
Com o fim da ditadura de Vargas em 1945, o pas vivia a efer-
vescncia poltica da redemocratizao. A Segunda Guerra Mundial
recm terminara e a ONU Organizao das Naes Unidas
alertava para a urgncia de integrar os povos visando a paz e a de-
mocracia. Tudo isso contribuiu para que a educao dos adultos ga-
nhasse destaque dentro da preocupao geral com a educao elemen-
tar comum. Era urgente a necessidade de aumentar as bases eleitorais
No processo de
redemocratizao
do Estado brasileiro,
aps 1945, a
educao de
adultos ganhou
destaque dentro da
preocupao
geral coma
universalizao da
educao elementar
20
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
para a sustentao do governo central, integrar as massas populacio-
nais de imigrao recente e tambm incrementar a produo.
Nesse perodo, a educao de adultos define sua identidade to-
mando a forma de uma campanha nacional de massa, a Campanha
de Educao de Adultos, lanada em 1947. Pretendia-se, numa pri-
meira etapa, uma ao extensiva que previa a alfabetizao em trs
meses, e mais a condensao do curso primrio em dois perodos de
sete meses. Depois, seguiria uma etapa de ao em profundidade,
voltada capacitao profissional e ao desenvolvimento comunit-
rio. Nos primeiros anos, sob a direo do professor Loureno Filho,
a campanha conseguiu resultados significativos, articulando e am-
pliando os servios j existentes e estendendo-os s diversas regies
do pas. Num curto perodo de tempo, foram criadas vrias escolas
supletivas, mobilizando esforos das diversas esferas administrati-
vas, de profissionais e voluntrios. O clima de entusiasmo comeou
a diminuir na dcada de 50; iniciativas voltadas ao comunitria
em zonas rurais no tiveram o mesmo sucesso e a campanha se ex-
tinguiu antes do final da dcada. Ainda assim, sobreviveu a rede de
ensino supletivo por meio dela implantada, assumida pelos estados
e municpios.
A instaurao da Campanha de Educao de Adultos deu lugar
tambm conformao de um campo terico-pedaggico orientado
para a discusso sobre o analfabetismo e a educao de adultos no
Brasil. Nesse momento, o analfabetismo era concebido como causa
e no efeito da situao econmica, social e cultural do pas. Essa
concepo legitimava a viso do adulto analfabeto como incapaz e
marginal, identificado psicolgica e socialmente com a criana. Uma
professora encarregada de formar os educadores da Campanha, num
trabalho intitulado Fundamentos e metodologia do ensino supletivo,
usava as seguintes palavras para descrever o adulto analfabeto:
Dependente do contacto face a face para enriquecimento
de sua experincia social, ele tem que, por fora, sentir-se uma
criana grande, irresponsvel e ridcula [...]. E, se tem as res-
A Campanha de
Educao de
Adultos lanada em
1947 alimentou a
reflexo e o debate
emtorno do
analfabetismo no
Brasil
21
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Educao de jovens e adultos
ponsabilidades do adulto, manter uma famlia e uma pro-
fisso, ele o far em plano deficiente. [...]
O analfabeto, onde se encontre, ser um problema de
definio social quanto aos valores: aquilo que vale para ele
sem mais valia para os outros e se torna pueril para os que
dominam o mundo das letras.
[...] inadequadamente preparado para as atividades con-
venientes vida adulta, [...] ele tem que ser posto margem
como elemento sem significao nos empreendimentos co-
muns. Adulto-criana, como as crianas ele tem que viver
num mundo de egocentrismo que no lhe permite ocupar os
planos em que as decises comuns tem que ser tomadas.
1
Durante a prpria campanha, essa viso modificou-se; foram
adensando-se as vozes dos que superavam esse preconceito, reconhe-
cendo o adulto analfabeto como ser produtivo, capaz de raciocinar
e resolver seus problemas. Para tanto contriburam tambm teorias
mais modernas da psicologia, que desmentiam postulados anterio-
res de que a capacidade de aprendizagem dos adultos seria menor
do que a das crianas. J em artigo de 1945, Loureno Filho argu-
mentara neste sentido, lanando mo de estudos de psicologia ex-
perimental realizados nos Estados Unidos nas dcadas de 20 e 30.
A confiana na capacidade de aprendizagem dos adultos e a difu-
so de um mtodo de ensino de leitura para adultos conhecido como
Laubach inspiraram a inciativa do Ministrio da Educao de produ-
zir pela primeira vez, por ocasio da Campanha de 47, material did-
tico especfico para o ensino da leitura e da escrita para os adultos.
O Primeiro guia de leitura, distribudo pelo ministrio em larga
escala para as escolas supletivas do pas, orientava o ensino pelo m-
todo silbico. As lies partiam de palavras-chave selecionadas e or-
ganizadas segundo suas caractersticas fonticas. A funo dessas
1
Apud Vanilda Pereira Paiva, Educao popular e educao de adultos, 2 ed., Rio
de Janeiro, Loyola, 1983.
Durante a campanha,
idias
preconceituosas
sobre adultos
analfabetos foram
criticadas; seus
saberes e
capacidades foram
reconhecidos
22
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
palavras era remeter aos padres silbicos, estes sim o foco do estudo.
As slabas deveriam ser memorizadas e remontadas para formar ou-
tras palavras. As primeiras lies tambm continham pequenas fra-
ses montadas com as mesmas slabas. Nas lies finais, as frases com-
punham pequenos textos contendo orientaes sobre preservao da
sade, tcnicas simples de trabalho e mensagens de moral e civismo.
Alfabetizao e conscientizao
No final da dcada de 50, as crticas Campanha de Educao
de Adultos dirigiam-se tanto s suas deficincias administrativas e
financeiras quanto sua orientao pedaggica. Denunciava-se o
carter superficial do aprendizado que se efetivava no curto pero-
do da alfabetizao, a inadequao do mtodo para a populao
adulta e para as diferentes regies do pas. Todas essas crticas con-
vergiram para uma nova viso sobre o problema do analfabetismo
e para a consolidao de um novo paradigma pedaggico para a
educao de adultos, cuja referncia principal foi o educador per-
nambucano Paulo Freire.
O pensamento pedaggico de Paulo Freire, assim como sua pro-
posta para a alfabetizao de adultos, inspiraram os principais pro-
gramas de alfabetizao e educao popular que se realizaram no pas
no incio dos anos 60. Esses programas foram empreendidos por in-
telectuais, estudantes e catlicos engajados numa ao poltica junto
aos grupos populares. Desenvolvendo e aplicando essas novas dire-
trizes, atuaram os educadores do MEB Movimento de Educao
de Base, ligado CNBB Conferncia Nacional dos Bispos do Bra-
sil, dos CPCs Centros de Cultura Popular, organizados pela UNE
Unio Nacional dos Estudantes, dos Movimentos de Cultura Po-
pular, que reuniam artistas e intelectuais e tinham apoio de adminis-
traes municipais. Esses diversos grupos de educadores foram se
articulando e passaram a pressionar o governo federal para que os
apoiasse e estabelecesse uma coordenao nacional das iniciativas. Em
A pedagogia de
Paulo Freire inspirou
os principais
programas de
alfabetizao e
educao popular
do incio dos
anos 60
23
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Educao de jovens e adultos
janeiro de 1964, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetizao, que
previa a disseminao por todo Brasil de programas de alfabetizao
orientados pela proposta de Paulo Freire. A preparao do plano, com
forte engajamento de estudantes, sindicatos e diversos grupos estimu-
lados pela efervescncia poltica da poca, seria interrompida alguns
meses depois pelo golpe militar.
2
O paradigma pedaggico que se construiu nessas prticas basea-
va-se num novo entendimento da relao entre a problemtica edu-
cacional e a problemtica social. Antes apontado como causa da po-
breza e da marginalizao, o analfabetismo passou a ser interpretado
como efeito da situao de pobreza gerada por uma estrutura social
no igualitria. Era preciso, portanto, que o processo educativo inter-
ferisse na estrutura social que produzia o analfabetismo. A alfabeti-
zao e a educao de base de adultos deveriam partir sempre de um
exame crtico da realidade existencial dos educandos, da identificao
das origens de seus problemas e das possibilidades de super-los.
Alm dessa dimenso social e poltica, os ideais pedaggicos que
se difundiam tinham um forte componente tico, implicando um
profundo comprometimento do educador com os educandos. Os
analfabetos deveriam ser reconhecidos como homens e mulheres
produtivos, que possuam uma cultura. Dessa perspectiva, Paulo
Freire criticou a chamada educao bancria, que considerava o
analfabeto pria e ignorante, uma espcie de gaveta vazia onde o
educador deveria depositar conhecimento. Tomando o educando
como sujeito de sua aprendizagem, Freire propunha uma ao edu-
cativa que no negasse sua cultura mas que a fosse transformando
atravs do dilogo. Na poca, ele referia-se a uma conscincia ing-
nua ou intransitiva, herana de uma sociedade fechada, agrria e
oligrquica, que deveria ser transformada em conscincia crtica,
2
Dois bons estudos sobre a histria da educao de adultos no Brasil, das origens
criao do Mobral em 1970, so os livros de Celso de Rui Beisiegel, Estado e educao po-
pular (So Paulo, Pioneira, 1974), e de Vanilda Pereira Paiva, Educao popular e educa-
o de adultos (op. cit.).
Antes apontado como
causa da pobreza e
da marginalizao, o
analfabetismo passou
a ser interpretado
como efeito da
situao de pobreza
gerada pela estrutura
social
24
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
3
Pedagogia do oprimido (17 ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987) uma obra cls-
sica de Paulo Freire, em que o autor expe a filosofia educativa que orientou sua atuao
no campo da alfabetizao de adultos.
necessria ao engajamento ativo no desenvolvimento poltico e eco-
nmico da nao.
3
Paulo Freire elaborou uma proposta de alfabetizao de adul-
tos conscientizadora, cujo princpio bsico pode ser traduzido numa
frase sua que ficou clebre: A leitura do mundo precede a leitura
da palavra. Prescindindo da utilizao de cartilhas, desenvolveu um
conjunto de procedimentos pedaggicos que ficou conhecido como
mtodo Paulo Freire. Ele previa uma etapa preparatria, quando o
alfabetizador deveria fazer uma pesquisa sobre a realidade existen-
cial do grupo junto ao qual iria atuar. Concomitantemente, faria um
levantamento de seu universo vocabular, ou seja, das palavras utili-
zadas pelo grupo para expressar essa realidade. Desse universo, o
alfabetizador deveria selecionar as palavras com maior densidade de
sentido, que expressassem as situaes existenciais mais importan-
tes. Depois, era necessrio selecionar um conjunto que contivesse os
diversos padres silbicos da lngua e organiz-lo segundo o grau
de complexidade desses padres. Essas seriam as palavras gerado-
ras, a partir das quais se realizaria tanto o estudo da escrita e leitu-
ra como o da realidade.
Antes de entrar no estudo dessas palavras geradoras, Paulo Frei-
re propunha ainda um momento inicial em que o contedo do di-
logo educativo girava em torno do conceito antropolgico de cul-
tura. Utilizando uma srie de ilustraes (cartazes ou slides), o edu-
cador deveria dirigir uma discusso na qual fosse sendo evidencia-
do o papel ativo dos homens como produtores de cultura e as dife-
rentes formas de cultura: a cultura letrada e a no letrada, o traba-
lho, a arte, a religio, os diferentes padres de comportamento e a
sociabilidade. O objetivo era, antes mesmo de iniciar o aprendiza-
do da escrita, levar o educando a assumir-se como sujeito de sua
aprendizagem, como ser capaz e responsvel. Tratava-se tambm de
Paulo Freire
elaborou uma
proposta de
alfabetizao de
adultos
conscientizadora,
cujo princpio
bsico era: A
leitura do mundo
precede a leitura da
palavra
O objetivo era, antes
mesmo de iniciar o
aprendizado da
escrita, levar o
educando a assumir-
se como sujeito de
sua aprendizagem
25
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Educao de jovens e adultos
ultrapassar uma compreenso mgica da realidade e desmistificar a
cultura letrada, na qual o educando estaria se iniciando.
Depois de cumprida essa etapa, iniciava-se o estudo das palavras
geradoras, que tambm eram apresentadas junto com cartazes contendo
imagens referentes s situaes existenciais a elas relacionadas. Com
cada gravura, desencadeava-se um debate em torno do tema e s en-
to a palavra escrita era analisada em suas partes componentes: as
slabas. Enfim, era apresentado um quadro com as famlias silbicas
com as quais os alfabetizandos deveriam montar novas palavras.
Com um elenco de dez a vinte palavras geradoras, acreditava-se
conseguir alfabetizar um educando em trs meses, ainda que num nvel
rudimentar. Numa etapa posterior, as palavras geradoras seriam subs-
titudas por temas geradores, a partir dos quais os alfabetizandos
aprofundariam a anlise de seus problemas, preferencialmente j se
engajando em atividades comunitrias ou associativas.
Nesse perodo, foram produzidos diversos materiais de alfabe-
tizao orientados por esses princpios. Normalmente elaborados
regional ou localmente, procurando expressar o universo vivencial
dos alfabetizandos, esses materiais continham palavras geradoras
acompanhadas de imagens relacionadas a temas para debate, os qua-
dros de descoberta com as slabas derivadas das palavras, acresci-
das de pequenas frases para leitura. O que caracterizava esses ma-
teriais era no apenas a referncia realidade imediata dos adultos,
mas, principalmente, a inteno de problematizar essa realidade.
4
O Mobral e a educao popular
Com o golpe militar de 1964, os programas de alfabetizao e
educao popular que se haviam multiplicado no perodo entre 1961
4
Uma descrio de como o chamado mtodo Paulo Freire era operacionalizado, acom-
panhada de uma sntese de seus fundamentos filosficos, pode ser encontrada no livro O
que o mtodo Paulo Freire, de Carlos Rodrigues Brando (2 ed., Coleo Primeiros Pas-
sos, So Paulo, Brasiliense, 1981).
Os materiais
didticos produzidos
nesse perodo
referiam-se
realidade imediata
dos adultos,
problematizando-a
26
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
e 1964 foram vistos como uma grave ameaa ordem e seus promo-
tores duramente reprimidos. O governo s permitiu a realizao de
programas de alfabetizao de adultos assistencialistas e conservado-
res, at que, em 1967, ele mesmo assumiu o controle dessa atividade
lanando o Mobral Movimento Brasileiro de Alfabetizao.
Era a resposta do regime militar ainda grave situao do anal-
fabetismo no pas. O Mobral constituiu-se como organizao aut-
noma em relao ao Ministrio da Educao, contando com um vo-
lume significativo de recursos. Em 1969, lanou-se numa campanha
massiva de alfabetizao. Foram instaladas Comisses Municipais,
que se responsabilizavam pela execuo das atividades, mas a orien-
tao e superviso pedaggica bem como a produo de materiais
didticos eram centralizadas.
As orientaes metodolgicas e os materiais didticos do Mobral
reproduziram muitos procedimentos consagrados nas experincias
de incios dos anos 60, mas esvaziando-os de todo sentido crtico e
problematizador. Propunha-se a alfabetizao a partir de palavras-
chave, retiradas da vida simples do povo, mas as mensagens a elas
associadas apelavam sempre ao esforo individual dos adultos anal-
fabetos para sua integrao nos benefcios de uma sociedade moder-
na, pintada sempre de cor-de-rosa.
Durante a dcada de 70, o Mobral expandiu-se por todo o ter-
ritrio nacional, diversificando sua atuao. Das iniciativas que de-
rivaram do Programa de Alfabetizao, a mais importante foi o PEI
Programa de Educao Integrada, que correspondia a uma con-
densao do antigo curso primrio. Este programa abria a possibi-
lidade de continuidade de estudos para os recm-alfabetizados, as-
sim como para os chamados analfabetos funcionais, pessoas que
dominavam precariamente a leitura e a escrita.
Paralelamente, grupos dedicados educao popular continua-
ram a realizar experincias pequenas e isoladas de alfabetizao de
adultos com propostas mais crticas, desenvolvendo os postulados
de Paulo Freire. Essas experincias eram vinculadas a movimentos
populares que se organizavam em oposio ditadura, comunida-
Depois do golpe
militar de 1964,
grupos que atuavam
na alfabetizao de
adultos foram
reprimidos; o
governo passou a
controlar as
iniciativas como
lanamento do
Mobral
Grupos dedicados
educao popular
continuarama
realizar experincias
pequenas e isoladas
de alfabetizao de
adultos com
propostas mais
crticas
27
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Educao de jovens e adultos
des religiosas de base, associaes de moradores e oposies sindi-
cais. Paulo Freire, que fora exilado, seguia trabalhando com educa-
o de adultos no Chile e depois em pases africanos.
Com a emergncia dos movimentos sociais e o incio da abertu-
ra poltica na dcada de 80, essas pequenas experincias foram se am-
pliando, construindo canais de troca de experincia, reflexo e arti-
culao. Projetos de alfabetizao se desdobraram em turmas de ps-
alfabetizao, onde se avanava no trabalho com a lngua escrita, alm
das operaes matemticas bsicas. Tambm as administraes de al-
guns estados e municpios maiores ganhavam autonomia com rela-
o ao Mobral, acolhendo educadores que se esforaram por reo-
rientar seus programas de educao bsica de adultos. Desacredita-
do nos meios polticos e educacionais, o Mobral foi extinto em 1985.
Seu lugar foi ocupado pela Fundao Educar, que abriu mo de exe-
Na dcada de 80,
essas pequenas
experincias foram
se ampliando,
construindo canais
de troca de
experincia, reflexo
e articulao
28
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
cutar diretamente os programas, passando a apoiar financeira e tec-
nicamente as iniciativas de governos, entidades civis e empresas a ela
conveniadas.
Educao bsica de jovens e adultos:
consolidando prticas
Nesse perodo de reconstruo democrtica, muitas experincias
de alfabetizao ganharam consistncia, desenvolvendo os postulados
e enriquecendo o modelo da alfabetizao conscientizadora dos anos
60. Dificuldades encontradas na prtica geravam reflexo e aponta-
vam novas pistas.
Um avano importante dessas experincias mais recentes a in-
corporao de uma viso de alfabetizao como processo que exige
um certo grau de continuidade e sedimentao. Desde os anos 50,
eram recorrentes as crticas a campanhas que pretendiam alfabetizar
em poucos meses, com perspectivas vagas de continuidade, depois das
quais se constatavam altos ndices de regresso ao analfabetismo. Os
programas mais recentes prevem um tempo maior, de um, dois ou
at trs anos dedicados alfabetizao e ps-alfabetizao, de modo
a garantir que o jovem ou adulto atinja maior domnio dos instru-
mentos da cultura letrada, para que possa utiliz-los na vida diria
ou mesmo prosseguir seus estudos, completando sua escolarizao.
A alfabetizao crescentemente incorporada a programas mais ex-
tensivos de educao bsica de jovens e adultos.
Essa tendncia se reflete nos materiais didticos produzidos. Para
a alfabetizao inicial, as palavras geradoras com suas imagens co-
dificadoras e quadros de famlias silbicas vm em muitos casos
acompanhadas de exerccios complementares; normalmente, exerc-
cios de montar ou completar palavras com slabas dadas, palavras
e frases para ler e associar a imagens, bem como exerccios de coor-
denao motora. Alguns materiais partem de frases geradoras que,
gradativamente, vo compondo pequenos textos. Revela-se uma
Umavano
importante dessas
experincias mais
recentes a
incorporao de
uma viso de
alfabetizao como
processo que exige
umcerto grau de
continuidade e
sedimentao
29
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Educao de jovens e adultos
preocupao crescente de ofertar materiais de leitura adaptados aos
neo-leitores. Para os nveis de ps-alfabetizao, os materiais so
mais escassos. Os mais originais so aqueles que aproveitam textos
escritos pelos prprios educandos como textos de leitura. A maio-
ria, entretanto, reproduz os livros didticos utilizados no ensino pri-
mrio regular, adaptados para uma temtica mais adulta. Os textos,
sempre simplificados, referem-se ao mundo do trabalho, problemas
urbanos, sade e organizao poltica como temas geradores ou t-
picos curriculares de Estudos Sociais e Cincias. Entre as propostas
de exerccios de escrita, aparecem os questionrios nos quais se so-
licita a reproduo dos contedos dos textos ou se introduzem t-
picos gramaticais.
Outro indicador da ampliao da concepo de alfabetizao no
sentido de uma viso mais abrangente de educao bsica a cres-
cente preocupao com relao iniciao matemtica. Muitas ve-
zes, a preocupao foi posta pelos prprios educandos, que expres-
savam o desejo de aprender a fazer contas, certamente em razo
da funcionalidade que tal habilidade tem para a resoluo de proble-
mas da vida diria. De fato, considerando-se a incidncia das repre-
sentaes e operaes numricas nos mais diversos campos da cultu-
ra, fundamental incluir sua aprendizagem numa concepo de al-
fabetizao integral.
Um princpio pedaggico j bastante assimilado entre os que se
dedicam educao bsica de adultos o da incorporao da cultura
e da realidade vivencial dos educandos como contedo ou ponto de
partida da prtica educativa. No caso da educao de adultos, talvez
fique mais evidente a inadequao de uma educao que no interfira
nas formas de o educando compreender e atuar no mundo. A anlise
das prticas, entretanto, mostra as dificuldades de se operacionalizar
esse princpio. Muitos materiais didticos, geralmente os produzidos
em grande escala, fazem referncia a trabalhadores ou pessoas do
povo genricas, com as quais difcil homens e mulheres concretos
se identificarem. Em outros casos, a suposta realidade do educando
retratada apenas em seus aspectos negativos pobreza, sofrimento,
Outro indicador da
ampliao da
concepo de
alfabetizao no
sentido de uma viso
mais abrangente de
educao bsica
a crescente
preocupao com
relao iniciao
matemtica
30
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
injustia ou apenas na sua dimenso poltica. Ocorre tambm a re-
duo dos interesses ou necessidades educativas dos jovens e adultos
ao que lhes imediato, enquanto sua vontade de conhecer vai muito
alm. Perde-se assim a oportunidade criada pela situao educativa de
se ampliarem os instrumentos de pensamento e a viso de mundo dos
educandos e dos educadores.
Outra questo metodolgica diz respeito ao carter crtico, pro-
blematizador e criativo que se pretende imprimir educao de adul-
tos. Educadores fortemente identificados com esses princpios da pr-
tica educativa conseguem estabelecer uma relao de dilogo e enri-
quecimento mtuo com seu grupo. Promovem situaes de conversa
ou debate em que os educandos tm a oportunidade de expressar a
riqueza e a originalidade de sua linguagem e de seus saberes; conse-
guem reconhecer, comparar, julgar, recriar e propor. Entretanto, na
passagem para o trabalho especfico de leitura e escrita ou matem-
tica, torna-se mais difcil garantir a natureza significativa e constru-
tiva das aprendizagens. Na alfabetizao, o exerccio mecnico de
montagem e desmontagem de palavras e slabas vai se sobrepondo
construo de significados; os problemas matemticos do lugar
memorizao dos procedimentos das operaes. Muitas vezes, com
a inteno de simplificar as mensagens, j que se trata de uma inicia-
o cultura letrada, os textos oferecidos para leitura repetem a mes-
ma estrutura e estilo, expondo uma viso unilateral dos temas trata-
dos. Produz-se, assim, uma dissociao entre os momentos de leitura
do mundo, quando os educandos so chamados a analisar, compa-
rar, elaborar, e os momentos de leitura da palavra (ou dos nme-
ros), quando os educando devem repetir, memorizar e reproduzir.
Novas perspectivas na
aprendizagemda leitura e da escrita
A partir de meados da dcada de 80, difundem-se entre os edu-
cadores brasileiros estudos e pesquisas sobre o aprendizado da ln-
Umprincpio
pedaggico j
bastante assimilado
entre os que se
dedicam educao
bsica de adultos
o da incorporao
da realidade
vivencial dos
educandos como
contedo ou ponto
de partida da prtica
educativa
31
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Educao de jovens e adultos
gua escrita com bases na lingstica e na psicologia, que lanam no-
vas luzes sobre as prticas de alfabetizao. Esses estudos enfatizam
o fato de que a escrita e a leitura so mais do que a transcrio e
decifrao de letras e sons, que so atividades inteligentes, em que
a percepo orientada pela busca dos significados. Reforam-se os
argumentos crticos s cartilhas de alfabetizao que contm pala-
vras e frases isoladas, fora de contextos significativos que auxiliem
sua compreenso. Entretanto, mesmo nas propostas pedaggicas em
que se pode constatar uma preocupao de trabalhar com palavras
ou frases significativas, observa-se uma nfase muito grande nos
procedimentos do mtodo silbico, de montagem e desmontagem de
palavras. Como o mtodo prescreve a apresentao de padres si-
lbicos que vo sendo introduzidos um de cada vez, fatalmente as
frases ou textos resultantes so artificiais, enunciados montados,
mais do que mensagens de verdade.
Especialmente os trabalhos da psicopedagoga argentina Emlia
Ferreiro trouxeram indicaes aos alfabetizadores de como ultrapassar
as limitaes dos mtodos baseados na silabao. Pesquisando as
concepes sobre a escrita de crianas pr-escolares, essa autora mos-
trou que, convivendo num ambiente letrado, elas procuravam com-
preender o funcionamento desse sistema de representao, chegan-
do escola com hipteses e informaes prvias sobre a escrita que
eram desprezadas pelas propostas de ensino. Emlia Ferreiro realizou
ainda um estudo junto a adultos analfabetos, mostrando que tambm
eles tinham uma srie de informaes sobre a escrita e elaboravam
hipteses semelhantes s das crianas.
5
As propostas pedaggicas para a alfabetizao comeam a incor-
porar a convico de que no necessrio nem recomendvel mon-
tar uma lngua artificial para ensinar a ler e escrever. Os adultos anal-
fabetos podem escrever enunciados significativos baseados em seus
conhecimentos da lngua, ainda que, no incio, no produzam uma
5
Emlia Ferreiro, Los adultos no alfabetizados y sus conceptualizaciones del sistema
de escritura, Mxico, Instituto Pedaggico Nacional, 1983.
Reforam-se os
argumentos crticos
s cartilhas de
alfabetizao que
contmpalavras e
frases isoladas, fora
de contextos
significativos que
auxiliemsua
compreenso
32
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
escrita convencional. com essas produes que o educador dever
trabalhar, ajudando o aprendiz a analis-las e introduzindo novas
informaes. Com relao leitura, tambm se procura ampliar o
universo lingstico, utilizando-se uma diversidade maior de textos,
que vo de jornais e enciclopdias a receitas e embalagens. A forma-
o de um bom leitor no depende s da memorizao das corres-
pondncias entre letras e sons mas tambm do conhecimento das
funes, estruturas e dos estilos prprios dos diferentes tipos de tex-
to presentes na nossa cultura.
Essas reorientaes do trabalho com a lngua escrita comearam
recentemente a se fazer presentes nas propostas pedaggicas para adul-
tos. Para a fase inicial da alfabetizao, algumas experincias aban-
donaram as palavras geradoras como pontos de partida, introduzin-
do outros procedimentos como o trabalho com os nomes dos alunos
ou os chamados textos coletivos, grafados pelo alfabetizador a partir
de sugestes ditadas pelos alfabetizandos. Surgem assim materiais di-
dticos com maior diversidade de textos e propostas de escrita.
Novos significados para
as aprendizagens escolares
Alm desses estudos sobre a alfabetizao inicial, os educadores
brasileiros tm entrado em contato tambm com estudos que tematizam
as relaes entre pensamento e linguagem, pensamento e cultura, cultura
oral e cultura letrada, conceitos espontneos e conceitos cientficos.
Com relao ao ensino de Matemtica para jovens e adultos, a
questo pedaggica mais instigante o fato de que eles quase sempre,
independentemente do ensino sistemtico, desenvolvem procedimentos
prprios de resoluo de problemas envolvendo quantificaes e cl-
culos. H jovens e adultos analfabetos capazes de fazer clculos bastante
complexos, ainda que no saibam como represent-los por escrito na
forma convencional, ou ainda que no saibam sequer explicar como
chegaram ao resultado, e pesquisas foram feitas para investigar a natu-
No necessrio
nemrecomendvel
montar uma lngua
artificial para
ensinar a ler e
escrever
33
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Educao de jovens e adultos
reza desses conhecimentos e o seu alcance. O desafio, ainda pouco
equacionado, como relacion-los significativamente com a aprendiza-
gem das representaes numricas e dos algoritmos ensinados na escola.
Com relao ao ensino das Cincias Sociais e Naturais, eviden-
cia-se a limitao das abordagens que visam apenas a aprendizagem
de conhecimentos imediatamente teis para os jovens e adultos. Sem
negar o valor de informaes teis que a escola pode veicular, impe-
se a tarefa de orientar os educandos para uma compreenso mais abran-
gente dos fenmenos, para a qual podem contribuir conceitos cient-
ficos e informaes das mais diversas fontes.
Ainda h poucos estudos nessa direo aplicados ao ensino de
jovens e adultos. Ainda assim, abordagens tericas que enfatizam o
papel do ensino sistemtico no desenvolvimento do pensamento de-
senham novas pistas para integrar de forma mais dinmica a leitu-
ra do mundo e a leitura da palavra na educao crtica e criativa
que os educadores de jovens e adultos desejam realizar.
6
Desafios para os anos 90
No mbito das polticas educacionais, os primeiros anos da d-
cada de 90 no foram muito favorveis. Historicamente, o governo
federal foi a principal instncia de apoio e articulao das iniciativas
de educao de jovens e adultos. Com a extino da Fundao Edu-
car, em 1990, criou-se um enorme vazio em termos de polticas para
o setor. Alguns estados e municpios tm assumido a responsabilida-
de de oferecer programas na rea, assim como algumas organizaes
da sociedade civil, mas a oferta ainda est longe de satisfazer a de-
manda. Acompanhando a falta de polticas para estender o atendi-
mento, h uma grande falta de materiais didticos de apoio, de estu-
6
O livro Metodologia da alfabetizao: pesquisas em educao de jovens e adultos,
de Vera Masago Ribeiro et al. (Campinas/ So Paulo, Papirus/ CEDI, 1992), traz um balan-
o dos principais estudos realizados no Brasil nos anos 70 e 80, contemplando vrias das
problemticas aqui referidas.
Os jovens e adultos
desenvolvem
procedimentos
prprios de
resoluo de
problemas
envolvendo
quantificaes e
clculos
34
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
dos e pesquisas sobre essa modalidade educativa, tendo os educado-
res de enfrentar com poucos recursos sua tarefa.
7
A histria da educao de jovens e adultos no Brasil chega
dcada de 90, portanto, reclamando a consolidao de reformulaes
pedaggicas que, alis, vm se mostrando necessrias em todo o en-
sino fundamental. Do pblico que tem acorrido aos programas para
jovens e adultos, uma ampla maioria constituda de pessoas que j
tiveram passagens fracassadas pela escola, entre elas, muitos adoles-
centes e jovens recm-excludos do sistema regular. Esta situao res-
salta o grande desafio pedaggico, em termos de seriedade e criati-
vidade, que a educao de jovens e adultos impe: como garantir a
esse segmento social que vem sendo marginalizado nas esferas scio-
econmica e educacional um acesso cultura letrada que lhe possi-
bilite uma participao mais ativa no mundo do trabalho, da polti-
ca e da cultura.
7
Os artigos de Maria Clara Di Pierro e Srgio Haddad publicados no peridico Em
Aberto (v. 11, n. 56, Braslia, Inep, out.-dez. 1992) trazem balanos das polticas mais re-
centes de educao bsica de jovens e adultos, com dados sobre demanda e atendimento.
A histria da
educao de jovens
e adultos chega
dcada de 90
reclamando a
consolidao de
reformulaes
pedaggicas,
necessrias a todo o
ensino fundamental
35
Fundamentos e objetivos gerais
Educao de jovens e adultos
Fundamentos e objetivos gerais
O pblico dos programas de
educao de jovens e adultos
No Brasil, h mais de 35 milhes de pessoas maiores de cator-
ze anos que no completaram quatro anos de escolaridade. Esse
grande contingente constitui o pblico potencial dos programas de
educao de jovens e adultos correspondentes ao primeiro segmen-
to do ensino fundamental. Alm dos 20 milhes identificados como
analfabetos pelo Censo de 1991, esto includas nesse contingente
pessoas que dominam to precariamente a leitura e a escrita que fi-
cam impedidas de utilizar eficazmente essas habilidades para conti-
nuar aprendendo, para acessar informaes essenciais a uma inser-
o eficiente e autnoma em muitas das dimenses que caracterizam
as sociedades contemporneas. Em pases como o Brasil, marcados
por graves desnveis sociais, pela situao de pobreza de uma gran-
de parcela da populao e por uma tradio poltica pouco demo-
crtica, baixos nveis de escolarizao esto fortemente associados
a outras formas de excluso econmica e poltica. Famlias que vi-
vem em situao econmica precria enfrentam grandes dificulda-
des em manter as crianas na escola; seus esforos nesse sentido so
tambm mal recompensados, j que as escolas a que tm acesso so
pobres de recursos e normalmente no oferecem condies de apren-
dizagem adequadas.
No Brasil, h mais
de 35 milhes de
pessoas maiores de
catorze anos que
no completaram
quatro anos de
escolaridade
36
Fundamentos e objetivos gerais
Ao Educativa / MEC
No pblico que efetivamente freqenta os programas de edu-
cao de jovens e adultos, cada vez mais reduzido o nmero da-
queles que no tiveram nenhuma passagem anterior pela escola.
tambm cada vez mais dominante a presena de adolescentes e jo-
vens recm-sados do ensino regular, por onde tiveram passagens aci-
dentadas. Em levantamento realizado no programa de educao
bsica de jovens e adultos do municpio de So Paulo, em 1992,
apurou-se que 26% do alunado tinha at dezoito anos de idade e
36% tinha entre dezenove e 26.
1
Na cidade do Recife, apurou-se que,
dos alunos de programas para jovens e adultos das redes municipal
e estadual, 48% tinha de treze a dezoito anos de idade e 26%, de
dezoito a 24 anos.
2
A presena dos adolescentes tem sido to mar-
cante que se comea a pensar em programas ou turmas especialmente
destinadas a essa faixa etria.
A quase totalidade dos alunos desses programas, includos os
adolescentes, so trabalhadores. Com sacrifcio, acumulando respon-
sabilidades profissionais e domsticas ou reduzindo seu pouco tem-
po de lazer, dispem-se a freqentar cursos noturnos, na expectativa
de melhorar suas condies de vida. A maioria nutre a esperana de
continuar os estudos: concluir o 1 grau, ter acesso a outros graus de
ensino e a habilitaes profissionais.
O contexto social
As exigncias educativas da sociedade contempornea so cres-
centes e esto relacionadas a diferentes dimenses da vida das pes-
soas: ao trabalho, participao social e poltica, vida familiar e
comunitria, s oportunidades de lazer e desenvolvimento cultural.
1
Secretaria de Educao (municpio de So Paulo), Perfil dos educandos de suplncia
I, suplncia II e regular noturno da RME (So Paulo, 1992).
2
Secretaria Municipal de Educao (Recife), Perfil dos alunos deEBJA (Recife, 1995).
No pblico que
freqenta os
programas de
educao de jovens
e adultos, cada vez
mais reduzido o
nmero daqueles
que no tiveram
nenhuma passagem
anterior pela escola
37
Fundamentos e objetivos gerais
Educao de jovens e adultos
A dimenso econmica
O mundo contemporneo passa atualmente por uma revoluo
tecnolgica que est alterando profundamente as formas do traba-
lho. Esto sendo desenvolvidas novas tecnologias e novas formas de
organizar a produo que elevam bastante a produtividade, e delas
depende a insero competitiva da produo nacional numa econo-
mia cada vez mais mundializada. Essas novas tecnologias e sistemas
organizacionais exigem trabalhadores mais versteis, capazes de com-
preender o processo de trabalho como um todo, dotados de autono-
mia e iniciativa para resolver problemas em equipe. Ser cada vez mais
necessria a capacidade de se comunicar e de se reciclar continuamen-
te, de buscar e relacionar informaes diversas.
O outro lado da moeda do avano tecnolgico a diminuio dos
postos de trabalho, que torna a disputa pelo emprego mais acirrada.
Nveis de formao mais elevados passam a ser exigidos na disputa pelos
empregos disponveis. A um grande nmero de pessoas, impe-se a
necessidade de buscar formas alternativas de se inserir na economia,
Ser cada vez mais
necessria a
capacidade de se
comunicar e de se
reciclar
continuamente, de
buscar e relacionar
informaes diversas
38
Fundamentos e objetivos gerais
Ao Educativa / MEC
por meio do auto-emprego, organizao de microempresas ou atua-
o no mercado informal. A inveno dessas formas alternativas tam-
bm exige autonomia, capacidade de iniciativa, de comunicao e re-
ciclagem constante. Portanto, podemos dizer que, de forma geral, uma
insero vantajosa no mercado de trabalho exige hoje uma melhor
formao geral e no apenas treinamento em tcnicas especficas.
No Brasil, alguns setores de ponta da indstria e dos servios j
assimilaram esses avanos tecnolgicos. Entretanto, sabemos que essas
inovaes convivem com a manuteno de formas de trabalho tradi-
cionais, que utilizam tecnologias arcaicas e onde a maioria exerce
funes que exigem pouca qualificao. Nas zonas urbanas, alunos
de programas de educao de jovens e adultos normalmente so em-
pregados com baixa qualificao no setor industrial, comercial e de
servios, e uma grande parte atua no mercado informal. Nas zonas
rurais, so pequenos produtores ou empregados de empresas agrco-
las. Nessas funes, eles tm poucas oportunidades de utilizar-se da
leitura e escrita e escassas oportunidades de aperfeioamento, acaban-
do por limitar-se a conhecimentos especficos do ofcio, em muitos
casos transmitidos oralmente por familiares ou companheiros mais
experientes.
No aspecto econmico, o Brasil tem de enfrentar ainda uma so-
matria de problemas antigos e modernos: produzir mais para suprir
as carncias materiais de grandes parcelas da populao, distribuir a
riqueza mais eqitativamente e cuidar para que uma explorao pre-
datria no esgote os recursos naturais de que dispomos. Parece ha-
ver um razovel consenso de que para se atingir essas metas preci-
so elevar o nvel de educao de toda a populao. Reforando ar-
gumentos nesse sentido, tem sido muito apontado o exemplo de
pases asiticos que conseguiram um importante desenvolvimento
econmico baseado num investimento macio em educao. Traba-
lhadores com uma formao mais ampla, com mais iniciativa e mais
capacidade de resolver problemas e aprender continuamente tm mais
condies de trabalhar com eficincia e negociar sua participao na
distribuio das riquezas produzidas.
Trabalhadores com
capacidade de
resolver problemas
e aprender
continuamente tm
mais condies de
trabalhar com
eficincia e
negociar sua
participao na
distribuio das
riquezas produzidas
Uma insero
vantajosa no
mercado de trabalho
exige hoje uma
melhor formao
geral e no apenas
treinamento em
tcnicas especficas
39
Fundamentos e objetivos gerais
Educao de jovens e adultos
A dimenso poltica
Neste ponto nos remetemos s exigncias educativas que a socie-
dade nos impe no mbito poltico. A possibilidade de os diversos
setores da sociedade negociarem coletivamente seus interesses est na
essncia da idia de democracia. Na histria da civilizao moderna,
o ideal de democracia sempre contemplou o ideal de uma educao
escolar bsica universalizada. Atravs dela, pretende-se consolidar a
identidade de uma nao e criar a possibilidade de que todos partici-
pem como cidados na definio de seus destinos. Para participar
politicamente de uma sociedade complexa como a nossa, uma pes-
soa precisa ter acesso a um conjunto de informaes e pensar uma
srie de problemas que extrapolam suas vivncias imediatas e exigem
o domnio de instrumentos da cultura letrada. Um regime poltico de-
mocrtico exige ainda que as pessoas assumam valores e atitudes
democrticas: a conscincia de direitos e deveres, a disposio para
a participao, para o debate de idias e o reconhecimento de posi-
es diferentes das suas.
Na ltima dcada, o Brasil vem reconstruindo as instituies
democrticas e nesse processo a educao tem um papel a cumprir
com relao consolidao da democracia em nosso pas. Um gran-
de nmero de pessoas ainda no tem acesso a informaes necess-
rias para fazer sua opo poltica de forma mais consciente. Alm
disso, os longos anos de autoritarismo que marcaram a nossa hist-
ria desafiam a educao a desenvolver atitudes e valores democrti-
cos. preciso ter em mente que a democracia no se esgota na elei-
o de representantes para os poderes Executivo e Legislativo, ela deve
implicar tambm a possibilidade de maior participao e responsa-
bilidade em todas as dimenses da vida pblica.
A dimenso cultural
Assim, chegamos s exigncias educacionais que a prpria vida
cotidiana impe crescentemente. Para se ter acesso a muitos dos be-
nefcios da sociedade moderna, preciso ter domnio dos instrumen-
tos da cultura letrada: para se locomover nas grandes cidades ou de
Para participar
politicamente de uma
sociedade complexa
como a nossa,
preciso dominar
instrumentos da
cultura letrada
40
Fundamentos e objetivos gerais
Ao Educativa / MEC
uma localidade para outra, para tirar os documentos ou para cumprir um sem-
nmero de procedimentos burocrticos, para mover-se no mercado de con-
sumo e, finalmente, para poder usufruir de muitas modalidades de lazer e
cultura.
At no mbito do convvio familiar, surgem cada vez mais exi-
gncias educacionais. Para educar crianas expostas aos meios de
comunicao, num mundo com to rpidas transformaes, os pais
precisam constantemente se atualizar, precisam ter condies para
apoiar os filhos em seu percurso escolar, cuidar de sua sade etc. At
para planejar a famlia, para que se possa ter quantos filhos se deseje
e se possa cri-los preciso ter acesso informao, referenciar-se a
valores e assumir atitudes para as quais a educao pode contribuir.
Vemos assim que promover a educao fundamental de jovens e
adultos que no tiveram a oportunidade de cumpri-la na infncia
importante para responder aos imperativos do presente e tambm para
garantir melhores condies educativas para as prximas geraes.
Melhorar o nvel educacional de um pas um desafio grande e com-
plexo, que exige esforos em todos os nveis.
3
Diversidade cultural e cultura letrada
No item anterior, caracterizamos o pblico dos programas de
educao de jovens e adultos como um grupo homogneo do ponto
de vista scio-econmico. Do ponto de vista sociocultural, entretan-
to, eles formam um grupo bastante heterogneo. Chegam escola j com uma
3
A partir do conceito de necessidades bsicas de aprendizagem, em Que (e como)
necessrio aprender (Campinas, Papirus, 1994), Rosa Maria Torres faz um balano das
principais exigncias do mundo contemporneo com relao educao escolar, incluindo
tambm indicaes sobre a educao de jovens e adultos. Nos Anais do Encontro Latino-
Americano sobre Educao de Jovens e Adultos Trabalhadores esto publicadas confern-
cias de vrios especialistas, com abordagens atualizadas sobre essa modalidade educativa,
especialmente na sua relao com os processos produtivos e com a problemtica da hete-
rogeneidade cultural.
Para educar crianas
expostas aos meios
de comunicao,
nummundo com
to rpidas
transformaes,
os pais precisam
constantemente
se atualizar
41
Fundamentos e objetivos gerais
Educao de jovens e adultos
grande bagagem de conhecimentos adquiridos ao longo de histrias de vida
as mais diversas. So donas de casa, balconistas, operrios, serventes da cons-
truo civil, agricultores, imigrantes de diferentes regies do pas, mais jovens
ou mais velhos, homens ou mulheres, professando diferentes religies. Trazem,
enfim, conhecimentos, crenas e valores j constitudos. a partir do reco-
nhecimento do valor de suas experincias de vida e vises de mundo que cada
jovem e adulto pode se apropriar das aprendizagens escolares de modo crti-
co e original, sempre da perspectiva de ampliar sua compreenso, seus meios
de ao e interao no mundo.
Os jovens e adultos j possuem alguns conhecimentos sobre o mundo
letrado, que adquiriram em breves passagens pela escola ou na realizao de
atividades cotidianas. inegvel, entretanto, que a participao dessas pesso-
as nessas atividades muito precria, limitada e dependente. Por exemplo, um
recm-chegado na cidade grande pode demorar muito tempo para sair do bairro
onde mora e se aventurar, de nibus, num passeio ao centro da cidade. Para
ler uma carta que chegou do interior, essa mesma pessoa depender da boa
vontade dos outros. As informaes que recebe pelo rdio e pela televiso
podem ser assimiladas de forma incompleta e fragmentada. Por exemplo, a
pessoa pode saber que o jogo do Brasil na Copa do Mundo ser transmitido
por satlite, mas ter uma noo muito vaga do que um satlite. Pode votar
nas eleies para a Cmara Federal sem saber o que compete a um deputado
federal. Alm disso, se as pessoas pouco letradas podem criar estratgias al-
ternativas para resolver problemas prticos simples, tais como saber o desti-
no de um nibus ou preencher um formulrio, elas se encontram radicalmente
excludas da possibilidade que nossa cultura oferece de estudar uma cincia
ou ler literatura, de ser mdico ou operrio especializado.
Vemos, portanto, que, apesar de as pessoas pouco letradas possurem
muitos conhecimentos vlidos e teis, elas esto excludas de outras muitas
possibilidades que a nossa cultura oferece. Muitas vezes elas interpretam essa
desvantagem como incapacidade, a ponto de no reconhecerem como tal aquilo
Os jovens e adultos
j possuemalguns
conhecimentos
sobre o mundo
letrado, que
adquiriramem
breves passagens
pela escola ou na
realizao de
atividades
cotidianas
42
Fundamentos e objetivos gerais
Ao Educativa / MEC
que sabem ser conhecimento til e vlido. A excluso do conhecimento que
se adquire na escola marca essas pessoas profundamente pela imagem que
fazem de si e pelo estigma que a sociedade lhes impe. por isso que muitas
delas, mesmo tendo outras responsabilidades no trabalho e em casa, decidem
estudar.
Os jovens e adultos e a escola
Expectativas
Com base na experincia ou em pesquisas sobre o tema, sabemos que os
motivos que levam os jovens e adultos escola referem-se predominantemente
s suas expectativas de conseguir um emprego melhor. Mas suas motivaes
no se limitam a este aspecto. Muitos referem-se tambm vontade mais ampla
de entender melhor as coisas, se expressar melhor, de ser gente, de no
depender sempre dos outros. Especialmente as mulheres, referem-se muitas
vezes tambm ao desejo de ajudar os filhos com os deveres escolares ou, sim-
plesmente, de lhes dar um bom exemplo.
Todos os adultos, quando se integram a programas de educao bsica, tm
uma idia do que seja a escola, muitas vezes construda baseada na escola que
eles freqentaram brevemente quando crianas. Quase sempre, apesar de se
referirem precariedade dessas escolas, lembram delas com carinho e sentem
com pesar o fato de terem tido de abandon-la ou de nunca terem tido chance
de freqent-la. provvel que esperem encontrar um modelo bem tradicio-
nal de escola, com recitao em coro do alfabeto, pontos copiados do quadro
negro, disciplina rgida, correspondendo a um modelo que conheceram ante-
riormente. Com relao aos educandos com essas expectativas, o papel do
educador ampliar seus interesses, mostrando que uma verdadeira aprendiza-
gem depende de muito mais que ateno s exposies do professor e ativida-
des mecnicas de memorizao.
Com relao aos adolescentes, essa situao tende a ser diferente. Espe-
cialmente nos centros urbanos, eles esto normalmente retornando depois de
Apesar de as pessoas
pouco letradas
possuremmuitos
conhecimentos
vlidos e teis, elas
esto excludas de
outras muitas
possibilidades que a
nossa cultura oferece
43
Fundamentos e objetivos gerais
Educao de jovens e adultos
um perodo recente de sucessivos fracassos na escola regular. Tm, portanto,
uma relao mais conflituosa com as rotinas escolares. Com relao a eles, o
grande desafio a reconstruo de um vnculo positivo com a escola e, para
tanto, o educador dever considerar em seu projeto pedaggico as expectati-
vas, gostos e modos de ser caractersticos dos jovens.
A imagem que os educandos tm da escola tem muito a ver com a ima-
gem que tm de si mesmos dentro dela. Experincias passadas de fracasso e
excluso normalmente produzem nos jovens e adultos uma auto-imagem ne-
gativa. Nos mais velhos, essa baixa auto-estima se traduz em timidez, insegu-
rana, bloqueios. Nos mais jovens, comum que a baixa auto-estima se expresse
pela indisciplina e auto-afirmao negativa (se no posso ser reconhecido por
minhas qualidades, serei reconhecido por meus defeitos). Em qualquer dos
casos, ser fundamental que o educador ajude os educandos a reconstruir sua
imagem da escola, das aprendizagens escolares e de si prprios.
Conquistas cognitivas
Mas o que, de fato, a educao escolar pode trazer de novo para esses
jovens e adultos que j so cidados e trabalhadores, que j esto integrados
de um modo ou de outro em nossa sociedade? Podemos enumerar algumas
conquistas bem evidentes, como o domnio da leitura e da escrita, das opera-
es matemticas bsicas e de alguns conhecimentos sobre a natureza e a so-
ciedade que compem as disciplinas curriculares. Mas os produtos possveis
da educao escolar no se resumem a esses mais evidentes. Muitos estudio-
sos e pesquisadores da cognio humana trataram de estudar as diferenas
cognitivas, ou diferenas nas formas de pensamento, entre pessoas que domi-
nam a escrita e que passaram por vrios anos de escolarizao e pessoas que
no o fizeram.
Muitos desses estudos concluem que pessoas com mais tempo de escola-
ridade tm mais facilidade para realizar operaes mentais a partir de propo-
sies abstratas ou hipotticas, operando com categorias que no so as orga-
nizadas pela experincia imediata. Esse tipo de operao cognitiva est bastan-
Experincias
passadas de
fracasso e excluso
normalmente
produzemnos jovens
e adultos uma
auto-imagem
negativa
Os produtos
possveis da
educao escolar
no se reduzemao
aprendizado da
leitura, escrita e
matemtica
44
Fundamentos e objetivos gerais
Ao Educativa / MEC
te relacionado com a escrita e com o desenvolvimento do pensamento cient-
fico. Atravs da escrita nos chegam informaes dos sculos passados, de ou-
tras partes do mundo ou de mundos imaginados; ela impe uma relao mais
distanciada entre os interlocutores. Com base na escrita tambm se desenvol-
veram as cincias modernas, que organizam os dados da experincia em cate-
gorias e leis gerais, formulando proposies altamente abstratas.
Outra caracterstica importantssima das formas de pensamento letrado
e cientfico diz respeito chamada metacognio, ou seja, capacidade de to-
mar conscincia das operaes mentais, de pensar sobre o pensamento e, as-
sim, poder control-lo melhor. A metacognio a marca distintiva do pensa-
mento cientfico: diferentemente de uma pessoa que resolve problemas prti-
cos do cotidiano ou de um orculo que adivinha o futuro, o cientista tem de
demonstrar ou justificar seus postulados e teorias. Essa capacidade de pensar
sobre o pensamento est relacionada com o domnio da escrita de forma mais
geral: um texto escrito uma forma de pensamento plasmado no papel, como
se no papel pudssemos ver o pensamento, retomar quantas vezes quiser-
mos seu ponto de partida ou cada um de seus enlaces. comum as pessoas re-
correrem escrita para organizar as prprias idias. A escrita nos ajuda a con-
trolar nossa atividade cognitiva quando, por exemplo, fazemos uma lista de com-
pras antes de ir ao supermercado e riscamos cada item medida que os com-
pramos. A escrita amplia de forma geral a capacidade de planejamento, quan-
do podemos anotar no papel todas as tarefas que temos a cumprir nos prxi-
mos meses e conferir periodicamente quais ainda no foram cumpridas.
A vida na sociedade moderna oferece uma srie de oportunidades para
desenvolvermos essas formas de pensamento autoconsciente e que transcen-
dem nosso contexto de vivncia. Mas a escola , sem dvida, um lugar privi-
legiado para se desenvolv-las e, certamente por isso, as pessoas que a freqen-
tam por muitos anos levam vantagens nesse aspecto. Isso porque a escola o
lugar onde as pessoas vo para aprender coisas, tendo a oportunidade de pen-
sar sem estarem premidas pela necessidade de resolver problemas reais ime-
diatos. Por exemplo, ao conferir o troco que lhe deu o cobrador de um ni-
A escola umlugar
privilegiado para se
desenvolver o
pensamento
reflexivo
45
Fundamentos e objetivos gerais
Educao de jovens e adultos
bus, a pessoa tem de fazer uma operao rpida, empurrada pelo passageiro
que vem atrs. Na escola, ela poder resolver, com calma, um grande nmero
de operaes de subtrao usando diferentes procedimentos, represent-las no
papel, compreender o porqu do empresta um, chegar a uma compreenso
ampla sobre o funcionamento do sistema de numerao decimal. Ela apren-
der na escola um conjunto de conceitos que no tm nenhuma utilidade pr-
tica imediata mas que podem ajudar a organizar o sistema de conceitos que
compem sua estrutura cognitiva. Na escola, ela exercita a realizao de tare-
fas segundo planos ou instrues prvias. Todas essas aprendizagens colabo-
raram para desenvolver essa modalidade cognitiva que definimos como carac-
terstica do letramento.
4
Aprendizagem de atitudes e valores
importante tambm ter em vista que o valor que a escola pode ter para
esses jovens e adultos transcende em muito a mera aquisio de conhecimen-
tos ou essas conquistas intelectuais a que nos referimos. Ao avaliarem sua
passagem por programas de educao fundamental, muitos jovens e adultos
tematizam conquistas que dizem respeito sua auto-imagem e sua sociabi-
lidade: agora eu me sinto mais seguro, no tenho vergonha de falar; a es-
cola era o lugar onde eu podia encontrar amigos e conversar; na escola a
gente aprende a conviver com gente diferente etc.
4
Atualmente, tm sido divulgados no Brasil diversos estudos que tematizam a alfabetizao no
apenas como aprendizagem ou domnio do cdigo escrito, mas como condio sociocultural, a que
muitos autores tm preferido chamar de letramento. Angela Kleiman reuniu um bom conjunto de arti-
gos sobre a temtica em Os significados doletramento(Campinas, Mercado das Letras, 1995). No de sua
autoria, desenvolve o conceito de letramento em duas de suas vertentes, relacionado-o a prticas esco-
lares junto a jovens e adultos. Outros artigos tratam das relaes entre oralidade e letramento e discutem
diversos aspectos relacionados estigmatizao sofrida por pessoas adultas analfabetas ou pouco escola-
rizadas em nossa sociedade. A conceituao exposta neste item sobre modalidades de pensamento que
podem ser desenvolvidas por meio do uso da linguagem escrita e da escolarizao foi tomada do arti-
go de Marta Kohl de Oliveira, que tambm faz parte da obra.
46
Fundamentos e objetivos gerais
Ao Educativa / MEC
Somados a esses aspectos, devemos lembrar tambm que a escola um
espao especialmente propcio para a educao da cidadania: um espao para
se aprender a cuidar dos bens coletivos, discutir e participar democraticamente,
desenvolver a responsabilidade pessoal pelo bem-estar comum.
O educador de jovens e adultos
Algumas das qualidades essenciais ao educador de jovens e adultos so
a capacidade de solidarizar-se com os educandos, a disposio de encarar di-
ficuldades como desafios estimulantes, a confiana na capacidade de todos de
aprender e ensinar. Coerentemente com essa postura, fundamental que esse
educador procure conhecer seus educandos, suas expectativas, sua cultura, as
caractersticas e problemas de seu entorno prximo, suas necessidades de apren-
dizagem. E, para responder a essas necessidades, esse educador ter de buscar
conhecer cada vez melhor os contedos a serem ensinados, atualizando-se
constantemente. Como todo educador, dever tambm refletir permanente-
mente sobre sua prtica, buscando os meios de aperfeio-la.
Com clareza e segurana quanto aos objetivos e contedos educativos
que integram um projeto pedaggico, o professor deve estar em condies
de definir, para cada caso especfico, as melhores estratgias para prestar uma
ajuda eficaz aos alunos em seu processo de aprendizagem. O educador de
jovens e adultos tem de ter uma especial sensibilidade para trabalhar com a
diversidade, j que numa mesma turma poder encontrar educandos com
diferentes bagagens culturais.
especialmente importante, no trabalho com jovens e adultos, favore-
cer a autonomia dos educandos, estimul-los a avaliar constantemente seus
progressos e suas carncias, ajud-los a tomar conscincia de como a aprendi-
zagem se realiza. Compreendendo seu prprio processo de aprendizagem, os
jovens e adultos esto mais aptos a ajudar outras pessoas a aprender, e isso
essencial para pessoas que, como muitos deles, j desempenham o papel de
especialmente
importante, no
trabalho comjovens
e adultos, favorecer
a autonomia dos
educandos, estimul-
los a avaliar
constantemente
seus progressos e
suas carncias
A escola deve ser um
espao para se
aprender a discutir e
participar
democraticamente,
desenvolver a
responsabilidade
pessoal pelo bem-
estar comum
47
Fundamentos e objetivos gerais
Educao de jovens e adultos
educadores na famlia, no trabalho e na comunidade.
Tambm uma responsabilidade importante dos educadores de jovens e
adultos favorecer o acesso dos educandos a materiais educativos como livros,
jornais, revistas, cartazes, textos, apostilas, vdeos etc. Deve-se considerar o fato
de que se trabalha com grupos sociais desfavorecidos economicamente, que tm
pouco acesso a essas fontes de informao fora da escola.
Finalmente, os educadores devem atentar para o fato de que o processo
educativo no se encerra no espao e no perodo da aula propriamente dita. O
convvio numa escola ou noutro tipo de centro educativo, para alm da assis-
tncia s aulas, pode ser uma importante fonte de desenvolvimento social e
cultural. Por esse motivo, importante tambm considerar a dimenso do cen-
tro educativo como espao de convvio, lazer e cultura, promovendo festas,
exposies, debates ou torneios esportivos, motivando os educandos e a comu-
nidade a freqent-lo, aproveitando essa experincia em todas as suas possibi-
lidades.
Sntese dos objetivos gerais
Que os educandos sejam capazes de:
Dominar instrumentos bsicos da cultura letrada, que lhes permitam melhor compre-
ender e atuar no mundo em que vivem.
48
Fundamentos e objetivos gerais
Ao Educativa / MEC
Ter acesso a outros graus ou modalidades de ensino bsico e profissionalizante, assim
como a outras oportunidades de desenvolvimento cultural.
Incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condies de desempenho e par-
ticipao na distribuio da riqueza produzida.
Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer direitos e
deveres da cidadania.
Desempenhar de modo consciente e responsvel seu papel no cuidado e na educao
das crianas, no mbito da famlia e da comunidade.
Conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenas de gnero,
gerao, raa e credo, fomentando atitudes de no-discriminao.
Aumentar a auto-estima, fortalecer a confiana na sua capacidade de aprendizagem,
valorizar a educao como meio de desenvolvimento pessoal e social.
Reconhecer e valorizar os conhecimentos cientficos e histricos, assim como a pro-
duo literria e artstica como patrimnios culturais da humanidade.
Exercitar sua autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeioando a convivncia
em diferentes espaos sociais.
49
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Lngua Portuguesa
50
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
51
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Fundamentos e objetivos da rea
A rea de Lngua Portuguesa permeia as outras reas do conhe-
cimento. Nossa lngua o principal instrumento que temos para in-
teragir com as outras pessoas, para termos acesso s informaes, aos
saberes, enfim, cultura da qual fazemos parte. A importncia da
linguagem para os seres humanos no reside s nas possibilidades de
comunicao que encerra. Por ser um sistema de representao da
realidade, ela d suporte tambm a que realizemos diferentes opera-
es intelectuais, organizando o pensamento, possibilitando o plane-
jamento das aes e apoiando a memria.
A rea de Lngua Portuguesa abrange o desenvolvimento da lin-
guagem oral e a introduo e desenvolvimento da leitura e escrita.
Com relao linguagem oral, o ambiente escolar deve propiciar
situaes comunicativas que possibilitem aos educandos a amplia-
o de seus recursos lingsticos. Em outras palavras, os educandos
devem aprender a planejar e adequar seu discurso a diferentes situa-
es formais e informais. Com relao linguagem escrita, alm da
compreenso e domnio dos seus mecanismos e recursos bsicos,
como o sistema de representao alfabtica, a ortografia e a pontua-
o, essencial que os educandos compreendam suas diferentes fun-
es sociais e conheam as diferentes caractersticas que os textos
podem ter, de acordo com essas funes. Todos sabem quo distin-
tas so as linguagens que se usam numa carta de amor, numa bula
de remdio, num jornal e numa enciclopdia. Por isso, alm dos t-
A rea de Lngua
Portuguesa abrange o
desenvolvimento da
linguagemoral e a
introduo e
desenvolvimento da
leitura e escrita
52
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
picos que normalmente compem os currculos de Lngua Portugue-
sa, esta proposta curricular traz indicaes de como trabalhar com
textos escritos de modo a possibilitar que os educandos conheam
e experienciem suas diferentes modalidades. A aprendizagem da es-
crita exige ainda o desenvolvimento da capacidade de anlise lings-
tica e o aprendizado de palavras que servem para descrever a lin-
guagem. Esses aspectos compem os blocos de contedo da rea.
A linguagemoral
A linguagem oral o meio lingstico primordial dos seres hu-
manos. basicamente atravs da comunicao oral que nos desen-
volvemos como participantes de uma cultura. Mesmo depois de nos
alfabetizarmos e usarmos a leitura e escrita cotidianamente, conti-
nuamos a usar a linguagem oral para realizar a maior parte dos atos
comunicativos e tambm para aprender. Mesmo a aprendizagem da
leitura e escrita depende fundamentalmente do comentrio oral so-
bre o texto escrito.
Os modos de falar das pessoas analfabetas ou pouco escolarizadas
so a expresso mais forte de toda a bagagem cultural que possuem,
de suas experincias de vida. Podemos encontrar adultos pouco es-
colarizados que tm um excepcional domnio da expresso oral: con-
tadores de histrias, poetas, repentistas, lderes populares. Entretan-
to, deparamos tambm com aqueles que tm seu discurso marcado
por experincias de privao, humilhao e isolamento, que se expres-
sam de forma fragmentada e tm dificuldade de se fazer entender.
Lembremos, por exemplo, dos dilogos monossilbicos do famoso
romance Vidas secas, de Graciliano Ramos.
Nas turmas de educao bsica de jovens e adultos, encontramos
uma grande variedade lingstica, sotaques e expresses de diferen-
tes regies do pas, as grias do jovens, os modismos da televiso.
Durante muito tempo, toda essa variedade que caracteriza a lingua-
gem oral foi vista, equivocadamente, como um empecilho para o
Mesmo depois de
alfabetizados,
continuamos a usar
a linguagemoral
para realizar a maior
parte dos atos
comunicativos e
tambmpara
aprender
53
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
domnio da escrita. Atualmente, a partir de estudos da lingstica,
sabe-se que a linguagem oral possui uma natureza mais flexvel e di-
nmica que a escrita, absorvendo rapidamente as inmeras variaes
decorrentes do contexto sociocultural na qual se desenvolve. Assim,
mais do que coibir essa flexibilidade da linguagem oral, o trabalho
pedaggico na rea de Lngua Portuguesa deve acolher a diversida-
de, propiciando aos educandos a ampliao de suas formas de expres-
so, possibilitando-lhes o uso de modos de falar adequados a dife-
rentes situaes e intenes comunicativas.
Para a sala de aula, o professor deve planejar estratgias para que
os alunos experimentem e ampliem suas formas de expresso, pro-
mover momentos em que os educandos se expressem em pequenos
grupos, em grupos maiores, em conversas com o professor. neces-
srio criar oportunidades de ouvir e falar, reelaborar argumentos a
partir de novas informaes, construir conceitos, incorporar novas
palavras e significados, compreender e avaliar o que ouvimos. Nes-
sas ocasies, o professor deve chamar a ateno dos alunos para os
diferentes modos de falar e os efeitos que podem provocar sobre os
que recebem a mensagem. No que diz respeito linguagem oral, por-
tanto, o papel do professor mais desinibir, perguntar, comentar e
sugerir do que propriamente corrigir.
A linguagem escrita
Vivendo numa sociedade letrada, mesmo os jovens e adultos que
nunca passaram pela escola tm conhecimentos sobre a escrita. Muitos
conhecem algumas letras e sabem assinar seu nome. Todos j se de-
frontaram com a necessidade de identificar placas escritas, preencher
formulrios, lidar com receitas mdicas ou encontrar o preo de mer-
cadorias. Na escola, o professor deve criar situaes em que os edu-
candos exponham e reconheam aquilo que j sabem sobre a escrita.
Baseado no que os alunos j sabem que o professor poder decidir
que novas informaes fornecer, para quais aspectos chamar a aten-
Na escola, o
professor deve criar
situaes emque os
educandos exponham
e reconheamaquilo
que j sabemsobre a
escrita
54
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
o, de modo que o aluno v elaborando seus conhecimentos at
chegar a um domnio autnomo desse sistema de representao.
Nosso sistema de escrita alfabtico e, no processo de aprendi-
zagem, os alunos devem estabelecer as relaes existentes entre os sons
da fala e as letras. Entretanto, a escrita no uma mera transcrio da
fala. No escrevemos do mesmo jeito que falamos, pois a comunica-
o escrita tm outras exigncias e utiliza-se de outros recursos. Quando
escrevemos, nosso leitor no est presente, por isso temos de assegu-
rar que a mensagem seja eficiente e para tanto preciso usar recursos
prprios de organizao do discurso. A escrita utilizada muitas ve-
zes para registrar mensagens que devem perdurar no tempo ou atra-
vessar grandes distncias, por isso ela no pode ser to flexvel quan-
to a fala, obedecendo a normas mais rgidas de organizao.
No processo de aprendizagem da lngua escrita, podemos distin-
guir dois mbitos de compreenso e domnio. Um diz respeito aos
recursos e mecanismos de funcionamento do sistema de representa-
o; outro diz respeito s distintas formas com que esses recursos so
utilizados em diferentes textos, de acordo com suas intenes comu-
nicativas. O domnio desses dois mbitos deve se realizar simultanea-
mente de modo que eles se apiem mutuamente.
Para dominar o mecanismo de funcionamento da escrita neces-
srio conhecer as letras, pois so os signos que nosso sistema de re-
presentao utiliza. Tambm necessrio compreender a relao entre
as letras e os sons da fala. Para cada fonema temos uma representa-
o grfica ( por isso que nosso sistema de representao escrita
chamado de alfabtico). a partir do estabelecimento desta relao
fono-grfica e da compreenso de suas regularidades e irregularida-
des que se chega ao domnio do sistema alfabtico. Essas irregulari-
dades dizem respeito s peculiaridades da ortografia da Lngua Por-
tuguesa: um mesmo som pode ser representado por mais de uma le-
tra e uma mesma letra pode representar sons diferentes dependendo
da posio em que se encontra na palavra. Uma mesma palavra pode
ser pronunciada de muitas formas, mas deve ter uma nica grafia. Por
exemplo, no Brasil, a pronncia da palavra muito pode ser muintu,
Pode-se aprender,
simultaneamente,
como funciona o
sistema da escrita e
as formas como
usado emdiferentes
contextos
55
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
muinto, muntcho, munto ou outras, mas sempre ela escrita da mesma
forma. No podemos escrever do jeito que falamos, pois isso torna-
ria o registro escrito extremamente instvel e seria muito difcil con-
seguirmos nos entender. Alm da ortografia, h outros recursos e
normas que caracterizam a escrita, como o sentido da esquerda para
a direita, a segmentao das palavras, a pontuao, os diferentes al-
fabetos (maisculo e minsculo, de imprensa e cursivo etc.).
Utilizamos todos esses recursos e mecanismos da escrita para pro-
duzir textos. Existem vrios tipos de texto, nos quais esses recursos
se combinam de forma caracterstica. Para que os alunos leiam e es-
crevam com autonomia, precisam familiarizar-se com a diversidade
de textos existente na sociedade. Precisam reconhecer as vrias fun-
es que a escrita pode ter (informar, entreter, convencer, definir, se-
duzir), os diferentes suportes materiais onde pode aparecer (jornais,
livros, cartazes etc.), as diferentes apresentaes visuais que pode
adquirir e suas caractersticas estruturais (organizao sinttica e
vocabulrio).
O objetivo central em Lngua Portuguesa formar bons leitores
e produtores de textos, que saibam apreciar suas qualidades, encontrar
e compreender informaes escritas, expressar-se de forma clara e ade-
quada inteno comunicativa. Portanto, atividades que envolvam
leitura e produo de textos so essenciais para alcanar esse objeti-
vo. Para aprender a escrever preciso escrever, e o mesmo vale para a
leitura. Na interao com este objeto de conhecimento o texto
e com a ajuda do professor, o aluno poder realizar essas aprendizagens.
Lendo textos
O trabalho com a linguagem escrita deve estruturar-se, desde o
incio, em torno de textos. Para as turmas iniciantes, podem ser sele-
cionados textos mais curtos e simples, como listas, folhetos, cartazes,
bilhetes, receitas, poesias, anedotas, manchetes de jornal, cartas, pe-
quenas histrias e crnicas. Quanto maior o domnio do sistema de
representao, maiores as possibilidades de ler e escrever textos mais
Para que os alunos
leiame escrevam
comautonomia,
precisam
familiarizar-se coma
diversidade de textos
existente na
sociedade
56
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
longos e complexos, ampliar os recursos utilizados, aprofundar as
anlises das caractersticas lingsticas de cada um.
Para entrar em contato com os textos, os alunos que no so
capazes ainda de ler com autonomia dependero da ajuda do profes-
sor, que deve criar as estratgias para apoiar seus alunos nesse senti-
do. Uma estratgia fundamental ler em voz alta para eles. Ouvindo
a leitura em voz alta do professor, os leitores iniciantes vo se familia-
rizando com a estrutura sinttica e com o vocabulrio que caracte-
riza as diferentes modalidades de textos. Essa estratgia pode ser usada
para trabalhar contedos de outras reas: leitura em voz alta do enun-
ciado de um problema matemtico, de textos informativos sobre te-
mas de Cincias Sociais e Naturais.
Quando o professor oferece textos para os alunos lerem, tam-
bm importante que realize atividades prvias para que os neo-lei-
tores possam enfrentar a tarefa com xito, adquirindo fluncia e es-
tratgias de compreenso cada vez melhores. O professor pode mo-
tivar e apoiar os alunos a enfrentarem a leitura de um texto apresen-
tando previamente a temtica, discutindo o ttulo, trazendo informa-
es sobre o autor, esclarecendo questes de vocabulrio. Essas infor-
maes prvias auxiliam muito a leitura compreensiva dos leitores
iniciantes.
Esses leitores, que no tm ainda um domnio automatizado dos
elementos e recursos da escrita, tm de concentrar muito de sua aten-
o na decifrao; a leitura se torna penosa, entremeada de soletra-
mentos e silabaes e, muitas vezes, acaba-se perdendo o sentido do
que se est lendo. Devemos orientar os alunos para que apiem a
leitura com a capacidade, que todo leitor fluente tem e utiliza, de
prever o que est escrito. Por exemplo, quando um aluno est lendo
uma lista de palavras, sabendo que se trata de uma lista de nomes de
animais, j tem uma boa pista: identificando, por exemplo, o V e o
A, pode prever que est escrito VACA.
1
1
Pautado por uma rediscusso do que a leitura, o livro Alfabetizao e leitura, de
Jos Juvncio Barbosa (So Paulo, Cortez, 1990), analisa criticamente prticas tradicionais
Para entrar em
contato comos
textos, os alunos
que no so capazes
ainda de ler com
autonomia
dependero da
ajuda do professor
57
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Para favorecer a leitura compreensiva e motivar os jovens e adul-
tos que se iniciam no mundo da escrita, fundamental selecionar
textos significativos e interessantes. No preciso utilizar textos infan-
tilizados e estereotipados, como os textos que comumente aparecem
nas cartilhas e livros de leitura para 1
a
a 4
a
sries. Quase sempre so
textos sem sentido, que oferecem como nico desafio a decifrao de
palavras. Alm disso, esses textos no ilustram toda a diversidade de
textos que encontramos fora da escola.
O professor de jovens e adultos deve ter um cuidado especial com
a busca e seleo de textos para trabalhar com os alunos, j que ele
no conta com a abundncia de materiais didticos j elaborados
disponveis para a educao infantil. Alm dos textos literrios, ou-
tros podem ser usados em sala de aula: receitas culinrias, textos
jornalsticos, artigos de divulgao cientfica, textos de enciclopdias,
cartas, cartazes, folhetos informativos ou textos elaborados pelos
prprios alunos. O professor deve dispor de uma boa coletnea de
necessrio um
esforo especial de
busca de textos
adequados, j que
no se conta com
abundncia de
materiais didticos
j elaborados
de alfabetizao e prope uma nova abordagem para o ensino da leitura, apresentando seus
fundamentos de modo claro e didtico.
58
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
textos, organizar pequenas bibliotecas na sala de aula ou levar seus
alunos a bibliotecas.
Produzindo textos
Escrever textos significa saber usar a escrita para expressar co-
nhecimentos, opinies, necessidades, desejos e a imaginao. Nessa
aprendizagem entra em jogo a disponibilidade da pessoa de se expor
e criar. Para expressar-se por escrito, o educando ter que lanar mo
de um sistema de convenes j estabelecido, mas dever utiliz-lo
para expressar suas prprias idias ou sentimentos, apropriando-se
criativamente dos modelos disponveis.
Os textos que os educandos encontram dentro e fora da escola
so os modelos a partir dos quais eles aprendem a escrever. Para isso,
ser essencial a ajuda do professor, orientando-os na anlise dos sons
da fala e dos sinais escritos, chamando-lhes a ateno para as regu-
laridades e irregularidades. No processo de aprendizagem, entretan-
to, os modelos no so simplesmente copiados, sem um trabalho de
reelaborao do educando. O professor deve procurar compreender
esse processo de elaborao da escrita dos alunos para poder pres-
tar-lhes uma ajuda adequada. Para isso, preciso criar situaes em
que os alunos possam colocar em jogo aquilo que sabem, expor suas
elaboraes sobre a linguagem escrita, discutir sua produo com
outros colegas, sentir a necessidade de melhor-la.
O professor no pode simplesmente rejeitar os erros dos alunos,
pois baseando-se neles que se pode saber que tipo de ajuda ofere-
cer. a anlise de seus prprios erros que possibilita aos novos escri-
tores avanar para produes escritas cada vez mais adequadas. Na
sala de aula, a produo de um texto deve ser compreendida como
um processo que passa por vrias reescritas, at que o produto seja
satisfatrio.
Uma boa forma de organizar o trabalho com a escrita articul-
lo com o da leitura, dentro de uma mesma modalidade textual.
medida que lem e analisam modelos variados de cartas, por exem-
a anlise de seus
prprios erros que
possibilita aos
novos escritores
avanar para
produes escritas
cada vez mais
adequadas
59
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
plo, os educandos podem ser encorajados a escrever suas prprias
cartas, inicialmente ainda com bastante ajuda do professor, paulati-
namente com maior autonomia, fazendo e refazendo, relendo e com-
parando e, finalmente, enviando suas cartas, experimentando o po-
der e o prazer da escrita em situaes reais de comunicao.
2
A anlise lingstica
Na educao de jovens e adultos, os objetivos da rea de Lngua
Portuguesa esto prioritariamente voltados para o aperfeioamento
da comunicao e o aprendizado da leitura e da escrita. Isso os edu-
candos aprendero falando, ouvindo, lendo e escrevendo, ou seja,
exercitando esses procedimentos. Deve-se notar, entretanto, que no
aprendemos a escrever exatamente da mesma forma que aprendemos
a falar, pois a escrita um sistema de representao mais complexo,
mais mediado do que a fala. Se crianas bem pequenas podem apren-
der a falar espontaneamente, sem pensar muito sobre o que esto
fazendo, s podem aprender a escrever um pouco mais velhas, quan-
do j desenvolveram mais suas capacidades cognitivas. A escrita exi-
ge do aprendiz a capacidade de pensar sobre a linguagem, de tomar
conscincia de algumas de suas caractersticas.
A alfabetizao implica, desde suas etapas iniciais, um intenso
trabalho de anlise da linguagem por parte do aprendiz. Nesse pro-
cesso, ele acabar aprendendo e servindo-se de palavras e conceitos
que servem para descrever a linguagem, tais como letra, palavra, s-
laba, frase, singular, plural, maiscula, minscula etc. Mais adiante,
ele poder ainda aprender outros conceitos mais complexos, como
2
No livro Aprendendoa escrever, de Ana Teberosky (So Paulo, tica, 1995), o professor poder
encontrar muitos subsdios que ajudam a compreender as produes escritas de alfabetizandos e do
indicaes de que tipo de interveno pedaggica pode contribuir para essa aprendizagem.
A alfabetizao
implica, desde suas
etapas iniciais, um
intenso trabalho de
anlise da linguagem
por parte do aprendiz
60
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
as classificaes morfolgicas (substantivo, adjetivo etc.) e sintticas
(sujeito, predicado etc.).
Nesta proposta curricular, sugerimos que as atividades de an-
lise lingstica estejam voltadas para a reflexo sobre a produo do
texto, ajudando os alunos a melhorarem cada vez mais a forma de
escrever.
Sntese dos objetivos da rea de Lngua Portuguesa
Que os educandos sejam capazes de:
Valorizar a lngua como veculo de comunicao e expresso das pessoas e
dos povos.
Respeitar a variedade lingstica que caracteriza a comunidade dos falantes
da Lngua Portuguesa.
Expressar-se oralmente com eficcia em diferentes situaes, interessando-
se por ampliar seus recursos expressivos e enriquecer seu vocabulrio.
Dominar o mecanismo e os recursos do sistema de representao escrita, com-
preendendo suas funes.
Interessar-se pela leitura e escrita como fontes de informao, aprendizagem,
lazer e arte.
Desenvolver estratgias de compreenso e fluncia na leitura.
Buscar e selecionar textos de acordo com suas necessidades e interesses.
61
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Expressar-se por escrito com eficincia e de forma adequada a di-
ferentes situaes comunicativas, interessando-se pela correo or-
togrfica e gramatical.
Analisar caractersticas da Lngua Portuguesa e marcas lingsticas
de diferentes textos, interessando-se por aprofundar seus conheci-
mentos sobre a lngua.
62
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
Blocos de contedo
e objetivos didticos
Linguagemoral
Na vida cotidiana, em casa ou no trabalho, a forma de comunicao que
mais utilizamos a conversao em duplas ou pequenos grupos de pessoas
com as quais compartilhamos esse cotidiano e muitas referncias culturais. Essa
situao facilita bastante a compreenso das mensagens, pois nossos
interlocutores conhecem bem o assunto de que estamos falando. J numa
consulta mdica, num depoimento polcia ou numa exposio diante de um
grande pblico, essa situao se modifica: temos de falar dirigindo-nos a pes-
soas com as quais no compartilhamos as mesmas referncias.
comum, nas salas de alfabetizao, os alunos contarem suas vidas com
omisso de partes, sem explicar onde aconteceu cada fato ou quem so as
pessoas a quem se referem, como se todos os ouvintes compartilhassem das
informaes que possuem. Nesses casos, o professor pode ajudar fazendo
perguntas. Paulatinamente, os alunos vo ampliando seu vocabulrio, empre-
gando diferentes expresses e planejando seu discurso de acordo com suas
intenes, considerando os esclarecimentos necessrios.
3
O professor ajuda o
educando a melhorar
sua capacidade de
expresso ao fazer
perguntas ou pedir
esclarecimentos
3
O livro de Francis Vanoye intitulado Usos da linguagem(So Paulo, Martins Fontes, 1981), traz
uma interessante caracterizao da comunicao oral em diferentes modalidades, que pode esclarecer o
educador sobre os elementos que intervm no desenvolvimento da oralidade, articulando-os numa vi-
so abrangente dos problemas envolvidos na expresso e comunicao em geral.
63
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Alm dos relatos de experincias vividas, o trabalho sobre a linguagem
oral na sala de aula se estende para a formulao de perguntas e respostas (sa-
ber expressar dvidas quanto a contedos ou atividades a realizar, saber res-
ponder s dvidas de colegas). Uma maior desenvoltura com a linguagem oral
permitira tambm aos alunos expor novos conhecimentos por meio de defi-
nies e exemplos; argumentar, selecionando informaes que justifiquem suas
opinies; apresentar para os colegas resultados de pesquisas.
fundamental tambm desenvolver nos educandos a capacidade de es-
cutar. No desenvolvimento dessa capacidade, alm do aspecto da compreen-
so, esto implicadas atitudes referentes ao respeito aos colegas e ao educa-
dor.
O trabalho pedaggico sobre a linguagem oral merece planejamento e
avaliao. O professor deve, intencionalmente, favorecer situaes reais de
comunicao que estimulem o desenvolvimento da oralidade:
abrir espao de conversa, onde os alunos narrem fatos que aconte-
ceram no dia-a-dia;
formular perguntas cujas respostas exijam do aluno manifestao
de opinies ou compreenso do contedo abordado;
convidar constantemente os alunos a expressarem suas dvidas oral-
mente;
convidar os alunos a fazerem intervenes na fala dos outros,
complementando ou contrapondo posies;
organizar debates sobre temas escolhidos;
organizar recitais de poesias, repentes e canes.
Em sala de aula, pode-se ainda lanar mo de estratgias de simulao e
desempenho de papis:
O professor deve,
intencionalmente,
favorecer situaes
reais de
comunicao que
estimulemo
desenvolvimento da
oralidade
64
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
debates sobre temas polmicos, em que os participantes devem de-
fender pontos de vista prdeterminados;
dramatizao de situaes do cotidiano, como conversas telefni-
cas, solicitaes em rgos pblicos, prestao de informaes di-
versas etc.;
dramatizao de textos ou histrias conhecidas.
O significativo ponto de conexo entre o desenvolvimento da linguagem
oral e da linguagem escrita a leitura em voz alta. Acompanhar um texto lido
em voz alta pelo professor pode ser um excelente exerccio da capacidade de
escuta dos educandos. A habilidade de ler em voz alta com entonao e dic-
o adequadas tambm deve ser trabalhada com os educando. Alm da capa-
cidade de processar o texto silenciosamente, a leitura em voz alta exige o es-
foro adicional de reproduo oral do enunciado, de modo a expressar seu
sentido. Lendo em voz alta pequenos textos previamente preparados diante
de uma pequena audincia, os alunos podem exercitar a pronncia, a dico e
a entonao, alm da desinibio para se expor em pblico.
Umsignificativo
ponto de conexo
entre o
desenvolvimento da
linguagemoral e da
linguagemescrita
a leitura emvoz alta
Tpicos de Objetivos didticos
contedo
Narrao Contar fatos e experincias cotidianas sem omisso de partes essenciais.
Recortar textos narrativos (contos, fbulas, notcias de jornais).
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Linguagemoral
65
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Perceber lacunas e/ ou incoerncias ao ouvir a narrao de fatos, experin-
cias, ou reconto de textos narrativos.
Dramatizar situaes reais ou imaginadas. Dramatizar contos, crnicas e
obras de teatro.
Descrio Descrever lugares, pessoas, objetos e processos.
Perceber imprecises ou lacunas ao ouvir a descrio de lugares, pessoas,
objetos e processos.
Rcita e Recitar ou ler em voz alta textos poticos breves, previamente preparados.
leitura em Ler em voz alta para um pequeno pblico textos em prosa breves,
voz alta previamente preparados.
Acompanhar leituras em voz alta feitas pelo professor.
Instrues, Dar instrues verbais. Compreender e seguir instrues verbais.
perguntas Identificar lacunas ou falta de clareza em esclarecimentos dados por outrem.
e respostas Pedir esclarecimentos sobre assuntos tratados ou atividades propostas.
Definio e Perceber a distino entre definir e exemplificar.
exemplificao Dar exemplos de conceitos e enunciados.
Identificar a pertinncia de exemplos para conceitos e enunciados.
Definir conceitos (explic-los com as prprias palavras).
Avaliar a adequao de definies e conceitos.
Argumentao e Posicionar-se em relao a diferentes temas tratados.
debate Identificar a posio do outro em relao a diferentes temas tratados.
Defender posies fundamentando argumentos com exemplos e informa-
es.
Reconhecer os argumentos apresentados na defesa de uma posio, avali-
66
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
ando a pertinncia dos exemplos e informaes que o fundamentam.
Fazer intervenes coerentes com os temas tratados
.
Avaliar a coerncia das intervenes feitas por outros.
Respeitar o turno da palavra.
Indicaes para a seqenciao do ensino
O professor deve ter em mente que o desenvolvimento da linguagem oral
um processo em que o aluno vai paulatinamente ampliando seus recursos
expressivos. Esse processo guiado pela interveno do professor e dos cole-
gas: medida que estes pedem esclarecimentos, colaboram para a adequao
da mesnagem.
A atitude de convidar os alunos a falarem e ouvirem atentamente deve
permear todas as atividades planejadas. No incio, deve-se priorizar situaes
em que os alunos ouam e falem de experincias vividas e discutam temas de
seu cotidiano. Podem tambm ser desafiados a recontar textos literrios e in-
formativos. Mais adiante, pode-se sugerir que faam breves exposies sobre
conhecimentos recm-adquiridos, exponham snteses de leituras realizadas e
confrontem-nas com as dos colegas. Ento, ser conveniente solicitar que os
alunos preparem previamente suas exposies, levando-os a planejar mais
autonomamente seu discurso.
Sugerimos tambm que o exerccio da leitura em voz alta diante dos
colegas seja realizado apenas quando os alunos j tenham maior fluncia no
reconhecimento das palavras e dos sinais de pontuao, utilizando-se sempre
No incio, deve-se
priorizar situaes
emque os alunos
ouame falemde
experincias vividas.
Mais adiante, pode-
se sugerir que faam
breves exposies
sobre
conhecimentos
recm-adquiridos
67
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
de textos previamente preparados. J a escuta de leitura em voz alta do pro-
fessor ou qualquer outro leitor fluente uma prtica pedaggica valiosa des-
de os estgios iniciais da alfabetizao.
Sistema alfabtico e ortografia
Este contedo diz respeito compreenso do funcionamento do nosso
sistema de escrita, das caractersticas e normas que condicionam seu uso.
Mesmo os jovens e adultos analfabetos possuem informaes sobre a escrita
e alguma idia sobre seu funcionamento. Conhecer as idias e informaes que
os alunos j possuem fundamental para que o professor possa selecionar
contedos e dimensionar estratgias grupais e individuais adequadas para
promover este domnio. necessrio, portanto, que ele consiga diagnosticar
os conhecimentos trazidos por seus alunos, compreendendo suas elaboraes.
Vejamos alguns exemplos.
Uma alfabetizanda escreve o nome de sua profisso da seguinte manei-
ra: ARMDA. Esta escrita pode parecer incompreensvel para um leigo mas
no para o olhar atento de sua professora. Ao pedir para a aluna ler o que havia
escrito, ela pde descobrir que a profisso arrumadeira. A aluna estabelece
relaes entre as letras e partes do som da palavra, pois no momento em que
leu o que havia escrito, fez a seguinte correspondncia: para cada slaba fala-
da, uma letra (A para a, R para rru, M para ma, D para dei e A para ra). Esta
aluna est usando apenas uma letra para representar as slabas que ela identi-
fica oralmente. Entretanto, ela j conhece o valor sonoro de vrias letras, pois
as que usou para representar cada slaba de fato compem essas slabas. A partir
dessa observao dos conhecimentos da aluna, a professora decidiu elaborar
atividades qua chamassem a ateno para o fato de que para representar essas
slabas precisamos de mais de uma letra.
Um educando adulto escreve o seguinte texto: Eu so conziero teiu 51
ano naci na Baia so cazado e teiu muie e fius (Eu sou cozinheiro, tenho 51 anos,
Analisando a escrita
dos educandos, o
professor pode
identificar o tipo de
exerccio de que
necessitam
68
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
nasci na Bahia etenho mulher efilhos). Nesta frase, ele revela que j tem um bom
conhecimento da representao escrita e conhece o valor sonoro das letras.
Provavelmente, as omisses dos dgrafos nh e lh estejam relacionadas for-
ma como o aluno fala, pois em muitas variantes do Portugus falado no Bra-
sil o nh e o lh no so pronunciados. Nem sempre a omisso de letras tem re-
lao com a no memorizao de formaes silbicas; muitas vezes est rela-
cionada forma como o aluno fala. Diante dessa constatao, o professor pode
chegar concluso de que repetir as famlias silbicas isoladamente no aju-
dar o aluno, que precisa observar diversas palavras escritas com esses dgrafos,
ouvir sua pronncia e assim ir memorizando sua grafia. Para este aluno, o uso
destes dgrafos pode ser uma aprendizagem demorada, que se tornar mais
fcil se ele tiver conscincia de que no podemos escrever do mesmo jeito que
falamos.
Como esse, podemos citar vrios outros exemplos de incorrees orto-
grficas decorrentes da distncia entre formas de pronunciar as palavras e sua
grafia convencional:
substituio do e por i e do o por u, como em mininu (menino),
eli (ele), patu (pato);
Acrscimo de vogal nas slabas terminadas em s ou z, como em
talveiz (talvez), capais (capaz);
omisso do ltimo fonema de palavras, como em falo (falou), jan-
ta (jantar), vamo (vamos);
omisso do m em slabas nasais, como em foru (foram), viage
(viagem);
troca do r pelo l, como em prstico (plstico), craro (claro);
omisso dos d nos gerndios, como em falano (falando), varreno
(varrendo);
troca do l pelo u, como em papeu (papel), aumoo (almoo).
Muitas vezes, os
erros decorremda
diferena entre
escrita e fala
69
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Quando o aprendiz toma conscincia dessas diferenas entre a grafia e a
forma como pronuncia as palavras, pode ocorrer um fenmeno chamado
hipercorreo. Por exemplo, ele percebe que muitas palavras nas quais ele
pronuncia u deve grafar l (como papel e almoo), ento, passa a colocar
indevidamente o l no lugar de todos os us que aparecem em posio seme-
lhante, e comea a escrever coisas como cail para caiu e saldade para sau-
dade.
A aprendizagem do mecanismo da escrita no se d de forma linear. Ela
ocorre medida que o aluno recebe informaes que desestabilizam suas hi-
pteses de como escrever e reorganizar seus conhecimentos. O exerccio de
recitar listas de slabas ou de montar e desmontar palavras pode no ter ne-
nhum significado para um aluno que no estabeleceu a relao entre as letras
e os sons da fala e tampouco para aquele que escreve do jeito que fala. li-
dando com escritas significativas, elaborando informaes do professor e dos
colegas que eles podem superar dvidas e ampliar seus conhecimentos.
4
O domnio do sistema alfabtico, ou seja, a compreenso do mecanismo
bsico da escrita, um contedo que diz respeito essencialmente s salas de
alfabetizao. J a compreenso e domnio de normas ortogrficas demandam
um perodo mais longo. Este processo, que se inicia na alfabetizao, quando
os educandos tomam conscincia das irregularidades do sistema de represen-
tao escrita, prossegue nas salas de ps-alfabetizao e possivelmente pelo
resto da vida de quem escreve. A ajuda de escritores mais experientes sem-
pre um recurso til e o dicionrio, um companheiro indispensvel para as
dvidas.
Para ter sucesso nessa aprendizagem, preciso desenvolver atitudes como
o interesse pela leitura e pela correo da escrita, perseverana e pacincia com
A compreenso e
domnio da
ortografia inicia-se
na alfabetizao e
prossegue,
possivelmente, pelo
resto da vida de
quemescreve
4
Exposies mais extensas sobre essa dimenso do aprendizado da escrita podem ser encontra-
das em Alfabetizaoelingstica, de Luiz Carlos Cagliari (So Paulo, Scipione, 1989), e Guia tericodo
alfabetizador, de Miriam Lemle (So Paulo, tica, 1987). So obras dirigidas especialmente aos
alfabetizadores, visando explicar aspectos lingsticos envolvidos na aprendizagem da leitura e escrita.
70
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
o ritmo de realizao das tarefas dos companheiros e com seu prprio pro-
cesso de aprendizagem. O professor dever propor atividades que favoream
a troca de informaes entre os colegas, em que o desafio seja a escrita signi-
ficativa e a ampliao de conhecimentos e no a repetio mecnica de exer-
ccios desvinculados do que o aluno j sabe. O domnio da leitura tambm
ser favorecido se os educandos tiverem acesso a textos interessantes, que
desafiem sua curiosidade.
Tpicos de Objetivos didticos
contedo
O alfabeto Conhecer a grafia das letras nos tipos usuais (letra cursiva e de forma, mai-
scula e minscula).
Estabelecer a relao entre os sons da fala e as letras.
Letras, slabas Distinguir letra, slaba e palavra.
e palavras Distinguir vogais de consoantes.
Perceber que a slaba uma unidade sonora em que h sempre uma vogal e
que pode conter um ou mais fonemas.
Conhecer as variedades de combinaes de letras utilizadas para escrever.
Analisar as palavras em relao quantidade de letras e slabas.
Segmentao Usar espao para separar palavras, sem aglutin-las ou separ-las
das palavras de forma indevida.
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Sistema alfabtico e ortografia
71
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Sentido e Usar a escrita no sentido correto (da esquerda para a direita, de cima
posicionamento para baixo).
da escrita Alinhar a escrita, seguindo pautas e margens.
na pgina Utilizar espaos ou traos para separar ttulos, conjuntos de exerccios, t-
picos etc.
Ortografia Perceber que um mesmo som pode ser grafado de diferentes maneiras.
Perceber que uma mesma letra pode representar sons diferentes, dependendo
de sua posio na palavra.
Perceber as diferenas entre a pronncia e a grafia convencional das
palavras.
Identificar, nas palavras, slabas terminadas em consoante.
Escrever corretamente palavras com slabas terminadas em consoante.
Identificar, nas palavras, os encontros consonantais cuja 2 letra R ou L
(BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR; e BL, CL etc.).
Escrever corretamente palavras com encontros consonantais.
Identificar, nas palavras, os encontros voclicos orais (ai, ou etc.) e nasais
(o, e, e).
Escrever corretamente palavras com encontros voclicos.
Identificar, nas palavras, os dgrafos: CH, LH, NH; RR e SS; QU e GU e
vogais nasais formadas por acrscimo de M e N.
Escrever corretamente palavras com esses dgrafos.
Escrever corretamente palavras usuais com scom som de z; x com som de
z; x com som de z; je, ji ou ge, gi; ce, ci ou se, si; ou ss; h inicial.
Acentuao Conhecer os sinais de acentuao e as marcas sonoras que representam.
Utilizar corretamente a acentuao na escrita de palavras usuais.
72
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
Indicaes para a seqenciao do ensino
Nas fases iniciais da alfabetizao, o trabalho deve voltar-se prin-
cipalmente para o conhecimento do alfabeto, da relao entre sons
e letras, as diferentes composies silbicas, o sentido e
posicionamento da escrita e a segmentao das palavras. Muitos
alfabetizadores tm optado por trabalhar, nessa fase, principalmente
com as letras de forma maisculas, por serem mais fceis de distin-
guir umas das outras e mais fceis de grafar. S depois que o aluno
dominou os princpios bsicos do sistema que se introduz e exer-
cita a caligrafia da letra cursiva. Seja qual for o tipo de letra que se
utilize prioritariamente, fundamental que desde o incio o apren-
diz disponha de um quadro com o alfabeto em caracteres de forma
e cursivos, maisculos e minsculos, de modo que possa consult-
lo sempre que necessrio, identificando as correspondncias entre
eles.
Desde o incio, o professor deve oferecer textos significativos
para os alunos lerem. Se o texto tem um significado (ou seja, se ele
no apenas um conjunto de palavras com uma determinada fam-
lia silbica), o aprendiz pode apoiar o esforo da decifrao na capa-
cidade de prever o contedo. Nesta fase, importante tambm que
o aluno escreva, mesmo que no produza ainda uma escrita conven-
cional, possvel de ser interpretada por outros. A partir dessas escri-
tas imprecisas e insuficientes, o professor deve auxili-lo, mostran-
do o que est faltando e trazendo novas informaes. O exerccio da
cpia pode ser fonte de aprendizagem, mas se o aluno s copia ou s
importante que o
aluno escreva,
mesmo que no
produza ainda uma
escrita
convencional,
possvel de ser
interpretada por
outros
73
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
reproduz palavras que conhece de memria, ele no ter oportuni-
dade de testar suas hipteses e lhe ser mais difcil compreender de
fato como funciona o sistema.
Enquanto desvenda o funcionamento do sistema alfabtico, o
aluno vai deparar inevitavelmente com as irregularidades das relaes
letra/ som, vai perceber que no escrevemos exatamente como fala-
mos, que um mesmo som pode ser grafado com mais de uma letra.
O educador deve mostrar a forma correta de grafar as palavras, fa-
zendo com que o aluno tome conscincia dessas irregularidades. En-
tretanto, o domnio das convenes ortogrficas no pode ser exigido
nesse primeiro momento. O exerccio mais sistemtico dessas con-
venes deve ficar para as fases posteriores da aprendizagem, quan-
do o aluno j dominou a base do sistema alfabtico. Nos objetivos
didticos, distinguiu-se, como um primeiro passo, a identificao de
aspectos ortogrficos da lngua e, como segundo passo, seu empre-
go em palavras usuais. Sabemos que um domnio amplo da ortogra-
fia depende de um longo tempo de convvio com a linguagem escri-
ta. O que deve ser garantido nesse nvel de ensino que o aluno tenha
conscincia das dificuldades ortogrficas e saiba recorrer ao dicio-
nrio ou a outras fontes para escrever corretamente.
Leitura e escrita de textos
Ler e escrever textos so os principais objetivos da rea de Lngua Por-
tuguesa; portanto, este o principal bloco de contedo da rea, todos os
outros servindo-lhe de suporte e convergindo para ele. Para conseguir atin-
gir o objetivo de formar leitores autnomos e produtores de textos que sai-
bam comunicar-se com sucesso, necessrio que lhes sejam dadas oportuni-
dades de conhecer os produtos da comunicao escrita.
A sala de aula um lugar privilegiado para que os alunos entrem em
contato com textos diversos e compreendam suas caractersticas. Um texto
74
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
no uma simples justaposio de palavras e frases, mas um todo organiza-
do de acordo com uma inteno comunicativa. Pode-se escrever um texto
com a inteno de informar, convencer, sugerir, seduzir ou entreter. So as
intenes do autor, a situao e a considerao do leitor os elementos que
definem a trama, o vocabulrio e a apresentao visual de cada texto. Uma
poesia sobre a flor ser muito diferente da definio de flor que encontra-
mos no dicionrio, porque a poesia e a definio cumprem funes comuni-
cativas totalmente diferentes. preciso que o professor conhea as caracte-
rsticas de diferentes tipos de texto para poder elaborar atividades que con-
tribuam para o desenvolvimento dessa aprendizagem por parte dos alunos.
Uma boa estratgia para o trabalho com textos tomar cada modalida-
de como uma unidade de trabalho, em que se articulam atividades de leitura e
escrita e tambm de linguagem oral. Por exemplo, se a unidade de trabalho
o conto, o professor pode solicitar que os alunos contem contos da tradio
oral. Em seguida, pode trazer para a sala de aula livros de contos. Pode ler
contos em voz alta, para que os alunos escutem e se familiarizem com sua lin-
guagem. Pode convidar os alunos a ler, oferecendo contos adequados s suas
competncias em termos de extenso e complexidade.
A partir da leitura, o professor pode orientar as atividades de anlise dessa
modalidade de texto. Que tipos de contos lemos (contos de fada, de terror,
histrias de animais, de esperteza)? O que esses contos tm em comum? Como
comeam? Como terminam? Como a sua configurao (apresentao visu-
al)? H ttulo? H nome de autor? Que marcas lingsticas contm em termos
de vocabulrio, estrutura, pontuao? Por que o autor usou esta ou aquela
palavra? Qual era a sua inteno? Que tipo de reao essa forma de escrever
provoca no leitor?
Tomando ainda o trabalho sobre contos como exemplo, pode-se propor
que os alunos, depois de terem lido e estudado esses textos, escrevam seus
prprios contos. O professor deve ajudar os alunos a compreenderem que a
produo de um texto exige um certo planejamento prvio. O que vou escre-
Uma boa estratgia
para o trabalho com
textos tomar cada
modalidade como
uma unidade de
trabalho, emque se
articulamatividades
de leitura e escrita e
linguagemoral
75
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
O aprendiz deve
compreender que um
texto pode ser
corrigido, melhorado
e reescrito quantas
vezes for necessrio
O interesse do aluno
pela clareza e
adequao da
produo escrita
depende de ele
compreender sua
funo social
ver? Como vou escrever? Quem ser meu leitor? Por onde devo comear? Que
informaes so essenciais? Que tipo de linguagem vou usar? Que tamanho e
que formato meu texto vai ter? So perguntas como essas que devem guiar a
produo de um texto, que poder ser cada vez mais bem realizado, medida
que os alunos dominem os recursos da lngua.
O educador deve ainda ajudar o educando a compreender que a escrita
de um texto um processo; ele pode ser corrigido, melhorado e reescrito
quantas vezes for necessrio para que o autor se sinta satisfeito com sua pro-
duo, ou que ele seja considerado adequado pelo professor e pelo grupo.
Nesse processo, muito importante a colaborao do professor, que pode
intervir na produo dos alunos de distintas formas:
no momento em que os alunos esto escrevendo, esclarecendo d-
vidas, dando sugestes e informaes individualmente;
revisando os textos posteriormente, fazendo correes de acordo
com as possibilidades de assimilao de quem o escreveu;
fazendo correes coletivas dos textos dos alunos, reproduzindo-
os integral ou parcialmente no quadro, pedindo sugestes dos co-
legas, conferindo a ortografia, a sintaxe e a pontuao. Nessa situa-
o, o professor pode dar uma srie de informaes sobre os recur-
sos da escrita, que, certamente, sero assimilados de formas diferentes
pelos diferentes alunos.
O interesse do aluno pela clareza e adequao da produo escrita de-
pende de ele compreender sua funo social. Por isso, sempre interessante
que os textos produzidos possam ser lidos por outras pessoas e no s pelo
professor. Com esse objetivo, podem ser aproveitadas situaes reais de ne-
cessidade de escrita de textos como cartas, bilhetes e avisos, podem-se organi-
zar coletneas de textos de alunos, que inclusive ajudam a enriquecer a bibli-
76
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
oteca da classe, ou ainda afixar as produes em quadros murais.
Para trabalhar nessa linha, importante o professor considerar as carac-
tersticas das diferentes modalidades de texto. Por isso, apresentamos uma breve
caracterizao dos tipos de texto que aparecem com maior freqncia no nosso
contexto social e escolar e que, por isso, devem ser objeto de estudo nas tur-
mas de educao de jovens e adultos. O objetivo dessa tipologia principal-
mente orientar o professor na escolha dos textos e dos aspectos lingsticos
que pode explorar em cada um.
5
Modalidades de texto
TEXTOS LITERRIOS
A principal inteno do texto literrio esttica, ou seja, criar algo belo
ou extraordinrio. Por isso, o como a coisa dita to ou mais importante
que o que est dito. A leitura desses textos dirigida pelo sentido esttico e
sua anlise deve buscar desvendar os recursos utilizados pelo autor para pro-
duzir o belo e o extraordinrio.
6
5
A tipologia aqui adotada foi inspirada na proposta apresentada por Ana Maria Kaufman e Maria
Elena Rodriguez no livro Escola, leitura eproduodetextos(Porto Alegre, Artes Mdicas, 1995). Nele pode-
se encontrar uma caracterizao bem detalhada dessas modalidades de textos e propostas de como
abord-las no processo de aprendizagem da linguagem escrita. O livro traz ainda relatos de planos de
ensino organizados em torno de algumas dessas modalidades. Exposio tambm bastante didtica para
a formao do professor nessa temtica a de Carlos Faraco e Francisco Moura em Para gostar deescre-
ver (So Paulo, tica, 1991).
6
O Vereda Centro de Estudos em Educao, em co-edio com o MEB Movimento de
Educao de Base, publica uma srie de livros didticos destinados especificamente para a educao de
jovens e adultos em processo de alfabetizao, tomando gneros literrios como assunto de cada volu-
me. Marisa Lajolo organizou o volume Poetizando(So Paulo/ Braslia, Vereda/ MEB, 1994), que uma
coletnea de poesias. Vera Barreto organizou Confabulando(So Paulo/ Braslia, Vereda/ MEB, 1994) e
Historiando(So Paulo/ Braslia, Vereda/ MEB, 1995), que so respectivamente coletneas de fbulas e
histrias. Todas trazem uma verso para o educador com sugestes de como abordar cada texto.
No texto literrio, o
como a coisa dita
to ou mais
importante que o que
est dito
77
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Prosa:
Podemos encontrar diversos gneros narrativos na forma de prosa, des-
de as pequenas fbulas e anedotas at as crnicas, contos e romances. Nesses
textos, a narrativa pode ser entremeada por descries e dilogos. Sua confi-
gurao geral marcada pela diviso em pargrafos (e captulos, nas narrati-
vas mais longas), que normalmente separam os diferentes momentos do en-
redo. So textos, portanto, que se prestam bem anlise do encadeamento das
aes, dos recursos lingsticos que o autor usa para marcar sua temporalidade:
expresses como era uma vez, h muitotempo, derepente, emseguida. significati-
vo o uso dos tempos verbais do pretrito. Os alunos devem atentar tambm
para o foco narrativo. A narrativa pode ser em primeira pessoa (quando o
narrador personagem da histria) ou em terceira pessoa (quando no perso-
nagem da histria).
O discurso direto outro recurso freqentemente utilizado nesses tex-
tos, reproduzindo as falas das personagens. A aparecem sinais de pontuao
como dois pontos, travesso, ponto de interrogao, exclamao, reticncias.
Com relao s descries de cenrios, personagens e gestos, os alunos devem
tomar conscincia de que sua riqueza e preciso dependem do domnio de um
amplo vocabulrio de expresses, adjetivas e adverbiais especialmente.
Poesia:
A poesia a forma literria em que a beleza da linguagem mais inten-
samente evidenciada. Sua configurao diferente da prosa: normalmente h
versos, estrofes e mais espaos em branco. um texto para ser lido em voz
alta, por causa de sua sonoridade. Poesias so excelentes textos para mostrar
aos alunos a fora da linguagem figurada, a beleza dos sons e do ritmo das
palavras. Na poesia, h jogos de significados que se abrem a diferentes inter-
pretaes, provocam diferentes associaes e emoes.
78
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
Por ser um texto que pode dizer muito em poucas palavras, em que os
sons das palavras so um fato marcante, a poesia um texto excelente para
ser trabalhado com alunos em processo de alfabetizao. A linguagem poti-
ca est presente na literatura popular, nos versos, nos cordis e nas letras das
canes; bastante familiar aos alunos, oferecendo uma boa ponte entre a cul-
tura oral e a escrita.
TEXTOS JORNALSTICOS
Os textos jornalsticos tm como funo primordial informar sobre acon-
tecimentos da atualidade. Jornais e revistas so recursos didticos fundamen-
tais, certamente os materiais escritos de mais fcil acesso aos jovens e adultos
fora da escola. Neles encontramos diversos recursos visuais, diferentes tipos
e tamanhos de letras, fotos, ttulos, colunas, quadros, mapas, diagramas, tabe-
las e grficos, cuja funo chamar a ateno do leitor, hierarquizar a impor-
tncia dos assuntos, orientar a leitura, complementar a informao. im-
portante que os alunos se familiarizem com essa configurao dos jornais e
revistas e por isso devemos levar para a sala de aula no apenas recortes de
palavras ou textos, mas tambm exemplares inteiros.
Os jornais possuem uma organizao particular em razo da diversida-
de de assuntos que podem tratar; geralmente dividem-se em cadernos e sees.
A primeira pgina apresenta os temas mais importantes, com chamadas para
notcias, reportagens, entrevistas e artigos de opinio. Nas revistas, o ndice e
as chamadas tambm aparecem nas pginas iniciais. A linguagem jornalstica
tambm bastante caracterstica: as notcias so narradas sempre em terceira
pessoa, buscando expressar objetividade e imparcialidade.
As manchetes e os ttulos das notcias, pela sua brevidade, so propcios
para trabalhar com alunos iniciantes. Prestam-se tambm a anlises lingsti-
cas que identificam suas caractersticas: poucas palavras, verbo no presente,
supresso dos artigos.
Alm do seu valor informativo, as notcias jornalsticas so excelentes
para exemplificar e exercitar procedimentos de sntese. Normalmente, o pri-
As manchetes e os
ttulos das notcias,
pela sua brevidade,
so propcios para
trabalhar comalunos
iniciantes
Jornais e revistas
so recursos
didticos
fundamentais,
certamente os
materiais escritos de
mais fcil acesso
aos jovens e adultos
fora da escola
79
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Outro tipo de matria
bastante usual em
jornais e revistas
so as entrevistas.
Nelas, podemos
explorar recursos
lingsticos do
discurso direto
meiro pargrafo das matrias faz um resumo do acontecimento: o que, quan-
do, onde, com quem, por qu. Os pargrafos seguintes trazem informaes
complementares. Em alguns jornais, h resumos de notcias importantes des-
tacados na primeira pgina.
Nos jornais e revistas encontram-se tambm artigos de opinio e edito-
riais, com os quais se pode estudar com os alunos as caractersticas do texto
dissertativo. Nesses textos, temos a exposio e o confronto de idias, conhe-
cimentos, crenas e valores. Seus pargrafos normalmente obedecem a uma
organizao: introduo ao tema (para que o leitor saiba do que o autor est
falando), desenvolvimento (encadeamento de informaes com relaes de
causa e efeito, anlise, analogia, comparao e generalizao) e concluso. Os
autores costumam lanar mo de estruturas sintticas mais complexas, fazem
uso da ironia, da sutileza, de insinuaes e de expresses de impacto. Diante
de um texto dessa natureza, o leitor deve estar preparado para confrontar-se
com um autor que quer convenc-lo de que sua opinio vlida e correta, de-
vendo avaliar os argumentos apresentados e relacion-los s informaes que
j possui sobre o assunto e com suas prprias opinies.
Outro tipo de matria bastante usual em jornais e revistas so as entre-
vistas. Nelas, podemos explorar recursos lingsticos do discurso direto.
importante fazer os alunos observarem as marcas utilizadas para distinguir
as falas do entrevistador e do entrevistado (nem sempre so travesses), as-
sim como a pontuao caracterstica. J quando opinies de entrevistados so
includas dentro das notcias, normalmente so transcritas na forma de dis-
curso indireto (fulano disseque....), entre aspas quando se quer indicar que
aquelas foram exatamente as palavras do entrevistado. Preparando, realizan-
do e transcrevendo entrevistas simples, os educandos tambm podem obser-
var diferenas entre fala e escrita, pois mesmo quando reproduzimos a fala
por escrito devemos evitar redundncias e lapsos caractersticos da oralidade.
80
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
TEXTOS INSTRUCIONAIS (RECEITAS,
MANUAIS, REGULAMENTOS, NORMAS ETC.)
Os textos instrucionais so aqueles cuja funo regular ou indicar for-
mas de agir. Eles descrevem etapas que devem ser seguidas para que se consiga
fazer algo como preparar um bolo de aniversrio, instalar uma geladeira ou evitar
acidentes de trabalho.
Nas receitas culinrias, h sempre dois tipos de informaes bsicas: o que
usar (lista de ingredientes) e como usar (descrio das etapas do preparo). Em
muitas aparecem ainda outras informaes importantes como o tempo de
preparo e o nmero de pessoas que servem, alm de ilustraes que
complementam a descrio. Poderemos encontrar uma estrutura parecida tam-
bm nas receitas para preparao de materiais de construo ou de defensivos
agrcolas. Tambm merecem estudos as receitas mdicas, em que, ao lado de cada
medicamento, h indicaes de como deve ser utilizado. importante que os
alunos se familiarizem com a linguagem caracterstica desses textos: numerais
e abreviaturas que indicam as quantidades dos ingredientes, verbos de ao no
infinitivo ou imperativo, as palavras que indicam como a ao deve ser proces-
sada (advrbios): Mexa vagarosamenteas gemas ea manteiga; Tomar dois comprimidos
2x ao dia. Devemos tambm atentar para a seqncia dos procedimentos indi-
cados.
Tambm os manuais de instruo que indicam como montar, instalar,
usar, conservar ou consertar objetos e equipamentos podem ser lidos e anali-
sados pelos alunos. No caso do manual de um toca-fitas, por exemplo, encon-
tra-se uma lista com os componentes do aparelho, com ilustraes que desig-
nam a sua localizao. O texto descritivo prescreve as etapas seguintes para
coloc-lo em funcionamento e procedimentos de manuteno. Outros textos
semelhantes que podem ser trabalhados com os alunos so as instrues de
jogos, que trazem indicaes quanto ao nmero de participantes, as regras,
penalidades, contagem de pontos etc.
Regulamentos e normas so textos que aparecem freqentemente em
locais pblicos e de trabalho, prescrevendo como agir em determinadas situ-
Tambmos manuais
de instruo que
indicamcomo montar,
instalar, usar,
conservar ou
consertar objetos e
equipamentos podem
ser lidos e analisados
pelos alunos
81
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
aes: no coloque os livros na estante, numa biblioteca, ou use a luva e o
capacete, num canteiro de obras. Alguns desses textos previnem ainda sobre
conseqncias do no cumprimento das regras (risco de vida, multa etc.). Alm
de l-los e compreend-los, interessante que os alunos se exercitem na for-
mulao de normas acordadas pelo grupo, por exemplo, sobre o convvio na
sala de aula ou a utilizao de equipamentos e materiais educativos. O estudo
de textos normativos tambm pode ser associado ao estudo de sinalizaes
normalmente utilizadas com a mesma funo, por exemplo, os sinais de trn-
sito e outras placas indicativas como proibido fumar, reservado a defici-
entes fsicos etc.
FORMULRIOSE QUESTIONRIOS
Esses so textos instrucionais de um tipo particular, pois destinam-se
coleta de informaes que devem ser prestadas por escrito, no prprio docu-
mento. Deparamos freqentemente com formulrios quando lidamos com
solicitaes, inscries, pagamentos ou transaes bancrias. Alm de famili-
arizar os alunos com seu vocabulrio caracterstico (estado civil, nacionalida-
de, certificado de reservista etc.), importante ajud-los a observar a confi-
82
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
gurao do documento, como os campos que devem ser preenchidos ou no.
Algumas vezes, um formulrio pode conter questes abertas; por exem-
plo, numa solicitao de emprego: Por queseinteressou por esteramo deatividade?
ou Descreva brevementeas funes queexercia noltimoemprego etc. Os questionri-
os so tambm muito utilizados como estratgia escolar, como roteiros de
estudo e em avaliaes. importante que os alunos observem a funo do ques-
tionrio em cada situao: avaliar conhecimentos, colher opinies ou orien-
tar a anlise de um texto. Conscientes dos objetivos do questionrio, os alu-
nos podem respond-lo da forma adequada, expondo conhecimentos ou opi-
nies da forma mais clara e sinttica possvel.
Os alunos devem se familiarizar ainda com os questionrios com respostas
de mltipla escolha, onde devem ler vrias alternativas e escolher a que
corresponda mais precisamente pergunta. Este o tipo mais freqente de
questionrio utilizado, por exemplo, em pesquisas, grandes avaliaes e con-
cursos.
TEXTOS EPISTOLARES (CARTAS)
Os jovens e adultos costumam ter muito interesse em ler e escrever car-
tas. A caracterstica principal desse tipo de texto o fato de seu destinatrio
ser uma pessoa especfica. Normalmente, as cartas seguem um padro: o ca-
bealho traz o local, a data e o nome do destinatrio; no corpo do texto se
desenvolve o tema a ser tratado; no final h frmulas de despedida e a assina-
tura do remetente. Faz parte tambm da aprendizagem dessa modalidade de
texto o preenchimento correto do envelope para postagem.
Os alunos devem observar a diferena entre as cartas pessoais e as cartas
formais. Nas cartas para parentes e amigos, temos grande liberdade para nar-
rar acontecimentos, expressar sentimentos e desejos numa linguagem coloquial.
Em cartas de solicitao de emprego, memorandos, peties etc., devemos
atentar mais rigidamente s frmulas e usar uma linguagem objetiva.
Conscientes dos
objetivos do
questionrio, os
alunos podem
respond-lo da
forma adequada,
expondo
conhecimentos ou
opinies da forma
mais clara e
sinttica possvel
83
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Cartes, telegramas, bilhetes e convites so formas epistolares mais bre-
ves, com caractersticas especficas, que tambm podem ser estudadas em sala
de aula.
TEXTOS PUBLICITRIOS
As mensagens publicitrias so elaboradas para convencer o leitor de algo
e geralmente referem-se a mercadorias, eventos, servios ou a temas de inte-
resse pblico. Os alunos devem aprender a analisar a linguagem utilizada nesses
textos, nos quais se costuma apelar para emoes, sensaes, valores e crenas
da populao a que se dirigem. Tambm as ilustraes so normalmente bas-
tante sugestivas.
Mensagens publicitrias podem aparecer na forma de anncios, folhetos
e cartazes. Os jornais costumam ter sees de anncios classificados de em-
pregos ou oportunidades de compra e venda, que podem ser de especial inte-
resse para os jovens e adultos.
Podemos estudar assuntos relativos sade, por exemplo, recorrendo a
folhetos divulgados por rgos de sade pblica: Como evitar o clera; Dia 10
dia devacinar seu filho etc. Os alunos podem se exercitar tambm na redao de
anncios com fins comunitrios, como, por exemplo, a convocao de um
evento ou uma campanha pela manuteno da limpeza na escola.
TEXTOS DE INFORMAO CIENTFICA E HISTRICA
Os textos de informao cientfica e histrica so textos que definem,
explicam, analisam, relatam e tecem comentrios a respeito de temas inves-
tigados nas reas das cincias sociais e naturais. So encontrados em enci-
clopdias, dicionrios, revistas ou sees de revistas e jornais dedicadas di-
vulgao cientfica, livros didticos e livros em geral. As principais qualida-
des lingsticas desses textos so a clareza e a preciso dos termos. Neles,
podemos encontrar descries e anlises de fatos ou processos, relatos de ex-
perimentos, narrativas histricas ou biogrficas, definies e exemplificaes.
Cartes, telegramas,
bilhetes e convites
so formas
epistolares mais
breves, que tambm
podemser estudadas
emsala de aula
Na leitura de textos
cientficos e
histricos deve-se
introduzir os alunos
emestratgias de
seleo e reteno de
informaes
84
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
Esse o tipo de texto menos freqente no cotidiano extra-escolar e tal-
vez o mais freqente no ambiente escolar. So textos que se prestam para es-
tudar. Por esse motivo, interessante introduzir os alunos em estratgias de
seleo e reteno de informaes, tais como ler e reler pargrafo por par-
grafo, sublinhar partes mais relevantes, tomar notas, fazer fichamentos, resu-
mos etc.
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Leitura e escrita de textos
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Listas Identificar uma lista.
Produzir listas em forma de coluna ou separando os itens com vrgulas ou
hfens.
Escrever diferentes tipos de listas (lista de compras, lista de nomes de pes-
soas, nomes de cidades, instrumentos de trabalho, animais, etc.).
Ordenar listas por ordem alfabtica.
Consultar listas classificatrias e ordenativas (dicionrios, listas telefnicas,
anncios classificados, guias de itinerrios e ruas), compreendendo seu cri-
trio de organizao.
Receitas Identificar as partes que compem uma receita (ttulos, lista de ingre-
e instrues dientes, modo e tempo de preparo, ilustraes, fotografias).
Utilizar ttulos, ilustraes e outros elementos grficos como chaves de lei-
tura para prever contedos de receitas e instrues.
Consultar livros, fichas, encartes e suplementos de jornais e revistas que
85
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
contenham receitas ou instrues, observando ndice, nmero da pgina,
organizao interna destes materiais.
Escrever receitas, utilizando sua estrutura textual.
Ler manuais de equipamentos identificando as partes que o compem.
Redigir instrues de procedimentos simples (como trocar um pneu, tro-
car uma lmpada etc.).
Realizar atividades seguindo instrues escritas.
Ler e elaborar regulamentos e normas.
Formulrios Observar modelos de formulrios comuns e compreender sua dia-
e questionrios gramao e seu vocabulrio (data de nascimento, sexo, estado civil, nacio-
nalidade etc.).
Ler e preencher formulrios simples.
Observar a organizao de um questionrio: numerao das perguntas,
respostas de mltipla escolha, espaos para respostas por extenso etc.
Responder a questionrios curtos com opinies ou dados pessoais.
Preencher questionrios com respostas de mltipla escolha.
Responder perguntas por extenso, selecionando as informaes pertinen-
tes, na extenso adequada.
Utilizar questionrios como roteiros de estudo.
Formular questionrios sobre temas variados, utilizando a pontuao ade-
quada.
Anncios, Identificar os recursos visuais utilizados nesses textos e compreen-
folhetos e der sua funo: tipo e tamanho das letras, cores, ilustraes, tama-
cartazes nho do papel.
Analisar oralmente a linguagem usada nesses textos quanto clareza e ob-
jetividade.
Localizar informaes especficas em anncios e folhetos explicativos.
Analisar criticamente mensagens publicitrias.
Escrever cartazes, anncios ou folhetos, considerando o tipo de mensagem
que se quer transmitir, o tipo de linguagem e apresentao visual adequa-
da.
86
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
Versos, Observar a configurao desses textos, reconhecer e nomear seus
poemas, elementos: ttulo, verso, estrofe.
letras de Observar os recursos sonoros dos textos, repeties sonoras, rimas.
msica Ler e analisar oral e coletivamente esses textos, atentando para a linguagem
figurada, observando que essa linguagem pode sugerir interpretaes diver-
sas.
Criar e escrever ttulos para poesias e letras de msica.
Escrever pequenos versos, poemas ou letras de msica, ou reescrev-los, in-
troduzindo modificaes em textos de outros autores.
Consultar livros e antologias poticas, identificando poesias, prefcio, ndi-
ce, numerao das pginas, diviso de captulos, biografia do autor etc.
Conhecer o nome, breves dados biogrficos e alguns poemas de grandes
poetas brasileiros.
Conhecer o nome, breves dados biogrficos e algumas canes de grandes
cancionistas brasileiros.
Apreciar e reconhecer o valor literrio de textos poticos.
Bilhetes, Ler e escrever bilhetes, atentando para as informaes que devem
cartas conter.
e ofcios Identificar os elementos que compem uma carta: cabealho, introduo,
desenvolvimento, despedida.
Preencher corretamente envelopes para postagem segundo as normas do
correio.
Distinguir cartas pessoais de cartas formais.
Escrever cartas pessoais.
Escrever diferentes tipos de cartas, formais e informais, utilizando estru-
tura e linguagem adequadas.
Ler e redigir telegramas.
87
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Jornais Saber qual a funo dos jornais, como so organizados, de que temas tra-
tam.
Identificar elementos grficos e visuais que compem o jornal e sua fun-
o (diagramao, fotografia, ilustraes, tamanho e tipo de letras, grficos
e tabelas).
Identificar e ler manchetes e ttulos, prevendo o contedo das notcias.
Ler legendas de fotografias, utilizar fotografias e ilustraes como chave de
leitura para prever o contedo das matrias.
Reproduzir oralmente o contedo de notcias lidas em voz alta pelo pro-
fessor, identificando: o que aconteceu, com quem, onde, como, quando e
quais as conseqncias.
Escrever manchetes para notcias lidas pelo professor, utilizando linguagem
adequada.
Ler e identificar os elementos que compem as notcias e reportagens (o
que, quando, como, onde, com quem e quais as conseqncias).
Escrever notcias a partir de fatos do cotidiano e atualidades, utilizando
linguagem adequada.
Elaborar resumos de notcias.
Ler artigos de opinio, identificando o posicionamento do autor e os argu-
mentos apresentados.
Ler e elaborar entrevistas, observando a pontuao do discurso direto.
Consultar diferentes jornais, utilizando ndice, informaes contidas na pri-
meira pgina, identificando cadernos e sees.
Comparar o tipo de informao e o tratamento dado informao por
diferentes jornais.
Posicionar-se criticamente diante de fatos noticiados na imprensa.
Contos, Conhecer esses textos atravs da leitura oral do professor, identifican-
crnicas, do elementos como ttulo, personagens, complicao e desfecho.
fbulas e Ler historietas e anedotas.
anedotas Ler contos e crnicas, identificando narrador, personagens, enredo.
88
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
Escrever, com ajuda do professor e dos colegas, pequenas histrias do co-
tidiano, anedotas ou contos conhecidos.
Reescrever histrias conhecidas completas ou em parte (finais, descrio de
personagens e lugares).
Escrever histrias, observando o foco narrativo (narrao em primeira pes-
soa ou terceira pessoa).
Utilizar corretamente a pontuao do discurso direto, introduzindo falas
dos personagens.
Reconhecer o valor cultural dos textos e histrias ficcionais.
Conhecer o nome, breves dados biogrficos e algumas obras de grandes cro-
nistas e contistas brasileiros.
Relatos, Ler e escrever relatos breves de experincias de vida.
biografias Ler e escrever biografias, observando a seqncia cronolgica dos
e textos de eventos.
informao Ler textos simples sobre eventos da histria (do Brasil ou univer-
histrica sal).
Distinguir relatos histricos de relatos ficcionais.
Textos de Observar a organizao geral de dicionrios, enciclopdias, livros
informao didticos e paradidticos.
cientfica Consultar dicionrios, enciclopdias, livros didticos e paradidticos com
ajuda do professor.
Pesquisar a ortografia correta das palavras no dicionrio.
Compreender abreviaturas e definies constantes nos verbetes de dicio-
nrio.
Pesquisar temas em livros didticos e paradidticos, selecionando informa-
es relevantes.
Pesquisar temas em enciclopdias, selecionando informaes relevantes.
89
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Indicaes para a seqenciao do ensino
Muitos professores acreditam que os alunos s podem entrar
em contato com textos de verdade depois que j dominam a lei-
tura autnoma. Isso no verdade. Todas as modalidades de texto
apresentadas podem ser trabalhadas j nos estgios iniciais da apren-
dizagem. O que varia ao longo do processo a necessidade de uma
mediao maior ou menor do professor em relao leitura e pro-
duo de textos.
Os alunos que ainda no conseguem ler autonomamente po-
dem conhecer os textos a partir da leitura oral do professor. Paula-
tinamente, o professor pode propor que os alunos tentem ler sozi-
nhos o ttulo da histria ou a manchete de uma notcia, por exem-
plo. Os jovens e adultos podem tambm introduzir-se na leitura e
escrita autnoma por meio das modalidade mais breves, como as
listas, os folhetos e cartazes, receitas, contos populares, relatos do
cotidiano, letras de msica e poemas.
A explorao dos textos pode ser feita inicialmente s atravs
de comentrios orais sobre a temtica, a estrutura e o vocabulrio.
Mais adiante, pode-se usar recursos como assinalar no texto suas
partes, expresses que descrevem os personagens, que indicam o
tempo dos acontecimentos etc. Com os alunos mais avanados,
podemos recorrer a questionrios ou roteiros de anlise de textos.
Os roteiros de estudo de texto devem levar o aluno a perceber o que
existe de especfico em cada um, por isso no podem ser sempre
iguais e pouco desafiadores.
Tambm desde o incio do processo os alunos devem ser in-
centivados a escrever textos, ainda que cometam faltas ortogrficas
A explorao dos
textos pode ser feita
inicialmente s
atravs de
comentrios orais
sobre a temtica, a
estrutura e o
vocabulrio
90
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
e de pontuao, omitam partes do enunciado ou reproduzam mar-
cas do discurso oral. A correo individual ou coletiva dessa pro-
duo dar oportunidade para se trabalhar tanto os tpicos de or-
tografia e pontuao como os princpios gerais de organizao do
texto (encadeamento das idias, estilo etc.).
Para os alunos mais avanados deve-se esperar um maior grau
de correo da escrita, alm da capacidade de produzir textos um
pouco mais longos. Paulatinamente, deve-se esperar que os alunos
iniciem-se no domnio estilstico das diversas modalidades textuais,
no uso da pontuao, na substituio de expresses caractersticas
da oralidade por recursos prprios da linguagem escrita.
Pontuao
Os sinais de pontuao so elementos importantssimos em um texto, pois
organizam o encadeamento de idias e informaes que se quer transmitir,
alm de evitar erros de interpretao. A pontuao indica as pausas, a entonao,
a melodia e a expressividade das frases no texto. Assim, o ensino da pontua-
o deve estar relacionado ao estudo e produo de textos. A pontuao deve
ser compreendida como um recurso que garante a coeso e coerncia textual,
ou seja, a arrumao geral e a lgica do texto.
Cada modalidade de texto possui um conjunto caracterstico de sinais de
pontuao (aqueles que aparecem com maior freqncia). Num texto descri-
tivo ou argumentativo sero utilizados principalmente os pontos e as vrgu-
las, alm das marcas de pargrafo. Numa narrao com dilogos aparecero
sinais que marcam expressividade (reticncias, exclamao), assim como dois
pontos e travesses, que indicam o discurso direto.
O professor pode utilizar diversos recursos para favorecer essa aprendi-
zagem. O principal deles a correo comentada dos textos produzidos pe-
A correo
comentada de textos
escritos pelos alunos
uma boa estratgia
para ensinar a
pontuao
91
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Pontuao
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Pontuao Observar os sinais de pontuao nos textos.
de textos Identificar os sinais de pontuao mais usuais (ponto, vrgula, ponto de in-
terrogao) e compreender suas funes nos textos (relacionar o uso do pon-
to ao uso da letra maiscula no incio das frases).
Utilizar adequadamente ponto (e letra maiscula no incio das frases), ponto
de interrogao, vrgula e pargrafo na escrita de textos.
Utilizar adequadamente a pontuao do discurso direto, destacando as fa-
las de personagens (dois pontos, travesso).
los alunos. Outros exerccios subsidirios so: oferecer pequenos textos dos
quais foram retirados os sinais de pontuao e pedir que os alunos os pontu-
em; na leitura, chamar a ateno dos alunos para a presena e significados do
travesso, das aspas, das reticncias, dos parnteses, do pargrafo etc.
Indicaes para a seqenciao do ensino
Na alfabetizao, os alunos costumam escrever textos em blo-
co, no manifestando preocupao com o uso da pontuao. O seu
92
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
esforo est concentrado em colocar as idias no papel, em como
representar as palavras, em como separ-las. Por isso, perfeitamente
aceitvel que os textos produzidos por educandos em processo de
alfabetizao no sejam pontuados, ou que neles alguns sinais de
pontuao sejam utilizados de modo no convencional. Um recur-
so comumente utilizado pelos escritores iniciantes para delimitar e
articular as frases num texto a reproduo de expresses como
a.... e a... da..., que na linguagem oral cumprem exatamente
essa funo. Tomar conscincia das frases como unidades de senti-
do e delimit-las com os recursos prprios da escrita (pontos e le-
tras maisculas) um processo que exige um certo tempo.
Mesmo assim, desde o incio da alfabetizao, o professor deve
encarregar-se de chamar a ateno dos alunos para os sinais de pon-
tuao, indicando-os nos textos estudados e comentando seu uso nos
momentos de correo coletiva ou de escrita no quadro-negro. A
funo desses elementos da escrita deve ser explicitada, j que eles
esto presentes em todos os textos que lemos e colaboram para a
compreenso e interpretao da mensagem.
Nas salas de ps-alfabetizao, pode-se iniciar um trabalho mais
sistemtico de compreenso e uso dos sinais de pontuao na escri-
ta. Inicialmente, pode-se introduzir o uso do pargrafo, da letra
maiscula no incio e do ponto no final das frases, as vrgulas nas
enumeraes, o ponto de interrogao nas perguntas. Posteriormente,
deve-se trabalhar a pontuao do discurso direto (dois pontos, tra-
vesso etc.).
Anlise lingstica
Uma concepo do ensino de gramtica adequada aos objetivos que nos
propomos aquela que se aplica anlise das caractersticas lingsticas de
Tomar conscincia
das frases como
unidades de sentido
e delimit-las comos
recursos prprios da
escrita um
processo que exige
umcerto tempo
93
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Uma concepo do
ensino de gramtica
adequada aos
objetivos que nos
propomos aquela
que se aplica
anlise das
caractersticas
lingsticas de
diferentes textos
diferentes textos. Portanto, as atividades com diversas modalidades de texto,
voltadas intencionalmente para desvendar caractersticas estruturais e funcio-
nais de cada um deles, so os recursos de que o professor pode lanar mo para
que os alunos tomem conscincia dos fatos da lngua. A anlise lingstica estar
desta forma a servio da produo e anlise de textos.
A atividade didtica que melhor se presta para desenvolver os conte-
dos deste bloco a correo comentada dos textos produzidos pelos alunos.
Para faz-lo coletivamente, o professor pode copiar o texto ou parte do tex-
to produzido no quadro-negro e ir melhorando-o a partir das sugestes dos
demais, comentando as correes que se faam necessrias. A partir da iden-
tificao de problemas recorrentes, por exemplo, de erros de concordncia,
de omisso ou repetio de palavras, o professor poder sistematizar algu-
mas normas.
Outro recurso til oferecer aos alunos um pequeno texto em que de-
terminadas classes de palavras ou expresses so substitudas por uma lacu-
na. Os alunos devero preencher as lacunas garantindo o sentido do enunci-
94
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
ado. Essa tarefa pode ajud-los a tomar conscincia de como essas palavras e
expresses funcionam no texto. Por exemplo, completando um texto do qual
foram omitidos os adjetivos ou expresses adjetivas, os alunos podem perce-
ber que existe uma classe de palavras ou expresses que servem para qualificar
e que existem vrias palavras ou expresses que podem ser usadas numa mes-
ma situao, sem que se perca o sentido do texto; tero ainda que identificar
o termo a que o adjetivo se refere para fazer a concordncia. A partir da cor-
reo coletiva de exerccios como estes o professor tambm pode sistemati-
zar algumas regras e conceitos.
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Anlise lingstica
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Campos Classificar palavras ou expresses pelo critrio de proximidade do
semnticos sentido (nomes de pessoas, nomes de animais, nomes de cores,
e lxicos nomes de ferramentas, expresses que servem para descrever uma casa, ati-
vidades que realizamos no fim de semana etc.).
Compreender e aplicar o conceito de sinnimo.
Identificar conjuntos de palavras derivadas, observando semelhanas orto-
grficas e de sentido.
Conhecer o sentido de sufixos e prefixos usuais.
Flexo das Observar palavras que se flexionam (plurais, tempos e pessoas ver-
palavras e bais).
concordncia Observar a concordncia nominal e verbo-nominal em frases e textos.
95
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Aplicar regras bsicas de concordncia nominal e verbo-nominal na escrita
de textos.
Observar e empregar os tempos verbais adequados a cada modalidade de
texto.
Substituio Identificar a que termos se referem os pronomes num texto.
de palavras Empregar pronomes e expresses sinnimas para evitar a repetio de pa-
lavras na escrita de textos.
Frase Utilizar a noo de frase (enunciao com sentido completo) para orientar
a pontuao na escrita de textos.
Indicaes para a seqenciao do ensino
Nas turmas de alfabetizao, a nfase do trabalho de anlise
lingstica deve concentrar-se na observao de semelhanas e di-
ferenas na grafia das palavras. Pode-se ainda introduzir procedimen-
tos de classificao, realizando levantamentos de palavras que per-
tencem a campos semnticos comuns. Para as turmas de ps-alfa-
betizao, possvel introduzir alguns conceitos de anlise
morfolgica, sempre empregando-os na anlise de textos e da escrita
dos alunos. Um estudo mais sistemtico do conjunto dos conceitos
morfolgicos e sintticos que descrevem a lngua deve ser deixado
para outros nveis de ensino.
96
Lngua Portuguesa
Ao Educativa / MEC
97
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Matemtica
98
Matemtica
Ao Educativa / MEC
99
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Fundamentos e objetivos da rea
A aprendizagem da Matemtica refere-se a um conjunto de con-
ceitos e procedimentos que comportam mtodos de investigao e
raciocnio, formas de representao e comunicao. Como cincia, a
Matemtica engloba um amplo campo de relaes, regularidades e
coerncias, despertando a curiosidade e instigando a capacidade de
generalizar, projetar, prever e abstrair. O desenvolvimento desses pro-
cedimentos amplia os meios para compreender o mundo que nos
cerca, tanto em situaes mais prximas, presentes na vida cotidia-
na, como naquelas de carter mais geral. Por outro lado, a Matem-
tica tambm a base para a construo de conhecimentos relaciona-
dos s outras reas do currculo. Ela est presente na Cincias Exa-
tas, nas Cincias Naturais e Sociais, nas variadas formas de comuni-
cao e expresso.
Saber Matemtica torna-se cada vez mais necessrio no mundo
atual, em que se generalizam tecnologias e meios de informao ba-
seados em dados quantitativos e espaciais em diferentes representa-
es. Tambm a complexidade do mundo do trabalho exige da esco-
la, cada vez mais, a formao de pessoas que saibam fazer pergun-
tas, que assimilem rapidamente informaes e resolvam problemas
utilizando processos de pensamento cada vez mais elaborados.
No ensino fundamental, a atividade matemtica deve estar orien-
tada para integrar de forma equilibrada seu papel formativo (o de-
senvolvimento de capacidades intelectuais fundamentais para a estru-
Saber Matemtica
torna-se cada vez
mais necessrio no
mundo atual, emque
se generalizam
tecnologias e meios
de informao
baseados emdados
quantitativos e
espaciais
100
Matemtica
Ao Educativa / MEC
turao do pensamento e do raciocnio lgico) e o seu papel funcio-
nal (as aplicaes na vida prtica e na resoluo de problemas de
diversos campos de atividade). O simples domnio da contagem e de
tcnicas de clculo no contempla todas essas funes, intimamente
relacionadas s exigncias econmicas e sociais do mundo moderno.
Noes e procedimentos informais
Como acontece com outras aprendizagens, o ponto de partida
para a aquisio dos contedos matemticos deve ser os conhecimen-
tos prvios dos educandos. Na educao de jovens e adultos, mais do
que em outras modalidades de ensino, esses conhecimentos costumam
ser bastante diversificados e muitas vezes so encarados, equivoca-
damente, como obstculos aprendizagem. Ao planejar a interven-
o didtica, o professor deve estar consciente dessa diversidade e
procurar transform-la em elemento de estmulo, explicao, anli-
se e compreenso.
Muitos jovens e adultos pouco ou nada escolarizados dominam
noes matemticas que foram aprendidas de maneira informal ou
intuitiva, como, por exemplo, procedimentos de contagem e clculo,
estratgias de aproximao e estimativa. Alguns chegam a manejar, com
propriedade, instrumentos tcnicos de alta preciso. Embora tenham
um conhecimento bastante amplo de certas noes, poucos so os que
dominam as representaes simblicas convencionais, cuja base a
escrita numrica.
1
Esses alunos, ao entrarem na escola, demonstram grande interesse
em aprender os processos formais. Porm, fato que eles no costu-
mam abandonar rapidamente os informais, substituindo-os pelos
convencionais. A mediao entre o conhecimento informal dos alu-
1
Sobre conhecimentos matemticos desenvolvidos fora da escola, por meio da reso-
luo de problemas prticos, veja o livro Na vida dez na escola zero, de T.N. Carraher et al.
(So Paulo, Cortez, 1988).
Como acontece com
outras aprendizagens,
o ponto de partida
para a aquisio dos
contedos
matemticos deve ser
os conhecimentos
prvios dos
educandos
101
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
nos e o conhecimento sistematizado ou escolar pode ser amplamente
facilitada pela interveno do professor.
A comunicao desempenha um papel fundamental para auxili-
ar os alunos a construrem os vnculos entre as noes informais e
intuitivas e a linguagem abstrata e simblica da Matemtica. Tam-
bm desempenha uma funo-chave para que estabeleam conexes
entre as idias matemticas e suas diferentes representaes: verbais,
materiais, pictricas, simblicas e mentais. Quando percebem que uma
representao capaz de descrever muitas situaes e que existem
formas de representar um problema que so mais teis que outras,
comeam a compreender a fora, a flexibilidade e a utilidade da lin-
guagem matemtica.
Os adultos no escolarizados aprendem muito atravs da comu-
nicao oral, por isso importante dar-lhes a oportunidade de fa-
lar de matemtica, de explicar suas idias antes de represent-las no
papel. A interao com a fala de seus colegas ajuda-os a construir
conhecimento, a aprender outras formas de pensar sobre um deter-
minado problema, a clarificar seu prprio processo de raciocnio.
Devemos tambm estimul-los a produzir registros grficos e mesmo
a escrever sobre matemtica, por exemplo, descrevendo a soluo
de um problema. O professor pode facilitar esse processo formulan-
do perguntas que levem os educandos a investigar e a expor seus pon-
tos de vista, estimulando-os a produzirem seus prprios registros, a
partir dos quais sero buscadas as relaes com as representaes
formais e com as escritas simblicas.
A Matemtica na sala de aula
Diante de uma situao de aprendizagem, tambm importante
que o professor situe os alunos, explicando os objetivos, as aplicaes
do que est sendo estudado e as possveis relaes com outros cam-
pos do conhecimento. Sugerindo caminhos, fazendo propostas de tra-
balho, orientando a atividade e interpretando os erros como meios de
Os adultos no
escolarizados
aprendemmuito
atravs da
comunicao oral,
por isso
importante dar-lhes
a oportunidade de
falar de
matemtica
102
Matemtica
Ao Educativa / MEC
aprendizagem, ele poder estabelecer vnculos entre as experincias e
conhecimentos dos alunos e os novos contedos a serem aprendidos.
No incio da escolaridade, importante enfatizar o carter ins-
trumental das noes matemticas, tomando-o como fio condutor da
aprendizagem. Assim, a transmisso de informaes e a exercitao
de tcnicas no devem ocupar o espao das atividades de resoluo
de problemas. O processo de ensino e aprendizagem deve centrar-se
na anlise e na interpretao de situaes, na busca de estratgias de
soluo, na anlise e comparao entre diversas estratgias, na dis-
cusso de diferentes pontos de vista e de diferentes mtodos de solu-
o. Desse modo, pode-se favorecer no s o domnio das tcnicas
mas tambm o de procedimentos como a observao, a experimen-
tao, as estimativas, a verificao e a argumentao.
Um caminho transformar as situaes do cotidiano que envol-
vem noes e notaes matemticas em suporte para a aprendizagem
significativa de procedimentos mais abstratos. Alguns exemplos de
fatos e situaes cotidianas que podem propiciar interessantes explo-
raes matemticas so:
levantamento de dados pessoais, endereos, cdigos postais,
nmeros de telefone etc., para reconhecimento das vrias
funes dos nmeros;
atividades de compra e venda, clculo do valor da cesta b-
sica, de encargos sociais, de oramento domstico, para exer-
ccios de clculo;
leitura e interpretao de informaes que aparecem em
moedas e cdulas de dinheiro, contracheques, contas de luz,
extratos bancrios, para observar as escritas numricas e
fazer clculos mentais;
leitura e traado de itinerrios, mapas e plantas e constru-
o de maquetes, para identificar pontos de referncia no
espao, distncias, formas bi e tridimensionais e compreen-
der escalas;
Situaes do
cotidiano que
envolvemnoes e
notaes
matemticas do
suporte para a
aprendizagem
significativa de
procedimentos mais
abstratos
103
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
clculo de medidas de terrenos e edificaes, para com-
preender as noes de medida e de unidade de medida;
consulta e construo de calendrios;
planejamento e organizao de eventos como festas, excur-
ses e campeonatos esportivos para levantar e organizar
dados, fazer clculos e previses.
A resoluo de problemas
Para que a aprendizagem da Matemtica seja significativa, ou
seja, para que os educandos possam estabelecer conexes entre os di-
versos contedos e entre os procedimentos informais e os escolares,
para que possam utilizar esses conhecimentos na interpretao da rea-
lidade em que vivem, sugere-se que os contedos matemticos sejam
abordados por meio da resoluo de problemas. Nessa proposta, a
resoluo de problemas no constitui um tpico de contedo isola-
do, a ser trabalhado paralelamente exercitao mecnica das tc-
nicas operatrias, nem se reduz aplicao de conceitos previamen-
te demonstrados pelo professor: ela concebida como uma forma de
conduzir integralmente o processo de ensino e aprendizagem.
Uma situao-problema pode ser entendida como uma ativida-
de cuja soluo no pode ser obtida pela simples evocao da me-
mria mas que exige a elaborao e a execuo de um plano. No
se pode confundir essa idia com os problemas que so tradicional-
mente trabalhados nas salas de aula ou que aparecem nos livros did-
ticos, nos quais a situao apresentada por um texto padronizado
que, por sua vez, evoca uma resposta tambm padronizada, como
neste exemplo: Joo tinha 35 reais, gastou 22 reais, com quanto ele
ficou? 35 - 22 = 13.
Saber enunciar a resposta correta ou traduzir a soluo de um
problema por meio de uma escrita matemtica adequada no so ga-
rantia de que os alunos tenham de fato se apropriado do conhecimen-
to envolvido na soluo desse problema. Para que isso acontea,
Uma situao-
problema pode ser
entendida como uma
atividade cuja
soluo no pode ser
obtida pela simples
evocao da memria
mas que exige a
elaborao e a
execuo de um
plano
104
Matemtica
Ao Educativa / MEC
necessrio que eles consigam pr prova o resultado obtido, testar seus
efeitos e argumentar sobre a soluo encontrada. Desse enfoque, o valor
da resposta correta cede lugar ao processo de resoluo. A explicitao
do processo e a comparao entre diferentes estratgias de soluo so
fundamentais para que os educandos desenvolvam o senso crtico e a
criatividade. Para ajud-los nesse sentido, o professor deve sempre pro-
por questes que os levem a analisar a situao. Por exemplo, ante uma
situao que envolve subtrair 19 de 35, o professor pode fazer per-
guntas como: possvel resolver de cabea?; Seguir contando de 19 a
35 ajuda a obter o resultado?; De que serve pensar que 19 15 - 4?
Explorar os contedos atravs de questionamentos leva os alunos a
estabelecerem conjecturas e buscarem justificativas, o que pode aju-
d-los a se dar conta do sentido das idias matemticas, alm de fa-
vorecer a capacidade de expresso.
A resoluo de problemas matemticos na sala de aula envolve
vrias atividades e mobiliza diferentes capacidades dos alunos:
compreender o problema;
elaborar um plano de soluo;
executar o plano;
verificar ou comprovar a soluo;
justificar a soluo;
comunicar a resposta.
Ler, escrever, falar e escutar, comparar, opor, levantar hipteses
e prever conseqncias so procedimentos que acompanham a reso-
luo de problemas. Esse tipo de atividade cria o ambiente propcio
para que os alunos aperfeioem esses procedimentos e desenvolvam
atitudes como a segurana em suas capacidades, o interesse pela de-
fesa de seus argumentos, a perseverana e o esforo na busca de so-
lues. A comunicao e a interao com os colegas favorecem no
apenas a clareza do prprio pensamento, mas as atitudes de coope-
rao e respeito pelas idias do outro.
Ler, escrever, falar e
escutar, comparar,
opor, levantar
hipteses e prever
conseqncias so
procedimentos que
acompanhama
resoluo de
problemas
105
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Os materiais didticos
bastante forte entre professores a idia de que a ausncia de
materiais manipulveis na sala de aula pode comprometer a aprendi-
zagem da Matemtica, como se a manipulao desses materiais tives-
se a fora de imprimir no pensamento dos alunos as noes matem-
ticas que se procura concretizar atravs deles. Para muitos, uma ativi-
dade bem conduzida deve passar seqencialmente pela manipulao,
representao e simbolizao, sendo os materiais um trampolim para
atingir as abstraes. Nesta viso, o concreto geralmente interpreta-
do como sinnimo de fcil e o abstrato como sinnimo de difcil.
importante dissipar alguns equvocos embutidos nessas idias.
Freqentemente, o concreto tomado como o que se pode tocar, atri-
bui-se aos objetos manipulveis a propriedade de tornar significativa
uma situao de aprendizagem. Na construo do conhecimento, exis-
tem muitos fatos que, mesmo sendo simblicos, expressam to direta-
mente seu significado que no necessitam de qualquer tipo de mediao
106
Matemtica
Ao Educativa / MEC
para serem compreendidos. o caso de adultos analfabetos que no
necessitam de material de contagem para identificar pequenas quan-
tidades e operar com elas, pois j tm essas noes construdas men-
talmente. Se conhecerem as escritas numricas correspondentes a essas
quantidades, podero operar a partir dessas representaes simblicas
sem maiores problemas. Outras vezes, as situaes de aprendizagem
tornam-se significativas se forem estabelecidas relaes com situaes
mais prximas, mais familiares, como o caso da utilizao de slidos
geomtricos de massa ou de madeira para que os alunos identifiquem,
pela observao, certas caractersticas das figuras tridimensionais.
Materiais para apoiar a aprendizagem dos nmeros e das opera-
es, como bacos, material dourado, discos de fraes, cpias de c-
dulas e moedas ou outros podem ser recursos didticos eficientes, desde
que estejam relacionados a situaes significativas que provoquem a
reflexo dos alunos sobre as aes desencadeadas.
A calculadora tambm indicada como um recurso didtico, em-
bora o seu uso na sala de aula ainda seja considerado uma questo
polmica. inegvel que essas mquinas, transformando-se em obje-
tos de consumo amplo, esto se convertendo no meio de calcular mais
utilizado pela populao, tanto nas atividades cotidianas como nas
profissionais. Enquanto a maioria das escolas e dos livros didticos a
ignoram e continuam ensinando mecanicamente o clculo com lpis
e papel, de acordo com os procedimentos convencionais, a ampla difu-
so das calculadoras tem provocado uma perceptvel modificao no
hbito de calcular das pessoas e mesmo na sua atitude ante as atividades
numricas. De outro lado, algumas experincias escolares com a calcula-
dora evidenciam que seu uso pode constituir um fator de motivao
e interesse pela Matemtica, instigando o hbito de investigao e apro-
ximando o ensino da Matemtica da realidade extra-escolar.
possvel trabalhar vrios contedos com o auxlio da calcula-
dora, como as regras do sistema decimal de numerao, as proprieda-
des das operaes, as representaes decimais, o conceito das opera-
es e clculos. Tomemos, como exemplo, a seguinte proposta por meio
da qual tais contedos poderiam ser desenvolvidos com o apoio da
Materiais como o
baco ou cpias de
cdulas e moedas
podemser recursos
didticos eficientes
107
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
mquina: Partindo do nmero 572, como obter o nmero 5720 fazen-
do s uma operao? E para obter, nas mesmas condies, o nmero
57,2? Por meio desse exemplo possvel perceber que a utilizao da
calculadora em sala de aula no deve reduzir o espao dedicado com-
preenso dos conceitos e procedimentos envolvidos na resoluo de
problemas, nem dispensar o esforo de memorizao de clculos ele-
mentares, que so o suporte para clculos mais complexos. O que se
pretende com seu uso que os alunos possam se propor perguntas e
desenvolver procedimentos de controle e verificao de suas respostas.
Os contedos
Nesta proposta, os contedos matemticos para a educao de
jovens e adultos esto organizados em quatro blocos: Nmeros e
operaes numricas, Medidas, Geometria e Introduo Es-
tatstica. Em seu detalhamento, procurou-se evidenciar as relaes
existentes entre eles, uma vez que o estabelecimento de conexes entre
os diferentes contedos matemticos, assim como desses contedos
com contedos de outras reas do conhecimento fundamental para
que se garanta uma aprendizagem significativa.
2
O estabelecimento
dessas conexes condio para que os alunos percebam a utilidade
da Matemtica para descrever fenmenos do mundo real e para comu-
nicar idias e informaes complexas de maneira simples e precisa.
Embora os contedos e os objetivos didticos estejam desdobrados
em itens, a ordenao em que eles aparecem no deve ser interpretada
como indicao de uma seqncia rgida. Diversas combinaes entre
os contedos so possveis, dependendo do problema que desencade-
ar uma situao de aprendizagem e das conexes lgicas estabelecidas
entre diversas situaes. Por exemplo, pode-se iniciar o estudo das
2
O livro de Dione L. Carvalho, Metodologia do ensino de Matemtica (So Paulo,
Cortez, 1990), escrito para uso em cursos de magistrio, traz indicaes sobre metodologia
e temas a serem desenvolvidos no ensino da Matemtica.
O uso da calculadora
emsala de aula pode
ser umfator de
motivao e interesse
pela Matemtica
108
Matemtica
Ao Educativa / MEC
operaes e do clculo antes de sistematizar o trabalho com nmeros,
introduzir o estudo dos nmeros decimais a partir de problemas que
envolvam medidas ou ainda propor o estudo das fraes a partir de
um trabalho com composio e decomposio de figuras geomtricas.
O bloco Nmeros e operaes numricas engloba o estudo dos
nmeros naturais, de suas funes e representaes, das caractersti-
cas do sistema decimal de numerao, dos nmeros racionais na for-
ma decimal e fracionria; do significado da adio, subtrao, mul-
tiplicao e diviso, dos fatos fundamentais, dos diferentes procedi-
mentos de estimativa, clculo mental e clculo escrito.
O bloco Medidas rene conhecimentos de grande utilidade
prtica, que tambm podem ser articulados com o estudo do espao,
das formas, dos nmeros e das operaes. Os contedos deste bloco
envolvem a noo de medida e de proporcionalidade, de unidade de
medida e das relaes entre suas diferentes representaes. Tais no-
es so desenvolvidas a partir do estudo e utilizao de diferentes
sistemas de medida: tempo, massa, capacidade, comprimento, super-
fcie e valor (sistema monetrio).
Geometria trata da construo das noes espaciais atravs da
percepo dos prprios movimentos e da representao grfica do
espao. As figuras bidimensionais e tridimensionais so exploradas
a partir da observao das formas dos objetos e tambm de represen-
taes que possibilitam a identificao de semelhanas e diferenas,
alm de algumas propriedades dessas figuras.
Na Introduo Estatstica renem-se contedos relacionados
a procedimentos de coleta, organizao, apresentao e interpreta-
o de dados, leitura e construo de tabelas e grficos. Esses con-
tedos, que no costumam aparecer nos currculos de Matemtica das
sries iniciais, justificam-se pela sua grande utilidade prtica, como
potentes recursos para descrever e interpretar o mundo nossa vol-
ta. Basta abrir um jornal ou um livro didtico de Geografia ou Cin-
cias para constatar como freqente o uso dessas formas de apresen-
tao e organizao de dados e, portanto, como importante para
os jovens e adultos poder compreend-las.
Diversas
combinaes entre
os contedos so
possveis,
dependendo do
problema que
desencadear uma
situao de
aprendizagem
109
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Nos blocos de contedo, destacam-se os procedimentos de esti-
mativa como uma dimenso fundamental da aprendizagem matem-
tica. Quando lidamos com quantidades, muito comum utilizarmos
termos como cerca de, quase, um pouco mais, mais ou me-
nos. Nossa capacidade de estimar convive com nosso sentido num-
rico e espacial. Particularmente no caso de jovens e adultos, as situa-
es que envolvem contagem e mensurao presentes na vida diria
podem favorecer o desenvolvimento dos procedimentos de arredon-
damento, aproximao e compensao que os dotam de grande capa-
cidade para decidirem, em situaes reais, se um determinado resul-
tado razovel. Na sala de aula, pode-se aperfeioar essas habilida-
des, encarando o trabalho sobre estimativas como aspecto inerente e
contnuo da aprendizagem matemtica. A busca e a anlise de diferentes
estratgias de estimativa possibilitam a identificao e compreenso
de interessantes relaes matemticas e faz com que os alunos valori-
zem, aperfeioem e criem suas prprias estratgias. O trabalho siste-
mtico com estimativas favorece a flexibilidade e a criatividade dos
processos de pensamento.
A capacidade de
estimar quantidades
e resultados uma
dimenso
fundamental do
aprendizado
Sntese dos objetivos da rea de Matemtica
Que os educandos sejam capazes de:
Valorizar a Matemtica como instrumento para interpretar informaes so-
bre o mundo, reconhecendo sua importncia em nossa cultura.
110
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Apreciar o carter de jogo intelectual da Matemtica, reconhecendo-o como
estmulo resoluo de problemas.
Reconhecer sua prpria capacidade de raciocnio matemtico, desenvolver
o interesse e o respeito pelos conhecimentos desenvolvidos pelos compa-
nheiros.
Comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando di-
ferentes linguagens e cdigos.
Intervir em situaes diversas relacionadas vida cotidiana, aplicando no-
es matemticas e procedimentos de resoluo de problemas individual e
coletivamente.
Vivenciar processos de resoluo de problemas que comportem a compreen-
so de enunciados, proposio e execuo de um plano de soluo, a verifi-
cao e comunicao da soluo.
Reconhecer a cooperao, a troca de idias e o confronto entre diferentes es-
tratgias de ao como meios que melhoram a capacidade de resolver pro-
blemas individual e coletivamente.
Utilizar habitualmente procedimentos de clculo mental e clculo escrito (tc-
nicas operatrias), selecionando as formas mais adequadas para realizar o
clculo em funo do contexto, dos nmeros e das operaes envolvidas.
Desenvolver a capacidade de realizar estimativas e clculos aproximados e
utiliz-la na verificao de resultados de operaes numricas.
Medir, interpretar e expressar o resultado utilizando a medida e a escala ade-
quada de acordo com a natureza e a ordem das grandezas envolvidas.
Aperfeioar a compreenso do espao, identificando, representando e clas-
sificando formas geomtricas, observando seus elementos, suas propriedades
e suas relaes.
Coletar, apresentar e analisar dados, construindo e interpretando tabelas e
grficos.
111
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Blocos de contedo
e objetivos didticos
Nmeros e operaes numricas
A construo do sentido numrico, ou seja, o reconhecimento dos
significados dos nmeros, a base para a aprendizagem de muitos
conceitos e procedimentos matemticos. O sentido numrico abarca:
a compreenso das funes do nmero (quantificar, desig-
nar colees com a mesma quantidade de elementos), orde-
nar (identificar a posio ocupada por um fato ou aconteci-
mento numa listagem sem que seja necessrio memoriz-la
integralmente) e construir cdigos;
a percepo das relaes existentes entre os nmeros;
o reconhecimento das ordens de grandeza relacionadas a
eles.
certo que jovens e adultos no escolarizados tm o sentido
numrico bastante desenvolvido, ainda que em graus diferentes, de-
pendendo da intensidade com que vivenciam situaes de quantifi-
cao e medida. Porm, o conhecimento informal que possuem acer-
ca dos nmeros no suficiente para que compreendam as caracte-
rsticas do sistema decimal de numerao, utilizem adequadamente
sua notao simblica e identifiquem suas relaes com o clculo
escrito.
O conhecimento dos
nmeros no
suficiente para que
se compreendamas
caractersticas do
sistema decimal
112
Matemtica
Ao Educativa / MEC
A construo do sentido numrico acontece gradativamente,
medida que os nmeros vo sendo percebidos como instrumentos para
resolver determinados problemas. Uma varivel importante nesse pro-
cesso a ordem de grandeza dos nmeros envolvidos. O tamanho
dos nmeros mantm estreitas relaes com os procedimentos em-
pregados para obter a soluo de um problema. Nessa perspectiva,
podemos distinguir o domnio dos nmeros pequenos, at 6 ou 7,
os quais so reconhecidos rapidamente, de forma global, sem que seja
necessrio recorrer contagem. Outro domnio o dos chamados n-
meros de uso social, relacionados a quantificaes prticas, como
idades, pessoas da famlia, horas do dia, dias da semana, do ms, pre-
os e quantidades de produtos comumente adquiridos, valores das c-
dulas e moedas, datas etc. Esses nmeros so compreendidos sem que
seja necessrio analis-los enquanto dezenas e unidades. A experin-
cia intensa com eles favorece a sua memorizao e as primeiras cons-
tataes de regularidades sobre a seqncia numrica oral e escrita. A
contagem e os procedimentos de estimativa e clculo mental prevale-
cem nesse domnio.
Os nmeros grandes, que envolvem grandezas da ordem de
milhares, milhes etc., podem impor dificuldades, mesmo para quem
conhece e opera bem com nmeros menores. neste domnio que a
anlise das regras da numerao decimal (agrupamentos na base 10,
valor posicional dos algarismos) importante para a compreenso
da escrita de qualquer nmero. Diferentemente dos domnios prece-
dentes, nos quais as designaes orais prevalecem, aqui so as desig-
naes escritas que devem ser compreendidas e utilizadas. tambm
neste domnio que o clculo escrito (tcnicas operatrias) tem senti-
do, por apoiar-se nas regras da numerao.
Sistema decimal de numerao
Na prtica escolar, comum explorar, desde as primeiras ativi-
dades com nmeros, os diferentes agrupamentos (unidade, dezena,
centena etc.), as respectivas escritas numricas e a nomenclatura cor-
Estimativas e
clculo mental
predominamno
domnio dos
nmeros menores
113
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
respondente, com o intuito de favorecer a aprendizagem. No entan-
to, constata-se que os alunos apresentam certas dificuldades em apren-
der esses contedos, certamente porque as regras que caracterizam o
sistema decimal de numerao so bastante complexas.
As atividades que introduzem o estudo dos nmeros devem par-
tir do universo numrico conhecido e da explorao das idias e in-
tuies dos alunos; inicialmente, por meio das designaes orais que
utilizam para expressar contagens, comparaes e ordenaes. No
decorrer desse processo, importante que eles sejam levados a ela-
borar hipteses, construir representaes (desenhos, esquemas), ana-
lisar escritas de nmeros de diferentes grandezas e tambm produzir
escritas pessoais, podendo argumentar sobre essas construes. Des-
sa forma, paulatinamente, iro estabelecendo relaes entre o que
pensam e as representaes escritas convencionais.
O passo seguinte integrar a habilidade de contagem com o sig-
nificado do valor posicional na escrita numrica. As atividades que
exploram o baco podem favorecer a compreenso da caractersti-
ca posicional dessa escrita, possibilitando aos alunos compreende-
rem e utilizarem os procedimentos de comparao, ordenao e
arredondamento com nmeros maiores. Cpias de moedas e cdu-
las de dinheiro, o material dourado e o quadro de valor de lugar
tambm podem ser recursos teis a essa aprendizagem.
3
Ao explorar a caracterstica posicional da numerao escrita
importante levar os alunos a perceberem as relaes com a multi-
plicao e a diviso por 10, 100, 1000. Por exemplo: ao escrever no
quadro de valor de lugar o nmero dez vezes maior que 102, os alu-
nos devem notar que cada uma das ordens ser deslocada uma po-
sio (casa) para a esquerda, fazendo com que, portanto, o n-
mero inicial fique multiplicado por 10.
3
No livro de Newton Duarte, O ensino de Matemtica na educao de adultos (So
Paulo, Cortez/ Autores Associados, 1986), apresentada uma seqncia de ensino de nmeros
e operaes desenvolvidas com auxlio do baco.
Atividades como
baco podem
favorecer a
compreenso do
valor posicional dos
algarismos
114
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Agrupamentos
Os agrupamentos (unidade, dezena, centena) que cons-
tituem o nmero 146 so representados de maneiras diferen-
tes no baco e no quadro de valor de lugar.
baco Quadro de valor de lugar
Material dourado
Fraes e nmeros decimais
Alm dos nmeros naturais, os decimais constituem uma parte
dos conhecimentos numricos que podem ser trabalhados nas sries
iniciais. Normalmente, entretanto, os alunos manifestam dificulda-
des em domin-los nesse perodo. Nesse nvel de ensino, pode-se in-
troduzir esses contedos principalmente explorando as idias intui-
tivas dos educandos, deixando-se o domnio das tcnicas operatrias
para nveis mais adiantados.
O uso crescente das representaes decimais, especialmente em
funo das calculadoras e dos instrumentos digitais, tornam cada vez
mais raras as representaes de nmeros na forma fracionria e isso
tem levado a se reconsiderar se este um contedo a ser mantido no
115
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Situaes envolvendo
medidas de valor
monetrio (dinheiro),
medidas de
comprimento ou
superfcie so
contextos
apropriados para
introduzir as noes
de fraes e nmeros
decimais
currculo. Por sua vez, a noo de frao bsica para a compreen-
so de outras noes matemticas importantes como, por exemplo,
a de proporcionalidade. Assim, o trabalho com fraes e decimais nas
sries iniciais s se justifica se possibilitar um real conhecimento de
seus significados, se tornar possvel a ampliao dos conhecimentos
sobre o sistema numrico e sua efetiva utilizao na resoluo de pro-
blemas que envolvam medida, probabilidade e estatstica, contribuin-
do dessa forma para que os alunos percebam a utilidade e a fora dos
nmeros. Por essa razo, os problemas envolvendo fraes poderiam
restringir-se, nas sries iniciais, a clculos mentais, introduzindo-se o
clculo escrito apenas para os decimais.
Situaes envolvendo medidas de valor monetrio (dinheiro),
medidas de comprimento ou superfcie so contextos apropriados para
introduzir as noes de fraes e nmeros decimais. O ponto de par-
tida pode ser o domnio que os jovens e adultos costumam ter sobre
as relaes entre as unidades do sistema monetrio (real e centavos)
e certa familiaridade com algumas unidades dos sistemas de medidas
de comprimento e massa. Assim, por exemplo, ao analisarem uma
situao de medida, eles podem constatar que, se a unidade metro no
couber um nmero exato de vezes no comprimento da parede, ser
preciso subdividi-la em unidades menores (centmetros) e que isso pode
ser representado por meio dos nmeros decimais.
Para a compreenso das fraes e dos decimais so fundamen-
tais os conceitos de unidade e de sua subdiviso em partes iguais. As
primeiras exploraes sobre esses conceitos partem das expresses
utilizadas cotidianamente (meia hora, dez por cento, um quarto para
as duas, um quarto [de quilo] de caf etc.) e das relaes j conheci-
das entre as fraes e os decimais. Por exemplo, se os alunos reco-
nhecem que 1/ 2 igual a 0,5 podero concluir que 0,4 ou 0,45 um
pouco menos que 1/ 2 ou que 0,6 ou 0,57 um pouco mais que 1/ 2.
Na construo desses conceitos, importante utilizar as repre-
sentaes grficas como formas intermedirias entre a linguagem oral
e simblica. As escritas convencionais s devem ser apresentadas
quando os alunos tiverem algum domnio sobre os conceitos, con-
116
Matemtica
Ao Educativa / MEC
seguindo estabelecer relaes entre a linguagem oral e as represen-
taes grficas.
Alm das noes de unidade e suas subdivises, importante tam-
bm construir as noes de ordem, seqncia, intervalo e equivaln-
cia. Para compreender a relao de ordem, os alunos precisaro transpor
um grande obstculo. Eles sabem que 2 menor que 5; entretanto, ao
ordenar fraes, eles tero que descobrir que 1/ 5 menor que 1/ 2 e,
de certa forma, ir contra a sua percepo imediata, centrada nos n-
meros naturais. Isso evidencia que os conhecimentos no so constru-
dos por acmulo, mas esto sujeitos a rupturas e reestruturaes.
necessrio perceber tambm que o nmero fracionrio se presta
representao de situaes distintas, que implicam noes diversas,
como as que so exemplificadas abaixo:
Frao como relao parte-todo. Essa situao se apresenta
quando um todo (contnuo ou discreto) se divide em par-
tes equivalentes (em termos de superfcie ou de quantidade
de elementos). A frao indica a relao que existe entre um
certo nmero dessas partes e o total. O todo recebe o nome
de inteiro.
Todo contnuo Todo discreto
3 3
5 5
Frao como quociente entre dois nmeros. Associa-se a
frao operao de dividir um nmero natural por outro
(a : b = a/ b). A diferena entre esta noo e a anterior fica
clara quando comparamos as duas situaes. Uma coisa
dividir um inteiro em 5 partes iguais e tomar 3 delas e ou-
tra, muito diferente, dividir 3 inteiros em 5 partes iguais.
Representaes
grficas podem
auxiliar na
compreenso do
conceito de frao
117
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Percebe-se que as noes implicadas em cada uma das situa-
es so diversas, ainda que possam ser representadas pelo
mesmo nmero: 3/ 5.
1
+
1
+
1
=
3
5 + 5 + 5 = 5
Frao como razo. A frao usada como ndice compa-
rativo entre duas quantidades de uma grandeza. Por exem-
plo: numa receita, se a quantidade de gua 1 xcara e a de
farinha 3 xcaras, existe uma relao de 1/ 3 entre os dois
ingredientes: a medida de um 1/ 3 da medida do outro. A
idia bsica no a de uma unidade dividida em partes equi-
valentes, como acontece nas interpretaes anteriores, pois
aqui no existe o todo e sim a idia de par ordenado. Esta
noo costuma aparecer associada a situaes que envolvem
proporcionalidade, porcentagem e probabilidade.
gua
Farinha
Os exemplos acima sugerem que a a frao no pode ser traba-
lhada apenas a partir da relao parte-todo. A sntese desses mlti-
plos significados que permitir, ao longo do tempo, construir a noo
sobre um outro tipo de nmero o nmero racional para o qual
existem duas representaes simblicas, a fracionria e a decimal.
118
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Operaes
Ao lado da construo do sentido numrico e da compreenso
das regras do sistema decimal de numerao, o estudo das operaes
fundamentais (adio, subtrao, multiplicao e diviso) parte
essencial da aprendizagem matemtica neste nvel de ensino e vai alm
de saber fazer clculos com lpis e papel. A compreenso do sentido
das operaes inclui os seguintes aspectos:
reconhecer, em situaes reais, a utilidade das operaes;
reconhecer as regularidades que caracterizam as operaes;
identificar as relaes que existem entre elas;
perceber o efeito que as operaes produzem sobre os nme-
ros. Por exemplo, no campo dos nmeros naturais, a adio
entre 5 e 15 produz um resultado menor do que a multipli-
cao de 5 por 15, e a adio entre dois nmeros maiores
que 50 produzir sempre um nmero maior que 100.
A construo dessas noes mantm uma estreita relao com a
construo do sentido numrico e, junto com este, forma a base para
o desenvolvimento das estimativas, do clculo mental e do clculo
escrito.
Os jovens e adultos j tm algum domnio sobre vrios aspec-
tos do sentido operacional, em funo da ampla experincia infor-
mal com operaes matemticas. Para aprofundar e sistematizar esse
conhecimento, o trabalho escolar deve propiciar atividades que os
ajudem a estabelecer as relaes entre as suas idias e estratgias pes-
soais e o conhecimento mais geral, complexo e formal. Esse traba-
lho passa pela explorao da linguagem oral, concomitante apre-
sentao dos smbolos associados a cada operao.
Analisando uma ampla variedade de problemas, os alunos tero
oportunidade de constatar que um problema pode ser resolvido por
diferentes operaes, assim como uma mesma operao pode estar
associada a problemas diferentes. Essas constataes podero ser
A compreenso das
operaes
fundamentais vai
almdo domnio das
tcnicas de clculo
escrito
119
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
evidenciadas pela linguagem oral, construes ou desenhos, antes de
chegar s escritas matemticas associadas a cada uma delas. Reco-
menda-se, portanto, que a construo do sentido das operaes seja
enfatizada tanto quanto o estudo do clculo.
ADIO E SUBTRAO
Com base em pesquisas realizadas na rea da didtica da Mate-
mtica vem-se delineando um novo quadro de referncias para o tra-
tamento das operaes no incio da escolarizao, que contradiz em
muitos aspectos a abordagem e a seqenciao dos contedos tradi-
cionalmente propostas nos currculos. Os resultados de muitas des-
sas pesquisas apontam que os problemas aditivos e subtrativos po-
dem ser trabalhados concomitantemente ao trabalho de construo
do significado dos nmeros naturais. Problemas aditivos e subtrativos
fazem parte da mesma famlia.
Por exemplo, a situao do tipo Joo possua .... reais, recebeu
.... reais, agora eletem...., leva a pensar em trs questes diferentes.
Conhecidos os dois primeiros termos, pode-se descobrir quanto Joo
tem ao final; conhecidos o primeiro e terceiro termos, pode-se desco-
brir quanto ele recebeu; e, conhecidos o segundo e o terceiro termos,
pode-se descobrir quanto ele tinha no incio. Dependendo da questo
proposta, a situao tanto pode ser aditiva quanto subtrativa. Obser-
vando-se as estratgias de soluo empregadas pelos alunos para re-
solv-la, nota-se que muitas vezes a resposta a quanto Joo recebeu
encontrada pela aplicao de uma adio. Isso evidencia que os pro-
blemas no se classificam em funo unicamente das operaes a eles
relacionadas a priori e sim em funo dos procedimentos de soluo
encontrados pelos alunos.
A dificuldade de um problema no est diretamente relacionada
operao requisitada para a sua soluo. Diferentemente do que
supe a seqenciao tradicional do ensino da Matemtica, adicio-
nar nem sempre mais fcil que subtrair. Carlos gastou 50 reais eainda
ficou com 80 reais. Quanto ele tinha? Essa situao, apesar de ser
Analisando uma
ampla variedade de
problemas os alunos
desenvolvemo
sentido operacional
120
Matemtica
Ao Educativa / MEC
resolvida pela aplicao de uma adio, pode ser mais complexa para o edu-
cando do que esta outra que requer uma subtrao: Pedro tinha 90 reais,
gastou 50, com quanto ficou?
No que diz respeito aos procedimentos de clculo, adio e sub-
trao tambm esto intimamente relacionadas. Para calcular men-
talmente 40 - 26, comum recorrer-se ao procedimento subtrativo
de decompor o nmero 26 (20 e 6), em seguida retirar 20 de 40 e
depois retirar 6, tanto quanto ao procedimento aditivo de pensar em
um nmero a se juntar a 26 para obter 40.
Os problemas aditivos e subtrativos no devem ficar restritos a
uma srie determinada da escolaridade. A construo de seus diferen-
tes significados leva tempo e ocorre pela descoberta de diferentes
procedimentos de soluo. Assim, o estudo da adio e da subtrao
deve ser desenvolvido ao longo de toda a escolaridade inicial, para-
lelamente ao estudo dos nmeros e ao desenvolvimento dos procedi-
mentos de clculo, em funo das dificuldades lgicas especficas de
cada tipo de problema e dos procedimentos de soluo disponveis
nos alunos.
Esse estudo deve levar em conta tambm a diversidade de noes
envolvidas nessas operaes. Abaixo so apresentados alguns exem-
plos de situaes relacionadas adio e subtrao:
Envolvendo a idia de transformao. Ao final do primeiro
tempo de um jogo, um dos times tinha feito 12 pontos. Esse
mesmo time terminou o jogo com 20 pontos. O que acon-
teceu no segundo tempo do jogo?, ou No incio de uma via-
gem, o motorista verificou que o contador de quilometra-
gem de seu carro estava marcando 33.567 km. Depois de
um percurso de 500 km, o que deve aparecer registrado no
contador?
Envolvendo juno simultnea. Numa sala h 32 adultos e
25 crianas. Quantas pessoas h na sala?, ou Em uma clas-
se h 40 alunos matriculados. Se 21 so mulheres, quantos
so os homens dessa classe?
O estudo da adio e
da subtrao deve
ser desenvolvido ao
longo de toda a
escolaridade inicial,
paralelamente
ao estudo dos
nmeros e ao
desenvolvimento
dos procedimentos
de clculo
121
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Envolvendo comparao. Maria tem32 anos eela 5 anos mais nova
queseu maridoJoo. Qual a idadedeJoo?, ou Zlia tem25 anos eJos37.
Quantos anos Josmais velho queZlia?
Envolvendo mais de uma transformao. Numa das partidas deum
torneioesportivoumdos times fez 8 pontos elogoemseguida fez 5 pontos. O
queaconteceu como total depontos dessetime?, ou Nessemesmo torneio ou-
trotimefez 7 pontos mas perdeu 4. O queaconteceu como total depontos?
MULTIPLICAO E DIVISO
Assim como no caso da adio e da subtrao, diferentes abordagens tm
influenciado o tratamento da multiplicao e da diviso. No caso da multipli-
cao, a abordagem comumente utilizada consiste em apresent-la como adi-
o de parcelas iguais, a partir de problemas como: Tenhoquetomar 4 comprimi-
dos ao dia durante5 dias. Quantos comprimidos preciso comprar? Essa situao
traduzida pela escrita 5 x 4, na qual o 4 interpretado como o nmero que se
repete e o 5 como o nmero de repeties. Ela tambm pode ser associada
escrita 4 + 4 + 4 + 4 + 4.
Embora possa ser a mais comum, essa no a nica idia associada mul-
tiplicao, para a qual existem outros significados:
Envolvendo a comparao entre razes. Vou comprar trs pacotes de
acar. Cada pacotecusta 4 reais. Quantovou pagar nototal?
Envolvendo combinao (produto cartesiano). Numa sorveteria, h
sorvetes de6 sabores diferentes quepodemser servidos comcobertura esem
cobertura. Dequantos modos diferentes pode-sepedir umsorvete, semmistu-
rar sabores diferentes no mesmo sorvete?, ou tambm Comdois pares det-
nis, umbrancoeoutropreto, etrs pares demeia, umvermelho, outromarrom
eoutro azul, dequantas maneiras diferentes posso mecalar?
Combinao e
comparao, almda
soma de parcelas
iguais, so idias
associadas
multiplicao
122
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Envolvendo uma configurao retangular. Quantas casas h numqua-
driculadode8 cmpor 5 cm?, ou tambm Qual a rea deumretngulocujos
lados medem6 cme9 cm?
Envolvendo comparao. Maria recebe200 reais desalrio. Carlos ganha
trs vezes mais queMaria. Qual o salrio deCarlos?
Nestas situaes, o resultado no se traduz pelo nmero de vezes que se
repete um mesmo valor. A distino entre a adio reiterada e os outros sig-
nificados mais complexos e abrangentes de multiplicao (como o produto
cartesiano) construda progressivamente pelos alunos, medida que vo
identificando situaes-problema diferenciadas, as quais podem ser resolvidas
pela multiplicao.
O tratamento da multiplicao como razo permite reconhecer dois sig-
nificados diferentes para a diviso. Um deles consiste em procurar o valor de
uma parte, como neste exemplo: Com15 reais possocomprar cincopacotes iguais de
arroz. Quanto custa cada pacote? Nesse caso, a idia de distribuio em partes
iguais, que distinta da situao que consiste em procurar o nmero de par-
tes iguais. Por exemplo: Secada pacotedearroz custa 5 reais, quantos pacotes posso
comprar com15 reais? Essas duas situaes possibilitam interpretaes diferen-
tes e podem ser resolvidas por procedimentos diversos, antes que os alunos
tenham condies de sintetiz-las e represent-las atravs de uma nica escri-
ta: 15 : 5 = 3. Por exemplo, o segundo problema pode ser resolvido da seguin-
te forma:
15 - 5 = 10
10 - 5 = 5
5 - 5 = 0
Resultado: 3 pacotes
Problemas
envolvendo
distribuio em
partes iguais podem
ser resolvidos pela
diviso ou por
subtraes
sucessivas
123
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Embora seja um procedimento adequado para resolver este problema,
no generalizvel para resolver outros problemas de diviso, como o caso
do primeiro exemplo citado. Naquela situao, o dividendo e o divisor so de
naturezas diferentes, fato que pode ser percebido pelos alunos, constatando
que no se pode subtrair arroz de dinheiro.
Alm desses significados, a diviso tambm pode estar associada idia
de combinao. Por exemplo: Emumbailepossvel formar 6 casais diferentes para
participar deuma dana. Seh 2 rapazes no baile, quantas so as moas? Essa situa-
o dificilmente ser solucionada por um procedimento de distribuir, adicio-
nar ou subtrair. Neste caso, possvel obter a resposta a partir de uma orga-
nizao como esta:
Ana
Carlos Mrcia Andr
Maria
Embora no se proponha uma hierarquia rgida de contedos, situaes
como essa podem ser trabalhadas de maneira sistemtica em uma fase poste-
rior da escolarizao, quando a idia de combinao estiver bastante consoli-
dada. Antes disso, comum que os alunos encontrem a soluo deste proble-
ma mediante tentativas apoiadas em procedimentos multiplicativos.
2 rapazes e 1 moa podem formar 2 casais: 2 x 1 = 2
2 rapazes e 2 moas podem formar 4 casais: 2 x 2 = 4
2 rapazes e 3 moas podem formar 6 casais: 2 x 3 = 6
Ao resolver problemas de multiplicao ou diviso estamos lidando com
relaes proporcionais. A noo de proporcionalidade tem sido considerada
como algo bastante complexo, de difcil compreenso e como conseqncia
um contedo que aparece nas sries finais do ensino fundamental. Por sua vez,
124
Matemtica
Ao Educativa / MEC
estudos recentes na rea da Educao Matemtica evidenciam que adultos no
escolarizados demonstram possuir alguma compreenso sobre esse conte-
do, ao resolverem problemas de proporcionalidade que aparecem no dia-a-dia.
De fato, como outros conceitos matemticos, a compreenso da idia de
proporcionalidade tem como ponto de partida a reflexo sobre situaes pr-
ticas. Atividades freqentes na experincia diria, como compra e venda, pre-
paro de receitas ou de frmulas de medicamentos e produtos qumicos, so
situaes em que quantidades fsicas esto em proporo direta com outras
quantidades. Em funo da fora desses contextos, os adultos constroem es-
tratgias particulares para resolver esses problemas. Por exemplo, para resol-
ver a situao Setrs pacotes dearroz custam12 reais, qual opreodenovepacotes?,
comum pensar nas seguintes formas:
nove pacotes so trs vezes trs pacotes; ento preciso pagar trs
vezes mais;
trs pacotes so 12 reais, seis pacotes so 24 reais, nove pacotes so
36 reais; ou
se trs pacotes custam 12 reais, um pacote custa 4 reais; logo, nove
pacotes custam nove vezes 4 reais.
O tratamento muitas vezes inadequado dado pela escola a esse conte-
do consiste em desconsiderar essas estratgias e associar o estudo da
proporcionalidade diretamente compreenso da regra de trs, que uma
representao formal bastante distante das estratgias informais.
Alm de presente nos contextos prticos como as transaes comerciais,
a construo civil, o desenho grfico e outros ramos de atividade cientfica e
tecnolgica, o conceito de proporcionalidade est tambm relacionado a con-
ceitos matemticos como os de frao, probabilidade e porcentagem, entre outros.
Assim, no h por que retardar essa aprendizagem; pelo contrrio, importante
explorar as estratgias informais, que so utilizadas na soluo de situaes-
problema e, a partir delas, construir uma boa base para a compreenso de pro-
cedimentos mais complexos.
A noo de
proporcionalidade
tambmpode ser
desenvolvida, a
partir de suas
aplicaes prticas
125
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Levando-se em conta todas essas consideraes, pode-se concluir que os
problemas cumprem um importante papel no sentido de propiciar as opor-
tunidades para os jovens e adultos interagirem com os diferentes significados
das operaes. Eles devero perceber que h distintas formas de resolver um
mesmo problema e que algumas so mais simples do que outras. A diversida-
de nas solues, por sua vez, mobiliza noes e procedimentos que permitem
ampliar e desenvolver um tratamento mais flexvel das operaes, aproximan-
do-os do conhecimento conceitual de cada uma delas.
Os problemas que aparecem nos exemplos citados apresentam situaes
que no devem ser tomadas como modelos para trabalhar o significado das
operaes. Essas situaes no so necessariamente bons problemas, princi-
palmente pelo baixo grau de desafio que apresentam. Sua funo neste texto
evidenciar os aspectos fundamentais e as diferenas entre os significados das
operaes. No trabalho escolar elas devem estar incorporadas a outras situa-
es, mais ricas e contextualizadas, que possibilitem interpretao, anlise, des-
coberta e verificao de estratgias.
Estimativas e clculos
O estudo do clculo considerado, tanto pelos professores quanto pe-
los alunos, como o aspecto matemtico de maior relevncia no ensino funda-
mental. Essa valorizao justificada principalmente pela utilidade dos cl-
culos na resoluo de inmeros problemas da vida prtica e em contextos de
trabalho. Mas a importncia que o clculo assume no currculo do ensino
fundamental tambm se justifica pelo fato de que ele possibilita a explorao
de vrias relaes numricas e a compreenso do significado das operaes.
Em se tratando de clculo, a prtica mais comum de sala de aula ainda
a que privilegia a aprendizagem das tcnicas operatrias por meio da exausti-
va repetio de modelos. Ainda que a aprendizagem do clculo escrito seja
Os educandos
devemperceber que
h distintas formas
de resolver um
mesmo problema e
que algumas so
mais simples do que
outras
126
Matemtica
Ao Educativa / MEC
um dos objetivos das sries iniciais, importante reconhecer que resolvemos
a maioria das situaes da vida diria com clculos mentais ou ainda com cl-
culos aproximados, que so suficientes para controlarmos muitas situaes,
enquanto os clculos mais complexos so realizados com auxlio de instru-
mentos como as calculadoras e as balanas digitais.
Para atender s necessidades dos jovens e adultos, o estudo do clculo
no deve se restringir apenas aprendizagem das tcnicas operatrias, mas sim
orientar-se no sentido de possibilitar a anlise de diferentes formas de calcu-
lar, favorecer o desenvolvimento de estratgias de pensamento e o reconheci-
mento da importncia de se comprovarem os resultados. Nessa perspectiva, a
aprendizagem do clculo mental exato ou aproximado e do clculo escrito se
revestem de igual importncia.
O clculo aproximado ajuda no controle do clculo escrito ou com cal-
culadora porque possibilita a previso da ordem de grandeza do resultado. A
capacidade de estimar o resultado de uma operao antes de realiz-la permi-
te detectar eventuais erros nos procedimentos utilizados. Lapsos de ateno
que resultam em erro no clculo escrito acontecem freqentemente, mesmo
com pessoas com bastante traquejo. Mesmo quando se utiliza a calculadora,
as teclas podem ser acionadas de forma indevida ou o instrumento pode ter
algum defeito. A habilidade de realizar clculos aproximados permite que se
tenha algum controle sobre essas situaes; por essa razo, que to impor-
tante desenvolver estratgias de clculo mental aproximado, as quais podem
dar maior segurana aos educandos.
Os alunos devem desenvolver estratgias de estimativa que lhes permi-
tam avaliar se resultados relacionados a situaes de contagem, medida e ope-
raes so razoveis ou no, e que aproximaes so pertinentes a cada situa-
o. Identificando intervalos que tornam ou no uma estimativa aceitvel, eles
aprendem a justificar e comprovar suas opinies e com isto vo refinando suas
habilidades de clculo. No trabalho escolar com as calculadoras, a estimativa
tambm de grande importncia, incentivando os alunos a estimarem se um
O clculo
aproximado ajuda
no controle do
clculo escrito ou
comcalculadora
porque possibilita a
previso da ordem
de grandeza do
resultado
127
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
resultado obtido razovel, a utilizarem a mquina de um modo no mecni-
co e a controlar seus eventuais erros. A prtica de todos esses procedimentos
mostra para os alunos uma outra dimenso da Matemtica, evidenciando que
ela comporta outras dimenses alm da exatido.
Estimativa
Na vida cotidiana, as pessoas desenvolvem estratgias para es-
timar o resultado aproximado de uma operao, principalmente
como forma de controle e previso de resultados. Alguns exemplos
de estratgias:
237 + 486
200 e400 so600;
30 e80 d mais que100;
logo, oresultadomaior que700.
237 + 486
237 menos que250;
486 menos que500;
logo, oresultadomenor que750.
278 : 13
278 prximo de280;
13 prximo de14;
28 : 14 2;
280 : 14 20;
logo, oresultadoest prximode20.
CLCULO MENTAL
No exerccio do clculo mental, importante constatar que existem di-
ferentes maneiras de calcular e que se escolhe, a cada vez, aquela que melhor
se adapta situao (nmeros e operaes envolvidas). As situaes de clcu-
Os alunos devem
desenvolver
estratgias de
estimativa que lhes
permitamavaliar se
resultados de
contagem, medida e
operaes so
razoveis
128
Matemtica
Ao Educativa / MEC
lo mental podem ser caracterizadas como problemas abertos, nas quais o alu-
no investe seus conhecimentos sobre nmeros e operaes. Freqentemente,
nesse tipo de atividade so utilizados procedimentos como o arredondamento,
a decomposio, a compensao e a associao.
Qualquer lista de exemplos, como os que so apresentados neste texto,
no esgotaria todas as possibilidades que podem ser exploradas. Muitas ou-
tras podem ser investigadas a partir das estratgias pessoais utilizadas pelos
alunos.
Estratgias declculomental
As estratgias de clculo mental variam de indivduo para in-
divduo. Dependem do tipo de contexto em que o clculo reque-
rido, do tipo de problema, da ordem de grandeza e das caractersti-
cas dos nmeros envolvidos (redondos ou quebrados, por exem-
plo). Os exemplos abaixo pem em relevo os mecanismos que fun-
damentam algumas estratgias bastante comuns.
25 + 32
20 + 5 + 30 + 2
50 7
57
99 + 36
o mesmo que: 100 + 35 = 135
Ou: 100 + 36 - 1 = 135
99 - 76
o mesmo que: 100 - 76 - 1
Ou: 100 - 77 = 23
As estratgias de
clculo mental
variamde indivduo
para indivduo,
dependemdo tipo de
problema e dos
nmeros envolvidos
129
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
79 - 30
-10 -10 -10
79 69 59 49
12 x 7
o mesmo que: 2 (6 x 7) = 2 x 42 = 84
15 x 7
o mesmo que: (10 + 5) 7 = 10 x 7 + 5 x 7
19 x 7
omesmoque: (20 - 1) 7 =
(20 x 7) - (1 x 7)
140 - 7
133
72 : 6
o mesmo que:
60 : 6 + 12 : 6
10 + 2
12
Ou, tambm:
36 : 6 = 6 e2 x 6 = 12
TCNICAS OPERATRIAS
Os procedimentos de clculo escrito usualmente ensinados na escola so
snteses, resultantes de longos processos pelos quais passaram diferentes pro-
cedimentos de clculo, utilizados ao longo da histria dos nmeros. Levou
130
Matemtica
Ao Educativa / MEC
muito tempo para que se chegasse a calcular como o fazemos hoje e, certa-
mente, a aprendizagem desses procedimentos no algo to simples quanto
pode parecer primeira vista.
fato constatado por quem trabalha com jovens e adultos que, embora
eles desenvolvam estratgias de clculo mental bastante diversificadas, podem
manifestar algumas dificuldades para aprender os procedimentos convencio-
nais, cometendo alguns erros sistematicamente. interessante observar esses
erros, pois muitas vezes eles evidenciam modelos implcitos de conhecimen-
to, que nos informam o modo como o aluno pensa. Em vez de insistir na re-
petio dos modelos corretos, podemos intervir solicitando explicaes so-
bre os procedimentos usados pelos educandos e criar assim condies para
que eles possam refletir sobre os mesmos.
Dentre os erros mais freqentes destaca-se o no estabelecimento da cor-
respondncia entre as unidades das diversas ordens no registro da tcnica
operatria. provvel que esse tipo de erro ocorra devido no compreen-
so das regras do sistema de numerao. A escrita decomposta dos nmeros
um dos recursos que pode auxiliar na compreenso da escrita posicional.
Registroconvencional comerro Escrita decomposta
5 2 50 + 2
1 2 6 100 + 20 + 6
6 4 6 100 + 70 + 8
Muitas vezes percebe-se que o educando opera com os dgitos e no com
os nmeros, apresentando dificuldade em compreender a estratgia do trans-
porte na adio e multiplicao ou do recurso na subtrao. Isso tambm
pode levar a subtrair o dgito menor do maior, em cada uma das ordens,
desconsiderando a relao entre o primeiro e o segundo termo da subtrao.
Nesses casos, a leitura dos nmeros pode favorecer a reflexo, evidenciar o equ-
voco e auxiliar a busca de outra soluo, assim como a verificao do resulta-
Dentre os erros
mais freqentes
destaca-se o no
estabelecimento da
correspondncia
entre as unidades
das diversas ordens
no registro da
tcnica operatria
131
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
do (inadequado) por meio do clculo mental ou da calculadora. Pode-se tam-
bm recorrer a materiais auxiliares (material dourado, baco, quadro do valor
de lugar etc.) para ilustrar as etapas da tcnica.
Produtos ou divises parciais incorretas, devido falta de domnio dos
fatos fundamentais, outro tipo de erro freqente no clculo de multiplicaes
e divises. O clculo mental aproximado e as estimativas, na medida em que
permitem a verificao dos resultados, podem evidenciar os erros para os
educandos. Em todos os casos, importante que os educandos superem o uso
puramente mecanizado das tcnicas operatrias, apoiando-se na anlise do
processo e na avaliao da adequao dos resultado.
A aprendizagem das tcnicas convencionais oferece oportunidade para
o desenvolvimento das noes de decomposio dos nmeros, do valor
posicional e dos significados das operaes. Essa compreenso pode ser
favorecida na medida em que os alunos conseguirem estabelecer relaes en-
tre as tcnicas e o clculo mental. S quando eles j estiverem familiarizados
132
Matemtica
Ao Educativa / MEC
com essas relaes possvel pensar em atividades para desenvolver mais des-
treza no clculo escrito, sem deixar para segundo plano outros temas e pers-
pectivas matemticas.
No trabalho com o clculo cabe lembrar tambm que o uso da calcula-
dora um recurso valioso no s para comprovar resultados mas tambm para
desenvolver o clculo mental e os procedimentos de estimativa. Com uma
calculadora pode-se propor atividades que propiciem explorar o significado
das operaes, algumas propriedades e regularidades e o estabelecimento de
interessantes relaes numricas, como por exemplo: Supondoquenoseja pos-
svel acionar a tecla da multiplicao, comopodemos usar a calculadora para obter oresul-
tadode4 x 26? Ou: Usandoapenas as teclas 0, 1 e3, indicar oresultadomais prximo
possvel para 231 + 763.
O uso da
calculadora um
recurso valioso no
s para comprovar
resultados mas
tambmpara
desenvolver o
clculo mental e os
procedimentos de
estimativa
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Nmeros e operaes numricas
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Nmeros Reconhecer nmeros no contexto dirio.
naturais Utilizar estratgias para quantificar: contagem, estimativa, empa-
e sistema relhamento, comparao entre agrupamentos etc.
decimal de Identificar situaes em que apropriado fazer estimativas.
numerao Estimar quantidades e construir estratgias para verificar a estimativa.
Formular hipteses sobre grandezas, a partir da observao de regularida-
des na escrita numrica.
Reconhecer, ler, escrever, comparar e ordenar nmeros naturais pela ob-
servao das escritas numricas.
133
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Identificar regularidades na srie numrica para nomear, ler e escrever n-
meros.
Observar critrios que definem uma classificao de nmeros (maior que,
menor que, terminados em, estar entre...) e regras utilizadas em seriaes
(mais um, mais dois, dobro de, metade de, triplo de, tera parte de...).
Contar em escala descendente e ascendente: de um em um, de dois em dois,
de cinco em cinco, de dez em dez, de cem em cem etc., a partir de qualquer
nmero dado.
Utilizar a calculadora em situaes que problematizem as escritas numri-
cas.
Interpretar cdigos numricos freqentes no cotidiano (nmeros de apar-
tamentos em edifcios, nmeros de telefone, cdigo postal, nmeros de li-
nhas de nibus etc.).
Usar nmeros como sistemas de registro e organizao de informaes.
Construir agrupamentos para facilitar a contagem e a comparao de grandes
quantidades.
Agrupar e reagrupar quantidades e realizar trocas, empregando uma regra
de equivalncia, inicialmente at a 4 ordem e nas ordens subseqentes pro-
gressivamente.
Empregar os termos dezena, unidade, centena e milhar para identificar os
respectivos agrupamentos.
Ler e escrever nmeros naturais com dois, trs, quatro ou mais dgitos, dis-
tinguindo o valor relativo dos algarismos, de acordo com a sua posio na
escrita numrica.
Identificar o antecessor e o sucessor de um nmero natural escrito, com trs,
quatro ou cinco dgitos.
Identificar diferentes formas de compor e decompor um nmero natural
com trs, quatro ou cinco dgitos.
Estabelecer relao entre mudana do valor posicional e a multiplicao ou
diviso por 10, 100, 1.000...
134
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Nmeros Reconhecer nmeros racionais na forma decimal no contexto dirio.
racionais: Ler e interpretar nmeros racionais na forma decimal.
representao Identificar regularidades na srie numrica para nomear, ler e escre-
decimal ver nmeros racionais na forma decimal.
Compreender que a representao dos nmeros racionais na forma deci-
mal segue regras anlogas s dos nmeros naturais: agrupamentos de dez e
valor posicional.
Interpretar o valor posicional dos algarismos na representao decimal, at
a ordem dos milsimos.
Ler, escrever, comparar e ordenar nmeros racionais na forma decimal, at
a ordem dos milsimos.
Nmeros Reconhecer e construir fraes equivalentes, a partir de experimen-
racionais: taes (recipientes graduados, balanas, fita mtrica etc.) e pela com-
representao parao de regularidades nas escritas numricas.
fracionria Comparar e ordenar fraes, a partir de experimentaes, utilizando as ex-
presses maior que, menor que, igual a.
Ler e escrever fraes.
Observar que os nmeros naturais podem ser escritos em forma fracionria.
Relacionar fraes com denominador 10, 100, 1.000 com a representao
decimal (respectivamente 0,1, 0,01, 0,001).
Reconhecer que as fraes com denominador 100 podem ser representa-
das como porcentagem (smbolo: %).
Resolver problemas envolvendo porcentagem empregando procedimentos
como:
transformao em nmero decimal (exemplo: 25% de 300 o mesmo
que 0,25 x 300);
transformao em frao equivalente (exemplo: 25% de 300 = 25/ 100
x 300 o mesmo que 1/ 4 x 300);
decomposio (exemplo: 25% de 300 o mesmo que 2 vezes 10% de
300, que igual a 60; mais 5% de 300, que igual a 15. Total: 75).
135
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Adio e Analisar, interpretar, formular e resolver situaes-problema com-
subtrao preendendo diferentes significados da adio e da subtrao.
com nmeros Reconhecer que diferentes situaes-problema podem ser resolvidas
naturais por uma nica operao e que diferentes operaes podem resolver uma
mesma situao-problema.
Estabelecer relaes entre a adio e a subtrao.
Construir, organizar e representar os fatos fundamentais da adio e da
subtrao, ampliando o repertrio bsico para o desenvolvimento do cl-
culo mental.
Identificar, a partir do clculo mental, as seguintes propriedades da adio:
a troca de lugar das parcelas no altera a soma (9 + 3 = 3 + 9 = 12);
o zero como parcela (3 + 0 = 3 e 0 + 3 = 3).
Efetuar clculos de adio e subtrao:
por meio de estratgias pessoais e construindo suas representaes gr-
ficas;
por meio de tcnica operatria escrita, utilizando transporte e re-
curso ordem imediatamente superior.
Analisar e comparar diferentes estratgias de clculo.
Utilizar o clculo mental exato ou aproximado como previso e avaliao
da adequao dos resultados.
Usar diferentes procedimentos de clculo, em funo da situao-proble-
ma, das operaes e dos nmeros envolvidos.
Familiarizar-se com a terminologia da adio e da subtrao (parcelas, soma,
sinal mais, primeiro termo, segundo termo, diferena, resto, sinal menos).
Adio e Efetuar clculos de adio e subtrao de nmeros racionais na
subtrao forma decimal:
com nmeros por meio de estratgias pessoais e construindo suas representa-
racionais na es grficas;
forma decimal por meio de tcnica operatria escrita, utilizando transporte e re-
curso ordem imediatamente superior.
136
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Multiplicao Analisar, interpretar, formular e resolver situaes-problema com-
e diviso preendendo diferentes significados da multiplicao e da divi-
com nmeros so.
naturais Reconhecer que diferentes situaes-problema podem ser resolvi-
das por uma nica operao e que diferentes operaes podem resolver uma
mesma situao-problema.
Estabelecer relaes entre a multiplicao e a diviso.
Construir, organizar e representar os fatos fundamentais da multiplicao
e da diviso, ampliando o repertrio bsico para o desenvolvimento do
clculo mental.
Identificar, a partir do clculo mental, as seguintes propriedades da multi-
plicao:
a troca de lugar dos fatores no altera o produto (9 x 3 = 3 x 9 = 27);
o zero como fator (0 x 3 = 0);
o um como fator (1 x 9 = 9).
as diferentes possibilidades de se obter um produto de trs ou mais fa-
tores
3 x 5 x 4 3 x 5 x 4 3 x 5 x 4
15 12 20
60 60 60
a multiplicao de um nmero por uma adio ou subtrao
3 x (4 + 5) 3 x (7 - 4)
12 + 15 = 27 21 - 12 = 9
Identificar, a partir do clculo mental, a regularidade presente na diviso:
ao dividir ou multiplicar o dividendo e o divisor por um mesmo nmero,
o quociente no se altera.
Efetuar clculos de multiplicao e diviso:
inicialmente, por meio de estratgias pessoais, construindo sua repre-
sentao grfica;
posteriormente, por meio da tcnica operatria.
137
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Analisar e comparar diferentes estratgias de clculo.
Efetuar clculos envolvendo as noes de dobro, metade, tera parte e tri-
plo.
Utilizar o clculo mental exato ou aproximado como previso e avaliao
da adequao dos resultados.
Utilizar diferentes procedimentos de clculo, em funo da situao-pro-
blema, das operaes e dos nmeros envolvidos.
Familiarizar-se com a terminologia da multiplicao e da diviso (fatores,
produto, sinal vezes, sinal dividir, dividendo, quociente, divisor).
Indicaes para a seqenciao do ensino
As primeiras atividades com nmeros devem partir da sua ob-
servao nas diferentes situaes do cotidiano. Por meio dessas ati-
vidades, possvel perceber quais hipteses os alunos j tm sobre
os significados dos nmeros e sobre a escrita numrica para, a par-
tir delas, orientar o ensino. Paralelamente, pode-se explorar diferentes
procedimentos para identificar e comparar quantidades em funo
da grandeza numrica envolvida (contagem, visualizao, estimati-
va, aproximao, arredondamento, correspondncia termo a termo
ou por agrupamentos).
Inicialmente, as observaes dos alunos podero ser co-
municadas verbalmente, depois por meio de representaes grficas
e enfim relacionadas s escritas convencionais. Ao final do primei-
ro ano de escolaridade, espera-se que os alunos saibam ler e escre-
ver nmeros naturais, orden-los e localiz-los em intervalos de uma
seqncia numrica. Num primeiro momento, as escritas numricas
138
Matemtica
Ao Educativa / MEC
no precisam ser analisadas em termos de unidades, dezenas e cen-
tenas. As caractersticas do sistema decimal de numerao (base dez
e valor posicional) iro sendo observadas a partir da anlise das re-
presentaes numricas, visualizadas e construdas pelos alunos a
partir de suas experincias com clculos. A consolidao das regras
do sistema de numerao e a anlise dos nmeros em termos de uni-
dade, dezena, centena, milhar etc. podem ser deixadas para um
momento posterior.
A ordem das grandezas numricas a serem trabalhadas no n-
vel inicial no deve ser estabelecida pelo professor a priori, mas em
funo das experincias numricas do grupo, que no caso de jovens
e adultos podem ser muito variadas. Nos nveis subseqentes, im-
portante sistematizar as escritas numricas convencionais pela an-
lise das regras da numerao decimal, para que os alunos possam
escrever e ler qualquer nmero. O domnio amplo dos nmeros de-
cimais e das fraes, assim como dos clculos com esses nmeros,
pode ser deixado para o segundo segmento do ensino fundamen-
tal.
Com relao s operaes, sugere-se que desde o incio os alu-
nos entrem em contato com uma ampla variedade de problemas que
os ajudem a compreender os diferentes significados de cada opera-
o. fundamental que esses significados sejam trabalhados a par-
tir de situaes-problema, o que no quer dizer que os educandos
tenham que dominar logo de incio todas as tcnicas operatrias. Nos
nveis posteriores, os significados das operaes sero consolidados
e aqueles que eventualmente no tenham sido trabalhados anteri-
ormente, em funo de sua complexidade, devero ser explorados
por meio da proposio de problemas e da anlise das diferentes es-
tratgias de soluo.
No que diz respeito aos clculos, importante que no nvel ini-
cial os alunos organizem os fatos fundamentais da adio e subtra-
o, o que lhes garantir maior segurana no clculo mental, exato
Sugere-se que desde
o incio os alunos
entrememcontato
comuma ampla
variedade de
problemas que os
ajudema
compreender os
diferentes
significados de
cada operao
139
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
ou aproximado. De incio, no primordial que eles cheguem ao co-
nhecimento das tcnicas operatrias convencionais, pois bastante
provvel que nesse momento ainda no tenham desenvolvido uma
ampla compreenso das regras da numerao escrita. Ainda nesse nvel,
o trabalho com a calculadora pode ser introduzido como recurso para
evidenciar propriedades e regularidades das operaes numricas. Na
seqncia, possvel ajudar os alunos a construir um repertrio b-
sico de multiplicaes e divises para dar suporte ao clculo mental.
No nvel intermedirio, importante iniciar a explorao das tcni-
cas operatrias convencionais, estabelecendo relaes com os proce-
dimentos de clculo mental. Pode-se deixar para uma ltima etapa a
aprendizagem das tcnicas de multiplicao e diviso envolvendo n-
meros com dois ou mais dgitos. No ltimo nvel, a estimativa deve-
r ser utilizada como recurso de predio e avaliao de resultados
do clculo, seja escrito seja com calculadora.
Medidas
Na vida diria, comum termos que resolver problemas corriqueiros que
exigem lidar com diferentes grandezas e realizar vrios tipos de medidas. Quanto
tempofalta para ....?; Quantoprecisopara comprar ....?; Quantotecidonecessriopara
....?. Para responder a grande parte dessas questes basta fazer uma estimativa,
ou seja, emitir um juzo que permita avaliar se um resultado razovel. Porm,
existem situaes para as quais necessrio produzir resultados precisos e exatos
e isso impe a necessidade de trabalhar com unidades padronizadas e utilizar
instrumentos como trenas, fitas mtricas, balanas e relgios.
A utilizao de estratgias pessoais baseadas em estimativas no s aju-
da a distinguir os vrios atributos mensurveis de um objeto, como permite
adquirir conscincia sobre o tamanho das diferentes unidades de medida e
compreender o prprio procedimento de medida. Medir implica comparar
Pode-se deixar para
uma ltima etapa a
aprendizagemdas
tcnicas de
multiplicao e
diviso envolvendo
nmeros comdois ou
mais dgitos
140
Matemtica
Ao Educativa / MEC
duas grandezas de mesma natureza e verificar quantas vezes a grandeza to-
mada como unidade de medida cabe na outra. A escolha da unidade depen-
de da grandeza que se pretende medir e da preciso desejada. Por exemplo,
podemos estimar o tempo que levar a construo de uma casa em meses, o
tempo de preparo de uma receita culinria em minutos, enquanto o recorde
de corridas de 100 metros em competies esportivas expresso em segundos.
O conhecimento e o uso de uma determinada medida supe que o alu-
no seja capaz de:
perceber a grandeza como uma propriedade de determinados ob-
jetos;
conservar a grandeza, ou seja, perceber que mesmo que o objeto
mude de posio e de forma h algo que permanece constante;
ordenar uma coleo de objetos tendo como critrio apenas a gran-
deza que est sendo considerada;
estabelecer relao entre a medida de uma dada grandeza e o nme-
ro que a representa, ou seja, perceber que quanto maior o tama-
nho da unidade menor o nmero de vezes que ela utilizada para
efetuar a medida; por exemplo, se duas pessoas medirem com pas-
sos a frente de um mesmo terreno e obtiverem os nmeros 50 e 45,
isso indica que os passos dados pela segunda pessoa foram maiores
que os da primeira.
Propondo atividades que explorem as medidas atravs de unidades no
convencionais, como passos ou palmos, podemos evidenciar para os alunos
que, para efeito de comunicao, importante utilizar unidades padroniza-
das e os sistemas de medidas convencionais. As experincias de medio de
um mesmo objeto com unidades padronizadas diferentes, como por exemplo,
metro e centmetro, podem ajud-los a compreender as relaes entre as di-
versas unidades, as regras de converso de uma unidade para outra e as rela-
Regras de converso
podemser
aprendidas a partir
da medio de um
mesmo objeto com
diferentes unidades
de medida
A utilizao de
estratgias pessoais
baseadas em
estimativas no s
ajuda a distinguir os
vrios atributos
mensurveis de um
objeto, como permite
adquirir conscincia
sobre o tamanho das
diferentes unidades
de medida
141
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
es destas com as regras do sistema decimal de numerao. Dispondo desses
conhecimentos, eles podero solucionar diversos problemas envolvendo cl-
culos e diferentes representaes de medidas, inclusive as que incluem diagra-
mas construdos em escala.
As medidas de grandeza mais utilizadas na vida cotidiana e, portanto, mais
familiares aos jovens e adultos, so as medidas de valor (sistema monetrio) e
as medidas de tempo. Podemos trabalhar sobre elas para inici-los na apren-
dizagem de noes e procedimentos de medida, estimativa e clculo. Em se-
guida, podemos explorar as medidas de comprimento, capacidade, massa e
temperatura, sempre trabalhando com as unidades mais usuais. A medida de
superfcie, que envolve o conceito de rea, pode ser introduzida em conexo
com as noes de geometria.
Por exemplo, o clculo da rea de figuras planas pode ser verificado por
meio da contagem de unidades:
rea doquadrado: 9 cm
2
rea doretngulo: 8 cm
2
As relaes entre reas de figuras geomtricas podem ser observadas por
meio da composio e decomposio dessas figuras:
rea doquadrado: 9 cm
2
rea dotringulo: 4,5 cm
2
Os sistemas de medida tambm so contedos que propiciam a abor-
dagem da histria dos conhecimentos matemticos. Na histria da humani-
142
Matemtica
Ao Educativa / MEC
dade, as medidas comearam a ser utilizadas para responder a necessidades
de se demarcar espaos, atribuir referncias quantitativas de valor para a re-
alizao de atividades comerciais, e depois no estudo da astronomia e da na-
vegao. As primeiras referncias de medida foram as dimenses do prprio
corpo humano e sabe-se que alguns grupos consideravam como padro as
medidas do governante. Informaes como essas podem enriquecer o estu-
do desse e de outros contedos matemticos, evidenciando a natureza his-
trica desses conhecimentos, tal qual outros aspectos da cultura estudados
pelos alunos.
4
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Medidas
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Conceito Compreender que a medida envolve a comparao entre duas grandezas da
mesma natureza e a verificao de quantas vezes a grandeza tomada como
unidade de medida cabe na outra.
Comparar grandezas de mesma natureza e identificar unidades de medida
atravs de estratgias informais.
Perceber que o nmero que indica a medida varia conforme a unidade de
medida utilizada.
Reconhecer a utilidade dos nmeros decimais para representar quantidades
relacionadas s medidas.
4
Vrios livros paradidticos trazem relatos sobre a histria dos nmeros. Ver, especialmente, de
Luiz Mrcio Imenes: A numeraoindo-arbica(So Paulo, Scipione, 1993) e Osnmerosna histria da civili-
zao(So Paulo, Scipione, 1992).
143
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Sistema Estabelecer relaes entre os valores monetrios de cdulas e moe-
monetrio das em situaes-problema do cotidiano.
brasileiro Efetuar clculos estabelecendo relaes entre os diferentes valores mone-
trios.
Empregar procedimentos de clculo mental e escrito para resolver situa-
es-problema envolvendo preos, pagamento e troco com cdulas e moe-
das.
Tempo Ler, construir e utilizar o calendrio como referncia para medir o tempo.
Estabelecer relaes entre dia, semana, ms e ano.
Ler e utilizar o relgio de ponteiros e o relgio digital como instrumentos
para medir o tempo.
Estabelecer relaes entre dia, hora e minuto, e hora, minuto e segundo.
Resolver situaes-problema envolvendo datas, idades e prazos.
Identificar o sculo como perodo de 100 anos (em conexo com estudos
histricos).
Conhecer e utilizar notaes usualmente empregadas para o registro de datas
e horas (12h55, 12/ 05/ 96, sculo XX etc.).
Identificar que o marco de referncia do calendrio cristo histrico: o
nascimento de Cristo.
Temperatura Reconhecer o grau centgrado como unidade de medida de temperatura.
Ler o termmetro clnico e o termmetro meteorolgico, reconhecendo o
smbolo C.
Comprimento Medir utilizando unidades de medida no convencionais e representar o
valor da medida.
Conhecer as unidades usuais de medida de comprimento: metro, centmetro,
milmetro e quilmetro, estabelecendo relaes entre elas.
Reconhecer e utilizar os smbolos das unidades de medida usuais (m, cm,
mm, km).
144
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Medir comprimentos utilizando instrumentos como fita mtrica, trena, rgua
e expressar a medida na unidade adequada, em funo do contexto e da pre-
ciso do resultado.
Calcular o permetro de figuras planas relacionadas a situaes-problema
do cotidiano.
Capacidade Conhecer as unidades usuais de medida de capacidade: litro e mililitro e as
relaes entre elas.
Reconhecer e utilizar as notaes convencionais das unidades de medida
usuais (l e ml), identificando-as em embalagens, receitas, vasilhames, bulas
de remdio etc.
Massa Conhecer as unidades usuais de medida de massa: grama, quilograma e mi-
ligrama, estabelecendo relaes entre grama e quilograma, grama e miligrama.
Reconhecer e utilizar as notaes convencionais das unidades de medida
usuais (g, kg, mg), identificando-as em embalagens, receitas, vasilhames, bulas
de remdio etc.
Resolver problemas envolvendo converses entre unidades de medida usuais.
Medir a massa utilizando balanas e expressar a medida na unidade mais
adequada em funo do contexto e da preciso do resultado.
Superfcie Conhecer as unidades usuais de medida de superfcie: metro quadrado (m
2
),
quilmetro quadrado (km
2
) e centmetro quadrado (cm
2
), estabelecendo a
relao entre m
2
e cm
2
, m
2
e km
2
.
Calcular a rea do quadrado e do retngulo, por contagem de regies, veri-
ficando quantas vezes uma unidade de medida cabe numa determinada
superfcie.
Identificar relaes entre reas de figuras geomtricas por meio da compo-
sio e decomposio de figuras.
Resolver problemas envolvendo relaes entre rea e permetro.
Desenvolver a noo de escala como ampliao ou reduo das dimenses
reais em situaes que envolvam representao de medidas de comprimento
e superfcie (plantas, mapas, guias, itinerrios).
145
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Indicaes para a seqenciao do ensino
bastante provvel que os jovens e adultos com pouca esco-
laridade possuam vrios conhecimentos relacionados s medidas.
Assim sendo, as primeiras atividades para explorar esses contedos
consistem em verificar a disponibilidade das noes de grandezas
como comprimento, massa, capacidade, temperatura, unidades de
tempo e valores monetrios. Alm de observar como os alunos re-
alizam essas medies, importante verificar se conhecem os regis-
tros convencionais dessas medidas, se os utilizam, se sabem ler e in-
terpretar instrumentos de medidas usuais como fita mtrica, balan-
a, relgio, termmetro.
Caso no tenham um bom domnio desses contedos, cabe ao
professor fornecer as informaes necessrias para que possam
ampli-los. Assim, progressivamente, podero prever as caracters-
ticas de um objeto pelo conhecimento de algumas informaes
mtricas a respeito do mesmo. Quando estiverem suficientemente
familiarizados com o tema, importante que sejam levados a tomar
decises quanto utilizao das unidades usuais de medida em fun-
o do problema e da preciso do resultado.
Por ser do amplo conhecimento dos alunos, o manejo de cdu-
las e moedas em situaes de compra e venda, clculo de salrios, pre-
vises de oramento e outras tantas que envolvem dinheiro podem
estar presentes desde os nveis iniciais.
Por ser do amplo
conhecimento dos
alunos, o manejo de
cdulas e moedas em
situaes de compra
e venda e outras
tantas que envolvem
dinheiro podemestar
presentes desde os
nveis iniciais
146
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Em nvel mais avanado, importante trabalhar as unidades
usuais das diferentes medidas para que os alunos estabeleam rela-
es entre elas, faam algumas converses simples, compreendam a
noo de escala e possam aplic-la na leitura de plantas e mapas. Neste
momento, importante que saibam ler e escrever as notaes con-
vencionais das medidas usuais, em embalagens, bulas, recipientes, e
reconheam a utilidade dos nmeros decimais para express-las.
Finalmente, devero conhecer as unidades usuais de medida de
superfcie e estabelecer relaes entre elas. A partir de situaes-pro-
blema, podero efetuar clculos para descobrir o permetro e a rea
de figuras geomtricas e comparar reas de diferentes figuras por meio
da composio e decomposio, sendo desnecessria a aprendizagem
de frmulas nesse segmento da escolaridade.
Geometria
O estudo da Geometria favorece um tipo de pensamento que permite
interpretar, descrever e representar de forma organizada o mundo em que
vivemos. As atividades de geometria desenvolvem o sentido espacial, que a
percepo intuitiva do prprio entorno e dos objetos nele presentes. Fazem
parte do sentido espacial as idias e intuies sobre orientao, direo, for-
ma e tamanho das figuras e objetos, suas caractersticas e suas relaes no es-
pao.
A partir da observao do espao, pode-se desenvolver a capacidade de
reconhecer formas, represent-las, identificar suas propriedades e abstra-las.
Essas habilidades so a base para a construo das relaes espaciais que ca-
racterizam o pensamento geomtrico. Os conhecimentos geomtricos tambm
esto presentes e revelam-se necessrios em vrias atividades profissionais,
como a construo civil, a modelagem e a costura, as artes plsticas, e nos
esportes.
As noes geomtricas podem ser desenvolvidas progressivamente, a
Os conhecimentos
geomtricos esto
presentes e revelam-
se necessrios em
vrias atividades
profissionais
147
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
partir das experincias intuitivas dos alunos. Para tanto, importante gerar
situaes de aprendizagem em que os prprios alunos coloquem problemas
relativos ao espao e tentem resolv-los apoiados em suas concepes espon-
tneas como, por exemplo, descrever a sua posio na sala de aula, desenhar a
sala ou representar o caminho que percorrem para chegar at a escola.
fundamental que eles vivenciem experincias de localizao e movimen-
tao de si prprios ou de objetos no espao, procurando descrev-las e
represent-las. Inicialmente, as representaes sero construes simples como
desenhos e esboos, a partir das quais podem ser trabalhadas representaes
mais precisas como plantas, at se chegar interpretao de mapas mais com-
plexos, como o planisfrio.
A compreenso das relaes geomtricas supe ao sobre os objetos.
Porm, para que os alunos se apropriem desse conhecimento, no basta mos-
trar-lhes objetos geomtricos ou apresentar-lhes suas propriedades. Inicialmen-
te, as figuras geomtricas so reconhecidas pela sua aparncia fsica e no pe-
las suas propriedades. Posteriormente, a partir de observaes e experimen-
taes, comea-se a perceber algumas caractersticas dessas figuras e as pro-
priedades que conceituam as formas geomtricas.
fundamental que os
educandos
vivenciem
experincias de
localizao e
movimentao de si
prprios ou de
objetos no espao,
procurando
descrev-las e
represent-las
148
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Assim, as primeiras experincias com as formas geomtricas podem partir
da observao de modelos de slidos presentes nos objetos do entorno. Com
alguns desses objetos (caixas, latas etc.) podem-se construir maquetes ou ou-
tras representaes, evidenciando as semelhanas que existem entre as formas
geomtricas e os objetos que nos rodeiam. Em seguida, interessante analis-
las para identificar algumas de suas propriedades.
A composio e decomposio de figuras e a identificao de simetrias
permitem explorar relaes entre as formas e a elaborao de dedues sim-
ples. Por exemplo, a relao entre o cubo e o quadrado pode ser estabelecida
a partir de um trabalho com a planificao de caixas, por meio do qual se pode
evidenciar que o quadrado uma face do cubo.
Planificaodocubo Facedocubo(quadrado)
Alm de estarem fortemente conectadas com as noes de medidas, de
nmeros fracionrios, nmeros decimais e com os grficos, as noes geom-
tricas tambm possibilitam inmeras aproximaes com estudos da geogra-
fia, artes plsticas e todos os campos do conhecimento que envolvem o senti-
do espacial.
Em sntese, para desenvolver o sentido espacial deve-se propiciar expe-
rincias centradas nas noes de direo e orientao, nas formas e tamanhos
das figuras, na percepo dos objetos no espao e como esses elementos se re-
lacionam. Atividades de descrio e representao permitem que os alunos
construam idias mais completas sobre o espao, sobre as figuras geomtri-
cas e suas propriedades e aprendam o vocabulrio geomtrico de forma na-
tural.
149
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Geometria
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Espao, Descrever a situao de objetos presentes no entorno, empregan-
dimenso, do a terminologia referente:
posio, ao dimensionamento (maior, menor, mais curto, mais comprido,
direo, mais alto, mais baixo, mais largo, mais estreito etc.);
sentido posio (em cima, embaixo, entre, na frente de, atrs de, direita, es-
querda etc.);
direo e sentido (para frente, para trs, para a direita, paraa esquerda,
em sentido contrrio, no mesmo sentido, meia volta etc.).
Localizar-se no espao com base em pontos de referncia e algumas indi-
caes de posio.
Movimentar-se no espao com base em pontos de referncia e algumas in-
dicaes de direo e sentido.
Descrever sua posio e a posio de objetos no espao, dando informa-
es sobre pontos de referncia, direo e sentido.
Descrever a posio de objetos no espao a partir da observao de maquetes,
croquis, fotografias, gravuras, desenhos, guias do bairro e da cidade, mapas,
globo terrestre e planisfrio, empregando a terminologia referente s no-
es de grandeza, posio, direo e sentido.
Distribuir de maneira adequada registros sobre o papel (transcrio de textos,
reproduo de desenhos, tabelas e grficos).
150
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Diferenciar espaos abertos e fechados.
Ocupar espaos percebendo as relaes de tamanho e forma.
Representar a posio de objetos no espao atravs da construo de
maquetes, desenhos, itinerrios, plantas baixas.
Representar a movimentao de objetos no espao, evidenciando os deslo-
camentos realizados.
Comparar maquetes e desenhos, desenhos e mapas.
Identificar propriedades relativas posio dos elementos de uma figura
paralelismo e perpendicularismo atravs da observao de objetos,
trajetos, dobraduras etc.
Identificar o ngulo reto.
Formas bi e Identificar as caractersticas das formas geomtricas que esto pre-
tridimensionais, sentes em elementos naturais e nos objetos criados pelo homem.
figuras planas Identificar semelhanas e diferenas entre a forma dos objetos.
e slidos Reproduzir a forma dos objetos atravs de construes com mas-
geomtricos sa, argila, sabo, varetas etc.
Identificar slidos geomtricos e formas planas, perceber semelhanas e
diferenas entre alguns deles (cubo e quadrado, pirmide e tringulo, para-
leleppedo e retngulo, esfera e crculo).
Identificar semelhanas e diferenas entre os slidos geomtricos.
Reconhecer caractersticas comuns aos poliedros: faces, arestas e vrtices
(identificao e contagem).
Reconhecer caractersticas comuns aos corpos redondos como esfera, cone
e cilindro.
Identificar semelhanas e diferenas entre os poliedros.
Identificar semelhanas e diferenas entre diferentes polgonos como os qua-
drilteros, os tringulos e outros.
Classificar polgonos como tringulos e quadrilteros, usando diferentes
critrios e tambm as noes de retas paralelas e ngulo reto.
Identificar simetrias em diferentes formas geomtricas e analisar as carac-
tersticas decorrentes.
Compor e decompor slidos geomtricos e figuras planas, identificando
diferentes possibilidades.
151
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Planificar alguns slidos geomtricos, identificando a relao entre faces e
figuras planas.
Pode-se explorar
algumas
caractersticas
das figuras
geomtricas, sema
preocupao como
uso da terminologia
convencional
Indicaes para a seqenciao do ensino
As primeiras atividades para explorar as noes espaciais de-
vem partir de situaes nas quais os alunos sejam levados a estabe-
lecer pontos de referncia em seu entorno para se situarem e se
deslocarem no espao, para definirem a situao de objetos no es-
pao, inicialmente considerando um ou dois pontos de referncia e
posteriormente considerando vrios. Durante essas atividades, eles
devero ser estimulados a dar e receber instrues utilizando o pr-
prio vocabulrio. Ao longo do tempo, podero ir se familiarizando
com o vocabulrio convencional referente localizao e fazer uso
deste.
No nvel inicial, as observaes sero comunicadas prio-
ritariamente por meio de descries orais e algumas construes mais
simples como maquetes e desenhos. Mais adiante, os alunos pode-
ro aprender a ler e interpretar situaes de localizao representa-
das graficamente (croquis, itinerrios, planta baixa, mapas e guias da
cidade e do bairro). Aps alguma familiarizao com essas repre-
sentaes, importante que aprendam a constru-las. Ao final des-
se perodo de escolaridade, eles podero fazer localizaes no glo-
bo terrestre e no planisfrio.
Com relao aprendizagem das formas geomtricas, as pri-
meiras atividades sero de observao e reconhecimento dessas for-
mas nos objetos do ambiente. A partir da, pode-se explorar algu-
152
Matemtica
Ao Educativa / MEC
mas caractersticas das figuras geomtricas, sem a preocupao com
o uso da terminologia convencional. Nos nveis mais avanados,
possvel trabalhar com as formas bi e tridimensionais (figuras pla-
nas e slidos geomtricos), estabelecer semelhanas e diferenas entre
essas formas (superfcies planas ou arredondadas, formas das faces).
Nessa etapa do trabalho, importante que os alunos reconheam
alguns elementos que compem as figuras (faces, arestas, vrtices,
lados, ngulos), inicialmente utilizando o vocabulrio prprio e pau-
latinamente incorporando o convencional.
Introduo Estatstica
A introduo deste tema justifica-se pela freqncia com que dados es-
tatsticos so utilizados pelos veculos de comunicao, onde aparecem repre-
sentados por tabelas e grficos. Informaes estatsticas so cada vez mais
amplamente divulgadas e sua importncia para a anlise de fenmenos soci-
ais e para a formao de opinio pode ser avaliada, por exemplo, pelo impac-
to que causam as pesquisas de inteno de voto nos perodos pr-eleitorais.
O estudo de procedimentos de coleta e representao de dados justifi-
ca-se tambm porque so fonte de situaes-problema reais envolvendo con-
tagem, nmeros, medidas, clculos e estimativas. Ele favorece ainda o apri-
moramento da comunicao oral e escrita, medida que os alunos falem e
escrevam sobre os procedimentos que utilizam para buscar informaes e
sobre as concluses a que chegam a partir da anlise de dados. A anlise de
dados estatsticos tambm pode enriquecer o tratamento de muitos temas das
cincias sociais e naturais.
Pode-se iniciar os jovens e adultos na leitura e anlise de dados quantita-
tivos nas suas diferentes formas de apresentao, a partir de atividades de
contagem ou levantamento de dados sobre populaes ou fenmenos do en-
O estudo de
procedimentos
de coleta e
representao de
dados justifica-se
porque so fonte de
situaes-problema
reais envolvendo
contagem, nmeros,
medidas, clculos e
estimativas
153
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
torno prximo. Por exemplo, fazer um levantamento dos estados de origem
dos alunos do centro educativo e, a partir da, iniciar um estudo sobre os mo-
vimentos migratrios no Brasil. Fazer um levantamento das faltas dos alunos
num determinado perodo letivo, observando os meses ou dias da semana em
que h maior incidncia, fazendo inferncias sobre as causas do absentismo e
suas possveis conseqncias. Dados dessa natureza podem ser sistematizados
e apresentados em tabelas simples, com nmeros naturais, de fcil compreen-
so por parte dos alunos iniciantes.
Com os estudantes mais experientes, que dominam a leitura, a escrita e
as operaes aritmticas, pode-se introduzir procedimentos como clculo de
mdia e porcentagem, alm da interpretao de dados estatsticos que
extrapolam o entorno prximo, como ndices de mortalidade infantil, valores
de salrio no mercado, temperaturas mdias de diferentes regies. Tambm
podem ser estudadas formas de representao mais complexas como as tabe-
las de dupla entrada e os grficos de barra, de linha e de setor.
As atividades envolvendo noes e procedimentos estatsticos devem estar
impregnadas pelo esprito de investigao e explorao. Inicialmente preci-
so formular as questes que se deseja investigar. Geradas as questes, im-
portante decidir quais so os dados que precisam ser levantados, onde e como
colet-los, organiz-los e apresent-los (esquemas, tabelas, grficos). Com fre-
qncia, as anlises e concluses levam a novas questes e investigaes, ge-
rando novas oportunidades para a sistematizao de conhecimentos e a am-
pliao da viso que os alunos possuem sobre a matemtica e sua utilidade.
Ao longo do trabalho com esses contedos, importante que os alunos
compreendam a importncia das representaes grficas como forma de apre-
sentao global das informaes, o que possibilita uma leitura rpida e o des-
taque de aspectos relevantes. Tambm fundamental que desenvolvam o h-
bito de analisar todos os elementos significativos presentes em uma represen-
tao grfica, evitando interpretaes precipitadas.
Representaes
grficas de dados
possibilitamleitura
rpida e destaque de
aspectos relevantes
154
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Figuras geomtricas emedidas
Um exemplo de situao-problema que evidencia as relaes
entre figuras geomtricas e medidas: Secortarmos na diagonal umcar-
to retangular de12 cmpor 16 cm, quefiguras podemos formar juntando as
duas partes dediferentes maneiras?
Estas figuras tmo mesmo permetro? Tma mesma rea?
Grficodesetores (pizza)
Pessoas de 15 a 17 anos, por condio de atividade: 1989 regio Nordeste
155
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Grficodecolunas
Salrio mnimo mensal em alguns pases da Amrica Latina (em dlares 1995)
Tabela simples
Mortalidade infantil em alguns pases
(a cada mil crianas nascidas, quantas morrem antes dos 5 anos de idade)
156
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Tabela dedupla entrada
Previso do tempo para o dia 8/ 11/ 96
Grficodelinhas
Casos conhecidos de Aids no Brasil: 1984 a 1992
157
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Introduo Estatstica
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Coleta, Coletar e organizar dados e informaes.
sistematizao Construir registros pessoais para comunicar informaes coletadas.
e anlise Analisar fenmenos sociais e naturais a partir de dados quantita-
de dados tivos.
Tabelas e Reconhecer, descrever, ler e interpretar informaes apresentadas
grficos em tabelas simples, tabelas de dupla entrada, grficos de barra, grficos de
linha, grficos de setor.
Construir tabelas simples, tabelas de dupla entrada, grficos simples de barra,
de linha e de setor.
Comparar e estabelecer relaes entre dados apresentados em diferentes
tabelas.
Traduzir em tabelas simples e de dupla entrada dados apresentados em gr-
ficos numricos, evidenciando a compreenso das informaes.
Identificar caractersticas dos acontecimentos previsveis e utilizar as infor-
maes para fazer previses.
Identificar as caractersticas de acontecimentos aleatrios e utilizar as in-
formaes para avaliar probabilidades.
Mdia Desenvolver a noo de mdia aritmtica como o resultado da soma
aritmtica de x parcelas dividida por x.
Calcular e interpretar a mdia aritmtica em casos significativos para a com-
preenso da informao.
158
Matemtica
Ao Educativa / MEC
Indicaes para a seqenciao de ensino
Inicialmente, fundamental que os alunos aprendam a coletar informaes e pro-
duzam registros pessoais para organiz-las. Posteriormente, podero exercitar a leitu-
ra e interpretao das informaes apresentadas em registros convencionais como as
listas e tabelas de dupla entrada e tambm construir formas mais elaboradas como os
grficos de barra, de linha e setor, identificando fenmenos a partir da anlise dessas
representaes. Em nveis mais avanados, podero aprender a identificar, pela anlise
das informaes, as caractersticas de fenmenos previsveis e aleatrios, fazer algumas
previses e avaliar probabilidades, descrevendo-as oralmente e atravs de textos escri-
tos. Tambm nos nveis mais avanados, quando os alunos j dominarem as operaes
envolvidas, pode-se trabalhar a noo de mdia aritmtica, seu clculo e interpretao.
159
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
160
Matemtica
Ao Educativa / MEC
161
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Estudos da Sociedade
e da Natureza
162
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
163
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Fundamentos e objetivos da rea
O processo de iniciao dos jovens e adultos trabalhadores no
mundo da leitura e da escrita deve contribuir para o aprimoramento
de sua formao como cidados, como sujeitos de sua prpria hist-
ria e da histria de seu tempo. Coerente com este objetivo, a rea de
Estudos da Sociedade e da Natureza busca desenvolver valores, co-
nhecimentos e habilidades que ajudem os educandos a compreender
criticamente a realidade em que vivem e nela inserir-se de forma mais
consciente e participativa.
A complexidade da vida moderna e o exerccio da cidadania ple-
na impem o domnio de certos conhecimentos sobre o mundo a que
jovens e adultos devem ter acesso desde a primeira etapa do ensino
fundamental. Esses conhecimentos devero favorecer uma maior in-
tegrao dos educandos em seu ambiente social e natural, possibili-
tando a melhoria de sua qualidade de vida. Faz-se necessrio, porm,
superar certa viso utilitarista da educao de jovens e adultos, ba-
seada no suposto de que os interesses dos educandos esto restritos s
suas experincias e necessidades imediatas. A pesquisa e a prtica edu-
cativa revelam que eles se interessam tanto pelas questes relativas
sua sobrevivncia cotidiana como por temas aparentemente distantes
como a origem do universo, o desenvolvimento da informtica ou a
ecloso de conflitos religiosos em outros continentes. Podemos nos
surpreender com o prazer que sentem em fruir e exercitar as diversas formas
de arte e sua grande motivao para participar de atividades que instigam a ima-
A complexidade da
vida moderna e o
exerccio da
cidadania plena
impemo domnio
de certos
conhecimentos sobre
o mundo a que jovens
e adultos devemter
acesso desde a
primeira etapa do
ensino fundamental
164
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
ginao. Entre os jovens em particular, ressalta o interesse por ampliar as ex-
perincias de lazer e convvio social, assim como partilhar as necessidades e re-
alizaes no plano afetivo, dialogando sobre o amor, a sexualidade e a famlia.
Nessa perspectiva, alm de propiciar o acesso a informaes relativas s
suas vivncias imediatas, espera-se estimular o interesse dos educandos por
abordagens mais abrangentes sobre a realidade, familiarizando-os, de modo
bastante introdutrio, com alguns conceitos e procedimentos das cincias
sociais e naturais, bem como oferecendo oportunidades de acesso ao patrimnio
artstico e cultural.
No fcil definir o que cincia, mas podemos identificar o es-
prito crtico como caracterstica bsica tanto das cincias sociais como
naturais, ou seja, a busca de explicaes no dogmticas sobre os fe-
nmenos, explicaes que possam ser confrontadas com a observao
e experimentao, com a anlise de documentos ou com explicaes
alternativas.
1
Neste sentido, mais do que a memorizao de nomes e
datas, o objetivo prioritrio desta rea de estudo dever ser o desen-
volvimento do esprito investigativo e do interesse pelo debate de idias.
Os contedos
Os caminhos para atingir esses objetivos so vrios, assim como
vrios so os fenmenos sociais e naturais que podem ser estudados.
Nessa proposta, tratamos de organizar blocos de contedos de modo
a auxiliar os educadores na seleo, organizao e integrao de te-
mas a serem abordados. A ordem em que esses blocos temticos so
apresentados no necessariamente a que deve ser seguida no desenvolvimento
da atividade didtica, uma vez que eles no esto hierarquizados por grau de
1
Para uma viso geral do que cincia e da natureza dos conhecimentos cientficos o
professor pode consultar A cincia emao, de Claude Chrtien (Campinas, Papirus, 1995),
ou Filosofia da Cincia: introduo ao jogo e suas regras, de Rubem Alves (So Paulo,
Brasiliense, 1991).
Mais do que a
memorizao de
nomes e datas, o
objetivo prioritrio
desta rea de estudo
dever ser o
desenvolvimento do
esprito
investigativo e do
interesse pelo
debate de idias
165
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
importncia ou de complexidade. Caber aos educadores, na elaborao de seu
plano de ensino, selecionar, recombinar e seqenciar contedos e objetivos
de acordo com as caractersticas de seu projeto pedaggico.
No bloco O educandoeolugar devivncia reunimos contedos que dizem res-
peito ao contexto de experincia dos alunos. So contedos que podem ter uma
aplicao imediata, especialmente no desenvolvimento de atitudes favorveis
ao convvio no centro educativo, na comunidade e no ambiente natural. Esses
contedos podem constituir pontos de partida para abordagens mais gerais sobre
a sociedade e a natureza, assim como para o desenvolvimento de algumas fer-
ramentas cognitivas bsicas como as noes de espao e tempo, a capacidade
de observar, comparar, classificar, relacionar, elaborar hipteses etc. Igualmente,
vlido abordar os contedos desse bloco como pontos de chegada; por exemplo,
depois de tematizar a organizao poltica do Estado brasileiro, refletir sobre
a organizao poltica da escola ou sobre a poltica do bairro.
No bloco O corpo humano esuas necessidades articulam-se contedos relati-
vos ao conhecimento dos educandos sobre o prprio corpo, seu esquema e
aspecto externo, formas de relacionamento com o meio exterior, mecanismos
de preservao do indivduo e da espcie. Destacam-se aspectos relativos
nutrio, reproduo e preservao da sade, visando fomentar atitudes po-
sitivas com relao manuteno da qualidade de vida individual e coletiva.
Prope-se ainda que se abordem as necessidades das diferentes fases do de-
senvolvimento, especialmente da infncia, no sentido de promover uma edu-
cao voltada paternidade e maternidade responsveis.
O conceito de cultura um dos principais elementos explicativos
da condio humana, da condio de um ser que capaz de pensar,
acumular conhecimentos e transmiti-los s novas geraes. Por esse
motivo, esse conceito dever emergir constantemente no trato dos
contedos desta rea. Para desenvolver o sentido crtico dos alunos
em relao aos conhecimentos, fundamental que eles reconheam que, en-
quanto produtos culturais, os conhecimentos so dinmicos, transformam-se
Destacam-se
aspectos relativos
nutrio, reproduo
e preservao da
sade, visando
fomentar atitudes
positivas comrelao
manuteno da
qualidade de vida
individual e coletiva
166
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
e diferenciam-se no tempo e de um grupo social para outro. Nessa perspecti-
va, julgou-se pertinente ordenar um conjunto de contedos e objetivos ori-
entados especificamente para um enfoque pluralista de aspectos da cultura
brasileira. Os temas reunidos neste bloco, Cultura ediversidadecultural, tambm
so fundamentais para o aprendizado de atitudes de no discriminao e to-
lerncia, respeito pluralidade cultural e tnica, s diferenas de credo, gne-
ro e gerao. Essas atitudes so essenciais para o convvio democrtico numa
sociedade diversificada como a brasileira.
No bloco Os seres humanos eo meio ambientearticulam-se contedos que
extrapolam as vivncias imediatas dos educandos e do lugar introduo da
linguagem cartogrfica (estudo de mapas) e sistemas conceituais das cincias
naturais e sociais. Destacam-se aspectos relevantes sobre as relaes que se
estabelecem entre os seres vivos, em particular os seres humanos e o ambien-
te fsico. Questes relativas degradao ambiental so relacionadas ativi-
dade produtiva e contextualizadas nos espaos urbanos e rurais. Como suporte
estruturao das noes de tempo e espao, inclui-se nesse bloco, em car-
ter introdutrio, o estudo da Terra como corpo celeste em movimento, ao qual
esto associados fenmenos como o dia e a noite, as estaes e as mars.
No bloco As atividades produtivas eas relaes sociais enfatizam-se relaes
que os seres humanos estabelecem entre si para a produo de sua existn-
cia, alm da nova qualidade que o trabalho humano adquire mediante o de-
senvolvimento tecnolgico. So introduzidas ento periodizaes histricas
relativas Histria do Brasil, ampliando-se as possveis conexes entre as
atividades produtivas e outras dimenses da cultura.
No bloco Cidadania eparticipao, enfatiza-se a dimenso poltica da vida
humana, visando-se aprimorar a conscincia cidad dos educandos. A esto
implicados a adeso a valores democrticos e o conhecimento da organiza-
o social e poltica do pas, dos direitos polticos, sociais e trabalhistas que a
posio de cidados lhes confere, dos espaos e formas de organizao e par-
ticipao na sociedade.
Adeso a valores
democrticos e
conhecimento da
organizao social e
poltica do pas so
condies para o
exerccio da
cidadania
167
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Os conhecimentos dos jovens e adultos e as
aprendizagens escolares
Jovens e adultos com pouca ou nenhuma escolaridade anterior detm uma
grande quantidade de conhecimentos sobre fenmenos naturais e sobre a di-
nmica social, econmica, poltica e cultural do mundo contemporneo. Ela-
boraram esses conhecimentos ao longo de suas experincias de vida e traba-
lho, tendo j desenvolvido estratgias que orientam suas condutas e hipte-
ses interpretativas relacionadas aos mais diferentes aspectos da realidade. Suas
vivncias so tambm enriquecidas continuamente pelos meios de comunica-
o de massa, que tornam acessveis uma infinidade de informaes sobre fatos
no imediatos sua experincia. Com o acesso a novas informaes e viven-
ciando novas experincias, os jovens e adultos podem ir constantemente mo-
dificando a compreenso que tm do mundo sua volta.
Por vezes, entretanto, as vivncias podem produzir uma compreenso
muito parcial dos fenmenos, ou as informaes veiculadas pelo rdio e pela
TV podem ser assimiladas de forma mais ou menos desconexa. O estudo sis-
temtico que se realiza na escola uma boa oportunidade para articular os
168
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
conhecimentos de modo mais significativo e abrangente. Para tal, os educandos
precisam estabelecer conexes entre suas explicaes e o conhecimento esco-
lar. Precisam relacionar os contedos escolares com aquilo que j conhecem.
Muitas vezes, seus esquemas de compreenso da realidade podero ser enri-
quecidos ou parcialmente modificados pelos contedos escolares; outras ve-
zes, suas crenas ou explicaes devero ser transformadas e, para tanto, eles
precisaro convencer-se de que uma nova explicao sobre um fenmeno
mais abrangente e significativa do que a que eles tinham previamente.
comum os alunos memorizarem explicaes e classificaes cientficas
apresentadas na escola como fatos isolados, pois no dominam ainda o con-
junto da disciplina cientfica em que foram geradas essas explicaes ou clas-
sificaes. Quando isso acontece, eles podem ser capazes de repeti-los ou utiliz-
los de modo mecnico, sem entender o que esto dizendo ou fazendo. Relaci-
onar os conhecimentos cientficos que a escola apresenta com os conhecimentos
prvios dos alunos uma forma de garantir uma memorizao compreensi-
va, a assimilao de contedos que o aluno realmente aprende porque se in-
corporam sua rede de conhecimentos. uma forma tambm de evitar que
os alunos trabalhem com uma lgica dicotmica, separando conhecimentos
que servem s para a escola de conhecimentos que servem para a vida.
Para este nvel de ensino, no se prope um estudo sistemtico das disci-
plinas cientficas. Por isso, a insistncia no domnio e memorizao de infor-
maes deve limitar-se quelas de utilidade mais imediata para cada grupo
especfico. No mais, o objetivo desta rea curricular aprimorar as concep-
es dos alunos sobre a sociedade e a natureza, levando-os a integrar progres-
sivamente novos elementos e, principalmente, a vivenciar novas possibilida-
des.
bastante provvel que educandos jovens e adultos resistam mais
do que as crianas a explicitarem suas idias. Muitas vezes, esses
educandos no tm clareza de que possuem conhecimentos sobre os conte-
dos escolares e reconhec-lo pode ser o primeiro passo da sua aprendizagem.
Relacionar os
conhecimentos
cientficos que a
escola apresenta
comos
conhecimentos
prvios dos alunos
uma forma de
garantir uma
memorizao
compreensiva
O estudo sistemtico
que se realiza na
escola uma boa
oportunidade para
articular os
conhecimentos de
modo mais
significativo e
abrangente
169
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Outras vezes, podem no identificar seu saber como adequado ao espao es-
colar e sentir receio de verbaliz-lo no grupo. Por esses motivos, fundamen-
tal que o educador dedique ateno especial criao de ambientes pedag-
gicos favorveis, que estimulem os alunos a exporem suas idias por meio da
linguagem oral ou dramtica, da escrita, dos desenhos ou de montagens.
Estratgias de abordagemdos contedos
Uma boa estratgia para introduzir os tpicos de contedo des-
sa rea partir da postulao de um problema. A problematizao
visa, por um lado, recuperar os conhecimentos prvios dos alunos
sobre o tema em pauta e, por outro, provocar a necessidade de bus-
car novos conhecimentos para resolver o problema. O professor pode
apresentar o problema por meio de uma questo aberta, que pode
parecer a princpio simples de responder mas que permita muitas
possibilidades de soluo. Por exemplo:
O que acontece com os alimentos dentro do nosso corpo que
faz com que eles sejam transformados em fezes?
Por que os ndices de mortalidade infantil do Brasil so
maiores no Nordeste?
Por que o sol se pe todo dia de um lado e aparece no dia
seguinte do outro?
Por que tantas pessoas se mudam do campo para a cidade?
Por que as pessoas falam to mal dos polticos?
Os alunos podem responder a essas perguntas oralmente ou por
escrito. Depois que todos tiverem a oportunidade de manifestar suas
idias, interessante que coloquem-nas em confronto, por exemplo,
atravs da discusso em pequenos grupos e no grupo classe. O professor aju-
170
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
da os alunos a elaborar e expressar melhor suas idias lanando
questionamentos durante os debates. Finalmente, o professor sistematiza
as opinies que prevaleceram, assim como os problemas que surgiram no
processo, as dvidas e informaes necessrias para o seu esclarecimento.
Nesta etapa, o professor pode introduzir conceitos ou explicaes cien-
tficas pertinentes ou estabelecer um programa de estudos que inclua a leitu-
ra de textos, consulta a enciclopdias ou atlas, realizao de experimentos sim-
ples, entrevistas com especialistas etc., objetivando desenvolver o conhecimento
necessrio para o entendimento do tema abordado.
Finalmente, importante sistematizar as novas informaes recolhidas
e os novos conceitos introduzidos, averiguando em que medida se integraram
aos esquemas de compreenso dos educandos. Isso deve ser feito tanto por
meio da retomada do problema inicial como da aplicao dos conhecimentos
recm-adquiridos a outros problemas correlatos.
Embora o grau de domnio da leitura e escrita da lngua, bem como das
operaes e instrumentos matemticos condicionem parcialmente as opes
metodolgicas do educador para abordar temas das cincias naturais e soci-
ais, partilhamos do ponto de vista de que possvel e desejvel introduzi-los
desde o incio do processo de alfabetizao, ainda que neste momento privi-
legiem-se estratgias que recorrem oralidade, observao e experimenta-
o, representao plstica ou aos recursos audiovisuais. No podemos nos
esquecer, entretanto, que a motivao desses alunos est fortemente dirigida
ao aprendizado da leitura, da escrita e dos clculos matemticos. Por isso,
importante que o professor procure sempre articular debates orais a alguma
atividade de escrita, por exemplo, sintetizando informaes ou opinies em
pequenos textos ou esquemas, que podem ser elaborados coletivamente, com
sua ajuda. O professor pode levar para a sala de aula livros e jornais para se-
rem manuseados e explorados visualmente, alm de ler em voz alta pequenos
trechos que sirvam para enriquecer os debates. Ele poder tambm elaborar
problemas matemticos a partir de fenmenos sociais ou naturais estudados.
Estratgias que
recorrem
oralidade,
observao e
experimentao,
representao
plstica ou aos
recursos
audiovisuais so
adequadas para o
incio da
alfabetizao
O professor pode
introduzir conceitos
ou explicaes
cientficas
pertinentes ou
estabelecer um
programa de estudos
que inclua a leitura
de textos,
entrevistas com
especialistas etc.
171
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
medida que os alunos avancem no domnio das representaes lin-
gsticas e matemticas, o educador poder recorrer a estratgias que inclu-
am a produo e leitura de diferentes textos, grficos, tabelas e dados esta-
tsticos. Dever ento ampliar as fontes de informao e os recursos expres-
sivos dos educandos, encaminhando-os em direo a um maior grau de
formalizao e sistematizao das aprendizagens.
2
As fontes de conhecimento
fundamental promover e facilitar o acesso dos alunos a infor-
maes que enriqueam sua compreenso sobre os assuntos em pau-
ta. As fontes potenciais de conhecimento so vrias: estudos do meio,
textos didticos e literrios, mapas, grficos, tabelas, estatsticas, de-
senhos, fotografias, pinturas, filmes, vdeos, depoimentos, entrevis-
tas; tantas quanto a criatividade e o senso de oportunidade do pro-
fessor propiciar. Para alguns temas mais fcil encontrar materiais
j selecionados e organizados didaticamente. Em outros casos, quando
se tratar de informaes mais atuais ou de mbito mais local, ser
preciso que o educador e os educandos organizem-se para realizar um
trabalho de pesquisa de fontes: recuperar a histria local atravs do
depoimento de moradores antigos, buscar materiais em rgos p-
blicos ou particulares, consultar especialistas na rea, organizar um
arquivo de matrias jornalsticas.
Um trabalho assim orientado requer um professor que tenha vi-
so crtica e interesse pelos fenmenos sociais e naturais e pelo pro-
cesso de produo do conhecimento. Isso no significa que ele deva
tornar-se um especialista em todos os assuntos, mas sim que encare o desafio
Umtrabalho assim
orientado requer um
professor que tenha
viso crtica e
interesse pelos
fenmenos sociais e
naturais e pelo
processo de
produo do
conhecimento
2
Sugestes de como desenvolver diversos tpicos dessa rea podem ser encontradas
nos livros Metodologia do ensino de Cincias, de Demtrio Delizoicov e Jos Andr Angotti
(So Paulo, Cortez, 1990), e Metodologia do ensino de Histria e Geografia, de Helosa Dupas
Penteado (So Paulo, Cortez, 1994).
172
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
de estar constantemente em busca de informaes novas que aprimorem seus
conhecimentos, analisando-as criticamente e levando-as para a sala de aula. Essa
atitude do educador-pesquisador que deve contagiar os alunos, motivando-
os no sentido da busca constante de novos conhecimentos.
Sntese dos objetivos da rea de
Estudos da Sociedade e da Natureza
Que os educandos sejam capazes de:
Problematizar fatos observados cotidianamente, interessando-se pela busca
de explicaes e pela ampliao de sua viso de mundo.
Reconhecer e valorizar seu prprio saber sobre o meio natural e social, inte-
ressando-se por enriquec-lo e compartilh-lo.
Conhecer aspectos bsicos da organizao poltica do Brasil, os direitos e de-
veres do cidado, identificando formas de consolidar e aprofundar a demo-
cracia no pas.
Interessar-se pelo debate de idias e pela fundamentao de seus argumen-
tos.
173
Fundamentos e objetivos da rea
Educao de jovens e adultos
Buscar informaes em diferentes fontes, process-las e analis-las criti-
camente.
Interessar-se pelas cincias e pelas artes como formas de conhecimento, interpretao
e expresso dos homens sobre si mesmos e sobre o mundo que os cerca.
Inserir-se ativamente em seu meio social e natural, usufruindo racional e solidariamente
de seus recursos.
Valorizar a vida e a sua qualidade como bens pessoais e coletivos, desenvol-
ver atitudes responsveis com relao sade, sexualidade e educao
das geraes mais novas.
Reconhecer o carter dinmico da cultura, valorizar o patrimnio cultural
de diferentes grupos sociais, reconhecer e respeitar a diversidade tnica e
cultural da sociedade brasileira.
Observar modelos de representao eorientao no espao e no tempo, fa-
miliarizando-se com a linguagem cartogrfica.
Compreender as relaes que os homens estabelecem com os demais elementos
da natureza e desenvolver atitudes positivas com relao preservao do
meio ambiente, analisando aspectos da Geografia do Brasil.
Compreender as relaes que os homens estabelecem entre si no mbito da
atividade produtiva e o valor da tecnologia como meio de satisfazer necessi-
dades humanas, analisando aspectos da Histria do Brasil.
174
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
Blocos de contedo
e objetivos didticos
O educando e o lugar de vivncia
A identidade do educando
Os jovens e adultos que procuram os programas de ensino fun-
damental nunca tiveram acesso escola, vivendo o estigma social da
condio de analfabetos, ou a freqentaram por curtos perodos, nela
percorrendo uma trajetria descontnua, marcada por experincias
de insucesso e excluso igualmente estigmatizadoras. Por esse moti-
vo, um aspecto fundamental da insero de jovens e adultos nesses
programas o fortalecimento de sua auto-estima, a afirmao de sua
identidade como cidados de direitos e como seres produtivos e cria-
tivos, intelectualmente capazes, detentores e produtores de cultura.
A recuperao da auto-estima, da identidade pessoal e cultural e
o reconhecimento mtuo dos educandos envolve a rememorao de
suas histrias de vida, de seus projetos e expectativas. Vale lembrar que
o aluno no deve ser forado a expor sua situao pessoal, mas sim
ser estimulado a faz-lo como um meio de integrar-se ao grupo. Em
turmas heterogneas, provvel que esse processo faa emergir con-
flitos entre diferentes modos de ser. A diversidade de caractersticas dos
educandos, que muitas vezes vista como um obstculo ao processo
de ensino-aprendizagem, deve ser encarada como uma oportunidade para que
o educador enfrente com o grupo os preconceitos e discriminaes sociais,
Umaspecto
fundamental da
insero de jovens e
adultos em
programas
educativos o
fortalecimento de
sua auto-estima
175
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
desenvolvendo valores e atitudes de solidariedade e tolerncia perante as dife-
renas de gnero, gerao, etnia e estilo de vida.
Na recuperao das histrias de vida dos alunos, tem papel importante a
valorizao das tradies culturais e do saber prtico que os educandos detm.
Adquiridos na vivncia familiar, comunitria ou profissional, esses saberes so
de extrema importncia para a relao dos alunos com o meio fsico e social;
eles no podem, portanto, ser ignorados ou desqualificados frente aos conhe-
cimentos transmitidos pela escola. O desafio que se apresenta ao professor o
de estabelecer conexes entre esses dois universos de conhecimento, permitindo
que o aluno amplie suas possibilidades de atuao, fortalecendo sua
autoconfiana.
Ao recuperarem suas histrias de vida, os educandos podem lo-
calizar data e local de nascimento, os vrios locais de moradia, moti-
vos das mudanas realizadas, situao familiar, vida profissional e es-
colar e tantas outras informaes relevantes. Atravs dessas ativida-
des, ser possvel ampliar as noes de tempo e espao, conhecer uni-
dades de medida do tempo cronolgico, de extenso e de rea, desen-
volver habilidades de orientao e representao espacial, introduzir
conceitos relacionados cultura, ao mundo do trabalho, aos proces-
sos migratrios e urbanizao. Essa tambm pode ser uma oportunide
de prestar aos alunos informaes sobre os documentos pessoais (cer-
tido de nascimento e casamento, RG, CPF, Carteira Profissional, Cer-
tificado de Reservista etc.), suas utilidades e meios de obteno.
O centro educativo
Outro desdobramento da recuperao da identidade consiste em
tratar do papel da escola na vida dos jovens e adultos. Entender a
educao como um direito bsico de desenvolvimento pessoal o
primeiro passo para que eles possam superar os sentimentos de infe-
rioridade e incapacidade, assumindo o papel de cidados conscien-
tes dos seus direitos. Ter clareza do papel da escola na sua vida e da
importncia social atribuda a ela fator de estmulo para a continuidade dos
estudos e dedicao a eles.
Na recuperao das
histrias de vida dos
alunos, tempapel
importante a
valorizao das
tradies culturais e
do saber prtico
176
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
Tambm necessrio tratar das caractersticas do trabalho escolar (pre-
sena, materiais, estudo, organizao, participao, disciplina etc.), do funci-
onamento do centro educativo (horrios, distribuio de funes e respon-
sabilidades, diviso e uso dos espaos, critrios de avaliao e promoo etc.)
e dos seus deveres e direitos como aluno, em especial aqueles relativos par-
ticipao na gesto democrtica da unidade escolar.
A dimenso territorial da identidade
O intenso processo de modernizao da economia brasileira ve-
rificado nas ltimas dcadas gerou profundas mudanas no campo e
desencadeou um verdadeiro xodo rural em direo s cidades. As-
sim, muitos dos educandos jovens e adultos so migrantes que expe-
rimentaram verdadeiros processos de desterritorializao e que
tal qual retirantes no campo ou errantes nas cidades vivem os
desajustes de inserir-se em novos espaos nos quais tm dificuldade
de reconstituir sua identidade. O educador pode auxiliar seus alunos
a conhecer melhor o lugar de suas vivncias presentes. O acesso a essas
informaes deve propiciar aos educandos usufruir dos recursos fsi-
cos, sociais e culturais disponveis em seu local de moradia, reivindi-
cando e colaborando com sua melhoria, zelando por sua preservao.
Isso pode ser realizado de vrias maneiras. Uma delas localizar
os servios sociais pblicos e privados disponveis no bairro ou cida-
de onde se localiza o centro educativo, garantindo o acesso a infor-
maes que podem ser utilizadas na vida cotidiana e que ajudem os
educandos a ampliar sua atuao social. Esse mapeamento das insti-
tuies deve dar conta dos endereos, da natureza e condies de
atendimento, dos horrios de funcionamento e da importncia delas
na vida individual e comunitria. So exemplos de instituies signi-
ficativas: escolas, hospitais, delegacias, cartrios civis e eleitorais,
prefeitura, administraes regionais, centros religiosos, partidos po-
lticos, associaes esportivas, de bairro, de mes, de consumidores,
de muturios, sindicatos, clubes, museus, cinemas, bibliotecas etc.
O educador pode
auxiliar seus alunos
a conhecer melhor o
lugar de suas
vivncias presentes
177
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Tpicos de contedo e objetivos didticos
O educando e o lugar de vivncia
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
A identidade Recuperar a histria pessoal por meio de relatos orais, escritos, de-
do educando senhos ou dramatizaes, valorizando positivamente sua experin-
cia de vida.
Outro aspecto importante refere-se recuperao das festas e tradies
locais. Investigar a origem desses eventos culturais uma boa oportunidade
de trabalhar noes de tempo passado e presente e de ampliar os referenciais
culturais dos alunos, ao mesmo tempo em que se abre espao para que eles
relembrem das tradies do seu local de origem, falando e escrevendo sobre
sua vivncia anterior.
O estudo do entorno prximo ao centro educativo e do lugar de
vivncia pode favorecer as capacidades de orientao e representa-
o espacial, atravs da interpretao e elaborao de croquis (repre-
sentao grfica de um espao realizada a mo livre, sem respeitar
rigorosamente as propores), maquetes, plantas ou mapas de espa-
os conhecidos.
3
Permite tambm perceber as transformaes ocorridas na loca-
lidade e no municpio com o passar do tempo, desenvolvendo a per-
cepo do tempo histrico. Alm da possibilidade de melhora do bem-
estar pessoal e social, essa abordagem pode oferecer a ocasio para a
ampliao desses conhecimentos para contextos maiores.
3
Orientaes metodolgicas de como introduzir os educandos na construo e leitu-
ra de mapas podem ser encontradas em O espao geogrfico: ensino e representao, de
Rosngela D. de Almeida e Elza Y. Passini (So Paulo, Contexto, 1991).
O estudo do entorno
prximo pode
favorecer as
capacidades de
orientao e
representao
espacial
178
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
Reconhecer a si prprio e seus pares enquanto portadores e produtores de
cultura, dotados de capacidade de ampliar seu universo de conhecimentos,
valores e meios de expresso.
Estabelecer uma relao emptica e solidria com os colegas, respeitando
as diferenas socioculturais, de gnero, gerao e etnia presentes no grupo.
Ordenar cronologicamente fatos significativos da vida pessoal, empregan-
do unidades de medida do tempo (anos, dcadas, meses) e estabelecendo
periodizaes pertinentes (infncia, adolescncia etc.).
Localizar nos mapas polticos do Brasil e do estado os municpios
de origem e de moradia atual.
Conhecer os vrios documentos de identificao pessoal e suas uti-
lidades (certido de nascimento, RG, ttulo de eleitor etc.).
O centro Reconhecer o valor pessoal e social da educao e os principais di-
educativo reitos constitucionais a ela relacionados.
Conhecer o calendrio escolar, situando cronologicamente eventos
e perodos significativos (dias letivos, frias, festividades etc.).
Conhecer as dependncias e equipamentos do centro educativo, ob-
servando seus aspectos fsicos e sociais e colaborando para sua ma-
nuteno ou melhoria.
Conhecer, analisar e respeitar as normas de funcionamento do cen-
tro educativo, formulando propostas para seu aperfeioamento.
Participar dos rgos de gesto democrtica do centro educativo,
conhecendo os direitos e deveres de seus vrios integrantes.
Espao de Observar, descrever e desenhar croquis de espaos geogrficos co-
vivncia nhecidos (lugar de origem, de moradia e trabalho, entorno da es-
cola etc.) empregando smbolos e legendas.
Observar e descrever formas de ocupao social do espao, anali-
sando seu aproveitamento ou degradao.
Interpretar e desenhar plantas simples empregando propores,
smbolos convencionais e legendas.
Identificar os principais rgos de administrao e servios (p-
blicos, privados e comunitrios) da regio, conhecer suas funes, analisando
179
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
sua qualidade e formulando sugestes para sua melhoria.
Relacionar as condies de saneamento bsico da regio e de seus servios
de sade com a incidncia e tratamento de doenas.
Identificar formas de participao individual e coletiva na comunidade, de-
senvolvendo atitudes favorveis melhoria de suas condies scio-
ambientais (saneamento bsico, coleta seletiva e reciclagem de lixo, mutires
de moradia, movimentos por melhoria dos servios, campanhas de solida-
riedade etc.).
Identificar os principais rgos de participao civil da regio (associaes
de bairro, sindicatos, partidos polticos, grupos religiosos etc.), distinguin-
do as respectivas esferas de atuao.
Identificar, descrever e recuperar as origens das principais festividades e
outras tradies culturais da regio.
Observar mudanas ocorridas na regio, recuperando seu passado por meio
de relatos orais de moradores antigos ou fontes documentais (fotos, jornais,
livros etc.).
O corpo humano e suas necessidades
A conscincia do prprio corpo
O conhecimento do prprio corpo algo que costuma interessar bas-
tante os jovens e adultos. Os contedos relacionados a essa temtica devem
propiciar uma melhor compreenso das condies de gerao, manuteno e
melhoria da qualidade da vida. A conscincia de nossas necessidades vitais e
de como atender a essas necessidades da melhor forma possvel que devem
motivar o conhecimento da anatomia e do funcionamento do corpo.
O estudo de seu esquema corporal, dos mecanismos que possibilitam o
movimento e do funcionamento dos rgos dos sentidos um bom caminho
para que os educandos tomem conscincia sobre o modo como nos relaciona-
mos com o meio exterior, biolgica e socialmente, bem como sobre os limites
180
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
do prprio corpo. Podem tambm iniciar-se na compreenso de processos que
ocorrem no interior do seu corpo.
As funes vitais
Nessa perspectiva, destacam-se as questes relativas alimentao. Nor-
malmente, os alunos detm conhecimentos prticos sobre o valor dos alimentos
e a importncia da gua, cabendo ao professor tratar de esclarec-los, ampli-
los e complement-los com informaes cientficas. Pode-se, para isso, suge-
rir que os educandos elaborem listas, classificando os alimentos segundo di-
versos critrios (origem, forma de consumo, funes de seus nutrientes no or-
ganismo). Cabe alertar os alunos sobre as vantagens de consumir produtos re-
gionais da poca e interess-los por averiguar a composio e a validade dos
produtos alimentcios industrializados. Tambm fundamental enfatizar a
importncia da higiene na preparao dos alimentos e especialmente da qua-
lidade da gua utilizada para beber e cozinhar. Ao estudar a funo digestiva,
o foco deve ser as transformaes que os alimentos sofrem dentro do nosso
corpo para serem aproveitados. Outros aspectos a serem destacados so as
parasitoses intestinais, formas de infestao, transmisso e preveno.
A reproduo humana tambm desperta muito interesse nos educandos
jovens e adultos. A maioria deles j tem vida sexual ativa, mas muitas dvidas
e curiosidades em relao a este tema, cercado de preconceitos e tabus. A res-
ponsabilidade do educador buscar esclarecer dvidas e questionar precon-
ceitos, considerando a importncia de os educandos terem informaes cla-
ras para desenvolverem atitudes saudveis e responsveis com relao sexu-
alidade. No estudo do funcionamento dos aparelhos reprodutores masculino
e feminino, devem ser abordadas as funes de cada rgo, numa perspectiva
comparativa. A partir do estudo da fecundao, interessante que os educandos
conheam os diferentes mtodos de contracepo e discutam a importncia
do planejamento familiar. Especialmente para os jovens, essas informaes
podem ser cruciais, dadas as estatsticas alarmantes referentes a adolescentes
A maioria dos
educandos j tem
vida sexual ativa,
mas muitas dvidas
e curiosidades em
relao a este tema,
cercado de
preconceitos e tabus
181
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
que engravidam precocemente e morrem por causa de abortos realizados ile-
galmente, em pssimas condies. A discusso sobre o planejamento familiar
deve ser realizada de forma aberta, respeitando-se a liberdade individual de
cada um, seus princpios e valores morais.
Tambm relacionados a atitudes responsveis com relao paternidade
e maternidade esto os conhecimentos sobre o desenvolvimento fetal, os
cuidados pr-natais, o nascimento e o aleitamento materno. A compreenso
das caractersticas e necessidades especficas do beb, da criana e do adoles-
cente tambm pode ajudar pais e mes (ou futuros pais e mes) a relaciona-
rem-se com seus filhos, de modo a favorecer-lhes o desenvolvimento fsico,
psicolgico e social.
4
A sade individual e coletiva
Integrando conhecimentos sobre diferentes funes do corpo,
aquelas relacionadas manuteno da vida individual e as relacio-
nadas preservao da espcie, os educandos devem ser levados a
refletir sobre sua condio de membros de uma coletividade natural
e social, identificando semelhanas e diferenas entre os seres huma-
nos e outros animais, cujos organismos realizam as mesmas funes.
A sade deve ser encarada como um bem individual e coletivo e,
portanto, como responsabilidade de cada um, da sociedade e do Esta-
do. Concepes prvias sobre o cuidado da sade e hbitos de higiene
devem ser analisados criticamente, visando conscientizar os educandos
sobre a necessidade da preveno de doenas. O ndice de mortalida-
de infantil em nosso pas um forte indicador da limitada educao
4
Como fonte para trabalhar essas temticas com jovens e adultos podem ser utiliza-
dos folhetos informativos dos servios de sade, enciclopdias ou guias de sade dirigidos
ao pblico em geral. Um especialmente til, dadas a preciso das informaes e a riqueza
de ilustraes, o Guia mdico da famlia, da Associao Paulista de Medicina (So Paulo,
Nova Cultural; Best Seller, 1994). Especificamente sobre sexualidade, um bom subsdio
Sexo se aprende na escola, do GTPOS Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientao Se-
xual (So Paulo, Olho dgua, 1995).
Relacionados a
atitudes responsveis
comrelao
paternidade e
maternidade esto os
conhecimentos sobre
o desenvolvimento
fetal, os cuidados
pr-natais, o
nascimento e o
aleitamento materno
182
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
sanitria da populao e, principalmente, da precariedade do nosso sistema de
ateno sade. Alm das atitudes individuais, necessrio debater medidas
que envolvem uma mobilizao coletiva como, por exemplo, as relativas ao
saneamento bsico (a qualidade da gua e dos alimentos que ingerimos, do ar
que respiramos, a destinao do esgoto e do lixo) e a melhoria dos servios de
assistncia mdica. Um passo importante nesse sentido aproximar os educandos
dos servios pblicos e dos profissionais de sade, promovendo palestras, vi-
sitas, eventos e iniciativas conjuntas da escola com os centros de sade.
Tpicos de contedo e objetivos didticos
O corpo humano e suas necessidades
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
A espcie Reconhecer-se como ser vivo e, portanto, parte da natureza.
humana Identificar os seres humanos como animais mamferos.
Identificar a alimentao como mecanismo de manuteno do indivduo e
a reproduo como mecanismo de manuteno da espcie.
O corpo Identificar o esquema corporal (cabea, tronco e membros) relacio-
humano nando as funes que cada regio desempenha.
Identificar a simetria bilateral externa do corpo humano e a pro-
porcionalidade entre seus constituintes nas diversas fases de cres-
cimento.
Identificar estruturas de proteo das regies vitais (crnio, coste-
las etc.).
Identificar as estruturas responsveis pelo movimento, relacionan-
do-as com os problemas posturais ou decorrentes de falta ou ex-
cesso de exerccios.
183
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Identificar os rgos dos sentidos, seu funcionamento e cuidados necess-
rios sua preservao.
Conhecer necessidades especiais de pessoas portadoras de deficincias.
Alimentao Entender a digesto como transformao dos alimentos em subs-
tncias que o corpo pode utilizar.
Identificar rgos do aparelho digestivo e as funes que desem-
penham.
Identificar a funo da gua para nosso corpo.
Classificar os alimentos mais comuns segundo critrios diversos (ori-
gem animal e vegetal; consumido cru ou cozido, fresco ou em con-
serva etc.).
Classificar os alimentos mais comuns segundo a funo de seus
nutrientes para o corpo.
Compreender referncias quanto a prazo de validade, composio
e uso de conservantes em embalagens de produtos alimentares in-
dustrializados.
Comentar criticamente os hbitos alimentares.
Compreender a importncia da higiene da gua e dos alimentos.
Conhecer as formas de transmisso das parasitoses intestinais, me-
didas de tratamento e preveno.
Reproduo Identificar os rgos dos aparelhos reprodutores feminino e mas-
culino.
Explicar de forma simples o seu funcionamento, relacionando os
rgos com as funes que desempenham.
Explicar, de forma simples, como se d a fecundao.
Conhecer mtodos de contracepo, seu funcionamento e condi-
es de uso.
Explicar, de forma simples, como se d o desenvolvimento fetal, re-
lacionando-o importncia dos cuidados pr-natais.
Conhecer os riscos relacionados gravidez precoce e tardia.
Conhecer as vantagens e desvantagens do parto normal e cesariana.
Compreender a importncia do planejamento familiar.
184
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
Identificar as principais doenas sexualmente transmissveis, conhecer for-
mas de preveno e tratamento.
Aplicar conhecimentos sobre a reproduo humana para analisar
as atitudes pessoais com relao sexualidade.
Desenvol- Identificar e comentar hbitos de cuidado com as crianas.
vimento Conhecer as necessidades alimentares especficas da primeira infn-
humano cia (particularmente a importncia do aleitamento materno).
Conhecer as principais doenas causadoras de mortalidade infantil, formas
de preveno e tratamento.
Conhecer a importncia da vacinao.
Conhecer as condies necessrias para que as crianas tenham um
bom desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social.
Conhecer as principais caractersticas fisiolgicas e psicolgicas da
puberdade e adolescncia.
Analisar formas de relacionamento saudvel entre crianas, ado-
lescentes, jovens e adultos dentro e fora da famlia.
Discutir os cuidados necessrios de ateno sade dos adultos en-
quanto indivduos e enquanto trabalhadores.
Conhecer as principais caractersticas fisiolgicas e psicolgicas da
terceira idade.
Conhecer os riscos do consumo de drogas que provocam depen-
dncia fsica (tabaco, lcool, psicotrpicos), conhecer formas de tra-
tamento da dependncia de drogas.
Cultura e diversidade cultural
O carter dinmico da cultura
Na origem do vasto campo de conhecimentos das cincias, reside uma
pergunta que conduz todas as demais: o que torna os seres humanos diferen-
tes dos demais seres vivos? Sabemos que no h uma resposta nica, simples
185
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
e direta para essa questo. A longa, diversa e complexa histria das religies,
da filosofia e das cincias o testemunho da busca incessante dos seres hu-
manos por compreender e dar sentido sua existncia.
Nesta proposta curricular, oferecemos um lugar destacado ao conceito de
cultura, pois ele permite compreender o sentido dos atos humanos como fru-
tos da convivncia social. Tal qual outros seres vivos, os humanos tm neces-
sidades de sobrevivncia e recorrem aos recursos disponveis na natureza para
satisfaz-las. Os atos humanos cotidianos relacionados satisfao de necessi-
dades, porm, no se resumem, como na vida animal ou vegetal, sucesso diria
de movimentos visando simples sobrevivncia fsica. Ao longo da histria,
as atividades fundamentais de comer, beber, repousar e reproduzir-se, por fora
da convivncia social, transformaram-se cada vez mais em complexas e distin-
tas esferas de trabalho, lazer, religio, educao, poltica etc. A luta pela sobre-
vivncia na vida humana implica uma trama de relaes sociais, econmicas,
polticas, enfim, culturais, que lhe confere uma heterogeneidade no encontra-
da na vida de outras espcies.
disso que trata este eixo temtico, e o objetivo geral do trabalho com os
contedos que lhe so prximos criar as condies para que os alunos enten-
dam que a identidade dos diversos grupos sociais garantida pelo conjunto de
conhecimentos, crenas, moral, costumes, leis e hbitos desenvolvidos pelos seus
integrantes. So esses elementos que lhes conferem traos prprios, diferenci-
ando-os de outros.
fundamental que os educandos se reconheam como portado-
res e produtores de idias, linguagens, conhecimentos e sentimentos
necessrios constituio e transformao do seu espao psicolgi-
co, social e fsico. Desde o nascimento, o ser humano recebe influn-
cias e informaes do grupo: os hbitos alimentares, o vesturio, o
costume de dormir em cama ou rede, a lngua, a identificao do pai
e me, as brincadeiras infantis, o aprendizado para o trabalho, as
buscas amorosas etc. Todas as suas atividades so informadas pelos
padres culturais da sociedade em que vive. Ao mesmo tempo, ele
tambm atua, prope e cria, contribuindo para a transformao de
Oferecemos umlugar
destacado ao
conceito de cultura,
pois ele permite
compreender o
sentido dos atos
humanos como frutos
da convivncia social
186
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
sua cultura. Por isso, a construo da identidade cultural um processo per-
manente.
esse carter dinmico da cultura que garante o seu desenvolvimento e
modificao constante, o que nem sempre percebido pelas pessoas. Exemplo
disso a resistncia que os mais velhos tm em relao aos comportamentos
ou aos valores dos jovens. essa capacidade de atualizao que garante o en-
riquecimento cultural por meio das novas criaes da prpria sociedade ou do
que adquirido de outros grupos.
A diversidade cultural da sociedade brasileira
A sociedade brasileira resultado da confluncia e dos conflitos estabe-
lecidos ao longo da histria por etnias distintas, com universos culturais mui-
to diferentes entre si. Mesmo no interior de cada um dos grandes grupos
populacionais que a formam no h homogeneidade. No podemos falar dos
ndios do Brasil como um nico povo. Dentre eles existem mais de 200 po-
vos, que falam cerca de 180 lnguas e que possuem caractersticas muito dis-
tintas entre si, apresentando uma diversidade cultural extraordinria.
5
O mesmo
acontece com os negros, provenientes de diversas naes africanas, com tra-
os culturais prprios. Se tomarmos os brancos, encontramos portugueses,
italianos, ingleses, espanhis, holandeses e tantas outras nacionalidades, cada
qual com suas caractersticas. A eles somou-se neste ltimo sculo um signi-
ficativo contingente de imigrantes orientais. Todos esses povos, portadores de
experincias, valores, expresses artsticas e conhecimentos, encontraram-se no
territrio brasileiro e dotaram nosso pas de uma cultura plural.
Essas heranas distintas do tons originais s vrias regies brasileiras.
assim que encontramos, por exemplo, sotaques to diferentes entre gachos,
5
Um precioso conjunto de subsdios aos educadores sobre a temtica indgena pode
ser encontrado na obra organizada por Aracy L. da Silva e Lus D. B. Grupioni, A temtica
indgena na escola: novos subsdios para professores de 1 e 2 graus (Braslia, MEC; Mari;
Unesco, 1995).
A construo da
identidade cultural
umprocesso
permanente
187
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
cariocas e baianos, ou traos fsicos distintos entre paraenses, catarinenses e
mineiros. Todas essas diferenas ganham ainda marcas particulares quando se
manifestam nos diferentes grupos sociais, no campo ou na cidade. As migra-
es internas e os meios de comunicao de massa, por sua vez, promovem a
difuso de tradies regionais e criam as condies para que a fuso de influ-
ncias distintas gerem novas expresses culturais.
Sugerimos a abordagem das manifestaes artsticas da cultura brasilei-
ra como um aspecto essencial da constituio de nossa identidade, como ex-
presso da viso de mundo dos diferentes grupos sociais que formam a soci-
edade brasileira.
Recomenda-se tambm abordar o papel dos meios de comuni-
cao de massa, que nos dias de hoje so um veculo importantssimo de dis-
seminao da cultura, levando a todos os rinces do pas informaes e di-
verso, mas tambm padres de consumo, gostos e valores. Atravs do rdio
e da televiso, intensificam-se as influncias culturais entre as regies e difun-
dem-se produtos culturais inclusive de outros pases. importante que os
educandos jovens e adultos tomem conscincia dessas influncias, do poder
Manifestaes
artsticas da cultura
brasileira so
aspecto essencial
da constituio de
nossa identidade
188
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
dos meios de comunicao na formao da nossa cultura.
Enfim, a sociedade brasileira comporta uma grande diversidade cultural
que deve ser encarada como um patrimnio a ser preservado e enriquecido.
Trata-se de ressaltar que todos os brasileiros so cidados com direitos cons-
titucionais iguais, inclusive o direito de preservar sua cultura. A diversidade
cultural tem marcado a histria da humanidade e manifesta-se com traos muito
fortes entre ns. A cultura constitui dinamicamente a identidade dos povos e
por isso mesmo mantida com zelo por eles. No trabalho com os alunos jo-
vens e adultos esse ponto precisa ser tratado com especial ateno. A consti-
tuio da identidade nacional, algo construdo cotidianamente, no pode ocor-
rer custa da eliminao das marcas de qualquer dos povos ou grupos que
compem a sociedade brasileira. O respeito e a considerao pelo modo de
ser do outro deve ser desenvolvido como um valor constitutivo da democra-
cia.
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Cultura e diversidade cultural
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Cultura Exprimir, por meio de exemplos, o conceito de cultura como algo dinmi-
co e plural.
Observar mudanas ocorridas em aspectos da cultura no passado e no pre-
sente (concepes cientficas, tecnologias, formas de trabalho, hbitos ali-
mentares, padres de moralidade, expresses artsticas etc.).
189
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Diversidade Reconhecer o carter multitnico e a diversidade cultural da socie-
cultural da dade brasileira, adotando perante tal pluralidade atitudes isen-
sociedade tas de preconceitos.
brasileira Reconhecer os povos indgenas como primeiros habitantes do Brasil e seus
direitos preservao da identidade cultural e ao territrio.
Reconhecer, atravs de exemplos, a diversidade cultural e lingstica dos
povos indgenas do Brasil, valorizando-a enquanto elemento constitutivo
do patrimnio cultural da sociedade brasileira.
Analisar exemplos de conflitos culturais, pela posse da terra e pro-
blemas de sade decorrentes de contatos entre os povos indgenas
brasileiros e a sociedade no indgena.
Localizar, no planisfrio (mapa-mndi) poltico, a frica e as regies de ori-
gem dos principais grupos tnicos africanos trazidos ao Brasil durante a
vigncia da escravido.
Conhecer traos culturais dos principais grupos tnicos africanos presen-
tes no Brasil, valorizando-os enquanto elementos constitutivos do patrim-
nio cultural da sociedade brasileira.
Localizar, no planisfrio (mapa-mndi) poltico, os continentes e os pases
de origem de alguns grupos de imigrantes que se deslocaram para o Brasil
ao longo de sua histria.
Conhecer traos culturais de algumas nacionalidades que imigra-
ram para o Brasil, valorizando-os enquanto elementos constitutivos
do patrimnio cultural da sociedade brasileira.
Conhecer a legislao que probe e pune a prtica de racismo na
sociedade brasileira.
Identificar traos culturais caractersticos de diferentes regies do
Brasil.
Relacionar influncias culturais aos movimentos migratrios na
Histria do Brasil.
Expresses Conhecer diferentes manifestaes artsticas (msica, dana, tea-
artsticas tro, pintura, escultura, arquitetura etc.) e seu valor para o desen-
volvimento da cultura e da identidade dos povos.
190
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
Conhecer e valorizar manifestaes artsticas da cultura popular brasileira.
Apreciar obras de artistas brasileiros reconhecidos.
Reconhecer a importncia de preservao do patrimnio cultural e artsti-
co dos povos.
Meios de Analisar criticamente o papel dos meios de comunicao de massa
comunicao na dinmica cultural brasileira, reconhecendo sua responsabilida-
de massa de social.
Os seres humanos e o meio ambiente
A cultura uma dimenso essencial do seres humanos; entretanto, uma
compreenso mais profunda da nossa condio implica o reconhecimento de
que somos tambm parte da natureza. Os seres humanos so capazes de trans-
formar o mundo natural mas no deixam de estar submetidos aos seus ciclos:
aos dias e s noites, vida e morte, por exemplo. A cultura, enfim, o modo
como nos relacionamos com a natureza nossa volta e com a nossa prpria
natureza. Os contedos reunidos nesse bloco enfocam essencialmente essas
relaes e seu estudo constitui uma possibilidade de ampliar a noo de espa-
o dos educandos, familiarizando-os com suas representaes, e introduzi-los
na compreenso de modelos das cincias naturais.
Ecossistemas e ciclos naturais
Ao longo da histria, a humanidade alterou profundamente seu espao
natural. Se antigamente a natureza podia ser encarada como fonte inesgot-
vel de recursos a serem explorados, hoje todos sabemos que uma explorao
indiscriminada e predatria pode levar ao esgotamento de recursos vitais e que,
portanto, o desenvolvimento econmico deve ser planejado de modo a con-
templar a preservao do meio ambiente. Os educandos podem aprofundar
191
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
sua conscincia dessa problemtica, atentando para as relaes de
interdependncia que existem entre os seres vivos e o meio ambiente. Nessa
perspectiva deve ser orientada a introduo de alguns conceitos bsicos das
cincias naturais como o de ser vivo e ambiente fsico, cabendo tambm a anlise
de tpicos como cadeias alimentares, a distino entre animais, vegetais e
microorganismos decompositores.
Esta tambm uma oportunidade de familiarizar os alunos com sistemas
de classificao utilizados pelas cincias, cujas categorias nem sempre so
estabelecidas por atributos aparentes. comum, por exemplo, jovens e adul-
tos com pouca escolaridade no inclurem insetos ou peixes na categoria de
animais. Partindo de classificaes propostas pelos prprios alunos, o profes-
sor pode conduzi-los observao de semelhanas entre animais aparentemente
bem diferentes, levando-os generalizao dos conceitos.
Um aspecto a ser constantemente enfatizado que as relaes entre os
seres vivos e o ambiente fsico constituem um processo contnuo de transfor-
maes, no qual os seres vivos modificam o ambiente ao retirar e devolver a
ele substncias. Esses ciclos de transformaes dependem, entretanto, de um
certo equilbrio entre seus componentes. Transformaes produzidas interna
Se antigamente a
natureza podia ser
encarada como
fonte inesgotvel de
recursos a serem
explorados, hoje
todos sabemos que
uma explorao
indiscriminada e
predatria pode
levar ao
esgotamento de
recursos vitais
192
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
e externamente em um ambiente podem modific-lo ou destru-lo completa-
mente. Quando o volume e a intensidade das modificaes realizadas no
ambiente impossibilitam que ele recobre seu equilbrio, ocorre a degradao
ambiental. Sob esse ponto de vista devem ser avaliados os efeitos da interveno
humana no meio ambiente, visando desenvolver atitudes conservacionistas nos
educandos.
A produo dos espaos rural e urbano
O estudo de espaos rurais e urbanos um bom modo de con-
textualizar o estudo do meio ambiente e dos efeitos da interveno
humana sobre ele. A diversidade da natureza combinada multiplicidade de
seus usos sociais e econmicos resultaram, ao longo da histria, na produo
de espaos diferenciados entre si, mas que mantm profundas relaes de
complementaridade. A distino entre rural e urbano o caso mais genrico
dessa diferenciao espacial, fazendo parte da experincia de vida de grande
parte dos educandos de programas destinados a jovens e adultos.
Esse tpico de estudo permite no s elaborar conceitos como zona rural,
zona urbana e municpio, relacionando-os s respectivas atividades econmi-
cas e peculiaridades culturais, mas presta-se tambm a acurar o sentido de
observao, desenvolvendo as capacidades de selecionar atributos das paisa-
gens, comparar semelhanas e diferenas, assim como classificar os espaos
geogrficos segundo determinados critrios. um tpico de contedo que
permite ampla explorao da capacidade de elaborar e interpretar mapas,
podendo ser desdobrado para o estudo de relaes mais complexas tais como
a estrutura fundiria, os movimentos migratrios, as redes urbanas e os pro-
cessos de metropolizao.
Nos ltimos anos, a questo ecolgica tem ganhado relevo em nossa so-
ciedade. , de fato, uma questo crucial da atualidade, ainda que muitas vezes
seja abordada ingenuamente como um modismo. importante o educador
abordar o tema com seriedade, tratando de conscientizar os educandos da
complexidade dos problemas envolvidos. No caso de um pas como o Brasil,
O estudo de espaos
rurais e urbanos
umbommodo de
contextualizar o
estudo do meio
ambiente e dos
efeitos da
interveno humana
sobre ele
193
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
por exemplo, como conciliar o necessrio crescimento econmico com a pre-
servao dos recursos naturais? A resposta no simples e exigir, em cada caso,
uma boa anlise da situao, a considerao de diferentes pontos de vista, dos
vrios lados da questo, dos diferentes interesses em jogo.
6
A morada dos homens no universo
As medidas de tempo e os sistemas de orientao espacial que
empregamos esto relacionados forma e ao movimento do nosso
planeta no universo. Por esse motivo, pode ser relevante nesse nvel
de ensino introduzirmos o estudo da Terra como corpo celeste. Alm
disso, a introduo desse tpico de contedo pode despertar a curio-
sidade dos alunos para explicaes sobre o universo que habitam,
oferecendo uma boa oportunidade para problematizarem suas concepes,
confrontando-as com informaes cientficas.
Para estudar fenmenos nessa escala de grandeza, cuja compreen-
so exige um grau maior de abstrao, preciso recorrer mediao
de modelos de representao: o globo terrestre, diagramas do sistema
solar, projees em planetrios etc. Pode ser interessante tambm tra-
zer para os alunos modelos de representao do mundo na Antigidade ou na
Idade Mdia, mostrando como foi evoluindo a concepo dominante dos
homens sobre o universo e o lugar que nele ocupamos.
muito comum encontrar educandos jovens e adultos que acei-
tam a idia de que a Terra redonda, que reconhecem o globo como repre-
sentao do nosso planeta, mas crem que ns vivemos dentro dessa bola,
identificando a forma circular do globo com a sua observao da abbada
celeste. Nesses assuntos, mais que em outros, as concepes prvias dos alu-
nos costumam estar bastante distantes das concepes cientficas. Por esse
Questes ecolgicas
exigema
compreenso dos
diferentes
interesses emjogo
6
Sugestes didticas de como abordar a temtica ambiental no ensino fundamental
podem ser encontradas no Guia do professor de1 e2 graus, editado pela Cetesb (So Paulo,
Secretaria do Meio Ambiente, 1987), ou em Educao ambiental: uma abordagem pedag-
gica dos temas da atualidade, organizado por Vera M. Ribeiro (So Paulo; Erexim, CEDI;
CRAB, 1992).
194
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
motivo, fundamental que o professor tome como ponto de partida as con-
cepes dos alunos, tratando de question-las a partir do confronto com as
concepes dos colegas e com os modelos propostos pelas cincias.
Uma compreenso mais integral e aprofundada desses fenmenos exigi-
r, certamente, que os alunos avancem em seu nvel de escolaridade. Por esse
motivo, no recomendvel que, nesse nvel, insistamos em que memorizem
informaes que tero pouca significao. O fundamental aqui instigar a
curiosidade dos educandos. Afinal, o que fazemos ns neste pequeno plane-
ta? Como surgiu o universo? Existir vida nas outras partes do universo? Temos
assim uma boa oportunidade de fomentar o interesse e a valorizao do co-
nhecimento humano, o respeito por tudo que sabemos, e principalmente, por
tudo que ignoramos. Essa sabedoria pode bastar para despertarmos nos
educandos o respeito, a admirao e o zelo por um planeta que abriga algo
to raro e precioso como a vida.
fundamental que o
professor tome como
ponto de partida as
concepes dos
alunos, tratando de
question-las a
partir do confronto
comas concepes
dos colegas e com
os modelos
propostos pelas
cincias
Tpicos de contedo e objetivos didticos
O homeme o meio ambiente
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Ecossistemas Distinguir seres vivos e ambiente fsico, com base na existncia ou
e ciclos no do ciclo vital (nascer, crescer, reproduzir e morrer).
naturais Reconhecer-se como ser vivo e, portanto, parte da natureza.
Classificar os seres vivos como animais, vegetais e decompositores a partir
do atributo forma de obteno de energia.
Reconhecer a existncia de animais e vegetais microscpicos.
195
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Reconhecer a existncia de microorganismos decompositores por meio da an-
lise de fenmenos como apodrecimento e fermentao.
Identificar relaes de dependncia entre os seres vivos e o ambiente fsi-
co.
Observar exemplos de cadeias alimentares, identificando os produtores,
consumidores e decompositores.
Observar exemplos de transformaes ambientais que ocorrem naturalmen-
te.
Compreender a poluio ou degradao dos ambientes como resultado da
impossibilidade de reequilbrio natural, dada a intensidade e a rapidez com
que os seres humanos transformam o ambiente natural.
Espaos Observar diferenas entre os espaos rural e urbano, relacionan-
rurais e do-os s atividades econmicas caractersticas do campo e da ci-
urbanos dade.
Identificar fluxos econmicos entre cidade e campo (matrias-pri-
mas, insumos, fora de trabalho, consumo, sistemas de transpor-
te, comunicao e servios).
Localizar o municpio de moradia em mapas fsicos do Brasil e do
estado, interpretando os smbolos e legendas empregados.
Problemas Conhecer caractersticas do solo e reconhecer sinais de sua degra-
ambientais dao (eroso, compactao, desertificao).
das zonas Conhecer as principais formas de conservao do solo (rodzio, adu-
rurais e bao natural e artificial, cobertura vegetal).
urbanas Conhecer os riscos do uso indiscriminado de agrotxicos.
Conhecer as principais formaes vegetais existentes no territrio
brasileiro (florestas, cerrado, caatinga, campos, vegetao costei-
ra), particularmente a cobertura vegetal original do municpio.
Discutir conseqncias do desmatamento e extino de vegetais e
animais.
Identificar causas da poluio do ar e suas conseqncias, especial-
mente para a sade das pessoas.
196
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
Identificar causas e conseqncias da poluio das guas.
Conhecer em seus traos gerais os processos de captao, tratamento e dis-
tribuio da gua potvel, identificando causas e conseqncias da po-
luio de mananciais.
Identificar e comentar problemas relacionados destinao dos
esgotos e do lixo industrial e domstico.
Localizar no mapa do Brasil as principais bacias hidrogrficas bra-
sileiras e no mapa do estado os rios que abastecem o municpio.
Identificar e comentar problemas relativos ao trnsito nos grandes
centros urbanos.
Conserva- Identificar e comentar iniciativas pessoais, coletivas e governamen-
cionismo tais de defesa do meio ambiente.
Desenvolver atitudes positivas relacionadas preservao dos recursos
naturais e do meio ambiente rural e urbano.
O planeta Reconhecer a Terra como corpo celeste em movimento.
Terra Distinguir corpos celestes luminosos (estrelas e cometas) e ilumi-
nados (planetas e satlites).
Localizar a Terra no sistema solar, recorrendo a modelos visuais (maquetes,
esquemas etc.).
Reconhecer os movimentos da Terra (rotao e translao) e da Lua
e suas conseqncias sobre o ambiente terrestre (ocorrncia de dias e noi-
tes, estaes do ano, eclipses, mars).
Observar fenmenos naturais que a cincia explica pelo princpio de atra-
o dos corpos (gravidade).
Identificar o globo terrestre e o planisfrio (mapa-mndi) como mo-
delos de representao da Terra.
Localizar, a partir do globo, o interior, a crosta e a atmosfera ter-
restre.
Observar, no globo terrestre e no planisfrio (mapa-mndi), os ocea-
nos e continentes.
Localizar o Brasil e o continente americano no planisfrio (mapa-
mndi) poltico.
197
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
As atividades produtivas e as relaes sociais
Trabalho, tecnologia e emprego
O trabalho pode ser definido como sendo a atividade consciente e so-
cial do ser humano, com o objetivo de transformar o meio ambiente em que
habita segundo necessidades sociais, histrica e culturalmente definidas.
uma atividade eminentemente criativa e por isso em constante transforma-
o. Do machado de pedra aos computadores, h uma vastssima histria de
mudanas e aperfeioamentos de mtodos de trabalho voltados para o au-
mento da produtividade.
Certamente, o modo como os homens se relacionam com seu meio
ambiente natural tem muito a ver com o modo como os homens se relacio-
nam entre si, com a dinmica da sociedade. Na medida em que o trabalho
aumentou a produtividade por meio da sua diviso social e do uso de mto-
dos e tcnicas cada vez mais modernas e eficientes, desenvolveram-se rela-
es singulares entre os integrantes de determinadas sociedades. O trabalho
uma dimenso essencial da vida humana e da organizao da sociedade.
A maioria dos jovens e adultos das camadas populares que ingressam
nos programas de educao bsica j esto inseridos no mundo do trabalho
e os temas econmicos lhes so familiares. Como os demais cidados, eles
tm que lidar cotidianamente com a dinmica dos mercados de trabalho e
de consumo, com preos e salrios, com o valor dos impostos e da moeda,
as taxas de juros dos emprstimos e credirios etc. Esto habituados a escu-
tar o jargo econmico que invade os telejornais e se incorpora linguagem
do dia-a-dia. Mas a esfera econmica da vida social tornou-se de tal forma
A esfera econmica
da vida social
tornou-se de tal
forma complexa que,
para compreender
seus mecanismos,
necessrio um
grande esforo de
abstrao
Empregar os pontos cardeais como sistema de referncia e orientao no
espao terrestre.
198
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
O estudo das
relaes de trabalho
pode ser uma
oportunidade para
se introduzir os
educandos na
compreenso da
dimenso histrica
da sociedade
complexa que, para compreender seus mecanismos, necessrio um grande
esforo de abstrao.
Um dos passos necessrios a este exerccio de abstrao compreender
as relaes de interdependncia das atividades econmicas. Uma abordagem
inicial dessas relaes pode ser realizada atravs da classificao das ativida-
des econmicas em setores (primrio, secundrio e tercirio) e nos seus gran-
des ramos (extrativismo, minerao, agricultura, pecuria, indstria, comrcio
e servios), acompanhada da anlise dos fluxos que se estabelecem entre um
e outro setor ou entre os ramos de atividade (sistemas de transporte, comer-
cializao, comunicaes etc.). A anlise do processo de produo e circula-
o de um determinado produto, desde a matria-prima at seu consumo fi-
nal, compreendendo o trabalho que incide sobre cada uma das etapas do pro-
cesso, um exerccio til a esta finalidade.
Tambm necessrio abordar o modo como o rpido processo
de mudana na estrutura econmica afeta a vida das pessoas. O de-
senvolvimento tecnolgico na agropecuria e na indstria tem cria-
do novas exigncias com relao qualificao profissional e, ao
mesmo tempo, a reduo da demanda de mo-de-obra como tendncia cres-
cente, a expulsar contingentes considerveis de trabalhadores, que buscam se
empregar no setor de servios, em expanso, ou recorrem ao trabalho infor-
mal, assalariado ou por conta prpria. Nesse quadro, o desemprego desponta
como um problema no mais relacionado apenas desqualificao profissio-
nal ou a crises episdicas, mas como tendncia macroeconmica.
Relaes de trabalho na histria brasileira
O estudo das relaes de trabalho pode ser tambm uma opor-
tunidade para se introduzir os educandos na compreenso da dimen-
so histrica da sociedade. Para tanto, o tema pode ser contextualizado na
Histria do Brasil, identificando relaes sociais de trabalho que predomina-
ram em diferentes perodos: o trabalho baseado em relaes de parentesco, o
trabalho escravo e o trabalho assalariado. Tambm um modo de levar aos
199
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
alunos informaes sobre aspectos histricos da cultura de seu pas, que po-
dem ajud-los a compreender melhor questes da atualidade. Nessa aborda-
gem, devero emergir e ser exploradas noes como as de cooperao e con-
flito, justia e injustia, explorao, necessidade e liberdade.
Nas sociedades indgenas, a diviso do trabalho baseada fundamental-
mente nas relaes de parentesco e na posse coletiva do territrio. Podemos
iniciar um estudo dessas sociedades atravs de uma abordagem cronolgica,
identificando aspectos de sua cultura tradicional e o impacto causado pelo
contato com os colonizadores. Podemos tambm tratar o tema a partir dos
problemas atuais vividos pelas comunidades indgenas brasileiras, especialmente
a sua luta pela terra, no confronto com uma sociedade regida por outros pa-
dres econmicos e culturais.
Podemos tambm identificar relaes de trabalho baseadas no parentes-
co em nossa sociedade, ainda que esta no seja a relao de trabalho
determinante da nossa economia. o caso, por exemplo, da produo famili-
ar que caracteriza grupos camponeses. o que costuma ocorrer tambm com
o trabalho domstico de forma geral. Tem-se a uma boa oportunidade para
discutir o papel da mulher em nossa sociedade, de identificar os afazeres do-
msticos tambm como trabalho, de discutir o reconhecimento social desse
tipo de trabalho, a justia ou injustia do modo como os afazeres domsticos
so divididos pelos membros da famlia.
Outra forma de trabalho que marcou profundamente a Histria do
Brasil foi a escravido, que subjugou a populao negra trazida da frica.
Esse tema pode ser abordado a partir do resgate histrico, identificando-se
os objetivos do trfico de escravos, as condies de vida dos escravos, for-
mas de castigo aplicadas pelos senhores e formas de resistncia desenvolvi-
das pelos negros. Pode-se tambm partir de problemas atuais reconhecidos
como resqucios da escravido no Brasil, especialmente aqueles relacionados
ao preconceito racial e discriminao scio-econmica de negros e mula-
tos. O destaque nesse ponto deve ser a questo tica implicada na escravido
Pode-se partir de
problemas atuais,
como o preconceito
racial, para abordar
temas da Histria do
Brasil
200
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
O tema trabalho
permite ainda
abordar os
movimentos
migratrios que
marcarama histria
do Brasil e que
definemmuitas das
caractersticas
culturais do nosso
pas
7
O professor poder encontrar subsdios para orientar a anlise dessa problemtica
nos livros Raa: conceito e preconceito, de Eliana Azevedo (So Paulo, tica, 1990) e Ser
negro no Brasil hoje, de Ana Lcia Valente (So Paulo, Moderna, 1994).
e na manuteno, nos dias atuais, de formas de racismo e discriminao.
7
Finalmente, cabe identificar o trabalho assalariado, tpico das sociedades
industrializadas modernas e que predomina no Brasil atualmente. De manei-
ra bem simples, podemos dizer que esta forma de trabalho se caracteriza pela
concentrao dos meios de produo (terras, mquinas, matrias-primas e
instalaes) nas mos de um proprietrio (uma pessoa, uma empresa ou o
Estado) e a contratao do trabalhador livre mediante o pagamento de um
salrio. Em decorrncia da relao de apropriao desigual dos frutos do tra-
balho, ocorrem inmeros conflitos entre empregadores e empregados que, ao
longo da histria, foram sendo enfrentados pela organizao dos trabalhado-
res atravs da criao de sindicatos e partidos polticos, pela formulao de
leis que regulam as relaes de trabalho e diversas formas de negociar coleti-
vamente os interesses em conflito.
Assim se caracteriza a relao de trabalho assalariado no mercado formal:
um contrato de trabalho reconhecido legalmente, que define uma srie de di-
reitos, deveres e garantias para patres e empregados. Entretanto, no Brasil,
bastante comum o trabalho assalariado realizado informalmente, sem contra-
to assinado e sem as garantias que a legislao exige, especialmente no campo,
no emprego domstico, no comrcio e outros setores ainda pouco fiscalizados.
Tambm parte de qualquer regulao legal prolifera o comrcio de
marreteiros, camels, ambulantes etc., realizado por adultos e crianas
nas ruas das grandes cidades. Esse mercado informal absorve principalmente
o migrante recm-chegado, o trabalhador pouco qualificado, ambos com bai-
xa escolarizao, os jovens ingressantes no mercado de trabalho, e os idosos ou
com idades prximas da aposentadoria.
O tema trabalho permite ainda abordar os movimentos migra-
trios que marcaram a histria do Brasil e que definem muitas das caracters-
201
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
ticas culturais do nosso pas. A identificao das razes desses deslocamen-
tos, dos elementos definidores da opo por um novo local, das condies de
insero dos imigrantes e migrantes no mercado de trabalho e dos problemas
sociais e econmicos que enfrentam, contextualiza a abordagem e permite que
os alunos transformem suas experincias ou observaes em referenciais para
a discusso e para as atividades desenvolvidas. importante que os educandos
abordem essas questes do passado e da atualidade relacionando-as com sua
vivncia como trabalhador, com suas concepes sobre o trabalho, a econo-
mia e a sociedade brasileira.
Tpicos de contedo e objetivos didticos
As atividades produtivas e as relaes sociais
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Trabalho, Classificar as atividades econmicas em ramos (extrativismo, mi-
tecnologia nerao, agricultura, pecuria, indstria, comrcio, servios).
e emprego Classificar as atividades econmicas em setores (primrio, secundrio,
tercirio).
Localizar os municpios de origem e de moradia atual em mapas econmi-
cos do Brasil e do estado, interpretando os smbolos e legendas emprega-
dos.
Relacionar profisses aos diferentes ramos e setores da atividade econmi-
ca.
Reconhecer o desenvolvimento cientfico e tecnolgico como meio de am-
pliar a produtividade do trabalho humano.
Identificar e citar exemplos do impacto do desenvolvimento tecnolgico
nos diversos ramos da atividade produtiva.
202
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnolgico s exi-
gncias de qualificao profissional.
Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnolgico e a li-
berao de mo-de-obra.
Analisar o problema do desemprego.
Relaes Distinguir, atravs de exemplos, relaes sociais de trabalho basea-
de trabalho das no parentesco, na escravido e no assalariamento.
na Histria Conhecer algumas caractersticas da organizao scio-econmi-
do Brasil ca dos povos indgenas brasileiros, particularmente as relaes de trabalho
baseadas no parentesco.
Identificar exemplos contemporneos de trabalho baseado em relaes de
parentesco e solidariedade em sociedades no indgenas (mutiro, trabalho
comunitrio, trabalho familiar).
Valorizar os afazeres domsticos como modalidade de trabalho familiar e
analisar a diviso das tarefas entre os membros da famlia.
Caracterizar, atravs de exemplos, o trabalho escravo.
Localizar, cronologicamente, o regime de trabalho escravo na Histria do
Brasil.
Conhecer caractersticas do trabalho escravo e formas de opresso impos-
tas aos negros africanos escravizados no Brasil durante os sculos XVI a
XIX.
Conhecer fatos e personagens que marcaram a resistncia dos ndios e ne-
gros escravido na Histria do Brasil.
Identificar e comentar resqucios da escravido na sociedade brasileira atual.
Identificar casos de regime de trabalho escravo na sociedade atual.
Conhecer as condies histricas que levaram abolio do trabalho es-
cravo e dominncia do trabalho assalariado no Brasil ao final do sculo
XIX.
Identificar os traos fundamentais das relaes sociais de trabalho assalari-
ado.
Distinguir, por meio de exemplos, trabalho assalariado formal e informal.
203
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Analisar causas dos movimentos migratrios rural-urbanos e inter-regio-
nais no Brasil.
Analisar causas e conseqncias das desigualdades econmicas no Brasil (dis-
tribuio da renda, excluso social, inchao das cidades, violncia, fome etc.).
Cidadania e participao
Cidadania um termo bastante utilizado atualmente no discurso pol-
tico. A origem desse conceito data do sculo XVIII e est ligado s lutas da
burguesia contra o Antigo Regime na Frana. Originalmente, o termo de-
signava os direitos civis e polticos (liberdade de expresso, de crena e igual-
dade perante a lei). Ao longo da histria, o contedo da idia foi se ampli-
ando, incluindo direitos trabalhistas e sociais, conquistados graas luta dos
trabalhadores e ao poltica de partidos progressistas.
Atualmente, esse conceito designa o conjunto de direitos e obrigaes
estabelecidos entre o indivduo e o Estado. Referir-se a algum como cida-
do traz implcita a idia de que uma pessoa livre, portadora de direitos e
deveres assegurados por lei, em igualdade de condies para todos. Essa am-
pliao resultado das lutas pela universalizao de direitos, que podem se
traduzir em direitos civis (liberdade de ir e vir, de imprensa, de pensamento e
crena, direito propriedade e justia), direitos polticos (participao no
exerccio do poder como eleitor ou como integrante de instncias de poder)
e direitos sociais (direitos a um mnimo de bem-estar econmico, de partici-
par da herana social e de ter uma vida digna de acordo com os padres soci-
ais estabelecidos). A Declarao Universal dos Direitos do Homem, procla-
mada pela Organizao das Naes Unidas (ONU) em 1948, consagra os
consensos internacionais sobre os direitos civis, polticos e sociais de homens
e mulheres de todo o planeta, ao passo que a Constituio de cada pas define
o estatuto jurdico da cidadania na esfera nacional.
204
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
Uma das formas que o professor pode utilizar para motivar os alunos e
preparar o estudo do tema conversar a respeito da maneira como eles exer-
cem esses direitos ou reagem sua ausncia. Isso permite trabalhar a percep-
o que os alunos tm da sua condio de cidados e das condies dos de-
mais como tambm cidados. O objetivo desse bloco de contedo propici-
ar o conhecimento dos aspectos essenciais do sistema poltico democrtico e
da Constituio do pas, que definem os direitos e deveres dos cidados bra-
sileiros.
8
Regime poltico e sistema administrativo
Em nossas vivncias cotidianas, bastante comum ouvirmos pessoas
dizendo que no gostam de poltica ou falando mal dos polticos. O
desinteresse por esse tema um fenmeno que tem sido crescentemente cons-
tatado por pesquisas realizadas no Brasil e em outros pases. Entretanto, no
podemos deixar de considerar a importncia que os sistemas polticos e ad-
ministrativos tm na sociedade em que vivemos e que esses sistemas afetam
diretamente a vida das pessoas. necessrio ajudar os educandos a compre-
ender a complexidade das questes polticas e a superar atitudes de passivi-
dade, de adeso ou contestao ingnuas frente ao sistema ou frente a per-
sonalidades da vida poltica do pas. importante tambm que eles compre-
endam que o sistema poltico que temos hoje no existiu desde sempre e que
pode ser mudado ou aperfeioado, dependendo da capacidade de ao da
sociedade. Uma estratgia que pode favorecer a motivao pelo estudo des-
se tema abord-los durante perodos eleitorais ou de ocorrncia de qual-
quer acontecimento que agite a vida poltica e a opinio pblica do pas, do
estado ou do municpio.
8
O livro O cidadodepapel, de Gilberto Dimenstein (So Paulo, tica, 1992), traz uma aborda-
gem abrangente e instigante sobre a questo da cidadania no Brasil. Nele o educador poder encontrar
indicaes das mltiplas interfaces que o tema desse bloco de contedo pode ter com as temticas dos
outros blocos.
Os educandos devem
conhecer aspectos
essenciais do
sistema poltico
democrtico e da
Constituio do pas
205
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Para superar as vises de senso comum e propiciar uma compreenso
maior dos problemas poltico-administrativos do pas, preciso desenvolver
alguns conceitos fundamentais que caracterizam a estrutura organizativa do
Estado brasileiro: repblica, presidencialismo, democracia e Constituio. Em
apoio a eles, destacam-se os conceitos de representao, voto, partido poltico
e dos poderes pblicos legislativo, executivo e judicirio. em torno dessas
idias que os alunos podero compreender, analisar e questionar o funciona-
mento da vida poltica do pas. Deve-se identificar a organizao do sistema e
do regime poltico brasileiro e das competncias de cada poder, bem como
das suas vrias instncias (federal, estadual e municipal). Assim, melhoram-se
as condies para que os educandos assumam suas responsabilidades na es-
colha de seus representantes, seu direito de protestar quando forem lesados
em seus direitos, sabendo a quem dirigir suas exigncias.
Organizao e participao da sociedade civil
Tomando como referncia o balano sobre quais dos direitos civis e
polticos esto sendo exercidos pelos alunos e dos limites porventura coloca-
dos a alguns deles, bem como da anlise sobre o acesso que eles tm aos direi-
tos sociais, esto dadas as condies para que percebam o seu grau de partici-
pao na democracia brasileira. O passo seguinte a anlise das possibilida-
des de realizao mais plena dessa cidadania. esse o objetivo do trabalho
nesse item, merecendo destaque a identificao dos direitos constitucionais
nos campos da sade, educao e proteo infncia, assim como os direitos
trabalhistas.
aqui o espao para se tratar o significado de temas como o pagamento
de impostos pelos cidados. Atravs do pagamento de impostos, a sociedade
mantm um fundo pblico para financiar sua administrao e a prestao de
uma srie de servios considerados essenciais e que, portanto, devem ser ga-
rantidos a todos pelo Estado. A constituio de um fundo pblico atravs da
arrecadao de impostos est baseada num princpio de solidariedade social.
Para superar as
vises de senso
comume propiciar
uma compreenso
maior dos problemas
poltico-
administrativos do
pas, preciso
desenvolver alguns
conceitos
fundamentais
206
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
Sem que os alunos entendam a parcela de responsabilidade dos cidados diante
da constituio dos fundos pblicos, difcil que percebam que os servios
pblicos no so ddivas do governo, que todos contribuem para mant-
los e que por isso todos podem cobrar sua qualidade e eficincia.
A experincia de participao dos educandos em organizaes de mora-
dores, sindicatos, conselhos de escola ou em movimentos mais amplos como
a campanha contra a fome, movimentos ecolgicos ou culturais, permite a ar-
ticulao entre direitos de cidadania negados ou dificultados a parcelas
populacionais e o envolvimento dos grupos sociais com a sua conquista e
garantia.
Tpicos de contedo e objetivos didticos
Cidadania e participao
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
O Estado Observar o mapa poltico do Brasil e do estado, neles localizando
brasileiro as capitais estaduais e federal (Braslia).
Caracterizar um regime poltico democrtico por meio de exemplos (elei-
es livres, liberdade de expresso e associao), distinguindo-o de regimes
autoritrios.
Identificar os poderes que configuram o Estado brasileiro e suas compe-
tncias (executivo, legislativo, judicirio).
Identificar as instncias administrativas e suas competncias (federal, esta-
dual e municipal).
Identificar caractersticas do regime republicano presidencialista, com-
parando-o com outros regimes (monarquia, parlamentarismo).
207
Blocos de contedo e objetivos didticos
Educao de jovens e adultos
Analisar alguns artigos da Constituio brasileira relativos organizao
do sistema poltico.
Localizar, cronologicamente, mudanas polticas na Histria do Brasil (In-
dependncia, Proclamao da Repblica etc.).
Direitos Identificar direitos e deveres pessoais e coletivos no mbito dos lo-
civis, cais de moradia e trabalho, na escola, nos organismos polticos, as-
polticos sociaes etc.
e sociais Conhecer a Declarao Universal dos Direitos do Homem (da ONU),
ler e comentar alguns trechos.
Reconhecer a importncia da Constituio para a edificao da democra-
cia no pas.
Conhecer alguns direitos civis garantidos pela Constituio e relacion-los
com suas vivncias e acontecimentos da atualidade (liberdade de ir e vir,
de imprensa, de pensamento, de crena, direito propriedade e justia etc.).
Conhecer alguns direitos polticos garantidos pela Constituio e relacion-
los com suas vivncias e acontecimentos da atualidade (direito de voto, par-
ticipao no exerccio do poder).
Conhecer alguns direitos sociais garantidos pela Constituio e relacion-
los com suas vivncias e acontecimentos da atualidade (direito educao,
sade, vida digna).
Conhecer os principais direitos trabalhistas e previdencirios garantidos pela
legislao brasileira e relacion-los com suas vivncias e acontecimentos da
atualidade (salrio mnimo, frias, aposentadoria, direito de greve etc.).
Conhecer o Estatuto da Criana e do Adolescente, analisar alguns trechos
e relacion-los com suas vivncias e acontecimentos da atualidade.
Identificar o papel do Estado e da sociedade na efetivao dos direitos dos
cidados.
Identificar o recolhimento de impostos como mecanismo de financiamen-
to de polticas pblicas, baseado no princpio da solidariedade social.
208
Estudos da Sociedade e da Natureza
Ao Educativa / MEC
Conhecer e analisar as principais formas de recolhimento e destinao dos
impostos vigentes do Brasil.
Discutir formas de aprofundar a democracia brasileira.
Organizao Relacionar a conquista e manuteno de direitos de cidadania com
e participao a capacidade de organizao e ao coletiva da populao.
da sociedade Inventariar e comentar experincias de organizao e ao coletiva vividas
ou conhecidas pelos alunos.
Identificar os sindicatos como forma de organizao e ao coletiva dos tra-
balhadores.
Identificar outras formas de organizao e participao civil (associaes
civis, conselhos de escola, conselhos tutelares, conselhos de sade etc.).
209
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
Planejamento e avaliao
O papel do plano didtico
Em inmeras situaes de nossas vidas, mesmo nas mais cor-
riqueiras, como uma ida s compras ou a realizao de uma festa
de aniversrio, temos que planejar, ou seja, estabelecer antecipa-
damente um plano organizado de aes visando atingir algum ob-
jetivo. Temos que considerar que estratgias usaremos, que recursos
e que tempo sero necessrios, que etapas devero ser percorridas.
Na execuo de planos, fatalmente ocorrem imprevistos que exi-
gem sua reviso e adaptao; mas isso no invalida o papel orien-
tador de nossas antecipaes. Comparando o que foi planejado com
o que foi realizado, podemos reunir elementos para melhorar pla-
nos futuros.
A atividade educativa, assim como outras atividades complexas,
impe a necessidade de estabelecer planos mais formalizados e apoia-
dos em registros escritos. Programas de ensino fundamental tm em
vista objetivos bastante amplos ou a articulao de vrios objetivos
de naturezas diferentes. Os processos de ensino e aprendizagem so
complexos, exigindo uma durao temporal relativamente longa.
Alm disso, o que est em jogo no so aspiraes individuais, mas
aspiraes de grupos de educadores e educandos, envolvendo vrias
determinaes: exigncias de contextos sociais especficos, a confor-
midade com sistemas de ensino etc.
A atividade
educativa, assim
como outras
atividades
complexas, impe a
necessidade de
estabelecer planos
apoiados em
registros escritos
210
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
O currculo constitui um primeiro nvel de planejamento da ati-
vidade educativa, na medida em que nele se estabelecem objetivos gerais
e seus desdobramentos em objetivos especficos. Nessa perspectiva, ele
uma ferramenta essencial para orientar a ao do educador e a co-
ordenao de sua ao com a de outros educadores envolvidos no mes-
mo programa. A efetividade do currculo na orientao das aes, en-
tretanto, exige sua traduo num plano mais concreto, com definies
quanto a estratgias e encadeamento de etapas, a que chamamos aqui
de plano didtico. do professor a maior responsabilidade com rela-
o elaborao desse plano, pois ele deve estar em condies de ir
calibrando-o durante sua execuo, ou seja, realizando os ajustes ne-
cessrios mediante a avaliao constante de seu andamento.
1
A elaborao de bons planos didticos exige uma grande dose
de criatividade do professor e um conhecimento razovel de como se
realiza o processo de aprendizagem dos contedos. Sua primeira ta-
refa estabelecer e ordenar os objetivos de sua ao, para o que o
currculo um parmetro indispensvel: Que aprendizagens espero
que os educandos realizem? Como diversas aprendizagens podem se
integrar num todo coerente, convergindo para os objetivos mais ge-
rais do projeto pedaggico? A segunda etapa consiste na elaborao
de uma seqncia de atividades atravs das quais se espera promo-
ver as aprendizagens, prevendo o tempo e os materiais necessrios.
Enfim, preciso prever tambm como se far a avaliao: como re-
colher indicadores do grau de alcance dos objetivos por parte de cada
um dos alunos nas vrias fases do processo, da adequao das ativi-
dades propostas e das intervenes do educador.
A elaborao de um plano didtico para o ensino fundamental de
jovens e adultos certamente vai exigir que se estabeleam subdivises,
1
O nmero 8 da srie Idias, A construo do projeto de ensino e a avaliao, or-
ganizado por Maria da Conceio Conholato e Maria C.A.A. Cunha (So Paulo, FDE, 1990),
tematiza de forma integrada o planejamento e a avaliao no ensino fundamental. No con-
junto de artigos que compem a obra, os educadores podero encontrar a anlise de diver-
sas concepes de planejamento e avaliao, crticas a prticas correntes e propostas para
aperfeioar essas prticas em diferentes nveis.
A efetividade do
currculo exige sua
traduo numplano
mais concreto, com
definies quanto a
estratgias e
encadeamento de
etapas
211
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
ou unidades menores de planejamento, a que chamamos aqui unida-
des didticas. Uma unidade pode estar referida a uma rea de conhe-
cimento especfica ou integrar diversas reas. Tanto num caso como
no outro, fundamental que elas sejam definidas considerando a ne-
cessidade de coerncia e integrao das atividades, de modo a favore-
cer que os alunos estabeleam relaes entre diversos tpicos de con-
tedo, realizando aprendizagens mais significativas.
Exemplo de plano didtico
H muitos modos possveis de se organizar um plano didtico e
os educadores devem buscar aquele que mais se adapte ao seu estilo
de trabalho. fundamental, entretanto, que o plano seja inteligvel
para outras pessoas, especialmente quando se est integrado num
programa que pressupe a ao coordenada de vrios educadores.
importante
formular objetivos
que os educandos
possam
compreender
212
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
importante tambm formular objetivos que os educandos possam
compreender. Os jovens e adultos tm condies, em muitos casos,
de partilhar das definies do plano didtico e, principalmente, de
controlar sua execuo. Como est postulado nos fundamentos des-
te projeto curricular, a capacidade de tomar conscincia do prprio
processo de aprendizagem, de planejar e controlar a prpria ativida-
de intelectual uma das grandes conquistas que a educao formal
pode proporcionar.
A seguir, apresentaremos um exemplo de plano didtico elabora-
do a partir desta proposta curricular, considerando-se uma turma que
se inicia nos processos de alfabetizao. Nele podem ser identificados
os elementos fundamentais de um plano: a definio dos contedos e
objetivos a serem alcanados, a seqncia de atividades didticas e de
avaliao, a indicao do tempo de durao previsto e dos materiais
necessrios. Nesse exemplo, as unidades didticas combinam objeti-
vos das trs reas e esto todas articuladas a grandes eixos temticos.
O plano didtico orientado por eixos temticos uma opo
especialmente indicada para esse nvel de ensino. Dado o carter ins-
trumental ou introdutrio das abordagens dos contedos das diferen-
tes reas, as possibilidades de estabelecer conexes entre eles so in-
meras. Este um modo tambm de evitar uma excessiva disperso
de assuntos, o que poderia dificultar o processo de aprendizagem dos
educandos nesses estgios iniciais. A escolha de um eixo temtico deve
ser feita considerando sua relevncia para o grupo de educandos e
seu potencial didtico, ou seja, as possibilidades que oferece para que
sejam trabalhados os contedos curriculares de modo adequado.
No plano didtico aqui apresentado, os eixos temticos foram
sugeridos pelos prprios blocos de contedos do projeto curricular.
Considerando a relevncia que um dos blocos teria para um grupo
especfico, assim como sua riqueza em termos de desdobramentos, ele
foi selecionado como eixo articulador, em torno dos quais se organi-
zaram os contedos e objetivos dos outros blocos. Para dar maior con-
cretude ao exemplo, faremos uma breve caracterizao de um grupo
hipottico de educandos para o qual o plano teria sido elaborado.
A escolha de um
eixo temtico deve
ser feita
considerando sua
relevncia para o
grupo de educandos
e seu potencial
didtico
213
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
Plano didtico
Caracterizao do grupo
So 25 alunos moradores da periferia de um grande centro
urbano, com idades variando entre 18 e 37 anos. A maioria
deles migrante de zonas rurais de outros estados, tendo j
trabalhado na agricultura. Atualmente exercem atividades
profissionais ligadas ao comrcio e aos servios, empregadas
domsticas, balconistas, vigia, auxiliar de estoque, ajudante
de cozinha etc. Moram num bairro pobre, onde se situa o
centro educativo, e dispem de pouco tempo para o lazer.
Os que j estiveram alguma vez na escola o fizeram por
perodos breves, a maioria em escolas rurais. Desejo de conse-
guir um emprego melhor e outros relativos ao desenvolvimen-
to pessoal foram motivos alegados para procurar um curso
de alfabetizao. Principalmente os mais jovens manifestaram
desejo de continuar a escolarizao at o final do 1 grau.
Todos sabem escrever seus nomes, conhecem letras e
nmeros, sabem em que situaes sociais a escrita utiliza-
da. Aproximadamente a metade deles consegue decifrar par-
tes de uma pequena lista de compras e um anncio breve com
muitas dificuldades, sem conseguir apreender o sentido do
que esto lendo. Alguns conseguem escrever palavras dita-
das, mas com muitas omisses de letras. Com poucas exce-
es, sabem ler os nmeros usuais e realizam clculos men-
tais para resolver problemas simples envolvendo pagamen-
to, preo, troco etc.
Caracterizao do plano didtico
O foco central do plano ser a iniciao dos educandos
na leitura e escrita, alm da consolidao de seus conheci-
214
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
I. Contedos e objetivos
1. Lngua Portuguesa
1.1. LINGUAGEM ORAL
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Narrao Contar fatos e experincias pessoais sem omisso de par-
tes essenciais.
mentos sobre a escrita numrica. A compreenso de como
funciona o sistema de escrita alfabtico, assim como a fixa-
o do valor sonoro das letras, merecer uma ateno espe-
cial em todas as unidades. Considerando que esses jovens e
adultos sofrem com o estigma de serem migrantes analfabe-
tos vivendo num grande centro urbano, haver tambm uma
ateno especial ao desenvolvimento de atitudes confiantes
na prpria capacidade de aprendizagem, para o que ser ne-
cessrio que eles reconheam os conhecimentos que j tm
e a possibilidade de adquirirem novos conhecimentos. Nes-
te sentido, sero promovidas oportunidades de expresso
oral de suas experincias. O plano visa tambm uma diver-
sificao de materiais de leitura, de modo que eles possam
se familiarizar com a diversidade de textos presentes no co-
tidiano, iniciando-se no desenvolvimento de estratgias de
compreenso e fluncia na leitura.
O eixo temtico desse projeto de trabalho A identi-
dade e o lugar de vivncia. Os contedos desenvolvidos
abarcam as reas de Lngua Portuguesa, Matemtica, Estu-
dos da Sociedade e da Natureza. O tempo de durao esti-
mado de 17 semanas, prevendo-se cinco sesses de duas
horas e meia por semana.
O foco central do
plano ser a
iniciao dos
educandos na
leitura e escrita,
almda
consolidao
de seus
conhecimentos
sobre a escrita
numrica
215
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
Perceber lacunas e/ ou incoerncias ao ouvir a narrao de
fatos.
Descrio Descrever lugares, pessoas, objetos e processos.
Perceber imprecises ou lacunas ao ouvir a descrio de
lugares, pessoas, objetos e processos.
Leitura em Acompanhar leituras em voz alta feitas pelo professor.
voz alta
Instrues, Compreender e seguir instrues verbais.
perguntas Identificar lacunas ou falta de clareza em explicaes da-
e respostas das por outrem.
Pedir esclarecimentos sobre assuntos tratados ou ativida-
des propostas.
Argumentao Posicionar-se em relao a diferentes temas tratados.
e debate Identificar a posio do outro em relao a diferentes te-
mas tratados.
Respeitar o turno da palavra.
1.2. SISTEMA ALFABTICO
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
O alfabeto Conhecer a grafia das letras nos tipos mais usuais (letra
cursiva e de forma, maiscula e minscula).
Estabelecer a relao entre os sons da fala e as letras.
Letras, Distinguir letra, slaba e palavra.
slabas e Distinguir vogais de consoantes.
palavras Perceber que a slaba uma unidade sonora onde h sem-
pre uma vogal e que pode conter uma ou mais letras.
216
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
Conhecer as variedades de combinaes de letras utiliza-
das para escrever.
Analisar as palavras em relao quantidade de letras e
slabas.
Segmentao Usar espao para separar palavras, sem aglutin-las ou se-
das palavras par-las de forma indevida.
Sentido e po- Alinhar a escrita na pgina, seguindo pautas e margens.
sicionamento Utilizar espaos ou traos para separar ttulos, conjuntos
da escrita de exerccios, tpicos etc.
na pgina
1.3. LEITURA E ESCRITA
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Listas Identificar uma lista.
Produzir listas em forma de coluna ou separando os itens
com vrgulas ou hfens.
Escrever diferentes tipos de listas.
Formulrios Observar modelos de formulrios comuns e compreender
sua diagramao e seu vocabulrio.
Ler e preencher formulrios simples.
Versos, Observar a configurao desses textos, reconhecer e no-
poemas, mear seus elementos: ttulo, verso, estrofe.
letras de Observar os recursos sonoros desses textos, repeties so-
msica noras, rimas.
Ler e analisar oralmente esses textos, atentando para a lin-
guagem figurada, observando que esta linguagem pode
sugerir interpretaes diversas.
217
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
Bilhetes Ler e escrever bilhetes, atentando para as informaes que
e cartas deve conter.
Identificar os elementos que compem uma carta: cabe-
alho, introduo, desenvolvimento, despedida.
Preencher corretamente envelopes para postagem segun-
do as normas dos correios.
Escrever cartas pessoais.
Jornal Saber qual a funo dos jornais, como so organizados,
de que temas tratam.
Identificar elementos grficos e visuais que compem o
jornal.
Identificar e ler manchetes e ttulos, prevendo o contedo
das notcias.
Ler legendas de fotografias, utilizar fotografias e ilustra-
es como indicadores do contedo das notcias.
Reproduzir oralmente o contedo de notcias lidas em voz
alta pelo professor, identificando: o que aconteceu, com
quem, onde, como, quando e conseqncias.
Escrever manchetes para notcias lidas pelo professor.
Consultar anncios classificados.
2. Matemtica
2.1. NMEROS E OPERAES NUMRICAS
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Nmeros e Identificar cdigos numricos freqentes no cotidiano.
sistema de Estimar quantidades e verificar por meio de contagem.
numerao Utilizar diferentes estratgias de contagem: de dois em dois,
de cinco em cinco, de dez em dez, de cem em cem.
Ler e escrever nmeros at unidades de milhar.
218
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
Identificar o zero como ausncia de quantidade e reconhe-
cer sua representao.
Compreender o valor relativo dos algarismos de acordo
com sua posio na escrita numrica, empregando os con-
ceitos de unidade, dezena, centena, milhar.
Adio Identificar, por meio de situaes-problema, a adio com
as aes de juntar e acrescentar.
Construir, representar e memorizar os fatos fundamentais
da adio (somas entre dois nmeros naturais menores que
10).
Calcular mentalmente a soma de dois nmeros sendo um
deles dezena ou centena exata.
Identificar diferentes possibilidades de se obter uma soma
envolvendo trs ou mais parcelas.
Utilizar diferentes estratgias de clculo mental de acor-
do com os nmeros envolvidos.
Identificar os sinais + e = na representao das operaes.
Subtrao Identificar, por meio de situaes-problema, a subtrao
com as aes de separar, comparar e completar.
Construir, representar e memorizar os fatos fundamentais
da subtrao (diferena entre dois nmeros menores que
10).
Calcular mentalmente a diferena entre dois nmeros
(menores que 100), sendo um deles dezena ou centena
exata.
Utilizar diferentes estratgias de clculo mental de acor-
do com os nmeros envolvidos.
Identificar os sinais - e = na representao das operaes.
Estimativa e Avaliar se um resultado razovel explorando estrat-
autocorreo gias como arredondamento, aproximao, compensa-
o.
219
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
Analisar e comparar diferentes estratgias de clculo, in-
dividualmente e em grupo.
Desenvolver procedimentos individuais e grupais de con-
ferncia do resultado e autocorreo.
2.2. MEDIDAS
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
Tempo Ler, construir e utilizar o calendrio como referncia para
medir o tempo.
Resolver problemas envolvendo relaes entre dias, sema-
nas, meses e anos.
Resolver situaes-problema envolvendo idades, datas e
prazos.
Utilizar agenda para planejar atividades no tempo.
Compreender termos como quinzena, bimestre, semestre,
dcada e sculo.
3. Estudos da Sociedade e da Natureza
Tpicos de Objetivos
contedo didticos
A identidade Recuperar a histria pessoal por meio de relatos orais e
do educando escritos, desenhos ou dramatizaes, valorizando positi-
vamente sua experincia de vida.
Reconhecer a si prprio e seus pares enquanto portado-
res e produtores de cultura, dotados de capacidade de am-
pliar seu universo de conhecimentos, valores e meios de
expresso.
Estabelecer uma relao emptica e solidria com os co-
220
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
legas, respeitando as diferenas socioculturais, de gnero,
gerao e etnia presentes no grupo.
Conhecer os vrios documentos de identificao pessoal
e suas utilidades (certido de nascimento, RG, ttulo de
eleitor etc.).
O centro Conhecer o calendrio escolar, situando cronologicamen-
educativo te eventos e perodos significativos (dias letivos, frias, fes-
tividades etc.)
Espao de Observar e descrever de espaos geogrficos conhecidos
vivncia (lugar de origem e de moradia).
Identificar os principais rgos de administrao e servi-
os (pblicos, privados e comunitrios) da regio, conhe-
cer suas funes, analisando sua qualidade e formulando
sugestes para sua melhoria.
Identificar formas de participao individual e coletiva no
local de moradia, desenvolvendo atitudes favorveis me-
lhoria de suas condies socioambientais.
Identificar e descrever principais festividades e outras tra-
dies culturais da regio.
Leitura Localizar nos mapas polticos do Brasil e do estado os mu-
de mapas nicpios de origem e de moradia atual.
e planos Desenhar croquis de espaos geogrficos conhecidos (lu-
gar de origem, de moradia e trabalho, entorno da escola
etc.), empregando smbolos e legendas.
Interpretar plantas simples.
Trabalho Relacionar profisses aos diferentes setores da atividade
e emprego econmica.
Relacionar as funes desempenhadas pelos profissionais
com as qualificaes necessrias.
221
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
II. Plano de atividades
UNIDADE 1: NOMES (2 semanas)
Apresentao.
Leitura e escrita do nome dos colegas.
Produo de lista dos alunos da sala.
Montagem de nomes com letras mveis.
Jogos com nomes (bingo, palavras cruzadas, distribuio de crachs).
Jogos de adivinhao (dadas as caractersticas dos colegas, descobrir quem
).
Estudo do alfabeto (identificao de vogais e consoantes, das letras do
prprio nome etc.).
Fichas de exerccios (completar nomes com as letras que faltam, exclu-
das as vogais, excludas as consoantes).
Leitura e anlise oral do poema Quadrilha, de Carlos Drummond de
Andrade (explorando os nomes).
Contagem dos alunos da classe e da escola. Resoluo de problemas
envolvendo noo de quantos mais, quantos menos.
UNIDADE 2: ONDE EU NASCI (2 semanas)
Leitura e anlise oral da letra da msica Lamento sertanejo, de Gil-
berto Gil.
Elaborao de lista relacionando nomes com local de nascimento.
Jogos com nomes das cidades de nascimento (bingo, caa-palavras, com-
pletar com vogais e consoantes).
Apresentao do mapa do Brasil, localizao do estado e municpio de
nascimento, identificao dos estados vizinhos, de quem veio de mais lon-
ge etc.).
Exposies orais sobre o local de nascimento, representao por meio
de croquis com legendas.
222
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
Elaborao de texto coletivo sobre migrao, sintetizando experincias
dos alunos.
Leitura de poesias e contos (leitura oral do professor e comentrios dos
alunos).
UNIDADE 3: QUANDO EU NASCI (3 semanas)
Elaborao de listas relacionando nomes com idades, em ordem crescente
e decrescente.
Observar em documentos pessoais onde esto registrados nome, local e
data de nascimento.
Preenchimento de formulrios simples com dados pessoais.
Anlise e construo de calendrio (nomes dos meses e dias da semana,
relaes entre dias, semanas e meses).
Elaborao de uma agenda da sala, marcando aniversrios, feriados es-
colares, compromissos etc.
Localizao numa linha do tempo dos anos de nascimento dos alunos.
Resoluo de problemas envolvendo datas, idades e prazos (comparan-
do datas de nascimento, saber que mais velho; quantos anos terei no
ano tal; dado um prazo, em que data vence etc.).
UNIDADE 4: ONDE EU MORO (4 semanas)
Leitura e comentrio oral de poemas e letras de msica breves sobre lu-
gares (Fazenda prspera de Ruth Rocha, Cidadezinha qualquer de
Carlos Drummond de Andrade).
Recriao dos poemas com trocas de palavras.
Elaborao de texto coletivo sobre o bairro, apontando seus problemas.
Levantamento de rgos pblicos que prestam servios na regio, ela-
borao de lista com telefone e endereo.
Localizao de alguns desses rgos num plano de ruas.
Discusso sobre a qualidade dos servios disponveis no bairro.
223
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
Observao da configurao do jornal, pesquisa de notcias sobre pro-
blemas urbanos.
Comentrio de notcias lidas pelo professor.
Leitura e escrita de manchetes.
Comparao entre as formas de lazer, brincadeiras e festividades do lo-
cal de nascimento e do local onde vivem hoje.
Escrita de versos e quadras populares.
UNIDADE 5: MEU TRABALHO, MEU SALRIO (3 semanas)
Elaborao de listas das funes exercidas pelos alunos em seu trabalho.
Levantamento de profisses por setores (indstria, comrcio, servios,
agricultura).
Jogos com nomes de profisso, palavras cruzadas, caa-palavras, com-
pletar palavras com letras, completar frases com palavras, adivinhar a
profisso a partir de um conjunto de funes etc.
Consulta seo de anncios classificados de emprego em jornais.
Comentrios sobre a qualificao exigida para os empregos, os salrios
oferecidos etc.
Estudo da forma de representao de valores (cifro, centavos etc.).
Elaborao e consulta a listas de preos.
Resoluo de problemas envolvendo clculos com salrios e custos de
alimentao, transporte, vesturio etc.
UNIDADE 6: POSSO LER E ESCREVER (3 semanas)
Sistematizao da escrita numrica, conceito de unidade, dezena, cente-
na e milhar. Representao de nmeros com agrupamentos, baco, qua-
dro de valor de lugar. Escrita de nmeros com o algarismo zero em di-
versas posies).
Leitura e escrita de diferentes tipos de bilhetes.
Leitura de diferentes tipos de cartas.
224
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
Escrita de cartas para parentes ou amigos que moram em outras cida-
des (com discusso prvia do formato e do contedo).
Correo comentada das cartas em pequenos grupos.
Preenchimento dos envelopes e postagem.
Materiais necessrios
Quadro-negro, giz, caderno pautado, folhas brancas,
lpis e caneta, cartaz e fichas individuais com o alfabeto (le-
tra de forma e cursiva, maisculas, minsculas); fichas com
letras para montar, fichas para bingo, xerox ou mimegrafo,
listas de alunos da escola, mapa do Brasil, plano de ruas do
bairro, modelos de formulrios, calendrios, poemas, letras
de msica, crnicas, jornais, listas de preos, anncios de pro-
dutos com preos, baco, palitos para fazer agrupamentos,
cartas e bilhetes, envelopes.
Estratgias de avaliao
No final de cada unidade ser feita uma avaliao oral
coletiva enfocando a dinmica do grupo, identificando avan-
os e dificuldades. O desempenho dos alunos em leitura e
escrita, escrita de nmeros e clculo ser avaliado pela an-
lise de produes individuais e anotaes em ficha de acom-
panhamento. Na unidade 6, ser feita uma avaliao final
a partir da escrita individual de bilhetes, verificao da com-
preenso de leitura de cartas breves, escrita de nmeros e
clculos com dinheiro.
225
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
A avaliao e o ajuste do plano didtico
Numa sala de aula costuma acontecer muito mais (em alguns
aspectos) ou muito menos (em outros) do que pode ser previsto num
plano como este. Em sua prtica, o educador deve estar a postos para
responder a necessidades que surgem no decorrer do processo ou para
aproveitar oportunidades imprevistas. provvel que uma seqn-
cia de atividades planejadas de antemo tenha que ser entremeada com
atividades pontuais que visam responder a uma necessidade especfi-
ca manifestada pelo grupo. Por exemplo, o professor pode julgar im-
portante, num determinado ponto do desenvolvimento de um plano
como esse, sistematizar os diferentes usos do r (r inicial, entre vogais,
rr etc.), propondo um conjunto de exerccios enfocando esse ponto.
Geralmente, essas necessidades especficas no so homogneas num
grupo. Depois de trs semanas de iniciado um processo de alfabeti-
zao, por exemplo, pode haver dois ou trs alunos que ainda no
conheam o valor sonoro das vogais. Neste caso, o professor deveria
propor atividades diferenciadas para esses alunos, enquanto os de-
mais realizariam outro tipo de atividades complementares.
Para executar bem um plano, ou seja, fazer os ajustes necess-
rios para que seus objetivos se cumpram, o educador deve ter uma
postura avaliativa constante. Ele deve avaliar, ao longo de todo o
processo, tanto a dinmica geral do grupo, que vai lhe dar indica-
es quanto necessidade de modificar as linhas gerais do plano,
quanto o desempenho de cada um dos alunos, o que pode lhe indi-
car a necessidade de criar estratgias pontuais ou dirigidas a alunos
especficos. Nessa perspectiva, no se avalia apenas o que os alunos
sabem ou no fazer: est se avaliando tambm a proposta pedag-
gica e a adequao do tipo de ajuda que o professor est oferecen-
do a seus alunos.
Os objetivos didticos indicados nesse projeto podem orientar
o estabelecimento de critrios de avaliao que orientem esse processo
de avaliao continuada das aprendizagem realizadas pelos alunos,
visando o ajuste da interveno pedaggica. Num curso de alfabeti-
Para executar bem
umplano, ou seja,
fazer os ajustes
necessrios para que
seus objetivos se
cumpram, o educador
deve ter uma postura
avaliativa constante
provvel que uma
seqncia de
atividades planejadas
de antemo tenha que
ser entremeada com
atividades pontuais
que visamresponder
a uma necessidade
especfica
manifestada pelo
grupo
226
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
zao, por exemplo, o critrio sabe ler ou escrever insuficiente
para indicar os progressos realizados ao longo do processo. Neste caso,
seria aconselhvel que o educador contasse com um instrumento de
acompanhamento de cada aluno, onde se distinguissem aprendizagens
mais especficas como, por exemplo, conhece as vogais, segmen-
ta as palavras adequadamente, conhece a grafia de palavras com
dgrafos, usa pontos para segmentar as frases, conhece aspec-
tos estruturais de uma determinada modalidade de texto etc.
Cabe aqui mencionar mais uma vez a importncia de os educandos
jovens e adultos participarem da avaliao contnua de suas aprendi-
zagens, de modo a ganhar mais conscincia e controle sobre seus co-
nhecimentos, sobre suas prprias atividades. Aqui, entretanto, im-
portante frisar que essa tomada de conscincia implica o reconheci-
mento tanto do que j sabem como do que ainda precisam ou dese-
jam saber. Por isso, o educador deve cuidar para no enfatizar apenas
os erros ou as ignorncias dos educandos, mas tambm tornar evidente
para eles tudo o que j conseguiram aprender.
Sugestes quanto a
critrios de avaliao final
Alm de orientar a execuo do plano didtico, a avaliao con-
tinuada das aprendizagens dos alunos mune o professor de bons ele-
mentos para que possa proceder a uma avaliao final do processo.
Entretanto, a avaliao final de um determinado ciclo de ensino no
deve basear-se numa soma exaustiva de todos os objetivos didti-
cos estabelecidos. Os critrios de avaliao final devem referir-se
sempre quelas aprendizagens essenciais e quelas que os educandos
teriam condies de haver sedimentado no perodo estabelecido.
Retomando o exemplo de plano didtico descrito anteriormente,
encontramos entre os objetivos didticos escrever manchetes para
notcias lidas pelo professor. Enquanto objetivo didtico, ele cum-
pre ali sua funo, associado a um objetivo mais amplo de oferecer
Os critrios de
avaliao final
devemreferir-se
sempre
aprendizagens
essenciais
227
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
oportunidades para que o educando experiencie diferentes modali-
dades de linguagem, para o que ele pode contar com o auxlio do
professor. No se espera, entretanto, que um alfabetizando, nesse
perodo, possa aprender a escrever autonomamente manchetes jor-
nalsticas estilisticamente corretas. Mais plausvel como critrio de
avaliao final, considerando o conjunto das atividades desenvolvi-
das, seria esperar que ele fosse capaz de escrever um bilhete simples
ou uma lista de palavras de forma inteligvel, ainda que cometendo
faltas ortogrficas.
Nesse nvel de ensino, correspondente s quatro primeiras sries
do ensino fundamental, as aprendizagens essenciais referem-se prin-
cipalmente aos procedimentos, ao saber fazer. Dentre eles, destacam-
se os que so instrumentos para a realizao de novas aprendizagens,
aqueles que promovem a autonomia dos jovens e adultos na busca
do conhecimento: as habilidades de compreenso e expresso oral e
escrita, as operaes numricas bsicas, a interpretao de sistemas
de referncia espao-temporal usuais. Poderamos dizer que o prin-
cipal objetivo desse nvel de ensino que o educando aprenda a apren-
der. Entretanto, as pessoas s aprendem a aprender aprendendo di-
versas coisas especficas e isso que justifica a diversidade de tpicos
de contedos aqui propostos. Os educadores envolvidos com o pla-
nejamento curricular de um programa devero estar em condies de
identificar, dentro de uma diversidade de objetivos propostos, aque-
les que so essenciais, procurando explicitar e negociar isso tambm
com os educandos.
O estabelecimento de critrios de avaliao final uma tarefa es-
pecialmente delicada quando a avaliao deve orientar decises sobre
a promoo de um aluno dentro do sistema de ensino ou a certificao
de um determinado grau de escolaridade. Os educadores genuinamen-
te comprometidos com seu ofcio quase sempre sofrem ao ter que
tomar decises dessa natureza. Por um lado, preciso zelar pela legi-
timidade da certificao escolar, garantindo que ela corresponda de
fato ao alcance dos objetivos educacionais propostos para os nveis
de ensino. Por outro lado, muito se tem falado sobre uma perniciosa
O estabelecimento de
critrios de avaliao
final uma tarefa
especialmente
delicada quando a
avaliao deve
orientar decises
sobre a promoo de
umaluno dentro do
sistema de ensino ou
a certificao de um
determinado grau de
escolaridade
228
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
cultura de reprovao que caracteriza nosso sistema escolar, que de-
sestimula e acaba por expulsar grande parte dos alunos, negando-lhes
a possibilidade de concluir a escolaridade fundamental.
Considerando a relevncia desse problema, julgou-se pertinente
sugerir aqui critrios de avaliao final desse nvel de ensino, servin-
do de parmetro para a certificao de equivalncia escolar do pri-
meiro segmento do ensino fundamental para jovens e adultos que no
tenham realizado o percurso da escolarizao regular.
Estariam aptos a receber um certificado correspondente esco-
laridade de 4 srie e, portanto, aptos a freqentar a 5 srie do pri-
meiro grau, os jovens e adultos que fossem capazes de:
Compreender um texto lido, manifestando essa compreen-
so por meio da exposio oral de suas idias principais,
resposta oral ou escrita a perguntas que exijam a identifi-
cao de informaes que constem do texto. Ele dever ma-
nifestar essa capacidade diante de textos que no requeiram
conhecimentos prvios especializados sobre o tema e, pre-
ferencialmente, que se refiram a campos temticos prximos
aos blocos de contedo desta proposta (por exemplo, uma
notcia de jornal, um informe sobre a importncia da vaci-
nao ou sobre como evitar o clera, uma descrio de as-
pectos geogrficos no Nordeste brasileiro, uma carta pessoal,
uma crnica).
Produzir uma mensagem escrita (por exemplo, uma carta ou
um relato de experincias pessoais) separando e seqencian-
do as idias por meio do uso de pontuao e de nexos gra-
maticais.
Ler e escrever nmeros naturais (at a ordem dos milhares).
Realizar clculos (adio e subtrao de quaisquer nmeros
naturais; multiplicao e diviso por nmeros naturais com
at dois algarismos).
Resolver problemas simples envolvendo identificao de da-
Sugerimos aqui
critrios de
avaliao final
visando a
certificao e a
reinsero no
sistema de ensino
229
Planejamento e avaliao
Educao de jovens e adultos
dos numricos, operaes com nmeros naturais e unidades
de medida usuais.
Identificar informaes contidas em tabelas ou esquemas
simples (por exemplo, numa tabela de dupla entrada, onde
se comparam os preos de produtos em trs mercados, iden-
tificar onde tal produto est mais barato; num esquema sim-
ples, mostrando uma boa forma de organizar instalaes
numa propriedade rural, identificar a posio de uma edi-
ficao em relao a outra etc.).
Os itens elencados no esgotam, evidentemente, os objetivos fi-
nais que podem ser atingidos num programa de educao de adul-
tos. Eles indicam apenas critrios mnimos para avaliar a aptido de
jovens e adultos para prosseguirem sua escolaridade at o trmino
do ensino fundamental. Esta a expectativa de grande parte dos edu-
candos que freqentam os programas e papel dos educadores incen-
tiv-los e prepar-los para tal. Num programa de alfabetizao ou
de primeiro segmento do ensino fundamental, possvel promover
muitas aprendizagens que podem melhorar significativamente as
condies de insero social e profissional dos educandos e princi-
palmente promover sua confiana na prpria capacidade de apren-
der. Sabemos, entretanto, que a complexidade do mundo contem-
porneo impe exigncias educativas cada vez maiores para os tra-
balhadores e para os cidados. fundamental, portanto, que o en-
sino fundamental de jovens e adultos considere a importncia de que
os educandos continuem aprendendo, seja dentro do sistema de en-
sino formal, seja aproveitando ou lutando por mais oportunidades
de se desenvolverem como trabalhadores, como cidados e como
seres humanos.
fundamental,
portanto, que o
ensino fundamental
de jovens e adultos
considere a
importncia de que
os educandos
continuem
aprendendo
230
Planejamento e avaliao
Ao Educativa / MEC
231
Bibliografia
Educao de jovens e adultos
Bibliografia
ABAURRE, Maria Bernadete Marques. Ortografia: o aprendizado da conveno. 1983
(mimeo).
ALMEIDA, Rosngela D. de, PASSINI, Elza Y. O espao geogrfico: ensino e representa-
o. 3 ed. Coleo Repensando o Ensino. So Paulo: Contexto, 1991.
ALVES, Rubem. Filosofia da Cincia: introduo ao jogo e suas regras. So Paulo: Brasiliense,
1991.
ASSOCIAO Paulista de Medicina. Guia mdico da famlia. So Paulo: Nova Cultural/
Best Seller, 1994.
ASTOLFI, J.P., DEVELAY, M. A didtica das Cincias. Campinas: Papirus, 1990.
AZEVEDO, Eliana. Raa: conceito e preconceito. So Paulo: tica, 1990.
BARBOSA, Jos Juvncio. Alfabetizao eleitura. Coleo Magistrio de 2 Grau. So Paulo:
Cortez, 1990.
BARRETO, Vera (org.). Confabulando. So Paulo/ Braslia: Vereda Centro de Estudos
em Educao/ MEB Movimento de Educao de Base, 1994.
__________ (org.). Historiando. So Paulo/ Braslia: Vereda Centro de Estudos em Edu-
cao/ MEB Movimento de Educao de Base, 1995.
BEISIEGEL, Celso de Rui. Educao e sociedade no Brasil aps 1930. In: FAUSTO, Boris
(dir.). Histria geral da civilizao brasileira: o Brasil Republicano: economia e cultu-
ra, v. 4, t. 3, pp. 381-416. So Paulo: Difel, 1984.
__________. Estado e educao popular: um estudo sobre educao de adultos. So Paulo:
Pioneira, 1974.
__________. Poltica eeducao popular: a prtica de Paulo Freire no Brasil. So Paulo: tica,
1982.
BRANDO, Carlos Rodrigues. O que o mtodo Paulo Freire. 2 ed. Coleo Primeiros
Passos. So Paulo: Brasiliense, 1981.
BRASIL. Ministrio da Educao e do Desporto. Parmetros curriculares nacionais para o
ensino fundamental. Braslia: MEC-SEF, 1995. (verso preliminar)
232
Bibliografia
Ao Educativa / MEC
CABRINI, Conceio et al. EnsinodeHistria: reviso urgente. So Paulo: Brasiliense, 1986.
CAGLIARI, Luis Carlos. Alfabetizao e lingstica. So Paulo: Scipione, 1989.
CARRAHER, T., CARRAHER, D.W., SCHLIEMANN, A.D. Na vida dez na escola zero.
So Paulo: Cortez, 1988.
CARVALHO, Dione Lucchesi de. Metodologia do ensino de Matemtica. Coleo Magis-
trio de 2 Grau. So Paulo: Cortez, 1990.
CATALUNYA. Departament de Benestar Social. El currculumde la formaci bsica dadults:
etapa instrumental. Formaci dadults, 2. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1993.
CETESB. Guia do professor de1 e 2 graus. So Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 1987.
CHRTIEN, Claude. A cincia emao: mitos e limites: ensaios e textos. Campinas: Papirus,
1995.
COLL, Csar. Psicologa y currculum: una aproximacin psicopedaggica a la elaboracin
del currculum escolar. Barcelona: Paids, 1992.
__________ et al. Los contenidos en la reforma: enseanza y aprendizaje de conceptos,
procedimientos y actitudes. Madrid: Aula XXI/ Santillana, 1992.
CONHOLATO, Maria Conceio, CUNHA, Maria Cristina Amoroso (coords.). A cons-
truo do projeto de ensino e a avaliao. Coleo Idias, 8. So Paulo: FDE Fun-
dao para o Desenvolvimento da Educao, 1990.
CONSTITUIO da Repblica Federativa do Brasil. Braslia: Senado Federal, 1988.
CUNHA, Celso Ferreira da. Gramtica de base. 3 ed. Rio de Janeiro: Fename, 1992.
DECLARAO Universal dos Direitos do Homem.
DELIZOICOV, Demtrio, ANGOTTI, Jos Andr. Metodologia do ensino de cincias. Co-
leo Magistrio de 2 Grau. So Paulo: Cortez, 1990.
DI PIERRO, Maria Clara. Educao de jovens e adultos no Brasil: questes face s polti-
cas pblicas recentes. EmAberto, v. 11, n. 56, pp. 22-30. Braslia: Inep, out.-dez. 1992.
DIMENSTEIN, Gilberto. O cidado de papel. So Paulo: tica, 1992.
DRIVER, R. Students conceptions and the learning of science. International Journal of
Science Education, n. 11, pp. 481-490, 1989.
DUARTE, Newton. O ensino da Matemtica na educao de adultos. So Paulo: Cortez/
Autores Associados, 1986.
ENCONTRO Latino-Americano sobre Educao de Jovens e Adultos Trabalhadores, 1993,
Olinda. Anais. Braslia: Inep, 1994.
ESTATUTO da Criana e do Adolescente: lei 8069 de 13 de julho de 1990. 3 ed. So Pau-
lo: CBIA-SP/ Sitraemfa, 1991.
FARACO, Carlos, MOURA, Francisco. Para gostar de escrever. So Paulo: tica, 1991.
FERNANDEZ, D. Aspectos metacognitivos na resoluo de problemas de Matemtica.
Revista Educao Matemtica, n. 8, p. 3. Lisboa, jan.-mar 1989.
FERREIRO, Emlia. Los adultos no alfabetizados y sus conceptualizaciones del sistema de
escritura. Mxico: Instituto Pedaggico Nacional, 1983.
233
Bibliografia
Educao de jovens e adultos
FOLHA de So Paulo. Manual geral da redao. 2 ed. So Paulo, 1987.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
FUNDAO Carlos Chagas. Cadernos de Pesquisa: raa negra e educao, n. 63. So Paulo,
nov. 1987.
GIMENEZ, J., GIRONDO, L. Clculo en la escuela: reflexiones y propuestas. Barcelona:
Gra, 1993.
GIMENO SACRISTN, J. Currculo e diversidade cultural. In: SILVA, Tomaz Tadeu da,
MOREIRA, Antnio Flvio (orgs.). Territrios contestados: o currculo e os novos
mapas polticos e culturais. Petrpolis: Vozes, 1995.
GIONANNI, Maria Luisa Ruiz. Histria. Coleo Magistrio de 2 Grau. So Paulo: Cortez,
1994.
GOMEZ, C.M. Enseanza de la multiplicacin y divisin. Madrid: Sntesis Editorial, 1991.
__________. Multiplicar y dividir a travs de la resolucin de problemas. Madrid: Visor, 1991.
GRUPO de Trabalho e Pesquisa em Orientao Sexual GTPOS. Sexo se aprende na es-
cola. So Paulo: Olho dgua, 1995.
HADDAD, Srgio. Breve histrico da poltica de educao de adultos no Brasil. In:. Anais
do Congresso Brasileiro de Educao 4, Goinia, 1986. So Paulo: Cortez/ Ande/ Anped/
Cedes, 1986.
__________. Tendncias atuais na educao de jovens e adultos. EmAberto, v. 11, n. 56,
pp. 3-12. Braslia, out./ dez. 1992.
IMENES, Luiz Mrcio. A numerao indo-arbica. 5 ed. Coleo Vivendo a Matemtica.
So Paulo: Scipione, 1993.
__________. Os nmeros na histria da civilizao. 5 ed. Coleo Vivendo a Matemtica.
So Paulo: Scipione, 1992.
INSTITUT Nacional de Recherche Pdagogique. Un, deux, beaucoup ... passionement: les
enfants et les nombres. Rencontre Pdagogique, 21. Paris: INRP, 1988.
JOLIBERT, Josette (coord.). Formar nios productores de textos. Santiago: Hachette, 1991.
KAUFMAN, Ana Maria, RODRIGUEZ, Maria Elena. Escola, leitura e produo de tex-
tos. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1995.
KLEIMAN, Angela B. (org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a
prtica social da escrita. Campinas: Mercado das Letras, 1995.
LAJOLO, Marisa, BARRETO, Vera (orgs.). Poetizando. So Paulo/ Braslia: Vereda Centro
de Estudos em Educao/ MEB Movimento de Educao de Base, 1994.
LANDSMAN, Liliana Tolchinsky. Aprendizaje del lenguaje escrito: processos evolutivos e
implicaciones didcticas. Barcelona/ Mxico: Anthropos/ Universidad Pedaggica Na-
cional/ Secretara de Educacin Pblica, 1993.
LEMLE, Miriam. Guia terico do alfabetizador. So Paulo: tica, 1987.
LERNER, D. La matemtica en la escuela: aqu y ahora. Buenos Aires: Aque Didactica,
s.d.
234
Bibliografia
Ao Educativa / MEC
LERNER, D., SADOVISKI, P. El sistema de numeracin, un problema didactico. In: ___
_______. Didctica de matemticas: aportes y reflexiones. Buenos Aires: Paids, 1994.
MARTINS, Eduardo (org.). Manual de redao e estilo. So Paulo: O Estado de So Paulo,
1990.
MURRIE, Zuleika de Felice. Reflexes sobre o ensino aprendizagem de gramtica. In:
__________. O ensino de Portugus. So Paulo: Contexto, 1992.
NATIONAL Council of Teachers of Mathematics. Estandares curriculares y de evaluacon
para la educacin matemtica. Sevilha: Utreta, 1991.
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Analfabetos na sociedade letrada: diferenas culturais e mo-
dos de pensamento. Travessia, v. 5, n. 12, pp. 17-20. So Paulo, jan./ abr. 1992.
__________. Letramento, cultura e modalidades de pensamento. In: KLEIMAN, Angela B.
(org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prtica social da
escrita. Campinas: Mercado das Letras, 1995.
__________. Processos cognitivos em situaes da vida diria: um estudo etnogrfico sobre
migrantes urbanos. Tese de doutorado. Universidade de Stanford, California, 1982.
PAIVA, Vanilda Pereira. Educao popular e educao de adultos. 2 ed. Rio de Janeiro:
Loyola, 1983.
PALMA, Diego. La construccin de Prometeo: educacin para una democracia latinoame-
ricana. Lima: Ceaal/ Tarea, 1993.
PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do ensino de Histria e Geografia. Coleo
Magistrio de 2 Grau. So Paulo: Cortez, 1994.
PIRES, Clia Maria Carolino, MANSUTTI, Maria Ambile. Idias matemticas: a constru-
o a partir do cotidiano. In: CENPEC Centro de Pesquisa para Educao e Cultu-
ra. Oficinas de matemtica e de leitura e escrita: escola comprometida com a qualida-
de. So Paulo: Plexus, 1995.
RECIFE. Secretaria Municipal de Educao. Perfil dos alunos de EBJA Recife: 1993.
Recife: Secretaria Municipal de Educao, 1995.
RIBEIRO, Vera Masago (org.). Educao ambiental: uma abordagem pedaggica de te-
mas da atualidade. So Paulo/ Erexim: CEDI Centro Ecumnico de Documentao
e Informao/ CRAB Movimento de Atingidos por Barragens, 1992.
__________ et al. Metodologia da alfabetizao: pesquisas em educao de jovens e adul-
tos. Campinas/ So Paulo: Papirus/ CEDI Centro Ecumnico de Documentao e In-
formao, 1992.
SO PAULO (municpio). Secretaria de Educao. Movimento de reorientao curricular:
viso da rea de Matemtica. So Paulo, 1992.
__________. Secretaria de Educao. Perfil dos educandos de suplncia I, suplncia II e re-
gular noturno da RME: 1992. So Paulo, 1992.
SO PAULO (estado). Secretaria de Educao. Coordenadoria de Estudos e Normas Peda-
ggicas. Proposta curricular para o ensino de Geografia: 1 grau. So Paulo, 1992.
__________. Secretaria de Educao. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedaggicas.
Proposta curricular para o ensino de Matemtica: 1 grau. So Paulo, 1988.
235
Bibliografia
Educao de jovens e adultos
__________. Secretaria de Educao. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedaggicas.
Proposta curricular para o ensino de Histria: 1 grau. So Paulo, 1992.
SCHLIEMANN, A.D. et al. Estudos em psicologia da educao matemtica. Recife: Edito-
ra Universitria da UFPE, 1993.
SILVA, Aracy L. da, GRUPIONI, Lus D.B. (orgs.). A temtica indgena na escola: novos
subsdios para professores de 1 e 2 graus. Braslia: MEC/ Mari/ Unesco, 1995.
SILVA, Dirceu et al. As cincias na alfabetizao. So Paulo: Universidade de So Paulo, 1993.
SOCIEDADE Brasileira de Educao Matemtica. A Educao Matemtica em Revista: o
ensino da Matemtica no 1 grau, v. 1, n. 2. Blumenau, 1994.
__________. A Educao Matemtica emRevista: sries iniciais, v. 2, n. 3. Blumenau, jul.-
dez. 1994.
TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever. So Paulo: tica, 1995.
TORRES SANTOM, Jurjo. As culturas negadas e silenciadas no currculo. In: SILVA, Tomaz
Tadeu da (org.). Aliengenas na sala de aula: uma introduo aos estudos culturais em
educao. Petrpolis: Vozes, 1995.
TORRES, Rosa Maria. Que (e como) necessrio aprender?: necessidades bsicas de apren-
dizagem e contedos curriculares. Campinas: Papirus, 1994.
VACA, Jorge. Ortografia e significado. Lectura y vida, v. 4, n.1, pp. 4-9. Buenos Aires, 1983.
VALENTE, Ana Lcia. Ser negro no Brasil hoje. So Paulo: Moderna, 1994.
VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e tcnicas na produo oral e escrita. So
Paulo: Martins Fontes, 1981.
VERGNAUD, G., DURAND, C. Structures aditives et complexit psychogntique. Revue
Franaise de Pdagogie, n. 36, pp. 28-43, 1976.
236
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil
Ao Educativa / MEC
ndice pormenorizado
Apresentao .................................................................................................................. 5
Nota da equipe de elaborao........................................................................................ 7
Introduo ....................................................................................................................... 13
Por que uma proposta curricular ...................................................................... 13
Em que consiste a proposta............................................................................... 14
Breve histrico da educao de jovens e adultos no Brasil .......................................... 19
Alfabetizao de adultos na pauta das polticas educacionais....................... 19
Alfabetizao e conscientizao ........................................................................ 22
O Mobral e a educao popular ....................................................................... 25
Educao bsica de jovens e adultos: consolidando prticas......................... 28
Novas perspectivas na aprendizagem da leitura e da escrita......................... 30
Novos significados para as aprendizagens escolares....................................... 32
Desafios para os anos 90.................................................................................... 33
Fundamentos e objetivos gerais...................................................................................... 35
O pblico dos programas de educao de jovens e adultos........................... 35
O contexto social ................................................................................................ 36
A dimenso econmica............................................................................. 37
A dimenso poltica.................................................................................. 39
A dimenso cultural.................................................................................. 39
Diversidade cultural e cultura letrada............................................................... 40
Os jovens e adultos e a escola............................................................................ 42
Expectativas............................................................................................... 42
Conquistas cognitivas............................................................................... 43
Aprendizagem de atitudes e valores........................................................ 45
O educador de jovens e adultos......................................................................... 46
Sntese dos objetivos gerais................................................................................ 47
237
ndice pormenorizado
Educao de jovens e adultos
Lngua Portuguesa........................................................................................................... 49
Fundamentos e objetivos da rea...................................................................... 51
A linguagem oral ....................................................................................... 52
A linguagem escrita................................................................................... 53
Lendo textos .................................................................................... 55
Produzindo textos........................................................................... 58
A anlise lingstica.................................................................................. 59
Sntese dos objetivos da rea de Lngua Portuguesa............................. 60
Blocos de contedo e objetivos didticos ......................................................... 62
Linguagem oral.......................................................................................... 62
Tpicos de contedo e objetivos didticos................................... 64
Indicaes para a seqenciao do ensino................................... 66
Sistema alfabtico e ortografia ................................................................ 67
Tpicos de contedo e objetivos didticos................................... 70
Indicaes para a seqenciao do ensino................................... 72
Leitura e escrita de textos ........................................................................ 73
Modalidades de texto..................................................................... 76
Textos literrios..................................................................... 76
Prosa............................................................................. 77
Poesia............................................................................ 77
Textos jornalsticos ............................................................... 78
Textos instrucionais (receitas, manuais, regulamentos,
normas etc.) ................................................................. 80
Formulrios e questionrios................................................. 81
Textos epistolares (cartas).................................................... 82
Textos publicitrios............................................................... 83
Textos de informao cientfica e histrica........................ 83
Tpicos de contedo e objetivos didticos................................... 84
Indicaes para a seqenciao do ensino................................... 89
Pontuao.................................................................................................. 90
Tpicos de contedo e objetivos didticos................................... 91
Indicaes para a seqenciao do ensino................................... 91
Anlise lingstica...................................................................................... 92
Tpicos de contedo e objetivos didticos................................... 94
Indicaes para a seqenciao do ensino................................... 95
Matemtica...................................................................................................................... 97
Fundamentos e objetivos da rea...................................................................... 99
Noes e procedimentos informais......................................................... 100
A Matemtica na sala de aula.................................................................. 101
A resoluo de problemas........................................................................ 103
Os materiais didticos .............................................................................. 105
Os contedos ............................................................................................. 107
Sntese dos objetivos da rea de Matemtica......................................... 109
Blocos de contedo e objetivos didticos ......................................................... 111
238
ndice pormenorizado
Ao Educativa / MEC
Nmeros e operaes numricas............................................................. 111
Sistema decimal de numerao...................................................... 112
Fraes e nmeros decimais........................................................... 114
Operaes ........................................................................................ 118
Adio e subtrao ............................................................... 119
Multiplicao e diviso......................................................... 121
Estimativas e clculos..................................................................... 125
Clculo mental ...................................................................... 127
Tcnicas operatrias............................................................. 129
Tpicos de contedo e objetivos didticos .................................. 132
Indicaes para a seqenciao do ensino................................... 137
Medidas...................................................................................................... 139
Tpicos de contedo e objetivos didticos .................................. 142
Indicaes para a seqenciao do ensino................................... 145
Geometria .................................................................................................. 146
Tpicos de contedo e objetivos didticos .................................. 149
Indicaes para a seqenciao do ensino................................... 151
Introduo Estatstica........................................................................... 152
Tpicos de contedo e objetivos didticos .................................. 157
Indicaes para a seqenciao do ensino................................... 158
Estudos da Sociedade e da Natureza.............................................................................. 161
Fundamentos e objetivos da rea...................................................................... 163
Os contedos............................................................................................. 164
Os conhecimentos dos jovens e adultos e as aprendizagens
escolares ........................................................................................... 167
Estratgias de abordagem dos contedos............................................... 169
As fontes de conhecimento....................................................................... 171
Sntese dos objetivos da rea de Estudos da Sociedade e
da Natureza..................................................................................... 172
Blocos de contedo e objetivos didticos......................................................... 174
O educando e o lugar de vivncia........................................................... 174
A identidade do educando ............................................................. 174
O centro educativo.......................................................................... 175
A dimenso territorial da identidade............................................ 176
Tpicos de contedo e objetivos didticos .................................. 177
O corpo humano e suas necessidades..................................................... 179
A conscincia do prprio corpo .................................................... 179
As funes vitais.............................................................................. 180
A sade individual e coletiva......................................................... 181
Tpicos de contedo e objetivos didticos .................................. 182
Cultura e diversidade cultural ................................................................. 184
O carter dinmico da cultura...................................................... 184
A diversidade cultural da sociedade brasileira............................ 186
Tpicos de contedo e objetivos didticos .................................. 188
239
ndice pormenorizado
Educao de jovens e adultos
Os seres humanos e o meio ambiente..................................................... 190
Ecossistemas e ciclos naturais........................................................ 190
A produo dos espaos rural e urbano....................................... 192
A morada dos homens no universo............................................... 193
Tpicos de contedo e objetivos didticos................................... 194
As atividades produtivas e as relaes sociais........................................ 197
Trabalho, tecnologia e emprego.................................................... 197
Relaes de trabalho na histria brasileira.................................. 198
Tpicos de contedo e objetivos didticos................................... 201
Cidadania e participao.......................................................................... 203
Regime poltico e sistema administrativo..................................... 204
Organizao e participao da sociedade civil ............................ 205
Tpicos de contedo e objetivos didticos................................... 206
Planejamento e avaliao............................................................................................... 209
O papel do plano didtico.................................................................................. 209
Exemplo de plano didtico................................................................................. 211
Plano didtico............................................................................................ 213
Caracterizao do grupo................................................................ 213
Caracterizao do plano didtico ................................................. 213
Contedos e objetivos..................................................................... 214
Lngua Portuguesa................................................................ 214
Linguagem oral............................................................ 214
Sistema alfabtico........................................................ 215
Leitura e escrita........................................................... 216
Matemtica............................................................................ 217
Nmeros e operaes numricas............................... 217
Medidas........................................................................ 219
Estudos da Sociedade e da Natureza.................................. 219
Plano de atividades ......................................................................... 221
Unidade 1: Nomes................................................................ 221
Unidade 2: Onde eu nasci .................................................... 221
Unidade 3: Quando eu nasci ............................................... 222
Unidade 4: Onde eu moro................................................... 222
Unidade 5: Meu trabalho, meu salrio............................... 223
Unidade 6: Posso ler e escrever........................................... 223
Materiais necessrios...................................................................... 224
Estratgias de avaliao.................................................................. 224
A avaliao e o ajuste do plano didtico.......................................................... 225
Sugestes quanto a critrios de avaliao final................................................ 226
Bibliografia...................................................................................................................... 231
240
ndice pormenorizado
Ao Educativa / MEC
Esta publicao foi composta pela
Bracher & Malta em Sabon e Univers
Condensed com fotolitos do Bureau
34 e impressa pelo MEC para Ao
Educativa/ MEC em junho de 2001.
Você também pode gostar
- Língua Portuguesa: Atividades de Sistematização: - Caderno Do ProfessorDocumento80 páginasLíngua Portuguesa: Atividades de Sistematização: - Caderno Do ProfessorRosa NascimentoAinda não há avaliações
- Modulo 3 Introducao A Consciencia Fonologica LIVRO 1 VOGAISDocumento48 páginasModulo 3 Introducao A Consciencia Fonologica LIVRO 1 VOGAISDanielle Henrique Bomfim100% (1)
- Planejamento Anual 2º Ano - Materiais PedagógicosDocumento46 páginasPlanejamento Anual 2º Ano - Materiais PedagógicosAna SilvaAinda não há avaliações
- Helene Contribuição Ao Estuda Da Corrosão em Armaduras de Concreto ArmadoDocumento249 páginasHelene Contribuição Ao Estuda Da Corrosão em Armaduras de Concreto ArmadoGabriel Queiroz100% (1)
- EMAI Quarto Ano Aluno Vol IDocumento148 páginasEMAI Quarto Ano Aluno Vol Ibevevino100% (4)
- Geografia - Haesbaert A Nova Des-Ordem MundialDocumento9 páginasGeografia - Haesbaert A Nova Des-Ordem MundialNicole Mieko100% (2)
- Geografia - Haesbaert A Nova Des-Ordem MundialDocumento9 páginasGeografia - Haesbaert A Nova Des-Ordem MundialNicole Mieko100% (2)
- Simulado 2 6ºano PORTUGUÊSDocumento4 páginasSimulado 2 6ºano PORTUGUÊSAnonymous aPzoIa4Ainda não há avaliações
- APOSTILA POVOS INDÍGENAS 1º e 2º ANO - CADERNO DE RESPOSTASDocumento27 páginasAPOSTILA POVOS INDÍGENAS 1º e 2º ANO - CADERNO DE RESPOSTASrachelsorosinigandraAinda não há avaliações
- 4º Ano-Sequência 03 ImprimirDocumento63 páginas4º Ano-Sequência 03 ImprimirMatheus GabrielAinda não há avaliações
- D4 (5 Ano - L.P)Documento8 páginasD4 (5 Ano - L.P)kellyAinda não há avaliações
- SR Alfabeto Parte 2Documento31 páginasSR Alfabeto Parte 2Kamila RodriguesAinda não há avaliações
- Festa Junina - Show Do MilhãoDocumento11 páginasFesta Junina - Show Do MilhãoLuis BrandaoAinda não há avaliações
- Estudoemcasa 3ano LP Vol 4Documento39 páginasEstudoemcasa 3ano LP Vol 4Jana Trindade Vargas100% (1)
- Auto DitadoDocumento1 páginaAuto DitadoArhadia Cristhiane Campos CardozoAinda não há avaliações
- Caderno de Sequências 2° Ano - 2024 - Com ApendiceDocumento199 páginasCaderno de Sequências 2° Ano - 2024 - Com ApendiceShay Martins100% (1)
- ALFABETIZAÇÃO - AtividadesDocumento43 páginasALFABETIZAÇÃO - AtividadesProfessora Adélia Amaral PetinuciAinda não há avaliações
- Livro: Animalfabeto Autor: Paulo Moura Editora: Ciranda CulturalDocumento7 páginasLivro: Animalfabeto Autor: Paulo Moura Editora: Ciranda CulturalMyrian SouzaAinda não há avaliações
- Pet Educação Física 1º Ano Noturno Vol 6 SemDocumento262 páginasPet Educação Física 1º Ano Noturno Vol 6 SemRicardo PaceAinda não há avaliações
- Recitando e Cantarolando - Divulgação - Prof Moniz - 220803 - 222340Documento23 páginasRecitando e Cantarolando - Divulgação - Prof Moniz - 220803 - 222340Lucas De Godoy BuenoAinda não há avaliações
- Gêneros Textuais 5º Ano AmostraDocumento18 páginasGêneros Textuais 5º Ano AmostraMauricio Ferreira da VeigaAinda não há avaliações
- SL 030ab 23 See Ac Assis EducacionalDocumento95 páginasSL 030ab 23 See Ac Assis Educacionaljessica.marques.ksAinda não há avaliações
- Joao Pe de Feijao para ImprimirDocumento16 páginasJoao Pe de Feijao para ImprimirMs Karoline CaleffiAinda não há avaliações
- Banco de Questões Matemática - ProfessorDocumento100 páginasBanco de Questões Matemática - ProfessorElaine LaineAinda não há avaliações
- Planejamento 3 AnoDocumento12 páginasPlanejamento 3 AnoPriscila Carneiro BarretoAinda não há avaliações
- 1º BimestreDocumento66 páginas1º BimestreSandra ReginaAinda não há avaliações
- 1 Parte Da Apostila de Matema Tica Saeb 5ºano 1Documento45 páginas1 Parte Da Apostila de Matema Tica Saeb 5ºano 1Roberta Tatiana GrepinoAinda não há avaliações
- 12 Apostila - 4º AnoDocumento21 páginas12 Apostila - 4º Anosabrina OliveiraAinda não há avaliações
- Caderno de Atividades Periodo II - PDF CDocumento48 páginasCaderno de Atividades Periodo II - PDF CJessicaFerreira100% (1)
- Leia Circule Escreva Bastao e CursivaDocumento14 páginasLeia Circule Escreva Bastao e CursivaVivianneAinda não há avaliações
- Atividades Pedag Gicas 1 Ano Semana 12 PDFDocumento14 páginasAtividades Pedag Gicas 1 Ano Semana 12 PDFMaia SilveiraAinda não há avaliações
- ApostilaDocumento127 páginasApostilaLuciana AlvesAinda não há avaliações
- Planejamento 28 - 01 ManhãDocumento63 páginasPlanejamento 28 - 01 ManhãRenata Camila DuarteAinda não há avaliações
- Avaliação Do 4º Bi - 2º Ano - HermanildeDocumento2 páginasAvaliação Do 4º Bi - 2º Ano - HermanildeProf: HermanildeAinda não há avaliações
- Prova AvaliaDocumento18 páginasProva AvaliaKarina reghinAinda não há avaliações
- Material 4º Ano e 5º Ano Com DescritoresDocumento172 páginasMaterial 4º Ano e 5º Ano Com DescritoresAdriana Helena Bueno Roque100% (4)
- Sequencia Portugues Tirinhas PactoDocumento16 páginasSequencia Portugues Tirinhas PactoSimone DantasAinda não há avaliações
- 3o Ano Ensino ReligiosoDocumento51 páginas3o Ano Ensino ReligiosoMarisol PaesAinda não há avaliações
- Linguagens Da Arte e Regionalidades ExercicioDocumento4 páginasLinguagens Da Arte e Regionalidades ExercicioNelziAinda não há avaliações
- 1 Sequência Niv 3 SérieDocumento12 páginas1 Sequência Niv 3 SérieJulianoAinda não há avaliações
- Bacharelado e Licenciatura em Educação Física SlidesDocumento13 páginasBacharelado e Licenciatura em Educação Física SlidesJosue BritoAinda não há avaliações
- Adaptação Curricular Do DI No Ciclo II - 30-05Documento51 páginasAdaptação Curricular Do DI No Ciclo II - 30-05Junior BuenoAinda não há avaliações
- Alfabeto e VogaisDocumento1 páginaAlfabeto e VogaisCarmem Flávia PepilaskuAinda não há avaliações
- CONCURSO SOLETRANDO 6º Ao 9º ANODocumento12 páginasCONCURSO SOLETRANDO 6º Ao 9º ANOAtividades José Carlos100% (1)
- Tabuleiro e IDocumento103 páginasTabuleiro e IDaiana CamargoAinda não há avaliações
- PLANEJAMENTO 3° BIMESTRE Educação Física 2°ano Médio 2022Documento2 páginasPLANEJAMENTO 3° BIMESTRE Educação Física 2°ano Médio 2022Suelen Lopes100% (1)
- Atividades Do Dia Do TrabalhoDocumento7 páginasAtividades Do Dia Do TrabalhoJoelli Vieira de ArudaAinda não há avaliações
- NOME: - Volume 2 3º Ano 2019Documento39 páginasNOME: - Volume 2 3º Ano 2019Michele Cristina Adriano AmorimAinda não há avaliações
- Ensino Fundamental - 4º Ano 8º Atividade - 14º e 15º SemanaDocumento13 páginasEnsino Fundamental - 4º Ano 8º Atividade - 14º e 15º SemanaFatima SoaresAinda não há avaliações
- Atividade de Inglês 8º e 9º ANO EJADocumento3 páginasAtividade de Inglês 8º e 9º ANO EJAJoão Bispo SantosAinda não há avaliações
- Planejamento 3º Ano CompletoDocumento67 páginasPlanejamento 3º Ano CompletoLuciana MalaquiasAinda não há avaliações
- BlogDocumento2 páginasBlogClaudia PriscilaAinda não há avaliações
- A Conquista Lingua Portuguesa Objeto 04 LIVRO 1Documento193 páginasA Conquista Lingua Portuguesa Objeto 04 LIVRO 1Allana Nicyanara100% (1)
- Revisão Saeb 1Documento11 páginasRevisão Saeb 1Ana Francisca Pela CabralAinda não há avaliações
- 1º Roteiro para ContinumDocumento36 páginas1º Roteiro para ContinumDaniele Nogueira MorenoAinda não há avaliações
- Atividades de Frases 2º AnoDocumento5 páginasAtividades de Frases 2º AnoViviane CostaAinda não há avaliações
- Parlenda Suco GeladoDocumento23 páginasParlenda Suco GeladoDeborah DiasAinda não há avaliações
- Por um Ensino de Geografia dos (as) Educandos (as)-Camponeses (as): Uma Experiência de Educação do Campo nos Anos Iniciais do Ensino FundamentalNo EverandPor um Ensino de Geografia dos (as) Educandos (as)-Camponeses (as): Uma Experiência de Educação do Campo nos Anos Iniciais do Ensino FundamentalAinda não há avaliações
- REPENSANDO o Estado Novo PDFDocumento334 páginasREPENSANDO o Estado Novo PDFmaurotrom100% (1)
- A Compreensão Leitora, Ensino Aprendizagem, CartografiaDocumento4 páginasA Compreensão Leitora, Ensino Aprendizagem, CartografiaNicole MiekoAinda não há avaliações
- Apostila Ensino Fundamental - Vol2 HistóriaDocumento73 páginasApostila Ensino Fundamental - Vol2 HistóriaEnsino Fundamental100% (5)
- Apostila Ensino Fundamental - Vol2 GeografiaDocumento77 páginasApostila Ensino Fundamental - Vol2 GeografiaEnsino Fundamental100% (7)
- NoveanoriengerDocumento26 páginasNoveanoriengerkatyproffAinda não há avaliações
- Fundamentação Teórico-Metodologica Do ENEMDocumento122 páginasFundamentação Teórico-Metodologica Do ENEMLeticia Cunha100% (1)
- Orientações Básicas Da Administração de PessoalDocumento222 páginasOrientações Básicas Da Administração de PessoalFernando De Paula100% (1)
- Manual Do Participante - Minicurso Gratuito Bordado em Pedrarias Com Fernanda NadalDocumento30 páginasManual Do Participante - Minicurso Gratuito Bordado em Pedrarias Com Fernanda NadalCristina SantosAinda não há avaliações
- Tomadas de Decisão Nas OrganizaçõesDocumento12 páginasTomadas de Decisão Nas Organizaçõesmagportto100% (1)
- Manual Monitoramento Conectividade Polos UABDocumento10 páginasManual Monitoramento Conectividade Polos UABMatheus SacramentoAinda não há avaliações
- A Transição Do Esporte Moderno para O Esporte Contemporâneo: Tendência de Mercantilização A Partir Do Final Da Guerra FriaDocumento8 páginasA Transição Do Esporte Moderno para O Esporte Contemporâneo: Tendência de Mercantilização A Partir Do Final Da Guerra FriaGraice Kelly DE Monaco KellyAinda não há avaliações
- Resultado Vestibular Inverno 2020 PUC RIODocumento27 páginasResultado Vestibular Inverno 2020 PUC RIOAbraham SchneersohnAinda não há avaliações
- 6 - Os ComediantesDocumento14 páginas6 - Os Comediantesluckyme3Ainda não há avaliações
- Reescrita Do Texto de Com Vistas Á Sistematização Do CódigoDocumento3 páginasReescrita Do Texto de Com Vistas Á Sistematização Do Códigomarineide_almeida6686Ainda não há avaliações
- Conteúdo GFBDocumento1 páginaConteúdo GFBDiego CiprianoAinda não há avaliações
- Exame CorrigidoDocumento8 páginasExame CorrigidoJADIA ELANE OliveiraAinda não há avaliações
- Pesquisa em Gestão Pública PDFDocumento172 páginasPesquisa em Gestão Pública PDFfelipeAinda não há avaliações
- Exercicios de EstatisticaDocumento7 páginasExercicios de EstatisticaPaulino AdaoAinda não há avaliações
- 2 Deficiencia-Multipla-Conceito-E-Caracterizacao PDFDocumento14 páginas2 Deficiencia-Multipla-Conceito-E-Caracterizacao PDFDarci ShawAinda não há avaliações
- Memorial PDFDocumento4 páginasMemorial PDFBárbara HeloháAinda não há avaliações
- Planejamento Participativo IiDocumento4 páginasPlanejamento Participativo IiSidney LopesAinda não há avaliações
- Currículo Do Sistema de Currículos Lattes1Documento14 páginasCurrículo Do Sistema de Currículos Lattes1petersainthAinda não há avaliações
- MONOGRAFIA ABANDONO ESCOLAR CESARIO CHIMANGANDE, 1a Versa, 2020Documento46 páginasMONOGRAFIA ABANDONO ESCOLAR CESARIO CHIMANGANDE, 1a Versa, 2020abondio100% (3)
- 02 Existencialismo Humanismo e FenomenologiaDocumento12 páginas02 Existencialismo Humanismo e FenomenologiablumerdAinda não há avaliações
- Diario 1408Documento49 páginasDiario 1408Everton CalegariAinda não há avaliações
- John Finnis-Bem ComumDocumento145 páginasJohn Finnis-Bem ComumViniciusSilvaAinda não há avaliações
- Vestibular 2019 Prova TardeDocumento13 páginasVestibular 2019 Prova TardeclovisjrAinda não há avaliações
- MGC Trabalho1 ConectivismoDocumento7 páginasMGC Trabalho1 ConectivismocomentoAinda não há avaliações
- EntrevistaDocumento4 páginasEntrevistaUeslei SantosAinda não há avaliações
- Diretrizes para Autores SBL ArchaiDocumento3 páginasDiretrizes para Autores SBL ArchaiDaniel Santibáñez GuerreroAinda não há avaliações
- Educação Física No Brasil Historico PDFDocumento6 páginasEducação Física No Brasil Historico PDFMarcos MirandaAinda não há avaliações
- Questionário Educação Ambiental 1Documento5 páginasQuestionário Educação Ambiental 1Rafael CostaAinda não há avaliações
- Edital Tutor UFSCarDocumento6 páginasEdital Tutor UFSCarFelipe HarterAinda não há avaliações
- LIVRO Educacao1Documento293 páginasLIVRO Educacao1Roberto Muñoz SotoAinda não há avaliações
- Estatuto Aluno DLR n12 2013 ADocumento14 páginasEstatuto Aluno DLR n12 2013 ACarla GançoAinda não há avaliações