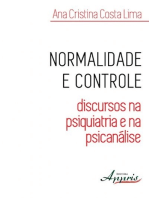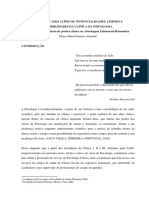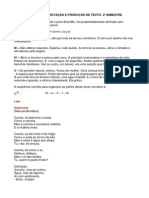Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Plantao Psicologico
Plantao Psicologico
Enviado por
Karina Santana0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
18 visualizações10 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
18 visualizações10 páginasPlantao Psicologico
Plantao Psicologico
Enviado por
Karina SantanaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
Planto Psicolgico: uma Prtica Clnica da Contemporaneidade
19 Revista da Abordagem Gestltica XVI(1): 19-28, jan-jul, 2010
A
r
t
i
g
o
PLANTO PSICOLGICO:
UMA PRTICA CLNICA DA CONTEMPORANEIDADE
1
Psychological Duty: a Contemporary Clinical Practice
Turno Psicolgico: una Prctica Clnica de la Contemporaneidad
MELINA SFORA SOUZA REBOUAS
ELZA DUTRA
Resumo: O objetivo desse artigo refletir sobre planto psicolgico enquanto uma prtica clnica da contemporaneidade, enten-
dendo este tipo de interveno como sendo mais adequada a uma nova postura da psicologia clnica, em que o psiclogo dever
estar comprometido com a escuta e o acolhimento do outro onde quer que este esteja. Visando apresentar um panorama da atu-
alidade e de suas principais demandas foi realizada uma reviso bibliogrfica acerca dos desdobramentos da psicologia clnica,
bem como do sofrimento humano, trazendo uma reflexo tica e poltica e a defesa de prticas mais condizentes com a realida-
de atual. Desse modo, podemos dizer que o planto psicolgico constitui-se como uma prtica clnica da contemporaneidade, na
medida em que ela promove uma abertura para o novo, o diferente e oferece um espao de escuta a algum que apresenta uma
demanda psquica, um sofrimento, oferece um momento no qual esse sujeito que sofre se sinta verdadeiramente ouvido na sua
dor, favorecendo para que este possa ressignificar o seu estar no mundo.
Palavras-chave: Planto Psicolgico; Clnica Fenomenolgica; Contemporaneidade; Escuta Clnica; tica.
Abstract: This paper aims to reflect on psychological duty as a contemporary clinical practice, understanding that this type of
intervention would be more appropriate in a new conduct of clinical psychology, in which the psychologist should be commit-
ted to listening and sheltering the other person wherever they are. With the attempt of presenting a panorama of todays situa-
tion and its main demands, we elaborated a literature review about clinical psychology and human suffering, reflecting politi-
cal and ethical perspectives and also defending practices that are more consistent with the current reality. Thereby, we can say
that psychological duty is a contemporary clinical practice, given that it promotes changes and new possibilities for the ones
with psychic demand or any kind of suffering, as it offers them an open space for being listened and understood in their pain,
encouraging them to construct a new meaning to their existence in the world.
Keywords: Psychological Duty; Phenomenological Clinic; Contemporaneity; Clinic Listening; Ethics.
Resumen: El objetivo de este artculo es reflexionar a cerca del turno psicolgico, una prctica clnica psicolgica contempo-
rnea. Esta prctica es percibida como el tipo de intervencin ms apropiado para una nueva postura de la psicologa clnica,
en la cual el psiclogo debe de comprometerse a escuchar y acoger a las personas sea donde sea. Con el propsito de ofrecer un
panorama general de la actualidad y de sus principales demandas, elaboramos una revisin de literatura a cerca del desarro-
llo de la psicologa clnica y del sufrimiento humano, buscando una reflexin tica y poltica, adems de defender las prcticas
ms coherentes con la realidad actual. As pues, se puede decir que el turno psicolgico es una prctica clnica contempornea,
ya que promueve una apertura al nuevo y al diferente, ofreciendo a los que tienen una demanda psicolgica o presentan algn
tipo de sufrimiento, un espacio de escucha y acogimiento de su dolor, ayudndoles a construir un nuevo sentido a su existen-
cia en el mundo.
Palabras-clave: Turno psicolgico; Clnica Fenomenolgica; Contemporaneidad; Escucha Clnica; tica.
Introduo
A psicologia, nos moldes tradicionais, norteada por
uma noo de sujeito descontextualizado social e his-
toricamente e cujas prticas se restringiam ao atendi-
mento em consultrios privados, no mais se adequa
sociedade de hoje. O homem contemporneo tem de-
1
Esse trabalho resultado da monografia do Curso de Especializao
em Psicologia Clnica na Abordagem Fenomenolgico-Existencial
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), orientada
pela segunda autora.
mandado novas formas de insero do psiclogo; na
verdade, uma nova postura, um novo olhar sobre ele.
Portanto, necessitando de um profissional mais compro-
metido com o contexto social. A definio de clnica,
em funo disso, no pode mais se restringir ao local e
clientela que atende; trata-se, sobretudo, de uma pos-
tura diante do ser humano e sua realidade social, exi-
gindo, portanto, do psiclogo, uma capacidade reflexiva
continuamente exercitada em relao prpria prtica,
da qual se origine um posicionamento tico e poltico
(Dutra, 2004).
Melina S. S. Rebouas; Elza Dutra
20 Revista da Abordagem Gestltica XVI(1): 19-28, jan-jul, 2010
A
r
t
i
g
o
A psicologia clnica passa agora a ser tratada no como
uma rea de atuao, mas como atitude, como ethos, de
acordo com o pensamento de alguns autores, entre os
quais (Dutra, 2004; Figueiredo, 1996; Safra, 2004 e S,
2007). Nesse sentido, o psiclogo clnico contemporneo
dever estar comprometido com a escuta e o acolhimento
do outro onde quer este esteja. O que significa compre-
ender esse outro a partir da experincia e dos significa-
dos que ele atribui ao mundo, levando em considerao
o contexto no qual est inserido, considerando-o como
um ser-no-mundo e, portanto, constitudo por este, ao
mesmo tempo em que o constitui.
Dentro dessa perspectiva contempornea, tem-se fa-
lado numa nova modalidade clnica que veio no subs-
tituir a psicoterapia, mas se constituir numa alternativa
a esta; na verdade, trata-se de uma prtica que se adequa
s demandas atuais, e nomeada por Mosqueira, Morato
e Noguchi (2006) como uma prtica de ateno psicol-
gica. Neste trabalho, discutiremos a respeito do Planto
Psicolgico, entendendo este como uma modalidade de
atendimento clnico-psicolgico de tipo emergencial,
aberto comunidade (Cury, 1999), cuja funo propor-
cionar uma escuta e um acolhimento pessoa no momen-
to de crise. Lembrando que tal proposta no tem como
finalidade a resoluo ou o aprofundamento da proble-
mtica da pessoa, mas um momento de compreenso
do seu sofrimento.
O planto psicolgico, segundo Oliveira (2005), acon-
tece como um espao que favorece a experincia, tanto
do cliente como do plantonista, no qual o psiclogo se
apresenta como algum disposto, presente e disponvel
e no apenas como detentor do conhecimento tcnico. E
isto seria um estar junto, um inclinar-se na direo so-
frimento, deixando-se afetar, e a partir da compreen-
der o outro.
O presente trabalho justifica-se pela pouca bibliogra-
fia sobre o assunto, o que revela uma incipiente produ-
o cientfica. Fala-se muito em prticas emergentes, mas
no h um posicionamento crtico em relao a estas e
o que ocorre, na maioria das vezes, uma transposio
do modelo clnico tradicional para outros setores. Outro
fator a grande procura pelos servios psicolgicos que
tem gerado longas listas de espera no setor pblico, fru-
to dessa no-adequao da psicologia tradicional s no-
vas demandas. Nem todo mundo que procura um servio
psicolgico quer ou precisa de psicoterapia; talvez o que
eles precisem seja um contato verdadeiro e acolhedor na-
quele momento, no qual as pessoas se sintam realmente
ouvidas e vontade para colocar o que quer que lhes es-
tejam afligindo, e assim, poderem ampliar o seu nvel de
conscincia e de clareza sobre o que esto vivenciando.
Nesse sentido, o planto psicolgico j pode ser conside-
rado, por si s, teraputico.
Tendo em vista a proposta de discorrer e refletir sobre
planto psicolgico como uma prtica clnica da contem-
poraneidade, faz-se necessrio discutirmos sobre os des-
dobramentos da psicologia clnica, bem como do sofri-
mento humano na tentativa de apresentar um panorama
da atualidade e de suas principais demandas, trazendo
uma reflexo tica e poltica sobre essa ao e a defesa
de prticas mais condizentes com essa realidade da cli-
nica psicolgica na atualidade.
1. Desdobramentos da Psicologia Clnica
A psicologia clnica foi instituda tradicionalmente
como um mtodo, e para se instaurar como cincia ela
precisava se adequar ao modelo metafsico da poca, ca-
racterizado pela crena em uma verdade nica e imutvel.
Modelo este dominado pela herana mdica do diagns-
tico e da cura com fins de previso e controle das mas-
sas, servindo, ento, aos interesses da classe dominante.
Segundo Feres-Carneiro e Lo Bianco (2003), a psicologia
clnica ficou tradicionalmente conhecida pela prtica do
psicodiagnstico e da psicoterapia de cunho psicanalti-
co. Estas eram realizadas em consultrios particulares e
destinadas populao de classe mdia e alta, cuja n-
fase se dava nos aspectos psicolgicos e psicopatolgi-
cos do indivduo. Tais prticas dominaram o cenrio da
psicologia clnica durante um longo tempo, mas novas
demandas foram surgindo e fazendo com que os profis-
sionais repensassem essas prticas, alm de servir como
um bero frtil para que surgissem novas perspectivas
sobre o homem que no fossem baseadas somente em re-
laes determinsticas.
O que acontece que o paradigma cientfico moder-
no passa a ser questionado frente impossibilidade da
neutralidade e objetividade do pesquisador e pesquisado
e da busca de uma verdade que seja absoluta e inques-
tionvel, o que acaba por trazer grandes transformaes
no meio cientfico e, consequentemente, na prpria psi-
cologia. Segundo Roehe (2005),
A atitude cientfica clssica ignora a complexidade
ontolgica do homem. No reconhece o papel do ser
humano na constituio da realidade e, portanto, no
considera adequadamente a presena do cientista
numa investigao. Em resumo: no reconhece o ser
do homem, pois o trata como uma coisa diante de
outra coisa. Por isso, erra. (...) Cria-se uma situao
absurda: o pesquisador atua para conhecer, negando
sua prpria presena cognoscente (p. 157).
Frente a essas problematizaes, a subjetividade pas-
sa agora a ser colocada como condio de conhecimento
e compreenso dos fenmenos humanos, abrindo espa-
o para que se estruture um novo paradigma que leve
em considerao a especificidade de cada conhecimen-
to (Morato, 1999).
Compart i l hando tambm desse pensamento,
Figueiredo (2004) nos fala que a gestao do espao psi-
Planto Psicolgico: uma Prtica Clnica da Contemporaneidade
21 Revista da Abordagem Gestltica XVI(1): 19-28, jan-jul, 2010
A
r
t
i
g
o
colgico se d em meio ao projeto epistemolgico da mo-
dernidade. Projeto esse que, como vimos, busca a produ-
o e validao do conhecimento atravs da ciso mente
e corpo, na tentativa de construir um sujeito epistmico
pleno, senhor de si e fiador de todas as certezas. Segundo
ele, justamente a partir dessa ciso que a psicologia
se constitui na medida em que ela passa a cuidar de
tudo que excludo por esse mtodo. Em outras pala-
vras, a psicologia se abre como o espao do interditado,
da subjetividade.
Nesse momento, como nos fala Carvalho (1992, citado
por Morato 1999), certezas comeam a ser feridas, geran-
do crises de sentido e de tica no seio hegemnico, antes
to fortemente estabelecido (p. 65). O mundo contempo-
rneo demanda novas formas de conhecimento, busca
um paradigma no mais baseado numa verdade univer-
sal, mas em mltiplas verdades, constitudas a partir da
singularidade do ser humano, do seu contexto e de sua
histria. Nesse sentido tambm fala Leito e Nicolaci-da-
Costa (2003) baseando-se nas idias de Lyotard de que
o mundo ps-moderno compreendido como fragmenta-
do, complexo e imprevisvel e, dessa forma, descrev-lo
de uma maneira unificada torna-se impossvel, j que este
passa a ser constitudo de mltiplas narrativas.
Tais transformaes no mundo e no meio cientfico
vo exigir da psicologia clnica um novo pensamento
conceitual em que no cabe mais a importao de mode-
los tericos. O modelo individualista que ditava o modus
operandi da psicologia clnica e o corpo terico dado a
priori no mais satisfaz. Seu compromisso agora passa a
ser com o social, e essa articulao faz com que a tica
e no o referencial terico seja o principal norteador de
sua prtica. Nesse sentido, seguir uma nova perspectiva
de clnica implica expressar um posicionamento tico e
poltico (Dutra, 2004).
No entanto, faz-se de extrema importncia ressaltar
que, de acordo com Ferreira Neto (2004), esse novo fa-
zer clnico ou as ditas prticas emergentes no so
garantias de que nelas estejam implicadas uma dimen-
so tico-poltica.
Essa questo tambm discutida por Yamamoto,
Trindade e Oliveira (2002) ao afirmarem que essas no-
vas formas de insero caracterizam-se por uma forma-
o acadmica precria, condies de prtica adversas
e que no se diferenciam do fazer clnico tradicional.
O que nos leva a pensar que a grande questo no diz
respeito novidade das prticas que saram dos consul-
trios para hospitais e postos de sade, mas sua ade-
quao. Dessa forma, Paulon (2004) afirma que, trata-se
muito mais de questionarmos as novas formas com que
o sofrimento psquico se apresenta, os sintomas sociais
contemporneos se impem e os modos pelos quais os fa-
zeres psi esto estruturados para atend-los (p. 264).
Da a necessidade de ns psiclogos pensarmos sobre o
contexto social e suas foras subjacentes, de modo a po-
der adequar a prtica s condies vigentes de uma for-
ma crtica. Somente a partir dessas problematizaes
que as mudanas podem ocorrer.
Segundo Figueiredo (2004), a definio de psicologia
clnica no pode se restringir ao local, clientela, a uma
prtica, a um campo de interveno ou a uma rea de co-
nhecimento. Ele afirma que apesar de existir as especi-
ficidades de cada um desses lugares, a clnica no pode
ser reduzida a estes: ela muito mais ampla.
O que podemos observar que a dificuldade de defi-
nio inerente ao campo psicolgico devido a sua dis-
perso terica e prtica, por isso, ao tentar delimit-la em
classificaes reducionistas fracassa. A clnica, portan-
to, o espao privilegiado destes cruzamentos. Espao no
qual torna-se impossvel recortar as prticas psi, ou lhes
possibilitar localizaes definitivas (Silva, 2001). Assim,
o que vai definir a psicologia clnica a sua tica, enten-
dendo esta como um assento, uma morada, isto , como
um compromisso de escuta e acolhimento do ser huma-
no onde quer que este esteja.
Safra (2004) compreende o Ethos como as condies
fundamentais que possibilita o ser humano morar, estar
e constituir-se como um habitante no mundo humano (p.
115). Nessa acepo, a psicologia clnica uma atitude,
um modo de se relacionar com o outro, um cuidado que
possibilitar ao homem sentir-se acolhido numa mora-
da, ressaltando que esse homem deve ser compreendido
a partir de sua singularidade, isto , a partir da experi-
ncia e dos significados que este atribui ao mundo. No
cabe mais aprision-lo em teorias, mas entend-lo atravs
da revelao dos seus modos de ser. O psiclogo clnico,
ento, um profissional do encontro na medida em que
esteja disponvel para abrir-se alteridade, entendendo-a
como algo desconhecido e inusitado (Figueiredo, 1993).
A psicologia clnica contempornea nos coloca diante
de situaes imprevisveis que pem em questo nossas
teorias e prticas. Como o nosso compromisso agora com
a tica, devemos nos dispor a sermos eternos aprendizes
na medida em que o desconhecido bate porta de nossos
consultrios e nos ensina os caminhos que iro nos le-
var revelao da condio humana. Nesse sentido, no
mais possvel mover a clnica em torno de uma tcnica,
pois esta, ao se caracterizar pelo cuidado, passa a ser es-
sencialmente tica e essa tica clnica (Safra, 2004).
O cuidado ir proporcionar um sentir-se em casa, a
partir do qual se criam condies para o encontro com a
alteridade. Sendo assim, o psiclogo clnico, ao se deparar
com mltiplas alteridades, como diz Figueiredo (1993),
gera a multiplicidade oficial da psicologia. Multiplicidade
esta sem a qual no existiramos e que acaba sendo mini-
mizada quando o psiclogo se fecha em uma nica prti-
ca ou teoria. O ideal no mundo contemporneo seria pro-
porcionar o trnsito entre esses saberes, lembrando, como
dito anteriormente, que o que define a clnica a sua rela-
o com o outro atravs do ethos do cuidado e, portanto,
tais saberes deveriam se adequar a esta definio e no
ao contrrio. Figueiredo (1993) corrobora isso:
Melina S. S. Rebouas; Elza Dutra
22 Revista da Abordagem Gestltica XVI(1): 19-28, jan-jul, 2010
A
r
t
i
g
o
(...) a atividade profissional do psiclogo requer uma
incorporao dos saberes psicolgicos s suas habi-
lidades prticas de tal forma que mesmo o conheci-
mento explcito e expresso como teoria s funciona
enquanto conhecimento tcito; o conhecimento tcito
do psiclogo o seu saber de ofcio, no qual as teorias
esto impregnadas pela experincia pessoal e as esto
impregnando numa mescla indissocivel. (...). O resul-
tado que a adeso explcita e assumida a uma escola
diz muito pouco da efetiva atuao profissional; na
verdade creio que quanto mais conta a experincia,
quanto mais tempo no exerccio da profisso, mais
as variveis pessoais vo pesando na definio das
prticas e das crenas dos psiclogos (p. 91).
As experincias do psiclogo, portanto, que o con-
duziro aos mais diversos caminhos, como diz Morato
(1999), no contexto, portanto, das experincias da cl-
nica psicolgica, enquanto uma prtica, que a teoria co-
mea a engendrar-se (p. 69).
A clnica comprometida com a emergncia de novos
sentidos e com a singularidade tem a obrigao de ousar,
arriscar, inventar, enfim, de estar sempre em movimen-
to e em permanente construo. Assim, no pode estar
circunscrita em um nico saber ou ser compreendida a
partir de uma nica lgica. A contemporaneidade tem
demandado da clnica uma postura multi e transdisci-
plinar diferentemente do que ocorria na modernidade.
Poderamos dizer que essa a verdadeira clnica, no
mais utilizada para adjetivar a psicologia, mas sinni-
mo desta.
1.1 Histrico do Planto Psicolgico
O planto psicolgico surge como uma moda-
lidade de atendimento proposta pelo Servio de
Aconselhamento Psicolgico (SAP) do Instituto de
Psicologia da Universidade de So Paulo (IPUSP) em
1969, tendo como coordenadora a professora Rachel Lea
Rosenberg, cujo objetivo inicial era oferecer um atendi-
mento diferenciado clientela que procurava o servio,
constituindo-se como uma alternativa s longas filas de
espera.
A implantao do SAP aconteceu num momento em
que se lutava pelo reconhecimento da profisso do psic-
logo no Brasil e tambm com o aparecimento da Psicologia
Humanista no pas, proposta pelo psiclogo americano
Carl Rogers, tambm chamada de terceira fora, por se
opor s correntes psicolgicas at ento vigentes, como
a psicanlise e o behaviorismo. Tal fato serviu de im-
pulso aos estudiosos e profissionais que buscavam al-
ternativas s teorias e prticas tradicionais, como afir-
ma Rosenberg (1987), (...) deu-nos o senso de identidade
scio-profissional, incentivou nossos estudos, ajudou a
superar diferenas individuais entre ns e levou-nos a
acreditar, definitivamente, num novo modelo clnico de
Psicologia, que ultrapassava o consultrio para chegar
comunidade. (p. 3).
O planto psicolgico baseia-se no modelo de acon-
selhamento psicolgico proposto por Carl Rogers, o qual,
inicialmente, esteve atrelado ao exame da personalida-
de por meio dos testes psicolgicos
2
. No entanto, Rogers,
a partir de sua prtica, comea a questionar esse mode-
lo de aconselhamento e prope uma mudana de pers-
pectiva, passando a dar importncia ao cliente e no ao
problema, relao e no ao instrumental de avaliao,
ao processo ao invs do resultado. Morato (1999) diz que
Rogers no se deteve somente na tcnica e voltou-se para
as possibilidades da relao de ajuda e,
(...) caminhou no sentido de no se restringir uni-
camente a prtica clnica tradicional, ou seja, da
psicoterapia, e seguiu o caminho do aconselhamento
psicolgico. No se fechou em uma prtica clnica.
Ouvindo as demandas sociais e reformulando este
campo em funo das demandas, foi possvel dirigir-
se para outros contextos que, tambm demandavam
ajuda: escolas/educao, grupos, conflitos sociais,
empresas. Amalgamando essas experincias, passou
a repensar como a origem de tenses, conflitos e cri-
ses dos homens e pessoas encontram-se nas diversas
situaes do relacionamento humano. Ou seja, da
condio humana no mundo com os outros (p. 82).
Dessa forma, o aconselhamento psicolgico se confi-
gura pela abertura do conselheiro para acolher qualquer
demanda que se apresente. A idia receber o cliente e fa-
cilitar para que este se posicione diante de seu sofrimento
e decida se o atendimento ser um aconselhamento, uma
orientao ou uma psicoterapia. O conselheiro ao acolher
o cliente pode, junto com este, explorar no s a queixa,
mas outras possibilidades diante desta. O aconselhamen-
to psicolgico, ento, constitui-se pela disponibilidade e
flexibilidade em propor alternativas de ajuda.
O SAP foi idealizado pelo Dr. Oswaldo de Barros
Santos, em funo da necessidade de oferecer aos alu-
nos da disciplina de Aconselhamento Psicolgico uma
oportunidade de estgio e atendimento psicolgico
clientela. Desde o final da dcada de 60 tem passado por
muitos desafios e reformulaes, mantendo-se, segun-
do Morato (1999), atenta para a formao do psiclogo,
buscando esclarecer condies de ajuda mais pertinentes
demanda da comunidade que procura o Servio, par-
tindo da compreenso da complexidade da experincia
humana. (p. 31).
Segundo Eisenlohr (1999), nos anos 80 o SAP passou
por um perodo de crise devido a algumas contradies
existentes entre o que era pensado sobre o servio e o que
acontecia na prtica, tornando-se urgente a necessidade de
2
O aconselhamento psicolgico teve sua origem baseada no modelo
metafsico abordado no primeiro capitulo.
Planto Psicolgico: uma Prtica Clnica da Contemporaneidade
23 Revista da Abordagem Gestltica XVI(1): 19-28, jan-jul, 2010
A
r
t
i
g
o
se refletir e aprofundar sobre essas questes. O que acon-
teceu nessa poca foi a impossibilidade de acompanhar a
demanda que surgiu, gerando uma longa fila de espera,
o que acabou por inviabilizar a real proposta do planto
de um atendimento imediato. Concomitantemente a essa
situao tambm surgiu um grave problema de infra-es-
trutura devido interdio do local onde aconteciam os
atendimentos e a equipe viu-se obrigada a suspender as
atividades do planto por dois semestres.
Passada a crise, j na dcada de 90, e apesar da cres-
cente expanso dos servios oferecidos pelo SAP este
mantm suas caractersticas iniciais de atendimento psi-
colgico gratuito populao, tendo como porta de entra-
da o planto psicolgico e seus possveis encaminhamen-
tos para a psicoterapia ou outros servios de sade, como
tambm um espao para a formao profissional do psic-
logo e para a discusso de projetos e pesquisas no sentido
de aprofundar e promover melhorias nos servios.
O SAP tem sido referncia at hoje a outros profissio-
nais que inseriram o planto psicolgico em outras insti-
tuies tais como escolas, hospitais, empresas, varas de
famlias, delegacias e consultrios particulares, fruto da
constante necessidade de repensar as prticas tradicio-
nais e oferecer alternativas mais adequadas s demandas
do mundo contemporneo.
A primeira sistematizao pblica a respeito do plan-
to psicolgico ocorreu em 1987 pelo professor Dr. Miguel
Mahfoud, sendo o primeiro a falar sobre o planto como
uma modalidade clnica e sobre a sua insero em dife-
rentes contextos. Segundo Mahfoud (1987) A expresso
planto est associada a certo tipo de servio, exercido
por profissionais que se mantm disposio de quaisquer
pessoas que deles necessitem, em perodos de tempo pre-
viamente determinados e ininterruptos. (p. 75).
Tal definio nos remete origem da palavra Planto,
que vem do francs planton, cujo significado um sol-
dado a servio que permanece fixo ou em p em um lu-
gar, sempre em estado de alerta. Da a palavra tambm
designar os servios noturnos em hospitais, fbricas,
jornais, etc. Um outro sentido que vem do verbo plantar
originado do latim plantare significa introduzir um ve-
getal na terra para criar razes, isto , ficar parado, es-
tacionado. Trazendo para a idia do planto psicolgi-
co podemos entender como um estar disponvel diante
de um organismo vivo que cresce e precisa ser cuidado
(Tassinari, 1999).
Nesse sentido o trabalho do plantonista o de aju-
dar o cliente a ter uma viso mais ampliada de si e do
mundo estando disponvel para compreender e acolher
a experincia deste, no momento de sua expresso, isto
, frente quela problemtica que gerou o pedido de aju-
da. (Mahfoud, 1987).
O planto psicolgico, de acordo com Mahfoud (1987),
surge da necessidade de oferecer atendimento psicolgico
a uma parcela da populao que, na maioria das vezes,
no momento de sua urgncia no atendida devido es-
cassez dos recursos pblicos para a sade que acaba por
priorizar os casos mais graves, tendo como conseqn-
cia uma especializao das demandas. Diante disso, po-
demos fazer um questionamento: Ser possvel nos dias
de hoje saber o que grave e o que banal? Acredito
que no, pois cair nisso um desrespeito a singularidade
do ser humano e, independente da demanda que chegue,
o que importa a necessidade de ser ouvido.
Assim, a questo que se coloca o de oferecer um es-
pao de atendimento a essas pessoas que esto margem
da sociedade, qualquer que seja a sua demanda, na me-
dida em que o foco definido pelo prprio cliente e no
pela especializao do profissional. A proposta do plan-
to aceitar manter-se junto com o cliente no momento
presente, na problemtica que emerge, promovendo uma
melhor avaliao dos recursos disponveis, ampliando,
assim, seu leque de possibilidades. (Mahfoud, 1987).
a partir dessa idia mais sistemtica do planto psicol-
gico que se torna possvel a sua insero em diferentes
contextos e/ou instituies.
2. O Sofrimento Humano numa Perspectiva Ontol-
gica
Depois de falarmos dos desdobramentos da psicologia
clnica faz-se necessrio refletirmos, brevemente, sobre
o sofrimento e o sofrente: Quem este homem? Quais os
seus sentidos? O que o leva a sofrer? Quais as suas deman-
das para a psicologia clnica? Com esse intuito, proponho,
neste tpico, trazer algumas consideraes do sofrimento
humano a partir de uma perspectiva ontolgica.
De acordo com Koogan e Houaiss (1999), sofrimento
quer dizer uma dor fsica ou moral, padecimento, amar-
gura, desgraa, desastre. No senso-comum o sofrimento
est relacionado dor, agonia, aflio e amargura, muitas
vezes associado a um acontecimento marcante (injusti-
as, doenas ou perdas).
Segundo Barus-Michel (2001), etimologicamente o so-
frimento significa carregar, suportar ou tolerar uma dor.
Podemos observar nessas definies que o sofrimento
est sempre atrelado a uma dor, como nos fala Sasdelli
e Miranda (2001), comum fazermos referncia dor e
ao sofrimento como um s fenmeno. De fato, os limites
que separam os dois so tnues (p. 103).
No entanto, importante ressaltar que o sofrimento
anterior dor por fazer parte da complexidade da experi-
ncia humana em seus diversos aspectos, pois mesmo que
no exista dor, existir um sofrimento, mas acontece que
esse sofrimento na maioria das vezes emerge como dor e
insiste em permanecer como sintoma orgnico. Devido
a isso, dada mais importncia dor, esquecendo que
esta surge como uma forma emergente dos conflitos da
pessoa e no, como se costuma pensar, que ela a cau-
sa primeira dos conflitos (Sasdelli & Miranda, 2001, p.
102). Nesse sentido, o sofrimento aqui entendido como
Melina S. S. Rebouas; Elza Dutra
24 Revista da Abordagem Gestltica XVI(1): 19-28, jan-jul, 2010
A
r
t
i
g
o
inerente condio humana, pois a dor pode ser evitada,
mas o sofrimento no (Sasdelli & Miranda, 2001).
Segundo Dantas e Tobler (2003), o sofrimento esteve
sempre presente na histria da humanidade sob diferen-
tes formas e terminologias. Tal fato nos leva a reconhecer
a sua relatividade e singularidade, pois cada indivduo,
cultura e perodo histrico vo ter sua prpria manifes-
tao do sofrimento. Ento, devido a sua dimenso subje-
tiva, o sofrimento no pode ser somente definido a partir
dos acontecimentos que o desencadeiam. De acordo com
Brant e Minayo-Gomez (2004),
O sofrimento depende da significao que assume no
tempo e no espao, bem como no corpo que ele toca (...).
O homem sofre porque passa a perceber a sua finitude;
o que faz do sofrimento uma dimenso no apenas
psicolgica, mas, sobretudo existencial (p. 215).
Nesse sentido o sofrimento faz parte da constituio
do ser humano; na verdade, a sua condio. Segundo
Safra (2004), o homem desde o nascimento cruza com o
mistrio da existncia que s possvel atravs da presen-
a do outro. A partir disso ele conhece as condies ne-
cessrias para a instalao de si no mundo com os outros,
o que podemos chamar do prprio acontecer humano. No
entanto, o excesso de claridade ou de escurido quan-
do o homem sabe demais a respeito de si e do mundo ou
quando nada sabe impede esse acontecer humano e o
homem sofre. E esse sofrimento advm da prpria condi-
o humana, da sua ontologia, e no apenas de uma dor
moral, fsica ou psquica.
A partir de Heidegger podemos compreender a onto-
logia como o estudo do ser enquanto ser, isto , a pro-
cura das origens genunas que permitem a tudo mani-
festar-se e presentar-se. Dessa forma, ontolgico refere-se
quilo que possibilita as vrias formas de algo tornar-se
presente. Heidegger parte da vida cotidiana, dos fenme-
nos nticos para estudar o ser e seus aspectos ontolgi-
cos. E ntico tudo aquilo que conhecido e entendido
de imediato, refere-se s experincias do cotidiano, aos
acontecimentos do dia a dia. O ontolgico, ento, o fun-
damento, o que possibilita os acontecimentos nticos
(Spanoudis, 1981).
Partindo dessa conceituao poderamos entender o
sofrimento como sendo ntico pelo fato deste fazer par-
te das experincias do cotidiano, j que o homem sofre
de diversas formas em seu dia a dia. No entanto, neste
captulo, daremos nfase dimenso ontolgica do so-
frimento, entendendo este como constitutivo, fundante,
isto , inerente condio humana e que, de acordo com
Safra (2004), apesar de alcanar, no cotidiano, o registro
psquico, fsico e moral, no tem sua origem nestes, mas
acontecem no registro ontolgico.
Diante disso, faz-se necessrio que o ser humano per-
manea sempre no entre, isto , entre o dito e o no-di-
to, entre o encontro e a solido, entre o claro e o escuro,
enfim, no caia nos exageros, como diz Brant e Minayo-
Gomez (2004): (...) o sofrimento est relacionado com um
saber acerca da existncia que no se sabe todo (...) (p.
215). Assim, compreender esse ocultamento e desocul-
tamento do homem evitaria a agonia do impensvel e a
agonia do totalmente pensvel, pois so sofrimentos en-
louquecedores (Safra, 2004).
Nessa mesma perspectiva, Almeida (1999), baseando-
se na ontologia de Heidegger, afirma que o homem um
ser lanado no mundo o ser-a (Dasein) e isso signi-
fica dizer que ao homem est entregue responsabilida-
de de ser num mundo em que no escolheu, que j est
dado e do qual nada se sabe, estando, portanto, vulne-
rvel s contingncias deste. Assim, est sob sua tutela
escolher suas possibilidades de ser, que pode acontecer
no modo da impropriedade ou da propriedade, ou seja,
de uma forma inautntica ou autntica. Na primeira o
homem encontra-se absorvido no mundo e afasta-se de
si mesmo e seu poder-ser prprio est vedado; a segunda
acontece quando o homem se d conta de sua improprie-
dade e passa a viver uma angstia, sendo esta a nica
possibilidade de abrir-se para si mesmo e ir em busca de
seu poder-ser mais prprio.
Dessa forma, poderamos dizer que o sofrimento sau-
dvel seria aquele advindo da angstia de ser lanado
num mundo inspito que no consegue nos abrigar e nos
acolher. No entanto, essa experincia de desamparo e de-
sabrigo que queremos superar , na verdade, a condio
de liberdade do prprio homem, pois a angstia gerada
por essa experincia abre o homem para si mesmo, para
a sua singularidade (Critelli, 1996). A angstia promove
um conhecimento a respeito de si que advm do prprio
fato do homem ser lanado em meio existncia na bus-
ca das condies que permitam seu alojamento no mun-
do com os outros (Safra, 2004). Como nos fala Almeida
(1999), a angstia tira o homem de sua absoro no mun-
do na medida em que esta faz com que o homem se afaste
do mundo e no encontre mais a ilusria familiaridade
e proteo de anteriormente e estando sozinho no mun-
do passa a agir de acordo com suas prprias convices.
Essa capacidade mobilizadora da angstia pode ser vista
nesse trecho de Clarice Lispector:
Uma das coisas que aprendi que se deve viver ape-
sar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve
amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive muitas
vezes o prprio apesar de que nos empurra para
a frente. Foi o apesar de que me deu uma angstia
que insatisfeita, foi a criadora de minha prpria vida
(1998, p. 26).
Diante disso, para que possamos permitir o acontecer
humano, isto , para que o homem possa ser si mesmo
(ser no modo da propriedade) preciso compreendermos
a condio ontolgica do sofrimento humano e as formas
com que este se apresenta na contemporaneidade. O so-
Planto Psicolgico: uma Prtica Clnica da Contemporaneidade
25 Revista da Abordagem Gestltica XVI(1): 19-28, jan-jul, 2010
A
r
t
i
g
o
frimento aqui entendido como uma ruptura do ethos
3
humano, ruptura essa que provoca um sentimento de
no pertencimento ao mundo humano devido falta de
espao para a alteridade e singularidade.
No mundo contemporneo poderamos entender
essa ruptura como a alienao que a sociedade, pauta-
da na tica do consumo, provoca por meio da globaliza-
o, no qual este conspira para o mesmo, no havendo
lugar para o diferente, o singular (Safra, 2004). Dantas
e Tobler (2003) comentam que a sociedade de consumo
oferece um modelo de felicidade baseada em funo dos
objetos que um indivduo possui. O que acaba por gerar
problemas na esfera da individualidade, j que ao invs
de obter algo que quero ou preciso, obtenho aquilo que
todos tm e acreditam ser o objeto de felicidade. Tal fato
provoca um profundo vazio existencial que o faz querer
ainda mais consumir tais objetos, criando a falsa iluso
de que a cura desse vazio pode ser comprada.
Outra ruptura provocada pela contemporaneidade a
tentativa de explicar e revelar o ser humano em sua tota-
lidade por meio de teorias. Um exemplo disso atualmente
a psiquiatrizao do sofrimento, em que qualquer triste-
za ou frustrao diagnosticada como depresso (Dantas
& Tobler, 2003). Safra (2004) tambm corrobora com essa
idia ao afirmar que na atualidade temos um sofrimento
que descrito como sofrimento do totalmente pensado,
isto , algumas concepes da psicologia e da pedagogia
levam a um tudo dizer sobre o ser humano, no qual este
j se encontra classificado em categorias ou quadros psi-
copatolgicos. Parece haver uma necessidade de nomear,
explicar e curar todo e qualquer sofrimento, como se as
pessoas tivessem que ser felizes.
Ferreira Neto (2004), baseando-se nas idias de
Foucault, sugere que o parmetro tico do mundo con-
temporneo a eficincia. Segundo ele, em tempos de
globalizao o que impera a otimizao do desem-
penho atravs da lgica do gerenciamento. Por exem-
plo, os pais hoje no educam mais seus filhos, mas os
gerenciam, pois desde cedo os aprontam para a vida
profissional colocando-os em aulas de informtica e
ingls, na tentativa de torn-los mais preparados para
o mercado de trabalho e, portanto, mais eficientes. No
entanto, essa corrida pela eficincia tem provocado as
atuais formas de adoecimento que chegam clnica,
como o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), a de-
presso e a anorexia. Fazendo um paralelo, poderamos
dizer que o TOC, atravs das manias caractersticas po-
deria ser pensado como uma tentativa de acompanhar
o ritmo desenfreado da sociedade de consumo, como
se estas tornassem o homem mais prximo dessa efi-
cincia almejada. No caso da depresso ocorre o con-
trrio, o homem no consegue acompanhar esse ritmo
e cai num profundo vazio existencial e fica paralisado
diante da vida. J a anorexia poderia representar um
3
O sentido de ethos o mesmo referido no primeiro captulo.
exemplo da distoro que a busca pela eficincia pro-
voca, na medida em que a sociedade estabelece padres
a serem seguidos.
De uma forma geral, compreender a condio ontol-
gica do ser humano reconhec-lo em sua singularidade
e saber que este no pode ser totalmente explicado ou re-
velado. Como afirma Critelli (1996), todo saber a respeito
do homem sempre ser relativo e provisrio, j que im-
possvel para este alcanar qualquer fixidez pelo fato de
estar em contnuo vir-a-ser. O mundo contemporneo vai
demandar da clnica o restabelecimento do ethos e este
s ser possvel atravs da compreenso dessa dimenso
ontolgica do homem.
O mundo contemporneo, como vimos, provoca rup-
turas no ser humano que o leva a um tipo de sofrimento
sem entorno
4
, a uma vida sem sentido e a um completo
alheamento de si, e viver dessa forma muitas vezes pior
que a prpria morte. Na atualidade inmeras pessoas so-
nham com a morte como maneira de escapar do Nada e
como gesto desesperado de anseio por acontecer (Safra,
2004, p. 59). Nesse caso o homem vive suspenso em um
estado de agonia, no qual este clama por transformar essa
experincia em algo que lhe d sentido ou que possa vir
a ser um sofrimento (Safra, 2004).
O que tem acontecido que a contemporaneidade no
tem permitido ao homem sofrer, tentando de todas as for-
mas eliminar ou abafar o sofrimento, mas esse contro-
le ilusrio pelo fato deste fazer parte da constituio
ontolgica do ser humano e ser a condio de abertura
para o nosso acontecer, isto , nosso poder ser prprios.
Na verdade, Sofrer implica em devir, em destinar o vivi-
do (Safra, 2004, p. 70).
3. Planto Psicolgico: uma Prtica Clnica da Con-
temporaneidade
Depois desse breve percurso na histria da psicolo-
gia clnica e das reflexes acerca do mundo contempor-
neo, podemos, agora, colocar essas discusses em prtica.
Proponho, ento, neste tpico, discorrer sobre o Planto
Psicolgico entendendo este como uma prtica condizen-
te com a atual realidade.
A clnica contempornea, como falamos anteriormen-
te, est baseada numa tica e no mais numa tcnica, e
nesse sentido o psiclogo no est preso a um local ou
campo de atuao, ele pode estar em diversos lugares.
Assim, o planto psicolgico surge como uma alterna-
tiva de prestao de servios condizente com essa nova
postura da clnica em que o psiclogo passa a estar com-
prometido com a escuta e sensvel s demandas que che-
gam, mesmo que esse encontro seja nico. Porm, vale
ressaltar que essa proposta no se trata de uma psicote-
rapia alternativa e nem visa substituir a esta. Na verda-
4
Sofrimento enlouquecedor.
Melina S. S. Rebouas; Elza Dutra
26 Revista da Abordagem Gestltica XVI(1): 19-28, jan-jul, 2010
A
r
t
i
g
o
de, o que tentamos defender o planto como uma pr-
tica da clnica contempornea e que possvel ampli-la
para diversos campos da prtica profissional. Exemplo
disso so os atuais servios em que o psiclogo est in-
serido como o PSF (Programa de Sade da Famlia), o
CAPS (Centro de Ateno Psicossocial) e o CRAS (Centro
de Referncia da Assistncia Social) que tm por objeti-
vo acolher e dar a assistncia necessria populao no
momento de sua procura.
Vimos que a contemporaneidade tem demandado
da clnica uma postura de ousadia, de transformao,
de inquietao e de permanente construo. O planto
psicolgico, assim, vai exigir do profissional uma dis-
ponibilidade para se deparar com o inesperado e, dian-
te disso, buscar alternativas. O planto psicolgico, de
acordo com Morato (1999) caracteriza-se como um es-
pao de acolhimento e escuta no momento em que a
pessoa procura ajuda, tentando propiciar a elaborao
e ressignificao do seu sofrimento, utilizando seus
prprios recursos e, na medida do possvel, os recursos
que a instituio dispe ou indo busc-los fora desta.
Compartilhando dessa idia, Tassinari (1999) define o
planto psicolgico como:
(...) um tipo de atendimento psicolgico, que se com-
pleta em si mesmo, realizado em uma ou mais consul-
tas sem durao pr-determinada, objetivando receber
qualquer pessoa no momento exato de sua necessidade
para ajud-la a compreender melhor sua emergncia e,
se necessrio, encaminh-la a outros servios. Tanto
o tempo da consulta, quanto os retornos dependem
de decises conjuntas (plantonista/cliente) no de-
correr do atendimento. exercido por psiclogos
que ficam disposio das pessoas que procuram
espontaneamente o Servio em local, dias e horrios
pr-estabelecidos, podendo ser criado em diversos
locais e instituies. Em cada ambiente, precisar,
criar estratgias especficas, desde sua divulgao
(processo de sensibilizao comunidade) at sua
relao com a prpria instituio/local (p. 44).
Dessa forma, o profissional ser um facilitador ao
ajudar o cliente a ter uma viso mais clara de si mesmo
e da problemtica que o trouxe, utilizando sempre o po-
der pessoal do cliente, ajudando, assim, na promoo de
sade e estimulando a preveno.
Falamos tambm do compromisso da clnica contem-
pornea com a dimenso poltica e social, em funo qual
o profissional precisa repensar sua prtica de acordo com
a realidade atual e com o meio em que est inserido. O
planto psicolgico, ento, como nos fala Morato (1999),
redimensiona a aprendizagem e a compreenso do papel
do psiclogo e seu campo de atuao (...) (p. 35), alm de
proporcionar ao psiclogo entrar em contato com as ne-
cessidades de uma comunidade exercendo um papel de
agente transformador e multiplicador social.
Diante disso, podemos observar como a proposta do
planto psicolgico se adequa a essa nova postura da cl-
nica em todos os seus aspectos, tendo a tica como prin-
cipal norteador, entendendo esta como uma atitude, como
um cuidado e como uma abertura para o outro, estando
o profissional disposto a fazer uma psicologia sem nome,
mas que deixe emergir o mundo do outro, como afirma
Ancona-Lopez (1996):
(...) quando o cliente vem procura de um psiclogo,
ele quer ser atendido em suas necessidades, pouco im-
portando sob que nome este atendimento se efetue. Na
prtica, no entanto, o que acontece com freqncia
que, por nomear sua prtica, o psiclogo deixa de fazer
sua parte, postergando sua interveno e empobrecen-
do um encontro rico de possibilidades (p.115).
Nesse sentido, o psiclogo, no planto psicolgico, in-
dependente de onde esteja ou do nome que recebe, estar
ali para atender a pessoa, focalizando a sua ateno nes-
ta e no no problema. Dessa forma, a eficcia do planto
psicolgico no est relacionada resoluo da proble-
mtica em questo, j que a prioridade no a queixa,
mas o mundo de significados daquela pessoa, e o papel
do psiclogo ajud-la a refletir e buscar novas manei-
ras para lidar com as suas dificuldades. importante
lembrar que o planto no soluo para tudo, existem
muitos limites, a maioria devido grande desigualdade
social e defasagem dos servios pblicos (Cury, 1999).
No entanto, a proposta do planto mostra-se como um
alcance dos servios psicolgicos a uma populao que
talvez nunca tivesse acesso, servindo como espao de
acolhimento e de informaes, auxiliando as pessoas a
ter uma maior autonomia emocional, bem como um es-
clarecimento acerca de sua realidade social e de seus di-
reitos enquanto cidado.
Consideraes Finais
A contemporaneidade, como vimos, tem demandando
da Psicologia Clnica uma nova postura e um novo olhar
diante do homem. E para isso, a psicologia rompe com o
modelo metafsico baseado no instrumental tcnico e em
verdades absolutas e inquestionveis, indo de encontro a
uma clnica pautada na tica.
E pautar-se na tica levar em considerao a singu-
laridade humana, abrindo-se ao encontro do outro e ofe-
recendo-lhe uma morada, isto , um espao para que este
se sinta verdadeiramente acolhido. O Planto Psicolgico
seria, portanto, um desses espaos, estando o profissional
disponvel para se deparar com o no-planejado, deixan-
do-se, como coloca Ferreira (2006), afetar pela singulari-
dade de cada existncia e de cada encontro.
As caractersticas do mundo contemporneo levam o
homem a perder sua morada, seu espao no mundo, sen-
Planto Psicolgico: uma Prtica Clnica da Contemporaneidade
27 Revista da Abordagem Gestltica XVI(1): 19-28, jan-jul, 2010
A
r
t
i
g
o
tindo-se, desse modo, perdido e completamente alienado
se si, fato que provoca as atuais formas de adoecimen-
to anteriormente comentadas no capitulo II. O que falta
a este homem ser ouvido, ser compreendido em sua
singularidade e essa escuta no precisa ocorrer somente
nos consultrios. O psiclogo pode estar aberto para essa
alteridade onde quer que o ser humano se encontre, como
nos fala Ferreira (2006): o Planto Psicolgico delineia-se
como um servio a servio de quem solicita ateno psi-
colgica, extrapolando a concepo de clnica enquanto
dimenso fsica ou prtica de consultrio, expandindo-se
e legitimando-se em diferentes contextos (...) (p. 20).
Podemos dizer que o planto psicolgico constitui-
se como uma prtica clnica da contemporaneidade, na
medida em que ela promove uma abertura para o novo,
o diferente e oferece um espao de escuta a algum que
apresenta uma demanda psquica, um sofrimento, ofe-
rece um momento no qual esse sujeito que sofre se sin-
ta verdadeiramente ouvido na sua dor. E ouvir, segundo
Amatuzzi (2001), se permitir entrar verdadeiramente
no universo de significados do outro para, dessa forma,
auxili-lo na construo e/ou reconstruo dos sentidos
que realmente dizem respeito sua existncia. um mer-
gulho no universo interior da pessoa que fala, sem a in-
terferncia de julgamentos e valores, a partir do qual se
abrem possibilidades dela mesma se ouvir.
Nesse sentido, o planto, ao oferecer esse espao, pro-
move o restabelecimento do ethos que foi perdido, devol-
vendo ao homem seu lugar no mundo. As pessoas no
necessariamente precisam de uma psicoterapia para se
sentir bem, muitas precisam apenas dessa atitude, des-
se novo olhar, dessa mo estendida para que elas pos-
sam ser quem realmente so, para que possam se enxer-
gar como seres nicos, para que possam ter aquilo que o
mundo atual no permite que tenham, mesmo que seja
por um breve momento. A proposta do planto justa-
mente criar condies para que o indivduo possa por si
s encontrar seus caminhos, mas esta trilha muitas ve-
zes tortuosa e em alguns momentos o homem precisa-
r desse espao para se fortalecer e posteriormente con-
tinuar. Assim, o planto estar disposio sempre que
algum precisar.
Referncias
Amatuzzi, M. (2001). Por uma Psicologia Humana. So Paulo:
Alnea.
Ancona-Lopez, S. (1996). A porta de entrada: da entrevista de
triagem consulta psicolgica. Tese de Doutorado. Pontifcia
Universidade Catlica de So Paulo. So Paulo, SP.
Almeida, F. (1999). Aconselhamento Psicolgico numa Viso
Fenomenolgico-Existencial: Cuidar de Ser. Em H. T. P.
Morato (Org.), Aconselhamento Psicolgico Centrado na
Pessoa (p. 45-59). So Paulo: Casa do Psiclogo.
Barus-Michel, J. (2001). Sofrimentos, trajetos, recursos.
Dimenses psicossociais do sofrimento humano. Em T. M. J.
A. Vaisberg & F. F. Ambrsio (Orgs.), Trajetos do Sofrimento:
Rupturas e (re) Criaes de Sentido (p. 17-40). Cadernos
Ser e Fazer, Instituto de Psicologia da Universidade de
So Paulo.
Brant, L. C. & Minayo-Gomez, C. (2004). A transformao do
sofrimento em adoecimento: do nascimento da clnica
psicodinmica do trabalho. Cincia e Sade Coletiva, 9
(1), 213-223.
Critelli, D. M. (1996). A respeito da fenomenologia. Em D. M.
Critelli, Analtica do sentido: uma aproximao e interpre-
tao do real de orientao fenomenolgica (p. 11-24). So
Paulo: Educ/Brasiliense.
Cury, V. E. (1999). Planto psicolgico em Clnica Escola. Em
M. Mahfoud (Org.), Planto Psicolgico: novos desafios (p.
115-116). So Paulo: Companhia Ilimitada.
Dantas, M. A. & Tobler, V. L. (2003). O sofrimento psicolgico
a pedra angular sobre o qual repousa a cultura de consumo.
Acesso em 20 de junho de 2007 de http://www.psicologia.
com.pt/artigos/ver_artigo.php?codigo=A0175.
Dutra, E. (2004). Consideraes sobre as significaes da psico-
logia clnica na contemporaneidade, Estudos de Psicologia,
Natal, 9 (2), 381-387.
Eisenlohr, M. G. V. (1999). Servio de Aconselhamento
Psicolgico do IPUSP: breve histrico de sua criao e mu-
danas ocorridas na dcada de 90. Em H. T. P. Morato (Org.),
Aconselhamento Psicolgico Centrado na Pessoa: novos de-
safios (p. 135-143). So Paulo: Casa do Psiclogo.
Feres-Carneiro, T. & Lo Bianco, A. C. (2003). Psicologia Clnica:
uma identidade em permanente construo. Em O. H.
Yamamoto & V. V. Gouveia (Orgs.), Construindo a psicolo-
gia brasileira: desafios da cincia e prtica psicolgica (p.
99-119). So Paulo: Casa do Psiclogo.
Ferreira, R. S. (2006). Possveis implicaes da experincia
com planto psicolgico para a ao do psiclogo clni-
co. Dissertao de Mestrado, Universidade Catlica de
Pernambuco.
Ferreira Neto, J. L. (2004). A formao em nossa atualidade. Em
J. L. Ferreira Neto, A formao do psiclogo: clnica, social,
mercado (p. 162-186). So Paulo: Escuta.
Figueiredo, L. C. M. (1993). Sob o signo da multiplicidade,
Cadernos de Subjetividade, So Paulo, 1, 89-95.
Figueiredo, L. C. M. (2004). Revisitando as psicologias: Da
epistemologia tica das prticas e discursos psicolgicos.
Petrpolis, Rio de Janeiro: Vozes.
Koogan A., & A. Houaiss (1999). Enciclopdia e dicionrio ilus-
trado Koogan / Houaiss. Rio de Janeiro: Seifer.
Leito, C. F. & Nicolaci-da-Costa, A. M. (2003). A Psicologia no
novo contexto mundial. PUC: Rio de Janeiro. Estudos de
Psicologia, 8 (3), 421-430.
Lispector, C. (1998). Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres.
Rio de Janeiro: Rocco.
Melina S. S. Rebouas; Elza Dutra
28 Revista da Abordagem Gestltica XVI(1): 19-28, jan-jul, 2010
A
r
t
i
g
o
Mahfoud, M. (1987). A Vivncia de um Desafio: planto psicol-
gico. Em R. L. Rosenberg (Org.), Aconselhamento Psicolgico
Centrado na Pessoa (p. 75-83). So Paulo: EPU.
Mahfoud, M. (Org.) (1999). Planto Psicolgico: novos horizon-
tes. So Paulo: Companhia Ilimitada.
Morato, H. T. P. (1999). Aconselhamento psicolgico: uma pas-
sagem para a transdisciplinariedade. Em H. T. P. Morato
(Org.), Aconselhamento psicolgico centrado na pessoa: no-
vos desafios (p. 61-89). So Paulo: Casa do Psiclogo.
Mosqueira, S. M., Morato, H. T. P. & Noguchi, N. F. C. (2006).
Ateno psicolgica: de planto a acompanhamento na
FEBEM/SP [texto completo]. Em Laboratrio de Estudos e
Prtica em Psicologia Fenomenolgica Existencial (Org.),
Anais da I Jornada Planto Psicolgico em Aconselhamento
Psicolgico (p.194-203). So Paulo: Autor.
Oliveira, R. G. (2005). Uma experincia de planto psicolgico
polcia militar do Estado de So Paulo: reflexes sobre sofri-
mento e demanda. Dissertao de mestrado, Universidade
de So Paulo, SP.
Paulon, S.M. (2004). Clnica Ampliada: Que(m) demanda am-
pliaes? Em T.G Fonseca & S. Engelman (Orgs.), Corpo, Arte
e Clnica (p. 259-274). Porto Alegre, Ed. UFRGS.
Roehe, M. V. (2005). Uma abordagem fenomenolgico-existen-
cial para a questo do conhecimento em psicologia. Estudos
de Psicologia, 11 (2), 153-158.
Rosenberg, R. L. (Org.) (1987). Aconselhamento Psicolgico
Centrado na Pessoa. So Paulo: EPU.
S, R. N. (2007). A noo fenomenolgica de existncia e as
prticas psicolgicas clnicas. [Texto completo]. Em VII
Simpsio Nacional de Prticas Psicolgicas em Instituio
- Fronteiras da Ao Psicolgica entre educao e sade,
Anais do VII Simpsio Nacional de Prticas Psicolgicas em
Instituio - Fronteiras da Ao Psicolgica entre educao
e sade (p.1-5). So Paulo: Liber Livros Editora.
Safra, G. (2004). A po-tica na clnica contempornea.
Aparecida, SP: Idias e Letras.
Sasdelli, E. N. & Miranda, E. M. F. (2001). Ser: o sentido da dor
na urgncia e na emergncia. Em V. A. Angerami-Camon
(Org.), Psicossomtica e Psicologia da dor (p. 93-110). So
Paulo: Pioneira.
Silva, . R. (2001). Psicologia Clnica, um novo espetculo: di-
menses ticas e polticas. Psicologia Cincia e Profisso,
21 (4). Acesso em 11 de maio de 2007 de http://pepsic.
bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
8932001000400009.
Spanoudis, S. (1981). Apresentao: a todos que procuram o
prprio caminho. Em M. Heidegger, Todos ns... Ningum:
um enfoque fenomenolgico do social (p. 9-22). So Paulo:
Moraes.
Tassinari, M. A. (1999). Planto Psicolgico Centrado na Pessoa
como Promoo de Sade no Contexto Escolar. Dissertao
de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Acesso em 10 de fevereiro de 2007 do: http://www.encon-
troacp.psc.br/teses.htm.
Yamamoto, O. H., Oliveira, I. F., & Campos, H. R. (2002).
Demandas Sociais e formao profissional em Psicologia.
Revista do Departamento de Psicologia da UFF, 14 (1),
75-86.
Melina Sfora Souza Rebouas - Psicloga, Especialista em Psicologia
Clnica na Abordagem Fenomenolgico-Existencial e Mestranda em
Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
E-mail: melina_sefora@yahoo.com.br.
Elza Dutra - Professora Doutora do Programa de Ps-Graduao em
Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Endereo Institucional: Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Centro de Cincias Humanas Letras e Artes, Departamento de Psico-
logia. Campus Universitrio, Lagoa Nova, s/n. CEP 59.075-970 - Natal,
RN, Brasil. E-mail: dutra.e@digi.com.br
Recebido em 25.11.09
Aceito em 12.03.10
Você também pode gostar
- Manual de Psicologia Hospitalar o Mapa Da Doença Alfredo SimonetiDocumento201 páginasManual de Psicologia Hospitalar o Mapa Da Doença Alfredo SimonetiKaroline Corderio100% (13)
- Noções Básicas de Corretagem de ImoveisDocumento64 páginasNoções Básicas de Corretagem de ImoveisIdalécio ÁguasAinda não há avaliações
- O psicólogo clínico em hospitais: Contribuição para o aperfeiçoamento da arte no BrasilNo EverandO psicólogo clínico em hospitais: Contribuição para o aperfeiçoamento da arte no BrasilAinda não há avaliações
- A Psicanálise e A Instituição 1Documento30 páginasA Psicanálise e A Instituição 1Beatriz L MAinda não há avaliações
- Modelo de Ficha de Progressão ParcialDocumento10 páginasModelo de Ficha de Progressão ParcialAlex SouzaAinda não há avaliações
- Seminário Lealdade e DeslealdadeDocumento29 páginasSeminário Lealdade e DeslealdadeNATHALIA RODRIGUESAinda não há avaliações
- A Psicologia junguiana entra no hospital: Diálogos entre corpo e psiqueNo EverandA Psicologia junguiana entra no hospital: Diálogos entre corpo e psiqueAinda não há avaliações
- Clínicas gestálticas: Sentido ético, político e antropológico da teoria do selfNo EverandClínicas gestálticas: Sentido ético, político e antropológico da teoria do selfAinda não há avaliações
- Questionário Psicologia Ciencia e Profissão 1 BimestreDocumento10 páginasQuestionário Psicologia Ciencia e Profissão 1 BimestreWender Marques80% (5)
- Questionário Interpretação e Produção de Texto 1 BimestreDocumento24 páginasQuestionário Interpretação e Produção de Texto 1 BimestreWender Marques67% (3)
- Questionário Psicologia Do Desenvolvimento Ciclo Vital 1 BimestreDocumento18 páginasQuestionário Psicologia Do Desenvolvimento Ciclo Vital 1 BimestreWender Marques82% (11)
- Checklist - Bombeiros CivisDocumento2 páginasChecklist - Bombeiros CivisAlessandro Alves Pereira100% (1)
- Psicoterapia Existencial Humanista - FenDocumento10 páginasPsicoterapia Existencial Humanista - FenElizângela DamásioAinda não há avaliações
- 03 Henriete Morato PLANTAO PSICOLOGICO PDFDocumento8 páginas03 Henriete Morato PLANTAO PSICOLOGICO PDFBrenda DantasAinda não há avaliações
- As 112 Regras de MorinDocumento18 páginasAs 112 Regras de MorinKarpintería Alkímika100% (2)
- Trabalho Plantão PsicologicoDocumento5 páginasTrabalho Plantão PsicologicoBruna GoesAinda não há avaliações
- Carta 71 - FreudDocumento3 páginasCarta 71 - FreudWender MarquesAinda não há avaliações
- Psicoterapia Breve GrupalDocumento6 páginasPsicoterapia Breve GrupalAneli Pereira De Araújo Gois50% (2)
- Farsa de Inês PereiraDocumento7 páginasFarsa de Inês PereiraIsabel Mourinho100% (1)
- Plantão Psicológico ACPDocumento8 páginasPlantão Psicológico ACPLuana AmaroAinda não há avaliações
- Plantão Psicológico Na Abordagem Sistêmica PDFDocumento17 páginasPlantão Psicológico Na Abordagem Sistêmica PDFJozi GomesAinda não há avaliações
- HUCHET, Stéphane. A História Da Arte, Disciplina Luminosa.Documento24 páginasHUCHET, Stéphane. A História Da Arte, Disciplina Luminosa.Monaliza MesquitaAinda não há avaliações
- Psicologia Clínica ArtigoDocumento8 páginasPsicologia Clínica ArtigoCarol RezendeAinda não há avaliações
- Plantão Psicológico. Uma Prática Clínica Da Contemporaneidade PDFDocumento11 páginasPlantão Psicológico. Uma Prática Clínica Da Contemporaneidade PDFAlexandre DinizAinda não há avaliações
- Psicologia ClínicaDocumento22 páginasPsicologia Clínicadaniel andradeAinda não há avaliações
- Plantão Psicológico - 20230904 - 100055 - 0000Documento15 páginasPlantão Psicológico - 20230904 - 100055 - 0000Sabrina da Silva LimasAinda não há avaliações
- Resenha 01. Plantão Psicológico - Uma Prática Clínica Da ContemporaneidadeDocumento4 páginasResenha 01. Plantão Psicológico - Uma Prática Clínica Da ContemporaneidadeRuiz FilhoAinda não há avaliações
- O Sofrimento Psiquico Na Pós ModernidadeDocumento12 páginasO Sofrimento Psiquico Na Pós ModernidadeWesley Eloi da SilvaAinda não há avaliações
- Psicologia Clínica - Prática Integrativa IiDocumento29 páginasPsicologia Clínica - Prática Integrativa IimrrstudiesAinda não há avaliações
- Resenha DemétrioDocumento5 páginasResenha DemétrioHallana OliveiraAinda não há avaliações
- Fichamento 01Documento4 páginasFichamento 01Jéssica SoaresAinda não há avaliações
- Gestalt Terapia e Dialogo No HospitalDocumento8 páginasGestalt Terapia e Dialogo No HospitalBianca GilAinda não há avaliações
- Um Olhar Clínico Diante Do AlcoolistaDocumento10 páginasUm Olhar Clínico Diante Do AlcoolistaMarcela NascimentoAinda não há avaliações
- Rosa Macedo Capítulo 1 Psicologia ClínicaDocumento11 páginasRosa Macedo Capítulo 1 Psicologia ClínicaTaís LoboAinda não há avaliações
- Artigo - Plantão Psicológico No CREAS - Relato de Experiência de Um Novo Fazer ClínicoDocumento11 páginasArtigo - Plantão Psicológico No CREAS - Relato de Experiência de Um Novo Fazer Clínicowagner genanesiniAinda não há avaliações
- A Pesquisa em Psicologia Clínica: Do Indivíduo Ao GrupoDocumento10 páginasA Pesquisa em Psicologia Clínica: Do Indivíduo Ao GrupoEwerton GustavoAinda não há avaliações
- Plantão Psicológico Na Delegacia de Atendimento A MulherDocumento19 páginasPlantão Psicológico Na Delegacia de Atendimento A Mulherthaisrithielli1410Ainda não há avaliações
- MORATO - Pedido, Queixa e Demanda - Documentos GoogleDocumento7 páginasMORATO - Pedido, Queixa e Demanda - Documentos GoogleCintia CintiaAinda não há avaliações
- Gestalt Terapia e o Dialogo PsicologicoDocumento8 páginasGestalt Terapia e o Dialogo PsicologicoBruno LealAinda não há avaliações
- Considerações Sobre A Clinica Na ContemporaneidadeDocumento7 páginasConsiderações Sobre A Clinica Na ContemporaneidadeDaniele Carmo QueirozAinda não há avaliações
- PSICOLOGIA CLÍNICA. Psicologia Ciência e ProfissãoDocumento6 páginasPSICOLOGIA CLÍNICA. Psicologia Ciência e ProfissãoNatanAinda não há avaliações
- PsicoterapiasDocumento17 páginasPsicoterapiasIara DomenicaliAinda não há avaliações
- Texto 2. Intervenções em Plantão Psicológico Humanista-FenomenológicoDocumento16 páginasTexto 2. Intervenções em Plantão Psicológico Humanista-FenomenológicoAdriano OliveiraAinda não há avaliações
- 14 - Artigo Revista Nordeste MineiroDocumento21 páginas14 - Artigo Revista Nordeste MineiroAdy NastosAinda não há avaliações
- A Especificidade Da Psicoterapia Experiencial de E. GendlinDocumento19 páginasA Especificidade Da Psicoterapia Experiencial de E. Gendlingiulia trivellatoAinda não há avaliações
- Casos e Acasos ClínicosDocumento7 páginasCasos e Acasos ClínicosThaisa AlmeidaAinda não há avaliações
- Apres. Oral RIBEIRO, Fernanda Fernandes. A Importância Do Plantão PsicológicoDocumento3 páginasApres. Oral RIBEIRO, Fernanda Fernandes. A Importância Do Plantão PsicológiconateAinda não há avaliações
- A Clínica Na Psicologia SóciohistóricaDocumento21 páginasA Clínica Na Psicologia SóciohistóricaMahasiãh RaimundoAinda não há avaliações
- Clinica Como Comunidade de DestinoDocumento108 páginasClinica Como Comunidade de DestinoCícero FonsêcaAinda não há avaliações
- Rachel Rosenberg - Terapia para AgoraDocumento17 páginasRachel Rosenberg - Terapia para AgoraCristiane SilveiraAinda não há avaliações
- Aula 01 Entre A Clínica e o CuidadoDocumento16 páginasAula 01 Entre A Clínica e o Cuidadothatycristina13Ainda não há avaliações
- FENOMENOLOGIA E EXISTENCIALISMO NA CLINICA Unidade 3Documento10 páginasFENOMENOLOGIA E EXISTENCIALISMO NA CLINICA Unidade 3Débora MaiaAinda não há avaliações
- A Psicanálise No Encontro Com Outras Práticas InstitucionaisDocumento9 páginasA Psicanálise No Encontro Com Outras Práticas InstitucionaisRafaelaAinda não há avaliações
- Apostila Psicologia Clinica Life Ead 1Documento74 páginasApostila Psicologia Clinica Life Ead 1Jéssica PatrícioAinda não há avaliações
- Sobre Duas Proposições Relacionadas À ClínicaDocumento7 páginasSobre Duas Proposições Relacionadas À ClínicaSilvane CarozziAinda não há avaliações
- Wa0033.Documento2 páginasWa0033.ElleAinda não há avaliações
- A Constituição Do Espaço Ou Campo PsicanalíticoDocumento9 páginasA Constituição Do Espaço Ou Campo PsicanalíticoCa KZAinda não há avaliações
- TCC OficialDocumento16 páginasTCC OficialPedro CairesAinda não há avaliações
- Caminhos Possíveis Entre Ética e A Psicoterapia Fenomenológica ExistencialDocumento16 páginasCaminhos Possíveis Entre Ética e A Psicoterapia Fenomenológica Existencialpatricia sierpinskaAinda não há avaliações
- Plantao Psicologico Acolhimento e EscutaDocumento14 páginasPlantao Psicologico Acolhimento e EscutaJessica OlveiraAinda não há avaliações
- Artigo - Plantão Psicológico Psicanalítico e Diagnóstico - Relato de Um Caso ClínicoDocumento19 páginasArtigo - Plantão Psicológico Psicanalítico e Diagnóstico - Relato de Um Caso Clínicowagner genanesiniAinda não há avaliações
- Fichamento Artigo 1Documento6 páginasFichamento Artigo 1Renata Reghini Ricoy GirioAinda não há avaliações
- TeseDocumento187 páginasTeseThiago CarvalhoAinda não há avaliações
- CLÍNICA COM PSICANÁLISE - UM ESTUDO SOBRE SUA ELABORAÇÃO E ATUAÇÃO PRÁTICA (Multivix - Edu.br - 2022-2023)Documento13 páginasCLÍNICA COM PSICANÁLISE - UM ESTUDO SOBRE SUA ELABORAÇÃO E ATUAÇÃO PRÁTICA (Multivix - Edu.br - 2022-2023)cantagalogoyazAinda não há avaliações
- Fichamento Texto Psicoterapia e Pós ModernidadeDocumento2 páginasFichamento Texto Psicoterapia e Pós Modernidadeluciana.nantesAinda não há avaliações
- Resenha Psicologia Da SaúdeDocumento2 páginasResenha Psicologia Da SaúdeBylla BaixistaAinda não há avaliações
- O Cuidado Na SaúdeDocumento13 páginasO Cuidado Na SaúdeSara RaquelAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido AconselhamentoDocumento3 páginasEstudo Dirigido AconselhamentoYasmin LéiaAinda não há avaliações
- O Processo Do Psicodiagnóstico Psicanalítico Artigo de Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo 15.01.2021Documento23 páginasO Processo Do Psicodiagnóstico Psicanalítico Artigo de Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo 15.01.2021Leila TardivoAinda não há avaliações
- A Entrevista Clinica em NeuropsicologiaDocumento15 páginasA Entrevista Clinica em NeuropsicologiaWender Marques0% (1)
- O Exame Neuropsicologico - o Que É e para Que Serve - PDFDocumento14 páginasO Exame Neuropsicologico - o Que É e para Que Serve - PDFWender MarquesAinda não há avaliações
- Esboco de Psicanalise Id Ego e SuperegoDocumento5 páginasEsboco de Psicanalise Id Ego e SuperegoWender Marques0% (1)
- Aula 03 - As Sutilezas de Um Ato FalhoDocumento3 páginasAula 03 - As Sutilezas de Um Ato FalhoWender Marques100% (1)
- Textos Sobre o InconscienteDocumento10 páginasTextos Sobre o InconscienteWender MarquesAinda não há avaliações
- Conteúdos Módulos 01-02-03-04Documento17 páginasConteúdos Módulos 01-02-03-04Wender MarquesAinda não há avaliações
- Neurose e PsicoseDocumento13 páginasNeurose e PsicoseVera Lucia Oliveira SantosAinda não há avaliações
- Questionário Ipt 2º BimestreDocumento10 páginasQuestionário Ipt 2º BimestreWender Marques0% (1)
- Questionário de Psicologia Do Desenvolvimento 2º SemestreDocumento14 páginasQuestionário de Psicologia Do Desenvolvimento 2º SemestreWender MarquesAinda não há avaliações
- Questionário Ecologia Humana 1 BimestreDocumento4 páginasQuestionário Ecologia Humana 1 BimestreWender MarquesAinda não há avaliações
- Ecologia Humana 2º BimestreDocumento16 páginasEcologia Humana 2º BimestreWender MarquesAinda não há avaliações
- Questionário Histótiria Da Psicologia 1 BimestreDocumento16 páginasQuestionário Histótiria Da Psicologia 1 BimestreWender Marques40% (5)
- A Adolescência Como Contrução Social. Estudo Sobre Livros Destinados A Pais e Educadores. BOCK, Ana Mercês BahiaDocumento14 páginasA Adolescência Como Contrução Social. Estudo Sobre Livros Destinados A Pais e Educadores. BOCK, Ana Mercês BahiaYuri CunhaAinda não há avaliações
- Desbravador Ao Extremo - Requisitos para Investidura em LençoDocumento9 páginasDesbravador Ao Extremo - Requisitos para Investidura em LençoAnderson José Leal Almeida0% (1)
- O Caminho de San Giovanni - Italo CalvinoDocumento48 páginasO Caminho de San Giovanni - Italo CalvinoFernanda FaccinAinda não há avaliações
- Revisão para Prova 2 - 2023Documento5 páginasRevisão para Prova 2 - 2023Marcelo AugustoAinda não há avaliações
- Contracheque GersonDocumento1 páginaContracheque GersonGerson SousaAinda não há avaliações
- Professor: Leandro SignoriDocumento40 páginasProfessor: Leandro SignoriFelipe FerrerAinda não há avaliações
- Apostila Revisão Ecologia-COM GABARITO-ENEMDocumento6 páginasApostila Revisão Ecologia-COM GABARITO-ENEMbrendoAinda não há avaliações
- Julgados de Paz AulasDocumento16 páginasJulgados de Paz AulasAP100% (1)
- Ed 5 2023 PC Pe Res Final Obj Prov DiscDocumento48 páginasEd 5 2023 PC Pe Res Final Obj Prov DiscThiago V. Clemente BarrosAinda não há avaliações
- Diário Da Justiça Eletrônico - Data Da Veiculação - 08-08-2018Documento274 páginasDiário Da Justiça Eletrônico - Data Da Veiculação - 08-08-2018csutrabo0% (1)
- O Livro IlluminatiDocumento80 páginasO Livro IlluminatiResistencia Brasilsul100% (1)
- Sinais Da MarçonariaDocumento3 páginasSinais Da MarçonariaPaulo Cesar TeixeiraAinda não há avaliações
- Depósito em GarantiaDocumento14 páginasDepósito em GarantiaRoberto Da Silva JesusAinda não há avaliações
- Anfiteatro 231107 170403Documento13 páginasAnfiteatro 231107 170403Jéssica AraújoAinda não há avaliações
- Crianças Iam para A Cadeia No Brasil Até A Década de 1920 - Senado Federal - Portal de NotíciasDocumento4 páginasCrianças Iam para A Cadeia No Brasil Até A Década de 1920 - Senado Federal - Portal de NotíciasTiago AraujoAinda não há avaliações
- ProxêmicaDocumento30 páginasProxêmicaRutekAinda não há avaliações
- Linha Do Tempo - Capitulo 2Documento2 páginasLinha Do Tempo - Capitulo 2Adryelle Cândido SantosAinda não há avaliações
- Jornal Oficial: Eletrônico Dos Municípios Do Estado de Mato GrossoDocumento1.064 páginasJornal Oficial: Eletrônico Dos Municípios Do Estado de Mato GrossoTatianeSantosAinda não há avaliações
- Interpretao Meuabrigo 210823192752Documento2 páginasInterpretao Meuabrigo 210823192752Cristina de Faria BarbosaAinda não há avaliações
- Projeto de Flexibilidade CurricularDocumento31 páginasProjeto de Flexibilidade Curricularadeliabentes66Ainda não há avaliações
- No Tempo Das EspeciariasDocumento3 páginasNo Tempo Das EspeciariasNanda GermanoAinda não há avaliações
- Imposto Sobre Rendimento de TrabalhoDocumento8 páginasImposto Sobre Rendimento de TrabalhoWalter Frances100% (6)
- FORMULÁRIO - Requerimento - GERAL - ImpressoDocumento2 páginasFORMULÁRIO - Requerimento - GERAL - ImpressoEzequiasAinda não há avaliações
- Quintessencia 02jun2009Documento25 páginasQuintessencia 02jun2009eldneygodoy0% (1)