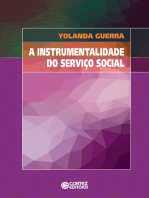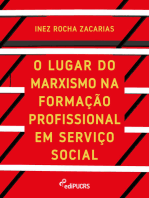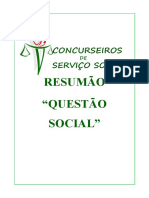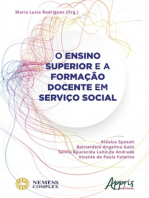Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
3 - Fundamentos Eticos Do Servico Social
3 - Fundamentos Eticos Do Servico Social
Enviado por
Hilsa MotaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
3 - Fundamentos Eticos Do Servico Social
3 - Fundamentos Eticos Do Servico Social
Enviado por
Hilsa MotaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FundamentosticosdoServioSocial
MariaLciaSilvaBarroco
ProfessoradeticaProfissionalPUC/SP
1
FundamentosticosdoServioSocial
Introduo
H cerca de duas dcadas ocorre com a tica um fenmeno indito: sua
discusso,emgeralrestritaaocampofilosfico,ampliaseparadiferentesreasdo
saber, incidindo em amplos setores da vida social. Ao invadir o espao da
cotidianidade,ocupandoseemgeraldeprescriesmoralistas,apresentasecomo
alternativa social conservadora, incentivando o senso comum a preservar os seus
preconceitos, o que tende a se renovar no contexto de violncia estrutural da
sociedadebrasileira
1
.
Parte significativa das produes ticas contemporneas se afasta,
progressivamente, da crtica, da objetividade, da universalidade, isto , dos
referenciaisticosdamodernidadeedeautoresclssicoscomoAristteles,Kante
Hegel. Ao favorecer a ideologia dominante e o irracionalismo, contribuem para
obscurecerosnexosdarealidade;aonaturalizaropresente,negamapossibilidade
de interveno do homem na histria: fundamento de uma tica orientada pela
prxis.
A moralizao da vida social, comportamento pautado em preconceitos,
ganha legitimidade ao ser incorporada socialmente como estratgia de
enfrentamento das expresses da questo social. Ao mesmo tempo, a constante
presena de discursos e produes tericas no campo da tica no significa
necessariamente o debate entre diferentes teorias e projetos, nem tampouco a
explicitaodeseusfundamentos.
Quando abstrados de seu contedo histrico e de sua fundao terica, os
discursosseconfundem.oqueocorrequandodiferentessujeitospolticosfalam
em nome da justia e dos direitos humanos, embora, em muitos casos, para
1
Sobreaquestodaviolncia,verespecialmenteSales(2007).
justificar a sua violao. A reproduo abstrata das categorias ticas tambm
propicia a sua idealizao, transformandoas em entidades com poder de
autoexplicao.
2
Ideologicamente,aburguesiaidealistacomamesmanaturalidadecomque
respira,jdiziaSimonedeBeauvoir:separadodetodoocontatocomamatria,
por causa de seu trabalho e pelo seu gnero de vida, protegido contra a
necessidade,oburgusignoraasresistnciasdomundoreal[...].Tudooestimulaa
desenvolversistematicamenteessatendnciaemquesereflete,deimediato,asua
situao: fundamentalmente interessado em negar a luta de classes, ele no pode
desmentila seno recusando em bloco a realidade. Por isso, tende a substitula
por Idias cuja compreenso e extenso delimita, arbitrariamente, segundo seus
interesses(BEAUVOIR,1972,p.6).
Asociabilidadeburguesafundasuaticanoprincpioliberalsegundooquala
liberdade de cada indivduo o limite para a liberdade do outro. Dadas as
condies objetivas favorecedoras da reproduo do modo de vida mercantil,
valorizador da posse material e subjetiva de objetos de consumo, criase, na
prtica, uma tica individualista, orientada pela ideia de que o outro um
estorvoliberdade,entendidacomoaincessantebuscadevantagenseacmulo
debenscujaduraotoefmeraquantosrelaesquelhesdosustentao.
O repetitivo discurso moralizante presente na mdia, em certos meios de
comunicao de massa, ao incentivar direta ou indiretamente o ethos liberal
burgus, a violncia, a abstrao, o moralismo e o conservadorismo, fortalece a
descrena na poltica, em sua forma democrtica, reforando apelos ordem, a
medidasrepressivas,asoluesmoraisparaacrisesocial.
Tornase relevante a compreenso crtica dos fundamentos ticos da vida
social e do Servio Social: para que a importncia da tica seja revelada e para o
esclarecimento de seus limites na sociedade burguesa. Pois, se a superao dos
antagonismos da sociedade burguesa supe a ruptura da totalidade desta
formao social
3
2
, isso no significa negar a importncia das aes ticas nessa
direo.
Embora limitada, a tica se faz cotidianamente atravs de atos morais
singulares,maisoumenosconscienteselivres;podeseobjetivaratravsdeaes
motivadas por valores e teleologias dirigidas realizao de direitos e conquistas
coletivas; pode ser capaz de efetuar a crtica radical da moral do seu tempo,
oferecendo elementos para a compreenso das possibilidades ticas e morais do
futuro. Embora momentnea, pode se estabelecer como mediao entre a
singularidadedeindivduomoraleasuadimensohumanogenrica,objetivando
secomopartedaprxissocial.
1Osf ndamentosontolgicosesociaisdatica u
pela apropriao do processo de constituio histrica do ser social que
uma tica fundada ontologicamente pode ser compreendida. Tratase aqui de
apresentlo ainda que sumariamente tendo por base os pressupostos
ontolgicosfundamentaisdeMarx
3
.
Nagnesedosersocial,estodadasasbasesdesuaconstituioontolgica:
o ser social se humanizou em face da natureza orgnica e inorgnica,
transformandoa para atender necessidades de reproduo da sua existncia
4
e
2
a Essa afirmao est baseada em nosso referencial tericometodolgico, fundament lmente, em
MarxeautorescomoG.Lukcs,A.Heller,I.MszroseJ.P.Netto.
3
Tratase da fundamentao que ao explicitar o processo de (re) produo do ser social e dos
valores na histria d suporte para a concepo tica do Cdigo de tica Profissional dos
Assistentes Sociais (1993). A explicitao dos fundamentos da ontologia social de Marx pode ser
encontradaemLukcs(1978;1979);NettoeBraz(2006);Lessa(2002).
4
SegundoLukcs(1981,p.XLIII),tratasedeumsaltoontolgico,queassinalaadiferenciaodo
homemfrenteaoutrosseresnaturais.Pressupequeosersocialtenhasurgidodeumserorgnico
e este de um ser inorgnico. Em suas palavras: "com salto quero dizer justamente que o homem
capaz de trabalhar e falar, continuando a ser um organismo biologicamente determinado,
desenvolvendoatividadesdenovotipo,cujaconstituioessencialnopodesercompreendidaem
nenhumacategoriadanatureza".
nesseprocessopassaaseconstituircomoserespecfico,diferentedeoutrosseres
existentes
4
5
.
o trabalho que instaura esse novo ser, na medida em que rompe com o
padro imediato das atividades puramente naturais, estruturando uma atividade
de carter prticosocial: uma prxis que transforma a natureza e produzindo um
resultado antes inexistente: um produto material que responde a necessidades
sociaiseasrecriaemcondieshistricasdeterminadas.
Como prxis, o trabalho
6
a base ontolgica primria da vida social;
mediaoqueefetivaobjetivaesubjetivamenteointercmbioentreoshomensea
natureza, pondo em movimento um processo incessante de (re) criao de novas
necessidades; ampliando os sentidos humanos, instaurando atributos e
potencialidadesespecificamentehumanas.
Aocriarnovasalternativasparaoseudesenvolvimento,osersocialseafasta
de suas barreiras naturais, amplia sua natureza social e consciente, estabelece a
possibilidade de uma existncia social aberta para o novo, para o diverso, para o
amanh, instaurando objetivaes que permitem autoconstruo do ser social
comoumserlivreeuniversal.
A sociabilidade imanente totalidade das suas objetivaes: para
transformar a natureza reproduzindo a sua existncia atravs do trabalho,
necessrio agir em cooperao, estabelecendo formas de comunicao, como a
linguagem, os modos de intercmbio e de reciprocidade social, que tornam
possvel o reconhecimento dos homens entre si, como seres de uma mesma
espcie, que partilham uma mesma atividade e dependem uns dos outros para
realizardeterminadasfinalidades.
5
"Os homens comeam a se diferenciar dos animais to logo comeam a produzir seus meios de
vida [...], produzindo seus meios de vida os homens produzem, indiretamente, sua prpria vida
material"(MARX;ENGELS,1982,p.27).
6
A prxis econmica ou trabalho o modelo de todas as formas de prxis. a "ao do homem
sobreamatriaecriaoatravsdeladenovarealidadehumanizada"(VAZQUEZ,1977,p.245).
O agir consciente supe a capacidade de transformar respostas em novas
perguntaseasnecessidadesemnovasformasdesatisfao
5
7
.Sohomemcapaz
deagirteleologicamente,projetandoasuaaocombaseemescolhasdevalor,de
modo que o produto de sua ao possa materializar sua autoconscincia como
sujeitodaprxis.
Ao desenvolver sua conscincia, o homem evidencia o carter decisrio de
sua natureza racional. Como diz Lukcs, todas as atividades sociais e individuais
exigem escolhas e decises: todo indivduo singular, sempre que faz algo, deve
decidir se o faz ou no. Todo ato social, portanto, surge de uma deciso entre
alternativasacercadeposiesteleolgicasfuturas(LUKCS,1978,p.6).
As escolhas so baseadas em juzos de valor: os objetos e as aes so
avaliadoscomoteis,inteis,vlidasounovlidas,corretasouincorretas.Ofato
de toda ao consciente conter uma posio de valor e um momento de deciso
propicia o entendimento de que a gnese do valor e das alternativas seja dada
somente pela avaliao subjetiva dos indivduos. Valor e alternativas, no entanto,
socategoriasobjetivas,poissoobjetivaesdosersocial,produtosconcretosde
suaatividade
8
.
Liberdade, valor, conscincia e alternativas esto articulados. Com o
desenvolvimentodotrabalhoedasociabilidade,aescolhaentrealternativasnose
restringe escolha entre duas possibilidades, mas entre o que possui e o que no
7
Ohomemtornaseumserquedrespostasprecisamentenamedidaemqueparalelamenteao
desenvolvimento social e em proporo crescente ele generaliza, transformando em perguntas
seus prprios carecimentos e suas possibilidades de satisfazlos; e quando em sua resposta ao
carecimento que a provoca, funda e enriquece a prpria atividade com tais mediaes bastante
articuladas.Demodoquenoapenasaresposta,mastambmaperguntaumprodutoimediatoda
conscinciaqueguiaaatividade(LUKCS,1978,p.5).
8
Lukcs exemplifica brilhantemente como um elemento natural, como o vento, que no pode ser
transformado pelo homem, pode ser por ele valorizado em funo do seu trabalho: o vento
favorvel ou desfavorvel um objeto no mbito do ser social, do intercmbio orgnico da
sociedadecomanatureza;eavalidadeenovalidadefazempartedassuaspropriedadesobjetivas,
enquanto momentos de um complexo concreto do processo de trabalho (LUKCS, 1981, p. XVII,
XVIII).
possui valor e como esses valores podem ser praticamente objetivados (LUKCS,
1981)
9
6
.
Vse, pois, que estamos diante de um ser capaz de agir eticamente, quer
dizer,dotadodecapacidadesquelheconferempossibilidadesdeescolherracional
e conscientemente entre alternativas de valor, de projetar teleologicamente tais
escolhas,deagirdemodoaobjetivlas,buscandointerferirnarealidadesocialem
termosvalorativos,deacordocomprincpios,valoreseprojetosticosepolticos,
emcondiessciohistricasdeterminadas.
ParaomtododeMarxaticaumaparte,ummomentodaprxishumana
em seu conjunto (LUKCS, 2007, p. 72). Como tal, a tica dirigese
transformao dos homens entre si, de seus valores, exigindo posicionamentos,
escolhas, motivaes que envolvem e mobilizam a conscincia, as formas de
sociabilidade, a capacidade teleolgica dos indivduos, objetivando a liberdade, a
universalidadeeaemancipaodognerohumano.
Observase que a prxis no se esgota no trabalho embora ele seja a sua
formaprimria:quantomaissedesenvolveosersocial,maisassuasobjetivaes
transcendem o espao ligado diretamente ao trabalho (NETTO; BRAZ; 2006).
Portanto,certo quefaamos uma distinoentreasformas de prxis dirigidas
transformao da natureza (o trabalho) e aquelas voltadas transformao das
ideias,dosvalores,docomportamentoedaaodoshomens,ondeseinsereaao
ticomoral(Idem).
Na sociedade capitalista, organizada a partir da propriedade privada dos
meios de produo e das classes sociais, da diviso social do trabalho e da
9
Nasdecisesalternativasdotrabalhoseescondeofenmenooriginriodaliberdade,masesse
fenmeno no consiste na simples escolha entre duas possibilidades algo parecido tambm
ocorrenavidadosanimaissuperioresmasnaescolhaentreoquepossuieoquenopossuivalor,
eventualmente(emestgiossuperiores)entreduasespciesdiferentesdevalores,entrecomplexos
de valores, precisamente porque no se escolhe entre objetos de maneira biologicamente
determinada,numadefinioesttica,masaocontrrio,resolveseemtermosprticos,ativos,see
comodeterminadasobjetivaespodemviraserrealizadas(LUKCS,1981,p.XVIII).
explorao do homem pelo homem, a objetivao histrica da tica limitada e
desigual,convivendocomsuanegao,oqueevidenciaofenmenodaalienao
7
10
,
que expressa o antagonismo entre o desenvolvimento do gnero humano em
termos do que a humanidade produziu material e espiritualmente e sua
apropriaopelatotalidadedosindivduos.
totalidadedasobjetivaesgenricasmateriaiseespirituaisproduzidas
pela humanidade ao longo de seu desenvolvimento histrico, representando
conquistasnosentidodeampliaodasociabilidade,daconscincia,daliberdadee
da universalidade do gnero, Marx (1971, I) denomina riqueza humana. No
contexto da alienao, a riqueza humana no apropriada pela totalidade dos
indivduos; na ordem capitalista, a coexistncia entre a misria e a pobreza
(materialeespiritual)pressupostofundamentalparaa(re)produodosistema,
donde o processo de coexistncia contraditria, de tenso permanente e no
linear,deafirmaoenegaodascapacidadesticasdosersocial
11
.
1.1Moralevidacotidiana
Ontologicamente considerada, a moral no pertence a nenhuma esfera
particular: uma mediao entre as relaes sociais; uma mediao entre o
indivduosingularesuadimensohumanogenrica(HELLER,2000).
Sua origem atende a necessidades prticas de regulamentao do
comportamento dos indivduos, cumprindo uma funo social no processo de
reproduo das relaes sociais: contribui para a formao dos costumes que se
10
s O fenmenodaalienaono pode sertratado nos limite desse texto.Nossas referncias esto
explicitadasbasicamenteem:NettoeBraz(2006);Netto(1981);Heller(1998).
11
Uma ordem social que progride pelo desenvolvimento das contradies a ela imanentes [...]
atinge a liberdade pela explorao, a riqueza pela pobreza, o crescimento da produo pela
restrio do consumo [...] o mais alto desenvolvimento das foras produtivas coincide com a
opressoeamisriatotais(MARCUSE,1978,p.284,285).
estruturam pelo hbito, orientando a conduta dos indivduos, em termos de
normasedeveres
8
12
.
A moral se desenvolve quando os homens j adquiriram um certo grau de
conscincia,nomomentoemquefoisuperadaasuacondionaturaleinstintiva;
quando o homem j vivia em comunidade, como membro de uma coletividade,
tendo desenvolvido a fabricao de instrumentos de trabalho e conquistado um
determinado nvel de conhecimento e de domnio sobre a natureza (VAZQUEZ,
1984).
A moral histrica e mutvel: so os homens que criam as normas e os
valores,masaautonomiadosindivduosemfacedasescolhasmoraisrelativas
condiesdecadacontextohistrico.Mesmonassociedadesondeaindanoexiste
odomniodeclasse,acoesoemtornodeumnicocdigodevalornosignificaa
inexis nciadetenses. t
Oatomoralsupeaadesoconscienteevoluntriadoindivduoaosvalores
ticos e s normas morais, ou seja, implica a convico ntima do sujeito em face
dos valores e normas, pois se entende que s assim as mesmas sero
internalizadas como deveres. Dependendo da esfera e das condies sociais nas
quais a moral se objetiva, surgem maiores ou menores possibilidades dela se
realizar apenas no mbito da singularidade voltada ao eu mbito da vida
cotidiana
13
ouemaesquepodematingiracoletividadeeadimensohumano
genricadosindivduos.
Todavia, cumpre distinguir conscincia e subjetividade. Na vida cotidiana, a
moral no tende a ser interiorizada de forma crtica. Na medida em que, nesse
mbito, os valores se reproduzem pelos costumes, pela repetio, tendem a se
12
A anlise mais completa da moral na perspectiva da ontologia social foi feita por Heller (1998;
20 elencadas encontrase em Maria 00) em sua fase marxista. O detalhamento das indicaes aqui
LuciaS.Barroco(2006;2007).
13
SobreavidacotidianaverHeller(2000e1998);Netto(1981).
tornar hbitos, cuja adeso no significa, necessariamente, uma aceitao
consciente. Na cotidianidade, as normas podem ser aceitas interiormente,
defendidassocialmentesemque,noentanto,possamosafirmarqueessaaceitao
tenhaocorridodemaneiralivre,poisestasupeaexistnciadealternativaseseu
conhecimento crtico. Logo, a conscincia supe a subjetividade, mas esta pode
legitimar normas e valores sem, no entanto, ter conhecimento de outras
alternativas e sem se responsabilizar por tais escolhas, isto , sem assumir por
inteiro,demodoconsciente,asimplicaesdessaadeso.
9
Na sociedade burguesa, a moral desempenha uma funo ideolgica: ainda
quenodiretamente,masatravsdemediaescomplexas,reproduzosinteresses
de classe, contribuindo para o controle social, atravs da difuso de valores que
visamaadequaodosindivduosaoethosdominante.
O mbito da vida social mais propenso internalizao dos costumes e
valores formadores do ethos dominante a vida cotidiana: onde os indivduos se
reproduzem enquanto seres singulares, espao da ultrageneralizao, do
pragmatismo,doimediatismodasuperficialidadeedaheterogeneidade.
Na cotidianidade, a moral tende a se objetivar de modo alienado,
reproduzindo julgamentos de valor baseados em juzos provisrios, respondendo
s necessidades mais imediatas e superficiais da singularidade individual. Ao
repetircomportamentosorientadosporesteretiposepreconceitos,oindivduose
empobrece moralmente, abrindo caminho para o moralismo e para a adeso
acrticaaoethosdominante
14
.
Conforme Heller (2000, p. 54), a maioria dos preconceitos so produzidos
pelas classes dominantes, tendo em vista sua busca de coeso em torno de seus
14
A vida cotidiana um espao contraditrio: insuprimvel, por responder a mltiplas e
heterogneas necessidades e atividades do indivduo singular, coloca todas as habilidades
manipulativas e as paixes em movimento; sem que possa, por sua dinmica interna, realizar
nenhumadelascomintensidadeeprofundidade.
interesses. Isso favorecido pelo conservadorismo, comodismo, e conformismo, e
tambm pelos interesses imediatos, que rebatem nas condies de vida dos
indivduos singulares, tornandoos vulnerveis mobilizao contra os interesses
desuaprpriaclasse
10
15
.
1.2A ticaeasobjetivaesgenricas ao
A moral no responde apenas s necessidades da singularidade voltadas
exclusivamente ao eu, ou a formas de ser reprodutoras da alienao. possvel
que a motivao moral que envolve escolhas e decises exigidas pelo ato moral
sejaintensaesealarguedemodoaseafastarmomentaneamentedacotidianidade,
permitindo que o indivduo se eleve sua dimenso humanogenrica, como
esclarece Heller: quanto maior a importncia da moralidade, do compromisso
pessoal, da individualidade e do risco (que vo sempre juntos) na deciso acerca
deumaalternativadada,tantomaisumadecisoelevaseacimadacotidianidade
(HELLER,2000,p.24).
Porm, ao se afastar ainda que por um tempo determinado de sua
singularidadeedesuasmotivaesefmeras,sejaatravsdeaesprticasoude
reflexestericas,osujeitomoralatingeumoutropatamardeobjetivaes,queo
elevam sua dimenso particular e sua condio de sujeito tico. Segundo
Tertulian,esseoentendimentodeLukcssobreatica:
A ao tica um processo de generalizao, de mediao
progressiva entre o primeiro impulso e as determinaes
externas; a moralidade tornase ao tica no momento em
quenasceumaconvergnciaentreoeueaalteridade,entre
15
Assim, o desprezo pelo outro, a antipatia pelo diferente, diz Heller, no so privilgios da
burguesia, mas essa classe, que, paradoxalmente combateu historicamente o sistema de
preconceitos feudais tornase, com a consolidao da sociedade burguesa, a classe que aspira a
niversalizarasuaideologia[...]produzindopreconceitosemmaiormedidadoquetodasasclasses
ociaisemtodaahistriaathoje(HELLER,2000,p.54).
u
s
a singularidade individual e a totalidade social. O campo da
particularidadeexprimejustamenteestazonademediaes
ndeseinscreveaaotica(TERTULIAN,1999,p.134).
11
o
Portanto, quando o indivduo, determinado por condies sociais que
convergem na direo de sua interveno na realidade, e motivado por valores
emancipatrios, pode ter possibilidade de estabelecer mediaes com a sua
particularidade, ascendendo condio de sujeito tico, revelase toda a
importnciadareflexotica,capazderealizaracrticadavidacotidiana,emsua
dimenso moral, ampliando as possibilidades de realizao de escolhas
conscientes, voltadas ao gnero humano, s suas conquistas emancipatrias,
desmistificao do preconceito, do individualismo e do egosmo, propiciando a
valorizaoeoexercciodaliberdadeedocompromissocomprojetoscoletivos.
Mas,principalmente,ficaclaroqueaticanoapenasacinciadamoral,ou
o seu conhecimento: apreendida como parte da prxis, a tica trazida para o
conjunto das prticas conscientes do ser social, dirigidas para a interveno na
realidadeena direoda conquista da liberdadee da universalidade, tendo como
parmetro a emancipao humana. Como j dissemos anteriormente, essa a
perspectiva de Lukcs, quando afirma a tica como parte e momento da prxis
humanaemseuconjunto(LUKCS,2007,p.72).
Ascategoriasticassocategoriasdevalorquesereferemparticularidade
daaoticadoindivduo,fornecendoelementosparaasuavaloraoe/ouoseu
julgamento de valor. Por exemplo, a responsabilidade do sujeito em relao sua
ao. Ou seja, a responsabilidade no apenas um valor: uma categoria tica,
poisexpressaumarelaosocialquedecorredeumaaoequesecomplexificana
medidaemqueestabelececonexessociaiscomoutrossujeitoseescolhas.
12
2ticaprofissional:determinaeshistricaseparticularidades
2.1Anaturezadaticaprofissional
A tica profissional
16
uma dimenso especfica do Servio Social, suas
determinaes so mediadas pelo conjunto de necessidades e possibilidades, de
demandas e respostas que legitimam a profisso na diviso social do trabalho da
sociedadecapitalista,marcandoasuaorigemeasuatrajetriahistrica
17
.
A tica profissional se objetiva como ao moral, atravs da prtica
profissional, como normatizao de deveres e valores, atravs do cdigo de tica
Profissional, como teorizao tica, atravs das filosofias e teorias que
fundamentamsuaintervenoereflexoecomoaoticopoltica.Cabedestacar
que essas no so formas puras e/ou absolutas e que sua realizao depende de
umasriededeterminaes,noseconstituindonamerareproduodainteno
dosseussujeitos.
A moral profissional diz respeito relao entre a ao profissional do
indivduo singular (derivada de determinado comportamento prtico objetivador
de decises, escolhas, juzos e aes de valor moral), os sujeitos nela envolvidos
(usurios,colegas,etc.)eoprodutoconcretodaintervenoprofissional(avaliado
em funo de suas consequncias ticas, da responsabilidade profissional, tendo
por parmetros valores e referenciais dados pela categoria profissional, como o
Cdigodetica,etc.).
A moral reveladora de uma dada conscincia moral ou moralidade que se
objetiva atravs das exigncias do ato moral: escolha entre alternativas,
julgamentos com base em valores, posicionamentos que signifiquem defesa,
16
A anlise da tica profissional, segundo o referencial aqui tratado, pode ser encontrada em
Barroco(2006;2007),Brites,CristinaMariaeSales,MioneApolinrio(2007).
17
NossaconcepodeServioSocialestbaseadaemIamamotoeCarvalho(1982)eNetto(1992).
negao, valorizao de direitos, necessidades e atividades que interfiram e/ou
tragamconsequnciassociais,ticasepolticasparaavidadeoutrosindivduos.
13
A moralidade parte de uma educao moral anterior formao
profissional, que inclusive a influencia, pois pertence ao processo de socializao
primria, onde tende a reproduzir tendncias morais dominantes que se repem
cotidianamenteatravsdasrelaessociais.Oprocessodesocializao,atravsda
participao cultural, poltica, religiosa, pode reforar ou contrapor valores
incorporadosanteriormente,omesmoocorrendocomainseroprofissional.
Assim, a adeso a um determinado projeto profissional
18
e as suas
dimenses ticas e polticas supe decises de valor inscritas na totalidade dos
papeis e atividades que legitimam a relao entre o indivduo e a sociedade. Nem
sempreospapeissociaiseasatividadesdesempenhadaspelosindivduosestoem
concordncia, formando um todo coerente. Quando no esto, instituem conflitos
morais que ocorrem quando os valores podem ser reavaliados, negados ou
reafirmados.
Oquedmaterialidadeeorganicidadeconscinciaticadosprofissionais
o pertencimento a um projeto profissional que possa responder aos seus ideais,
projees profissionais e societrias, enquanto profissionais, cidados e categoria
organizada. Os profissionais participam eticamente de um projeto profissional
quando assumem individual e coletivamente a sua construo, sentindose
responsveispelasuaexistncia,comoparteintegrantedomesmo.
18
Os projetos profissionais apresentam a autoimagem da profisso, elegem valores que a
legitimam socialmente e priorizam os seus objetivos e funes, formulam os requisitos (tericos,
institucionais e prticos) para o seu exerccio, prescrevem normas para o comportamento dos
profissionaiseestabelecemasbalizasdasuarelaocomosusuriosdeseusservios,comoutras
profisses e com as organizaes e instituies sociais, privadas, pblicas, entre estas, tambm e
destacadamente com o Estado, ao qual coube, historicamente, o reconhecimento jurdico dos
estatutosprofissionais(NETTO,1999,p.95).
Historicamente,aticaprofissionalbuscanafilosofiae/ouemteoriassociais
o suporte para fundamentar a sua reflexo e teorizao ticas, necessrias
compreenso e sistematizao da tica profissional, fornecendo a concepo de
homem e a fundamentao para os valores, dando elementos para a interveno
profissionalnassituaesemquesecolocamquestesmoraiseticas.
14
A formao profissional, onde se adquire um dado conhecimento capaz de
fundamentarasescolhasticas,noonicoreferencialprofissional.Somamsea
elaouaelasecontrapemasvisesdemundoincorporadassocialmentepela
educao formal e informal, pelos meios de comunicao, pelas religies, pelo
senso comum. o conjunto de tais manifestaes culturais e conhecimentos que
formaoshbitosecostumesqueaeducaoformalpodeconsolidarouno.
A sociedade burguesa tende a suprimir e/ou negligenciar as abordagens
crticas, humanistas e universalistas, donde a desvalorizao do conhecimento
filosfico, o apelo ao conhecimento instrumental, ao utilitarismo tico, ao
relativismoculturalepoltico.Areflexofilosfica,basedefundamentaodatica
profissional, incorpora referenciais que nem sempre permitem um conhecimento
crtico, o que coloca contradies entre a dinmica social e sua apreenso
profissional.
A tica tambm se objetiva atravs de um Cdigo de tica: conjunto de
valores e princpios, normas morais, direitos, deveres e sanes, orientador do
comportamento individual dos profissionais, dirigido regulamentao de suas
relaes ticas com a instituio de trabalho, com outros profissionais, com os
usuriosecomasentidadesdacategoriaprofissional.
Nenhuma profisso pode garantir a legitimao de sua tica a partir de seu
cdigo,oqueseriaafirmarumaconcepoticalegalistaeformal.Tratasedeuma
questo de conscincia tica e poltica cuja ampliao requer estratgias da
categoria profissional, no sentido de mobilizao, de incentivo participao,
capacitao,deampliaododebateedeacessoinformao.
15
Na sociedade capitalista, a ao poltica se objetiva como luta pela
hegemonia
19
realizadanoespaopblico,entreprojetosvinculadosainteressesde
classe,emumcontextoestruturalondeasrelaessociais,emgeral,easpolticas,
emespecial,sodeterminadaspredominantementepelocomandodocapital
20
.
Comisso,apoltica,quejumcampoondeoscritriosdedecisosodados
hegemonicamente pelos interesses, e no por valores ticos, tende a reproduzir
uma lgica que atualiza uma tica especfica, resultado da relao entre as
exignciasticasdasaeseasnecessidadesmateriaisreproduzidassocialmente.
Porm, a conscincia poltica de seus limites na ordem burguesa no deve levar
sua negao enquanto estratgia de construo de uma contra hegemonia e de
prticasocialconscientearticuladaaprojetosdesuperaodaordemcapitalista.
Como produto histrico da sociedade burguesa, no contexto da coexistncia
entre o maior desenvolvimento das foras essenciais do ser social e de sua
negao,amaterializaodaticaocorrenarelaoentrelimitesepossibilidades
quenodependemapenasdaintenodeseusagentes.
Nesse sentido, a tica profissional no isenta dos processos de alienao,
masissoabsoluto.Pode,favorecidaporcondiessociaisediantedemotivaes
coletivas, ser direcionada a uma interveno consciente realizadora de direitos,
necessidades e valores que respondam s necessidades dos usurios. Interveno
que se articula, em termos de projeto social, a uma prxis poltica motivada pela
ultrapassagemdoslimitesplenaexpansodaliberdade.
19
TomamosacategoriahegemoniatalcomocompareceemGramsci,especialmenteemMaquiavel.
NotassobreoEstadoeapoltica(GRAMSCI,2000).
20
Para Marx, nos limites dasociedade burguesa,apoltica est vinculada particularidade,donde
suadistinoentreaemancipaopolticaeaemancipaohumana.Estasupeasuperaoradical
da totalidade das relaes capitalistas; como afirma Mszros (2006, p. 148): sua realizao s
podeserconcebidanauniversalidadedaprticasocialcomoumtodo.
16
2.2ticaprofissionaleconjuntura:tendnciasedesafios
Historicamente, desde a sua origem, o Servio Social se configura como uma
profisso fortemente influenciada pelo conservadorismo moral e poltico
21
. No
Brasil, os Cdigos de tica profissionais bem exemplificam este dado: entre 1947
(data do primeiro Cdigo) e 1986 (quando rompida a concepo tradicional),
passaramse trinta e oito anos de vigncia de Cdigos pautados na perspectiva
tica radicionalconservadora. t
A negao histrica dessa herana colocase como finalidade do projeto
profissional, que se caracteriza pela busca de ruptura com o conservadorismo em
suasvriasdimenseseconfiguraes:oprojetodeintenoderuptura(NETTO,
1992), hoje denominado projeto ticopoltico. Sua construo um processo
inscrito no conjunto de determinaes sciohistricas que propiciando a
renovao do Servio Social brasileiro, nos marcos da autocracia burguesa
viabiliza os suportes histricos para a eroso do Servio Social tradicional,
tornando possvel a existncia de um pluralismo profissional, entre outros
aspectos(NETTO,idem,p.131137).
Na dcada de oitenta
22
, a construo do projeto profissional foi fortalecida
pelas lutas democrticas e pela reorganizao poltica dos trabalhadores e dos
movimentos sociais organizados. Favorecendo a participao cvica e poltica dos
profissionais, ampliando sua conscincia, esse contexto tambm propicia o
confronto terico e ideolgico entre tendncias e a luta pela hegemonia entre
diferentesprojetossocietrioseprofissionais.
21
SobreoconservadorismonoServioSocial,verIamamoto(1992)eNetto(1992).
22
A gnese deste processo vinculase renovao do Servio Social no Brasil, politizao de
profissionais e estudantes nas lutas polticas da sociedade brasileira (antes e depois da ditadura
militar), ao Movimento de Reconceituao latinoamericano. Consultar, entre outros, Abramides e
Cabral(1995),Barroco(2006),Netto(1991;1999);Iamamoto(1982;1992).
Os anos oitenta, sinalizam a maturidade terica
17
23
e poltica do projeto
profissionalevidenciadanaorganizaopolticosindicaldacategoria,naproduo
terica, em sua capacidade crtica de interlocuo com outras reas do
conhecimento,emseudesenvolvimentonareadapesquisa,emsuaincorporao
de vertentes crticas com destaque para as inspiradas na tradio marxista
(NETTO,1999,p.102).
Nesse processo, se construiu um novo ethos, marcado pelo posicionamento
de negao do conservadorismo e de afirmao da liberdade. Valores e princpios
foramsereafirmandonavidacotidianaatravsdaparticipaocvicaepoltica,do
trabalho, da vivncia e enfrentamento de novas necessidades, escolhas e
posicionamentos de valor, da recusa de papeis tradicionais, da incorporao de
novosreferenciaisticomorais,entreoutrosaspectos.
assimqueocompromissocomasclassestrabalhadorasdespontacomovalor
ticopoltico central, orientando o posicionamento dos setores organizados da
categoria, no III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais
24
, marco tico e
poltico apropriado no processo de reformulao do Cdigo de tica, em 1986: o
primeiro a romper com o histrico conservadorismo dos cdigos de tica
brasileiros.
O Cdigo de 1986 no foi suficientemente desenvolvido em sua parte
operacional e em seus pressupostos tericos, orientados pelo marxismo. Com o
objetivo de amplilos, foi feita a reformulao de 1993, em um contexto muito
diverso daquele que em 1980 favoreceu a construo do projeto de ruptura
profissional.
23
Em 1982, lanadaa obra de Iamamoto (IAMAMOTO; CARVALHO,1982), que marcaa vertente
de ruptura do Servio Social. Tambm nesse perodo aprovado o Novo Currculo nas Escolas de
Servio Social, com orientao terica e direo social predominantemente rticas. No final da
dcada,em1988,oBrasilaprovaumanovaConstituio.
24
OchamadoCongressodaVirada,marcofundamentalnoprocessoderuptura.VerAbramidese
Cabral(1995).
O Cdigo de 1993 afirma a centralidade do trabalho na constituio do
homem: sujeito das aes ticas e da criao dos valores. Revelada em sua
densidadehistrica,asuaconcepoticaestarticuladaavaloresticopolticos,
como a liberdade, a justia social e a democracia
18
25
, e ao conjunto de direitos
humanos(civis,polticos,sociais,culturaiseeconmicos)defendidospelasclasses
trabalhadoras, pelos segmentos sociais excludos e pelos movimentos
emancipatriosaolongodahistria
26
.
A partir da dcada de noventa, as consequncias socioeconmicas e
ideopolticasdasprofundastransformaesoperadaspelocapitalismomundialno
mundo do trabalho e nas instituies burguesas, tendo por finalidade a sua
reestruturao nos moldes neoliberais, descortinam um cenrio perverso, em
termosdosdireitoshumanos
27
edaspossibilidadesdeobjetivaotica.
Tratasedeumcontextodeperdadedireitoshistoricamenteconquistadose
de um processo de desumanizao, no qual as condies para assegurar a
manuteno da vida humana no esto sendo garantidas para grande parte da
humanidade,emvriosaspectos,materiaisesubjetivos.Odesemprego,apobreza,
a desregulamentao do trabalho e da proteo social, o aprofundamento da
excluso e da explorao, a violncia, a degradao ambiental, a dependncia
polticoeconmica de centenas de pases pobres em face da dvida externa, entre
outros, evidenciam o abismo entre o desenvolvimento do gnero humano e a
pobrezadamaioriadahumanidade.
Em face desse cenrio, a profisso vive, na entrada do novo sculo, um
momento de resistncia poltica. As precrias condies de existncia social da
populao usuria se revelam cotidianamente nas instituies, exigindo respostas
dosprofissionaisque,emgrandemedida,nodispemdecondiesobjetivaspara
25
SobreosvaloreseprincpiosdoCdigodeticade1993,verPaivaeSales(1996).
26
Sobre a histria social dos direitos humanos, sob o ponto de vista dos trabalhadores e
movimentosemancipatrios,verTrindade(2002).
27
Sobre a incorporao do debate dos direitos humanos pelo Servio Social, ver Barroco e Brites
(2002);Barroco(2004).
viabilizlas.Almdisso,oagravamentodaquestosocialtambmrebateemsua
vida de trabalhadores assalariados que enfrentam em nveis diversos os
mesmosproblemasdapopulaousuria.
19
Portanto, sob o ponto de vista da tica profissional, esse contexto motiva
aes de resistncia, politicamente direcionadas ao enfrentamento dos limites
postosviabilizaodosdireitosedosvaloresqueorientamaaoprofissional,o
queimplicadiferentesestratgiaseespaosdeobjetivao.
A crtica s novas configuraes do conservadorismo, isto , ideologia
neoliberal conservadora, base de sustentao do imaginrio social da atualidade,
se apresenta, neste momento, como um grande desafio posto ao Servio Social.
Fundado na privatizao do pblico e na afirmao do mercado como nica
instituio autorreguladora, o totalitarismo neoliberal (OLIVEIRA, 1999) promove
o individualismo, a negao da poltica e da tica, nos termos aqui tratados.
Produtohistricodasreformasetransformaesdocapitalismo,oneoliberalismo
justifica ideologicamente o presente, ou seja, a fragmentao, a disperso, a
insegurana, o efmero (CHAU, 1999), negando todos os valores afirmados pela
sociedade moderna e pelas foras progressistas: a universalidade dos valores, a
racionalidade do homem, a liberdade como capacidade sciohistrica de
transf e. ormararealidad
Nesse contexto adverso ao neoconservadorismo, so dadas as condies
ideolgicas para a reproduo de valores pautados na defesa de relaes
autoritrias e de instituies adequadas sua reproduo, com destaque para a
famlia tradicional, para as instituies religiosas, policiais, e seus representantes
nasfigurasdasautoridadesconstitudas.OServioSocial,porvriasrazes,uma
das profisses vulnerveis incorporao e/ou ao enfrentamento de relaes
conservadoras. Por exemplo, por sua histrica vinculao ao conservadorismo
moral, pode estar vulnervel sua reatualizao; por sua insero em campos
institucionais propcios ao estabelecimento de relaes hierarquizadas, tais como
asprises,osistemajudicirio,etc.,podeenfrentarouassimilartaisrelaes.
20
O seu enfrentamento requer uma anlise crtica da realidade, donde a
importncia de um referencial tericometodolgico que efetivamente fornea o
suporteparaodesvelamentodoreal,desuaessnciahistrica.Esseconhecimento
implica em uma reflexo constante, isto , em uma capacitao continuada: outro
desafio a ser buscado no enfrentamento do neoconservadorismo, do pensamento
psmoderno,comseuirracionalismo,seuspreconceitos,suasformasmorais.
Paraserealizarcomoatividadetericauniversalizante,precisoqueatica
apreenda criticamente os fundamentos dos conflitos morais e desvele o sentido e
as determinaes de suas formas alienadas; a relao entre a singularidade e a
universalidade dos atos ticomorais, respondendo aos conflitos sociais,
resgatando os valores genricos e ampliando a capacidade de escolha consciente
dos indivduos; sobretudo, que possibilite a indagao radical sobre as
possibilidadesderealizaodaliberdade,seuprincipalfundamento.
Vse que a responsabilidade tica profissional, em suas vrias formas de
expresso, exige a participao ativa dos sujeitos coletivos, que em graus
variados, com diversas medidas e possibilidades de engajamento so os
protagonistas de escolhas e posicionamentosde valor. Assim, o nvel de exigncia
dessas escolhas e as mediaes que elas encerram variam qualitativamente, de
acordocomdeterminaeshistoricamentecondicionadas.
Nesse sentido, os valores contidos no Cdigo de tica Profissional so
orientadores das opes, escolhas, dos posicionamentos e julgamentos de valor
realizados cotidianamente. Todavia, para que se materializem, preciso que
ganhemefetividadenatransformaodarealidade,naprticasocialconcreta,seja
ela na direo de um atendimento realizado, de uma necessidade respondida, de
umdireitoadquirido.
Na relao com os usurios, nos limites da sociedade burguesa, a tica
profissionalseobjetivaatravsdeaesconscientesecrticas,doalargamentodo
espao profissional, quando elepolitizado o que implica no compartilhamento
coletivo com outros profissionais e no respaldo das entidades e dos movimentos
sociais organizados. Isso torna possvel uma ao ticopolitica articulada ao
projetocoletivo,adquirindomaiorespossibilidadesderespaldonosmomentosde
enfre tamentoederesistncia.
21
n
22
Referncias
BRAMIDES, Maria Beatriz; CABRAL, Maria do Socorro. O novo sindicalismo e o
Cortez,1995.
A
ServioSocial.SoPaulo:
ARROCO,MariaLuciaS.ticaeServioSocial:fundamentosontolgicos.5.ed.So
:Cortez,2006.
B
Paulo
_____.ticaeSociedade(Cursodecapacitaoticaparaagentesmultiplicadores).
oFederald Serv
_
2.ed.Braslia:Conselh e ioSocial,2007.
______. A inscrio da tica e dos direitos humanos no projeto ticopoltico do
ervioSocial.RevistaServioSocialeSociedade,SoPaulo,Cortez,anoXXV,n.79,
S
2004.
_____. tica, direitos humanos e diversidade. Revista Presena tica, Recife, GPE, _
UFPE,n.3,2003.
_____.; BRITES, Cristina Maria. Ncleo de Estudos e Pesquisa em tica e Direitos
poralis,Braslia,ABEPSS,ano
_
Humanos.RevistaTem III,n.5,jan.ajun.2002.
EAUVOIR, Simone. O Pensamento da direita hoje. Rio de Janeiro: Paz e Terra, B
1972.
BRITES, Cristina Maria; SALES, Mione A. tica e Prxis Profissional (Curso de
apacitao tica para agentes multiplicadores). 2. ed. Braslia: Conselho Federal
ioSocial,2007.
c
deServ
CFESS.CdigodeticaProfissionaldosAssistentesSociais. Braslia:CFESS,1993.
CHAU, Marilena. Ideologia neoliberal e universidade. In: OLIVEIRA, Francisco;
AOLI, Maria Clia (Org.). Os sentidos da democracia: polticas do dissenso e
999.
P
hegemoniaglobal.Braslia:Vozes:NEDIC,1
EPE. Cdigos de tica do Servio Social. Presena tica, Recife, UFPE, ano 1, v. 1, G
2001.
ernosdocrcere.Riode .v.3. GRAMSCI,A.Cad Janeiro:CivilizaoBrasileira,2000
,Agnes.Oquotidianoeahist HELLER ria.RiodeJaneiro:PazeTerra:1972.
tidiana.5.ed.Barcelona:EdicionesPeninsula,19 ______.Sociologiadelavidaco 98.
IAMAMOTO, Marilda Vilella. Renovao e conservadorismo no Servio Social. So
Paulo:Cortez,1992.
_____.; CARVALHO, Raul. Relaes Sociais e Servio Social no Brasil. So Paulo:
23
_
Cortez,1982.
LESSA,Srgio.Mundodoshomens:trabalhoesersocial.SoPaulo:Boitempo,2002.
UKCS, Georg. As bases ontolgicas da atividade humana. Temas, So Paulo,
aCinciasHumanas,n
L
Editor .4,1978.
_____.Ontologiadosersocial:osprincpiosontolgicosfundamentaisdeMarx.So _
Paulo:EditoraCinciasHumanas,1979.
______. O momento ideal na economia e sobre a ontologia do momento ideal. In:
_____. A ontologia do ser social. Traduo de Maria Anglica Borges Rodrigues.
s1e2dovolumeII.
_
Sece
______. O jovem Marx e outros escritos de filosofia. In: COUTINHO, Carlos Nelson;
ETTO, Jos Paulo (Organizao, Apresentao e Traduo). Rio de Janeiro:
PensamentoCrtic
N
EditoraUFRJ,2007( o,v.9).
ARCUSE, Herbert. Razo e revoluo: Hegel e o advento da teoria social. Rio de
Terra,1978.
M
Janeiro:Paze
ARX, Karl. Fundamentos de la crtica de la economia poltica (esbozo 18571858
a:InstitutodelLib
M
Grundisse).Havan ro,Ed.CienciasSociales,1971.TomosI,II.
_____.;ENGELS,F.Aideologiaalem.SoPaulo:LivrariaEditoraCinciasHumanas: _
1982.
ROS,Istvan 2006. MSZ .AteoriadaalienaoemMarx.SoPaulo:Boitempo,
brie?SoPaulo: ______.OSculoXXI.Socialismooubar Boitempo,2003.
ETTO,JosPauloeBRAZ,Marcelo.EconomiaPoltica:umaintroduocrtica.So
z,2006.(Bibliotecabs
N
Paulo:EditoraCorte icadeServioSocial,1.).
NETTO,JosPaulo.Capitalismoereificao.SoPaulo:CinciasHumanas,1981.
_____. Para a crtica da vida cotidiana. In: NETTO, Jos Paulo; FALCO, Maria do
.Cotidiano:conheciment
_
Carmo oecrtica.3.ed.SoPaulo:Cortez,1994.
_____.DitaduraeServioSocial:umaanlisedoServioSocialnoBrasilps64.So
Cortez,1992.
_
Paulo:
______. A construo do projeto ticopoltico profissional frente crise
ontempornea(CursodeCapacitaoemServioSocialePolticaSocialmdulo
).Braslia:CFESS/ABEPSS/CEAD,1999.
c
I
OLIVEIRA, Francisco. Privatizao do pblico, destituio da fala e anulao da
poltica: o totalitarismo neoliberal. In: OLIVEIRA, Francisco; PAOLI, Maria Clia
.). Os sentidos da democracia: polticas do dissenso e hegemonia global.
24
(Org
Braslia:Vozes,NEDIC,1999.
PAIVA, Beatriz A.; SALES, Mione. A. A nova tica profissional: prxis e princpios.
n:BONETTI,DilseaA.etalli(Org.).ServioSocialetica:conviteaumaprxis.So I
Paulo:Cortez,1996.
ALES, Mione Apolinrio. S (In)visibilidade perversa: adolescentes infratores como
ncia.SoPaulo:Cortez, metforadaviol 2007.
ERTULIAN,N.Ograndeprojetodatica.EnsaiosAdHominen.SoPaulo:Edies T
ADHominen,1999.
ONET, Ivo. Fundamentos filosficos para a nova proposta curricular em Servio
iedade,SoPaulo,Cortez,n.15.
T
Social.RevistaServioSocialeSoc
NDADE,JosDamiodeLima.Ahistriasocialdosdireitoshumanos.SoPaulo: TRI
Peirpolis,2002.
EZ,AdolfoS.tica ira,1984. VAZQU .RiodeJaneiro:CivilizaoBrasile
______. Filosofiadaprxis.RiodeJaneiro:PazeTerra,1977.
Você também pode gostar
- Serviço social e a organização da cultura: Perfis pedagógicos da prática profissionalNo EverandServiço social e a organização da cultura: Perfis pedagógicos da prática profissionalNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Serviço social, ética e saúde: Reflexões para o exercício profissionalNo EverandServiço social, ética e saúde: Reflexões para o exercício profissionalNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3)
- Sumaré e Alto Da Boa VistaDocumento39 páginasSumaré e Alto Da Boa VistaJonas Daniel Claudia Bim75% (4)
- A nova morfologia do trabalho no serviço socialNo EverandA nova morfologia do trabalho no serviço socialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- História Do Serviço Social Na América LatinaDocumento3 páginasHistória Do Serviço Social Na América LatinaJosi Coelho100% (2)
- Fichamento Capitulo 3 Serviço Social Capital FeticheDocumento13 páginasFichamento Capitulo 3 Serviço Social Capital FeticheFelipe Luis100% (2)
- Henri Lefebvre - O Direito A Cidade PDFDocumento72 páginasHenri Lefebvre - O Direito A Cidade PDFValner Wasilewski100% (2)
- O Direito Social e A Assistência Social Na Sociedade Brasileira.Documento5 páginasO Direito Social e A Assistência Social Na Sociedade Brasileira.Cida Vasconcelos0% (1)
- Relações Sociais e Serviço Social No BrasilDocumento1 páginaRelações Sociais e Serviço Social No BrasilRenan RicardoAinda não há avaliações
- Cenários, contradições e pelejas do Serviço Social brasileiroNo EverandCenários, contradições e pelejas do Serviço Social brasileiroAinda não há avaliações
- O Seminário de AraxáDocumento3 páginasO Seminário de AraxáEvelyn Antunes83% (6)
- Transformações Societárias e Serviço SocialDocumento5 páginasTransformações Societárias e Serviço SocialPatrícia Santos de Jesus100% (1)
- Instrumentalidade Do Servico Social Yolanda GuerraDocumento19 páginasInstrumentalidade Do Servico Social Yolanda GuerrafrancikleiaAinda não há avaliações
- Fundamentos Historicos Teoricos e Metodologicos Do Servico SocialDocumento205 páginasFundamentos Historicos Teoricos e Metodologicos Do Servico SocialWesley Rodrigo Rossi83% (6)
- A Questão Social Como ObjetoDocumento6 páginasA Questão Social Como ObjetocristianefcAinda não há avaliações
- O Movimento de Reconceituação Do Serviço Social e oDocumento16 páginasO Movimento de Reconceituação Do Serviço Social e omarianna1197% (37)
- LACLAU, Ernesto - A Razão Populista (Capítulos I, II e III)Documento47 páginasLACLAU, Ernesto - A Razão Populista (Capítulos I, II e III)thalescarraAinda não há avaliações
- Serviço Social e ética profissional: fundamentos e intervenções críticasNo EverandServiço Social e ética profissional: fundamentos e intervenções críticasAinda não há avaliações
- Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicosNo EverandÉtica e Serviço Social: fundamentos ontológicosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Serviço Social: Resistência e emancipação?No EverandServiço Social: Resistência e emancipação?Ainda não há avaliações
- O lugar do marxismo na formação profissional em serviço socialNo EverandO lugar do marxismo na formação profissional em serviço socialAinda não há avaliações
- O Serviço Social Na Sociedade Capitalista: o DebateDocumento7 páginasO Serviço Social Na Sociedade Capitalista: o Debatemarianna1186% (7)
- Capital Fetiche - IamamotoDocumento24 páginasCapital Fetiche - IamamotoSula Morais100% (1)
- 1.1 Fundamentos de Política Social Elaine Rossetti BehringDocumento18 páginas1.1 Fundamentos de Política Social Elaine Rossetti BehringAmanda LuciaAinda não há avaliações
- Fichamento - Relações Sociais Cap IVDocumento12 páginasFichamento - Relações Sociais Cap IVSoguedes100% (1)
- O Seminário de AraxáDocumento2 páginasO Seminário de Araxáelionildo75% (4)
- O Que Foi o Seminário de AraxáDocumento7 páginasO Que Foi o Seminário de AraxáNeurilene Jardim Pereira100% (1)
- Familia e Familia PDF (1) 1Documento98 páginasFamilia e Familia PDF (1) 1Daniele Teodoro50% (2)
- Fichamento Do Livro Ditadura e Servico SDocumento10 páginasFichamento Do Livro Ditadura e Servico SPollyanna L. SilvaAinda não há avaliações
- Etica e Serviço SocialDocumento127 páginasEtica e Serviço SocialElianaganamAinda não há avaliações
- Instrumentalidade Do Serviço Social - Yolanda GuerraDocumento19 páginasInstrumentalidade Do Serviço Social - Yolanda GuerraHudson Andrey Correa da Costa100% (1)
- Modulo 1 - 02 Fundamentos Historicos Teoricos e Metodologicos Do Servico SocialDocumento70 páginasModulo 1 - 02 Fundamentos Historicos Teoricos e Metodologicos Do Servico SocialGilciane de CarvalhoAinda não há avaliações
- RESUMO: O Serviço Social Na Contemporaneidade.Documento28 páginasRESUMO: O Serviço Social Na Contemporaneidade.LiciaraMelissaVonGrafenPrassAinda não há avaliações
- Seminários Araxa, Teresopolis, Sumaré e Alto Da Boa VistaDocumento2 páginasSeminários Araxa, Teresopolis, Sumaré e Alto Da Boa VistaLeidy Sousa80% (10)
- Resumo Livro - Politica Social Elaine BeringDocumento32 páginasResumo Livro - Politica Social Elaine Beringnayara leticiaAinda não há avaliações
- Notas Sobre o Projeto Etico Politico Do Servico Social Marcelo Braz M ReisDocumento8 páginasNotas Sobre o Projeto Etico Politico Do Servico Social Marcelo Braz M ReisMalu Ribeiro ValeAinda não há avaliações
- Segundo José Paulo Netto o Processo de Renovação Do Serviço Social Constitui em Três Momentos de RupturaDocumento3 páginasSegundo José Paulo Netto o Processo de Renovação Do Serviço Social Constitui em Três Momentos de Rupturaflavia130778% (9)
- Resumo Livro Relações Sociais e SSo No Brasil de Iamamoto e CarvalhoDocumento2 páginasResumo Livro Relações Sociais e SSo No Brasil de Iamamoto e CarvalhoJeniffer Ferreira100% (1)
- Proposta Parecer CE Reg Juridico Autonomia Adm Gestao FinalDocumento9 páginasProposta Parecer CE Reg Juridico Autonomia Adm Gestao Finalmatiasalves100% (5)
- GUERRA, Dimensão Investigativa Do Serviço SocialDocumento8 páginasGUERRA, Dimensão Investigativa Do Serviço SocialabneracmAinda não há avaliações
- Profissional No Serviço SocialDocumento21 páginasProfissional No Serviço SocialRaul GonçalvesAinda não há avaliações
- Serviço Social Na América LatinaDocumento18 páginasServiço Social Na América LatinaNorma MunizAinda não há avaliações
- A Atuação Do Assistente Social em Empresas PrivadaDocumento12 páginasA Atuação Do Assistente Social em Empresas Privadabrenda cruzAinda não há avaliações
- FUNDAMENTOS O Serviço Social Na ContemporaneidadeDocumento14 páginasFUNDAMENTOS O Serviço Social Na ContemporaneidadeHudeanne Barbosa100% (1)
- ABEPSS CFESS. (2009) (Livro) - Serviço Social - Direitos Sociais e Competências Profissionais PDFDocumento873 páginasABEPSS CFESS. (2009) (Livro) - Serviço Social - Direitos Sociais e Competências Profissionais PDFProf. Maciel CristianoAinda não há avaliações
- A Prática Do Assistente Social Charles Toniolo de Sousa PDFDocumento14 páginasA Prática Do Assistente Social Charles Toniolo de Sousa PDFGustavo Pires100% (1)
- A Intenção de Ruptura Segundo Netto Surge para Romper Com o TradicionalismoDocumento1 páginaA Intenção de Ruptura Segundo Netto Surge para Romper Com o TradicionalismoEduarda Freire80% (10)
- Visita Domiciliar No Trabalho Do Assistente Social PDFDocumento24 páginasVisita Domiciliar No Trabalho Do Assistente Social PDFValber Oliveira100% (1)
- Questão Social ApostilaDocumento23 páginasQuestão Social ApostilaRoque Sandro Moura SandroAinda não há avaliações
- Yazbek, Maria Carmelita. Estado e Políticas SociaisDocumento22 páginasYazbek, Maria Carmelita. Estado e Políticas SociaisAnaPaula PereiraAinda não há avaliações
- O Movimento de ReconceituaçãoDocumento50 páginasO Movimento de ReconceituaçãoCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- Apostila SS Gratuita 2020Documento59 páginasApostila SS Gratuita 2020Gilda RodriguesAinda não há avaliações
- Serviço Social e sua reconstrução técnico-operativaNo EverandServiço Social e sua reconstrução técnico-operativaAinda não há avaliações
- O mito da assistência social: ensaios sobre estado, política e sociedadeNo EverandO mito da assistência social: ensaios sobre estado, política e sociedadeAinda não há avaliações
- O Ensino Superior e a Formação Docente em Serviço SocialNo EverandO Ensino Superior e a Formação Docente em Serviço SocialAinda não há avaliações
- O Diário De Campo De Estágio Em Serviço SocialNo EverandO Diário De Campo De Estágio Em Serviço SocialAinda não há avaliações
- Serviço Social, fundamentos e tendências teóricas: contribuições ao debate latino-americanoNo EverandServiço Social, fundamentos e tendências teóricas: contribuições ao debate latino-americanoAinda não há avaliações
- GIRON, Graziela R.Documento10 páginasGIRON, Graziela R.Adriano César ZaneAinda não há avaliações
- Método Da Validação ProgressivaDocumento23 páginasMétodo Da Validação Progressiva0000SCRIBD0000100% (1)
- Diferença de LinguagemDocumento254 páginasDiferença de LinguagemmarkeuAinda não há avaliações
- Castelnou, 2003 - Sustentabilidade Socioambiental e Diálogo de SaberesDocumento27 páginasCastelnou, 2003 - Sustentabilidade Socioambiental e Diálogo de SabereseddytubaAinda não há avaliações
- Acesso A Justica PDFDocumento219 páginasAcesso A Justica PDFelisabete100% (1)
- Espaço e Geografia - Observações de Método (Livre-Docência)Documento416 páginasEspaço e Geografia - Observações de Método (Livre-Docência)rebeca_borges_1Ainda não há avaliações
- A Reforma Educativa em AngolaDocumento21 páginasA Reforma Educativa em Angolacustodio calembelaAinda não há avaliações
- Pensar A Educação e A PsicologiaDocumento12 páginasPensar A Educação e A PsicologiaAriana FerreiraAinda não há avaliações
- Conversação Online Sobre Paulo Freire em Tempos de Pós-Verdade E Fake News: Temáticas, Comportamento E SentimentosDocumento41 páginasConversação Online Sobre Paulo Freire em Tempos de Pós-Verdade E Fake News: Temáticas, Comportamento E Sentimentosvania lucia francisca ArmandoAinda não há avaliações
- Fichamento Sobre A História Moderna Através de TextosDocumento4 páginasFichamento Sobre A História Moderna Através de Textoscapitinha9020Ainda não há avaliações
- Contos Populares - MaterialDocumento61 páginasContos Populares - MaterialPriscila KollerAinda não há avaliações
- DANTAS, Francisco - A Mulher No Romance de Eça de QueirozDocumento372 páginasDANTAS, Francisco - A Mulher No Romance de Eça de QueirozSilvio Alves100% (3)
- A Pedagogia Social No Brasil ... Paulo FreireDocumento18 páginasA Pedagogia Social No Brasil ... Paulo FreireEduardo SalatielAinda não há avaliações
- Tese de Doutorado Geografia PPGG UFRJ - Diogo Da Silva CardosoDocumento300 páginasTese de Doutorado Geografia PPGG UFRJ - Diogo Da Silva CardosoDiogo Da Silva CardosoAinda não há avaliações
- Hacia Un Tercer Cine - Apuntes y Experiencias para ElDocumento20 páginasHacia Un Tercer Cine - Apuntes y Experiencias para ElTea DragAinda não há avaliações
- Teorias Financas PublicasDocumento130 páginasTeorias Financas PublicasFernanda Morais de MenezesAinda não há avaliações
- Uma História Da Une (1945 - 1964) PDFDocumento354 páginasUma História Da Une (1945 - 1964) PDFJoão Marcos Souza Rodrigues100% (1)
- Cipriano Carlos LuckesiDocumento8 páginasCipriano Carlos LuckesiJosimar Tomaz de BarrosAinda não há avaliações
- Interfaces Pedagógicas PDFDocumento495 páginasInterfaces Pedagógicas PDFAntoniel0% (1)
- TEXTO 3 - Psicologia Da Educacao Cumplicidade IdeologicaDocumento14 páginasTEXTO 3 - Psicologia Da Educacao Cumplicidade IdeologicaAmanda P S Bello100% (1)
- 2018 Anais CONEC MG Poços de CaldasDocumento735 páginas2018 Anais CONEC MG Poços de CaldasGlaucia GlauAinda não há avaliações
- Pasta DejoursDocumento4 páginasPasta DejoursAndrey ZanettiAinda não há avaliações
- O Uso Do Facebook Nas Aulas de Língua InglesaDocumento14 páginasO Uso Do Facebook Nas Aulas de Língua Inglesajoanarml402Ainda não há avaliações
- Gabarito Sociologia Da EducaçãoDocumento16 páginasGabarito Sociologia Da EducaçãoSandra Victorya0% (2)
- Como A Ideologia Apareçe Nas NovelasDocumento7 páginasComo A Ideologia Apareçe Nas NovelasThyeska F. LimaAinda não há avaliações
- Heterogeneidade Discursiva Segundo Jacqueline Authier Revuz02Documento7 páginasHeterogeneidade Discursiva Segundo Jacqueline Authier Revuz02darkness_2011Ainda não há avaliações
- Cultura e EscolaDocumento75 páginasCultura e EscolaJacqueline LimaAinda não há avaliações
- BEAUDRY - Artefatos e Vozes Ativas PDFDocumento44 páginasBEAUDRY - Artefatos e Vozes Ativas PDFGustavo RamosAinda não há avaliações